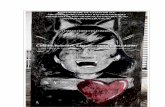Tese Hortênsio Bondo e Igídio de Carvalho
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Tese Hortênsio Bondo e Igídio de Carvalho
UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEI-GEOLOGIA
TRABALHO DE FIM DE CURSO DE LICENCIATURA EM GEOLOGIA
(GEOLOGIA APLICADA)
No 71/2011
Elaborado por: Hortênsio Felisberto de Fátima Bondo – 91096 Igídio Miguel de Carvalho – 37207
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
DO NOVO PORTO DE LUANDA A PARTIR DE RESULTADOS DO
STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
ii
UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEI-GEOLOGIA
TRABALHO DE FIM DE CURSO DE LICENCIATURA EM GEOLOGIA
(GEOLOGIA APLICADA)
No 71/2011
Elaborado por: Hortênsio Felisberto de Fátima Bondo – 91096 Igídio Miguel de Carvalho – 37207 Orientadores: Professor Doutor André Buta Neto Professor Doutor Fernando Bonito
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
DO NOVO PORTO DE LUANDA A PARTIR DE RESULTADOS DO
STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
iii
Índice Geral Pág
AGRADECIMENTOS ix
RESUMO x
ABSTRACT xi
DEDICATÓRIA xii
INTRODUÇÃO 1
OBJECTIVOS GERAIS 1
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 1 CAPÍTULO 1- METODOLOGIA DE TRABALHO
1.1 METODOLOGIA DE TRABALHO 3
1.2 MATERIAIS E TÉCNICAS 8
1.2.1 Fotografias Aéreas 8
1.2.2 Imagens Satélite 8
1.2.3 Mapas Topográficos 9
1.2.4 Carta Geológica 10
1.2.5 Fotografias aéreas da área de estudo 13
1.2.6 Imagens satélites da área de estudo 15
CAPÍTULO 2- ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA ÁREA
2.1 VIAS DE ACESSO 17
2.2 HISTÓRIA / CULTURA 18
2.3 CLIMA E VEGETAÇÃO 19
2.4 SOLOS 20
2.5 GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA 22
CAPÍTULO 3- ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO DA ÁREA
3.1 PRINCIPAIS BACIAS SEDIMENTARES DE ANGOLA 29
3.2 EVOLUÇÃO TECTÓNICA-SEDIMENTAR 30
3.3 SUBSIDÊNCIA REGIONAL 33
3.4 ESTRATIGRAFIA DA BACIA DO KWANZA 34
3.5 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO 38
3.6 COLUNA LITOESTRATIGRÁFICA 41
3.7 IDENTIFICAÇÃO DA MICROFAUNA 45
3.8 PALEOAMBIENTE 46
3.9 MAPA DE AMOSTRAGEM 49
3.10 DESCRIÇÃO DAS SECÇÕES LITOLÓGICAS (LOGS) 50
BONDO, H. e CARVALHO, I.
iv
3.11 UNIDADES LITO - BIOESTRATIGRÁFICAS 64
3.12 CORRELAÇÃO LITO-BIOESTRATIGRÁFICA 65
3.13 DESCRIÇÂO DO ESBOÇO LITOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO
CAPÍTULO 4- CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA
4.1 ENSAIOS DE CAMPO 70
4.2 PRINCIPIOS E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS SPT 70
4.3 APLICABILIDADE 73
4.4 FACTORES QUE AFECTAM OS RESULTADOS 73
4.4.1 Preparação da sondagem 73
4.4.2 Comprimento das Varas e diâmetro do furo 74
4.4.3 Dispositivo de golpe 75
4.4.4 Normalização do sistema de pancada 76
4.5 CORRECÇÕES DE NSPT 76
4.5.1 Correcção devido ao nível freático 76
4.6 PARAMETROS GEOTECNICOS PARA TERRENOS GRANULARES 78
4.6.1 Densidade relativa 78
4.6.2 DR e a classificação de Terzagui e Peck 78
4.6.3 DR e pressão de confinamento 80
4.6.4 DR considerações finais 80
4.6.5 Ângulo de Atrito Interno 82
4.6.6 Deformabilidade 83
4.7 PARAMETROS GEOTECNICOS PARA TERRENOS COESIVOS 84
CAPÍTULO 5- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS ESULTADOS 5.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 87
CAPÍTULO 6- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1 CONCLUSÕES 100
6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 100
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 102
67
BONDO, H. e CARVALHO, I.
v
LISTA DAS FIGURAS
Capítulo 1
Figura 1: Reconhecimento do local do furo e montagem do equipamento
Figura 2: Colocação do amostrador Terzaghi e realização do ensaio
Figura 3: Descrição macroscópica dos testemunhos de sondagem
Figura 4: Testemunhos de sondagem rotativa
Figura 5: Testemunhos de sondagem SPT
Figura 6: Etapas da análise da análise micropaleontológia
Figura 7: Sequências de fotografias da região do Dande (a, b, c e d)
Figura 8: Foto mosaico da região do Dande Figura 9: Imagens satélite da zona de estudo, ilustrando as características
geomorfológicas Capítulo 2
Figura 10: Mapa de Angola e destaque da Província do Bengo, com localização do Município do Dande
Figura 11: Vegetação existente na região do Dande
Figura 12: Bacia hidrográfica do Dande, Província do Bengo
Figura 13: Bacia hidrográfica do Lifune, Província do Bengo Figura 14: Bacia hidrográfica da baixa do Dande, evidenciando o rio
Dande e as eventuais lagoas Figura 15: Bacia hidrográfica da baixa do Lifune, evidenciando o rio Lifune
Capítulo 3
Figura 16: Principais bacias sedimentares de Angola
Figura 17: Esquema representativo da fase “Pré-rift”
Figura 18: Esquema representativo da fase “Sin-rift I”
Figura 19: Esquema representativo da fase inicial (a) e final (b) do“Sin-rift II”
Figura 20: Esquema representativo da fase inicial (a) e final (b) do“Pós-rift”
Figura 21: Esquema representativo da fase de “Subsidência regional”
Figura 22: Estratigráfica da bacia do Kwanza
Figura 23: Carta geológica da bacia do Kwanza
Figura 24: Coluna litoestratigráficas da bacia do Kwanza
Figura 25: Afloramento (AF1)
Figura 26: Afloramento (AF2)
Figura 27: Afloramento (AF3)
Figura 28: Distribuição paleoambiental dos foraminíferos
Figura 29: Mapa de amostragem
Figura 30: Sondagem SP10
BONDO, H. e CARVALHO, I.
vi
Figura 31: Sondagem SP1
Figura 32: Sondagem SP2
Figura 33: Sondagem SP4
Figura 34: Sondagem SP6
Figura 35: Sondagem SP9
Figura 36: Sondagem SP11
Figura 37: Sondagem SP17
Figura 38: Sondagem SP3
Figura 39: Sondagem SP16
Figura 40: Sondagem SP15
Figura 41: Sondagem SP8
Figura 42: Sondagem SP12
Figura 43: Sondagem SP5
Figura 44: Corte sintético litológico
Figura 45: Correlação lito-bioestratigráfica
Figura 46: Esboço litológico da área de estudo
Capítulo 4
Figura 47: Amostrador padrão
Figura 48: Diferentes fases do ensaio
Figura 49: Ensaio SPT
Figura 50: Testemunhos de sondagem SPT com os respectivos dados
Figura 51: Vários tipos de martelo
Figura 52: Dispositivo de golpe com corda e roldana
Figura 53: Comparação dos distintos factores de correcção CN
Figura 54: Relação entre N e DR%
Figura 55: Ábaco de Gibbs e Holtz comparado com o de Terzaghi e Peck
Figura 56: Estimativa de Meyerhof e Peck et al
Figura 57: Estimativa de 𝜙 em função de NSPT e Tensão efectiva vertical Figura 58: Valores da resistência a compressão simples a partir de NSPT para solos
coesivos de distintas plasticidades
Capítulo 5
Figura 59: Localização dos furos de sondagem
Figura 60: Sondagem SP1
Figura 61: Sondagem SP3
Figura 62: Sondagem SP4
Figura 63: Sondagem SP6
BONDO, H. e CARVALHO, I.
vii
Figura 64: Sondagem SP8
Figura 65: Sondagem SP9
Figura 66: Sondagem SP10
Figura 67: Sondagem SP11
Figura 68: Sondagem SP12
Figura 69: Sondagem SP14
Figura 70: Sondagem SP15
Figura 71: Sondagem SP16
Figura 72: Sondagem SP17 LISTA DAS TABELAS
Tabela 1: Coordenadas geográficas da província do Bengo
Tabela 2: Localização geográfica dos afloramentos estudados
Tabela 3: Ambientes, hábito, e idades das espécies de foraminíferos
Tabela 4: Amostragem dos poços estudados
Tabela 5: Correcção de N pelo comprimento das varas
Tabela 6: Correcção de N pelo diâmetro da sondagem
Tabela 7: Comparação dos distintos factores de correcção
Tabela 8: Valores de CN para distintos tipos de solos
Tabela 9: Classificação de Terzaghi e Peck, modificado por Skempton
Tabela 10: Propriedades comuns de solos argilosos
Tabela 11: Dados dos furos de sondagens LISTA DE SÍMBOLOS E ACRÓNIMOS ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ASTM - American Society for Testing Materials AFT - Afloramento CN - Factor de correcção Dr - Densidade Relativa (ou compacidade) do solo
qu - Resistência a compressão simples (tsf) Log - Logarítimo L - Comprimento das varas N - Número de golpes N1 - Valor de NSPT corrigido para uma tensão de referência de 100
BONDO, H. e CARVALHO, I.
viii
NSPT - Índice de resistência à penetração NBR - Associação Brasileira de Normas Técnicas N60 - Valor de NSPT corrigido para 60% da energia teórica de queda livre (N1)60 - Valor de NSPT corrigido para energia e nível de tensões KPa - Kilopascal SPT - Ensaio de penetração padrão (Standard Penetration Test) SP - Furo de Sondagem t/m2 – Tonelada por metro quadrado Tg - Tangente
’v0 - Tensão efectiva vertical em repouso 𝜙 - Ângulo de atrito interno Kg/cm2 – Kilograma por centímetro quadrado psi – pounds per square inch ISSMFE – T16 International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering –Technical Com e max - Índice de vazios máximo e min - Índice de vazios mínimo e0 - Índice de vazios in situ
Peso volúmico do solo
dmax - Peso volúmico seco máximo
max - Peso volúmico máximo
min - Peso volúmico mínimo
ap - Peso volúmico aparente
BONDO, H. e CARVALHO, I.
ix
AGRADECIMENTOS
A Deus, o grande Arquitecto do Universo, por nos ter concedido a vida e a força
necessária para a realização deste trabalho. Aos nossos pais, familiares pelo apoio incondicional. Aos nossos orientadores Prof. Doutor André Buta Neto e Prof. Doutor Fernando Bonito por fazerem sempre a diferença nos momentos de maiores dificuldades.
Ao colectivo de professores do Departamento de Geologia, em especial ao Dr. Mega
Fontes e Dr. Cirilo Cauxeiro por nos terem ajudado no processo de busca de conhecimentos necessários para desenvolver este projecto.
À Empresa SOLOTÉCNICA – CIS, principalmente ao Engenheiro desse projecto, e ao
Sondador Belmiro e seus ajudantes por terem demonstrado imensa boa vontade e espírito de cooperação ao transmitirem informações dos ensaios SPT e executarem as sondagens, parte fundamental deste trabalho de fim de curso da Licenciatura.
A todos os colegas que directa ou indirectamente mostraram-se sempre dispostos a
ajudar nos momentos difíceis.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
x
RESUMO
O presente trabalho tem como tema Caracterização Geológica e Geotécnica da Área
de Implantação do Novo Porto de Luanda, a partir de resultados de Ensaios “Standard
Penetration Test” SPT. Foi elaborado pelos estudantes Hortênsio Felisberto de Fátima Bondo
e Igídio Miguel de Carvalho, no âmbito de um projecto de fim de curso de Licenciatura em
Geologia na especialidade de Geologia Aplicada, no Departamento de Geologia da
Universidade Agostinho Neto, com os apoios da Empresa SOLOTÉCNICA, Gabinete de
Reconstrução Nacional (GRN) e Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da
Universidade Agostinho Neto.
A caracterização geológica da área de estudo, baseou-se no reconhecimento
geológico da referida área, na interpretação das distintas secções litológicas (logs), nas
análises paleontológicas onde identificaram-se algumas espécies de foraminíferos, o que
permitiu determinar o paleoambiente da área de estudo. Efectuou-se também correlações
lito-bioestratigráficas a partir de algumas secções litológicas, permitindo assim a elaboração
do corte sintético litológico. Finalmente elaborou-se o esboço litológico da área de estudo.
Foram realizados ensaios SPT em algumas localidades do município do Dande,
essencialmente na zona de Cabacaça, Calenguela, Catumbo, Pambala. Efectuou-se também
correcções dos resultados SPT considerando os efeitos do peso volúmico, da tensão efectiva
vertical, do diâmetro do furo, do comprimento do trem de varas, estes dois últimos de acordo
com as propostas de Skempton (1986) e Uto & Fujuki (1981). Foram também efectuadas
correcções devidas aos efeitos da pressão de confinamento de acordo com as propostas de
Skempton (1986), Liao & Whitman (1985) e Gibbs & Holtz (1957).
Tendo por base a Bibliografia, foi realizada a parametrização geotécnica, a partir das
correlações clássicas que permitem estimar a ordem de grandeza dos parâmetros indexados
às propriedades físicas, à compacidade, à consistência, à resistência e à deformabilidade.
Por outro lado, aquela avaliação permitiu uma abordagem comparativa com as
propriedades e características geológicas determinadas em estudos de fotointerpretação,
estudos de campo, bem como análises de laboratório.
Palavras-Chave: Correcções, Correlações, Formações, Golpes, Solos, Sondagem, secções
litológicas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
xi
ABSTRACT
This work has theme Geological and geotechnical characterization in the Area of
Implantation of the new Porto of Luanda, from results of tests “SPT” Standard Penetration
Test. It was prepared by the following students Hortênsio Felisberto de Fátima Bondo e Igídio
Miguel de Carvalho, under a draft order Degree in Geology in the specialty of Applied Geology,
in the Department of Geology at Agostinho Neto University, with the support of the Company
SOLOTÉCNICA, General Office of National Reconstruction (GNR) and Department of
Geology in Faculty of Science at Agostinho Neto University.
The geological characterization of the study area was based on the geological
reconnaissance of the aforementioned area in the interpretation of the different lithological
sections (logs), in paleontological analysis where we identified some species of foraminifera,
which allowed us to determine the paleoenvironment of the study area. Correlations litho-
biostratigraphycs were also made from some sections of lithological sections, thereby
enabling the preparation of synthetic litologic cut. Finally we elaborated the outline geology of
the study area.
SPT tests were conducted in some localities of the municipality of Dande, primarily in
the area of Cabacaça, Calenguela, Catumbo, Pambala. It also made corrections to the SPT
results considering the effects of volume weight, the vertical effective stress, the diameter of
the hole, the length of the train of rods, the two last ones according to the proposals of
Skempton (1986) and Uto & Fujuki (1981). Corrections were also made to the effects of
pressure containment according to the proposals of Skempton (1986), Liao & Whitman (1985)
and Gibbs & Holtz (1957).
Based on the Bibliography, we performed a geotechnical parameter, from classical
correlations that allow to estimate the size of the indexed parameters to physical properties,
compactness, consistency, resistance and deformability.
On the other hand, that evaluation allowed a comparison with the properties and
geological characteristics determined in studies of photo interpretation, field studies and
laboratory analysis.
Keyword: Corrections, Correlations, Training, Hitting, Soil, Survery, lithological sections.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
xii
Aos meus pais pelo total apoio e incentivo, aos meus irmãos por estarem sempre do meu lado.
Hortênsio Felisberto de Fátima Bondo
A Deus pelo fôlego da vida, aos meus pais por me apoiarem sempre incondicionalmente, aos meus irmãos e amigos por estarem sempre do meu lado
e acreditarem em mim.
Igídio Miguel de Carvalho
BONDO, H. e CARVALHO, I.
1
INTRODUÇÃO
O presente trabalho de fim de curso foi desenvolvido na área científica de Geologia
Aplicada, mais especificamente no domínio da Geotecnia e trata da caracterização geológica
e geotécnica da área de implementação de um novo Porto Comercial, situado na zona da
Barra do Dande, a partir da interpretação de uma quantidade significativa de resultados
obtidos mediante a realização do designado Ensaio de Penetração Normalizado ou, como é
mais conhecido, na literatura inglesa, Standard Penetration Test (SPT). Trata-se de um
ensaio de penetração dinâmica e é tanto em Geologia de Engenharia como em Geotecnia ou
em Engenharia Civil, o método mais utilizado mundialmente para reconhecimento do subsolo
e avaliação da resistência dos maciços terrosos, fundamentalmente devido à facilidade de
execução e baixo custo associado.
Com efeito, os parâmetros obtidos através deste ensaio são amplamente utilizados
para o cálculo da capacidade resistente dos maciços de fundação.
Assim, o SPT consiste, em medir o número de golpes necessários para fazer um amostrador
normalizado penetrar no solo três trechos sucessivos de 15 cm, totalizando 45 cm. Nesta
base, na área de estudo foram executados 20 sondagens com SPT. Foram utilizados os
resultados de 14 furos de sondagem para a realização do presente trabalho.
OBJECTIVOS GERAIS
Determinar as diferentes litologias da área de estudo e o respectivo paleoambiente.
Estimar a capacidade de carga dos solos da área de estudo a partir de resultados do
ensaio SPT, bem como compreender a sua ordem de grandeza à luz do conhecimento
geológico recolhido quer da bibliografia quer adquirido nos trabalhos de campo.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Reconhecer e classificar a microfauna de foraminíferos;
Elaborar secções litológicas (Logs) a partir dos furos de sondagem;
Compreender a execução do ensaio e aplicar as correcções aos valores do NSPT;
Estabelecer correlações entre os valores do SPT (registados e corrigidos) e os
diferentes parâmetros geotécnicos.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
3
1. METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia seleccionada, com base nos objectivos preconizados, foi a seguinte:
1. Elaboração do modelo de investigação e levantamento bibliográfico. Para esta fase,
recorreu-se inicialmente ao estudo de fotografias aéreas da região que permitiu a
elaboração de cartas preliminares, esboços, ulteriormente o reconhecimento de
algumas formações referidas nos trabalhos já efectuados na área segundo Agostinho
et al (1995) e Victorino e Nascimento, (2006).
2. Levantamento de dados de campo: Esta fase baseou-se no acompanhamento das
sondagens em obra (Figura 1), na identificação e descrição das diferentes litologias
presentes na área de trabalho a partir das amostras recolhidas no amostrador
Terzaghi, bem como no reconhecimento dos tipos de contactos existente entre as
distintas formações;
a
b
FIGURA 1 - a) Reconhecimento do local do furo; b) Montagem do equipamento
BONDO, H. e CARVALHO, I.
4
b
FIGURA 2- a) Colocação do amostrador Terzaghi; b) Realização do ensaio SPT
3. Trabalho de laboratório: Esta fase dividiu-se em duas etapas:
1. Descrição das carotes e testemunhos de sondagem SPT
As amostras utilizadas no presente trabalho são testemunhos (carotes) dos furos de
sondagem rotativa e à percussão. Algumas foram recolhidas com recurso ao amostrador
Terzaghi, durante a excução do SPT na área de trabalho, como se pode observar nas páginas
4 e 5.
Após a sua recuperação, as amostras foram conservadas em caixas devidamente
etiquetadas, com indicação da ordem de amostragem através de setas e respectivas
profundidades e penetrações.
As amostras foram descritas macroscopicamente com ajuda de uma lupa e ácido clorídrico
(HCI).
a
BONDO, H. e CARVALHO, I.
5
FIGURA 3- Descrição macroscópica dos testemunhos de sondagem (Carotes)
Para o tratamento da informação, a amostragem foi utilizada segundo a variação de
fácies, quer do ponto de vista litológico, quer do ponto de vista paleontológico. Assim, foram
seleccionadas algumas amostras para análise paleontológica com ajuda da lupa binocular,
com o intuito de descrever as idades das diferentes formações existentes na área de estudo.
FIGURA 4- Testemunhos de sondagem rotativa
BONDO, H. e CARVALHO, I.
6
FIGURA 5- Testemunho de sondagem SPT
2. Análise micropalentológica
A análise micropaleontogica foi feita de maneira metódica, meticulosa e precisa, com
a finalidade de se evitar possíveis contaminações entre amostras, misturas fortuitas, e erros
de identificação das preparações, com o objectivo de enquadrar a área de estudo no contexto
geodinâmico, conforme é recomendado por Seyve (1990).
a) Lavagem
É a técnica mais frequentemente utilizada para extrair das rochas móveis os microfósseis de
tamanho superior a 100 micrómetros.
Assim, as amostras foram colocadas em recipientes contento água, durante oito (8)
horas, a fim de serem desagregadas da solução. Posteriormente, a lavagem foi feita com
água corrente e peneiros circulares de 149 microns de abertura da malha, para a recuperação
dos resíduos. Estes foram levados para secagem, em estufa á uma temperatura de 100 °C.
Para o efeito, foi utilizada uma solução com o azul-de-metileno, na qual foram imersos os
peneiros à medida que decorria a lavagem, para colorir e reconhecer nas lavagens ulteriores
os microfósseis que poderiam ficar retidos nas malhas. A triagem foi feita numa cuveta
metálica rectangular, de fundo escuro, sob observação na lupa binocular. Os microfósseis
foram levantados com um estilete que de vez em quando foi picada na plasticina e,
posteriormente, foram colocados em células ou lamelas.
b) Observação dos microfósseis
No momento da identificação dos fósseis são utilizadas algumas técnicas de trabalho,
ou seja, o reconhecimento de cada grupo, género ou espécie, que necessita do conhecimento
de base da micropaleontologia sistemática e a utilização da bibliografia. Seyve (1990)
aconselha para o efeito o uso dessas técnicas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
7
Para a descrição e ilustração dos microfósseis, foram feitos alguns desenhos e
fotografias, foi feita a descrição das formas, dos atributos morfológicos mais típicos, o que se
revelou de grande interesse para nós como autores do presente trabalho, uma vez que
permitiu aliar a teoria à prática.
3. Interpretação dos dados
Os dados são descritos sob a forma de texto e apresentados preferencialmente sob a
forma de tabelas, colunas litológicas e gráficos. Os dados utilizados resultaram dos resultados
do ensaio SPT, da análise macroscópica, petrográfica e paleontológica, com recurso a alguns
programas informáticos (software), designamente o Rockworks 2002, o Surfer 8, o Grapher
7, o Corel DRAW12, o Fotoshop e as ferramentas do Microsoft Office.
4. Nesta fase, foi elaborado o relatório final com base na estratigrafia definida.
a
b
c
d
FIGURA 6- Etapas da análise micropaleontológica:
a – Dissolução; b – Lavagem; c – Secagem; d – Triagem e classificação
BONDO, H. e CARVALHO, I.
8
O referido relatório contém aspectos relevantes ao conhecimento geológico da área,
dentro do objectivo a que se propôs o projecto. Deve ser realçado que o esboço litológico, as
correlações lito-bioestratigráficas, o corte sintético, o paleoambiente da área de estudo, os
resultados corrigidos dos ensaios SPT, bem como as correlações deles deduzidas, são
efectivamente os resultados mais importantes obtidos com a realização do presente trabalho.
1.2 MATERIAIS E TÉCNICAS
Os materiais utilizados para a realização do trabalho consistiram nas diferentes litologias,
identificadas na área de estudo, sendo algumas de idade já conhecida e outras por
determinar. Deste modo, foram tomadas várias amostras dos distintos furos de sondagem
com o objectivo de ser feita a datação de algumas unidades litológicas. As ferramentas de
apoio para a realização deste trabalho, utilizadas com diferentes fins, foram fotografias
aéreas, imagens de satélite e mapas topográficos e geológicos, imprescindíveis para um
trabalho do género.
1.2.1 Fotografias Aéreas
Esta ferramenta foi de extrema importância devido à sua capacidade em individualizar
os diferentes depósitos sedimentares, assim como todas as estruturas geológicas (falhas,
dobras), cursos de água, formas de relevo e algumas estruturas antrópicas presentes nas
imagens aéreas.
A fotointerpretação permitiu, igualmente, compreender o significado individual e colectivo
dos atributos acima citados, através da observação de alguns aspectos básicos, tais como a
textura, drenagem, tonalidade, forma, padrão, densidade, declividade, dimensão, sombra e
posição dos objectos que podem ser observados nas fotografias.
Para que esta interpretação fosse realizada com sucesso, foi necessário primeiramente
um estudo sobre fotografias aéreas que consistiu na montagem de um mosaico ou conjunto
de fotos da área de estudo, montadas técnica e artisticamente, de forma a dar a impressão
que todo conjunto se torna numa só.
Este estudo é bastante útil seja para dar uma visão de conjunto da área, seja para permitir
uma boa selecção preliminar do local que requer maior ou menor grau de detalhe. Foi utilizado
o estereoscópio de espelhos para garantir uma visão estereoscópica.
Os estudos de fotointerpretação foram realizados de acordo com os seguintes passos:
1- União das marcas fiduciais para obtenção do centro de cada fotografia, a fim de
localizar o ponto principal;
BONDO, H. e CARVALHO, I.
9
2- Sobreposição das fotografias aéreas de maneira a determinar a imagem de cada
ponto principal na outra fotografia, seguindo-se para a observação das duas fotos
sucessivas com o estereoscópio. A foto posicionada do lado esquerdo simula uma
visão do olho esquerdo no ponto acima da foto, a posicionada do lado direito, a visão
do olho direito, que recobre 60% da foto esquerda, permitindo ver o modelado
topográfico a três dimensões;
3- Marcação da linha de voo (linha que vai do ponto principal de uma fotografia, até a
sua imagem na outra fotografia).
4- Determinação do estereobase (distanciamento entre os dois pontos principais);
5- Individualização, caracterização e identificação de todos os objectos geomorfológicos
observados nas fotografias aéreas.
1.2.2 Imagens Satélite
O uso desta ferramenta foi de grande utilidade, pois permitiu uma visão panorâmica
da área de estudo, tendo em conta que a presença ou significado de determinadas
características geológicas que se exprimem por dezenas ou mesmo centenas de quilómetros,
podem escapar à observação de fotografias aéreas de baixa altitude, mas são claramente
visíveis numa imagem de satélite (imagens Landsat).
O detalhe destas imagens é por vezes tal, que se torna possível reconhecer a
geometria das camadas, o que permite a interpretação da estrutura regional. Isto permite que
estas imagens constituam frequentemente um auxiliar precioso nos levantamentos de campo.
Todavia, devido a diferença de escala e de resolução, as imagens Landsat funcionaram mais
como um meio de interpretação complementar, não substituindo as fotografias aéreas de
baixa altitude, que permitem um estudo à escala local. Neste sentido, esta ferramenta permitiu
a localização das estações em estudo, identificação de algumas unidades litológicas, vales
de drenagem, individualizar as diferentes condições do terreno e traçar os limites entre elas.
1.2.3 Mapas Topográficos
São mapas que representam a topografia de uma determinada região e apesar de não
possuírem um fim determinado, são a principal base das cartas temáticas. Deles constam
vários elementos, nomeadamente:
Construções humanas (estradas, linhas de alta tensão, gasodutos, casas, barragens,
etc.);
Aspectos naturais (rios, praias, montanhas, lagos, etc.);
BONDO, H. e CARVALHO, I.
10
Geografia política (fronteiras e limites);
Enquadramento geográfico do mapa em relação à longitude e à latitude;
Escala de distâncias horizontais;
Declinação magnética da região;
Data do levantamento topográfico e
Legenda.
Tendo como base o mapa foto-aéreo da área de estudo resultante da sobreposição, e
consequentemente da junção e uniformização das fotografias aéreas, foi possível, com
recurso ao programa informático Fotoshop, efectuar a ampliação do mesmo a fim de obter
uma melhor visualização da área de trabalho, garantindo, deste modo, um maior grau de
detalhe dos objectos a serem projectados na carta geológica, como por exemplo a litologia.
1.2.4 Carta Geológica
As cartas geológicas são elaboradas tendo em vista um fim específico, isto é, contêm
informações bastante pormenorizadas sobre a geologia de uma determinada área estudada.
Podem ser entendidas como a representação sintética e reduzida, num plano, dos diferentes
complexos rochosos e das estruturas presentes numa área, assim como das respectivas
atitudes (Cardoso, 1985).
As cartas geológicas contêm certos elementos fundamentais que são:
Base topográfica;
Tipo e localização das diferentes unidades geológicas;
Idade das diferentes unidades geológicas;
Tipo e localização do contacto entre as diferentes rochas;
Tipo e localização de dobras e falhas;
Direcção e inclinação das rochas estratificadas;
As cartas geológicas devem representar igualmente a coluna estratigráfica que relaciona as
várias unidades em termos cronológicos, colocando em evidência o tipo de contacto e a
eventual existência de descontinuidades entre elas.
Devem ainda representar um perfil geológico interpretativo, definido segundo direcções
que permitem uma melhor interpretação das principais estruturas geológicas existente na
região. Deste modo, esta ferramenta teve grande importância devido ao facto de permitir a
BONDO, H. e CARVALHO, I.
11
identificação e localização de algumas formações presentes na área de trabalho, assim como
os seus possíveis contactos, idades relativas e a identificação de alguns acidentes tectónicos
verificados no decurso dos tempos geológicos.
Foram também utilizadas diferentes técnicas no levantamento de campo e nos trabalhos
de laboratório, sendo importante definir cada uma delas, indicar os seus procedimentos e sua
utilização. Neste contexto, as técnicas utilizadas foram as seguintes:
Descrição macroscópica das amostras
Análise bioestratigráfica.
- Descrição macroscópica das amostras
A observação e identificação macroscópica é um método que se aplica no campo e dá-
nos uma ideia aproximada do tipo de rocha colhida, implicando um reconhecimento bastante
minucioso da forma como ela se encontra no terreno (forma de jazida).
A observação de dados no campo implica que o geólogo utilize um martelo, canivete,
lupa, um frasco de ácido clorídrico (HCl) e, finalmente um caderno onde assente as principais
características da amostra, tais como a localização rigorosa da colheita, forma de jazida,
textura, tipo de minerais presentes, se faz ou não efervescência com o HCl, tipo de contacto
com outras rochas e fracturas que afectam o afloramento etc. As amostras recolhidas foram
analisadas seguindo os parâmetros macroscópicos que permitiram classifica-las de acordo
as características que apresentavam, que foi posteriormente confirmado e quantificado no
laboratório.
- Análise bioestratigráfica
Esta análise é efectuada com base no conteúdo fossilífero encontrado nas amostras
colhidas, que permitem determinar a idade relativa das formações geológicas,
proporcionando assim uma valiosa informação acerca das condições que existiram no lugar
onde encontram-se fossilizados. Esta análise permite igualmente, com auxílio da litologia e
das estruturas sedimentares, identificar o possível ambiente de deposição.
A idade relativa das rochas sedimentares pode ser calculada com base no seu
conteúdo fossilífero ou em virtude da comparação entre rochas com idades desconhecidas,
com outras rochas que se tenha calculado a idade absoluta, por métodos físicos, que se
encontrem em íntima relação, seja subjacentes ou em contactos diversos.
No contexto do descrito anteriormente, para que fosse possível utilizar correctamente
todos os dados relativos aos resultados das amostras e todo o seu valor, assim como para
BONDO, H. e CARVALHO, I.
12
fazer um bom estudo paleontológico, foi necessário realizar de maneira adequada a
identificação das amostras das sondagens a percussão e rotativas, seguida pela descrição
detalhada de cada furo de sondagem, reconhecimento de algumas amostras in situ,
colocação das amostras em sacos adequados a fim de evitar contaminações e
posteriormente referencia-las para não confundi-las.
1.2.5 Fotografias Aéreas da Área de Estudo
Após ter acesso às fotografias aéreas da área do Bengo a escala de 1/35.000, que
foram tomadas em 1979 pelo Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola (I.G.C.A) sendo
as mesmas correspondentes ao registo 125, voo AA-1, fiadas 10,11,12, prova 1484,
baseamo-nos na análise de 3 (três) delas como se pode observar na Figura 7, que permitiram
a construção do mosaico tal como foi descrito na metodologia apresentada no ponto 4.
Sobre o mosaico, apresentado na Figura 8, foi colocada uma folha transparente
durante o estudo estereoscópico, para a transferência dos vários objectos possíveis de
identificar, tais como os contornos, vales, rios, alinhamentos, escarpas, vegetação etc. É de
salientar que alguns alinhamentos tectónicos evidenciados podem estar na base da
geometria costeira do Bengo, aquando da abertura do oceano Atlântico.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
13
FIGURA 7 – Sequências de fotografias a da região do Dande (foto a, b, c e d)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
15
1.2.6 Imagens Satélites da Área de Estudo
As imagens de satélite foram de grande importância na evolução do conhecimento
geomorfológico da área de estudo, ampliando as possibilidades de observação das formas
de relevo e sua correlação com o substrato, seja na discriminação litológica como na análise
estratigráfica e estrutural.
Com a utilização do programa Google Earth®, as imagens de satélite, forneceram
também uma base visual, que permitiu localizar as estações em estudo e identificar os
diferentes depósitos sedimentares.
Em resumo, permitiu uma melhor individualização da área de estudo, identificando com
algum grau de detalhe as diferentes formas de relevo, tais como alguns alinhamentos, os
vales, escarpas, rios, estruturas antrópicas, etc.
FIGURA 9- Imagem satélite da zona de estudo (Dande),
ilustrando as características geomorfológicas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
17
A área de estudo localiza-se na província do Bengo a NE de Luanda, tal como se
observa na Figura 10, é delimitada pelos paralelos e meridianos referidos na Tabela1. A área
da zona de estudo é de aproximadamente 33.016 Km2.
Tabela 1 – Coordenadas geográficas da Província do Bengo
Paralelos Meridianos
7o 36´ 00´´ 13o 12´ 01´´
10o 24´ 00´´ 14o 12´ 01´´
2.1 VIAS DE ACESSO
A província do Bengo foi criada em 1982 por divisão da antiga província de Luanda,
na qual estava enquadrada e possuía a designação de município.
A província do Bengo assegura as ligações, por rodovia a todo País, pelas estradas
de Catete para leste, do Caxito para Norte e de Cabo Ledo para o sul, através da estrada
Nacional partindo de vários pontos da cidade de Luanda, e usando a via de Cacuaco-
Quifangondo chega-se ao município do Dande.
FIGURA 10 – Mapa de Angola e destaque da Província do Bengo, com localização do Município do Dande (FONTE www.mapaangola.com)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
18
As vias secundárias são em terra batida e muitas delas intransitáveis em
consequência do trabalho árduo de desminagem que se está a desenvolver a nível da
província, factor que, ao longo da realização do presente trabalho, condicionou bastante as
saídas de campo e a recolha de dados realizados pelos estudantes e orientadores.
2.2 HISTÓRIA / CULTURA
A maioria da população desta província configura o complexo sócio-cultural Ambundu.
A sua língua nacional de expressão é o Kimbundu, que é partilhada entre os familiares mais
próximos e as pessoas que habitam outros espaços mais precisamente nos limites que
conformam por exemplo a província de Luanda.
São muito conhecidos os monumentos históricos desta província, localizados nos
municípios de Muxima, onde se destacam a Fortaleza e a Igreja do mesmo nome, edificações
do tempo das conquistas portuguesas por estas terras. São, como tal, os marcos desse
passado dos povos desta região.
A província do Bengo contorna a província capital, Luanda, e o seu clima é
influenciado essencialmente pelo oceano Atlântico e tem a floresta e a savana como tipo de
vegetação dominante.
O Bengo é auto-suficiente no que se refere à actividade agrícola. Produz mandioca, abacate,
ananás, feijão, mamão, sisal, palmeira de dendém, cana-de-açúcar café e outros produtos
agrícolas.
A pecuária está dirigida à bovinicultura de carne e, beneficiando de uma costa
favorável, a pesca é praticada na Barra do Dande e no Ambríz (a norte) e no Cabo Ledo (a
sul). Esta última actividade é praticada nas pequenas ínsulas dos rios Bengo e Ndanji, cuja
espécie mais procurada é o Kakusso. Com este espécime lagunar produz-se um prato que já
se tornou referência na gastronomia angolana acompanhado do feijão de óleo de palma.
A pesca marítima nesta região é assinalável sobretudo na área do Ambríz onde os
crustáceos como o camarão e a lagosta são recursos piscatórios que contribuem na
promoção de receitas na balança de exportações.
Actualmente, o sector industrial da província produz materiais de construção
(agregados britados explorados em pedreiras, areias, e barro), bem como outros recursos
minerais, designadamente caulino, gesso, asfalto (rocha asfáltica), calcário, quartzo, ferro,
feldspato e mica. Província muito bem localizada, junto à capital e ao oceano, terá certamente
um grande futuro como destino turístico.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
19
2.3 CLIMA E VEGETAÇÃO
A maior parte da região é caracterizada por um clima tropical seco, com duas épocas:
época seca e a época de chuva. Esta última compreende o período que vai de Setembro até
o final de Abril, a precipitação média varia entre 50mm e 170 mm. Durante a época seca
(Maio a Setembro), a precipitação é praticamente nula.
A temperatura média do mês de Agosto é de 20,1oC a 21,2oC sendo a temperatura do
mês de Março (mês mais quente do ano) de 26,8oC. A humidade relativa do ambiente é alta
durante todo o ano, ultrapassando os 80% o que se explica, essencialmente, devido à
influência do oceano Atlântico.
Quase todo o território está coberto por vegetação arbórea e arbustiva, havendo
bosques nas baixas dos rios. A província apresenta igualmente uma vegetação do tipo
savana seca, constituída por herbáceas, arbustos ou matas tropicais secas, matebeiras
(Hyphaene Gossweira) eufórbios, mubanga, capim alto (sub-xerófitas) com algumas árvores
de grande porte, de que são exemplo os embondeiros (Adansónia Digitata). A lezíria de
alguns rios é intensamente pantanosa.
Ocorrem ainda comunidades de savana herbosa, dominadas por gramíneas de porte
médio, típicas de meios húmidos; formações de floresta ripícola a acompanharem o curso
fluvial e a revestirem a orla marginal, dominadas por arbóreas de grande porte, salientando-
se as albízias, o embondeiro, a mafumeira, além da disseminação da palmeira Elaeis;
comunidades de Cyperus papyrus identificam as áreas permanentemente submersas de
água doce, as quais mais próximo da orla marítima e sob influência de fluxos aquíferos das
marés vêm constituir mangais, dominados por Rhysophora mangle.
Em grande parte a bacia foi submetida ao cultivo, pelo que são poucos os testemunhos
do primitivo revestimento vegetal. Todavia, atendendo as condições específicas da baixa, no
aspecto hídrico, não favoráveis a retenções aquíferas superficiais, a vegetação dominante é
do tipo florestal ripícola, com as componentes arbóreas já referidas para casos anteriores,
enquanto as áreas revestidas por comunidades herbáceas higrófilas se confinam a
determinadas situações de encharcamento temporário, sobretudo na faixa limite jusante.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
20
a) b)
FIGURA 11 – Vegetação existente na região do Dande: a) Ipopeia sp.; b) Euphorbia conspicua
2.4 SOLOS
Na área de estudo verifica-se uma grande variedade de solos. As condições climáticas
e a topografia exercem influência na génese do solo, independentemente da composição
mineralógica da rocha mãe (quase uniformemente calcária e argilosa). No aspecto textural
estão representados tanto os solos grosseiros como os finos.
Na orla litoral aparecem os solos aluvionares fluviais essencialmente margosos e
gresosos de cor pardacenta ocupando grandes superfícies.
Além dos solos aluvionares existem também solos calcários, argilosos principalmente onde
afloram margas e argilas. Aparecem igualmente barros delgados muito secos e solos pardos
nos lugares com topografia íngreme. Estes solos de cor negra ou cinzenta escura
apresentam-se em camadas de grande espessura nas encostas e depressões dos vales
(Diniz, 2002).
Com base ao esboço pedológico elaborado por Diniz, os solos da área de estudo, estes
classificam-se da seguinte forma:
a) Solos aluvionais fluviais
Ocupam extensas superfícies sobretudo ao longo dos rios bem como em superfícies baixas.
Ao longo do rio Dande, a textura destes solos é média e fina diminuindo gradualmente no
sentido da foz e das margens para a periferia. Os solos melhor drenados e de maior fertilidade
distribuem-se na faixa contígua ao curso do rio;
BONDO, H. e CARVALHO, I.
21
b) Solos áridos tropicais pardos
A nordeste do Dande sobretudo na área de transição de clima árido, predominam os solos
áridos tropicais correspondentes com relevos suavemente ondulados. Estes solos são
originários a partir das rochas cristalofílicas do complexo de base.
A fracção fina do solo é composta por argila sialítica (montemorilonites). Poderão ser
considerados como solos de bom nível de fertilidade, ou seja, bons para a agricultura;
Barros negros e pardos (expansivos)
Os barros são solos de textura pesada, em geral de cores negras ou cinzentas escuras
quando em correspondência com áreas aplanadas ou de depressões de vales. São solos
argilosos muito pegajosos e plásticos constituídos essencialmente por argilas
montmoriloníticas. Devidas as suas características físicas, limitações quanto ao uso agrícola,
as operações culturais são acentuadas. Oferecem susceptibilidade a erosão como resultado
do seu baixo grau de permeabilidade exigindo práticas de defesa e conservação;
c) Solos musseques
Nesta grande unidade pedológica englobam-se os solos que estão em correspondência com
as superfícies sobrelevadas de sedimentos quartzosos do Plistocénico, conhecidos pela
designação regional de “musseques”, que significa terreno arenoso.
Os solos musseques são em geral de textura grosseira, bastante profundos, sem
estrutura, pálidos ou de cores vivas;
d) Solos calcários pardos
Os solos calcários pardos, de coloração normalmente pardo - olivácea, têm boa
representação entre o Dande e o Cuanza, em geral correlacionados com os materiais
calcários, greso–calcários ou calcários margosos do Cretácico e do Eocénico. Quanto às suas
características, trata-se de solos de texturas finas, ou mais raramente médias, em geral
disseminados de materiais concrecionários e nódulos de calcários e cristais de gesso. São
solos com regular a boa capacidade para a água utilizável e regular drenagem interna.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
22
2.5 GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA
A área de trabalho é, de uma forma geral, caracterizada por um relevo de planície
costeira pouco acidentado, com cotas absolutas de 20 a 30m distribuídas pelas depressões
dos rios, linhas de água efémeras e, pelos cursos de água permanentes.
A morfologia da região estudada apresenta superfícies aterraçadas de extensão
quilométrica, com alguns altos morfológicos cortados por vales em forma de V e falésias
bastante íngremes (Buta Neto et al., 2000).
Relativamente à Rede Hidrográfica da região do Dande, importa salientar que, Angola
tem 77 bacias hidrográficas, o que indica que é um país com grande potencial hídrico, das
quais faz parte da área de estudo a bacia do Dande e a bacia do Lifune (província do Bengo).
Estas bacias são indispensáveis para o desenvolvimento desta região, e compreendem os
rios Dande e Lifune, ambos rios principais. Também é notável na área de estudo o rio Ió, cujo
regime é pluvial (intermitente). Para o efeito foram calculados para a bacia do Dande e Lifune
representados nas Figuras 12 e 13 os seguintes parâmetros:
Área da Bacia; Perímetro da Bacia; Altitude média e máxima; Descarga específica
média, máxima e mínima; Descarga mensal e Média anual e finalmente a Precipitação mensal
e média anual.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
23
FIGURA 12 - Bacia hidrográfica do Dande, província do Bengo (Sweco Groner, 2005).
BONDO, H. e CARVALHO, I.
24
FIGURA 13- Bacia hidrográfica do Lifune, província do Bengo (Sweco Groner, 2005)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
25
A parte extensa da baixa do Dande, que se compreende entre o Porto Quipir-Quijanda,
no limite da exploração canavieira da Açucareira de Caxito e a foz, é o local mais conhecido
por Barra do Dande.
A baixa, neste troço jusante, tal como se observa na Figura 14 inclina-se muito
lentamente para o litoral, desde cotas dos 10/12m até 3/4m e, estreitando-se de algum modo,
disseminando-se em lagoas, sobretudo na sua periferia da margem direita, facto que contribui
para a redução significativa da área útil, além do rio, ao longo de 30 km do seu percurso final,
corre em meandros muito pronunciados.
A bacia do Dande é parte integrante do município de Caxito, comuna da Barra do Dande,
servido pela estrada do norte Luanda-Soyo e pelo ramal da Barra do Dande, o qual,
atravessando-se o rio por jangada junto à foz, liga no Lifune à estrada do Ambriz. Esta bacia
constitui uma zona de significativa incidência agrícola, quer do sector empresarial, com
algumas explorações agrícolas implantadas no vale, quer do sector camponês, que se
distribui em aglomerados populacionais na plataforma adjacente ou na baixa, aqui
estabelecendo as suas áreas de cultura de subsistência, com base na mandioca, batata-
doce, milho e ginguba e colhendo o dendém nas numerosas palmeiras que se disseminam
pela orla marginal ribeirinha.
Do sector empresarial há que distinguir algumas fazendas que tradicionalmente se
dedicam à produção de frescos com destino ao mercado abastecedor de Luanda, incluindo-
se também a cultura frutícola, com destaque para a bananeira, citrinos, mamoeiro e
mangueira. Ainda de referir a actividade piscatória incidente nas numerosas lagoas, a qual
constitui fonte alimentar muito importante das populações locais, além de registar volume de
comercialização muito interessante.
Relativamente à Morfologia, observa-se uma planície aluvial muito perfeita,
correspondente a fundo de vale profundamente escavado na plataforma sedimentar ceno -
mesozóica, a qual marca diferenças de cotas de algumas dezenas até próximo da centena
de metros. O leito do rio, bem definido por taludes marginais salientes, traça curso sinuoso e
arrimado à encosta meridional, deixando que do lado oposto a baixa se povoe de lagoas,
algumas delas de dimensionamento apreciável, de várias centenas de hectares.
Tendo em conta que, a área de estudo não abarca a área completa das bacias do Dande
e Lifune, procuramos estudar apenas as zonas mais baixas das respectivas bacias, isto de
acordo com Diniz (2002). Assim, a parte baixa da bacia do Dande estreita-se, e parte da
mesma é preenchida por sucessivas lagoas, reduzindo-se consideravelmente a área de
utilização, além de que o rio, ao divagar e meandros caprichosos, torna difícil a
BONDO, H. e CARVALHO, I.
26
implementação de um adequado esquema de defesa. Já nos últimos quilómetros, com as
cotas mais reduzidas, a proximidade do mar e a influência do nível friático próximo da
superfície enriquecido em sais, a baixa, fortemente susceptível, não é mais do que uma
superfície salgada.
A ocupação agrícola, não faltando sequer as fontes permanentes de regadio, reduz-se
às situções topográficas salientes, livres ou pouco afectadas pelo encharcamento,
normalmente acompanhando as orlas marginas do rio, onde em muitos casos a utilização
agrícola recai no intervalo periódico que medeia entre as enchentes que normalmente se
verificam em Março/Abril.
FIGURA 14- Bacia hidrográfica da baixa do Dande, evidenciando o rio Dande e as eventuais
lagoas. DINIZ, A. C. 2002. Esc. 1:100.000
A planície aluvial da baixa do Lifune, como se observa na Figura 15 tem característica
muito alongada (cerca de 13 km de extensão por uns 3 km de largura média) e descaindo
para o litoral, desde cotas dos 16 m no extremo montante até aos 8 m na orla marítima.
A bacia fica compreendida nos limites administrativos do município de Caxito, e dista uns
13 km da comuna da Barra do Dande, está bem localizada em relação às grandes vias de
comunicação, porquanto atravessa-a a rodovia do norte Luanda/Ambriz, que passa por
Caxito além da estrada térrea que liga à Barra do Dande. No domínio da ocupação agrícola,
N
BONDO, H. e CARVALHO, I.
27
na baixa implantaram-se duas unidades de produção que têm por base a exploração da
palmeira dendém: a Fazenda Libongos na parte montante da Fazenda Lifune a jusante da
estrada nacional.
No decorrer da década de sessenta, ambas fazendas foram alargando as áreas de
exploração à cultura da bananeira, chegando a envolver algumas centenas de hectares na
Fazenda Lifune, pese embora a escassez de disponibilidades hídricas para rega.
A localização privilegiada da baixa do Lifune em relação ao porto de Luanda a cerca de
90km e ligando-a uma boa rodovia, aliada às condições ecológicas muito favoráveis para esta
cultura, fez com que o início dos anos setenta a produção bananícola atingisse níveis muito
elevados.
Relativamente à Morfologia, observa-se uma planície aluvial da foz do Lifune, encaixada
em plena faixa litoral mesozóica de relevo caracteristicamente ondulado, tendo a
particularidade do rio Lifune drenar convenientemente a baixa em toda a sua extensão, pelo
que praticamente não se verificam retenções aquíferas prolongadas, nem tão pouco a
ocorrência de lagoas.
FIGURA 15- Bacia hidrográfica da baixa do Lifune, evidenciando o rio Lifune. DINIZ, A. C. 2002. Esc.1:100.000
N
BONDO, H. e CARVALHO, I.
29
3.1 PRINCIPAIS BACIAS SEDIMENTARES DE ANGOLA
De acordo com Tavares (2000), o pacote sedimentar angolano é subdividido em cinco
(5) sectores, os quais se resumem a três bacias costeiras, nomeadamente a Bacia do Congo
(limitada entre o rio Zaire e a Ponta da Musserra), a bacia do Kwanza (entre Musserra e o
paralelo 12º 00´) e, por fim, a Bacia do Namibe (entre o paralelo 13º 45´S e o limite sul é
representado pela Namíbia), tal como representado na Figura 16 (WEC 1991).
FIGURA 16 - Principais bacias sedimentares de Angola (WEC 1991)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
30
A Região do Dande situa-se dentro dos limites geográficos da Bacia do Cuanza,
estando as formações da área de estudo (Dande), inseridas nas formações da Bacia do
Kwanza. Esta última por sua vez, está relacionada com um fenómeno de importância golobal
– a evolução da margem Continental angolana, ou seja, a abertura do Atlântico Sul.
Neste contexto, torna-se relevante apresentar uma breve síntese da evolução da
margem angolana, a fim de melhor compreender e enquadrar os processos geológicos –
estruturais locais no espaço – tempo. Com base nos conceitos de tectónica de placas e da
migração dos continentes, e de acordo com o estilo estrutural e características litológicas
presentes, vários autores (Cunha Baptista, 1991, Marcelino & Kaziluque, 2000) definiram
diferentes eventos evidentes nas bacias sedimentares costeiras e na plataforma continental
que reflectem as diversas fases de evolução das bacias que compõem a margem angolana.
3.2 EVOLUÇÃO TECTÓNICA-SEDIMENTAR
A evolução tectónica e sedimentar da bacia do Kwanza resultou, numa fase inicial, do
movimento das placas tectónicas que provocaram a fracturação do supercontinente
Gondwana. Estes movimentos estiveram, então, na base da separação dos continentes
Africano e Sul-americano e que ainda se identificam nos dias de hoje, devido ao aumento
progressivo do afastamento dessas placas.
Assim sendo, a abertura do Oceano Atlântico iniciou no Jurássico tardio/Cretácico
inferior, período em que a placa africana foi submetida a esforços distensivos que levaram à
abertura do Rift, ao longo das zonas crustais estruturalmente mais frágeis. A evolução desta
bacia ocorreu segundo vários episódios tectónicos distintos, cada um deles evidenciando
uma estratigrafia e um estilo estrutural próprio.
Esses movimentos tectónicos são divididos em 4 episódios, nomeadamente:
1- Pré-Rift, que é caracterizado por um tectonismo suave;
2- Sin-Rift I e II, que é caracterizado por um forte tectonismo;
3- Pós-Rift, caracterizado por um tectonismo moderado;
4-Subsidência regional, que é caracterizada pelo forte basculamento da bacia
(tectonismo activo).
BONDO, H. e CARVALHO, I.
31
Pré-rift
Durante a etapa inicial, no Cretácico Inferior (Neocomiano), os continentes Africano e
Sul- Americano que se encontravam estáveis e unidos desde o Pré-câmbrico passaram a
estar sujeitos a fracturamento e ao consequente vulcanismo, período em que se depositaram
sedimentos arenosos.
O Neocomiano é então caracterizado por um tectónismo suave, no qual se formaram
algumas bacias intracratónicas que se instalaram de forma discordante sobre o soco Pré-
câmbrico falhado e erodido. Estas bacias intracratónicas encontram-se preenchidas por
sedimentos clásticos arenosos de ambiente fluvio-lacustre e sedimentos vulcanoclásticos que
se depositaram discordantemente sobre o soco metamórfico falhado (Figura 17).
Figura 17 – Esquema representativo da fase “Pré-rift” (Sheevel, J. et al., 1996).
Syn-Rift I
Na fase inicial, (Neocomiano) este episódio é caracterizado por levantamento,
fracturação e inclinação dos blocos do soco. Estes fenómenos levaram à formação de um
sistema de lagos profundos ou bacias profundas (do tipo rift) instaladas nos grabens que, por
sua vez, produziram um relevo com enormes blocos elevados e rebaixados, preenchidos por
sedimentos sapropélicos (ricos em matéria orgânica) e sedimentos lacustres argilosos.
Na fase final (Barremiano inferior) acentuou-se o deslocamento dos blocos, dando
lugar a um aumento da compactação e subsidência como consequência da carga sedimentar
(Figura 18).
BONDO, H. e CARVALHO, I.
32
Figura 18- Esquema representativo da fase “Sin-rift I” (Brice et al., 1982).
Syn-rift II
Nesta fase (Barremiano) verificou-se a reactivação de algumas falhas, devido ao
aumento gradual do adelgaçamento e distensão crustal, provocando subsidência e erosão
das zonas mais elevadas dos blocos pré-câmbricos.
No final desta fase (Apciano) deu-se o início da ruptura continental (África e América
do Sul), devido ao rápido alongamento e adelgaçamento da litosfera.
Os sedimentos que se depositaram neste período representam uma sequência
transicional que corresponde ao início da mudança de ambientes continentais para marinhos.
Estes depósitos são constituídos, basicamente, por carbonatos lacustres e arenitos clásticos
aluvionares, passando para uma sequência evaporítica (Figura 19).
Figura. 19 – Esquema representativo da fase inicial (a) e final (b) do“Sin-rift II” (Baptista C. 1991).
BONDO, H. e CARVALHO, I.
33
Pós-rift
Esta fase é caracterizada pela deposição de uma espessa série salífera que ocorreu
numa bacia geometricamente restrita (hipersalina), no início do Albiano, sendo representada
por uma sequência inicialmente transgressiva, passando para uma sequência carbonatada-
clástica. Esta sequência transgressiva depositou-se devido ao processo de subsidência que
ocorreu como consequência da contracção térmica (arrefecimento térmico).
Nesta fase, os processos tectónicos e sedimentológicos eram dominados por uma
oscilação crustal (aumento do nível do mar) de carácter regional, seguidos por um período
transgressivo (Figura 20).
Figura 20 – Esquema representativo da fase inicial (a) e final (b) do“Pós-rift” (Baptista C., 1991).
3.3 SUBSIDENCIA REGIONAL
O intervalo de tempo Campaniano/Mastricciano é caracterizado por um afastamento
acentuado das placas, acompanhado da subida do nível do mar, durante a qual a
transgressão marinha atingiu a sua máxima extensão quer em África quer na América do Sul
(WEC 1991).
No Paleogénico (Oligocénico médio) ocorreu uma importante regressão marinha
resultante do basculamento no sentido Oeste da bacia, induzido pela sobrecarga sedimentar
da plataforma, tendo como resultado a descida do nível da água do mar. Esta regressão teve
como consequência a deposição (Oligo-Miocénico) de uma espessa sequência clástica
regressiva, assentando discordantemente sobre a antiga plataforma.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
34
Este período é, ainda, marcado por vários hiatos estratigráficos representados quer
pela não deposição quer pela erosão dos depósitos sedimentares provocados pelas
pequenas variações do nível do mar (Oligocénico Superior, Miocénico e Pliocénico).
A tectónica salífera permaneceu activa durante todo o Cretácico Superior e o
Cenozóico, fenómeno este que em conjunto com a sobrecarga sedimentar deram origem ao
desenvolvimento de grandes fossas terciárias (Oligo-Miocénico), produzindo importantes
falhamentos normais, sintéticos, lístricos e antitécticos em meios carbonáticos. Assim sendo,
sobre a unidade carbonatada depositaram-se espessos estratos de sedimentos argilosos
típicos de águas profundas, margas e algumas areias turbidíticas (Figura 21).
Figura 21- Esquema representativo da fase de “Subsidência regional” (Baptista C., 1991).
3.4 ESTRATIGRAFIA DA BACIA DO KWANZA
As formações da Bacia do Kwanza foram depositadas discordantemente sobre o Soco
cristalino, em diferentes ambientes (Figura 22).
Elas compreendem sedimentos de idade pós Pré-câmbrico ao Quaternário na seguinte
sequência:
I - Formação Cuvo: Onde podemos distinguir:
A) Cuvo inferior ou vermelho: Formado por conglomerados, que apresentam
fragmentos de rochas gnaissícas e outras metamórficas do soco cristalino, bem como
arenitos (possivelmente de cor vermelho), de idade Neocomaniano a Barreniano, é de
ambiente fluvial ou lacustre.
B) Cuvo superior ou cinzento: Constituído por arenitos (grossos ou finos) com
intercalações de calcários conquiféros normalmente rico em ostracodos, de idade
Barreniano ou Ante Apciano, de ambiente lagunar com uma evolução para fácies
BONDO, H. e CARVALHO, I.
35
marinhos. De potencial enquanto rocha reservatório Play do pré-sal bem como rocha
reservatório;
II - Formação Sal Maciço: Constituída por dolomite, anidrite dolomítica, e anidrite ou
Halite. Esta sequência evaporítica é de idade Apciana e foi depositada num ambiente
lagunar ao marinho nerítico;
III - Formação Binga: Formada por calcários oolíticos e bioclastos, calcários
sublitográficos com dolomia microcristalina e anidrite; esta formação de idade
Apciano-Albiano foi depositada num ambiente lagunar à plataforma;
IV - Formação Twenza: Representada por dolomias muito anidritizadas por vezes com
intercalações de evaporítos. Esta formação depositada num ambiente lagunar foi
definida como sendo de idade Albiana;
V - Formação Catumbela: Composta por calcarenitos e calcários marinhos com algas
e corais, bioclásticos, pisoolitos, fragmentos arredondados e calcarenitos conquiféros.
De idade Albiana Superior e depositada num ambiente marinho pouco profundo
(plataforma);
VII - Formação Quissonde: Depositada num ambiente de plataforma externa
constituída por calcários margosos com fragmentos de conchas na base, lagemas e
fragmentos de conchas na parte média e lagemas no topo;
VIII - Formação Cabo Ledo: Caracteriza-se pela dominância das margas sobre os
calcários conquiféros. Depositada num ambiente marinho de grande profundidade
(Batial-Nerítico), e é de idade Cenomaniana;
IX - Formação Itombe: Constituída por margas calcárias com amonites e intercalações
arenosas. Esta formação foi depositada num ambiente de mar pouco profundo, é de
idade Turoniana;
X - Formação Ngolome: De idade Turoniano-Campaniana, é constituída por margas
pelágicas caracterizada pelo seu conteúdo em microfosseis (Globotrucana);
XI- Formação Teba: Margas com calcários lumachelicos e restos de Inoceramus com
níveis fosfatados. Depositou-se num ambiente de plataforma de idade Maastrichiana;
XII- Formação Cunga-Gratidão: Constituída por margas gresosas com lentilhas e
concreções calcárias e calcários silicificados. Depositadas num ambiente pelágico de
idade Eocénica;
BONDO, H. e CARVALHO, I.
36
XIII - Formação Quifangondo: Representada por argilas com intercalações siltosas,
calcários gresosos lumachélicas; e ricas em foraminíferos, de idade Oligocenico-
Mioceninica, depositada em ambientes de plataforma externa à batial;
XIV - Formação Cacuaco: Constituída por calcários com algas, equinoderme e
bivalves, com calcarenitos; depositados num ambiente litoral a circo litoral, de idade
Oligocénica;
XV - Formação Luanda: Composta por margas castanhas com foraminíferos, areias
litorais e grés com conchas. De idade Pliocénica e depositada num ambiente litoral;
XVI - Formação Areias Cinzentas: São sedimentos constituídos por areias
heterométricas com abundante matriz siltosa-arenosa no seio dos quais se encontram
imensos seixos sub - arredondados de dimensões de centímetros.
Este conjunto litológico, que apresenta uma posição estratigráfica e características
litológicas bem definidas e uma extensão areal significativa, foi designada por
Formação Areias Cinzentas. Pela presença de fragmentos de quartzo e de calhau
trabalhados pelo homem, tal formação poderá ser considerada como de idade
Pleistocénica (Putignano, et al, 2000).
XVII - Formação Quelo: Constituída por areias ferruginosas e grés de cor vermelha.
Depositou-se num ambiente continental, é de idade Plio-Quaternária.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
37
FIGURA- 22- Estratigrafia da bacia do Kwanza (GeoLuanda2000 Int. Conf., Guide Book Luanda- Benguela-Dombe Grande 2000).1) Rochas intrusivas, granito - 2) rochas efusivas, basalto - 3) rochas metamórficas - 4) conglomerados - 5) areias - 6) shales - 7) evaporitos - 8) gesso - 9) carbonatos - 10) carbonatos e dolomites silicificados 11) Calcilutitos 12) marls. LC Formação Cuvo Inferior - UC Formação Cuvo Superior - SL Formação Chela - MS Formação sal massiço - DGG Formação Dombe Grande - TZ Formação Tuenza - CT Formação Catumbela - QS Formação Quissonde - CL Formação Cabo Ledo - ITB Formação Itombe - NGL Formação N’ Golome TB Formação Teba - TS Tchipupa Shales - RD Formação Rio Dande - GT Formação Gratidão - CG Formação Cunga – QF Formação Quifangondo -CC Formação Cacuaco - LD Formação Luanda - AC Formação Areia Cinzentas- QL Formação Quelo.
1
BONDO, H. e CARVALHO, I.
38
3.5 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO
Segundo a carta geológica da bacia do Kwanza (1968 – 1972/Total Cap), (Figura 23), a área
de estudo caracteriza-se pelas seguintes formações da base ao topo:
Plio-Quaternária
Formação Quelo: Areias vermelhas ferruginosas e grés de cor vermelha.
Eoceno
Formação Cunga – Gratidão: Margas brancas e castanhas, com intercalação
de calcário rico em foraminíferos.
Turoniano-Campaniana
Formação N´golome: Margas cinzentas fossilíferas.
Turoniano
Formação Itombe: Margas, argilas, areias argilosas.
Albiano
Formação Mucanzo: Areias com grés avermelhados com intercalações
dolomíticas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
39
N
FIGURA 23- Carta geológica da bacia do Cuanza (1968 – 1972/Total Cap).
BONDO, H. e CARVALHO, I.
40
3.6 COLUNA LITOESTRATIGRÁFICA
Com base na coluna litoestratigráfica da bacia do Kwanza, (Figura 24) foi possível
delimitar os intervalos estudados, em função das diferentes formações presentes na referida
coluna, e as litologias identificadas na área de estudo, das quais algumas foram submetidas
á análise micropaleontológica permitindo posteriormente a determinação da seguinte
sequência estratigráfica:
Um pacote constituído por areias com grés avermelhados de idade Albiana;
Um pacote de areia argilosa de idade Tutoniano;
Um pacote constituído por margas e calcárias lumachelles à inoceramos; de idade
Maastrichiana;
Um pacote constituído por argilas, calcários e margas (plaquettes septarios) de idade
Eocénica;
Um pacote de areias vermelhas de idade Plio-Quaternária.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
41
Legenda
Figura 24 – Coluna litoestratigráficas da bacia do Kwanza (WEC1991).
Intervalos estudados
BONDO, H. e CARVALHO, I.
42
Tabela 2 - Localização geográfica dos afloramentos estudados
AFLORAMENTO
COORDENADAS
LATITUDE (S) LONGITUDE (E)
ALTITUDE (m)
Afloramento (AFT 1) 80 26´ 51,6´´ 130 23´59,1´´ 13
Afloramento (AFT 2) 80 27´ 16,4´´ 130 24´ 5,2´´ 09
Afloramento (AFT 3) 80 27´ 41,4´´ 130 25´ 0,3´´ 42
O estudo geológico realizado em algumas zonas do município do Dande teve como base,
o reconhecimento geológico da área de estudo, o levantamento de alguns afloramentos, bem
como a interpretação das distintas secções litológicas (logs), e posteriormente a elaboração
do esboço litológico da área.
O afloramento designado por AF1 (Figura 25) é notável a presença de sulcos devido a
erosão pluvial, e é constituído por margas amarelas e argilas siltosas de coloração escura.
O afloramento designado AF2 (Figura 26) é constituído por conglomerados e areias
vermelhas.
O afloramento designado AF3 (Figura 27) é constituído por areias conglomeráticas
intercaladas com margas brancas e areias vermelhas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
43
FIGURA 25- Afloramento (AF1) situado na zona de Cabacaça, evidenciando (a) Marga amarela e
(b) argilas siltosas de cor castanha escura.
NW SE
Sulco
s
a
b
Camadas inclinadas
BONDO, H. e CARVALHO, I.
FIGURA 26 – Afloramento (AF2) evidenciando os conglomerados e areias vermelhas.
FIGURA 27 – Afloramento (AF3) evidenciando as margas de coloração branca.
NW SE
NW SE
44
BONDO, H. e CARVALHO, I.
3.7 IDENTIFICAÇÃO DA MICROFAUNA
No presente estudo, para a identificação e classificação dos microfósseis, foram
utilizados os trabalhos sistemáticos propostos por Boltovskoy et al 1980, Martinez 1989,
Jenkins & Murray 1989, Koutsoukos & Klasz 2000.
De acordo com Tavares 2000, os microfósseis identificados nos furos de sondagem
prospectados na área de estudo, fazem parte do grupo dos foraminíferos, e segundo Vilela
2004, estes, são organismos pertencentes ao Filo Granuloreticulosa, pertencentes ao Reino
Protoctista, inseridos no Super-reino Eucaria.
Assim, as espécies foraminíferas identificadas nos furos de sondagem são:
1-Globoratalia fohsi;
2-Textularia ripleyensis;
3- Globigerina Sp;
4-Gyroidina Girardana;
5-Heterohelix;
6-Melosira granulata;
7-M. Mercida L.;
8-Pyrgoella Sphaera;
9-Styliolina.
É importante realçar que, os estudos dos foraminíferos contribuem na avaliação das
condições paleoambientais, pelo facto destes organismos apresentarem características
intrínsecas ecologicamente, o que confere ao grupo a posição de bioindicadores marinhos,
cujas espécies possuem hábito bentônicos ou plantônicos.
Os bentônicos vivem junto ao substrato marinho, ou permanecem enterrados
superficialmente podendo ser móveis ou fixos ao substrato.
Os plantônicos vivem flutuando na lâmina de água, com movimentação dada basicamente
por subidas e descidas diurnas na zona fótica dos oceanos, sendo dispersos pela acção de
correntes (Vilela 2004).
45
BONDO, H. e CARVALHO, I.
46
3.8 PALEOAMBIENTE
Tal como foi referenciado, os foraminíferos têm importância fundamental para estudos
do paleoambiente deposicional e respectivas paleobatimetrias, tornando possível utiliza-los
para análise de grandes variações oceanográficas, ocorridas durante o tempo geológico.
Para Beurlen & Regali 1987, determinadas associações de foraminíferos marcam
eventos paleoambientais e bioestratigráficos, como por exemplo sistema de circulação em
águas profundas.
Os ambientes marinhos têm seus limites mais ou menos posicionados na mesma
profundidade em que ocorrem as mais significativas mudanças fisiográficas do fundo
oceânico. Assim sendo para Antunes & Melo (2001), ambiente nerítico ou plataforma, varia
de 0 a 200m de profundidade; ambiente batial ou talude, varia de 200 a 4000m de
profundidade e ambiente abissal, que é caracterizado por profundidades variando de 4000 a
11000m.
De acordo ainda com o trabalho de Beurlen & Regali (1987), realizado na bacia Pará-
Maranhão (costa Sul-Americana) as diferentes associações de foraminíferos podem ser
utilizadas para definir e caracterizar a paleobatimetria durante os Períodos Cretáceo e
Terciário.
Tendo em conta que, os foraminíferos são de ambiente marinho, foi possível com base nos
trabalhos publicados por Koutsoukos & Klasz 2000, e também por Beurlen & Regali 1987,
definir as idades e os ambientes de algumas espécies identificadas neste trabalho.
A espécie Textularia ripleyensis (bentônico) e a Heterohelix (plantônico), foram
consideradas espécies mais abundantes, pelo facto de estarem presentes em quase todos
os furos de sondagem. Seguidamente, outras espécies como a Globorotalia fohsi, a
Globigerina Sp ambos (plantônicos), aparecem também consideravelmente nos furos de
sondagem.
Assim, a tabela 3, apresenta os ambientes das respectivas espécies, sobretudo o
hábito, que foi descrito segundo Seyve 1999, com corroboração dos trabalhos publicados de
Vilela 2004, Antunes & Melo 2001.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
47
Tabela 3 Prováveis ambientes, hábitos, e idades das espécies de foraminíferos
Espécie Idade Ambiente Hábito
Globoratalia fohsi Mioceno Batial Plantónico
Textularia ripleyensis Cretácico Superior Nerítico raso Bentónico
Globigerina Sp Mioceno Inferior Abissal Plantónico
Gyroidina Girardana Cretácico Superior Nerítico profundo Bentónico
Heterohelix Cretácico Superior Abissal Plantónico
Melosira granulata Plioceno superior ? Bentónico
M. Mercida L. Cretácico Nerítico Bentónico
Pyrgoella Sphaera Plioceno ? Bentónico
Styliolina ? Abissal Bentónico
A partir da análise integrada dos dados bioestratigráficos, pode-se afirmar que, as
associações de foraminíferos, sua ocorrência e distribuição, respondem eficientemente ao
gradiente de profundidade. Tal resposta permitiu distinguir ambiente marinho, do Batial ao
Abissal.
Uma vez que, essas espécies estão distribuídas desde o Cretáceo ao Cenozóico,
sugere-se uma paleobatimetria da área, variando do Batial ao Abissal.
Assim, na figura abaixo está representada segundo Antunes & Melo, um modelo
diagramático generalizado dos ambientes, ilustrando o habitat, e frequência relativa de
foraminíferos plantônicos e bentônicos.
Tal modelo vem corroborar a partir da análise integrada do mesmo, e as espécies de
foraminíferos identificadas nos diferentes furos de sondagem o paleoambiente da área de
estudo.
Assim, com base no modelo, os foraminíferos plantônicos são relativamente raros e
comuns no ambiente nerítico, sendo muito abundantes no ambiente batial e raros no
ambiente abissal. Já os foraminíferos bentônicos têm uma extensa distribuição em relação
aos plantônicos, ou seja, são comuns em ambiente transicional (lagunar, praia, delta,
BONDO, H. e CARVALHO, I.
48
estuário, e planície de maré), abundantes em ambiente nerítico, e comuns - raros em
ambiente batial.
FIGURA 28 – Distribuição paleoambiental dos foraminíferos plantônicos e bentônicos
BONDO, H. e CARVALHO, I.
49
3.9 MAPA DE AMOSTRAGEM
Na figura que se segue, está representada de maneira geral a área de estudo, bem
como os pontos correspondentes aos locais onde foram realizados os furos de sondagem e
os respectivos ensaios (SPT). É importante realçar que, os autores tiveram apenas acesso
as coordenadas dos furos de sondagem Sp18, Sp19, e Sp20, sem a respectiva informação
geotécnica, o que possibilitou apenas o lançamento das coordenadas no mapa referente a
área de estudo.
FIGURA 29 – Mapa de Amostragem
BONDO, H. e CARVALHO, I.
50
3.10 DESCRIÇÃO DAS SECÇÕES LITOLÓGICAS (LOGS)
A recolha de amostras de calhas (remexidas) durante a realização dos furos
de sondagem, bem como os testemunhos recolhidos com o amostrador Terzaghi
permitiram observar a variação litológica em profundidade, em que a cor dos
diferentes depósitos foi descrita com base Munsell (1954).
A secção litológica (log) designada sondagem SP10 (Figura 30) tem um
profundidade máxima de 10.5m, e é constituído da base ao topo por areia fina de
coloração amarelada, entre os 3-4 metros apresenta níveis de dolomites e entre os
8.6-9m, não foi possível recuperar amostras.
Sondagem : SP10 Local: Calenguela Prof. Final(m) -10.05
Observações:
Areia fina 4/3/10YR
Areia fina com níveis de dolomites, fragmentos de conchas 4/3/10YR
4/3/10YR
Amostra não recuperada
Areia fina 4/3/10YR
FIGURA 30 – Sondagem SP10
BONDO, H. e CARVALHO, I.
51
A secção litológica (log) designada sondagem SP1 (Figura 31) tem uma
profundidade máxima de 10.30m, e é constituído por margas e argilas de coloração
amarela clara, em que entre os 4.45-9m não foi possível não recuperar amostras.
Sondagem: SP1 Local: Cabacaça Prof. Final(m) -10.30
Observação:
Margas 8/2/2.5Y com presença de fóssil (textulária ripleyensis)
Argilas 8/2/2.5Y (azoica)
Margas 8/2/2.5Y com presença de fóssil (textulária ripleyensis, giroidina girardana)
Amostras não recuperadas
Margas 8/2/2.5Y com presença de fóssil
(textulária ripleyensis)
FIGURA 31- Sondagem SP1
BONDO, H. e CARVALHO, I.
52
A secção litológica (log) designada sondagem rotativa SP2 (Figura 32) tem
uma profundidade máxima de 4m, e é constituído por margas amarelas
esbranquiçadas entre 0-3m, e entre 3-4m a coloração é acinzentada com níveis
ferruginosos e micas, reage activamente com HCI.
Sondagem:SP2 Rotativa Local:Cabacaça Prof. Final(m) -4 Observação:
Marga 4/6/5YR, compacta com conglomerados.
Margas 4/6/5YR, com níveis ferruginoso e micas, com
presença de fóssil (heterohelix, textulária ripleyensis)
Margas 8/1/5Y com níveis ferruginosos e micas, com presença de
fóssil (textulária ripleyensis)
FIGURA 32 – Sondagem SP2
A secção litológica (log) designada sondagem SP4 (Figura 33) tem uma
profundidade máxima de 17.13m, e é constituído por areias de granulométria média
à grosseira, de coloração amarela à castanho claro, siltes de cor amarelo claro e
BONDO, H. e CARVALHO, I.
53
argilas de coloração amarela clara, em que, não foi possível recuperar amostras aos
3, 6 e 15m de profundidade.
Sondagem : SP4 Local: Cabacaça Prof. Final(m) -17.13
Observação:
Areia média, com fragmentos de conchas 4/6/5YR
Amostra não recuperada
Areia grosseira com fragmentos de conhas 7/3/10YR
Amostra não recuperada
Silte 8/4/2.5Y, com presença de fóssil (textulária
ripleyensis)
Argila 8/3/5Y, com presença de fóssil (gyroidina girardana, textulária ripleyensis)
Amostra não recuperada
Argila 8/3/5Y, com presença de fóssil (heterohelix)
FIGURA 33 - Sondagem SP4
BONDO, H. e CARVALHO, I.
54
A secção litológica (log) designada sondagem SP6 (Figura 34) tem uma
profundidade máxima de 12.30m, e é constituído por areias médias à grosseiras, de
coloração castanha a verde olive, siltes de cor verde acastanhado à amarelo claro.
Sondagem : SP6 Local: Catumbo Prof. Final(m) -12.30
Observação:
Areia média, com restos de moluscos
5/4/10YR
Areia grosseira 5/2/5Y
Silte 6/4/5Y
Silte 7/3/5Y, com presença de fóssil (textulária ripleyensis)
FIGURA 34 – Sondagem SP6
A secção litológica (log) designada sondagem SP9 (Figura 34) tem uma
profundidade máxima de 37.30m, e é constituído por uma alternância na
granulometria das areias, que vão desde finas, médias e grosseiras. A partir dos
9.45m é constituído por argilas de coloração cinzento esverdeado carregado.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
55
Sondagem : SP9 Local: Pambala Prof. Final(m) -37.30 Observação:
Areia fina, com restos de conchas 7/4/10YR
Areia média 4/4/10YR
Areia fina 7/4/10YR
Areia grosseira 5/4/10YR
Areia fina 5/4/2.5Y
Amostra não recuperada
Argila 3/2/5Y
Com presença de fóssil (gyroidina girardana, heterohelix,
textulária ripleyensis)
FIGURA 34 – Sondagem SP9
A secção litológica (log) designada sondagem SP11 (Figura 35) tem uma
profundidade máxima de 36.45m, e é constituído por areias finas, médias e grosseiras
BONDO, H. e CARVALHO, I.
56
de coloração castanha à cinzenta, já nas argilas a coloração varia de castanhas à
cinzentas.
Sondagem : SP11 Local: Calenguela Prof. Final(m) -36.45
Observação:
Areia fina 3/2/7.5YR
Areia média 4/4/7.5YR 8/4/10YR 5/4/10YR 5/4/2.5Y
Areia grosseira 5/3/5Y
Areia fina 5/2/Y
Argila 8/4/10YR 4/2/5Y
3/2/5Y, azóica
Areia média 4/2/5Y
Argila 3/2/5Y, azóica
Areia fina 4/2/5Y
Argila 4/2/5Y, azóica
Amostra não recuperada
Argila 4/2/5Y, azóica
Areia fina 5/2/Y
Argila 4/4/5YR, azóica
Areia fina 8/4/10YR
As areias possuem todas fragmentos de conchas
FIGURA 35 – Sondagem SP11
Textura
BONDO, H. e CARVALHO, I.
57
A secção litológica (log) designada sondagem SP17 (Figura 36) tem uma
profundidade máxima de 20.28m, e é constituído por margas castanhas escuras entre
os 0-1.50m, e argilas de coloração cinzenta escura, com laminações de gesso
Sondagem:SP17 Local: Pambala Prof. Final(m) -20.28
Observação:
Margas 8/2/2.5Y, reage fracamente com HCl, com presença de
fóssil (heterohelix)
Argila 3/2/5Y com laminações de gesso secundário.
Argila 3/2/5Y, azóica
Argila 3/2/5Y com laminações de gesso secundário
Argila 3/2/5Y, azóica
Argila 3/2/5Y laminações de gesso secundário.
Argila 3/2/5Y, azóica
Argila 3/2/5Y com laminações de gesso secundário.
Argila 3/2/5Y, azóica
FIGURA 36 – Sondagem SP17
BONDO, H. e CARVALHO, I.
58
A secção litológica (log) designada sondagem SP3 (Figura 37) tem uma
profundidade máxima de 16.45m, e é constituído por margas de coloração amarela
esbranquiçadas, e argilas de coloração cinzenta clara, em que entre 0-4.45m não foi
possível recuperar amostras.
Sondagem : SP3 Local: Cabacaça Prof. Final(m) -16.45 Observação:
Amostras não recuperada
Margas 8/1/5Y, reage facilmente com HCl, com presença de fósseis (textulária ripleyensis, heterohelix)
Amostra não recuperada
Marga 8/1/5Y, reage facilmente com HCl
Argila 8/2/5Y, azóica
FIGURA 37 – Sondagem SP3
BONDO, H. e CARVALHO, I.
59
A secção litológica (log) designada sondagem SP16 (Figura 38) tem uma
profundidade máxima de 10.45m, e é constituído por margas de coloração amarela
esbranquiçadas, e siltes de coloração cinzenta clara.
Sondagem : SP16 Local: Pambala Prof. Final(m) -10.45
Observação:
Marga 8/4/2.5Y, reage fortemente com o HCl, azóica
Silte 4/2/5Y, azóica
FIGURA 38 Sondagem SP16
A secção litológica (log) designada sondagem SP15 (Figura 39) tem uma
profundidade máxima de 11.45m, e é constituído por um pacote de silte de coloração
amarelada, e argilas de coloração castanha amareladas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
60
Sondagem : SP15 Local: Pambala Prof. Final(m) -11.45
Observação:
Argilas 5/Y/10YR, azóica
Siltes 8/2/2.5Y, azóica
Argilas 5/Y/10YR, com presença de fóssil (globorotália)
A secção litológica (log) designada sondagem SP8 (Figura 40) tem uma
profundidade máxima de 20.40m, e é constituído por um pacote único de argilas de
coloração variando de castanha escura amarelada à amarela clara.
FIGURA 39 – Sondagem SP15
BONDO, H. e CARVALHO, I.
61
Sondagem : SP8 Local: Pambala Prof. Final(m) -20.40
Observação:
Argila 3/4/10YR, com presença de fósseis (heterohelix, M. Mercida)
8/4/2.5Y, com presença de fósseis (heterohelix)
8/4/2.5Y
FIGURA 40 – Sondagem SP8
A secção litológica (log) designada sondagem SP12 (Figura 41) tem uma
profundidade máxima de 9.06m, e é constituído por areia fina de coloração castanha
BONDO, H. e CARVALHO, I.
62
amarela, em que entre os 0-1.45m registou-se microconglomerados, entre os 2.45-
4m verificou-se níveis de siltes, e entre os 7-8m não foi possível recuperar amostras.
Sondagem : SP12 Local: Pambala Prof. Final(m) -9.06
Observação:
Areia fina com seixos ligeiramente achatados
Areia fina com níveis de silte
Amostra não recuperada
Areia fina
FIGURA 41 Sondagem SP12
A secção litológica (log) designada sondagem SP5 (Figura 42) tem uma
profundidade máxima de 12m, e é constituído por argilas de coloração variando de
amarela clara à cinzenta clara, em que determinadas profundidades não foi possível
recuperar amostras.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
63
Sondagem : SP5 Local: Catumbo Prof. Final(m) -12
Observação:
Argila 7/3/5Y com presença de fóssil (gyroidina girardana) 8/1/5Y 8/2/5Y
6/3/5Y com presença de fóssil (gyroidina girardana)
Amostra não recuperada
Argila 8/2/5Y, com presença de fóssil (heterohelix) 7/6/5Y
Amostra não recuperada
Argila 7/6/5Y, com presença de fóssil (heterohelix, textulá ripleyensis)
FIGURA 42 – Sondagem SP5
BONDO, H. e CARVALHO, I.
64
3.11 UNIDADES LITO - BIOESTRATIGRÁFICAS
Dá análise lito-bioestratigráfica, foram identificadas quatro (4) unidades caracterizadas
e delimitadas por pacotes de rocha e conteúdo em fóssil, designadas por A, B, C e D.
Assim, a unidade A, é constituída por marga, argila, marga, com presença de fósseis
(textulária ripleyensis) de idade cretácica.
A unidade B, está constituída por um pacote de areia de granulometria variando de média à
grosseira, com fragmentos de conchas.
A unidade C, está constituída por argila, silte, margas, com presença de fósseis (heterohelix,
textulária ripleyensis, giroidina girardana, M. Mercida) de idade cretácica.
Finalmente a unidade D, está constituída por argila azóica.
FIGURA 43 - Corte sintético litológico
BONDO, H. e CARVALHO, I.
65
3.12 CORRELAÇÂO LITO - BIOESTRATIGRÁFICA
A correlação estratigráfica busca a determinação lateral, ou a equivalência espacial
entre diversas unidades litológicas em subsuperfície, a partir da informação oriunda de furos
de sondagens que atravessam estas unidades.
Da interpretação deste conjunto de informações foi possível identificar a
correspondência entre as amostras colhidas e as fácies litoestratigráficas referidas na
bibliografia sobre a Bacia do Kwanza em geral, e sobre a zona de estudo, em particular, em
função dos resultados da análise paleontológica.
Assim, correlacionou-se lito e bioestratigraficamente (Figura 44) alguns furos de sondagem
relativamente a profundidade, conteúdo fossilífero, e composição litológica nomeadamente
SP1, SP3, SP4, SP4, SP8 e SP17.
Tabela 4 Amostragem dos poços estudados
Sondagem Local Prof. (m) Microfósseis Idade Hábito
SP1 Cabacaça 10,30
Textulária ripleyensis, Cretácico Bentônico
SP3 Cabacaça 7,40 Textulária ripleyensis Cretácico Bentônico
SP4 Cabacaça 17,13 Giroidina girardana,
Textulária ripleyensis Cretácico Bentônico
SP8 Pambala 9,40 Heterohelix Cretácico Plantônico
SP17 Pambala 1,45 Heterohelix Cretácico Plantônico
SP6 Catumbo 10,00 Textulária Cretácico Bentônico
BONDO, H. e CARVALHO, I.
SP1 SP17 SP4 SP3 SP8
A
B
C
D
FIGURA 44 – Correlação lito - bioestratigráfica
Legenda
- Linha de correlação
66
BONDO, H. e CARVALHO, I.
67
3.13 DESCRIÇÂO DO ESBOÇO LITOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO
A necessidade de ter um conhecimento geológico da área de estudo, conduziu
a elaboração do esboço litológico da referida área (Figura 45), com base, no árduo
trabalho desenvolvido no campo, na interpretação das secções estratigráficas, bem
como, na análise estereoscópica, que consistiram na observação, identificação e
individualização litológica respectivamente.
Assim, foram feitas vinte (20) sondagens, nas quais foram estudadas apenas 14
sondagens, tal com já foi referenciado anteriormente. As referidas sondagens
atravessaram unidades litológicas variadas, com predomínio de argilas, margas, areias
e siltes. Foram identificadas seis (6) unidades litológicas.
Uma unidade constituída por areia conglomerática limpa, apresentando seixos
de dimensões variáveis (1- 4,5 cm), ou seja mal seleccionados;
Uma unidade constituída de areias brancas quartzosas de praia, variando de
grosseiras à médias e finas, apresentando moluscos, e seus fragmentos
esqueletais;
Uma unidade constituída por argila margosa;
Uma unidade constituída por margas;
Uma unidade constituída por argila, com presença de minerais micáceos em
algumas zonas;
Uma unidade constituída por areia vermelha, de granulometria variando de fina
a muito fina.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
68
Figura 45 – Esboço litológico da área de estudo
Areia conglomerática
Areia de praia
Areia margosa
Marga
Argilas
Areia ferruginosa
BONDO, H. e CARVALHO, I.
70
4.1 - ENSAIOS DE CAMPO (ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT)
O ensaio de penetração dinâmica (Standard Penetration Test – SPT) é utilizado
desde o início do século XX. A realização deste ensaio encontra-se descrito em diversos
manuais de Geotecnia e de Geologia de Engenharia, como por exemplo nos trabalhos
de Terzaghi & Peck (1967); Attewell & Farmer (1976), que são referidos em vários
trabalhos como por exemplo o de Sanglerat (1972) e Cavalcanti (2002).
O SPT é utilizado na prospecção dos solos, ao longo de sondagens para avaliação
da resistência das formações atravessadas, através do valor de N e permite a colecta
de amostras remexidas.
O SPT tem sido preferencialmente utilizado em todo o mundo como instrumento
indispensável em investigações preliminares para projectos de fundações, dada a
simplicidade, robustez e rápido tempo de resposta e é razoável a procura de meios que
permitem avaliar com maior confiabilidade o seu desempenho, aferindo o solo através
de um procedimento padronizado.
4.2 - PRINCÍPIOS E REALIZAÇÃO DO ENSAIO
O ensaio SPT é realizado em furos de sondagem e consiste na cravação de um
amostrador normalizado (Figura 46) com comprimento mínimo de 45 cm, à custa da
queda de um peso de 63,5 kg de uma altura de 75 cm. O avanço da perfuração de cada
metro de profundidade iniciais, deve ser feito por meio de trepano de lavagem.
A figura 45 mostra as profundidades a que é cravado o amostrador nas duas fases
do ensaio. A cravação do amostrador e avanço do furo de sondagem por meio de
trépano de lavagem; bem como os detalhes e dimensões dos principais elementos que
compõem o equipamento necessário para a execução do ensaio SPT, são mostrados
também na Figura 48.
FIGURA 46 - Amostrador padrão Terzaghi
BONDO, H. e CARVALHO, I.
71
O ensaio, na prática, é realizado em duas fases. Na primeira fase, é registado o
número de pancadas correspondentes a 15 cm de penetração. Os resultados obtidos
são desprezados, porque se considera que a parte mais superficial se encontra
perturbada, devido à abertura do furo. Na segunda fase do ensaio, regista-se o número
de pancadas N (ou NSPT), correspondentes a penetração de 30 cm, que indica a
resistência do solo in situ. Mesmo que não se tenha atingido a penetração total do
amostrador, o ensaio termina, em geral, ao serem atingidas 50 ou 60 pancadas numa
das fases. O ensaio foi parcialmente normalizado através da norma ASTM D1586-84 e
actualmente através da norma ISSMFE-T16, 1989. O valor apresentado para cada sub
fase da 2ª fase, é de 50 pancadas, anotando-se o comprimento da penetração obtida
em cada fase (Lopes, 2000).
FIGURA 47 – Diferentes fases do ensaio (45 cm)
Os intervalos de profundidade entre ensaios são definidos no caderno de encargos,
mas é habitual realizarem-se com intervalos de 1,5 metros, ou quando e verifica
mudança na litologia. A sondagem e os ensaios terminam ao serem atingidos 2 ou 3
ensaios consecutivos com o valor de N estabelecido previamente. Entre os geotécnicos
é comum dizer-se que, naquelas condições, foi atingida a “nega” do ensaio. Os ensaios
SPT são utilizados na prospecção geotécnica dos terrenos de Luanda, pelo menos
desde 1957, como consta no artigo publicado por Riccardi (1957), referindo-se à
realização destes, na prospecção dos solos da marginal, na Avenida 4 de Fevereiro. Na
prática, verifica-se que, em Angola, o ensaio termina ao fim de 60 pancadas, em geral,
mas verifica-se que alguns ensaios terminam ao fim de 50 pancadas, e em algumas
empresas adoptaram as 100 pancadas.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
72
FIGURA 48- a) Ensaio SPT durante a cravação do amostrador padrão.
b) Avanço da perfuração por meio de trépano de lavagem. Fonte: Ruver. (2005)
O amostrador permite por outro lado como se pode observar na figura 49, recolher
uma amostra remexida do solo que possibilita a sua identificação. Normalmente esta
amostra é introduzida num recipiente etiquetado com outros dados da obra como o
número da sondagem, profundidade, nome da amostra, local de amostragem, o número
de pancadas obtido, por exemplo.
a
b
FIGURA 49 a) Testemunho de sondagem SPT; b) Etiqueta com os dados do testemunho
BONDO, H. e CARVALHO, I.
73
4.3 – APLICABILIDADE
Em solos com cascalhos costuma-se substituir sapata por uma ponta cónica de 60º,
maciça (cega). Nestes casos resulta a insistência nos golpes, pois poderia tratar-se de
um cascalho grosso.
No ensaio SPT é por natureza simples e pode ser instalado com facilidade em qualquer
sondagem de reconhecimento. Pode executar-se em qualquer tipo de solo, inclusive em
rochas brandas ou meteorizadas.
Os resultados do ensaio, difundidos amplamente em todo o mundo, são
empiricamente correlacionados com as propriedades resistentes “in situ” do terreno.
Existe uma abundante bibliografia a respeito do ensaio. A grande maioria dos dados e
correlações correspondem a terrenos arenosos. A presença de cascalhos complica a
interpretação, quando não impede a sua realização.
Em resumo, o ensaio é apropriado em terrenos em que predominam a fracção
arenosa, com reserva tanto maior quanto maior é a proporção da fracção silte-argila ou
de fracção cascalhos.
4.4 – FACTORES QUE AFECTAM O RESULTADO
Os principais factores intrínsecos do sistema que afectam o valor Nspt são:
- Preparação e a qualidade da sondagem (limpeza do furo).
- Factor humano.
- Comprimento das varas.
- Diâmetro do furo.
- Dispositivo de golpe.
- Variação da altura de queda do pilão.
4.4.1 - Preparação da Sondagem
O primeiro ponto resulta evidentemente de uma cuidadosa preparação da
sondagem fundamentalmente para garantir a representatividade do ensaio.
Em primeiro lugar, o furo de sondagem deve ser realizado de forma que as suas paredes
se mantenham estáveis para o qual, em algumas situações, é necessário utilizar lamas
bentoníticas. A tubagem de revestimento deve manter-se sempre por cima do nível do
início do ensaio. O fundo da broca deve estar limpo de desprendimentos de zonas
superiores.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
74
Ao trabalhar abaixo do nível freático, deve manter-se uma coluna de água dentro
da tubagem de revestimento a fim de evitar arrastamento de material para dentro da
tubagem.
4.4.2 - Comprimento das Varas e Diâmetro do Furo
O comprimento das varas incide em um eixo de que o peso do elemento percutido
aumenta com a profundidade ao adicionar uma vara suplementar.
A relação Massa Percutida diminui com a profundidade do ensaio, em que num solo
homogéneo deverá traduzir-se em um aumento do parâmetro Nspt. A correlação de
massas é, não obstante, uma fonte de um erro não importante (Cassam, 1982).
Este efeito pode ser evitado se for utilizado uma corredeira de golpe disposta
imediatamente acima do amostrador (no fundo do broca), dispositivo raramente utilizado
na prática quotidiana.
Uto e Fujuki, (1981) recomendam a seguinte correcção dos valores Nspt quando se
ensaia a mais de 20 m de profundidade. N= N´- (1,06-0,003L), onde N´ é o valor obtido
de Nspt e L é o comprimento das varas em metros.
Skempton (1986) propõe factores de correcção do valor Nspt medido de acordo a
profundidade do ensaio e o diâmetro da sondagem.
Tabela 5 - Correcção de N pelo comprimento das varas
Comprimento das Varas Factor de correcção
˃10 m 1,00
6 a 10 m 0,95
4 a 6 m 0,85
3 a 4 m 0,75
Estas correcções referem-se principalmente a solos granulares. Em solos coesivos
a influência do diâmetro da sondagem é desprezível.
Tabela 6 - Correcção de N pelo diâmetro da sondagem
Diâmetro da sondagem Factor de correcção
65 – 115 mm 1,00
150 mm 1,05
200 mm 1,15
BONDO, H. e CARVALHO, I.
75
4.4.3 - Dispositivo de Golpe
Existem diferentes tipos de martelos como se pode observar na figura 50. Contudo
para a realização da parte experimental incluida no presente trabalho foi utilizado o
martelo nº 1 da referida figura.
FIGURA 50 - Vários tipos de martelos (Terzaghi e Peck 1948)
O dispositivo de golpe afecta a forma rotunda do rendimento da energia liberada pelo
golpe.
FIGURA 51 - Dispositivo manual de golpe com corda e roldana (Cestari,1990).
BONDO, H. e CARVALHO, I.
76
4.4.4 - Normalização do Sistema de Pancada
É possível ter-se em conta os factores de variabilidade dependentes dos distintos
sistemas de pancada disponíveis no mercado:
1º Seguindo o procedimento publicados no documento produzido em 1988 pela
International Society of soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE, 1988) que
define exactamente as características geométricas de todo o sistema (peso, batente,
vara e amostrador). Também existem referências nas Especificações e Normas
modernas. Com este dispositivo obtém-se um valor médio do rendimento ERi próximo
ou ligeiramente superior a 60 % (Cesttari, 1990);
2º Medindo o rendimento do sistema ERim, determina-se o valor de N referido a um
rendimento de referência de 60 %, ou seja:
NERN im 60/%60
[4.1]
4.5 - CORRECÇÕES DE NSPT
Existem outros factores, independentes do próprio sistema, que influenciam no valor
de Nspt. Este importante tema trata-se dos sub - epígrafes seguintes:
4.5.1 - Correcção devido ao nível freático
Em areias grosseiras ou com cascalhos, a saturação do terreno não afecta os
resultados; em areias finas e siltes abaixo do nível freático, Terzaghi e Peck
recomendam corrigir o valor obtido, se N ˃ 15, pela relação:
2/1515 NN [4.2]
que traduz a perda da resistência ao corte sob o efeito das do aumento das pressões
intersticiais que se geram no momento do golpe.
4.5.2 - Normalização Devido a Pressão de Confinamento
O valor de N´ é influenciado pelas sobrecargas devidas ao peso das terras (Gibbs e
Holtz, 1957) que podem ser normalizadas referindo-se a um valor unitário da pressão
vertical efectiva ’v0 = 1 kp/cm2 a fim de comparar ensaios realizados a diferentes
profundidades:
NCN N
1 [4.3]
BONDO, H. e CARVALHO, I.
77
Onde CN é o coeficiente de correcção de Cn, basicamente similares entre si. Liao e
Whitman (1985) resumem os dados publicados e analisam cada um deles.
Os autores diferenciam em dois grupos: factores consistentes e factores
inconsistentes, recomendando a utilização dos primeiros, cada vez que propõem uma
expressão mais simples de CN.
voCn
N /1 [4.4]
onde n = 0,5.
Jamiolkowski et al. (1985) propuseram um valor de n = 0,56.
Tabela 7 – Comparação dos distintos factores de correlação CN (Liao & Whitman,1985)
FIGURA 52 – Comparação dos distintos factores de correlação CN (Liao & Whitman,1985)
BONDO, H. e CARVALHO, I.
78
a) Factor de correcção incoerente b) Factor de correcção coerente
Skempton (1986), por sua vez propõe diversas expressões de CN segundo o tamanho
das partículas:
Tabela 8 - Valores de CN para distintos tipos de solos (Skempton, 1986)
2,0/1,0 + 𝜹´v0 Areias finas e médias, soltas
3,0/ 2,0 + 𝜹´v0 Areias grosseiras, densas
1,7/2,7 + 𝜹´ v0 Areias finas sobreconsolidadas
Desta forma tem-se em conta a normalização com respeito a pressão vertical efectiva
e o rendimento do sistema tratando em epígrafe anterior, o valor normalizado se pode
expressar como:
N160 = CN ERim/60. N ≈ ERim N / 60 √𝛿´v0 [4.5]
4.6 - PARÂMETROS GEOTÉCNICOS: TERRENOS GRANULARES
Existem numerosas correlações empíricas com diversos parâmetros geotécnicos.
Deve-se entender claramente que estas relações são aproximativas e seu uso é mais
adequado quanto maior for a experiência de quem as utiliza.
4.6.1 - Densidade Relativa
Terzaghi e Peck (1948) publicaram a primeira correlação entre Nspt e a Densidade
Relativa (DR%), válida para as areias quartzosas (Figura 53).
Define-se DR% como:
100minmax
0max%
ee
eeDR [4.6]
bem como;
minmax
minmax
ap
apDR [4.7]
Onde e, representa os índices de vazios e ap são as densidades aparentes.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
79
FIGURA 53 - Relação entre N e DR% Terzaghi e Peck, 1948
4.6.2 DR e a Classificação de Terzagui e Peck
Com base aos valores de DR, Terzaghi e Peck estabeleceram o que é um clássico
sistema de classificação das areias. Este sistema modificado por Skempton em 1986
para ter em conta as normalizações do valor de N (N160) é apresentado na tabela abaixo.
Tabela 9 - Classificação de Terzaghi e Peck (1948) modificada por Skempton
N160 DR% Compacidade
0 – 3 0 – 15 Muito solta
3 -8 15 – 35 Solta
8 -25 35 – 65 Medianamente densa
25 – 42 65 – 85 Densa
42 – 58 85 – 100 Muito densa
BONDO, H. e CARVALHO, I.
80
4.6.3 DR e Pressão de Confinamento
Posteriormente aos trabalhos de Terzagui e Peck, Gibbs e Holtz (1957), demonstraram
que o valor de N não depende só da DR, mas também da pressão de confinamento. Na
figura abaixo é apresentada uma construção gráfica de Coffman (1960), em que se
mostra o ábaco de Gibbs e Holtz comparado com o trabalho de Terzagui e Peck.
FIGURA 54 - Ábaco de Gibbs e Holtz (1957) comparado com o Terzaghi e Peck. Elaboração
de Coffman (1960) Apud Devincenzi e Norberto (1995)
Para aplicação deste ábaco deve ter-se presente a compressibilidade de uma areia.
Um aumento de mica ou carbonato, por exemplo, diz-se que uma areia é mais
compressiva. Portanto ao aplicar-se o ábaco de Gibbs e Holtz nestes casos, deve ter-
se em conta (Cestari, 1990):
1. Para valores de DR<70% dos valores obtidos do ábaco resultam superiores ao
real;
2. Para os valores abaixo da tensão efectiva vertical (<5 KPa), a DR% que se
obtêm resulta demasiado alto e;
3. No resultado apropriado para golpes N<10, Meyerhof (1957), ajustou o ábaco de
Gibbs e Holtz mediante a expressão:
BONDO, H. e CARVALHO, I.
81
16'22 0
v
NDR
[4.8]
Outro trabalho muito conhecido sobre este tema é de Bazaraa (1967), cuja expressão
é (em Giuliani e Nicoll, 1982) é:
0'
2236,0100 vba
NDR
[4.9]
Sendo,
vo a b
<15 t/m2 1,00 0,20
>15 t/m2 3,25 0,05
Giuliani e Nicoll (1982) efectuaram uma minuciosa análise estatística dos métodos
de Gibbs e Holtz e os de Bazaraa, onde a tensão efectiva vertical está expressa em
t/m2.
Skempton (1986), resumindo a informação disponível até aquele momento comprova
que as correlações originais de Terzagui e Peck são perfeitamente válidas se, forem
utilizados os valores normalizados N60. Segundo este autor, esta relação pode
expressar-se como:
voba
DR
N
2
60 [4.10]
Onde a tensão efectiva vertical está expressada em Kp/cm2, esta expressão é
análoga as de Meyerhof e Bazaraa. Os parâmetros “a” e “b”, podem ser considerados
constantes em torno de (Cestari, 1990):
2/5,05,235,0%85 cmkpvoeDR [4.11]
Em definitivo, pode ser dito que uma areia pode ser caracterizada por intermédio dos
parâmetros N160 e N160/DR2.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
82
4.6.4 DR Considerações finais
Existem vários trabalhos sobre quantificação de DR%. Muitos deles tentam explicar
a desvio dos diferentes métodos; erros de até 20% foram indicados por Távenas et al
(1973). As maiores divergências se observam para valores elevados de DR. Macurson
(1978).
A técnica de ensaio, assim como granulometria, composição e angulosidade das
partículas são factores que jogam um papel importante.
4.6.5 - Ângulo de Atrito Interno
Os dados que se obtêm dos ensaios SPT permitem estimar o ângulo de atrito interno
dos materiais granulares, deduzido, de forma indirecta, a partir dos valores estimados
de DR, ou, directamente, a partir dos valores Nspt (tendência actual). Na figura 55
apresentam-se os ábacos propostos por Meyerhof (1956) e Peck et al (1974).
FIGURA 55 - Estimação de Meyerhof (1960) e Peck et al. (1974). Tornaghi, 1981
As expressões propostas por Meyerhof (1956) são as seguintes:
𝜙 = 25 + 0,15 DR% (> 5% Areia fina e silte) [4.12]
𝜙 = 30 + 0,15 DR% (< 5% Areia fina e silte). [4.13]
Existem numerosas propostas para estimar 𝜙 de entre as quais faz-se aqui referência
a de Muromachi (1974):
BONDO, H. e CARVALHO, I.
83
N 5,330
[4.14]
Mediante métodos estatísticos Giuliani e Nicoll (1982) propuseram:
866,0361,0575,0)( DRTg [4.15]
A relação anterior não é válida para areias finas siltosas saturadas com baixos valores
de N. Na figura 56 apresenta-se a correlação de De Mello (1971).
Para valores baixos de ),10( KPavo
resulta sobrevalorizado; também para
valores de 𝜙 > 380 (Cestari, 1990).
FIGURA 56 - Estimação de 𝜙 em função de Nspt e tensão
efectiva vertical (De Mello, 1971)
Em depósitos arenosos finos com silte tem-se demonstrado que os valores de DR e 𝜙
estimados a partir do valor de N, resultam claramente subestimados.
4.6.6 – Deformabilidade
Em terrenos granulares, a determinação dos parâmetros de deformação (assim como
os parâmetros de resistência) representa um problema complexo em que intervêm
BONDO, H. e CARVALHO, I.
84
numerosas variáveis, tais como a granulometria, composição mineralógica, estrutura,
cimentação, historia tencional do depósito.
4.7 - PARÂMETROS GEOTÉCNICOS: SOLOS COESIVOS
Nos terrenos coesivos, as correlações baseadas nos resultados dos ensaios SPT só
podem considerar-se orientativas. Na figura 57 é apresentada a relação entre Nspt e a
resistência à compressão simples.
A dispersão das correlações em solos coesivos é muito maior que nos terrenos
granulares. As pressões intersticiais que se geram no momento dos golpes e o atrito
residual afectam substancialmente os resultados.
Tabela 10 - Propriedades de solos argilosos (Hunt,1984 in IGME, modificado por Bondo e
Carvalho)
A estimativa dos parâmetros de deformabilidade em solo argiloso com base no Nspt
só é fiável com base experiência local e em depósitos geotecnicamente bem
caracterizados.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
85
Figura 57 - Valores da resistência a compressão simples a partir de Nspt para solos coesivos
de distintas plasticidades NAVFCA, 1971 in IGME, 1987. Modificado por Bondo e Carvalho.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
87
5.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na Tabela 11 estão representados os dados gerais de cada furo de sondagem
e na figura 58 estão representados os pontos correspondentes aos locais onde foram
realizados os furos de sondagem, neles foram executados os ensaios SPT espaçados
em profundidade de acordo com as indicações apresentadas nas figuras 59 à 66, que
representam a interpretação feita, a partir dos registos de campo, relativamente à
variação em profundidade, quer da litologia quer da densidade relativa ou grau de
compacidade.
Tabela 11 Dados dos furos de sondagens
Poços
Coordenadas
(UTM)
Cota
(m)
Profundidade
máxima (m)
E N
SP1 322255 9063731 11 10,30
SP3 324659 9064387 16 16,45
SP4 323796 9064632 68 17,13
SP6 324677 9065026 57 12,30
SP8 323160 9066221 53 20,40
SP9 324099 9066794 56 37,30
SP10 322712 9068103 64 10,05
SP11 326173 9062774 42 36,45
SP12 326168 9063925 57 9,06
SP14 326171 9071928 - 9,28
SP15 326176 9073704 - 11,45
SP16 325850 9075459 - 10,45
SP17 323987 9073557 - 20,28
BONDO, H. e CARVALHO, I.
88
FIGURA 58 - Localização dos furos de sondagem
Nas figuras 59 à 66 são apresentadas de forma sistemática as coordenadas
geográficas do local, o número ou designação do furo de sondagem, o local da
realização do furo, o perfil interpretado de variação litológica com a profundidade, os
números de pancadas obtidos no ensaio SPT, NSPT, os números de pancadas corrigidos,
BONDO, H. e CARVALHO, I.
89
N1, a legenda das unidades litológicas e projecção dos pontos ensaiados no gráfico
indicativo do valor de DR.
Deve ser referido que, em rigor, a consideração de DR é aplicável na caracterização
de materiais granulares, pelo que a leitura dos gráficos deve ser realizada de forma
crítica, atendendo as litologias assinaladas. Contudo, o exercício de generalizar a
representação da variação de DR com NSPT permite uma leitura da maior ou menor
dispersão do comportamento ao longo do furo de sondagem.
No furo de sondagem SP1 (figura 59), verifica-se que os primeiros 2,5m de
profundidade correspondem a um pacote margoso, e foram realizados dois SPT,
verificando-se variação dos valores de NSPT e N1 entre os 1,5m e os 2m de 10 à 20
pancadas para valores de 40 à 60 pancadas, indiciando, genericamente, tratar-se do
mesmo material com consistência a variar de rija a dura.
De seguida, nota-se um decréscimo de NSPT e N1 para valores de 30 pancadas
simultaneamente, correspondente ao pacote de argila, de consistência muito rija,
macroscopicamente identificado pelas amostras colhidas com o amostrador Terzaghi.
Figura 59 – Sondagem SP1
BONDO, H. e CARVALHO, I.
90
Entre os 3,5m e os 4,5 m volta a verificar-se um novo pacote margoso, havendo
uma constância dos valores de NSPT e N1 em torno do valor de 50 pancadas. Entre os
4,5 e os 9m não foi possível recuperar a amostra, o que poderá indiciar a presença de
materiais terrosos soltos visto que, também se verifica uma diminuição dos valores de
pancadas. Dos 9m até o final do ensaio há novamente a presença de materiais
margosos e os valores de pancadas de NSPT e N1 variam entre 40 e 30.Os últimos 2
ensaios são acompanhados de uma inversão no posicionamento de NSPT relativamente
a N1, ou seja, a correcção do número de pancadas, indica tratar-se de materiais menos
resistentes do que, à partida, se podia considerar.”
No furo de sondagem SP3 (figura 60), verifica-se que nos primeiros 5m de
profundidade não foi possível recolher a amostra, o que poderá indiciar a presença de
materiais terrosos soltos.
Figura 60 – Sondagem SP3
BONDO, H. e CARVALHO, I.
91
Entre os 6m e os 9m, correspondentes a um nível margoso, foram realizados 3
SPT, verificando-se praticamente constância dos valores de NSPT e N1 entre os 6m e os
7m em torno do valor de 10 pancadas, indicando materiais de consistência rija. No final
do mesmo pacote litológico (SPT aos 8,5m) nota-se um acréscimo do número de
pancadas que reflectem a presença de uma faixa de consistência dura.
Entre os 9 e os 10,5m volta a verificar-se a não recuperação de amostras, com
uma correspondente diminuição dos valores de NSPT e de N1 para o valor de 10
pancadas, correspondentes à consistências rijas.
Entre os 12 m e os 16 m aparece o nível argiloso de maior resistência, no qual,
ao fim do quarto ensaio foi atingido o “nega” (NSPT=60), sendo que, do primeiro para o
segundo ensaio verificou-se uma redução do número de pancadas, que voltou a
aumentar no terceiro ensaio. A observação macroscópica permitiu identificar uma
camada argilosa, cujo intervalo de variação do número de pancadas (15 a 60) mostra
tratar-se de argilas rijas a duras.
No gráfico inscrito na figura é perceptível que, neste local de furação, está-se em
presença de materiais predominantemente compactos e densos, correspondentes aos
materiais rochosos margas e argilitos.
O andamento em profundidade dos valores de N1 é paralelo aos de NSPT, sendo que a
correcção do número de pancadas resultou sempre em valores inferiores aos registados
no campo.
No furo de sondagem SP4 (figura 61), verifica-se que nos primeiros 2m de
profundidade, há variação dos valores de NSPT e N1 entre 10 à 20 pancadas, estes
valores aumentam com o aumento da profundidade, até atingirem 50 à 60 pancadas
(nega), que corresponde ao limite de pacote de areia de granulometria média, tal como
observado macroscopicamente. Deste modo, e de acordo com a ordem de grandeza
dos números de pancadas (Tabela 4.4), conclui-se estar-se em presença de areias
medianamente densas a muito densas. Entre os 2,5 e os 4,15m não há recuperação de
amostra, seguidamente há presença de um pequeno pacote de areia de granulometria
grosseira e os valores de NSPT e N1 não variam muito, sendo de 45 e 40 pancadas
respectivamente, pelo que se trata de areias densas.
Entre os 5,5 e os 9m volta a verificar-se a não recuperação de amostras até ser
atingido o pacote de silte, foi realizado um SPT aos 9,5m de profundidade verificando-
se uma variação dos valores de NSPT e N1 de 45 à 30 pancadas (material denso a muito
denso), estes valores não variam muito até ao final do ensaio.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
92
Entre os 11,5 e os 13,5m de profundidade passa-se para um material mais argiloso
e os valores de NSPT e N1 variam entre 45 à 30 pancadas (consistência dura). Entre os
14 e os 15m não há recuperação de amostras e, seguidamente, nota-se novamente a
presença de material argiloso até o final do ensaio.
Figura 61 – Sondagem SP4
Nota-se que neste local de furação está-se em presença de materiais
predominantemente densos a muito densos, correspondentes às areias de
granulométria média e grosseira e materiais de consistência dura, correspondente a
presença de siltito e argilito. Nos níveis mais superficiais, de natureza arenosa média, o
andamento em profundidade dos valores de N1 é quase sempre paralelo aos de NSPT.
Aos 4,5m, onde ocorre a fina camada de areia grosseira, as duas linhas cruzam-se,
sendo que, a partir daí (siltito e argilito), a correcção do número de pancadas resultou
sempre em valores inferiores aos registados no campo.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
93
No furo de sondagem SP6 (figura 62), verifica-se que nos primeiros 4m de
profundidade correspondentes a um pacote de areia de granulometria média, há
variação dos valores NSPT e N1 entre 30 à 50 pancadas, estes valores diminui com o
aumento da profundidade, até os valores de 30 pancadas no limite das areias de
granulometria média.
Entre os 4,5 e os 5,5m de profundidade, correspondentes ao pacote de areia de
granulometria grosseira os valores de NSPT e N1 aumentam progressivamente até o
limite do pacote chegando aos valores de 60 e 50 pancadas respectivamente.
Entre os 5,5 e os 12,30m, foram realizados sete (7) SPT com variação dos valores de
NSPT e N1 de 45 à 30 pancadas e no final de 40 à 25 pancadas, este ultimo pacote
corresponde ao material siltoso de consistência a variar de rija a dura.
Segundo o gráfico na figura, nota-se que neste local de furação está-se em presença
de materiais predominantemente densos, correspondentes as areias de granulométria
Figura 62 – Sondagem SP6
BONDO, H. e CARVALHO, I.
94
grosseira e média. O andamento em profundidade dos valores de N1 é quase sempre
paralelo aos de NSPT com excepção aos 4m onde as duas linhas cruzam-se, sendo que
a correcção do número de pancadas resultou sempre em valores inferiores aos
registados no campo.
No furo de sondagem SP8 (figura 63), foram realizados vinte (20) SPT e durante todo
o ensaio foi identificada simplesmente material argiloso de consistência que variam de
rija a dura, onde os valores de NSPT e N1 apresentaram bastantes variações mas, os
valores de NSPT foram sempre superiores aos corrigidos com excepção aos três
primeiros SPT.
A inversão no posicionamento de NSPT relativamente a N1, ou seja, a correcção do
número de pancadas, indica tratar-se de materiais menos resistentes do que, à partida,
se podia considerar.
Figura 63 – Sondagem SP8
BONDO, H. e CARVALHO, I.
95
No furo de sondagem SP9 (figura 64), nos primeiros 8m de profundidade foram
identificados materiais arenosos com variação na granulometria, isto é, areia fina, média
e grosseira, de dizer que estes materiais encontram-se intercalados e, os valores de
NSPT e N1 são constantes nos primeiros três (3) SPT e variam nos últimos, onde os
valores de NSPT e N1 são maiores. Entre os 8,5 e os 9,5m não há recuperação de
amostras o que poderá indiciar a presença de materiais terrosos muito soltos.
Entre os 9,5m até o final do ensaio foi encontrado material argiloso, os valores de
NSPT e N1 são constantes e bastante semelhantes em torno de 10 pancadas,
verificando-se variações no final do ensaio onde os valores de NSPT atingem as 60
pancadas (nega). Indicando que o material apresenta uma consistência que varia de rija
a dura, e o posicionamento de NSPT relativamente a N1 indica tratar-se de materiais
menos resistentes do que se podia considerar. Segundo o gráfico na figura, nota-se que
neste local de furação está-se em presença de materiais predominantemente soltos e
densos, correspondentes as areias de granulometria grosseira, média e fina.
O andamento em profundidade dos valores de N1 é quase sempre paralelo aos de NSPT
com excepção aos 3m onde as duas linhas cruzam-se, sendo que a correcção do
número de pancadas resultou sempre em valores inferiores aos registados no campo.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
97
No furo de sondagem SP10 (figura 65), verifica-se um único material arenoso ao longo
de todo o furo, foram realizados nove (9) SPT dos quais, os valores de NSPT e N1 dos
dois primeiros variam entre 45 à 75 pancadas e 45 à 60 pancadas. De realçar ainda que
os valores de NSPT e N1 diminuem com a profundidade até os valores de 45 pancadas.
Entre os 8,6 e os 9,5m não há recuperação de amostras. Segundo o gráfico na figura,
nota-se que neste local de furação está-se em presença de materiais
predominantemente densos, correspondentes ao material arenoso.
O andamento em profundidade dos valores de N1 é quase sempre paralelo aos de
NSPT com excepção aos 8m onde as duas linhas cruzam-se, sendo que a correcção do
número de pancadas resultou sempre em valores inferiores aos registados no campo.
Figura 65 – Sondagem SP10
BONDO, H. e CARVALHO, I.
98
No furo de sondagem SP11 (figura 66), verifica-se que nos primeiros 10m de
profundidade encontram-se materiais arenosos de granulometria variada desde areia
fina à grosseira e, apresentam-se intercaladas. Os valores de NSPT e N1 são quase
constantes e variam em torno de 10 pancadas.
Entre os 10 e 36,5m, verifica-se muita intercalação entre material arenoso e argiloso,
o que se reflecte na variação das curvas de valores de NSPT e N1 até atingir o numero
máximo de pancadas no final do ensaio, de realçar que os primeiros três pacotes de
argila tratar-se do mesmo material com consistência a variar de mole a media e os dois
últimos pacotes a consistência varia de rija a muito rija. No intervalo de 24,5 à 25,5m
não há recuperação de amostra.
Segundo o gráfico na figura, nota-se que neste local de furação está-se em presença
de materiais predominantemente soltos e compactos correspondentes ao material
arenoso. O andamento em profundidade dos valores de N1 é paralelo aos de NSPT, sendo
que a correcção do número de pancadas resultou sempre em valores inferiores aos
registados no campo.
Figura 66 – Sondagem SP11
BONDO, H. e CARVALHO, I.
100
6.1 CONCLUSÕES
Atendendo aos objectivos específicos preconizados no início da realização do
presente trabalho, os autores são de opinião que foi possível compreender o princípio
de funcionamento do ensaio de penetração normalizado e a sua utilidade na Geotecnia.
Por outro lado, e no caso concreto da área objecto de estudo, foi possível aos autores
verificar a existência de uma correlação entre os valores de NSPT (registados e corridos)
com a natureza geológica das formações atravessadas. Assim, do ponto de vista da
geologia, os autores podem concluir o seguinte:
O paleoambientel da área de estudo é marinho, variando de batial à abissal;
Com base nos estudos paleontológicos, as espécies predominantes são:
-Globoratalia fohsi, Textularia ripleyensis, Globigerina Sp, Gyroidina Girardana,
Heterohelix, Melosira granulata, M. Mercida L., Pyrgoella Sphaera, e Styliolina.
Do ponto de vista da geotecnia, pode-se concluir o seguinte:
Na zona de implantação do novo Porto Comercial, as litologias superficiais
caracterizadas por materiais de natureza granular têm compacidade
predominantemente densa, enquanto que abaixo das litologias acima descritas
caracterizadas por argilas compactas que em geotecnia são designados por hard
soils-soft rocks, têm grande capacidade resistente.
6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Apesar de os objectivos terem sido em grande medida alcançados, os autores
gostariam de ver tratados com maior profundidade alguns aspectos que não foram
possíveis serem tratados. Assim, para trabalhos futuros os autores recomendam o
seguinte:
Que se façam análises granulométricas das fácies da área de estudo;
Que se dê continuidade às sondagens rotativas até a uma profundidade mais ou
menos de 20 m.
Que se façam estudos pormenorizados a fim de aprimorar a cartografia
geológica da referida área;
Que, entre o Departamento de Geologia e empresas do ramo, seja possível
viabilizar as condições para que os estudantes finalistas estagiários possam
BONDO, H. e CARVALHO, I.
101
realizar trabalho de campo e de laboratório no domínio da Geologia de
Engenharia/Geotecnia;
Que, dada a grande extensão da área estudada, se realizem, entre furos,
ensaios utilizando métodos de prospecção indirectos (métodos geofísicos, por
exemplo), visto que o estabelecimento de correlações laterais entre furos de
sondagem/SPT consideravelmente espaçados não é um procedimento tão
rigoroso quanto desejável, a fim de permitir a elaboração de perfis
correspondentes ao designado Zonamento Geotécnico.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
102
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGOSTINHO A., SANTANA A., LOMBA A., CARVALHO A., RODRIGUES C., SILVA F., SILVESTRE I., NETO J., DOMINGOS M., MELO M., GOMES M., MIGUEL R., CASSANGE S. (1995) – A Geomorfologia da Região do Dande um Contributo para o aproveitamento Racional da Região – Tese de Licenciatura, DEI Geologia, Faculdade de Ciências (UAN). ANGOLA-CEBSA. (1982) – Esquema litoestratigráfico da bacia do Kwanza, Comissão Estratigráfica para as bacias sedimentares de Angola. ANTUNES, R. L., MELO, J.H.G. (2001) – Micropaleontologia e Estratigrafia de Sequências. In: RIBEIRO, H.J.P.S. Estratigrafia de Sequências. Unisions. p. 137- 218. ATTEWELL, P.B. e FARMER, I.W. (1976) - Principles of Egineering Geology. Chapman and Hall Ltd. 1045 p. London.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT (2001) – NBR 6484.Solo. Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT, método de ensaio. Rio de Janeiro.
BAPTISTA, C. (1991) Orla Sedimentar Angolana. DEI Geologia, Faculdade de Ciências (UAN), Luanda – Angola. Trabalho não publicado.
BAZARAA, A.R.S.S (1967) Use of Standard Penetration Test for estimating settlement of shallow foundations on sand Ph.D. Thesis, University of Illínois, Urbana.
BEURLEN, G., REGALI, M.S.P. (1987) O Cretáceo da Plataforma Continental do Maranhão e Pará, Brasil, Bioestratigrafia e Evolução Paleoambiental.
BOLTOVSKOY, E., GIUSSANI, G., WATANABE, S., WRIGHT, R. (1980) Atlas of benthic shelf foraminifera of the southwest Atlantic. Bouton, Dr. W. Junk by Publishers. 147p.
CASSAM, M (1982) “Los Ensayos in Situe en la Mecánica del Suelo. Su Ejecucion e Interpretación”. Editores Técnicos Associados. Barcelona.
CAVALCANTE, E. H (2002) Investigação teórico - experimental sobre o SPT. Tese de Doutoramento em Engenharia Civil. COPPE - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
CESTARI, F (1990) “Prove Geotecniche in sito”. Ed. Geo-Graph, Segrate.
CORDEIRO, D. DARGAN (2004) – Obtenção de Parâmetros Geotécnicos de Areias por meio de Ensaios de Campo e de Laboratório. Universidade Federal do Espírito Santo. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil, na área de concentração em Geotecnia. Vitória.
DE MELLO, V.F.B (1971) “The Standard Penetration Test”. Proc. 4th Pan Amerinan Conf. on Soil Mech. and Found. Eng. ASCE, Vol 1. San Juan, Puerto Rico.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
103
DINIZ, A. CASTANHHEIRA (1973) – Características Mesológicas de Angola. Descrição e correlação dos aspectos fisiográficos, dos solos e da vegetação das zonas agrícolas angolanas. Missão de Inquéritos Agrícolas de Angola. Nova Lisboa DINIZ, A. CASTANHEIRA (2002) – Grandes Bacias hidrográficas de Angola. Recursos em terras com aptidão para o regadio das bacias do Cuanza, noroeste e sudoeste angolano. APAD e ICP. Lisboa. DEVINCENZI, MARCELO E FRANK, NORBERTO (1995) – Ensayos Geotecnicos In Situ. Igeo Test, S.L. Figueres Girona. Spain. GIBBS, H.J, HOLTZ, WG (1957) “ Research on Determining the Density of Sands by Spoon Penetration Testing”. Proc. 4th Conf. on SMFE, London. GIULIANI, F., NICOLL, F. L. (1982) “New Analytical correlation betxeen SPT, overburden pressure and relative density” Proc. 2th. Europ. Symp. on Penetration Testing, Amsterdam. HUNT, R.E. (1984) “ Geotechnical Engineering Investigation Manual.” McGraw – Hill Book Co. New York. INTERNATINAL SOCIETY OF SOIL MECHANICS AND FOUDATION ENGINEERING-ISSMFE (1988) – Standard Penetration Test (SPT): International Reference Test Procedure. ISOPT -1,Orlando (USA). IGME (1987) “Manual de Taludes”. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. JAMIOLKOWSKI, M., BALDI, G., BELLOTI, R., GHIONNA, V., PASQUALINI, E. (1985) “Penetration Resistance an Liquefaction of sands” Proc. 11th Int. Conf. on SMFE, San Francisco. JENKINS, D. G., MURRAY. J. W (1989) – Stratigraphical Atlas of Fossil Foraminifera. (2 ed.) KOUTSOUKOS, E. A. M., KLASZ, I. (2000) Lote Cretaceous Foraminiferal Biogeography. In: Northeastern Brazilian Shelf and Central West African Basins. Cretaceos Research, p. 381-405. LAZZARI, C. VICTOR (2006) – Correlação entre Índice SPT e Medida de Torque em Sondagens de Simples Reconhecimento em Solos da Região da Foz do Iguaçu, PR. Trabalho final de graduação apresentado a União Dinâmica de Faculdades Cataratas UDC, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil. Foz do Iguaçu. LIAO, S., WHITMAN, R.V (1986) “Overburden Correction Factores for SPT in Sand.” Jotir. of. Geotech. Eng, vol.112, Nº3.ASCE, New York. LOPES, F.R. (2002) Fundações Profundas. COPPE – UFRJ, Rio de Janeiro. MARTINEZ, J.I. (1989) Foraminiferal Biostratigraphy and Paleoenvironments of the Maastrichtian Colon Mudstones of Northern South American. Micropalentology, v. 35, n.2, p. 97-113. MEYERHOF, G.G. (1956) “Penetration Test and Bearing Capacity of Cohesionless Soils.” Jour. Geotech Eng. Div., ASCE, vol. 91, smi.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
104
MUNSELL, SOIL COLOR CHARTS (1954) – “Munsell Color Company, INC. Baltimore, Maryland” U.S. MUROMACHI, T. (1974) “Experimental Study on Application of Static Cone Penetrometer to subsurface Investigation of weak Cohesive Soils” Proc. Europ. Conf. on Pen. Test., Stockolm, Vol 2. NAVFAC DM 7.1. (1982) “Soil Mechanics.” Design Manual 7.1. Dept. of the Naval Facil. Eng. Command. Alexandria. USA. PUTIGNADO, M.L., VALENTE A., E BUTA A. NETO. (2000) - Carta Geológica de Luanda, Noticia Explicativa, Folhas N.89 CII-89 DI-89 DIII-89 CIV, escala 1:25.000 UAN. Boletin do DEI-Geologia da Universidade Agostinho Neto.
RUVER, C. ALBERTO (2005) – Determinação do Comportamento Carga – Recalque de Sapatas em Solos Residuais a partir de ensaios SPT. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia. Porto Alegre.
SANGLERAT, G. (1972) “The penetrometer and soil exploration”. Elselvier Ed., Amsterdam. SCLUMBERGER (1991) – Avaliações De Formações de Angola WEC. 1-95, Paris. SKEMPTON, A.W (1986) “Standard Penetration Test Procedure and Effects in Sandsof Overburden Pressure, Relative Density, Particle Size, Ageing and Overconsolidation.” Geotechnique vol.36, Nº3.
SEYVE, CHRISTIAN (1990) – Introdução À Micropaleontologia. UAN, Faculdade de Ciência. Dep.Geologia, Elf Equitaine Angola.
SWECCO G.A.S (2005) – Projecto de Gestão do Sector Nacional das Águas, actividade e avaliação rápida dos recursos hídricos e uso da água em Angola. Relatório final.
TAVARES, T.S. (2000) - Amonites de Angola, Sua Ocorrência no Mesozóico das Bacias Sedimentares de Angola. Estratigrafia e Sistemática, Tese de Licenciatura – Dpto de Geologia, Faculdade de Ciências, UAN.
TAVARES, R. A. (1972) – Métodos de estudos dos Foraminíferos. Bol. Inst. Invest. Cient. Ang., Luanda.
TAVENAS, F.A, LADD, R.S, LAROCHELLE, P. (1973) “Accuracy of relative density measurements: results of a comparative test program.” ASTM Spec. Sym. Evaluation of relative density and its role in geotechnical projects involving cohesionless soils, Los Angeles.
TERZAGHI, K. & PECK, R.B. (1967) – Soil Mechanics in Engineering Practice Jonh Wiley, New York (2th Edition). UTO, K., FUYUKI, M., (1981) “Present and Future Trend on Penetration Testing in Japan.” Japanese Soc. SMFE. VILELA, C. (2004) Foraminíferos. In: CARVALHO, I.S. Paleontologia. 2ed. Editora Interciência, Rio de Janeiro, p. 260-296.
BONDO, H. e CARVALHO, I.
105
VICTORINO A. E NASCIMENTO D. (2006) – Caracterização Geoquímica e Petrográfica das Rochas Vinculadas com as manifestações asfálticas da área dos Libongos – Tese de Licenciatura, DEI Geologia, Faculdade de Ciências (UAN). SITES CONSULTADOS
http:// www.revistademarinha.com/index.php. Acessado aos 23/6/10 pelas 16h23
http:// www.consuladodeangola.org. Acessado aos 23/6/10 pelas 17h43
http:// consulta – prot - norte.inescporto.pt. Acessado aos 23/6/10 pelas 18h37
http:// www.unb.br /ig/posg/tesesbrasil.pdf. Acessado aos 30/6/10 pelas 16h12
http://pt.wikipedia.org/wiki/sondagem-SPT. Acessado aos 19/7/10 pelas 15h02
http:// www.prppg.ufes.br/ppgec/dissertação/2004/DanielDargan.pdf. Acessado aos 19/7/10 pelas 15h34
www.igeotest.com/english/geotecnia-terrestre/ensayos-cpm.asp. Acessado aos 13/7/10 pelas 17h47
www.engenhariacivil.com/ensaio-spt. Acessado aos 13/710 pelas 18h23
www.ebah.com.br/ensaio-spt-pdf. Acessado aos 21/8/10 pelas 21h07
www.alphaengenharia.com/sondagens.htm. Acessado aos 26/8/10 pelas 18h51
www.nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/artigos-revistas/267. Acessado aos 26/8/10 pelas 20h43
www.2ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/56/62. Acessado aos 3/9/10 pelas 18h43
http://www.igeotest.com/spanish/geotecnia-terrestre/equipos/penetrometros.asp Acessado aos 3/9/10 pelas 22h14
www.engenhariacivil.com/cat/geotecnia-e-fundações-documentação. Acessado aos 3/9/10 pelas 21h56
www.docstoc.com/docs/47406335/SPT-Standard-Penetration-Test. Acessado aos 15/9/10 pelas 17h42
www.geotecnicadaria.pt/equipamento.php Acessado aos 18/9/10 pelas 18h52
www.sondagensoeste.pt/geot.php. Acessado aos 18/9/10 pelas 20h28
www.igeotest.com/english/geotecnia-terrestre/instrumentacion.asp. Acessado aos 28/9/10 pelas 19h43