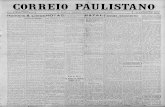Tese de doutorado - "Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo". Uma História...
Transcript of Tese de doutorado - "Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo". Uma História...
Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Ciências Sociais
Instituto de Estudos Sociais e Políticos
Luísa Rauter Pereira
“Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo”
Uma história do conceito de povo no Brasil: revolução e historicização
da linguagem política (1750-1870)
Rio de Janeiro 2011
Luísa Rauter Pereira
“Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo”
Uma história do conceito de povo no Brasil: revolução e historicização da
linguagem política (1750-1870)
Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Orientador: Prof. Dr. João Féres Júnior
Rio de Janeiro 2011
CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA IESP
Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese,
desde que citada a fonte.
_____________________________________________ _____________________
Assinatura Data
P436 Pereira, Luisa Rauter. “Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo” uma
história do conceito de povo no Brasil: revolução e historicização da linguagem política (1750-1870) / Luisa Rauter Pereira. – 2011.
280 f. Orientador: João Feres Junior. Tese (doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Instituto de Estudos Sociais e Políticos. 1. Koselleck, Reinhart, 1923- - Teses. 2. Conceitos - História –
Teses. 3. Brasil – História – Império, 1822-1889 – Teses. 4. Ciência política – Teses. I. Feres Junior, João. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Estudos Sociais e Políticos. III. Título.
CDU 378.245
Luísa Rauter Pereira
“Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo”
Uma história do conceito de povo no Brasil: revolução e historicização da
linguagem política (1750-1870)
Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Politica, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Aprovada em 11 de janeiro de 2011.
Banca Examinadora: _________________________________________ Prof. Dr. João Feres Junior (Orientador)
Instituto de Estudos Sociais e Políticos - UERJ
_________________________________________ Prof. Dr. Christian Edward Cyril Lynch
Instituto de Estudos Sociais e Políticos - UERJ
_________________________________________ Profª. Dra. Lucia Maria Bastos pereira das Neves
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
_______________________________________ Prof. Dr. Marcelo Jasmim
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
_______________________________________ Prof. Dr. Cesar Augusto Coelho Guimarães
Instituto de Estudos Sociais e Políticos – UERJ
Rio de Janeiro
2011
Dedico este trabalho à minha bisavó Cristina Fróes da Costa Barros, uma das pessoas mais inteligentes e perspicazes que já conheci.
AGRADECIMENTOS
Agradeço ao meu orientador João Féres Júnior pela enorme contribuição na
realização deste trabalho e pelas novas oportunidades de crescimento acadêmico e
intelectual que me proporcionou ao longo desses anos de doutorado;
A Jacques Guilhaumou, meu orientador de estágio de doutorado no exterior,
pelo incentivo, leituras sugeridas e atenção nos meses na frança;
Aos professores do IESP e do antigo IUPERJ;
Agradeço aos funcionários, em especial, à Lia Gonzales, que agora trabalha na
Puc-Rio, e à Caroline Carvalho, que ainda nos acompanha no Iesp-Uerj, pela presteza,
competência sem igual, e pela gentileza com que sempre trataram a mim e aos demais
alunos;
À capes, um agradecimento especial pelo financiamento desta pesquisa no Brasil
e no Exterior;
Aos membros do projeto Iberconceptos e do Grupo de Pesquisa em História dos
Conceitos e Teoria Política e Social, em especial, a Christian Lynch, Ivo cozer e Maria
Elisa Mader. A parceria intelectual e o companheirismo que estabelecemos ao longo dos
anos foi de extrema importância nesta trajetória.
Agradeço também aos amigos feitos durante o doutorado, em especial à Fabrício
Pereira da silva, Aline Marinho Lopes, Júlia Santana, Andres del Rio, Thiago Nasser, e
também a todos os colegas do Instituto. Vocês foram fundamentais nestes longos anos
de desafios e crescimento;
A Mônica Biviana Calderon, minha nova eterna amiga e “colega de
apartamento”, com quem compartilhei intimamente os primeiros anos de doutorado;
Aos amigos de agora e sempre Camilla Buarque, Maria Eugênia Bertarelli, Lara
de Melo dos Santos, Cristina Muniz Duarte, Miguel Palmeira, Érica Bastos Arantes,
Roberta Marinho Duarte, Affonso Celso Thomás Pereira, Mário Miranda Neto, Rômulo
Mattos, Joana Lima dos Santos, Isabela Ziro, Hugo Belluco, e muitos outros.
Aos grandes amigos de “Ituiutexas”, um agradecimento especial: Antônio
Justino Ruas Madureira, Walisson Rosa, Evaneide, Aurelino José Ferreira Filho, Mical
Magalhães, Mônica, Janaína Losada, Clóvis, Dalva, Marco Sávio, Priscila, Romana
Valente Pinho, Amon Pinho, Suiley e Eduardo Giavara. Aos filhos de todos também.
Juntos, enfrentando desafios, desbravando fronteiras!
À minha família, que tanto adoro; Ao Marcelo, meu amor nesta vida.
.
O povo tá sabido, o povo tá esperto!
Luis Inácio da Silva, em um comício em Uberlândia, MG, nas últimas eleições presidenciais.
RESUMO
PEREIRA, Luisa Rauter. “Substituir a revolução dos homens pela revolução do tempo”
Uma história do conceito de povo no Brasil: revolução e historicização da linguagem
política (1750-1870). 2011. 276 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de
Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2011.
A tese propõe uma linha de interpretação acerca da história do conceito de povo
no debate político luso-brasileiro entre a segunda metade do século XVIII e últimas
décadas do século XIX, sob uma perspectiva teórica que busca compreender o processo
de historicização das linguagens e conceitos políticos como marca do mundo moderno.
Procuramos traçar o processo de abalo e desmantelamento dos significados e usos
tradicionais e a incorporação crescente da temporalidade histórica na semântica
conceitual, fenômeno ocorrido em meio aos conflitos e debates políticos durante a
formação, consolidação e crise do estado imperial brasileiro. Acreditamos que nestes
anos houve uma acentuada historicizaçao do conceito de povo, processo que teve como
marca seu crescente contingenciamento, isto é, sua maior fundamentação em
diagnósticos da situação histórica presente, e também sua maior inserção em visões
processuais e futuristas da história.
Palavras-chave: Koselleck. Povo. História dos conceitos. História do Brasil Imperial.
Temporalidade.
RESUMÉ
PEREIRA, Luisa Rauter. “Substituer la révolution des hommes pour la révolution du
temps”. Une histoire du concept de peuple au Brésil: révolution et historicization du
langage politique (1750-1870). 2011. 276 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) –
Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2011.
La thèse propose um chemin d'interprétation sur l'histoire du concept de peuple
dans le débat politique luso-brésilienne entre la seconde moitié du dix-huitième siécle et
les dernière décenies du dix-neuviémme siècle, dans une perspective théorique qui
cherche à comprendre le processus d'historicisation du langage et des
concepts politiques comme une marque du monde moderne. Nous suivons le processus
d'effondrement et de démantèlement des significations et des utilisations traditionnelles
et l’incorporation de la temporalité historique dans la sémantique conceptuelle, un
phénomène qui s'est produit au milieu des conflits et des débats politiques au cours de la
formation, la consolidation et la crise de l'Etat Impérial brésilien. Nous croyons que,
dans ces années là s’est produit une remarcable historicization du concept de peuple, un
processus qui allait marquer dans ça semantique une plus grande contingence et aussi
son insertion plus visible dans les visions futuristes et processuelles de l'histoire.
Mots-clés: Koselleck. Peuple. Histoire des concepts. Histoire du Brésil impérial. Temporalité.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................... 13
1 POVO, CONCEITOS POLITICOS E TEMPORALIDADE HISTÓRICA:
ALGUNS REFERENCIAIS HISTÓRICOS E ANALÍTICOS ....................... 20
1.1 O povo-nação na tradição do “pensamento político e social brasileiro”:
alguns apontamentos ........................................................................................... 20
1.2 Linguagem e conceitos políticos na modernidade: ambigüidade,
“refutabilidade” e fluidez .................................................................................... 33
1.3 A temporalidade histórica moderna e os conceitos políticos .......................... 38
1.4 A história dos conceitos como projeto historiográfico: investigar a relação
entre a temporalidade e a semântica conceitual moderna ............................... 51
2 POVO E TEMPORALIDADE NO ANTIGO REGIME LUSO-
BRASILEIRO: O SÉCULO III ...................................................................... 59
2.1 O conceito político de povo na tradição e na pratica política do antigo
regime luso-brasileiro .......................................................................................... 59
2.1.1 O lugar do povo no “corpo” político ................................................................. 60
2.1.2 A tradição radicalizada: o retorno da soberania aos povos e o direito de rebelião 71
2.1.3 O pombalismo e a tentativa de instauração de uma nova relação entre povos e
monarca .................................................................................................................. 74
2.1.4 O conceito revolucionário: os povos contra a tirania na segunda metade do
século XVIII .......................................................................................................... 79
2.2 O processo de dissolução da estabilidade semântica do antigo regime ........... 87
2.2.1 A questão da plebe colonial ................................................................................... 87
2.2.2 O conceito de população: uma releitura da questão da plebe colonial .................. 94
2.3 Considerações finais .......................................................................................... 105
3 REGENERAÇÃO, REVOLUÇÃO, RAZÃO E O ESTADO
DECIVILIZAÇÃO DO POVO: O PERÍODO DA INDEPENDÊNCIA
(1820-1823) ......................................................................................................... 108
3.1 O conceito político de povo no vintismo e a idéia de “regeneração” ............. 108
3.2 O conceito liberal monárquico de povo e o diálogo com a tradição política
luso-brasileira ..................................................................................................... 112
3.3 Um outro conceito de povo: razão, insurreição e “vontade geral” .............. 118
3.4 Alguns momentos-chave no uso do conceito ................................................... 123
3.4.1 A atuação do povo em praça pública: o dilema da participação política ............. 123
3.4.2 Duas formas de entender o lugar do povo no sistema político: a polêmica em
torno do tipo de representação do povo brasileiro ............................................... 129
3.4.3 A aclamação do povo-vassalo ............................................................................. 132
3.4.4 Alguns debates na Assembleia Constituinte de 1823 .......................................... 134
3.4.4.1 O debate sobre a sanção real................................................................................ 136
3.4.4.2 O debate sobre o poder provincial ....................................................................... 137
3.4.4.3 Mudar as circunstâncias, mudar o povo: os projetos de José Bonifácio ............. 142
3.5 Considerações finais .......................................................................................... 145
4 REVOLUÇÃO, REGRESSO E HISTORICIZAÇÃO DA LINGUAGEM
POLÍTICA: O PERÍODO REGENCIAL (1831-1840) .................................. 148
4.1 A crise do primeiro reinado: a eclosão do conceito de povo na luta contra o
despotismo .......................................................................................................... 148
4.2 Os conceitos moderado e exaltado de povo ..................................................... 154
4.3 Os motins urbanos de 1831 no rio de janeiro: quem é o legítimo povo? ...... 157
4.4 O conceito de povo e a revolução nas províncias ............................................ 167
4.5 Povo, ordem e civilização: a visão moderada a respeito das revoluções
provinciais .......................................................................................................... 174
4.6 As discussões em torno das leis descentralizadoras ........................................ 179
4.7 O regresso conservador e a formação da tradição política imperial ............. 188
4.8 O conceito de povo em algumas obras paradigmáticas da tradição imperial
conservadora ...................................................................................................... 191
4.9 O conceito de povo em algumas obras paradigmáticas da tradição liberal
imperial ............................................................................................................... 197
4.10 Historiografia e a literatura: algumas palavras .............................................. 202
4.11 Considerações finais .......................................................................................... 205
5 POVO E EVOLUÇÃO: A GERAÇÃO DE 1870 ........................................ 208
5.1 A reforma política como forma de transformar o povo: o evolucionismo
político ................................................................................................................. 216
5.2 A reforma social como forma de transformar o povo: o evolucionismo social
e a questão da miscigenação .............................................................................. 228
5.2.1 Mestiçagem: a chave do conceito sociológico de povo ....................................... 243
5.3 Considerações finais .......................................................................................... 253
CONCLUSÃO .................................................................................................... 257
REFERÊNCIAS ................................................................................................. 264
13
INTRODUÇÃO
Povo é um conceito de significado fluido e ambíguo, um conhecido exemplo de
polissemia na linguagem 1. Esteio do mundo moderno, o conceito de povo esteve no
centro de suas grandes invenções políticas, a cidadania, a democracia e a nacionalidade,
sendo, portanto, de uso abundante e plural, tanto na linguagem cotidiana, quanto nos
meios científicos e intelectuais. Pode significar a parte e a totalidade de uma população,
tomar acepções positivas e negativas, ser glorificado, depreciado ou mesmo temido. É
usado como justificativa para quase tudo na vida política e social, pois é dele que
emanam, ao menos em teoria, a legitimidade dos governos, assim como os problemas
sociais e econômicos. É o ente a que se dirigem políticas públicas, assim como os
chamados à ação política e à revolução. O povo é considerado responsável pelos
sucessos e fracassos de uma sociedade e é em nome dele que as diversas vozes se
elevam na cena pública. O povo é sempre uma questão a ser resolvida, uma problema a
ser solucionado, uma vez que defini-lo e encontrar os modos de sua efetivação político-
institucional é sempre um grande desafio.
Como penetrar e interpretar essa massa semântica tão vasta e diversa? É preciso
escolher o que e como observar, isto é, um objeto e uma concepção teórico-
metodológica que possa nos amparar na busca pelo sentido em meio à aparente
desordem da linguagem cotidiana. Neste emaranhado de significados e usos duas linhas
fundamentais parecem se delinear: por um lado o conceito se refere a realidades
históricas, sociais, culturais e econômicas, o que se verifica na fala cotidiana em
expressões como “índole do povo”, “cultura do povo”, “caráter do povo” e “história do
povo”, “situação do povo”. Neste caso, pode também assumir características negativas,
como nas expressões “zé-povinho”, “povão”, sendo assim associado a uma parte
considerada inferior, pela pobreza ou nível educacional e cultural: a chamada plebe,
populacho, malta ou canalha. Por outro lado, o conceito pode aparecer como um sujeito
de vontade e ação política legítima. Neste caso, o povo assume toda a sua glória, por
__________ 1 RIVAS, Xosé Luiz Barreiro. In: MARQUES, António; AURÉLIO, Diogo Pires (Orgs.). Dicionário de Filosofia Moral e Política. Verbete “povo”. Lisboa: Instituto de Filosofia da Linguagem, Universidade de Lisboa,2002. Disponível em <www.ifl.pt>. Acesso em: (08/10/2012).
14
exemplo, em expressões como “vontade do povo”, a “soberania do povo”, “o povo fez”,
“o povo unido jamais será vencido”.
São duas vertentes semânticas em constante conflito: se por um lado, o povo possui um
significado essencialmente político e abstrato, como entidade que detém o poder de
decisão e ação políticas, é ao mesmo tempo o portador de características sociais e
culturais empiricamente observáveis a que se atribui conseqüências – positivas ou
negativas – para a execução pratica de sua vontade no mundo da política. O verbete
“Povo (Política)” no Dicionário de Ciências Sociais publicado pela Fundação Getúlio
Vargas em 1986 não deixou de apontar a presença da contradição entre uma “acepção
sociológica” e outra “político-constitucional” do termo povo. Na primeira, são
utilizados critérios de natureza quantitativa, étnica, cultural, lingüística, religiosa e
econômica para conceituar o povo através de um exame das “condições reais em que se
apresentam os grupamentos humanos”. Na segunda, o povo é percebido como
componente do sistema político e “é flagrante a insuficiência da observação de suas
condições reais”, isto é, físicas, socioculturais e espirituais. Trata-se neste caso de
construções abstratas, uma sistematização de “certos elementos extraídos do real, e a
partir do qual se elabora uma noção de povo”. Esta dubiedade se faz presente, de acordo
com o autor, em diversos contextos históricos, desde Antiguidade Clássica, passando
pela Ilustração francesa, até os dias de hoje.2
É o percurso histórico desta contradição entre as duas construções semânticas, o
conceito de povo como princípio abstrato e político e como realidade histórica social,
cultural, econômica e empiricamente observável, o que me interessa abordar nesta
investigação sobre a história do conceito de povo no Brasil entre as últimas décadas do
século XVIII e últimas décadas do século XIX. Acredito que na disputa político-social
deste período, o conceito político e abstrato de povo, cujas origens remontam ao Antigo
Regime, tendeu a ser vencido, ou subsumido pela vertente histórico-sociológica,
fenômeno que não se restringiu ao caso brasileiro, mas diz respeito à linguagem política
do período. É bom salientar que não se trata de um processo unívoco e linear, mas, na
__________ 2 DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Fundação Getulio Vargas. Instituto de Documentação; Benedicto Silva, coordenação geral; Antonio Garcia de Miranda Netto. et al. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1986.
15
verdade, de uma intensa luta política, e é justamente o percurso desta disputa que iremos
investigar.
Acreditamos que tal trajetória de disputa semântico-política pode ser entendida por
meio de uma macro-intepretação que aponta para a historicização da linguagem política
como marca do mundo moderno, um conjunto de fenômenos que tiveram seus primeiros
contornos delineados na Europa nas últimas décadas do século XVIII. Chamamos de
historicização dois fenômenos correlatos: primeiramente, a inserção dos conceitos em
concepções processuais do tempo, ou, em outros termos, a introjeção da historicidade
no interior dos conceitos políticos, fenômeno que lhes confere uma profundidade
histórico temporal que não possuíam quando parte de concepções estáticas do tempo
característicos de formas diferentes de conceber e vivenciar a temporalidade. A
historicização como marca do pensamento moderno foi uma proposição comum da
filosofia, assim como da historiografia alemãs do século XX, que tiveram em nomes
como Reinhart Koselleck, Hans Blumenberg, Hanah Arendt, Walter Benjamin, alguns
exemplos de peso.
Também definimos como historicização dos conceitos políticos seu contingenciamento,
isto é, o fato de seus significados passarem a ser extraídos de percepções, análises,
diagnósticos e julgamentos da realidade presente, sejam quais forem os pontos de vista
que os presidem, deixando de se referir a teorias estáticas, tradições e exemplos
históricos edificantes e norteadores da conduta. Podemos chamar este fenômeno,
correndo o risco do anacronismo, de “realismo sociológico”. Um autor que chamou a
atenção para este fenômeno importante no campo do pensamento e das linguagens
políticas foi Marcel Gauchet, que em seus estudos sobre Alex de Tocqueville, Guizot e
Benjamin Constant, apontou “abertura histórica” destes autores, no sentido de que
procuraram extrair suas interpretações propostas normativas para a política de análises
da história, fugindo de teorias abstratas 3. Estes dois processos que compõem o que
definimos como historicização amplificados no decorrer da segunda metade do século
XVIII e especialmente no século XIX, afastaram cada vez mais a conceitualidade
política de repertórios semânticos estáticos e a-históricos, trazendo-os para o domínio da
temporalidade histórica linear e futurista. __________ 3 GAUCHET, Marcel. La Condition Politique. Paris: Gallimard, 2005.
16
Acredito que no Brasil, ao longo do processo de construção e consolidação das idéias e
sentimentos nacionais, que se desenvolveu ao longo do século XIX, o princípio
histórico-sociológico do povo se tornou especialmente estruturante da forma como os
brasileiros entendem a si mesmos, sobrepujando o sentido ligado à ação, à participação
nas decisões políticas e à revolução. A auto-percepção dos brasileiros como povo-nação
se funda ainda hoje em idéias e conceitos ligados à natureza, como raça e meio natural,
à elementos específicos da cultura, como a musica, o folclore, a dança ou à sentimentos
e “índoles”, como a emotividade, alegria e a espontaneidade, o desapego às normas e
regras muito rígidas e impessoais. A cristalização deste significado essencialmente
sócio-cultural do povo no Brasil foi fruto de uma história, que se confunde com a
própria construção do Estado-Nacional e dessa sociedade complexa que chamamos
“Brasil”. Esta história pode ser entendida como parte de um complexo e conflituoso
processo de historicização da linguagem política, que no Brasil assumiu características
particulares.
Procurarei abordar o conceito de povo a partir de seus usos na linguagem política
cotidiana pelos diversos grupos políticos e sociais dos contextos analisados, utilizando-
me de materiais diversos, como debates parlamentares e jornais, sem esquecer os
grandes textos doutrinários, procurando mapear as falas dos principais grupos políticos
articuladores dos principais processos de debates e conflitos do período tratado. Não fiz
uso de um corpus documental homogêneo, selecionando o material a ser analisado de
acordo com as especificidades de cada momento histórico abrangido na pesquisa, que
faziam de um ou outro tipo o lugar mais apropriado para observar os usos e significados
dos conceitos. Procuro fugir à abordagem que caracteriza à tradição do pensamento
social brasileiro que procurou uma substância ou caráter e peculiaridade ao povo
característicos das construções discursivas do caráter nacional: o que me interessa são
os significados e usos histórica e empiricamente construídos pelos atores políticos em
cada momento histórico e o movimento diacrônico de sua transformação.
Por escolha metodológica, privilegiamos a linguagem política mais direta, isto é,
tratamos pouco da historiografia e da literatura, embora não deixemos de apontar sua
importância e lugar no debate político. A literatura e a historiografia foram ao lócus
privilegiado em que a historiografia intelectual, das idéias e das linguagens políticas
17
procurou perceber a transformação dos conceitos de povo e de nação. De fato, a
literatura romântica de meados do século e literatura naturalista das últimas décadas,
assim como a historiografia oitocentista, longe de serem movimentos “intelectuais”
apenas, tiveram grande papel na reformulação da linguagem política do período em
questão. Porém, optamos por deixar esse material em segundo plano, embora
reconheçamos a pertinência de sua análise para nossos propósitos de pesquisa.
Estrutura de capítulos
Optamos por organizar a tese cronologicamente, iniciando nas primeiras décadas do
século XVIII e finalizando por volta de 1880. Entretanto, essa periodização não
pretende ser excessivamente rígida. Quando necessário para o esclarecimento de algum
ponto de nossa investigação, poderemos recorrer a textos e documentos produzidos um
pouco antes ou um pouco depois destes limites. Para facilitar a análise de um período
tão vasto da história do Brasil, organizamos os capítulos em “subcontextos”, que,
acreditamos, expressam as principais fases do debate político e da transformação
conceitual que pretendemos por em relevo. Trata-se de unidades destacadas da grande
diacronia proposta, onde poderemos realçar o debate político sincrônico de momentos-
chave específicos. Não pretendemos cobrir todos os anos desta história. Não hesitamos
em deixar espaços em branco, situações e momentos históricos não tratados. Porém,
acreditamos que a análise dos quatro períodos eleitos para configurar os capítulos, e os
recortes temáticos e documentais feitos para cada um, contém os elementos
fundamentais para nossa investigação. Da mesma forma que em relação ao período
geral do trabalho, no que diz respeito aos “sub-contextos”, não os tratamos como
unidades estanques, de modo que muitas referências podem extrapolar seu limite de
datação.
No capítulo I, definimos teórica e historicamente o que entendemos como o processo de
historicização dos conceitos políticos e sua intima ligação com o conceito de povo no
Brasil e na cultura política européia moderna. Partimos de uma visão geral da
construção conceitual realizada por diversos autores do “pensamento social brasileiro”
18
como forma de mapear um dos grandes lócus em que se edificou uma determinada
concepção de povo-nação brasileiro. Em seguida, discorremos sobre a centralidade
tomada pelo conceito de povo em fins do século XVIII, tomando o exemplo da França
revolucionária, e a conseqüente polissemia de que foi tomado. Através de uma breve
exposição, indicamos o que entendemos como o processo de formação da consciência
histórica moderna e suas conseqüências para a linguagem política e, em especial, para o
conceito em questão. Finalizamos com uma exposição da metodologia da história dos
conceitos desenvolvida pelo historiador Reinhart Koselleck, uma das grandes
inspirações neste trabalho.
O segundo capítulo parte de meados do século XVIII, finalizando por volta de em
1817. O enfoque procura revelar o lugar do conceito de povo nas bases da tradição
política luso-brasileira, no nível doutrinário e na prática política, chegando até seus
primeiros grandes abalos ocasionados pela política do despotismo ilustrado
pombalino e mariano, e pelos mais vultosos movimentos contestadores da ordem
imperial, especialmente as conjurações de fins do século XVIII e a revolução de
1817 em Pernambuco. Uma observação metodológica se faz necessária: como
estamos tratando do Antigo Regime, a dimensão do debate político direto é
naturalmente mitigada pela carência dos meios necessários a formação de uma cena
pública, como o desenvolvimento da imprensa e de uma relativa liberdade de
expressão. Logo, tivemos que recorrer para a escrita deste capítulo, muito mais que
nos outros, à letra da doutrina e a uma pluralidade de fontes, como memórias, atas e
petições de câmaras municipais, além de utilizar maciçamente a bibliografia
secundária especializada. Nosso intuito é revelar os primeiros sinais da
temporalização do conceito ocorrida em meio à estabilidade semântica própria ao
antigo Regime.
No capítulo seguinte, abordamos a utilização do conceito no debate político
impulsionado pela Revolução Constitucionalista de 1820 em Portugal, passando
pela Independência política e a Assmbléia Constituinte de 1823. É o momento em
que se confrontam a herança do reformismo ilustrado luso-brasileiro veiculado pelo
grupo “coimbrão” e a consciência mais e radical e revolucionária do monarquismo
constitucional e do republicanismo expressa pela elite “braziliense”. Este contexto
foi comumente chamado por diversos autores, tanto portugueses, como brasileiros,
19
de “vintismo”, momento de difusão de uma nova e específica cultura política dos
dois lados do atlântico.
No quarto capitulo, partimos da Revolução da Abdicação no Sete de Abril de 1831,
finalizando com a Maioridade do imperador D. Pedro II. É neste período que o
projeto liberal das elites brasileiras sai vencedor, revelando seus impasses e limites
quando confrontado a numa sociedade escravista marcada pela hierarquia social e
racial. É o momento em que se forjam as bases da tradição política imperial e a
formação do consenso no sentido da estabilização da unidade política e social frente
à “ameaça” da quebra da ordem pelas grandes rebeliões populares e de elites locais.
Veremos, como, ao longo desta década, a historicização do conceito de povo se
torna mais contundente, ao mesmo tempo em que se constrói e fortalece o conceito
de nação.
O quinto e ultimo capítulo se dedica a analise das idéias da chamada “geração de
1870”, movimento de crítica às tradições intelectuais e à ordem política Imperial. É
o momento da introdução do cientificismo evolucionista e racista europeu, e da
construção dos pilares das interpretações do Brasil que fizeram história ao longo do
século XX no pensamento social brasileiro. Sem a pretensão de esgotar a analise
produção intelectual da geração, ou mesmo traçar em detalhe sua estruturação
sociológica, o que já foi realizado de forma cabal por Ângela Alonso em recente
trabalho4, procuramos traçar uma visão geral de suas principais linhagens
intelectuais através de exemplos emblemáticos. É dos anos 1870 em diante que a
linguagem política viu consolidado e ampliado o processo de historicização já
bastante visível no final dos anos 1830, especialmente com a introdução do tópico
evolucionista, biológico e sociológico, presente na consciência cientificista então
desenvolvida, que tomou e transformou tanto o pensamento liberal quanto o
conservadorismo imperial.
__________ 4 ALONSO, Ângela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002, 392p.
20
CAPÍTULO 1
POVO, CONCEITOS POLITICOS E TEMPORALIDADE HISTÓRICA:
ALGUNS REFERENCIAIS HISTÓRICOS E ANALÍTICOS
1.1 O povo-nação na tradição do “pensamento político e social brasileiro”:
alguns apontamentos
Este capítulo propõe uma reflexão histórica e teórico-metodológica a respeito da
relação entre a história do conceito de povo e a questão da temporalidade histórica.
Pretendemos demonstrar que as transformações histórico-semânticas do conceito de
povo possuem estreita relação com o processo de historicização da linguagem política
moderna. Primeiramente, realizaremos uma breve análise de alguns autores
fundamentais do pensamento social brasileiro como forma de entender alguns
fundamentos da construção semântica do povo que se tornou usual e hegemônica no
Brasil; em seguida, discorreremos sobre o significado do caráter essencialmente
ambíguo e fugidio do conceito de povo no mundo moderno e a ligação deste fenômeno
com a própria elevação da política a um âmbito central da vida e a inserção do povo
como conceito-chave da política moderna. Num terceiro momento, aprofundaremos a
discussão sobre o que entendemos como fenômeno da historicização das linguagens
política moderna e o papel central que tomou o conceito de povo neste processo. Em
seguida, trataremos especificamente da abordagem proposta por Reinhart Koselleck
para a história dos conceitos políticos, uma das grandes referenciais teórico-
metodológicos deste trabalho.
No Brasil, poucos são os conceitos políticos tão carregados de sentidos como o
de povo. Ele parece estar sempre em questão, tendo sido objeto de muitas reflexões no
campo intelectual e acadêmico e no plano do senso comum. Um significado chama a
atenção: a vinculação cotidiana do conceito de povo à realidade geográfica, étnica e
cultural parece ser estruturante. No Brasil, é comum a identificação entre povo e nação,
esta entendida de modo cultural, étnico e mesmo natural. Ao se falar de povo, referimo-
21
nos primeiramente a raça, ao clima e aos elementos da nossa natureza, à música, à dança
e às artes. Na usual e propagandista imagem do Brasil como “terra da mulata, das
praias e das florestas exuberantes” fica claro o sentimento de nacionalidade definido
quase exclusivamente pelas noções de meio natural e raça. Na fala da população, nos
meios de comunicação de massa, a natureza é constantemente louvada como “a mais
bela do mundo”e a mulata é tida como “patrimônio nacional”.
Esta tendência foi percebida, por exemplo, por Marilena Chauí quando tratou da
“representação homogênea que os brasileiros possuem de seu país e de si mesmos”, o
que permite “crer na unidade, na identidade e na indivisibilidade da nação e do povo
brasileiro” 1. Nesta construção identitária, o Brasil é, sobretudo, um “dom de Deus e da
Natureza” e não da vontade dos homens que o compõem, o que confere ao nosso
sentimento de nacionalidade um caráter pouco político. Na mesma linha, José Murilo de
Carvalho aponta o “motivo edênico” que permeia nosso imaginário sobre a nação,
fenômeno que tem como contraparte a visão negativa do povo como agente político. 2
A significação que paira no senso comum percebe, portanto, o povo-nação no
plano da natureza, distante da idéia de cidadania e da participação política. Esta
tendência aparece também em obras clássicas que procuraram entender a “substância”
ou o “caráter” do povo no Brasil. Este é o problema nodal nas obras de um conjunto de
autores que nas ciências sociais forma o cânon do “pensamento político e social
brasileiro”. Trata-se de autores que desde meados do século XIX, mas especialmente no
século XX, produziram grandes narrativas interpretativas da historia e da sociedade
brasileira, obras que, muitas vezes, transcenderam o debate intelectual, criando
consensos em torno de políticas de estado e movimentos amplos de opinião pública.
Este conjunto de autores se dedicou a procurar as raízes, o elemento primordial
do povo-nação no Brasil através da analise histórica e sociológica. Esta busca pela
substância do povo brasileiro levou em grande medida à percepção da “ausência de
povo”, no sentido da falta de um povo cidadão apto à participação política. Esta idéia da
ausência já havia perpassado os escritos de viajantes estrangeiros como o francês
Auguste de Saint-Hilaire, que esteve terras brasileiras na primeira metade do século
__________ 1 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 7. 2 CARVALHO, José Murilo de. O Motivo edênico no imaginário social brasileiro. Revista brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 13, n. 38, Out. 1998.
22
XIX. Segundo suas primeiras impressões “havia um país chamado Brasil, mas
absolutamente não havia brasileiros”. No mesmo espírito, Gustave Aimard afirmou em
1892 que “no Brasil não há um povo” 3. Assim como estes viajantes, um importante
grupo de interpretes do Brasil produziu em diferentes contextos diagnósticos da
ausência do povo, no sentido de um conjunto de cidadãos organizados e conscientes de
seu papel político, de uma opinião pública esclarecida e virtuosa, e apostaram que no
Brasil somente o Estado poderia ser o agente das transformações de que o país
necessitava. Em outras palavras, por sua formação racial, cultural e histórica, o Brasil
não possuía um povo-nação com índole condizente com a de povo-cidadão. Nas
próximas páginas, percorreremos alguns importantes intelectuais do século XX que
desenvolveram tal tópico.
Já nos primórdios do século XX, Euclides da Cunha (1866-1909) apontou,
referindo-se à nossa independência, que “somos o único caso histórico de uma
nacionalidade feita por uma teoria política” 4, isto é, que nos tornamos um estado
nacional sem que tivéssemos uma sociedade, um povo-nação constituído racial e
culturalmente, que pudesse nele se refletir. O Brasil estava destinado a produzir no
futuro um tipo antropológico nacional singular, o que já estaria ocorrendo nas
populações esquecidas dos sertões. Mas, naquele momento, para o autor, o estado de
nosso povo e de suas tradições era ainda muito incipiente, de modo que a intervenção
firme do Estado sempre fora muito bem vinda para evitar um liberalismo radical e sem
base social.
Na mesma linha, Alberto Torres (1865-1917) em 1902 apontou que “este Estado
não é uma nacionalidade, esse país não é uma sociedade, essa gente não é um povo”. O
Brasil teria uma unidade política e um patriotismo fortes, mas de viés “lírico e infantil,
sem a lucidez da razão e a energia do caráter” 5, isto é desprovido da comunidade de
relações e de interesses morais, sociais e econômicos, para além de um mero laço
afetivo. Tornava premente, para o autor desenvolver o civismo e a o “regime de
opinião” em nosso povo, tarefa que somente a força do Estado poderia fazer, auxiliada
__________ 3 AIRMARD, Gustave apud SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. Romantismo Tropical. A estetização da Política e da cidadania numa instituição imperial brasileira. Penélope, Lisboa. n. 23, p.109, 2000. 4 CUNHA, Euclides da. Da independência à Republica. In. ______. À Margem da História. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 166. 5 TORRES, Alberto. A organização nacional. Brasília: Editora UNB, 1982. p 68.
23
por uma intelectualidade voltada para a observação e a solução dos problemas
nacionais.
Capistrano de Abreu (1853-1927), em seu Capítulos de História colonial
publicado em 1907, viu nos primórdios da formação brasileira uma pura falta e
ausência, idéia que fortaleceu a concepção da falta de povo no Brasil. Em seu
diagnóstico, não havia uma sociedade, um povo realmente constituído, com um sentido
de pública e de consciência nacional, mesmo que rudimentar. Referindo-se aos três
séculos de colonização portuguesa, observou seu legado não foi nada além de
cinco grupos etnográficos, ligados pela comunidade ativa da língua e passiva da religião, moldados pelas condições ambientes de cinco regiões diversas, tendo pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou desprezo, não se prezando, porém uns aos outros de modo particular 6.
É com Oliveira Vianna (1883-1951) que temos uma das maiores expressões
desta interpretação da ausência do povo no Brasil e da necessidade de sua construção
pela ação política de uma elite. Sua maior contribuição, a nosso ver, foi a idéia de que a
ausência de um povo no Brasil pode ser entendida pela “função simplificadora do
domínio rural” 7, impedindo que os que se desenvolvessem laços de solidariedade fortes
e duradouros. O grande latifúndio monocultor teria excessiva autonomia e
independência, o que impediu a formação de uma burguesia comercial, industrial e uma
vida urbana. Freou a formação de uma classe média de pequenos proprietários
poderosos e mesmo uma classe de trabalhadores livres do campo com alguma
autonomia, de modo que estes permaneceram fragilizados ou dependentes dos grandes
senhores. A singularidade do Brasil viria, portanto, do fato de ter como célula de sua
formação o grande domínio rural, uma realidade estranha, por exemplo, à sociedade
anglo-saxã. A existência de um povo dependia, para Vianna, da existência de
verdadeiros laços sociais entre os segmentos da sociedade, o que só pode ocorrer
plenamente com fundamento na cooperação econômica. Sendo esta muito tênue, o tipo
de solidariedade que uniu nossa população foi a “patronagem política”, isto é, a
solidariedade entre as classes inferiores e a nobreza rural. Trata-se de um tipo de
solidariedade afetiva, familiar, produto do medo e da impulsividade, e não uma
__________ 6 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. 1500-1800. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Publifolha, 2000. p. 242. 7 VIANNA, Oliveira. Populações Meridionais do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1952.
24
solidariedade fundada na necessidade objetiva e material. Um dos produtos históricos
importantes a grande propriedade rural foi a mestiçagem entre brancos, negros e índios.
Vianna sugeriu, entretanto, que por mecanismos de seleção étnica e por “salutares
preconceitos”, uma aristocracia ariana permaneceu pura, preservando os bons valores
frente à mestiçaria corrompida. Esta aristocracia formou o centro do poder político-
estatal, destinado a conduzir de cima e reformar esta sociedade “sem povo”.
Em 1939, Nestor Duarte (1902-1970) também diagnosticou em nossa história a
deficiência na formação de um povo e a conseqüente tendência em nossa vida política a
construir “com a lei antes dos fatos”. Para o autor, “ante a realidade do Brasil, o papel
do Estado não é refletir e conservar tal ou qual ambiência, mas assumir a função de
reformar, criar, educar um povo”. 8 Duarte, entretanto, não conclui pela necessidade de
um Estado autoritário com a maioria dos autores. Ao contrário, para ele era a vida
democrática que poderia transformar a apatia política em que vive nossa população.
Azevedo Amaral (1889-1950) também se debruçou sobre a questão da relação
entre as “formas orgânicas de sociedade” e a “organização política”. O autor apontou a
artificialidade do mundo político, marcado pela importação de modelos estrangeiros e
sua aplicação a um povo inadequado a recebê-los. Durante toda sua história como país
independente, os genuínos representantes da sociedade, os produtores rurais, foram
reiteradamente afastados do poder político. No lugar destes, “uma classe parasitária” e
“inadequada à política” de mestiços tomaram a atividade publica. A República foi um
momento em que os grupos econômicos assumiram sua devida função dirigentes.
Porém, mais uma vez houve contradição com a realidade nacional: a constituição liberal
de 1891 fora excessivamente democrática, incondizente o estado do povo que exigia,
regimes ditatoriais como “imperativos de salvação publica” de “massas falidas”.9
Na década de 1930, Francisco Campos (1891-1968) chegou ao ápice a tese que
atribuía ao Estado a força propulsora da mudança frente ao povo incapaz, inerte ou
inexistente chegou ao ápice. A questão da relação entre o caráter do povo brasileiro e a
institucionalidade política perdeu a importância, embora em alguns momentos, o autor
declare que o Estado Novo de 1937 é “a forma de governo ajustada à nossa índole, e em
__________ 8 DUARTE, Nestor. A ordem privada e a organização política nacional. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. p. 22 9 AMARAL, Azevedo. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio de Janeiro: José Olympio,1938.
25
continuidade com as nossas tradições” 10. A política foi vista como o lugar da pura
dominação e não da projeção do que a sociedade é objetivamente. Era o domínio da
pura irracionalidade, da mobilização da massa pela personalidade do líder e pelo mito
da nação. O povo em Francisco Campos não possuía qualquer singularidade positiva ou
negativa que deva ser analisada, oriunda de sua historia ou composição racial: era
apenas “massa” a ser governada.
Com a criação da USP em 183411 cresceu a influencia do marxismo no meio
intelectual nacional. O Seminário Marx (1958-1964) e influencia pessoal de Caio Prado
Júnior (1907-1990) contribuíram fortemente para isso. Caio Prado, em seu Evolução
Política do Brasil de 1933, procurou se valer de um método novo, o materialismo
histórico, com o qual denunciou da história escrita apenas do ponto de vista das elites,
valorizando os conflitos socioeconômicos. Sua análise procurou investigar os
mecanismos que punham a nossa economia numa situação de dependência direta de
movimentos comandados por forças instaladas no exterior. A colonização portuguesa
fora regida por interesses puramente comerciais, no contexto do capitalismo nascente.
Porém, tal renovação intelectual mudou pouco o diagnóstico da ausência o povo no
Brasil. Referindo-se à vida social e política colonial, o autor foi peremptório:
É isto mesmo que o observador encontrará de essencial na sociedade da colônia: de um lado uma organização social estéril no que diz respeito a relações sociais de nível superior; doutro um estado, ou antes um processo de desagregação mais ou menos adiantado, conforme o caso, resultante ou reflexo do primeiro, e que se alastra progressivamente” 12
Numa palavra e para sintetizar o panorama da sociedade colonial: incoerência e instabilidade no povoamento; pobreza e miséria na economia; dissolução nos costumes; inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos.13
De diferentes maneiras, os autores acima formaram uma tradição de pensamento
político e social que apontou a ausência na formação histórica brasileira de um povo-
cidadão plenamente constituído e a conseqüente necessidade no Brasil de uma ação
estatal decisiva que pudesse dirigir e transformar uma sociedade frágil, um povo
inexistente, incapaz para o mundo da política moderna. Tais idéias criaram uma __________ 10 CAMPOS, Francisco. O estado nacional. Sua estrutura. Seu conteúdo ideológico. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1940. p. 101. 11 São Paulo já era um grande centro econômico e disputava hegemonia intelectual com o RJ. O seu departamento de história foi inicialmente cosmopolita, graças a professores franceses convidados (Braudel). Mas a segunda geração voltou-se para temas brasileiros. A USP cria seu doutorado em 1971, 15 anos antes que outras, tendo monopólio da formação de doutores. 12 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1992.p 344. 13 Ibidem. p. 356.
13
INTRODUÇÃO
Povo é um conceito de significado fluido e ambíguo, um conhecido exemplo de
polissemia na linguagem 1. Esteio do mundo moderno, o conceito de povo esteve no
centro de suas grandes invenções políticas, a cidadania, a democracia e a nacionalidade,
sendo, portanto, de uso abundante e plural, tanto na linguagem cotidiana, quanto nos
meios científicos e intelectuais. Pode significar a parte e a totalidade de uma população,
tomar acepções positivas e negativas, ser glorificado, depreciado ou mesmo temido. É
usado como justificativa para quase tudo na vida política e social, pois é dele que
emanam, ao menos em teoria, a legitimidade dos governos, assim como os problemas
sociais e econômicos. É o ente a que se dirigem políticas públicas, assim como os
chamados à ação política e à revolução. O povo é considerado responsável pelos
sucessos e fracassos de uma sociedade e é em nome dele que as diversas vozes se
elevam na cena pública. O povo é sempre uma questão a ser resolvida, uma problema a
ser solucionado, uma vez que defini-lo e encontrar os modos de sua efetivação político-
institucional é sempre um grande desafio.
Como penetrar e interpretar essa massa semântica tão vasta e diversa? É preciso
escolher o que e como observar, isto é, um objeto e uma concepção teórico-
metodológica que possa nos amparar na busca pelo sentido em meio à aparente
desordem da linguagem cotidiana. Neste emaranhado de significados e usos duas linhas
fundamentais parecem se delinear: por um lado o conceito se refere a realidades
históricas, sociais, culturais e econômicas, o que se verifica na fala cotidiana em
expressões como “índole do povo”, “cultura do povo”, “caráter do povo” e “história do
povo”, “situação do povo”. Neste caso, pode também assumir características negativas,
como nas expressões “zé-povinho”, “povão”, sendo assim associado a uma parte
considerada inferior, pela pobreza ou nível educacional e cultural: a chamada plebe,
populacho, malta ou canalha. Por outro lado, o conceito pode aparecer como um sujeito
__________ 1 RIVAS, Xosé Luiz Barreiro. In: MARQUES, António; AURÉLIO, Diogo Pires (Orgs.). Dicionário de Filosofia Moral e Política. Verbete “povo”. Lisboa: Instituto de Filosofia da Linguagem, Universidade de Lisboa,2002. Disponível em <www.ifl.pt>. Acesso em: (08/10/2012).
14
de vontade e ação política legítima. Neste caso, o povo assume toda a sua glória, por
exemplo, em expressões como “vontade do povo”, a “soberania do povo”, “o povo fez”,
“o povo unido jamais será vencido”.
São duas vertentes semânticas em constante conflito: se por um lado, o povo possui um
significado essencialmente político e abstrato, como entidade que detém o poder de
decisão e ação políticas, é ao mesmo tempo o portador de características sociais e
culturais empiricamente observáveis a que se atribui conseqüências – positivas ou
negativas – para a execução pratica de sua vontade no mundo da política. O verbete
“Povo (Política)” no Dicionário de Ciências Sociais publicado pela Fundação Getúlio
Vargas em 1986 não deixou de apontar a presença da contradição entre uma “acepção
sociológica” e outra “político-constitucional” do termo povo. Na primeira, são
utilizados critérios de natureza quantitativa, étnica, cultural, lingüística, religiosa e
econômica para conceituar o povo através de um exame das “condições reais em que se
apresentam os grupamentos humanos”. Na segunda, o povo é percebido como
componente do sistema político e “é flagrante a insuficiência da observação de suas
condições reais”, isto é, físicas, socioculturais e espirituais. Trata-se neste caso de
construções abstratas, uma sistematização de “certos elementos extraídos do real, e a
partir do qual se elabora uma noção de povo”. Esta dubiedade se faz presente, de acordo
com o autor, em diversos contextos históricos, desde Antiguidade Clássica, passando
pela Ilustração francesa, até os dias de hoje.2
É o percurso histórico desta contradição entre as duas construções semânticas, o
conceito de povo como princípio abstrato e político e como realidade histórica social,
cultural, econômica e empiricamente observável, o que me interessa abordar nesta
investigação sobre a história do conceito de povo no Brasil entre as últimas décadas do
século XVIII e últimas décadas do século XIX. Acredito que na disputa político-social
deste período, o conceito político e abstrato de povo, cujas origens remontam ao Antigo
Regime, tendeu a ser vencido, ou subsumido pela vertente histórico-sociológica,
fenômeno que não se restringiu ao caso brasileiro, mas diz respeito à linguagem política
do período. É bom salientar que não se trata de um processo unívoco e linear, mas, na __________ 2 DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Fundação Getulio Vargas. Instituto de Documentação; Benedicto Silva, coordenação geral; Antonio Garcia de Miranda Netto. et al. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1986.
15
verdade, de uma intensa luta política, e é justamente o percurso desta disputa que iremos
investigar.
Acreditamos que tal trajetória de disputa semântico-política pode ser entendida por
meio de uma macro-intepretação que aponta para a historicização da linguagem política
como marca do mundo moderno, um conjunto de fenômenos que tiveram seus primeiros
contornos delineados na Europa nas últimas décadas do século XVIII. Chamamos de
historicização dois fenômenos correlatos: primeiramente, a inserção dos conceitos em
concepções processuais do tempo, ou, em outros termos, a introjeção da historicidade
no interior dos conceitos políticos, fenômeno que lhes confere uma profundidade
histórico temporal que não possuíam quando parte de concepções estáticas do tempo
característicos de formas diferentes de conceber e vivenciar a temporalidade. A
historicização como marca do pensamento moderno foi uma proposição comum da
filosofia, assim como da historiografia alemãs do século XX, que tiveram em nomes
como Reinhart Koselleck, Hans Blumenberg, Hanah Arendt, Walter Benjamin, alguns
exemplos de peso.
Também definimos como historicização dos conceitos políticos seu contingenciamento,
isto é, o fato de seus significados passarem a ser extraídos de percepções, análises,
diagnósticos e julgamentos da realidade presente, sejam quais forem os pontos de vista
que os presidem, deixando de se referir a teorias estáticas, tradições e exemplos
históricos edificantes e norteadores da conduta. Podemos chamar este fenômeno,
correndo o risco do anacronismo, de “realismo sociológico”. Um autor que chamou a
atenção para este fenômeno importante no campo do pensamento e das linguagens
políticas foi Marcel Gauchet, que em seus estudos sobre Alex de Tocqueville, Guizot e
Benjamin Constant, apontou “abertura histórica” destes autores, no sentido de que
procuraram extrair suas interpretações propostas normativas para a política de análises
da história, fugindo de teorias abstratas 3. Estes dois processos que compõem o que
definimos como historicização amplificados no decorrer da segunda metade do século
XVIII e especialmente no século XIX, afastaram cada vez mais a conceitualidade
política de repertórios semânticos estáticos e a-históricos, trazendo-os para o domínio da
temporalidade histórica linear e futurista. __________ 3 GAUCHET, Marcel. La Condition Politique. Paris: Gallimard, 2005.
16
Acredito que no Brasil, ao longo do processo de construção e consolidação das idéias e
sentimentos nacionais, que se desenvolveu ao longo do século XIX, o princípio
histórico-sociológico do povo se tornou especialmente estruturante da forma como os
brasileiros entendem a si mesmos, sobrepujando o sentido ligado à ação, à participação
nas decisões políticas e à revolução. A auto-percepção dos brasileiros como povo-nação
se funda ainda hoje em idéias e conceitos ligados à natureza, como raça e meio natural,
à elementos específicos da cultura, como a musica, o folclore, a dança ou à sentimentos
e “índoles”, como a emotividade, alegria e a espontaneidade, o desapego às normas e
regras muito rígidas e impessoais. A cristalização deste significado essencialmente
sócio-cultural do povo no Brasil foi fruto de uma história, que se confunde com a
própria construção do Estado-Nacional e dessa sociedade complexa que chamamos
“Brasil”. Esta história pode ser entendida como parte de um complexo e conflituoso
processo de historicização da linguagem política, que no Brasil assumiu características
particulares.
Procurarei abordar o conceito de povo a partir de seus usos na linguagem política
cotidiana pelos diversos grupos políticos e sociais dos contextos analisados, utilizando-
me de materiais diversos, como debates parlamentares e jornais, sem esquecer os
grandes textos doutrinários, procurando mapear as falas dos principais grupos políticos
articuladores dos principais processos de debates e conflitos do período tratado. Não fiz
uso de um corpus documental homogêneo, selecionando o material a ser analisado de
acordo com as especificidades de cada momento histórico abrangido na pesquisa, que
faziam de um ou outro tipo o lugar mais apropriado para observar os usos e significados
dos conceitos. Procuro fugir à abordagem que caracteriza à tradição do pensamento
social brasileiro que procurou uma substância ou caráter e peculiaridade ao povo
característicos das construções discursivas do caráter nacional: o que me interessa são
os significados e usos histórica e empiricamente construídos pelos atores políticos em
cada momento histórico e o movimento diacrônico de sua transformação.
Por escolha metodológica, privilegiamos a linguagem política mais direta, isto é,
tratamos pouco da historiografia e da literatura, embora não deixemos de apontar sua
importância e lugar no debate político. A literatura e a historiografia foram ao lócus
privilegiado em que a historiografia intelectual, das idéias e das linguagens políticas
17
procurou perceber a transformação dos conceitos de povo e de nação. De fato, a
literatura romântica de meados do século e literatura naturalista das últimas décadas,
assim como a historiografia oitocentista, longe de serem movimentos “intelectuais”
apenas, tiveram grande papel na reformulação da linguagem política do período em
questão. Porém, optamos por deixar esse material em segundo plano, embora
reconheçamos a pertinência de sua análise para nossos propósitos de pesquisa.
Estrutura de capítulos
Optamos por organizar a tese cronologicamente, iniciando nas primeiras décadas do
século XVIII e finalizando por volta de 1880. Entretanto, essa periodização não
pretende ser excessivamente rígida. Quando necessário para o esclarecimento de algum
ponto de nossa investigação, poderemos recorrer a textos e documentos produzidos um
pouco antes ou um pouco depois destes limites. Para facilitar a análise de um período
tão vasto da história do Brasil, organizamos os capítulos em “subcontextos”, que,
acreditamos, expressam as principais fases do debate político e da transformação
conceitual que pretendemos por em relevo. Trata-se de unidades destacadas da grande
diacronia proposta, onde poderemos realçar o debate político sincrônico de momentos-
chave específicos. Não pretendemos cobrir todos os anos desta história. Não hesitamos
em deixar espaços em branco, situações e momentos históricos não tratados. Porém,
acreditamos que a análise dos quatro períodos eleitos para configurar os capítulos, e os
recortes temáticos e documentais feitos para cada um, contém os elementos
fundamentais para nossa investigação. Da mesma forma que em relação ao período
geral do trabalho, no que diz respeito aos “sub-contextos”, não os tratamos como
unidades estanques, de modo que muitas referências podem extrapolar seu limite de
datação.
No capítulo I, definimos teórica e historicamente o que entendemos como o processo de
historicização dos conceitos políticos e sua intima ligação com o conceito de povo no
Brasil e na cultura política européia moderna. Partimos de uma visão geral da
construção conceitual realizada por diversos autores do “pensamento social brasileiro”
18
como forma de mapear um dos grandes lócus em que se edificou uma determinada
concepção de povo-nação brasileiro. Em seguida, discorremos sobre a centralidade
tomada pelo conceito de povo em fins do século XVIII, tomando o exemplo da França
revolucionária, e a conseqüente polissemia de que foi tomado. Através de uma breve
exposição, indicamos o que entendemos como o processo de formação da consciência
histórica moderna e suas conseqüências para a linguagem política e, em especial, para o
conceito em questão. Finalizamos com uma exposição da metodologia da história dos
conceitos desenvolvida pelo historiador Reinhart Koselleck, uma das grandes
inspirações neste trabalho.
O segundo capítulo parte de meados do século XVIII, finalizando por volta de em
1817. O enfoque procura revelar o lugar do conceito de povo nas bases da tradição
política luso-brasileira, no nível doutrinário e na prática política, chegando até seus
primeiros grandes abalos ocasionados pela política do despotismo ilustrado
pombalino e mariano, e pelos mais vultosos movimentos contestadores da ordem
imperial, especialmente as conjurações de fins do século XVIII e a revolução de
1817 em Pernambuco. Uma observação metodológica se faz necessária: como
estamos tratando do Antigo Regime, a dimensão do debate político direto é
naturalmente mitigada pela carência dos meios necessários a formação de uma cena
pública, como o desenvolvimento da imprensa e de uma relativa liberdade de
expressão. Logo, tivemos que recorrer para a escrita deste capítulo, muito mais que
nos outros, à letra da doutrina e a uma pluralidade de fontes, como memórias, atas e
petições de câmaras municipais, além de utilizar maciçamente a bibliografia
secundária especializada. Nosso intuito é revelar os primeiros sinais da
temporalização do conceito ocorrida em meio à estabilidade semântica própria ao
antigo Regime.
No capítulo seguinte, abordamos a utilização do conceito no debate político
impulsionado pela Revolução Constitucionalista de 1820 em Portugal, passando
pela Independência política e a Assmbléia Constituinte de 1823. É o momento em
que se confrontam a herança do reformismo ilustrado luso-brasileiro veiculado pelo
grupo “coimbrão” e a consciência mais e radical e revolucionária do monarquismo
constitucional e do republicanismo expressa pela elite “braziliense”. Este contexto
foi comumente chamado por diversos autores, tanto portugueses, como brasileiros,
19
de “vintismo”, momento de difusão de uma nova e específica cultura política dos
dois lados do atlântico.
No quarto capitulo, partimos da Revolução da Abdicação no Sete de Abril de 1831,
finalizando com a Maioridade do imperador D. Pedro II. É neste período que o
projeto liberal das elites brasileiras sai vencedor, revelando seus impasses e limites
quando confrontado a numa sociedade escravista marcada pela hierarquia social e
racial. É o momento em que se forjam as bases da tradição política imperial e a
formação do consenso no sentido da estabilização da unidade política e social frente
à “ameaça” da quebra da ordem pelas grandes rebeliões populares e de elites locais.
Veremos, como, ao longo desta década, a historicização do conceito de povo se
torna mais contundente, ao mesmo tempo em que se constrói e fortalece o conceito
de nação.
O quinto e ultimo capítulo se dedica a analise das idéias da chamada “geração de
1870”, movimento de crítica às tradições intelectuais e à ordem política Imperial. É
o momento da introdução do cientificismo evolucionista e racista europeu, e da
construção dos pilares das interpretações do Brasil que fizeram história ao longo do
século XX no pensamento social brasileiro. Sem a pretensão de esgotar a analise
produção intelectual da geração, ou mesmo traçar em detalhe sua estruturação
sociológica, o que já foi realizado de forma cabal por Ângela Alonso em recente
trabalho4, procuramos traçar uma visão geral de suas principais linhagens
intelectuais através de exemplos emblemáticos. É dos anos 1870 em diante que a
linguagem política viu consolidado e ampliado o processo de historicização já
bastante visível no final dos anos 1830, especialmente com a introdução do tópico
evolucionista, biológico e sociológico, presente na consciência cientificista então
desenvolvida, que tomou e transformou tanto o pensamento liberal quanto o
conservadorismo imperial.
__________ 4 ALONSO, Ângela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002, 392p.
20
CAPÍTULO 1
POVO, CONCEITOS POLITICOS E TEMPORALIDADE HISTÓRICA:
ALGUNS REFERENCIAIS HISTÓRICOS E ANALÍTICOS
1.1 O povo-nação na tradição do “pensamento político e social brasileiro”:
alguns apontamentos
Este capítulo propõe uma reflexão histórica e teórico-metodológica a respeito da
relação entre a história do conceito de povo e a questão da temporalidade histórica.
Pretendemos demonstrar que as transformações histórico-semânticas do conceito de
povo possuem estreita relação com o processo de historicização da linguagem política
moderna. Primeiramente, realizaremos uma breve análise de alguns autores
fundamentais do pensamento social brasileiro como forma de entender alguns
fundamentos da construção semântica do povo que se tornou usual e hegemônica no
Brasil; em seguida, discorreremos sobre o significado do caráter essencialmente
ambíguo e fugidio do conceito de povo no mundo moderno e a ligação deste fenômeno
com a própria elevação da política a um âmbito central da vida e a inserção do povo
como conceito-chave da política moderna. Num terceiro momento, aprofundaremos a
discussão sobre o que entendemos como fenômeno da historicização das linguagens
política moderna e o papel central que tomou o conceito de povo neste processo. Em
seguida, trataremos especificamente da abordagem proposta por Reinhart Koselleck
para a história dos conceitos políticos, uma das grandes referenciais teórico-
metodológicos deste trabalho.
No Brasil, poucos são os conceitos políticos tão carregados de sentidos como o
de povo. Ele parece estar sempre em questão, tendo sido objeto de muitas reflexões no
campo intelectual e acadêmico e no plano do senso comum. Um significado chama a
atenção: a vinculação cotidiana do conceito de povo à realidade geográfica, étnica e
cultural parece ser estruturante. No Brasil, é comum a identificação entre povo e nação,
esta entendida de modo cultural, étnico e mesmo natural. Ao se falar de povo, referimo-
21
nos primeiramente a raça, ao clima e aos elementos da nossa natureza, à música, à dança
e às artes. Na usual e propagandista imagem do Brasil como “terra da mulata, das
praias e das florestas exuberantes” fica claro o sentimento de nacionalidade definido
quase exclusivamente pelas noções de meio natural e raça. Na fala da população, nos
meios de comunicação de massa, a natureza é constantemente louvada como “a mais
bela do mundo”e a mulata é tida como “patrimônio nacional”.
Esta tendência foi percebida, por exemplo, por Marilena Chauí quando tratou da
“representação homogênea que os brasileiros possuem de seu país e de si mesmos”, o
que permite “crer na unidade, na identidade e na indivisibilidade da nação e do povo
brasileiro” 1. Nesta construção identitária, o Brasil é, sobretudo, um “dom de Deus e da
Natureza” e não da vontade dos homens que o compõem, o que confere ao nosso
sentimento de nacionalidade um caráter pouco político. Na mesma linha, José Murilo de
Carvalho aponta o “motivo edênico” que permeia nosso imaginário sobre a nação,
fenômeno que tem como contraparte a visão negativa do povo como agente político. 2
A significação que paira no senso comum percebe, portanto, o povo-nação no
plano da natureza, distante da idéia de cidadania e da participação política. Esta
tendência aparece também em obras clássicas que procuraram entender a “substância”
ou o “caráter” do povo no Brasil. Este é o problema nodal nas obras de um conjunto de
autores que nas ciências sociais forma o cânon do “pensamento político e social
brasileiro”. Trata-se de autores que desde meados do século XIX, mas especialmente no
século XX, produziram grandes narrativas interpretativas da historia e da sociedade
brasileira, obras que, muitas vezes, transcenderam o debate intelectual, criando
consensos em torno de políticas de estado e movimentos amplos de opinião pública.
Este conjunto de autores se dedicou a procurar as raízes, o elemento primordial
do povo-nação no Brasil através da analise histórica e sociológica. Esta busca pela
substância do povo brasileiro levou em grande medida à percepção da “ausência de
povo”, no sentido da falta de um povo cidadão apto à participação política. Esta idéia da
ausência já havia perpassado os escritos de viajantes estrangeiros como o francês
Auguste de Saint-Hilaire, que esteve terras brasileiras na primeira metade do século
__________ 1 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 7. 2 CARVALHO, José Murilo de. O Motivo edênico no imaginário social brasileiro. Revista brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 13, n. 38, Out. 1998.
22
XIX. Segundo suas primeiras impressões “havia um país chamado Brasil, mas
absolutamente não havia brasileiros”. No mesmo espírito, Gustave Aimard afirmou em
1892 que “no Brasil não há um povo” 3. Assim como estes viajantes, um importante
grupo de interpretes do Brasil produziu em diferentes contextos diagnósticos da
ausência do povo, no sentido de um conjunto de cidadãos organizados e conscientes de
seu papel político, de uma opinião pública esclarecida e virtuosa, e apostaram que no
Brasil somente o Estado poderia ser o agente das transformações de que o país
necessitava. Em outras palavras, por sua formação racial, cultural e histórica, o Brasil
não possuía um povo-nação com índole condizente com a de povo-cidadão. Nas
próximas páginas, percorreremos alguns importantes intelectuais do século XX que
desenvolveram tal tópico.
Já nos primórdios do século XX, Euclides da Cunha (1866-1909) apontou,
referindo-se à nossa independência, que “somos o único caso histórico de uma
nacionalidade feita por uma teoria política” 4, isto é, que nos tornamos um estado
nacional sem que tivéssemos uma sociedade, um povo-nação constituído racial e
culturalmente, que pudesse nele se refletir. O Brasil estava destinado a produzir no
futuro um tipo antropológico nacional singular, o que já estaria ocorrendo nas
populações esquecidas dos sertões. Mas, naquele momento, para o autor, o estado de
nosso povo e de suas tradições era ainda muito incipiente, de modo que a intervenção
firme do Estado sempre fora muito bem vinda para evitar um liberalismo radical e sem
base social.
Na mesma linha, Alberto Torres (1865-1917) em 1902 apontou que “este Estado
não é uma nacionalidade, esse país não é uma sociedade, essa gente não é um povo”. O
Brasil teria uma unidade política e um patriotismo fortes, mas de viés “lírico e infantil,
sem a lucidez da razão e a energia do caráter” 5, isto é desprovido da comunidade de
relações e de interesses morais, sociais e econômicos, para além de um mero laço
afetivo. Tornava premente, para o autor desenvolver o civismo e a o “regime de
opinião” em nosso povo, tarefa que somente a força do Estado poderia fazer, auxiliada
__________ 3 AIRMARD, Gustave apud SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. Romantismo Tropical. A estetização da Política e da cidadania numa instituição imperial brasileira. Penélope, Lisboa. n. 23, p.109, 2000. 4 CUNHA, Euclides da. Da independência à Republica. In. ______. À Margem da História. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 166. 5 TORRES, Alberto. A organização nacional. Brasília: Editora UNB, 1982. p 68.
23
por uma intelectualidade voltada para a observação e a solução dos problemas
nacionais.
Capistrano de Abreu (1853-1927), em seu Capítulos de História colonial
publicado em 1907, viu nos primórdios da formação brasileira uma pura falta e
ausência, idéia que fortaleceu a concepção da falta de povo no Brasil. Em seu
diagnóstico, não havia uma sociedade, um povo realmente constituído, com um sentido
de pública e de consciência nacional, mesmo que rudimentar. Referindo-se aos três
séculos de colonização portuguesa, observou seu legado não foi nada além de
cinco grupos etnográficos, ligados pela comunidade ativa da língua e passiva da religião, moldados pelas condições ambientes de cinco regiões diversas, tendo pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou desprezo, não se prezando, porém uns aos outros de modo particular 6.
É com Oliveira Vianna (1883-1951) que temos uma das maiores expressões
desta interpretação da ausência do povo no Brasil e da necessidade de sua construção
pela ação política de uma elite. Sua maior contribuição, a nosso ver, foi a idéia de que a
ausência de um povo no Brasil pode ser entendida pela “função simplificadora do
domínio rural” 7, impedindo que os que se desenvolvessem laços de solidariedade fortes
e duradouros. O grande latifúndio monocultor teria excessiva autonomia e
independência, o que impediu a formação de uma burguesia comercial, industrial e uma
vida urbana. Freou a formação de uma classe média de pequenos proprietários
poderosos e mesmo uma classe de trabalhadores livres do campo com alguma
autonomia, de modo que estes permaneceram fragilizados ou dependentes dos grandes
senhores. A singularidade do Brasil viria, portanto, do fato de ter como célula de sua
formação o grande domínio rural, uma realidade estranha, por exemplo, à sociedade
anglo-saxã. A existência de um povo dependia, para Vianna, da existência de
verdadeiros laços sociais entre os segmentos da sociedade, o que só pode ocorrer
plenamente com fundamento na cooperação econômica. Sendo esta muito tênue, o tipo
de solidariedade que uniu nossa população foi a “patronagem política”, isto é, a
solidariedade entre as classes inferiores e a nobreza rural. Trata-se de um tipo de
solidariedade afetiva, familiar, produto do medo e da impulsividade, e não uma
__________ 6 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. 1500-1800. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Publifolha, 2000. p. 242. 7 VIANNA, Oliveira. Populações Meridionais do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1952.
24
solidariedade fundada na necessidade objetiva e material. Um dos produtos históricos
importantes a grande propriedade rural foi a mestiçagem entre brancos, negros e índios.
Vianna sugeriu, entretanto, que por mecanismos de seleção étnica e por “salutares
preconceitos”, uma aristocracia ariana permaneceu pura, preservando os bons valores
frente à mestiçaria corrompida. Esta aristocracia formou o centro do poder político-
estatal, destinado a conduzir de cima e reformar esta sociedade “sem povo”.
Em 1939, Nestor Duarte (1902-1970) também diagnosticou em nossa história a
deficiência na formação de um povo e a conseqüente tendência em nossa vida política a
construir “com a lei antes dos fatos”. Para o autor, “ante a realidade do Brasil, o papel
do Estado não é refletir e conservar tal ou qual ambiência, mas assumir a função de
reformar, criar, educar um povo”. 8 Duarte, entretanto, não conclui pela necessidade de
um Estado autoritário com a maioria dos autores. Ao contrário, para ele era a vida
democrática que poderia transformar a apatia política em que vive nossa população.
Azevedo Amaral (1889-1950) também se debruçou sobre a questão da relação
entre as “formas orgânicas de sociedade” e a “organização política”. O autor apontou a
artificialidade do mundo político, marcado pela importação de modelos estrangeiros e
sua aplicação a um povo inadequado a recebê-los. Durante toda sua história como país
independente, os genuínos representantes da sociedade, os produtores rurais, foram
reiteradamente afastados do poder político. No lugar destes, “uma classe parasitária” e
“inadequada à política” de mestiços tomaram a atividade publica. A República foi um
momento em que os grupos econômicos assumiram sua devida função dirigentes.
Porém, mais uma vez houve contradição com a realidade nacional: a constituição liberal
de 1891 fora excessivamente democrática, incondizente o estado do povo que exigia,
regimes ditatoriais como “imperativos de salvação publica” de “massas falidas”.9
Na década de 1930, Francisco Campos (1891-1968) chegou ao ápice a tese que
atribuía ao Estado a força propulsora da mudança frente ao povo incapaz, inerte ou
inexistente chegou ao ápice. A questão da relação entre o caráter do povo brasileiro e a
institucionalidade política perdeu a importância, embora em alguns momentos, o autor
declare que o Estado Novo de 1937 é “a forma de governo ajustada à nossa índole, e em
__________ 8 DUARTE, Nestor. A ordem privada e a organização política nacional. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. p. 22 9 AMARAL, Azevedo. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio de Janeiro: José Olympio,1938.
25
continuidade com as nossas tradições” 10. A política foi vista como o lugar da pura
dominação e não da projeção do que a sociedade é objetivamente. Era o domínio da
pura irracionalidade, da mobilização da massa pela personalidade do líder e pelo mito
da nação. O povo em Francisco Campos não possuía qualquer singularidade positiva ou
negativa que deva ser analisada, oriunda de sua historia ou composição racial: era
apenas “massa” a ser governada.
Com a criação da USP em 183411 cresceu a influencia do marxismo no meio
intelectual nacional. O Seminário Marx (1958-1964) e influencia pessoal de Caio Prado
Júnior (1907-1990) contribuíram fortemente para isso. Caio Prado, em seu Evolução
Política do Brasil de 1933, procurou se valer de um método novo, o materialismo
histórico, com o qual denunciou da história escrita apenas do ponto de vista das elites,
valorizando os conflitos socioeconômicos. Sua análise procurou investigar os
mecanismos que punham a nossa economia numa situação de dependência direta de
movimentos comandados por forças instaladas no exterior. A colonização portuguesa
fora regida por interesses puramente comerciais, no contexto do capitalismo nascente.
Porém, tal renovação intelectual mudou pouco o diagnóstico da ausência o povo no
Brasil. Referindo-se à vida social e política colonial, o autor foi peremptório:
É isto mesmo que o observador encontrará de essencial na sociedade da colônia: de um lado uma organização social estéril no que diz respeito a relações sociais de nível superior; doutro um estado, ou antes um processo de desagregação mais ou menos adiantado, conforme o caso, resultante ou reflexo do primeiro, e que se alastra progressivamente” 12
Numa palavra e para sintetizar o panorama da sociedade colonial: incoerência e instabilidade no povoamento; pobreza e miséria na economia; dissolução nos costumes; inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos.13
De diferentes maneiras, os autores acima formaram uma tradição de pensamento
político e social que apontou a ausência na formação histórica brasileira de um povo-
cidadão plenamente constituído e a conseqüente necessidade no Brasil de uma ação
estatal decisiva que pudesse dirigir e transformar uma sociedade frágil, um povo
inexistente, incapaz para o mundo da política moderna. Tais idéias criaram uma __________ 10 CAMPOS, Francisco. O estado nacional. Sua estrutura. Seu conteúdo ideológico. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1940. p. 101. 11 São Paulo já era um grande centro econômico e disputava hegemonia intelectual com o RJ. O seu departamento de história foi inicialmente cosmopolita, graças a professores franceses convidados (Braudel). Mas a segunda geração voltou-se para temas brasileiros. A USP cria seu doutorado em 1971, 15 anos antes que outras, tendo monopólio da formação de doutores. 12 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1992.p 344. 13 Ibidem. p. 356.
26
determinada imagem da nação e do povo fundada no afastamento do povo em relação à
política. Em certo sentido, esta concepção foi corroborada por outro conjunto de
autores, que também refletiu sobre o povo-nação no Brasil. Estes autores, entretanto,
afastaram suas análises da idéia da pura ausência e perceberam características próprias,
e até mesmo positivas, do povo-nação no Brasil. Porém, como pudemos perceber,
também corroboraram por outros meios uma imagem da nacionalidade no Brasil
constituída pelo mesmo afastamento entre povo e vida política.
Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), por exemplo, procurou pensar a
questão do caráter do povo-nação brasileiro. A “herança ibérica” e o processo de
colonização, foi forjado um tipo de homem e de sociabilidade: o “homem cordial”. A
ruptura da ordem familiar tradicional que ocorreu em outras realidades nacionais com o
surgimento do Estado não teria se operado integralmente no Brasil, de modo que
imperou desde tempos remotos a indistinção entre os domínios publico e privado da
vida, com a supremacia da família patriarcal. Na administração publica isso foi
evidente: houve o predomínio de interesses particulares, dos laços de sangue, “da esfera
dos contatos primários” 14. Na vida íntima das pessoas e nos contatos cotidianos, da
mesma maneira, predominam as manifestações da afetividade doméstica sobre as
normas e a padronização. O homem cordial é o homem ditado pela ética de fundo
emotivo. Em todos os domínios da vida, o homem cordial se apega ao concreto, ao
cotidiano, ao familiar. É avesso à distancia da impessoalidade e ao abstrato, que são as
marcas da vida política cidadã.
Os celebres trabalhos de Gilberto Freyre (1900-1987) compartilharam com
Oliveira Vianna a visão de que nosso povo foi forjado no interior da célula do latifúndio
rural. Porém, seu olhar se direcionou para a dinâmica dos contatos cotidianos entre as
raças negra e branca e, sobretudo, para o fenômeno da mestiçagem. Esta, entretanto, não
é um fruto degenerado de nossa história de fracassos. O mestiço, em Freyre, constitui o
próprio futuro da vida nacional, o traço constitutivo do povo brasileiro. Esta
singularidade brasileira não significa nenhum problema congênito com o nosso povo, ao
contrário, temos todas as possibilidades de progresso. A civilização brasileira revela,
para Freyre, a doçura, a ausência de conflitos raciais e sociais profundos como nos
EUA. Nossas relações sociais revelam contornos democráticos como nenhum outro __________ 14 HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 6.ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1971.
27
lugar no mundo. A mestiçagem é assim vista como o fenômeno étnico cultural definidor
do povo-nação no Brasil 15. A concepção Freyreana sobre o povo-nação no Brasil parte
de uma concepção da dinâmica de transformação social como processo molecular que
ocorre nos interstícios da vida cotidiana. Não é o estado ou a política, mas sim as
relações pessoais, familiares, geracionais, raciais e sexuais o lócus de sua formação.
Todos esses autores, cada um a seu modo, narrativas do caráter nacional, gênero
que se forjou no século XIX concomitantemente à formação dos Estados nacionais
contemporâneos e que teve seu declínio nas últimas décadas do século XX. São
pesquisas que tomam como ponto de partida e de chegada esta grande unidade política,
social e cultural que se chama “nação” ou “povo”. Evidenciam uma totalizante,
holística, isto é, a partir de um olhar que procura compreender “o povo”, “a sociedade
brasileira”, “a história nacional” num sentido amplo. Trata-se, portanto de meta-
narrativas que informaram e ainda informam em grande medida nossa autoconsciência e
nossas perspectivas de análise social. Na perspectiva deste grande leque de autores que
agrupamos sob o rótulo “pensamento social brasileiro”, não temos um povo adequado
para a vida política moderna, para a participação num sistema representativo liberal e
democrático. Logo, um estado forte ou autoritário é em geral conclamado para tutelar o
povo enquanto este segue sua marcha de formação. A ênfase se volta para a existência
do povo, no sentido da composição racial e étnica, e de sua formação cultural. O povo-
nação e o povo-cidadão são significados que se mantém em grande medida afastados: o
povo existe como nacionalidade, como cultura e relações sociais, mas não como
elemento político.
Estes grandes discursos totalizantes e historicizados do povo-nação brasileiro
estão em franco declínio nos dias de hoje. Na últimas décadas do século XX, mudanças
profundas nas ciências históricas e sociais e na sociedade minaram aos poucos esse
pretensão totalizadora da história do Brasil, visão que procurava formular uma imagem
da sociedade, da cultura ou da nação com o intuito claro de transformá-la. Com a
abertura política, surgiu das sombras uma sociedade complexa e multifacetada que
parecia resistir às conceituações totalizantes, como povo e nação. Encerrado o ciclo
militar, houve uma revisão crítica da cultura em geral e das tradições sedimentadas de
__________ 15 FREYRE, Gilberto Freyre. Sobrados e Mucambos. Decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Record, 1996.
28
analises sobre o país. Era imperioso diagnosticar a natureza dos processos ideológico-
culturais que fundamentaram certa visão de sociedade brasileira, de nação, de povo, de
cultura, de republica. As novas gerações de historiadores e cientistas sociais se voltaram
principalmente contra a tradição historiográfica surgida na década de 1930: a tradição
“culturalista” freyreana e as visões marxistas como a de Caio Prado Júnior, que
pareciam condensar os principais aspectos do pensamento social brasileiro. Cada vez
mais se buscou deixar para traz estas tradições que por tanto tempo procuraram ter uma
visão totalizante do Brasil. Optou-se cada vez mais pelo mergulho contextualista em
períodos antes vistos apenas como “etapas” de desenvolvimento. Além disso, houve um
investimento na empiria das fontes contra o que foram considerados “ensaísmos” e
simplificações ideológicas e preconceituosas. O discurso totalizante do nacional
aparecia como forma de encobrimento dos conflitos sociais e de ocultamento da
existência de grupos e comunidades marginalizados camuflados e oprimidos sob a idéia
totalizante de nação e de povo.
A concepção sobre o povo-nação desenvolvida pela tradição do pensamento
social brasileiro é parte da consciência histórico-temporal desenvolvida com a criação
das nações modernas. Um dos principais ideólogos do nacionalismo europeu, o francês
Ernest Renan, escrevendo na década de 1880, formulou a tese segundo a qual a nação é
“uma alma ou princípio espiritual”, forjada por lembranças partilhadas, pela consciência
de ter um passado e um destino em comum, pelo esquecimento dos conflitos entre os
diversos grupos e pelo o desejo de viver juntos. O povo, por sua vez seria o elemento
humano da nação, enquanto a terra a sua base geográfica. Em suas palavras, para a
nação, “a terra fornece o substrato, o campo da luta ou do trabalho; o homem fornece a
alma. O homem é tudo na formação dessa coisa sagrada que chamamos povo” 16. O
povo é, assim, um fundamento da nação e muitas vezes foi considerado simplesmente
como seu sinônimo. Como substrato humano da nação, o povo era o portador de seu
“espírito”, seu caráter fundamental, que se revelava na história: o “Volkgeist”- espírito
do povo – era como uma entidade, anterior e superior aos indivíduos que compunham as
diversas nações.
__________ 16 RENAN, Ernest. O que é uma nação? In. ROUANET, Maria Helena. (org.) Nacionalidade em Questão. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997.
29
O conceito de nação, os nacionalismos e as realidades nacionais são fenômenos
essencialmente modernos 17. Seus primeiros contornos se deram em fins do século
XVIII, com a afirmação de um mundo dividido em corpos autônomos e distintos
chamados “nações”, fonte de todo o poder político, base da formação dos Estados e,
cada uma com seu caráter peculiar. O conceito de nação, como salientaram as analises
de Benedict Anderson 18, já surgiu portanto essencialmente historicizado. Na verdade,
ele surgiu juntamente com o moderno conceito de história. Tratando o caso da
Independência Norte-americana e da Revolução Francesa, Anderson revelou que as
nações subitamente formadas com tais revoluções, tiveram, após o arrefecimento do
fervor revolucionário, inserir os acontecimentos em séries históricas, buscando no
passado antecedentes justificadores das nações, genealogias, a busca de uma tradição e
uma continuidade serial que lhes desse uma legitimidade no presente e no futuro. As
nacionalidades recentemente surgidas precisaram criar uma “profundidade histórica”
para sobreviver uma vez que não tinham apoio a tradição política anterior. Visto que
não era mais possível vivenciar a nação como no momento da ruptura, foi necessária
uma nova forma de consciência temporal que inserisse a formação das nações num
curso do tempo linear do passado ao futuro.
O conceito de povo, uma vez vinculado ao de nação, esteve, portanto, no cerne
da transformação da consciência histórico-temporal iniciado no final do século XVIII.
Foi peça-chave na formação da vida política moderna, da historiografia romântica e
nacionalista do século XIX. Tornou-se, portanto, um conceito essencialmente temporal,
cujo sentido é projetado para o futuro, evidenciando uma constante construção no
porvir. Não é por acaso que recentemente, com a crise do moderno conceito de história,
o conceito de povo foi posto em questão como o fundamento da ação política
contemporânea. Antonio Negri propôs em seu Império que na cena política e social
contemporânea o conceito de povo não é mais adequado para a análise e o mais
operativo para a própria ação política, mas sim o de “multidão”. A centralidade que o
conceito de povo ganhou no mundo moderno é um correlato a emergência do Estado
__________ 17 Um grande defensor desta visão é John Breully, para quem trata-se de um fenômeno desenvolvido nos dois últimos séculos, que contribuiu enormemente para redesenhar as concepções e o mapa político mundial. Ver. BREULLY, John. As abordagens do nacionalismo. In. BALAKRISHNAN, Gopal. Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. 18 ANDERSON, Benedict. Memória e Esquecimento. In: BALAKRISHNAN, Gopal. Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.
30
centralizado e do Estado Nação. Com a crise desta entidade essencialmente moderna, o
povo estaria deixando de ser o ator político atual, e uma multidão global ou
transnacional estaria tomando seu lugar.
Negri retoma de certo modo o debate travado no século XVII entre Hobbes e
Espinosa durante as guerras religiosas e o processo de constituição dos Estados
Modernos. Neste debate são constituídas algumas balizas da conceitualidade sócio-
política da Modernidade. Em resumo, para Hobbes, a “multidão” que ainda não se
tornou uma unidade, isto é, que não fora reduzida a uma única vontade, é o lugar do
estado de natureza. A multidão se torna povo quando se governa e se torna uma só
vontade pela autoridade do magistrado, isto é, quando se torna uma entidade civil. 19.
Portanto para Hobbes, a multidão se torna povo quando se constitui em Estado,
delegando todos os poderes políticos ao soberano, deixando deste modo de ser uma
potência política ativa. Diferente de Hobbes, em Espinosa os indivíduos reunidos na
“multidão” continuam após o pacto fundador responsáveis pela preservação de si
próprios. Em outras palavras, a multidão mantém a responsabilidade política, mesmo
com a constituição do poder político. Persiste na cena pública, na ação coletiva, sendo a
chave da própria manutenção das liberdades civis.
O conceito hobbesiano foi, entretanto, o “vencedor”: o povo passou a ser o
conceito central da modernidade política: um conjunto de indivíduos capazes de realizar
um pacto e estabelecendo a sociedade civil e política. Tal idéia formulada no século
XVII foi crescentemente temporalizada nos séculos posteriores, com a Ilustração, e o
Romantismo. O povo foi cada vez mais visto uma aposta no futuro, uma entidade
sempre incompleta, passível de ser aperfeiçoada, transformada. Passou a ser um ideal,
mas que uma realidade presente.
O que nos interessa aqui é o significado desta derrocada do conceito de povo e a
ascensão do de multidão no mundo atual que Negri pretendeu teorizar. Vivemos em um
mundo cada vez menos temporalizado. Não é incomum entre historiadores e cientistas
sociais da atualidade a percepção de uma ampla transformação de nossa consciência
histórica ou nossa forma de conceber a temporalidade, a relação entre passado presente
e futuro. Segundo o Historiador François Hartog 20, trata-se de uma mudança em nosso
__________ 19 HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1992 (Coleção Clássicos). 20 HARTOG, François. Regimes D’Historicité. Presentisme et Expériences du Temps. Paris : Editions du Seuil, 2003.
31
“regime de historicidade”. No final do século XX, entrou em crise a forma de vivenciar
e conceber o tempo que caracterizou o mundo moderno desde o final do século XVIII: o
regime futurista. É com a percepção desta mudança na vivência e categorização do
tempo histórico e social que colapso do conceito de povo pôde ser pensado por Negri.
Com a crise desse sentido de tempo no século XX, mas especialmente nas suas últimas
décadas, essa visão futurista ou progressivista das transformações históricas entrou em
falência. Cada vez mais “o depois não é mais produzido pelo antes” e “a transformação
se dá por forças que não remetem mais a nada, mas a si mesmas”21, isto é, motivações
individuais, desejos e necessidades puramente contingentes. A história e a ação política
não são mais regidas por um destino, uma meta ou uma finalidade. Há uma crise geral
na crença no progresso e nas utopias futuristas. Assiste-se como parte deste processo a
formação de um novo regime de historicidade, o “presentismo”: uma consciência
centrada no presente, na aceleração de transformações técnicas e sociais num ritmo
alucinante, mas que não se acredita mais levara a uma sociedade melhor, ao progresso, à
resolução dos problemas sociais
O “presentismo” é concomitante à obsolescência do conceito de povo-nação nas
ciências sociais. Houve conseqüentemente uma crise na capacidade explicativa da
ciência humana e seus modelos de mudança histórica. De forma geral o século XX
assistiu ao descrédito da idéia de progresso, de uma finalidade da história e das utopias
futuristas forjadas no século XIX. Se com a crise de 1929 e as duas grandes guerras,
essa tendência já se tornou visível, ela se radicalizou com as transformações do final dos
anos 1960. Neste momento, com as contestações de maio de 1868, as duas grandes
ideologias futuristas norteadoras das práticas políticas e intelectuais (o progresso
capitalista e o comunismo) foram postas em questão. Seu caráter homogeneizante,
autoritário e opressor foi posto em relevo.
Neste ínterim, cada vez mais o presente se impôs como o único horizonte
possível, um presente capitalista, mas um capitalismo despojado do seu ideal de
progresso futurista. O homem contemporâneo se vê perdido no “desespero de um
horizonte histórico tornado indiscernível” e procura a saída e o sentido “fora de todo
historicismo, no presente do evento”.22 Nesta nova consciência temporal centrada no __________ 21 BOSI, Alfredo. O Tempo e os Tempos. In. ABENSOUR, Miguel; NOVAES, Adauto. Tempo e historia. São Paulo: Companhia das Letras : Secretaria Municipal de Cultura, 1992. 22 BIDET, Jacques. A Multidão no Império. Crítica Marxista, n. 19, out. de 2006. p. 96-103. 2006.
32
presente, o conceito de povo, tão essencial, pujante e inabalável nos séculos XVIII e
XIX, parece perder parte de sua aura para o de “multidão”: uma entidade menos
histórica, menos carregada de sentido temporal, e que se caracteriza mais como pura
potência vital e que não pode ser reduzida a uma unidade como o conceito de povo. A
multidão é “carne social”, “substância viva cheia de potencial”, sem passado e sem
futuro.
Nosso trabalho toma a idéia de nação e as narrativas nacionais como um dos
pontos de chegada e não de partida. A visão historicista, temporal, sociológica e
totalizante que o conceito tomou com as formulações do pensamento social foi um
ponto de chegada da transformação histórica que pretendemos analisar. Como já
dissemos acima, a idéia, noção ou conceito de povo, foi central na vida política e social
muito antes de ser canalizado pelos movimentos nacionalistas. Analisaremos, portanto
os primórdios deste processo em que o conceito povo se tornou parte da idéia nacional,
o que no Brasil significou a visão de um povo apolítico, vinculado à cultura, à
afetividade e à natureza.
Nosso trabalho, neste sentido, se insere no amplo movimento de renovação
historiográfica que, sob outras perspectivas metodológicas, tem procurado revelar que a
idéia de nação no Brasil foi fruto de uma longa construção política e cultural muito
posterior à própria criação do Estado nacional com a Independência. Tal tendência
recente procura criticar a tradicional historiografia nacionalista que incorreu no
anacronismo de considerar a existência de elementos de nacionalidade anteriores ao
surgimento do Brasil autônomo ou mesmo que viu na emancipação política um marco
definidor na formação da nacionalidade cultural. Esta teria sido um resultado inevitável
de um processo de formação nacional iniciado muito antes. Hoje em dia, diversas
pesquisas procuram mostrar que a consolidação da nacionalidade no Brasil foi fruto de
um longo processo de conflitos e intervenções políticas ideológicas que se prolongou
muito além do surgimento político da nação. 23
Metodologicamente, não abordaremos o povo como realidade substantiva a ser
conhecida, diagnosticada e criticada, como fez o canon do pensamento social, mas
como conceito da vida política, ou melhor, como parte das estratégias semânticas dos __________ 23 Esta perspectiva é hoje em dia bastante generalizada, de modo que se torna difícil citar autores específicos. Como exemplo, podemos citar a seguinte coletânea de textos sobre o tema: JANSÓ, István (org). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo : Editora Hucitec, 2003.
33
grupos políticos e sociais na luta por seus interesses. Neste sentido, o próprio
pensamento social brasileiro, fundado na concepção de povo-nação, pode ser melhor
entendido em seu viés normativo, para além de seu caráter de análise pretensamente
“objetiva”.
1.2 Linguagem e conceitos políticos na modernidade: ambigüidade,
refutabilidade e fluidez
Segundo o historiador Reinhart Koselleck, “uma palavra torna-se um conceito
político quando a plenitude de um contexto político-social de significado e a experiência
no e para o qual uma palavra é usada pode ser nela condensado”. Sendo “condensados
de múltiplos significados substanciais”, os conceitos políticos são essencialmente
ambíguos, ao contrário das palavras comuns, que podem apresentar um significado mais
definitivo e direto 24. Uma vez aceita esta acepção, o conceito de povo pode ser
assinalado como um exemplo paradigmático devido à amplitude, fluidez e flexibilidade
de seu significado e sua recorrência em diversos contextos, ambientes intelectuais,
políticos e na vida comum.
A dificuldade de reter um conjunto minimamente estável de definições já foi
notada por muitos autores de diversas épocas e áreas de pensamento.
Contemporaneamente, o filósofo, lingüista e matemático Friedrich Ludwig Gottlob
Frege em seu conhecido ensaio Sobre Sentido e Referência apontou o uso demagógico
que se pode fazer das palavras “multívocas” como “povo”, que, embora possa assumir
vários sentidos, reconhecidamente “não há uma referência universalmente aceita desta
expressão. Por isto não é em absoluto irrelevante acabar de uma vez por todas com a
fonte destes erros, pelo menos para a ciência” 25. Também, a lingüista Françoise Weil, a
respeito de um corpus de textos do século XVIII acaba por concluir: “o que é o povo, o
que ele não é? As respostas não são fáceis de dar. Há referências, mas elas parecem se
__________ 24 KOSELLECK, Reinhart apud JASMIN, Marcelo Gantus e FERES JUNIOR, João (orgs). História dos Conceitos. Debates e Perspectivas. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Edições Loyola: IUPERJ, 2006. p 24. 25 FREGE. Friedrich Ludwig Gottlob.Escritos Coligidos e outros. São Paulo: Abril Cultural, 1983. É importante assinalar que para Frege, a falta de referente - “a referência de um enunciado é seu valor de verdade” - para a palavra povo ou para a expressão “vontade do povo” não a destitui de “sentido”.
34
contradizer” 26 No Brasil, Nelson Werneck Sodré, assinalou que “poucas palavras tem
um emprego tão freqüente quanto a palavra povo”, de modo que parece ter perdido
qualquer “compromisso com a realidade”, se tornando uma “abstração” 27. Podemos
citar ainda algumas coletâneas francesas de textos sobre o conceito, como Images du
Peuple au Diixhuitième Siècle e Le Peuple, Figures et Concepts. Entre Identité et
Souveraineté,, em que a variedade de assuntos referentes ao conceito, como
demonstram os títulos dos artigos, é um indício da multiplicidade de abordagens,
temáticas e fontes de pesquisa abordados.28
No século XVII, Thomas Hobbes já confessava não o poder definir claramente
em função o caráter equívoco do vocábulo. A palavra significa segundo o autor duas
coisas diversas, num sentido, ela marca somente um número de distintos pelos lugares
diversos de sua moradia, como o povo da Inglaterra ou o povo da França, que não é outra coisa senão uma multidão de pessoas que moram naqueles países, sem ter relação com nenhum pacto ou contrato, pelos quais nenhum deles seja obrigado aos outros. Mas, num outro sentido, esse nome significa uma pessoa civil, isto é, um homem só, ou uma Assembléia, da qual a vontade é tomada e tida pela vontade de cada particular 29
No século seguinte, o autor do verbete “povo” na Enciclopédia Louis de
Jaucourt apontou que se tratava de “um nome coletivo difícil de definir, porque se
forma dele idéias diferentes em diversos lugares, em diversos tempos e segundo a
natureza dos governos” 30. Durante a Revolução, não foram raros os momentos em que
se procurou ordenar o emprego considerado abusivo e pouco criteriosos da palavra
povo, o que seria uma das causas de “confusão política” 31.
Múltiplo, impreciso, duvidoso, sem referente e de uso amplo e indiscriminado, o
termo povo é sem dúvida um dos fundadores do mundo moderno, em especial com as
grandes revoluções liberais do século XVIII no velho e no novo mundo. A palavra povo
aglutina significados fundamentais da vida social e política contemporânea,
__________ 26 WEIL, Françoise. La Notion de Peuple et ses synonimes de 1715 a 1755 dans les textes non litteraires” In.______ Images du Peuple au dixuitème Siècle. Colloque d’Aix en Provence. 25 e 26 Octobre. Paris: Librairie Armand Colin, 1973. 27 SODRÉ, Nelson Werneck. Quem é povo no Brasil? Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1962. 28 DESBROUSSES, Hélène et al. Le Peuple. Figures et Concepts. Entre Identité et Souveraineté. Paris : François-Xavier Guilbert, 2003. 29 HOBBES. Le Corps Politique, II, chap. II, Lyon: PUL: 1973, p.81 apud RONZEAUD, Pierre. Peuple et Répresentations sous le Regne de Louis XIV. Les representations du Peuple das la Litterature politique en France sous le Regne de Louis XIV. Aix-e-Provence: Publications/Diffusion Université de Provence, 1988. 30 Encyclopedie ou Dictionaire Raisoné des Siences, des Arts et des Métiers. Vol. 12. Stuttgart-Bad Gannstat, 1967. 31 MONNIER, Raymonde. Autour des usages d’un nom indistinct: ‘peuple’ sous la Révolution Française. Révue Dix-Huitième Siècle. v.34, p. 389-418, 2002.
35
constituindo assim um lugar de análise privilegiado da ciência social. Como bem notou
Gerard Fritz, a palavra povo ocupa um lugar verdadeiramente central. Porque, por sinédoque, é ao mesmo tempo a parte e o todo – uma classe da nação e a nação ela mesma – ela se situa no cruzamento dos grandes problemas que fizeram história no século XIX, o problema das nacionalidades, o problema da soberania, o problema social 32.
O fato de ter um uso tão vasto e pouco rigoroso e uma definição tão fugidia não
deve, porém, eclipsar as lutas sociais e estratégias políticas conscientes ou não nas quais
o conceito é peça-chave. Trata-se de um conceito capital de nossa vida político-social,
centro de disputas e justificações, lugar semântico onde se forjam identidades, projetos,
inimigos a combater, bem como aspectos das mentalidades, hábitos e estruturas
inconscientes de classificação e exclusão social. O estudo de sua história é importante,
portanto, para esclarecer os extratos de significados históricos nele superpostos, dos
quais pouco nos apercebemos. 33
O caráter impreciso e fluido é o que torna o conceito ainda mais importante
como objeto das ciências sociais e históricas. Acreditamos que a ambigüidade de
significado e uso, que em maior ou menor grau podemos atribuir aos conceitos políticos
em geral, é uma característica marcante da linguagem, vocabulário e do pensamento
político moderno. É o que quer dizer Elias Palti quando aponta o “principio de
incompletude constitutiva das linguagens políticas modernas” e seu caráter
essencialmente “aporético”, passível de “refutabilidade” constante 34. A modernidade se
caracteriza, entre outras coisas, pela introjeção mais contundente da historicidade nos
discursos e conceitos políticos, o que passa a fazer deles entes históricos, contingentes,
mutáveis e discutíveis. Trata-se da própria historicidade moderna, que deve ser
entendida de maneira “forte”, como assinala Sandro Chignola 35, isto é, como o
contingenciamento que ocorre no seio dos conceitos políticos, o que os torna realidades
complexas e inseridas em debates constantes. Isso implica, portanto, abandonar uma
perspectiva que ainda se aproxima da “história das idéias” e transferir a história dos
__________ 32 FRITZ, Gerard. L’idée de Peuple em France du XVIIe au XVIIIe siècle. Presses Universitaires de Strasburg, 1988. 33 Revelar camadas de significado obscurecidos pelo alargamento exagerado do uso dos conceitos políticos no presente é sem dúvida uma das maiores virtudes da historia da linguagem política, tanto na vertente anglo-saxã de Quentin Skinner e J. Pocock, quanto na alemã de Reinhart Kosellek. 34 PALTI, Elias . Temporalidade e refutabilidade dos conceitos políticos. In. FERES JUNIOR, João; Jasmin, Marcelo. História dos Conceitos. Diálogos Transatlânticos. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Ed. Loyola: IUPERJ, 2007. pp. 58-76. 35 CHIGNOLA, Sandro. História de los conceptos, história constitucional, filosofia política. Sobre el problema Del léxico político moderno. Res Publica. v.1. p.22-67, 2003.
36
conceitos políticos para um terreno distinto, uma história das linguagens políticas. Sair
de uma história centrada nos conteúdos semânticos ideais dos discursos e partir para o
problemático e ambíguo e contingente debate político.
A “refutabilidade” das palavras e conceitos políticos foi a expressão mais
evidente da importância que adquiriu a linguagem nas primeiras grandes rupturas rumo
à modernidade política. Ao longo do processo revolucionário francês, percebia-se o
novo lugar da linguagem política naquele momento de profundas transformações. Havia
a consciência do novo poder das palavras, como instrumento de progresso, como
articuladoras do novo tempo e de uma nova sociedade que estavam por vir. A luta
contra o Antigo Regime tinha como uma de suas faces a luta contra suas falsas
definições informadas pela tradição política e religiosa que se procurava combater. Com
Rousseau 36, o século XVIII já havia percebido que a corrupção da sociedade tinha
como fenômeno correlato a falsificação da linguagem, pois o despotismo a havia
convertido em instrumento de mentiras e de dominação. A linguagem, e notadamente a
linguagem política, deveria então ser reformulada, no sentido de restaurar sua função
natural de comunicação entre os homens e de promotora de felicidade para todos.
A ambigüidade essencial do conceito de povo veio à tona logo por ocasião da
separação do terceiro estado dos demais durante os Estados Gerais do Reino. Sieyès
propôs que a nova Assembléia se intitulasse Assemblée des représentants connus et
vérifiés de la nation française. Mirabeau o contrapropôs com a fórmula Assemblée des
Réprésentants du Peuple Français, ressaltando a palavra era mais flexível e podia,
conforme as circunstâncias, significar muito ou pouco, isto é, incluir e excluir. Logo, a
proposta foi criticada. Foi indagado se o termo povo deveria ser entendido no sentido de
plebs ou de populus. 37 A sugestão de Mirabeau foi acatada, mas com a ressalva de que
o termo povo não deveria ser entendido no sentido de plebe. Mirabeau defendeu que a
palavra “povo” deixaria de causar tantos problemas no futuro, pois ele “se tornaria tudo
com o tempo (...); e se ela é hoje pouco faustosa, porque as classes privilegiadas
aviltaram o corpo da nação, ela será grande, imponente, majestosa!” 38. Mirabeau
__________ 36 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as origens e os Fundamentos da desigualdade entre os homens. In:______. Rousseau. São Paulo: Abril.(Col. Os Pensadores). 37 COMPARATO, Fábio Konder. Variações sobre o conceito de povo no regime democrático. Estudos Avançados. São Paulo, v.11, n.31, Set./Dec, 1997. 38 Ibidem.
37
sonhava com uma sociedade política unificada sob o termo povo, isto é, em que todos
tivessem a mesma capacidade e condições de participação política.
No início do ano III, a polêmica foi revitalizada com a proposta do o
representante Charles Lambert de descobrir uma forma de prevenir o emprego abusivo
da palavra povo, no que se refere ao problema da soberania. A acepção precisa seria
“coleção geral de todos os indivíduos que formam um corpo social e que vivem sob as
mesmas leis”. Propôs que se diferenciasse o povo dos cidadãos que compunham uma
assembléia ou uma comuna, que eram apenas uma seção do povo e que não poderiam se
auto-proclamar representantes de sua vontade A soberania seria uma e indivisível,
pertencendo, portanto, ao povo tomado coletivamente como “vontade geral” e não a
partes, seções, grupos no interior deste povo, como as Assembléias e juntas populares.
Lambert se preocupava com a federalização da República em sociedades populares e
facções naquele tumultuado momento do processo revolucionário 39.
Acreditamos que toda esta indefinição que marca a trajetória conceito de povo
na França revolucionária diz respeito à centralidade adquirida pela política neste
momento. A política passa a ser uma realidade cada vez mais afastada de outras esferas
como a moral e a religião, ganhando autonomia, cobatituindo-se portanto num “lugar de
trabalho da sociedade sobre ela mesma”. 40 Deste modo, os conceitos da linguagem
política, antes referidos a realidades estáticas, tradições e exemplos históricos
imemoriais passam a se tornar uma arena de experimentação, criação e conflito. Neste
processo, história passou a ser o plano imanente no qual a política é pensada e realizada.
Nas palavras de Rosanvallon, uma vez que a história tornou-se “ao mesmo tempo
matéria e forma da filosofia política”, os conceitos políticos “não podem ser
compreendidos senão no trabalho histórico de sua mis en oeuvre”41. De modo ainda
mais contundente que muitas outras palavras e conceitos políticos modernos, o povo
doravante “não é dado, mas uma construção, um “ato de linguagem”, presente no debate
publico como salientou o lingüista Jacques Guilhaumou. 42
__________ 39 MONNIER, Raymonde. Autour des usages d’un nom indistinct: ‘peuple’ sous la Révolution Française. Révue Dix-Huitième Siècle. v.34, p. 389-418, 2002.p.32. 40 MONNIER, Raymonde. Autour des usages d’un nom indistinct: ‘peuple’ sous la Révolution Française. Révue Dix-Huitième Siècle. v.34, p. 389-418, 2002. p. 34. 41 ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998. p. 33. 42 GUILHAUMOU, Jacques. La Langue Politique et la Révolution Française. De l’Événément de la Raison Linguistique. Paris : Meridiens Klinksieck, 1989.
38
O conceito de povo se transformou num problema na medida em que se
converteu em elemento central do mundo político e das instituições do mundo moderno,
a partir da cristalização da idéia e da prática da soberania do povo. Quando se aceitou,
pelo menos como um princípio, que era o povo o principal agente da ação política e da
história, as formas de determiná-lo se tornaram problemáticas. Segundo Pierre
Rosanvallon, o povo se tornou um enigma a ser resolvido e também a causa de uma
crescente e repetida desilusão. Na perspectiva de Rosanvalon, na democracia, o poder
do povo é sempre algo vacilante, um ideal traído e desfigurado. Sua realização prática é
difícil e complexa. Há uma constante tensão entre a definição filosófica da democracia –
a “soberania do povo” – e as condições e mecanismos reais de sua institucionalização.
Há, portanto, uma permanente contradição entre princípio político e seu princípio
sociológico. Aquele que considera o povo em sua dimensão empírica, sociológica e
histórica e aquele que significa o povo como algo abstrato, como um princípio formal
de construção jurídica. Daí que para Rosanvallon, não há possibilidade de saída deste
embate, logo, na democracia o povo só ganha existência em sua figuração, pois “o povo
não preexiste ao fato de o invocar e de o procurar: ele esta a construir”43 Defini-lo, e,
sobretudo, encontrar mecanismos de fazer a soberania do povo se transfigurar na
realidade das instituições do sistema representativo é a principal tarefa da política
moderna. A abertura, portanto, pra diversas possibilidades de usos e sentidos são a
marca do conceito de povo na modernidade. Daí, a possibilidade de retraçar a história
de suas transformações semânticas.
1.3 A temporalidade histórica moderna e os conceitos políticos
O conceito de povo é, portanto, uma das grandes referências da política e do
pensamento político moderno e sua história deve ser compreendida dentro desta
referencia. Isto implica, uma relação intrínseca com a ação e a construção política de
um futuro. O conceito de povo foi tomado pela consciência temporal moderna histórica
e futurista: seu significado fluido e fugidio foi forjado na concepção processual e
__________ 43 ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998.
39
historicista surgida no decorrer da modernidade, o que lhe conferiu o caráter de um
constante vir-à-ser ser no tempo. Foi o que também percebeu Gerard Fritz, para o caso
da frança revolucionária. Para este autor,
o povo se torna um projeto em vista da ação política, uma virtualidade a inscrever na história, uma promessa a cumprir. Ele existia, mas desprovido do que constitui sua essência: a igualdade, a liberdade. Ele não existia senão que alienado, despossuído de si mesmo. Ele está a conquistar sobre os privilégios e o despotismo, contra a história. Assim, a palavra se torna dinâmica, ao mesmo tempo justificação e finalidade de uma ação. Certamente, ela serve sempre para denunciar a dualidade da sociedade, suas desigualdades, suas divisões, mas ela serve ainda para afirmar o que deve ser instaurado, a desenhar as linhas de uma sociedade futura, de um mundo a construir. Para os revolucionários, povo não é somente uma realidade que se descobre e reconhece, mas uma realidade que se edifica44.
A transformação radical do povo um conceito político discutível, ambíguo e
plural, assim como ocorreu com diversas outras palavras, deve ser entendida, portanto,
no interior de uma transformação mais geral da “condição humana” e da experiência do
tempo que se intensificou entre a segunda metade do século XVIII e primeira metade do
século XIX. Diversos autores de variados campos apontaram esta abertura histórica que
fundou uma nova experiência do homem no mundo. Uma nova vivência do tempo e da
história, que deu às sociedades humanas uma renovada potência na realização de seu
futuro.
Marcel Gauchet no seu La Condition Politique pode nos dar elementos para
entender este processo. Segundo este autor a autonomização da esfera política pondo
termo à tradicional vivência religiosa do mundo humano, deu ensejo a uma nova forma
de experimentar e conceber o mundo em que a política passou a ser uma constante
invenção no processo histórico-temporal. Este processo foi assinalado pela contínua
“emancipação dos modelos do passado e uma projeção no futuro que libera a invenção
de si” 45. Não se tratava apenas, segundo o autor de fazer sua própria lei e de se
governar, mas de “fazer a si mesmo”, de “se constituir a si mesmo na duração”,
processo em que a “historicidade” se torna uma dimensão central da experiência
coletiva” 46.
__________ 44 FRITZ, Gérard. L’idée de peuple en France du XVIIe au XIXe siècle. Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 1988. p. 59 45 GAUCHET, M. La Condition Politique. Paris : Gallimard, 2005. p.23. 46 Ibidem.
40
A proposição de Gauchet ressaltou uma das faces mais marcantes da
modernidade que foi a historicização do tempo, ou a criação do moderno conceito de
história. Tal transformação da experiência do tempo se deu entre as três décadas finais
do século XVIII e primeiras do século XIX 47. Foi neste momento que a história passou
a ser entendida como um “processo” feito pelo homem. A partir de então, cada vez
mais, nada mais foi considerado significativo por si mesmo; tudo o que existe foi
envolvido numa grande marcha universal regida por forças invisíveis, mas
avassaladoras, que “engolfaram todas as coisas tangíveis e todas as entidades
individuais visíveis para nós, degradando-as a funções de um processo global” 48. Trata-
se da experiência temporal do progresso, que nas palavras de Walter Benjamin, é como
uma “tempestade” que arrasta irresistivelmente o “anjo da história” para o futuro.
Segundo Hannah Arendt, o progresso adquiriu assim o monopólio da
significação. A série temporal dos feitos humanos, para além dos eventos e indivíduos
singulares, passou a ter uma importância e excelência que nunca havia tido antes na
cultura ocidental. A marcha do tempo passou a ser vista como um processo quase
automático, num “tempo vazio e homogêneo” 49. Em outros termos, é próprio do
moderno conceito de história que a verdade das coisas se revela no processo temporal,
concepção que teve na obra de Hegel seu maior acabamento filosófico.
Tal processo tão bem delineado por Hannah Arendt e Benjamin arrastou consigo
também os conceitos políticos básicos da tradição ocidental, tais como povo, soberania,
nação, cidadania, estado, para citar alguns. A linguagem política fora recriada a partir de
sua inserção no fluxo do processo histórico. Em termos ainda mais abrangentes e
teóricos, podemos dizer com Arendt que o pensamento puramente político, que desde a
tradição grego-latina no pensar a política foi perdendo espaço para um pensamento
político de tipo histórico. O pensar a política passa a ser ao mesmo tempo pensar a
história.
Este pensamento puramente político a que se refere a autora é aquele que desde
Platão na Antiguidade, passando por Hobbes, Espinosa, e Rousseau, na modernidade,
para citar alguns dos mais ilustres, procurou formular melhor forma de organização da
__________ 47 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 48 ARENDT, op. cit, nota 47, p.37. 49 BENJAMIN, Walter. “Sobre o Conceito de História”. In. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política, São Paulo: Brasiliense, 1994. p 229.
41
sociedade em termos puramente lógicos, isto é, sem referência aos fatos empíricos ou
aos exemplos históricos. Trata-se de um conhecimento “claro e distinto” da política e
das sociedades humanas, direcionado à sua transformação, portanto à ação. Os relatos
que fundamentavam estas teorias, como notadamente aparecem em Hobbes e Rousseau,
não são propriamente referências aos fatos de fato ocorridos, mas reconstruções
mentais, típicas de um pensamento “genético” 50 e fundamentalmente a-histórico.
Embora citem fatos e situações históricas, estes servem apenas como lócus onde se pode
observar as essências eternas do homem postas em ação. Para Rousseau, a origem e o
fundamento da desigualdade só poderia ser deduzida “da natureza do homem, pelas
simples luzes da razão”51, o que implicava descartar todos os fatos e explicações
tradicionais. Antes, Thomas Hobbes já havia apontado que o melhor método para
encontrar a sabedoria é olhar para dentro de si mesmo, “ler em si mesmo, não este ou
aquele individuo em particular, mas o gênero humano” 52, deixando em segundo plano
as respostas prontas conhecidas nos livros. Em Hobbes e Rousseau, a busca pelas
origens e fundamentos nada tinham a ver com o passado, mas com a pesquisa da razão
sobre sua própria natureza, a única forma capaz de encontrar os fundamentos de toda e
qualquer sociedade. A idéia do contrato social realizado por indivíduos que abdicam de
parte de seus direitos visando à realização do bem comum como a origem da vida social
e política foi a grande construção teórica deste pensamento essencialmente a-histórico
de tipo genético. Com o desenvolvimento da moderna consciência histórica, esta ampla
tradição passou por um forte abalo e suas categorias e argumentos arrastados pelo
“processo” e forçados a encontrar novas justificativas históricas.
Outra tradição que perdeu terreno ao final do século XVIII foi a historia
magistra vitae. Também com forte vinculação com a política, esta concepção que vinha
dos moralistas e historiadores romanos via a história humana com um repertório de
exemplos para auxiliar e guiar a conduta humana no mundo. Já no período moderno, a
obra de Maquiavel foi seu principal modelo, consolidando a concepção de que a história
é uma fonte de experiências úteis aos homens em sua vida presente. Havia implícita
__________ 50 BINOCHE, Bertrand. Les Trois Sources des Philosophies de l’Histoire (1764-1798), Paris, P.U.F., coll. « Pratiques Théoriques », 1994. 51 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 243. 52 HOBBES, Thomas. Leviatã. Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico. São paulo : Abril Cultural (Coleção Os pensadores). p 11.
42
nesta visão de uma consciência da história e do tempo como eterna repetição: as ações
dos homens no passado podiam se constituir em um repertório de exemplos, pois, sendo
a natureza do homem imutável através dos tempos, as situações históricas já vividas se
repetiriam forçosamente no presente. O passado era então grande livro, uma “tradição”,
ou, nas palavras de Koselleck, um “campo de experiências” através da qual o homem
podia, numa relação direta e imediata, entender seu presente, agir e projetar seu futuro.53
O Antiquariado também precisou ser superado para que fosse construída a
moderna consciência histórica. Esta forma de se relacionar com o passado desenvolveu-
se no século XVII, prolongando-se pelo século seguinte, juntamente com a revolução
científica, em que dominava um espírito classificador, o registro e observação da
natureza e o método cientifico. Neste contexto, a história era vista como ciência de
segunda ordem, pois não poderia ser reduzida a leis e experimentos científicos.
Entretanto, tentou-se aplicar essa metodologia cientifica à história estendendo a ela os
ideais de certeza, verdade e método das ciências. No campo da história, isso levou a
uma preocupação com autenticidade dos fatos e objetos herdados de outras épocas.
Dessa forma, desenvolveram-se muito os métodos de pesquisa e o interesse pelos fatos
passados, tão importantes para a constituição da historiografia contemporânea no século
XIX 54. O antiquarismo pretendia entre outras coisas criticar a visão teleológica da
história cristã, seus mitos e lendas, passando-os pelo crivo da razão científica. A
verdade deveria a partir de então ser procurada e não mais aceita como emanação da
autoridade da Igreja. Porém, esse interesse pelo passado não significava ainda nenhuma
noção de continuidade, de marcha ou processo unificador. O conhecimento histórico era
um agregado de fatos dispersos e desconexos: a razão não havia entrado inteiramente no
domínio da história. O antiquariado percebia o passado como uma coleção de fatos,
artefatos e relíquias, testemunhos de momentos em que o espírito humano realizou
importantes obras através do uso da razão. Porém, o sentido de uma história linear,
contínua e universal permaneceu ainda estranho aos antiquários.
__________ 53 Sobre a historia magistra vitae, ver: KOSELLECK, Reinhart. “Historia Magistra Vitae”. In.______ Futuro Pasado. op. cit; JASMIN, Marcelo Gantus. “Política e Historiografia no Renascimento Italiano. O caso de Maquiavel”.In. CAVALCANT et al. Modernas Tradições. Percursos da Cultura Ocidental. Séculos XV-XVII. Rio de Janeiro: Acess, sd. 54 Ver BINOCHE, op.cit, nota 50, p. 38; CASSIRER, Ernest. A Conquista do Mundo Histórico. In.______ A Filosofia do Iluminismo. Campinas: Ed. Unicamp, 1994; MOMIGLIANO, Arnaldo. “L’Histoire anciènne et l’Antiquaire”. In. Problemes d’historiographie Anciènne et Moderne. Paris: Gallimard, 1983.
43
No século XVIII, alguns historiadores filósofos começam a questionar estes
estudos eruditos do passado. Era preciso procurar entender o desenvolvimento geral dos
fatos humanos e sair da dispersão dos elementos desconexos. O importante numa
investigação sobre o passado eram menos os detalhes particulares, mais a história dos
progressos e aperfeiçoamentos da “civilização”, o que significava escrever uma
“história filosofica”. Tratava-se de trazer o trabalho historiográfico para o domínio da
filosofia, disciplina destinada a tratar dos progressos da razão, retirando-os do domínio
erudito e antiquário. Embora já houvesse um sentido de continuidade com as idéias de
aperfeiçoamento e progresso, ainda havia uma firme concepção da imutabilidade da
natureza humana. Os “aperfeiçoamentos” por que passava a humanidade eram a
expressão da natureza humana racional que, conseguindo vencer os preconceitos e
superstições, conseguiria se transformar em ação. Uma obra emblemática da história
filosófica foi o Essai sur les Moeurs de Voltaire, e também l’Esprit des Lois de
Montesquieu, que juntamente com outras obras do gênero, constituíram uma porta de
entrada para a criação das grandes filosofias da história como a desenvolvida Hegel.
Nestes autores, percebe-se uma abertura para as diferenças históricas entre os povos e
épocas na explicação dos sistemas políticos, fugindo à a-historicidade das formulações
genético-contratualistas de Hobbes ou Rousseau. Na sociologia política de
Montesquieu, de grande influencia no Brasil oitocentista, as leis deviam ser
relacionadas aos princípios que formam o “espírito geral, os costumes e as maneiras de
uma nação” 55, variáveis no tempo e no espaço.
O progresso, o grande mote da nova consciência do tempo desenvolvido de
forma mais contundente com as filosofias da história universal, nasceu, portanto, da
“liquidação das luzes” 56, isto é, sobre as ruínas do contratualismo ilustrado, fundindo
definitivamente a razão “genética” e a história. Também se constituiu abalando as
concepções antiquárias e pedagógicas da história. Entrava em cena a noção de progresso
do espírito humano. Com as filosofias da história a própria razão natural se tornou
história, tornando-se uma força em transformação, idéia que forjou as bases para a
formulação de interpretações sistemáticas da historia universal de acordo com um
princípio segundo o qual os acontecimentos se unificam e dirigem para um sentido __________ 55 MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. p. 222. 56 BINOCHE, Bertrand. Les Trois Sources des Philosophies de l’Histoire (1764-1798), Paris, P.U.F., coll. « Pratiques Théoriques », 1994. p.38.
44
final. Os eventos e incidentes particulares passaram ser parte de uma grande marcha e
somente poderiam ser entendidos como tal, perdendo o status de exemplo universal e a
força semântica própria que possuíam anteriormente. A própria razão humana passou a
ser vista como parte da grande marcha do progresso, perdendo seu caráter a-histórico e
imutável. O passado passou a ser uma preparação para o futuro. Reinhart Koselleck
procurou sintetizar em uma fórmula simples esta transformação que significou a
emergência da moderna consciência histórica. Segundo Koselleck, esta nova vivência
do homem moderno pode ser caracterizada pela “separação de horizontes”: Na época moderna, foi aumentando progressivamente a diferença entre experiência e expectativa, ou, mais exatamente, (...) só se pode conceber a modernidade como um tempo novo quando as expectativas foram se afastando cada vez mais das experiências feitas. 57
Na visão de Koselleck, a moderna vivência da história se caracteriza por um
afastamento crescente entre o passado e o futuro, ou entre “campo de experiências” e
“horizonte de expectativas”. Nesta nova forma de viver a temporalidade, o tempo passa
a ser visto como aceleração, e cada vez mais o passado deixa de ser uma fonte de
exemplos – historia magistra vitae – para se tornar um passado estranho único, singular,
um “processo” impessoal e necessário a ser conhecido pela historiografia. O futuro
deixa de ser guiado pela experiência do passado e passa a se nortear pela perspectiva do
futuro58.
__________ 57 KOSELLECK, R. 1993. Op. Cit. p. 342. 58 Podemos ilustrar esta transformação com o ensaio de François Hartog sobre a obra de François-René Chateaubriand. As duas obras deste autor, Le Voyage en Amérique e Essais Historiques, se mostram, segundo Hartog, um local privilegiado para perceber esta grande transformação, por estar justamente a meio caminho entre o regime antigo e moderno de historicidade. O Voyage percebia a América dentro dos quadros do regime de historicidade Historia Magistra Vitae, em que o passado é visto como exemplo e repetição. O argumento do livro é estruturado segundo o par tradicional Antigos e Modernos, mas um outro elemento é acrescentado: os selvagens. Os selvagens, por um lado, são vistos por Chateaubriand como uma utopia, um horizonte para o qual a humanidade corrompida deveria caminhar: o estado de natureza. O homem selvagem é como uma ilha onde o homem moderno pervertido deve encontrar refugio. A ida à América é, sobretudo uma viagem interior em que o homem pode refletir sobre a autêntica liberdade. Compara os homens primitivos americanos aos Scitas da Antiguidade. A Revolução Francesa é vista nos Essais Historiques, da mesma forma, como uma repetição das Revoluções Antigas, um retorno da história sobre ela mesma. Os norte-americanos são os republicanos romanos. Porém, já quando de sua volta para a Europa e do início da redação, o tempo é percebido como aceleração, rio que leva tudo e todos. O Voyage foi publicado apenas trinta anos depois de sua redação. Nesta ocasião foram acrescentados o prefácio, a introdução e as palavras ao leitor, textos que revelam que neste curto espaço de tempo o autor foi tomado de uma outra visão da história, consubstanciada numa visão renovada da América. Neste momento, ressalta Hartog, “o tempo estava no coração do livro”. A América deixava de ser o lugar a - histórico onde se encontrava intocado o homem natural e a antiguidade clássica pra se tornar um continente vivo, histórico, e um participante fundamental e promotor do progresso da Humanidade. O autor apresenta sua viagem como um testemunho de um povo em vias de desaparecer, antecipando Michelet quando este define o historiador como um “administrador dos bens dos mortos”. Chateaubriand passa, portanto, do viajante setecentista ao historiador do século XIX. Descobre que a América tem uma história. Tratava-se de uma civilização em seu começo, da qual não saberíamos nunca o futuro, pois a civilização européia a estava destruindo. O Ensaio é, portanto um texto único que se funda no deslocamento do topos da historia magistra
45
Esta visão do progresso da razão traçou as bases da visão sobre o devir histórico
universal desenvolvido pela historiografia acadêmica e pelo pensamento político do
final do século XVIII e do século XIX. Embora os historiadores e pensadores da política
como Ranke, Niebuhr e Michelet, Tocqueville, Guizot, entre outros, negassem as idéias
de uma substancia e finalidade da história hegelianas, como abstrações filosóficas sem
fundamento empírico, foram herdeiros da mesma perspectiva da “história universal”
aberta pelas modernas filosofias da história. Em outras palavras, foi preciso pensar a
história universal como uma grande continuidade linear em direção ao futuro para que a
historiografia e o novo pensamento político pudesse se desenvolver.
Herdeira de Hegel, a historiografia acadêmica viu como objeto da história as
“forças espirituais criadoras” 59, engendradoras de vida, fatores que floresciam e
animavam o mundo das mais variadas. Porém, estas forças não poderiam ser conhecidas
a não ser pela pesquisa empírica, nunca teoricamente, como teriam feito as grandes
filosofias da história. Estas forças criadoras eram as grandes individualidades históricas,
especialmente os grandes homens, os povos e nações. A historiografia acadêmica
oitocentista se interessou preferencialmente pela marcha histórica dos povos. O
surgimento das histórias nacionais foi concomitante ao desenvolvimento das nações
modernas. 60
Ao mesmo tempo, reflexão histórica se erigia como forma por excelência de se
pensar a política num momento em que a tradição da historia magistra vitae parecia
perder a eficácia de antes. Os acontecimentos passados, antes exemplares, pareciam não
mais fornecer exemplos que pudessem explicar ou indicar as conseqüências dos
acontecimentos políticos inaugurados com as grandes revoluções liberais de fins do
século XVIII. Era preciso uma nova forma de entender a política num mundo que
parecia caminhar desligado dos eventos passados, modelos e tradições. Pensadores da
política como Alex de Tocqueville, Guizot e Benjamin Constant se mostraram
perplexos diante da novidade que constituiu democracia norte-americana e procuraram
vitae, mas acaba por recusá-lo, sem no entanto o abandonar. O ensaio traduz este curto momento em que sob o efeito da revolução, o topos cessa de ser operatório, mas em que se desfazer dele é impossível. Trata-se de um século entre dois séculos. Ver HARTOG, François. Chateaubriand: entre l’ancien et le nouveau régime d’historicité. In.______ Regimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003. 59 HUMBOLDT, Wilhelm von. Considerations sur l’histoire mondiale,; Considerations sur les causes motrices dans l’histoire mondiale; La tache de l’historien. Villeneuve d’Asq: Presses Universitaires de Lille, 1985. 60CASSIRER, Ernest. El romanticismo y los comienzos de la historiografia crítica. La “teoría histórica de las ideas”. Nieuhr, Ranke, Humboldt. In._____ El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. IV. De la muerte de Hegel a nuestros días. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
46
formas alternativas de voltar-se para a história como forma de explicar tais eventos
políticos. 61
Este foi o esforço de diversos pensadores da política ao longo do século XIX.
Era preciso trazer a linguagem com que se pensava tradicionalmente a política para o
campo da realidade histórica contingente, retirando-o das teorias abstratas do
liberalismo clássico que comandara a consciência revolucionária francesa de 1789. As
obras de Burke e Benjamin Constant auxiliaram esta “mudança de espírito” rumo à
análise da sociedade como ela é. Esta tendência se intensificou na década de 1820 e
1830 no contexto da restauração com o “liberalismo doutrinário” de Guizot, Royer-
Collard e Tocqueville. Estes autores procuram repensar os dogmas da política moderna,
especialmente a soberania do povo, dando muita atenção ao sentido dos conceitos da
linguagem política, como uma verdadeira “estratégia semântica para chegar aos
espíritos” 62. Procuraram pensar a viabilidade do sistema representativo moderno
afastando-o definitivamente das idéias de democracia direta associada à republica
Greco-Romana. Em linhas gerais, suas reflexões se unificaram em torno do esforço
comum de dissociar a “soberania do povo” da prática política moderna representativa.
Neste intuito, elaboraram uma verdadeira reconceitualização da linguagem política, que
foi apropriada pelos políticos brasileiros deste momento conformando uma “tradição
política imperial”, para citar a expressão de Ilmar Rohllof de Mattos.
As linhas gerais desenvolvidas pelo liberalismo da restauração começaram a ser
tecidas na obra do inglês Edmund Burke (1729-1797), em suas críticas à revolução
francesa ainda no século XVIII. O povo, para Burke, não poderia ser definido e tratado
a partir de teorias e abstrações, como, o teria feito Rousseau com sua concepção da
“vontade geral” O povo seria uma entidade histórica e moral, caracterizada por seus
costumes determinados e estado de civilização. Logo, o direito do povo à soberania,
nunca poderia ser confundida com o poder do povo. As duas dimensões nem sempre
coincidem. Para que o povo pudesse ter e exercer o poder, era preciso que suas virtudes,
sendo “a primeira das quais a prudência”63, fossem tais que impedissem os prejuízos ao
próprio povo. A razão política deveria se fundar na moral prática fundada na __________ 61 Ver JASMIN, Marcelo. Alex de Tocqueville. A Historiografia como ciência da política. Rio de Janeiro: ACCESS, 1997. 62 ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998. p. 120. 63 BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução na França. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982.
47
experiência passada, e no esclarecimentos da verdadeira natureza humana. Para Burke,
no que se refere à moral, não há descobertas (...), nem tampouco no campo dos grandes princípios de governo e das idéias de liberdade; que eram compreendidos bem antes de nascermos e que continuarão a ser até muito depois que a terra tiver se acumulado sobre a sepultura de nossa presunção e o silêncio do túmulo tiver se imposto sobre nossa impertinente loquacidade.64
A obra de Benjamin Constant (1767-1830), de enorme influência entre os
liberais brasileiros, se dedicou a entender as condições práticas da liberdade no mundo
moderno. Isso o levou, como Burke, à crítica à Rousseau e às teorias contratualistas em
que o ato original fundador – o próprio contrato social – implicava diretamente certa
concepção sobre o fundamento real da sociedade e o pensamento político. Em outras
palavras, no contratualismo, a vontade dos indivíduos, responsável pela instituição do
mundo social, seria também o fundamento das leis, do poder, dos governos, enfim, do
funcionamento efetivo da sociedade. O contratualismo era na visão de Constant um
correlato das teorias absolutistas, uma vez que era igualmente baseado numa visão
holística da realidade. Apenas o conteúdo se alterava: não mais a organicidade mística
tradicional, mas sim a “vontade” seriam a base e fundamento da vida social e política. O
direito natural e suas contradições eram, para Constant, os alicerces tanto do
absolutismo, quanto do contratualismo moderno.
Toda essa reflexão crítica levou Constant a um novo entendimento do mundo
político, da relação entre poder e sociedade e da liberdade. Primeiramente, Constant
procurou entender o “povo”, não como um portador de vontade abstrata, mas um ator
historicamente determinado, imerso no tempo histórico. Logo, muitas vezes, por seu
estado mental, moral e civilizacional, a sua soberania pode levar à opressão, assim como
a soberania ilimitada do rei. Segue-se, portanto, a necessidade de reconhecer o caráter
limitado de qualquer soberania. No mundo moderno industrial, para Constant, a
liberdade que mais se espera é a liberdade individual, e não a liberdade de participação
política direta, como na democracia grega. Os governos, portanto, tem primeiramente o
dever de garantir essa liberdade.
A participação política deveria existir no mundo moderno, mas, para Constant,
esta se daria através de um sistema representativo, uma vez que considerava a
__________ 64 Ibdem. p. 107.
48
participação direta de todos impossível. Mesmo com o sistema representativo, é
necessário um “poder neutro”, dissociado da sociedade, que esteja acima do poder
representativo, capaz de impedir que a soberania do povo se transforme em opressão e
fira a liberdade. A finalidade do poder na sociedade é garantir essa liberdade individual
e não ser um agente da vontade coletiva. Constant dissocia a soberania coletiva dos
direitos individuais. Estes últimos estão fora e independentes do pacto. É com a
observação destes direitos que os indivíduos são livres, mas uma liberdade “moderna”
não entendida como participação ativa e constante no poder coletivo, mas no gozo
passivo na vida privada.65
O alvo de François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874) era igualmente a
metafísica revolucionária e sua má compreensão da natureza humana, que haviam
levado aos desastres do jacobinismo revolucionário, às desordens e guerras. Este mal
poderia ser combatido através da transformação radical do pensamento político e social,
com a revisão crítica dos princípios e palavras que presidiram a revolução francesa,
acabando assim com “a perpétua confusão, na nossa própria política, nas nossas idéias,
na nossa linguagem, entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, entre o possível e
o quimérico (...)” 66
A idolatria da democracia teria origem, fundamentalmente, numa má
compreensão da natureza humana que informava por sua vez uma má compreensão da
política Ao contrário do que imaginam os idólatras da democracia, a natureza humana
não era essencialmente boa, mas se caracterizava por uma constante luta entre o bem e o
mal, de modo que os sistemas de governo e as sociedades não poderiam ser organizados
pelo curso livre dos instintos humanos. Deixar que as vontades e instintos humanos
reinassem soberanos na organização política, o que caracteriza a essência da
democracia, significa um ganho de liberdade, mas sim uma ameaça a ela.
As idéias políticas, as doutrinas e os tipos de governo adotados por uma
sociedade deveriam se adequar às necessidades humanas não devendo ser discutidos de
modo teórico ou metafísico. Nas palavras de Guizot, “ver o que é a primeira e excelente
característica do espírito político. Resulta desta, uma outra, não menos excelente, que,
em se aprendendo a ver apenas o que é, se aprende também a não querer senão o que se
__________ 65 GAUCHET, M. La Condition Politique. Paris : Gallimard, 2005. p.23 66 GUIZOT, M. De la démocratie en France. Paris : Victor Masson Librairie, MDCCCXLIX. p. 65.
49
pode”67. Deste modo, o governo republicano não é mau ou bom em si, assim como a
Monarquia, mas para qualificá-los, se deve atentar para as circunstancias do povo a que
se destina. Aos Estados Unidos, onde não havia uma forte luta social, a Republica pode
convir, mas não para a França, onde há igualdade civil e jurídica, mas desigualdades
profundas sócio-econômicas.
A história das sociedades é, pra Guizot, um espetáculo de desigualdades, que
devem ser vistas como algo natural, pois resultado da liberdade que foi dada ao homem
por Deus. O poder político deve aceitá-las e incorporá-las numa forma de governo em
que cada elemento da sociedade possa ser representado por poderes distintos, “um
governo onde todos tenham o seu lugar e seus limites”. Nesta organização, devem ser
inseridos elementos de conservação e de mudança, forças que devem ter seu lugar para
garantir a liberdade.
Guizot empreende uma ressemantização do conceito de povo, com o parte da sua
revisão crítico-conceitual do pensamento político moderno . O conceito revolucionário
de povo o apresenta como uma unidade, composta por uma simples soma de homens
num dado espaço. Trata-se, nas palavras de Pierre Rosanvallon, do “monismo
revolucionário” 68, visão do povo como uma unidade coesa e abstrata, uma união de
indivíduos livres e iguais. Visto desta forma o “povo”, por conseqüência, o poder
político em que ele deve ser representado deve ser igualmente uno, podendo ser uma
Assembléia ou um Rei. Na visão guizotiana, o povo não é uma adição de homens
iguais, mas um grande corpo organizado, formado pela união, no seio de uma mesma pátria, de certos elementos sociais que se formam e se organizam eles mesmos naturalmente em virtude das leis primitivas de Deus e dos atos livres do homem. A diversidade destes elementos é (...) um desses fatos essenciais que resultam dessas leis. Ela rechaça absolutamente essa unidade falsa e tyranica, que se pretende estabelecer no centro do governo para representar a sociedade onde ela não está.69
Vemos que para Guizot, o povo não é uma totalidade unificada e abstrata, mas
uma realidade complexa marcada pela diversidade e por diferenças forjadas ao longo da
história, vista como um palco de atuação em que atua a liberdade humana O mundo da
política deve se acomodar a esta diversidade, o que implica a aceitação da pluralidade
__________ 67 GUIZOT, M. De la démocratie en France. Paris : Victor Masson Librairie, MDCCCXLIX. p.142 . 68ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998. p 65. 69 GUIZOT, M. De la démocratie en France. Paris : Victor Masson Librairie, MDCCCXLIX. p. 142.
50
de poderes. Argumentar que somente pode existir em nome do povo um só poder é, pra
o autor, o mesmo que dizer “O Estado sou Eu”.
A obra de Alexis de Tocqueville foi também de extrema importância nesta
revisão do pensamento político empreendida no século XIX. Em seu. A democracia na
América, Tocqueville desenvolveu uma reflexão critica em torno do “dogma da
soberania do povo”. Para Tocqueville, enquanto que em muitos países a soberania do
povo era defendida ardorosamente, mas sem que a realidade lhe fosse compatível, na
América, de fato a soberania do povo nascera de uma base social concreta. Nos Estados
Unidos da América existiria uma ajustamento entre a sociedade e o fato democrático,
isto é, a democracia política não fazia mais que materializar uma verdade que a
sociedade já trazia em si em sua história. No argumento de Tocqueville, a soberania do
povo era o princípio gerador das colônias inglesas na América, pois foi formada na
prática política livre e participativa das comunidades ao longo da historia. Com a
revolução da Independência, o dogma e a prática da soberania do povo migraram da
comuna para o governo e as leis, e todas as classes todas as classes se comprometem
com ela. Deste modo, forma-se uma vida política e institucional conciliada com a vida
social, com os costumes mais profundos do povo. O Estado e a sociedade, o povo e a
política formaram uma unidade. A sociedade age sobre ela mesma e por ela mesma, de
modo que “o povo reina sobre o mundo político americano como um Deus sobre o
universo, é a causa e o fim de todas as coisas, tudo sai dele e tudo é absorvido por ele” 70
Desta sociedade conciliada com a política e com as instituições resultava a
peculiar adequação dos sistema federal à sociedade norte-americana. Na visão de
Tocqueville, o “pacto federal” somente poderia ter uma longa existência se ele
encontrasse nos povos aos quais ele se aplica, um certo número de condições de união
que torna a unidade possível. Para que um sistema federal funcionasse não bastavam as
boas leis, mas era preciso também que as circunstancias o favorecessem, um certo
numero de interesses comuns prévios que “formam os laços culturais de associação”. É
preciso, além disso e principalmente, a “homogeneidade da civilização”, isto é os
Estados devem ter o mesmo grau de civilização pra permanecerem unidos.
__________ 70 TOCQUEVILLE, Alex de. La démocratie en Amerique. Paris : Pagnerre Éditeur, 1848. p. 56.
51
Tocqueville procurou dissociar o sentido da palavra democracia de um “sistema
político associado à República Greco-romana” caracterizado pela intervenção direta do
povo, e vinculá-lo a uma forma de organização social: a “sociedade igualitária
moderna” 71 A democracia, na visão tocquevilliana, significa a situação de igualdade de
condições e direitos e não um sistema político. Esta situação social já era uma realidade
na América, de modo que o sistema político que deu soberania ao povo não fez mais
que concretizar este fato, fazendo-o se manifestar livremente.72
Estes autores que apresentamos tiveram grande influência entre os fundadores
do Império Brasileiro ao longo do século XIX. Formularam em suas reflexões críticas à
metafísica radical da revolução francesa, fundada nas idéias de “vontade geral” e
“soberania do povo”, determinadas concepções sobre o conceito de povo. O povo,
nesses autores passou a ser uma entidade antes social que política, marcado pela
contingência do momento histórico, não se definindo por uma “vontade” abstrata, mas
por suas características reais em determinada época histórica. Como apontou Marcel
Gauchet, ao tratar de B. Constant, nestes autores que ajudaram a fundar o liberalismo no
século XIX, percebe-se um maior grau abertura para a história ao tratar da política. Em
outros termos, a mudança histórica, a especificidade de cada momento, passou a ser
levado em conta no pensamento político, na redefinição dos próprios conceitos políticos
e nas propostas de ordenamentos políticos e legais.
1.4 A história dos conceitos como projeto historiográfico: investigar a
relação entre a temporalidade e a semântica conceitual moderna
Uma das expressões mais evidentes das transformações no regime de
historicidade ou consciência histórica é a historicização da linguagem, em especial da
linguagem política. Esta foi a temática sobre a qual se debruçou o historiador Reinhart
Koselleck em sua “história dos conceitos” ou semântica histórica. Sua historiografia, de
grande influencia neste trabalho, deve ser vista, sobretudo, como um esforço de
questionamento das auto-definições políticas a modernidade ocidental, além de do seu
__________ 71ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998.. p. 120 72 GAUCHET, Marcel. “Tocqueville, L’Amérique et Nous”. In: GAUCHET, M. La Condition Politique. Paris : Gallimard, 2005. p.23
52
aspecto metodológico neutro do historiador de ofício. Koselleck transformou a
descoberta fundamental da historicidade extrínseca à experiência humana na
modernidade, discutida nas páginas anteriores, num projeto historiográfico: pesquisar
empiricamente como no plano dos conceitos políticos fundamentais, a modernidade se
instaurou e remodelou a linguagem política, e, vice-versa, como a linguagem política
renovada ajudou a transformar o mundo em direção ao que costumamos denominar de
“modernidade”. Em outras palavras, uma das marcas da historiografia de Koselleck é a
tarefa de compreensão do processo de introjeção da historicidade moderna na
conceitualidade política.
Koselleck escreveu num momento de reorientação dos estudos históricos na
Alemanha 73. Após a Segunda Guerra Mundial, questionou-se a historiografia de
afirmação de um passado nacional; cada vê mais os temas se orientaram para a procura
dos motivos da catástrofe mundial e a historia passou a ser vista como arma para a
crítica da situação presente, identificada como um produto da modernidade. Portanto,
como também apontou Valdei Lopes Araújo 74, a história na Alemanha direcionou-se
neste momento a uma ampla revisão das categorias do discurso político da
modernidade. Povo, história, razão, revolução, liberdade, assim como outros conceitos-
chave do projeto moderno vitorioso no Ocidente passaram a sofrer uma ampla revisão
historiográfica. A história da linguagem política emergiu neste momento como
elemento central para traçar uma história crítica dos fundamentos conceituais do mundo
moderno, e ao mesmo tempo, compreender a historicização da linguagem política que o
caracteriza.
Escrevendo no pós-guerra, Koselleck percebeu claramente algumas
conseqüências de doutrinas e visões de mundo surgidas notadamente a partir do da
ilustração. Apontou-se numa consciência historicista e cientificista exacerbada a causa
do abandono ou distorção por parte da cultura ocidental de elementos importantes de
sua tradição. Um deles, e o mais importante, foi a política. O domínio da ciência
moderna e da técnica sobre todos os campos da vida humana aliado à nova vivência da __________ 73 Sobre isso, ver IGGERS, Georg G. The “linguistic turn”: the end of history as a scholarly discipline. In.______ Historiography in the twenty century. From scietific objectivity to the postmodern challenge. Hanover, Westeyan University Press, 1997. p. 118-133. e IGGERS, G.G. Epilogue: the last fifteen years. In.______ The German conception of history. The national tradition of historical thought from Herder to the present. Hanower, Westeian University, 1983. P;269-293. 74 ARAUJO, Valdei Lopes. História dos Conceitos. Problemas e Desafios para uma Releitura da Modernidade Hibérica. Almanak Brasiliense. São Paulo. Maio de 2008.
53
historicidade estaria levando a humanidade a esquecer a política como fundamento da
vida social. Acreditando o futuro à filosofias do progresso e o passado ao estudo erudito
de especialistas, o homem teria perdido também a dimensão do presente, local do debate
de opiniões, da ação em comunidade, do conflito e da política. 75
A noção de modernidade como momento histórico de temporalização ou
historicização da realidade e da linguagem política forçou Koselleck a formular uma
escolha teórica que desse esteio à sua análise empírica: a temporalização se define pelo
processo de aumento do hiato entre as dimensões “do espaço de experiências” e do
“horizonte de expectativas” no cerne dos conceitos políticos. Traça a história de um
conceito político seria entender sua inserção progressiva no mundo moderno,
caracterizado pela “aceleração” da experiência histórica. O fenômeno da aceleração foi
descrito por Koselleck como o crescente afastamento do “campo de experiências”, isto
é, “é um passado presente, cujos acontecimentos foram incorporados e podem ser
recordados (...)” se fundindo “tanto a elaboração racional, como os modos inconscientes
do comportamento (...) 76 e a “expectativa”, entendida como o “futuro feito presente” o
“não experimentado”, “o que só se pode descobrir”, a “esperança e temor, desejo e
vontade, a inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a
curiosidade” 77. Em outros termos, para Koselleck, na abertura para o mundo moderno,
a linguagem política tendeu a deixar a estabilidade semântica da tradição, fundada na
autoridade de passado imemorial reatualizada no presente e se abriu para o futuro. Os
conceitos passam a ter, portanto, no fulcro de seu significado, a idéia do curso temporal
linear e progressivo. A consciência de pertencer a um processo histórico coletivo e
singular trouxe a noção da responsabilidade de acompanhá-lo78. O homem é agora
responsável, em primeiro lugar, frente a esta história abstrata e seu rumo conhecido. Na
visão de Koselleck, ocorreu a fusão da diacronia e da sincronia: a experiência e a ação
individual, bem como as histórias particulares, são entendidas somente no âmbito do
“grande movimento da história”.
__________ 75 Sobre esta questão ver minha dissertação de mestrado PEREIRA, Luisa Rauter. A História e “o diálogo que somos”: a historiografia de Reinhart Koselleck e a hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Orientador: Antonio Edmilson Martins Rodrigues. – Rio de Janeiro : PUC-Rio,Departamento de História, 2004. 76 KOSELLECK, Reinhart. Uma História dos Conceitos. Problemas Teóricos e Práticos. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992. pp. 134-146. p 8.p. 338. 77 Ibidem. p. 338. 78 KOSELLECK, Reinhart. Uma História dos Conceitos. Problemas Teóricos e Práticos. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992. pp. 134-146.
54
A modernidade como o processo de aprofundamento da separação entre estas
duas características “ontológicas” 79 do homem, a experiência e a expectativa, teria
formado, portanto, um “espaço lógico” em que as histórias dos diferentes conceitos e o
estudo das linguagens políticas são organizadas e ganham sentido. Nas palavras de
Chignolla, a análise da história dos conceitos desvenda um processo social e coletivo que realiza uma determinada dimensão da experiência histórica – o mundo moderno como tal. Reconstruindo as diferenças específicas entre o ideal-tipo dessa experiência histórica e a precedente experiência, a história dos conceitos determina o ideal-tipo da experiência histórica passada80.
Neste processo de transformação acelerada da experiência surge uma gama de
palavras e significados novos testemunhos de uma nova apreensão do mundo. Na
hipótese de Koselleck, os conceitos mostram diversos aspectos novos ligados ao
processo de temporalização: 1) “democratização”: uma vez que a esfera pública se
amplia, os conceitos políticos passam a ter seu campo de uso alargado incluindo amplos
setores da sociedade, conseqüentemente, deixando de serem restritos à linguagem de
membros de estamentos sociais; 2) “temporalização”: os topoi herdados da tradição
tornam-se conceitos de expectativa, de mobilização para a construção do futuro,
deslocando-se em grande medida de seus significados tradicionais; 3) “ideologização”:
os conceitos se separam dos “círculos vitais” e aumentam em do grau de abstração,
notadamente com a criação de conceitos singulares coletivos; 4) “Politização”: aumento
da importância da polêmica política na semântica dos conceitos. 81
Todas estas hipóteses podem ser revistas e outras podem ser desenvolvidas num
estudo sobre a linguagem política no Brasil. A noção de modernidade não pode se
tornar uma realidade transcendental imune à crítica. Mesmo no projeto alemão, o
Sattelzeit – o período considerado a transição para as modernidade (1780-1830) – em
muitos momentos tem, na opinião do próprio Koselleck, seu sentido obscurecido no
__________ 79A obra de Koselleck é fundada numa tentativa de transformar a ontologia heideggeriana numa antroplogia norteadora de seu projeto historiográfico. Sobre isso ver minha dissertação de mestrado: PEREIRA, Luisa Rauter. A História e “o diálogo que somos”: a historiografia de Reinhart Koselleck e a hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Rio de Janeiro : PUC-Rio, Departamento de História, 2004. 80 CHIGNOLA, Sandro. História de los conceptos, história constitucional, filosofia política. Sobre el problema Del léxico político moderno. Res Publica. v.1. p. 28. 81 KOSELLECK, Reinhart. Introduccion al diccionário histórico de conceptos políticos-sociales básicos em lengua alemana seguida del prólogo al septimo volumen de dicha obra (traducción y notas de Luis Fernandés Torres. Ver também RICHTER, Melvin. Avaliando um clássico contemporâneo: o Geschichtliche Grundbergriffe e a atividade acadêmica futura. In FÉRES JUNIOR, João. e JASMIN, Marcelo Gantus.(orgs) História dos conceitos. Debates e Perspectivas. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Edições Louola: IUPERJ, 2006. P.39-54.
55
decorrer das pesquisas, se tornando uma “ambígua metáfora” 82. Poucos conceitos hoje
são tão controversos quanto o de modernidade, havendo pouco consenso sobre a
natureza dos fenômenos que podem por ele descritos83. Por outro lado, a modernidade
como um elo firme do nosso presente com o passado estudado é recorrentemente posto
em questão. Estamos ainda na Modernidade? “Pós-modernidade”, “modernidade
líquida” 84 “modernidade radicalizada” 85: são tantos os termos e qualificações
envolvidos na discussão, que um consenso se torna difícil de ser alcançado.
Como projeto historiográfico de revisão da linguagem política moderna, a
história dos conceitos concebida por Koselleck tem alguns objetivos primordiais. Em
primeiro lugar, destina-se a pensar as continuidades e inovações nos significados que os
conceitos políticos apresentaram ao longo do tempo. Nesta perspectiva, os conceitos
possuem uma “estrutura temporal complexa”, aglomerando em si uma multiplicidade de
significados ao longo do tempo, o que torna imperiosa a sua historicização. Logo,
quando um ator histórico se expressa linguisticamente, estão contidos nos conceitos que
utiliza uma complexa história, não linear, de transformações semânticas que se perde no
tempo, e da qual aquele que fala não tem conhecimento. Nas palavras do autor, “toda
sincronia contém sempre uma diacronia presente na semântica, indicando
temporalidades diversas” 86. Portanto, quando dizemos “povo”, “nação”, por exemplo,
não estamos apenas significando um referente externo diretamente reconhecível; a
linguagem que utilizamos contém em si camadas de significados construídos e
reelaborados ao longo do tempo. As palavras e conceitos tem uma história que pode ser
investigada pela ciência social.
Este conteúdo histórico dos conceitos para o qual Koselleck nos chamou a
atenção foi também teorizada pelo filosofo Hans Georg Gadamer, professor de grande
influência para koselleck. Para o filósofo, os conceitos políticos possuem em si uma
“história dos efeitos” atuante em qualquer ato compreensivo de forma inconsciente. Ela
é parte do “pertencimento à tradição”, dos “preconceitos” que, até certo ponto,
__________ 82 KOSELLECK, Reinhart apud FERES JUNIOR, João. For a Critical Conceptual History of Brasil: Receiving Bergriffsgeschichte. Contributions. v. 1, n. 2, October, 2005. 83 KOSELLECK, Reinhart apud FERES JUNIOR, João. For a Critical Conceptual History of Brasil: Receiving Bergriffsgeschichte. Contributions. v. 1, n. 2, October, 2005. 84 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 85 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. 2.ed. São Paulo: UNESP, 1991 86 KOSELLECK, Reinhart. Uma História dos Conceitos. Problemas Teóricos e Práticos. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992. pp. 134-146. p 8.
56
determinam a forma que os homens têm de significar o mundo e se comunicar. Para
Gadamer é possível que o intérprete da tradição desenvolva um nível de consciência
desses efeitos, mas tendo em mente que uma consciência total é impossível. Atentar a
este entrelaçamento histórico-efeitual em que se encontra a consciência histórica é
importante, não somente por possibilitar o afastamento dos preconceitos nocivos à
compreensão, mas também, e principalmente, por trazer à luz aquelas “pressuposições
sustentadoras” que guiam o compreender rumo às melhores e mais corretas questões.
Este é, para Gadamer, o momento crucial de realização da compreensão: a consciência
da “situação” hermenêutica, isto é, a obtenção do horizonte 87 de questionamento
correto na relação com a tradição. Isso quer significa que o desejo de investigar a
história dos significados e ressemantizações dos conceitos políticos não nos leva a um
total afastamento crítico da tradição: um certo nível de continuidade com ela se faz
necessária para que a própria formulação de questões se faça possível.
A abordagem conceitual proposta por Koselleck não implica, entretanto um
interesse puramente “histórico-linguístico”, uma busca pelos diversos significados
históricos dos termos apenas. A “história dos conceitos” tem por escopo chegar até a
experiência histórica pois percebe toda experiência histórica como ao mesmo tempo
experiência no âmbito lingüístico. Há um esforço de investigação da especificidade
teórica dos conceitos políticos modernos em seu processo de historicização, mas sem
negligencia dos contextos sócio-econômicos específicos e dos grupos de interesses
presentes no mundo social
A linguagem política está ligada, na obra de Koselleck, aos aspectos da sócio-
econômicos e políticos mais amplos, é claro, mas possuem uma natureza especial.
Apresentam, portanto, um duplo caráter. Por um lado, expressam conteúdos existentes e
sedimentados, nos termos de Koselleck, um “espaço de experiências”. Por outro, são
projeções de um futuro possível, indicando um “horizonte de expectativas” 88 que
impulsiona mudanças reais no mundo. A história dos conceitos de Koselleck se propõe
a clarificar os conflitos e tensões, os momentos de permanência, e as forças de mudança
__________ 87 Gadamer esclarece que a noção de “horizonte” foi utilizada por Nietzsche e Husserl e significa “o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a partir de um determinado ponto”. Ver GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 2002. 88 KOSELLECK, R. Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidos, 1999.
57
contidas na linguagem política. Em outras palavras são índices de realidade e fatores de
mudança, por seu valor performativo.
Neste ponto, a história dos conceitos de Koselleck se aproxima do enfoque
Collingwoodiana, presente em autores como Anthony Pagden, James Tully, Richard
Tuck e notadamente, John Pocock e Quentin Skynner. Este último, o que melhor
formulou teoricamente sua proposta, parte de uma preocupação historicista, tal como
Koselleck: o pensamento político não se estrutura a partir de “idéias” desencarnadas,
como o fez uma determinada tradição da história das idéias a qual pertencem Lovejoy e
Leo Strauss, por exemplo, mas se realiza na prática política em determinado tempo e
lugar da história. Para pensar esta pratica política das idéias o autor pensa procura
pensar nas idéias e conceitos como “atos de discurso”, isto é, em performances retóricas
operativas dentro de contextos lingüísticos. Ao invés de “idéias” teóricas formuladas
por um sujeito com acesso a questões universais e eternas, são ações intencionais 89 no
capo lingüístico, com efeitos transformadores diversos sobre a realidade em que
ocorrem. A visão da linguagem como “ato” ou “uso” foi construída em torno da teoria
dos atos de fala, advinda da filosofia da linguagem de Austin, que por sua vez se funda
na filosofia de Wittgenstein. Esta teoria propõe que a compreensão se torna possível
apenas pela comunicação e reconhecimento do significado, mas também da “força
ilocucionária intencional”, isto é, a intenção do autor no momento da fala, sua força
retórica, que só pode ser descoberta através da analise dos contextos lingüísticos de
debate. O conteúdo semântico de uma sentença e a finalidade autoral expressa
retoricamente são inseparáveis na comunicação oral, e devem estar presentes nas
interpretações que o historiador e o cientista social fazem ao ler suas fontes. 90. Em
suma, a perspectiva collingwoodiana chama a atenção para a importância do estudo dos
contextos de linguagem e suas variações históricas, tanto de sentidos, quanto de
estratégias retóricas partilhados socialmente num determinado momento histórico. Esta
perspectiva é extremamente importante num trabalho que pretende tratar da história do
__________ 89 Sobre o poder de ação dos conceitos no interior dos contextos intelectuais e políticos, as teorias de Poccock e Skinner se coadunam as de Koselleck. Ver: POCOCK, J. G. A. The History of Political Thought. A methodologiccal enquiry. In. LASLLET, P. & RUCIMAN, W. G. Philosophy, Politics and Society. Oxford: Oxford Press, 1969 e .SKINNER, Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory, v.8, n. 1, 1969. 90 JASMIN, Marcelo Gantus e FERES JUNIOR, João (orgs). História dos Conceitos. Debates e Perspectivas.Rio de Janeiro: PUC-Rio: Edições Loyola: IUPERJ, 2006.
58
conceito político de povo, passando por diversos contextos de discussão política em
que as estratégias retóricas dos atores sociais são extremamente importantes.
Esta zona de intercessão entre as duas abordagens collingwoodiana e
Koselleckiana deve ser bem delimitada. De fato a perspectiva koselleckiana da “história
dos conceitos” contém em si como um de seus fundamentos, a preocupação com a
análise sincrônica de determinados contextos sócio-lingüísticos, da experiência histórica
de conflito no qual foram formulados e postos em prática, assim como se dá na obra de
Skinner e Pocock. Porém, como ressaltaram Marcelo Jasmim e João Feres Júnior, há
uma dimensão específica na obra de Koselleck que diz respeito à diacronia das
transformações conceituais, e que dá a ela “traços de dinamismo histórico e acentos
hermenêuticos” 91 ausentes no contextualismo lingüístico de Skynner. A história dos
conceitos, ao contrário da abordagem collingwoodiana se ocupa da história das diversas
recepções que tiveram os conceitos ao longo da história, ocasionando, alterações,
ocultações e desvios no significado ao longo do tempo. Trata das continuidades e
mudanças conceituais que formaram diacronicamente determinadas tradições
interpretativas 92, que se prolongam pela história, e, muitas vezes, chegam até o os dias
de, ajudando a formar as questões do historiador. Um dos elementos que mais nos
interessa na historiografia de Koselleck é este aspecto que a afasta da pura metodologia
historicista e contextualista, embora não rompa com ela. As idéias e conceitos não se
fecham em seus contextos imediatos, situações de origem. Em suas análises, Koselleck
nos mostra permanências conceituais em contextos aparentemente diversos, de modo
que podem afetar e dizer respeito também ao mundo atual. Segundo Koselleck, a historia conceitual abarca aquela zona de convergência em que o passado, junto com seus conceitos, afeta os conceitos atuais. Precisa, pois, de uma teoria, pois sem ela não poderia conceber o que há de comum e de diferente no tempo. 93
Como herdeira da tradição alemã da história da filosofia e da hermenêutica
Koselleck não concebe a pesquisa histórica como oposição completa à tradição 94, tal
como nos primórdios da formação da disciplina, mas como parte de uma relação criativa
e critica com o passado. Passado e presente não são absolutamente estranhos. Ao lermos __________ 91 JASMIN, Marcelo Gantus e FERES JUNIOR, João (orgs). História dos Conceitos. Debates e Perspectivas.Rio de Janeiro: PUC-Rio: Edições Loyola: IUPERJ, 2006.p.23. 92 JASMIM, Marcelo Gantus. História dos Conceitos e Teoria Política e Social. Referências Preliminares. Revista Brasileira de Ciêncais Sociais. v. 20. n. 57. 2005. 93 Ibidem. p. 124. 94 Sobre a auto-definição que marcou a emergência da historiografia no século XIX ver GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 2002.
59
os autores de outras épocas, ao tratar dos conceitos e idéias que produziram, realizamos
também “nossa própria historicidade” 95, isto é, pensamos o nosso mundo e formulamos
nosso “horizonte de expectativas”.
Ao tratarmos, portanto, da história do conceito político de povo neste longo
período que vai do século XVIII ao XIX, estamos em terreno espinhoso, por diversos
motivos. Como dissemos, trata-se de um conceito muito carregado de significados para
a construção dos quais recorreram tradições intelectuais diversas, especialmente aquela
responsáveis por forjar as imagens da nacionalidade no Brasil. Estamos imersos nestas
tradições, mas ao mesmo tempo procuraremos criticá-las, expondo suas origens e suas
bases através da revelação do complexo e conflituoso processo de transformações
históricas da linguagem política.
__________ 95 IBBETT, John. “Gadamer, application and history of ideas”. History of Political Thought . v. 8. n. 3.p. 549.
60
CAPÍTULO 2
POVO E TEMPORALIDADE NO ANTIGO REGIME LUSO BRASILEIRO: O
SÉCULO XVIII
2.1 O conceito político de povo na tradição e na pratica política do antigo
regime luso-brasileiro
Este capítulo se dedica à compreensão do lugar semântico do “povo” na tradição
política do Antigo Regime Luso-Brasileiro e do processo de sua desestabilização que
teve seus primeiros contornos delineados ao longo do século XVIII, especialmente em
suas últimas décadas Foi neste processo que se desenharam os primeiros sinais do
fenômeno da temporalização da linguagem política que se aprofundaria mais tarde, ao
longo do século XIX.
O século XVIII foi um período de intensos conflitos e negociações entre as
imposições de um Estado em processo de afirmação frente às formas tradicionais de
organização e de repartição do poder na sociedade, o que se verificou, já nos primórdios
do século, na guerra dos mascates em Pernambuco e nos diversos levantes na região das
minas em que as tradições de luta contra a tirania ganham relevo; foi o momento em que
as autoridades e grupos dominantes da sociedade colonial percebem com mais clareza
as especificidades da população colonial, marcada pela escravidão, e pela formação de
uma população livre e pobre racialmente diversa e sem lugar estável no sistema
produtivo; foi o século da ilustração européia, do avanço do cientificismo e da noção de
“soberania dos povos”, que se verificou, ainda que de forma mais acanhada, no espaço
colonial. No plano propriamente das idéias e paradigmas políticos, Antônio Manuel
Hespanha apontou como marca do período a tensão entre dois “modelos mentais”: um
corporativo ou organicista que concebe a sociedade como um corpo organizado e
hierarquizado, dotado de um destino metafísico, e outro moderno para o qual a
sociedade é uma materialidade puramente terrena.
61
A linguagem política dos atores históricos no mundo colonial lusitano do Antigo
Regime tem despertado a atenção de muitos historiadores e cientistas sociais nas
últimas décadas. Este interesse tem se dado no âmbito de um esforço de renovação
historiográfica para rever as interpretações construídas durante as décadas de 1950 e
1970 marcadas pela idéia de “crise do sistema colonial e do Antigo Regime” 1. Ao
longo do século XVIII teria havido um conjunto de amplas transformações
socioeconômicas que determinaram a ação e as mentes dos agentes sociais no espaço da
colônia. Refiro-me à temática da “tomada de consciência da situação colonial” 2,
processo reforçado pela incorporação do ideário ilustrado europeu, que iria culminar no
processo de independência nacional. Esta tomada de consciência teria sido forjada no
embate entre interesses contrários relativos aos lugares sociais fundamentais do sistema,
de “colonos” e “colonizados”. Nas últimas décadas, esta historiografia tem sido revista.
Em lugar de enfatizar os interesses contrários de metrópole e colônia, têm se percebido
o jogo de conflitos e negociações dentro das regras e modelos de pensamento de uma
sociedade de Antigo Regime. Percebeu-se o peso e a importância das tradições, idéias e
cultura especificas dos agentes, o que suscitou a realização a uma massa de novas
pesquisas empíricas. Neste sentido, a investigação de conceitos específicos centrais ao
liberalismo político em uso no espaço setecentista colonial ganhou relevo ao procurar
esclarecer a real cultura política dos agentes envolvidos no processo. O que se entedia
por “povo” e “povos” no século XVIII nos parece uma questão-chave neste esforço de
compreensão.
Nesta seção, trataremos do lugar do “povo” no interior de um modo de conceber
e viver o mundo político ainda não imerso no processo de temporalização da realidade e
da linguagem política: a tradição política corporativa ou organicista luso-brasileira.
Trata-se de usos e significados herdeiros de um passado distante ainda fortemente
atuantes no mundo setecentista luso-brasileiro.
2.1.1 O lugar do povo no “corpo” político
__________ 1NOVAES, Luiz Antônio. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808) 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1983. 2 MOTA, Carlos Guilherme. Atitudes de inovação no Brasil. 1789-1801. Lisboa: Livros Horizonte, sd.
62
Um primeiro significado que a palavra “povo” possuía no pensamento e nas
práticas políticas era o de terceiro estado da sociedade de ordens do Antigo Regime,
aquele que tinha o dever e o “direito” ao trabalho 3, ao lado da nobreza e do clero, de
acordo com a tripartição da sociedade teorizada por São Tomaz de Aquino no século
XI. Este significado fundamental se fez presente em todo o período colonial,
prolongando-se pelo século XIX. Como exemplo extraído da documentação das
câmaras municipais, podemos citar uma representação de junho de 1748, em que o
Senado da Câmara do Rio de Janeiro pediu providências ao rei e ao bispo para que
houvesse maior participação na Procissão do Corpo de Deus, o “povo” aparece
contraposto aos “Cidadãos”, isto é, os Nobres, e ao Clero:
[Na dita Procissão], não só falta a maior parte dos Cidadãos, [...], [...], e a este respeito também a religião que a acompanha, Irmandades e Confrarias, e o mais Povo se faz público por editais a celebração desta festividade, e nesta forma se vai pondo em algum esquecimento e fervor devido com que se deve concorrer para ela [...] 4
Porém o significado que nos interesse investigar mais a fundo nesta seção é o
considerava o povo como a totalidade do corpo político. Na verdade, os dois
significados são ligados, pois, como o terceiro estado era o mais numeroso, era
considerado muitas vezes como a própria generalidade do povo. Além disso, o povo
como totalidade e o povo como a parte era significados que participavam de uma
mesma concepção sobre o corpo social e político. É esta concepção e o lugar ocupado
pelo “povo” que passaremos a investigar.
“Felicidade”, “conservação”, “sossego” dos povos eram as justificativas
constantes para as resoluções das câmaras municipais, bem como para os pedidos feitos
pelas autoridades coloniais à administração lisboeta. O historiador do período colonial
brasileiro Charles Boxer apontou as câmaras municipais como um dos pilares
fundamentais do império marítimo português, ao lado das irmandades de caridade e
confrarias laicas 5. Sua ampla importância na administração e na política colonial
explica o relevo que tem ganhado nas pesquisas históricas nas últimas décadas. As
câmaras tinham muito em comum com as suas congêneres metropolitanas, o que __________ 3 SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal. Lisboa: Livraria Felgueiras, 1992. O dicionarista chama a atenção para o aspecto de direito ao trabalho, que é pouco observado quando comparado ao de obrigação. Assim, como o povo não podia fazer a guerra, tarefa da nobreza, esta não podia fazer trabalho mecânico, e em caso de desobediência a este preceito, o povo podia reclamar ao monarca. 4 Arquivo Histórico Ultramarino – Rio de Janeiro, Avulsos, Caixa 48, Doc. 42 5 BOXER, Charles. Conselheiros municipais e irmãos de caridade. In. O Império Marítimo Português. São Paulo: Cia. Das Letras, 2002.
63
reafirma a hipótese de que, embora a colonização tenha sido um empreendimento
comercial, se deu por meio da trasladação de uma série de mecanismos políticos,
jurídicos e administrativos tradicionais da metrópole. Formadas por um conselho de
dois a seis vereadores, dois juízes ordinários um procurador – os “oficiais” – e por uma
série de funcionários subalternos, como os fiscais de obras públicas, os escrivães e os
juízes de órfãos, as câmaras eram os órgãos de administração, mas também de
“representação” política do “povo” ou dos “povos” da colônia frente ao rei. A escolha
dos oficiais e funcionários era feita “por uma assembléia de todos os chefes de família
abastados e respeitáveis habilitados a votar” 6. As câmaras se reportavam ao Conselho
Ultramarino em Portugal através de “petições”, que eram respondidas em nome da
vontade do monarca. As petições eram vistas como um direito dos povos, mas seu
acatamento era uma escolha real. Vejamos alguns exemplos.
Em janeiro de 1785, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro enviou uma
representação ao Conselho Ultramarino, pedindo para que fosse revogada a lei que
proibiu aos cirurgiões não formados em universidades atuarem como médicos, tendo em
vista o pequeno número destes e a vasta população de “vinte e cinco mil almas”. A
Câmara reconheceu que a lei fora feita com o intuito de garantir a “felicidade dos
povos”, mas achou por bem recorrer àquela mesma “providência, que tem feito felizes
os Leais Vassalos de Vossa Majestade [...]”. A esta representação, a junta respondeu
que a pretendida revogação não se devia realizar, pois precipitaria o “Povo em um
muito maior dano do que pretendem evitar, ofendidos e fraudados tantos legais, e
saudáveis providências em benefício da conservação e saúde dos Povos” 7.
Em Maio de 1750, em outro documento, o Conselho Ultramarino informou ao
rei sobre carta enviada pelo governador e capitão general da capitania de Pernambuco
Dom Marcos de Noronha, onde este expõe as representações que os moradores de lhe
haviam feito denunciando a atuação dos Provedores Comissários do Juízo dos Defuntos
e Ausentes (responsáveis pela administração das heranças). O documento fez referência
às
grandes vexações que experimentam na forma das execuções que lhe fazem os sobreditos Ministros, sendo entre todos os povos os mais oprimidos os que vivem no
__________ 6 BOXER, Charles. Conselheiros municipais e irmãos de caridade. In. O Império Marítimo Português. São Paulo: Cia. Das Letras, 2002. p. 48. 7 Arquivo Histórico Ultramarino. Rio de Janeiro, Caixa 143, Doc. 61.
64
Sertão, porque como assistem em maior distancia lhes fica mais dificultoso o seu recurso, e eles estão como maior liberdade para lhes fazerem as injustiças que querem.8
Em setembro 1798, o Conselho ultramarino respondeu ao Presidente da Mesa de
Inspeção do Rio de Janeiro José Feliciano da Rocha Gameiro ao seu pedido para para que
os governadores não obrigassem mais os lavradores a ceder “Negros e Carros” ao Real
Serviço (serviço e obras públicas) sem “justa necessidade”, pois isto estaria atrasando os
trabalhos da agricultura pela falta de meios. O conselho, Cujo Ministro na época era D.
Rodrigo de Souza Coutinho, respondeu a Gameiro em nome de Sua Magestade Dona Maria
I, que mandaria cicular entre os governadores avisos ordenando-lhes que não o fizessem
sem necessidade e cuidassem para que os agricultores fossem de alguma forma ressarcidos,
“pois que assim se animam as Plantações e o Povo fazendo-lhes sentir falta dos generos de
que necessitam” 9. Em dezembro do mesmo ano, José Luís de Castro, Conde de Resende,
Vice-Rei do Brasil enviou carta ao Ministro do ultramar referindo-se à aos argumentos de
Gameiro para a contribuição dos lavradores com negros e carros é necessária, “se bem que
com a moderação que recomenda a tranquilidade e socego dos Povos” 10.
“Felicidade”, “sossego”, “conservação”, “justiça” dos povos. Usos como estes
podem ser encontados na documentação referente a toda a história das câmaras municipais
no período colonial. Trata-se de um uso simples e cotidiano que pode permanecer
despercebido em seu sentido maior. A documentação camarária no século XVIII evidencia
uma determinada concepção do termo povo, ou como era mais corrente, “povos”: a
totalidade do corpo político do Antigo Regime Português, isto é, o conjunto dos vassalos do
rei – os três estados, ordens ou corpos do reino. Nesta concepção, como vimos, o plural
povos prepondera sobre o singular “povo”, evidenciando a menor ocorrência da forma
“singular coletiva”, que preponderaria mais tarde, notadamente com a criação do conceito
de povo-nação.
As Ordenações, espécies de textos constitucionais que regeram a nação portuguesa
desde meados do século XV podem nos dar indicações importantes a respeito da antiga
tradição que alicerça a concepção expressa nestes exemplos de documentos das câmaras
coloniais. As Ordenações Afonsinas constituíram o alicerce de todos os textos posteriores
até 1821 tendo sua vigência iniciada por volta de 1447. Trata-se de uma sistematização
escrita dos costumes leis vigentes no reino luso, o direito natural ou das gentes. Em suas __________ 8 Documentos Históricos. Biblioteca Nacional 1951. vol. 91 9 Arquivo Histórico Ultramarino – Rio de Janeiro – Avulsos – Caixa 69 – Doc 118. 10 Arquivo Histórico Ultramarino – Rio de Janeiro – Avulsos – Caixa 171. Doc. 93.
65
palavras iniciais, o texto lembra “o grande louvor que o Estado Real consegue por bem da
justiça [...], que não é achada entre todas as virtudes alguma tão louvada, nem de tão grande
preço como a justiça; porque ela só é a que tolhe todo pecado, e maldade e ainda conserva
cada um em seu verdadeiro ser, dando-lhe o que seu é diretamente”. O rei deve ser sábio
para subjugar seus apetites mentais e carnais desejos ao jugo da razão para diretamente
reger seu Reino, e senhorio, e manter seu povo em direito, e justiça [...]” 11. O prólogo das
ordenações Manoelinas repete o mesmo topos ao assegurar “quão necessária é a justiça [...]
para a governança e conservação de toda a república, e Estado Real e que, mais do que
qualquer membro, o rei deve tê-la como “verdadeiro espelho”. A justiça, esclarece o
prólogo, “consiste em igualeza, e com justa balança dar o seu a cada um, de modo que, o
Rei “deve ser sempre um, e igual a todos, em retribuir a cada um segundo seus
merecimentos”. O texto conclui que assim se deve fazer o bom Príncipe, pois que por Deus foi dado [seu poder] principalmente não para si, nem seu particular proveito, mas para bem governar o seu povo, e aproveitar a seus súditos como a próprios filhos. 12
Vemos que o “povo” é compreendido sempre na sua relação com o rei, ambos
partes constituintes de uma grande unidade político-espiritual. A força desta tradição de
origem medieval se confirma quando observamos que as Ordenações Filipinas, em nada
alteram seus preceitos básicos. O rei é o detentor da soberania, mas deve governar com
justiça, o que na lógica de uma sociedade de Antigo Regime significava fundamentalmente
manter as distinções sociais, os lugares específicos, as funções e privilégios dos corpos
componentes da sociedade, dando “o seu a cada um”.
Diversas obras influêntes no século XVIII clarificam esta concepção básica que
informa a semantica e o lugar do “povo” no pensamento e na prática política. Faremos uma
breve exposição de algumas delas, lembrando-nos sempre que a letra da doutrina não
expressa diretamente a vivência do cotidiano político de uma dada época e lugar, embora
possa nos exclarecer sobre muitos de seus pontos. Em todo o setecentos português, muitos
tratadistas e intelectuais escreveram obras em que teorizaram a respeito da relação entre o
rei e seus vassalos 13. Muitas delas faziam parte da antiga tradição dos “espelhos de
__________ 11 Ordenações Afonsinas. Livro I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. p. 4. 12 Ordenações Manoelinas. Livro I. Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. p. 1. 13 Infelizmente não pudemos ter acesso ao Tractado analytico e apologético sobre os provimentos dos bispados da coroa de Portugal: calumnias de castella convencidas: resposta ao seu author D. Francisco Ramos del Manzano: justifica-se o procedimento do senhor Rey D. Joam o IV e do senhor Rey D. Affonso seu filho, com a fé apostólica (...) escrita em 1715 por Manuel Rodrigues Leitão (Lisboa: Officina Real Deslandesiana, 1715. Esta obra é citada por Antônio Manuel Hespanha como um exemplo do “paradigma corporativo”.
66
príncipes” 14 obras destinadas dar aos reis ensinamentos de virtude e de bom governo
através de exemplos históricos, argumentos de razão e autoridade. O final do século foi
particularmente profícuo nestas obras, tanto pelos defensores das reformas ilustradas,
quanto dos defensores da tradição política do Antigo Regime, interessados em influenciar
de algum modo a monarquia.
Em meio às reformas do despotismo ilustrado, da Revolução Francesa e da
crescente penetração das idéias ilustradas nos ambientes doutos do mundo luso-brasileiro,
muitos autores se esforçaram por defender os antigos e costumeiros princípios da secular
tradição política portuguesa. Uma destas obras foi o Príncipe Perfeito de 1790, escrita por
Francisco António de Novaes Campos 15. O autor, formado em Leis em Coimbra em 1759,
parafrazeou neste livro do autor espanhól Solórzano Pereira, cuja obra data do século XVII.
O Principe Perfeito procurava lembrar à Dom João VI seu dever moral ante Deus e seu
povo. Em sua argumentação, a segurança e harmonia do corpo social vem da relação entre
Deus e o Rei. Este não é absoluto, pois é julgado por Deus em seus atos, devendo agir com
justiça. Em relação ao seu povo, o corpo social, o rei é a cabeça 16:
Se o povo forma o Corpo, o Rey Cabeça Os sentidos trazer deve apurados Para que pronto o sirva, e lhe obedeça Por todos vele em fim com mil cuidados Que só por que nenhum dos seus pereça, É que tantos poderes lhe são dados 17
Segundo esta metáfora do corpo humano que “impregnou o pensamento político
desde o final da Idade Média” 18, ser a cabeça não significava ser absoluto. Significava, em
primeiro lugar ser um centro moral que servisse de espelho ao resto do corpo social, o que
contribuia para a manutenção da ordem e harmonia. Seus poderes lhe foram dados por Deus
para que cuidasse de seu povo, entendido como o conjunto dos súditos ou vassalos, como
um pastor cuida do seu rebanho, punindo quando necessário. Deveria o rei, portanto, dar
__________ 14 SOUZA, Iara Lis Carvalho Souza. Pátria Coroada. O Brasil como corpo político autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1999. 15 CAMPOS, Francisco Antônio de Novaes. Príncipe Perfeito. Emblemas de D. João de Solórzano. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1985. 16 Segundo E. Kantorovicz, “A doutrina da teologia e do direito canônico, que ensina que a Igreja e a sociedade cristã em geral são um corpo místico, da qual a cabeça é o Cristo foi transposta pelos juristas da esfera teológica àquela do estado, do qual a cabeça é o rei”. KANTOROVIVCZ, Ernst .Les Deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen âge. Paris : Gallimard, 1989. 17 No original: “Fe o Povo fórma o Corpo/ o Rey Cabeça/ Os fentidos trazer deve apurados/ Para q~ prompto o firva e lhe obedeça/ Por todos vêlle em fim com mil cuidados,/ Q’fó por q~ tantos poderes lhe fão dados”. CAMPOS, op.cit. nota 15, n. 1085. 18 KANTOROVICZ, Ernst. Les Deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen âge. Paris : Gallimard, 1989. p. 663
67
“franca entrada aos povos”, ouvindo as “queixas dos vassalos” e “administrando com
justiça”, o que imploicava dar a cada um o que lhe é próprio.
Outra obra importante foi a Dissertação a favor da monarquia escrita pelo Marquês
de Penalva em 1799. Seu autor, um nobre da melhor tradição do reino, neto de um guerreiro
da Restauração portuguesa concluída em 1640 - o segundo Conde de Vila-Maior e primeiro
Marquês de Alegrete –, foi governador da capitania de São Paulo e do Rio Grande no
Reinado de Dona Maria Primeira. A obra é uma defesa da legitimidade da monarquia
portuguesa e das hierarquias do Antigo Regime frente ao contratualismo, às noções de
igualdade e direitos do homem. A monarquia, isto é, “a soberania de um só”, é vista como o
melhor dos regimes, pois é natural e necessária como a autoridade que um pai tem em
relação aos seus filhos. A metáfora do pai e filhos, assim como a metafora morfológica,
fora de ampla utlização no periodo para tratar da relção entre rei e vassalos: os reis são “os
Pais e Pastores dos Povos”. Segundo Penalva,
cederam a este pai comum [o Soberano] todos os pais de famílias e seus veneráveis direitos, e encarregou-se a um só o governo de todos. Sentiram-se logo os benignos influxos que a concórdia produz: união de forças, igualdade de subordinação, semelhança de costumes, interesse recíprocro; tudo concorreu para fazer o Patriotismo, uma das mais belas e necessárias qualidades de Cidadão e Vassalo. 19
Embora o monarca seja o titular único da soberania, isso não significa em absoluto
que no regime monárquico não haja liberade e direitos do “cidadão”. Para Penalva, a
monarquia difere radicalmente do despotismo, pois os cidadãos possuem direitos que
podem ser exigidos, o que severificaria de forma peculiar na pátria portuguesa onde o
soberano consente que sejam julgadas as causas entre a coroa e os seus Vassalos [...] tanto é
o respeito que os nossos Príncipes tem a Deus por quem reinam, e à justiça e observancia
das mesmas leis!” 20
Da mesma forma, para Penalva, a igualdade também existe na monarquia. Tal como
pai de família, o monarca “distingue e paga os seus serviços, mas sem ofensa do direito que
__________ 19 PENALVA, Marquês de. Dissertação a favor da Monarquia. Porto: Edicões Gama, sd. (Título original: Dissertação a favor da Monarquia. Onde fe prova pela razão, authoridade, e experiencia fer efte o melhor e mais jufto de todos os Governos; e que os noffos Reis são os mais absolutos, e legítimos Senhores de Feus Reinos: offerecida a sua alteza Real o Príncipe do Brazil nosso senhor pelo Marquez de Penalva. Lisboa, na Regia officina Typografica. M. DCC. XCIX, por ordem de sua magestade). 20 PENALVA, Marquês de. Dissertação sôbre as obrigações do vassalo. Lisboa: Pro Domo, MCMXLV. (título original: Dissertação sobre as obrigações do vassalo dedicada ao príncipe regente nosso senhor pelo Marquês de Penalva. Lisboa, na impressão régia, MDCCCIV, com Licença de S. A.R.) p. 47.
68
têm a ser ouvidos e protegidos com igualdade” 21. Toda esta argumentação se dirige a
provar que a argumentação dos “inquietos” ilustrados contra o antigo regime não possui
fundamento, pois neste, há todas as garantias aos povos e limites ao alcance do poder real.
O poder absoluto legítimo e justo não significaria despotismo, pois possui uma “jurisdição
verdadeiramente real que não pode ser extendida para além de certos limites ditados pela
“Constituição”.
Como então provar esta legitimidade das monarquias? Historicamente a
leigitimidade do dominio dos Príncipes portugueses pode ser provada, segundo Penalva,
primeiro, pelo direito de propriedade adquido por doação feita pelo Rei Espanhol ao Conde
D. Henrique e por conquista em guerra justa – a expulsão dos “maometanos” do território.
Estes fatos fundadores confeririam ao rei pelas leis do resgate e pela gratidão “a sujeição
dos Povos libertados” da opressão. Além disso, a celebração das Côrtes de Lamego, a
primeira reunião das Cortes Portuguesas, cujo acontecimento sempre fora motivo de
dúvidas, seria uma prova de que a monarquia era, além de fruto de conquista e doação,
consequncia da “livre escolha dos Povos”.
O argumento das livre escolha através da tradicional instituição das cortes difere de
longe do argumento de que a soberania é fruto de um contrato ou pacto originário entre os
homens, entendidos como indivíduos autônomos. As Côrtes representavam simplesmente o
momento em que o rei ouvia seus vassalos, à imitação dos Pais que chamam seus filhos crescidos para de comum acordo alterarem alguma coisa na família, assim os nossos soberanos chamavam os Procuradores dos povos para lhes manifestar as circunstancias imperiosas, que os obrigavam a dispensar algumas das leis fundamentais, ficando-lhes com o seu voto um penhor da sua aprovação, e obediência 22
Segundo Antonio Manuel Hespanha, o povo ou os povos (o corpo social, o conjunto
dos súditos ou vassalos, o conjunto das três ordens) eram vistos na tradição corporativa
portuguesa como elementos integrantes de uma ordem universal dirigida por um destino
moral e místico comum. Cada uma destas partes tinha uma função específica e
indispensável a desempenhar na garantia da harmonia e na caminhada rumo a um telos.
Disso se depreende que o poder era visto como algo necessariamente repartido: cada parte
possuia uma determinada jurisdição que o rei deveria respeitar e manter sob pena da
desagregação do todo social. Trata-se de uma visão plural do poder: a figura real deveria
acatar as diversas soberanias existentes, atribuindo a cada parte o que lhe é próprio por
__________ 21 Ibidem. p 76. 22 Ibidem. p. 118.
69
direito, mantendo assim a harmonia, a paz e realizando a justiça, considerada o fim supremo
da política.
A análise empreendida por Kantorowics23 a respeito das formas de fundamentação
da realeza e da sociedade na Inglaterra são importantes para entender o lugar do povo nesta
tradição de origem medieval que procuramos entender para o caso luso-brasileiro. Havia na
cultura política medieval, segundo Kantorowics, a concepção dos “dois corpos do rei”: um
corpo natural – a pessoa do rei, por assim dizer, mortal - e um corpo místico ou político -
eterno, fundado na comunidade ou no “povo”. O povo, nesta análise, é o fundamento, a
substância eterna do corpo místico, o que dá sentido à existência do rei como seu
governante. Enquanto existir o corpo místico ou político do povo, portanto, o rei não
morreria jamais.
Havia três formas de fundamentação da realeza na visão de Kantorovicz, que não se
excluem, mas se complementam. As três do meu ponto de vista, aparecem de alguma
maneira na tradição política setecentista lusobrasileira que procuramos compreender. Tais
fundamentações limitam o poder real em nome do ‘corpo místico”. A primeira, funda a
realeza em Cristo, sendo da essencia do rei ser o mediador entre Deus e o povo. Na
segunda, influenciada pelo direito romano, a realeza se fundamenta na lei: nessa perspectiva
não é o rei que governa, mas a justiça; o rei não passa de um instrumento da justiça divina.
Na terceira forma, a realeza é fundada na política. Sob a influência da filosofia aristotélica,
o homem é visto como um ser naturalmente social, logo faz parte de uma coletividade
social (“humanidade, populus, civitas, regnum ou patria, comunidade) cujo objetivo é
moral. O rei e esta coletividade- o corpus mysticun – realizam um pacto, contrato ou
“casamento”, em que a coletividade consente em ser governada pelo rei. Trata-se de uma
concepção pactista da soberania real. Todos estes elementos dão contornos ao poder real,
evitando seu transbordamento para o absolutismo.
Voltando para o mundo ibérico, as leis, da sociedade e as atribuições de cada uma
de suas partes eram vistas como absolutamente “indisponíveis”, isto é, imutaveis pela
vontade humana, por serem partes necessárias da natureza das coisas no mundo.
Independem, portanto, das vontades e interesses dos homens, tanto no que diz respeito ao
poder do rei, quanto aos povos ou conjunto dos vassalos. O poder real era visto como algo
limitado, tendo que respeitar os poderes tradicionais dos diveros membros que compoem o
__________ 23 KANTOROVICZ, Ernst .Les Deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen âge. Paris : Gallimard, 1989.
70
corpo social, realizando assim seu pricipal dever: realizar a justiça, resolver os conflitos,
fazer valer o direito que preexiste às vontades e paixoes humanas.
Podemos concluir que a relação dos povos com o poder real era regida por uma
idéia de pacto típica do Antigo Regime: dos povos vassalos era esperada a lealdade e a
defesa da soberania portuguesa nos territórios e do rei era esperado que fosse virtuoso,
agisse com justiça, o que siginificava na lógica do Antigo Regime repeitar os direitos das
diversas partes que compoem a sociedade – os povos representados nas câmras. Porém,
este pacto não deve ser compreendido simplesmente como o resultado de uma ação
voluntária realizada por indivíduos autônomos, no plano lógico ou em algum momento da
história, que fundaria a sociedade, a política e o direito. O pacto existe, porém “não é ele
que fundamenta o direito, mas este que funda a obrigatoriedade do pacto” 24. Trata-se de um
pacto entre os homens, ou melhor, entre os corpos da sociedade mas sempre referido a uma
ordem superior que deve ser respeitada, que o torna possível e lhe dá sentido.
Este pacto é reforçado, entre outras coisas, de acordo com Fragoso, Gouveia e
Bicalho, pelas práticas tradicionais da distribuição pelo rei de “mercês” e “privilégios”
como recompensa por serviços prestados à monarquia portuguesa. Nessa “economia política
dos privilégios”, havia mecanismos de nobilitação que criavam na colônia uma nobreza
civil ou política leal ao rei, encastelada nos principais cargos das câmaras. Segundo estes
autores, através destes mecanismos, o monarca reforçava os laços de sujeição e o sentimento de pertença dos mesmos vassalos à estrutura política do Imperio, garantindo a sua governabilidade. Materializava-se assim, forjando a própria dinâmica da relação imperial, uma dada noção de pacto e de soberania, caracterizada por valores e práticas tipicamente do Antigo Regime (...) 25
Neste sentido, o “povo” ou os “povos” com quem o rei mantinha um pacto que dava
suporte à monarquia portuguesa e sua soberania sobre os territórios coloniais eram
fundamentalmente os nobres vassalos reunidos nas camaras municipais. Esta significação
mais restrita foi percebiada por Charles Boxer, para quem o Povo do Antigo Regime
Português eram os “homens bons” habilitados a votar para a escolha dos cargos camarários.
Neste sentido, a nobreza era considerada o principal sustentáculo do poder real em seus
territórios, “a porção mais distinta e mais devedora ao rei e à Patria de bons exemplos e de
__________ 24 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A Representação da Sociedade e do Poder. Paradigmas Políticos e Tradiçoes Literárias. In. HESPANHA, A. M. (coord.). História de Portugal. Vol. 4. . Lisboa: E. Estampa, 1993. 25 FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernada; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Uma leitura do Brasil Colonial. Bases da materialidade e da governabilidade no Império. Penélope. Revista de História e Ciências Sociais. n. 23. Oeiras: Celta Editora, 2000. p. 75.
71
relevantes serviços” 26, embora todos os habitantes fossem igualmente suditos e vassalos,
devendo ao monarca igualmente obediência e lealdade absolutas.
Segundo Maria Beatriz Nizze da Silveira, o Brasil colonial possuía de fato uma
nobreza, a chamada nobreza da terra, embora muitos documentos do período dêem a
entender que a divisão tradicional em ordens fosse confusa em decorrência da escravidão
indigena e africana. Na colônia, diziam alguns autores do período 27, todos os que não
fossem índios ou negros queriam ser fidalgos, ou ao menos aparentar serem fidalgos. Esta
questão será aprofundada em outra seção deste capítulo, mas é importante perceber no
momento que, embora o Povo significasse o conjunto do corpo político em sua relação com
o rei, podia em muitos casos se confundir com a nobreza, elemento central do corpo político
que pactua com o rei.
Esta relação entre povos e rei, embora regida pelas concepções corporativas
expostas acima, não foi de forma alguma harmoniosa no periodo colonial28. Na primeira
metade do século XVIII, pulularam revoltas e levantes nas Minas, opondo os povos e as
autoridades metropolitanas. A coroa portuguesa de fato procurava controlar as áreas
mineradoras através da imposição de um poder de tipo estatal mais moderno e mais
incisivo, por meio de agentes da administração do império que tentavam estabelecer
maior controle sobre a cobrança dos impostos. A comunidade local, entretanto resistia,
aferrando-se às formas de relação entre povos (vassalos) e rei instituídas pelo costume.
Segundo Carla Maria Junho Anastasia, estas revoltas explicitavam a dificuldade que tinham as autoridades em impor regras sem respeitar aquelas estabelecidas no convívio da comunidade. Foram revoltas claramente reativas, nas quais os mineradores não pretendiam colocar em xeque as regras estipuladas para o jogo colonial, mas tão somente lutavam para garantir a manutenção de determinados procedimentos inaugurados no alvorecer das minas, e, em geral, considerados razoáveis pela sua população 29
Anastasia, ao analisar um levante ocorrido em 1715 conclui que os revoltosos
não discutiam a justiça do pagamento do tributo cobrado pelos representantes do rei,
mas apenas a pretendida mudança em sua forma. Em outras palavras, não discutiam sua
fidelidade ao rei e seu direito soberano sobre o território e as gentes. O rei terminou por __________ 26 PENALVA, Marquês de. Dissertação sôbre as obrigações do vassalo. Lisboa: Pro Domo, MCMXLV. (título original: Dissertação sobre as obrigações do vassalo dedicada ao príncipe regente nosso senhor pelo Marquês de Penalva. Lisboa, na impressão régia, MDCCCIV, com Licença de S. A.R.). 27 “Como ha de conservar-se a república adonde todos são fidalgos, todos querem viver à lei da nobreza, todos tem as mãos sagraadas”. Ver. SÁ, José Barbosa de. Diálogos Geográficos, Crhonológicos políticos e naturais. Cuiabá, 1769 apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser Nobre na Colônia. São Paulo: Editora UNESP, 2005. p7. 28 FIGUEIREDO, Luciano Raposo. Rebeliões no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 29 ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos Rebeldes. Violência coletiva nas minas na primeira metade do século XVIII. Belo Horizonte: Editora c/ Arte, 1988. p 34.
72
ceder às pressoes à pedido do governador D. Bras, e concedeu perdão aos revoltosos a
fim de “sossegar esses povos com deixar de executar as ordens para se cobrarem os
quintos por bateias [...] permitindo em que se contituasse com a forma estabelecida e
assentada com os povos em trinta arrobas de ouro por ano [...]” 30.
No grande levante de 1720, conhecido pelo nome de um dos seus líderes, Felipe
dos Santos, este significado é reiterado. De cordo com uma das fontes mais importantes
refrentes ao movimento, supostamente escrita pelo então governador, o Conde de
Assumar, entre os intentos dos povos estava a “conservação do respeito” por parte
daqueles que “se tinham antigamente apoderado da autoridade e mando de que hoje se
achavam destituídos, e o procuravam por meio tão ilícito recobrar” 31. Eram os povos
que buscavam a preservação de seus antigos direitos e privilégios pactuados ou
costumeiramente assegurados, que estavam sendo ameaçados pelo poder real. Estes,
dizia conde, “querem que a lei seja conforme eles vivem, e não querem viver eles
conforme a lei” 32
Estes movimentos ocorridos na primeira metade do século XVIII, dos quais
expusemos um exemplo das Minas, demonstram a força na colônia da tradição de
relação entre “povos” e “monarca” Deste era esperado que fizesse a justiça e a paz, o
que significava fundamentalmente o respeito e manutenção dos lugares sociais e
privilégios estabelecidos. Na colônia, estes direitos decorriam em grande medida dos
direitos adquiridos pelos “povos”, no plural, em decorrência da conquista e defesa do
território, o que garantia a soberania portuguesa nas regiões coloniais.
2.1.2 A tradição radicalizada: o retorno da soberania aos povos e o direito de
rebelião
O povo podia ter um outro lugar e outra significação, ainda dentro da visão
corporativa ou organicista que expusemos acima. Nos primórdios do século XVIII, a
capitania de Pernambuco assistiu a um levante da nobreza da terra contra o novo
Governador Sebastião de Castro Caldas e seu decreto que, segundo ordens reais,
__________ 30 CARTA Regia de 04 de março de 1716. Arquivo Público Mineiro. Seção Colonial. Códice SG 04 fls 129 e 130 apud. ANASTASIA, ibidem. 31 DISCURSO Histórico e Político sobre a Sublevação que houve nas Minas no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994. p.72. 32 Ibidem. p.68.
73
transformaria o Recife em Vila, o que lhe daria o direito de possuir uma câmara
municipal, um privilégio reservado a Olinda. A nobreza se levantou então, opondo-se a
que os habitantes de Recife, em sua maioria portugueses e comerciantes, tivessem
mecanismos de representação. Uma sangrenta guerra se iniciou entre nobreza e
comerciantes em Pernambuco.
Numa das fontes mais importante para o estudo deste episodio, uma extensa
Narração Histórica escrita 1749 33, o autor, um crítico ferrenho da atitude da nobreza
de Olinda, principia defendendo a inviolabilidade da lealdade dos suditos, de acordo
com a visão tradicional da relação entre povos e rei:
Creio ninguém deixaria de desejar fôssem castigados os taes delinquentes, pois ainda que o governador fosse um Herodes, nunca os vassalos del rei, de quem os governadores são lugar-tenentes, podião ter liberdade, para ação similhante. 34
Do lado da nobreza insurgente, o levante, a substituição dos portugueses por
naturais da terra nos cargos administrativos, a amotinação dos povos do interior e a
convocação de um novo Governador, são, de acordo com este documento, ações realizadas
“em nome do povo” e são justificadas como “remédio único, contra as tiranias, violências e
excessos, que em dano de todos os moradores estava executando o governador” 35. Que
povo é este de que fala a nobreza sediciosa? Era de um povo que contrariando a visão
tradicional, tinha uma existencia separada da firgura real, podendo, portanto, tomar seu
destino em suas mãos. Em um brinde que teria ocorrido por ocasiao do segundo levante da
nobreza, José Tavares de Olanda questionava:
Não me dirá você para que queremos nós rei? [...]Isso há de vossa mercê dizer, ha povo que possa passar sem rei? [...] Sim, Senhor, há, os Pernambucanos, que são muito capazes de se governarem a si. 36
A nobreza da terra defendia o monopólio da representação política na Câmara de
Olinda sob o argumento de que seus antepassados tinham conquistado a capitania aos índios
no século XVI e a reconquistado aos holandeses no século XVII, restaurando a soberania
poruguesa na região. Este argumento, que fez história nos movimentos em Pernambuco até
__________ 33 NARRAÇÃO Histórica das Calamidades de Pernambuco. Sucedidas desde o anno de 1707 até 1715 com a notícia do Levante dos Povos de suas capitanias. Escrita por um anônimo (1749). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. v.53, Parte II, p. 1-307, 1890. 34 Ibidem, p.34. 35 NARRAÇÃO Histórica das Calamidades de Pernambuco. Sucedidas desde o anno de 1707 até 1715 com a notícia do Levante dos Povos de suas capitanias. Escrita por um anônimo (1749). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. v.53, Parte II, p. 1-307, 1890. p.60. 36 Ibidem. p. 61.
74
1824, fica claramente exposto num célebre trecho de numa carta atribuída na Narração
Hisórica à um membro da nobreza:
Bem sabe vossa Mercê o quanto se desvelarão nossos antepassados na restauração desta terra, acreditando a sua fidelidade à custa de seu sangue, vidas e fazendas, e que a vossa mercê compete muita parte desta gloria pelo assinalado nas proezas do memoravel pai de vossa mercê, como um dos principais restauradores dela, aumentando a coroa de Portugal, de quem todos somos legitimos vassalos, esta conquista, que sempre conservamos em paz na sua obediência [...] 37
Em resposta ao governador da Paraíba que havia enviado à nobreza pernambucana
um manifesto em 18 de Julho de 1711 condenado o levante, a nobreza se refere à tradicional
relação entre os povos e o monarca, recordando que “a obrigação do rei e dos seus
ministros é conservar os vassalos e suditos em paz, fazendo observar a cada um os ditames
da razão e justiça”. Porém, continua, “como a justiça divina é só reta e igualmente
distributiva, permite algumas vezes superiormente, que os mesmos que reconhecem a
obediencia castiguem as tiranias, mostrando rebeldia [...]”. 38
De toda esta explanação, podemos inferir que na concepção da nobreza
pernambucana em conflito com o governador e com os comerciantes reinois, o povo ou os
povos não eram apenas membros de um corpo cuja cabeça é o rei. Não eram apenas os
participantes de uma ordem mística. Eram os integrantes de um verdadeiro “pacto” ou
“contrato” com o rei, o que garantia o mando soberano e a obediencia dos vassalos. Sendo
este pacto quebrado, por tirania real, isto é, pela não observancia da obrigação de fazer a
justiça, aos povos cabia o direito de rebelarem-se. Isto é possível por que, como se vê na
passagem, a justiça é “reta e igualmente distribuída”, de modo que todos os membros da
comunidade política tem o direito e o dever de, por todos os meios, procurar mantê-la. Esta
noção pactual, é bom que se entenda, não foge ao corporativismo que regia a visão
tradicional da sociedade e da política. O pacto entre povos e rei só se legitima por que é
ancorado num ordenamento natural, costumeiro e de cunho divino.
Esta concepção teve paralelo no plano doutrinário, embora seja difícil determinar o
quanto estas obras tinham influência nos eventos descritos. Em meados do século XVII,
Francisco Velasco Gouveia escreveu um tratado analítico defendendo a justiça e
legitimidade da aclamação de D João IV. Portugal acabara de sair da da dominação da
coroa Espanhola que havia durado sessenta anos, e era necessário justificar perante as
__________ 37 Ibidem. p. 116. 38 Ibidem. p. 139.
75
nações cristãs e a igreja católica a sublevação que culminara com a aclamação do Duque de
Bragança D. João. A primeira parte do texto se dedicou a mostrar que o reino de Portugal
tinha o poder para aclamar rei quem tivesse esse direito e expulsar aquele que o tiver. Para
Velasco Gouveia, o fundamento desse direito era o pressuposto de que “o poder regio dos
reis está nos povos e Repúblicas, e delas o receberam imediatamente” 39. Todo o poder
existente no mundo dos homens vinha de Deus, era verdade, mas sua existência se
destinava à coservação humana, de modo que a “razão natural” dizia que este poder foi
dado à todos os homens da comunidade, ao reino, em fim, aos “povos”.
Nesta concepção, portanto, o rei recebia o poder não diretamente de Deus, como
queriam muitos teóricos do periodo, mas com a mediação dos povos e através de um
“pacto” cuja “condição” é a de que os povos sejam governados e administrados com justiça.
Porém, esta tranferência de poder que origina a soberania real não implica que os povos
ficassem absolutamente desprovidos do poder. Citando São Tomaz de Aquino, Gouveia
argumentou que de acordo com o “direito natural”, na República, assim como entre os
particulares, não poderia haver renuncia total ao poder paraque a capacidade de se
autoconservar não fosse perdida. Em outras palavras, assim como um indivíduo pode
rebelar-se e usar de violência para manter sua vida, as comunidades também o poderiam.
Isto porque, embora os povos tivessem transferido o poder aos reis, este lhes ficava
“habitualmente” e poderia ser reassumido quando fosse necessário para sua conservação”.
A autor salienta que esta possibilidade se restringe
somente nos casos particulares (que raramente acontecem) dos Reys convertem o governo justo do povo, em tirania, abusando do que os mesmos povos lhes transferiram; ou de serem intrusos, sem lhes pertencer o direito do reino; podem os povos uzar do poder, que in habitu lhes ficou, e reduzi-lo a acto, tratanto de sua natural defesa e remedio. 40
2.1.3 O Pombalismo e a tentativa de instauração de uma nova relação
entre povos e monarca
A ascenção do Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal, como Secretário de
Estado de D. José I e a execução de suas reformas políticas e administrativas causaram __________ 39 GOUVEIA, Francisco Velasco. Justa Acclamação do Sereníssimo rey de Portugal D. João o IV. Tratacdo analytico dividido em três partes . Ordenado e divulgado em nome do mesmo reyno, em justificação de sua acção. Dirigido ao summo pontífice da Igreja Cathólica, Reys, Príncipes, respublicas, e senhores soberanos da Christandade. Composto pelo Doutor Francisco Velasco Gouveia (...). À custa dos três Estados do Reyno. Lisboa, Typ. Fênix – Beco de Santa Martha, n. 123, 1846. 40 Ibidem. p. 48
76
impactos na conceituação do povo, tanto no plano da teoria, quanto da prática política
no Império Português. Durante todo o reinado, sua autoridade foi tamanha que o
periodo de sua atuação se transformou na teoria política e na historiografia em um
conceito: o “pombalismo”. Segundo a definição do historiador português José Vicente
Serrão, trata-se de um projeto político
no sentido mais global desta expressão: gestão e reforma da res publíca) posto em marcha no reinado josefino, e empreendido por um conjunto de homens e de entidades institucionais unidos numa especie de rede de solidariedades politicas e pessoais, que tinha por centro a figura do Marquês de Pombal. O pombalismo definido nesses termos, representou fundamentalmente duas coisas. De um lado, ele inseriu-se na propria trajetoria da construção do estado em Portugal, constituindo a esse nível, a expressão do culminar do seu processo, multissecular, de crescimento e complexificação, bem como a expressão da emergência, ou melhor, da afirmação dum grupo social identificado com ele. Por outra parte, o pombalismo, enquanto projeto político, representou uma convergência [...] de idéias, de objetivos e de processos de intervenção, entre esse grupo socioprofissional e várias outras pessoas, oriundas de posicionamentos ideológicos diversificados, e ligados aos mais variados setores de atividade que encontraram na existência dum Estado forte e na governança política de Pombal as oportunidades de se realizarem.41
Falar sobre o pombalismo a partir de uma definição como esta significa ressaltar
o fato de que o conjunto de fenômenos que se identifica por esta rúbrica não se
restringem ao mundo das idéias, doutrinas e paradigmas, mas trouxe mudanças práticas
no plano da adminstração e da política, em Portugal e nas colônias, ocasionando
conflitos diversos. Da mesma forma, pretendemos evitar que o pombalismo seja visto
como um período de inflexão total, no sentido de um ponto zero em que “tudo mudou”.
O pombalismo é, como argumenta Serrão, um “projeto”, e, como tal, encontrou
resistências e formas de acomodação na por parte da sociedade a que se dirigia. Se no
plano doutrinário, houve, de fato uma mudança de paradigma, como veremos, no
âmbito da existencia política mais concreta, o peso multissecular da tradição lusa que
buscamos compreender acima se fez sentir no sentido da conservação.
Na visão dos contemporâneos, o projeto pombalino foi um conjunto de ações no
sentido de modernizar o Império Português a partir da ação decisiva do rei, o que pode
ser entendido também como a ação do Estado. As políticas levadas à frente por pelo
__________ 41 SERRÃO, José Vicente. Sistema Político e Funcionamento Institucional do Pombalismo. In. MONTEIRO, Nuno Gonçalo et ali (orgs.) Do Antigo Regime ao liberalismo (1750-1850). Lisboa: Ed. Veja, sd.
77
menos duas gerações de estadistas luso-brasileiras voltaram-se contra o que eram
consideradas as principais causas do atraso ou da decadência de Portugal: o excessivo
poder das ordens religiosas, notadamente a jesuíta, o poder tradicional da nobreza e suas
jurisdições, o direito costumeiro, a influência da escolástica jesuítica em todos os ramos
do saber. No campo econômico, era preciso modernizar a economina através de práticas
mercantilistas, como os monopolios e privilegios comerciais, o endurecimento do
exclusivo colonial e o fomento à industria. Mais tarde, nos anos 80 do século XVIII, já
no reinado de D. Maria I, foram introduzidos alguns principíos fisiocráticos e liberais. 42
A atuação de Pombal permitiu que os anseios por mudanças modernizantes que antes
tinham pouco eco na sociedade portuguesa, fossem ouvidas e postas em prática.
Foi criada uma verdadeira burocracia num sentido mais próximo ao moderno:
um conjunto de funcionários que respondem diretamente à autoridade real, com o
objetivo expresso de enfraquecer a tradional estrutura administrativa organizada nos
moldes do Antigo Regime, isto é, através da concessão real de mercês, honras e
privilégios 43. Como vimos, na tradição lusitana, o poder era essecialmente repartido, de
modo que estes “cargos” significavam para os nobres a concessão de poderes e
jurisdiçoes em nível local, embora vinculados à manutenção da soberania portuguesa
em seus territórios. Com as mudanças, os orgãos institucionais da coroa e seus
funcionários ganharam mais prestigio social e passaram a ser pagos com salários, o que
se opunha a tradição de tomar os cargos por bens particulares e transmissíveis por
hereditariedade.44 Era preciso, frente à crise econômica por que passava o Império,
transformar o Estado numa entidade com mais poder frente à sociedade, dotando-o de
uma administração mais eficiente.
No plano dos grandes textos políticos fundamentadores do projeto pombalino,
podemos definir duas grandes vertentes, de acordo com o estudo de J. S. Da Silva Dias 45: um grupo que se apoia no argumento do direito divino dos reis e outro no discurso
jusnaturalista. Dois autores se destacam no primeiro grupo: Pereira de Figueiredo; que
__________ 42 WEHLING, Arno. Ilustração e Política estatal no Brasil, 1750-1808. Revista Humanidades. 2001. 43 BICALHO, Maria Fernanda. O que significava ser cidadão nos tempos coloniais. In. ABREU, Martha e Soihet, Rachel. (orgs). Ensino de História. Conceitos, Temáticas e Metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 44 SERRÃO, José Vicente. Sistema Político e Funcionamento Institucional do Pombalismo. In. MONTEIRO, Nuno Gonçalo et ali (orgs.) Do Antigo Regime ao liberalismo (1750-1850). Lisboa: Ed. Veja, sd. 45 DIAS, J. S da Silva. Pombalismo e Teoria Política. Cultura, História e Filosofia. Vol 1. Instituto Nacional de Investigação Científica - Centro de História da Cultura da Universidade Nova Lisboa, 1982.
78
publica em 1766 a Tentativa Teológica e em 1769 a Demonstração Teológica; e José
Seabra da Silva, com sua Dedução Cronológica e Analítica em 1768.
Estes obras se batiam contra a visão sacral da sociedade, isto é, contra a
concepção da sociedade e do Estado como um braço secular da Igreja. O poder era
considerado uma emanação direta de Deus ao rei sem passar pela mediação da Igreja
romana e dos corpos da nação reunidos nas cortes. A única limitação da autoridade
regia era a vontade de Deus. Contra as doutrinas pactistas e corporativas, defenderam
que a monarquia portuguesa era “pura”, no sentido de autônoma frente a qualquer outro
poder, da igreja e dos povos, pois não nasceu de um pacto, sendo as cortes órgaos
conjunturais e apenas consultivos. A soberania portuguesa teria sido o fruto de uma
conquista obtida em gerra justa contra os infiéis, doação e concessão e não por eleição
dos povos reunidos nas cortes de Lamego, como na visao pactual.
A justificação jusnaturalista teve seu lugar em autores “pombalinos”. Porém o
jusnaturalismo propriamente moderno, teve pouca inserção até os anos 70, quando então
começou a ter alguma representatividade. No Brasil, o maior nome foi ironicamente o
de Thomaz Antônio Gonzaga, o futuro inconfidente Mineiro de 1789. Não era
propriamente um autor “brasileiro”, uma vez que não se pode ainda falar num mundo
intelectual autônomo na colônia. Nascido em Portugal teve pai brasileiro e mãe
portuguesa, tendo se mudado para o Brasil em 1751, onde fez seus primeiros estudos.
Como muitos filhos da elite “brasileira”, ingressou na Universidade de Coimbra em
1761 onde sete anos depois se formou formou bacharel. Voltando ao Brasil, em 1782,
foi nomeado Ouvidor dos Defuntos e Ausentes da capital da capitania de Minas Gerais,
Vila Rica.
Ainda em Portugal escreveu o Tratado de Direito Natural, tese apresentada com
a intenção de tornar-se docente na Universidade em que se formou. Neste texto, nos
apresenta o jusnaturalismo possível na sociedade portuguesa naquele momento:
ancorado nos parâmetros da teologia, do direito canônico e do jusnaturalismo
tradicional. Por direito natural, Gonzaga entende “a coleção de leis que Deus infundiu
no homem para conduzir ao fim que se propôs na sua criação”. Estas leis levaram os
homens a organizarem-se em sociedade, isto é, a postarem-se sob um imperio e unirem-
se por pactos para assegurarem sua segurança e tranquilidade.
79
Segundo Gonzaga, apoiado nas sagradas escrituras, todo o poder que um homem
pode exercer sobre seus semelhantes tem origem divina, logo, o rei só pode ser julgado
por Deus. O problema é saber se chega ao rei com algum tipo de mediação, a que
Gonzaga responde negativamente: não é verdade que o poder estava no povo e esse o
transferiu no ato da “eleição” (entendido como escolha); o povo não tem em si poder
algum, mas somente a faculdade da eleição de quem receberá o poder. O povo dá
origem à sociedade, mas apenas escolhe a forma de governo e “elege” aqueles que irão
exercitar o império. Isto porque o povo não tem capacidades para executar o poder por
si, portanto, Deus, que é perfeito, não daria a alguém o poder, mas não o direito e a
possibilidade real de executá-lo, o que seria uma imperfeição.
Não há neste argumento, portanto, contrato algum em que o monarca deva
prestar contas ao povo. Portanto, “o rei não pode ser de forma alguma subordinado ao
povo; e por isso ainda que o rei governe mal e cometa algum delito, nem por isso o
povo se pode armar de castigos contra ele” 46. Ao povo, depois que o elegeu, “já nada
mais toca do que obedecer-lhe e respeitá-lo. O argumento de Gonzaga se opõe, não
somente ao direito natural de extração laica, mas também às teorias pactistas da segunda
escolástica ibérica que, como vimos, postulavam o povo como a origem da soberania
real e a possibilidade de que, em caso de despotismo, este poderia retomar para si a
soberania e se rebelar contra o rei. É bom lembrar que este pactismo ganhava relevo
naquele momento em que o despotismo sufocava as colônias de modo que muitos
teóricos pombalinos, como Gonzaga, apoiados pelo governo, procuraram combatê-lo.
A tese de Gonzaga se insere de certo modo na tradição corporativa exposta no
início do capítulo. O rei tem o dever de fazer tudo o que é necessário para conservar a
felicidade assim interna como externa da sociedade, isto é, manter sua “harmonia
santa”. Deve ser um “ministro de Deus para o bem” e “utilidade dos povos”, não
podendo criar leis opostas às leis divinas e naturais. Porém, podemos perceber que a
justiça, no sentido de respeito aos privilégios, direitos, hierarquias e jurisdições dos
corpos da sociedade não é defendida. Isto fica claro no momento em que define o
caráter das leis de uma sociedade.
A lei, para Gonzaga, depende da vontade do legislador e não, de forma alguma,
da aceitação do povo. Os privilégios são apenas leis particulares e sua validade não vem __________ 46 GONZAGA, Tomaz Antonio. Tratado de Direito Natural. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 147.
80
do costume, das tradições ou da emanação popular, mas, como em qualquer outro caso,
provém do reconhecimento que lhe dá ou não o monarca. No que toca ao nosso ponto, o
lugar e a função do povo na linguagem política, importa perceber que Gonzaga, dentro
do espírito fundamental do pombalismo, transformou os “povos”, que na tradição eram
identificados a um conjunto de vassalos detentores de direitos e jurisdições em súditos,
em algo próximo a indivíduos [embora o autor não utilize este conceito]
horizontalmente submetidos a uma lei comum 47. Nas palavras de Gonzaga, referindo-se
ao “corpo” do clero,
todos os mais vassalos se sem diferença alguma lhe são subordinados. Já dissemos que os mesmos eclesiásticos eram sujeitos no temporal ao rei como qualquer vassalo: pois que a ordem [=sacramento da] não o exime da sujeição do seu legítimo soberano 48
A política pombalina, que se prolongou com algumas modificações nos reinados
posteriores objetivou a concentração dos poderes nas mãos do monarca e a burocracia
estatal, procurando neutralizar a concepção de origem medieval, reatualizada e
radicalizada pelas pelo pactismo escolástico que percebia a sociedade como uma
organização sacralizada com poderes repartidos e definidos pela tradição, independente
da vontade das decisões do monarca. Em outras palavras, o absolutismo ilustrado
pombalino buscou combater a tradição de que tratamos anteriormente em que o povo ou
os povos tinham uma centralidade no sistema de organização da sociedade e do poder.
O absolutismo procurou nivelar os diversos corpos sociais que compunham os “povos”
na tradição estamental ou corporativa, impondo uma concepção do fenômeno político
como algo autônomo e auto referido A política é um puro poder discricionário, em que
não cabe a mediação com a tradição. É neste espírito que o governo empreendeu o
ataque ao poder dos Jesuítas, considerados os principais representantes da tradição
política portuguesa edificada na idéia da sociedade política como ordem mística
involuntária e na possibilidade da insurreição dos povos em caso de tirania. __________ 47 Esta transformação semântica, entretanto, não eliminou o peso da tradição hierárquica, de modo que, tanto o governo pombalino quanto os governos mariano e joanino, tiveram que dialogar com os diversos poderes estamentais e incorporar suas reivindicações e visões de mundo. Segundo Ana Rosa Cloclet da Silva, a política iniciada no governo de Pombal teve franca participação de elementos tradicionais, como a Igreja, e foi obrigada a abrir espaço à nobreza descontente, especialmente no período conhecido como a “viradeira”. Ver. SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: Intelectuais Ilustrados e estadistas luso-brasileiros na Crise do Antigo Regime Português (1750-1822). São Paulo: Hucitec: FAPESP, 2006. 48 DIAS, J. S da Silva. Pombalismo e Teoria Política. Cultura, História e Filosofia. v.1. Instituto Nacional de Investigação Científica - Centro de História da Cultura da Universidade Nova Lisboa, 1982.
81
2.1.4 O conceito revolucionário: os povos contra a tirania na segunda
metade do século XVIII
O ataque do poder estatal à tradição corporativa portuguesa, às concepções
pactistas professadas pelos jesuítas e a barreira imposta aos aspectos mais radicais da
ilustração francesa não impediu que em diversos pontos do Império tais ideários
tivessem grande fortalecimento na segunda metade do século XVIII e inícios do XIX.
Em diversos movimentos ocorridos nos territórios do Brasil, floresceu o conceito de
povo como uma força política abstrata contraposta à tirania ou ao despotismo, as idéias
do poder do monarca como originado no consentimento dos povos, o direito de
insurreição e retorno da soberania aos povos, e, de forma ainda tímida, as idéias
políticas ilustradas. Menos do que estabelecer a filiação das idéias e conceitos presentes
nos movimentos de contestação, importa perceber o sentido que os usos das tradições e
inovações mescladas na prática política teóricas tiveram no contexto de critica ao status
quo absolutista.
As próprias reformas iniciadas no governo de Pombal que deram ensejo ao
movimento ilustrado português causaram algumas mudanças nos territórios coloniais.
Houve a fundação de academias cientificas e sociedades literárias onde, além do estudo
e difusão das grandes obras das ciências naturais, houve alguma penetração do ideário
político ilustrado, a discussão dos problemas próprios à realidade colonial, ao território
e natureza brasileiros. Uma das mais importantes foi a do Rio de Janeiro, criada
administração do Marques do Lavradio A expansão da burocracia encarregada de
implementar as políticas de Estado acabou por enraizar funcionários no Brasil, e
mesmo, muitos deles foram recrutados entre as elites locais. O contato com a realidade e
os interesses enraizados no Brasil muitas vezes fez com que a implementação das
políticas formuladas em Lisboa sofresse algum desvio em relação aos planos originais.
Portanto o esforço modernizador do Império acabou propiciando a formação no pólo
colonial de pontos de crítica ao sistema, pois dava ocasião à criação de novas
identidades e canais de expressão de interesses, descontentamentos e aspirações de
distinção nobiliárquica Nas palavras de Ana Rosa Cloclet da Silva, tratava-se de um
choque de perspectivas:
82
Da perspectiva metropolitana, intelectuais e estadistas projetando e executando um conjunto de reformas para o reino e o ultramar, a partir da contemplação de um quadro integrado do Império, no qual o Brasil figuirava como sua principal parte. Pela esfera americana, os impactos desse processo de redescobrimento, integrando burocratas e letrados situados numa mundivisao de base cientificista o que longe de significar a ‘domesticação’ desses setores aos projetos metropolitanos, permitiu-lhes aperceberem-se das singularidades da vida em contexto colonial, a partir do que esboçaram interpretações e atitudes diversas e mesmo divergentes às divulgadas pelo reformismo setecentista. 49
Ao lado das academias e sociedades Literárias ilustradas, os estabelecimentos de
ensino superior eclesiásticos, em sua maioria vinculados aos Jesuítas como o Seminário
de Olinda, foram responsáveis pelo desenvolvimento da crítica nos subterrâneos da
sociedade colonial. Segundo José Murilo de Carvalho, a presença dos padres foi
fundamental a eclosão de todos os movimentos revoltosos no Brasil nos finais do século
XVIII e primeira metade do XIX. O combate ao absolutismo e a liberdade dos povos
eram seus lemas, oriundos em grande parte Revolução Francesa e Americana que
tinham espaço nos Seminários, apensar de toda a repressão, ao contrário do que ocorria
em Coimbra 50.
Todas estas condições fizeram com que o final do XVIII as conjurações em
Minas Gerais (1789), Rio de Janeiro (1794) e Bahia (1798) criticassem o que viam
como o “despotismo”, colocando em xeque a ordem e a unidade do Imperial. Neste
ínterim, trouxeram novas conceituações do povo. Os princípios do direito natural
iluminista, reforçados pelo exemplo das revoluções na América e França, forneciam aos
conjurados novas ferramentas críticas, notadamente a idéia de liberdade, igualdade e
soberania dos povos ou do povo. Estas se somavam à tradição ibérica do governo justo
e da crítica à tirania.
O impacto das idéias propriamente liberais ou ilustradas foi diferenciado em
cada movimento, e, sobretudo, não deve ser sobrevalorizado e visto como o elemento
determinante. A difusão deste ideário no mundo português, e, em especial no espaço
colonial, era muito incipiente. Os conspiradores mineiros, embora tenham sido tocados
pelas idéias ilustradas continentais permaneciam fortemente imersos no mundo do
Antigo Regime luso. Sua concepção do governo justo contraposto à tirania atrelava-se
__________ 49 . SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: Intelectuais Ilustrados e estadistas luso-brasileiros na Crise do Antigo Regime Português (1750-1822). São Paulo: Hucitec: FAPESP, 2006. p. 169 50 CARVALHO, Jose Murilo de. A construção da ordem e Teatro de Sombras. Rio: Civilização Brasileira, 3a. edição, 2003. p. 148.
83
não ao pressuposto da igualdade entre cidadãos, mas ao dever do governante de
respeitar e manter as hierarquias e privilégios dos estratos da sociedade 51. De fato, os
inconfidentes falavam em “liberdade”, “república”, mas, ao contrário da imagem que se
cristalizou na memória nacional, não foram o prenúncio de um republicanismo liberal
no Brasil. O termo “república”, tal como aparecia nos textos coloniais, significava, não
um regime, mas qualquer organização política contrária à tirania. A defesa da liberdade,
por seu turno, e o conseqüente desejo de romper com o pacto colonial expresso pelos
conjurados das minas faziam parte de concepções tradicionais já expressas em outros
movimentos nas Minas no século XVIII: manter a justiça, as dignidades nobres
eliminando “os constrangimentos que impediam a fruição tradicional de direitos” 52.
Logo, ao falar em “povo” ou “povos” e em “soberania do povo”, não se reportavam um
governo representativo no sentido liberal. A representação seria ainda um privilégio dos
homens bons organizados nas câmaras municipais tal como na tradição política
portuguesa.
As Cartas Chilenas de Thomás Antônio Gonzaga mostram claramente o intuito
do movimento e o significado tomado então pelo conceito de povo. O texto expõe uma
narração fictícia atribuída a Critílo, um habitante de Santiago do Chile, que denuncia os
desmandos e o despotismo do governador Fanfarrão Minésio. O povo aparece, em
primeiro lugar, subjugado pelo despotismo e explorado pelos “nobres”:
Que império, Doroteu, que império pode um povo sustentar que só se forma de nobres sem ofícios?” [...] Ah, Pobre, ah! Pobre Povo a quem governa um bruto general, que ao céu não teme, Nem tem o menor pejo de lhe vêem tão indignas ações os outros homens!53
As Cartas representavam estes povos que pediam ao rei para que pusesse fim a
tais injustiças, e passassem a protegê-los e a governá-los como filhos, de acordo com os
princípios da eterna justiça. Era uma espécie de aviso ao rei para que fosse prudente e
ouvisse seus povos, consultando-os sobre a escolha daqueles que os iriam governar –
__________ 51 Ver. LYNCH, Christian E. O Conceito de Liberalismo no Brasil (1750-1850). Araucária. Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 212-234, 2007.; FURTADO, João Pinto. “Uma república entre dois mundos: Inconfidência Mineira, historiografia e temporalidade.” Revista. Brasileira de. História, São Paulo, v.21, n.42, 2001. 52 FLECK, Eliane Cristina Deckmann. Os Inconfidentes – Intérpretes do Brasil. In. AXT, Günter ; SHULER, Fernando. Intérpretes do Brasil. Cultura e Identidade. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 2004. p 10. 53 GONZAGA, Thomáz Antônio. Cartas Chilenas. [on line] Domínio público.
84
justamente uma das maiores demandas dos conjurados - sob pena de ver seus domínios
em desordem e rebelião. O autor apostava que após o conhecimento dos eventos
descritos, os reis seriam tocados e passariam a “reger como filhos os teus povos”.
Passariam a ser “prudentes e sábios”, consultando primeiro sobre a escolha daqueles
chefes, que a remotos climas Determinam mandar, deles fiando a importante porção de
seu governo” 54.
As Cartas Chilenas representam bem as concepções que informaram a
conjuração mineira de 1789. Eram das dignidades tradicionais dos povos, como
integrantes do corpo político que estavam sendo defendidas contra o despotismo dos
funcionários reais. Os povos deveriam ter seus direitos costumeiros respeitados, sendo
ouvidos e consultados, e o rei deveria manter sua conduta justa, assim como seus
funcionários. O aspecto de “aviso” das cartas revela que a possibilidade da insurreição
era aventada, caso a tirania persistisse, de modo possuía um tom de radicalidade.
Mas quem era este genérico e abstrato povo das Cartas Chilenas? No movimento
mineiro, embora se conclamasse genericamente o “povo” para participar da luta contra a
tirania, não se viu o povo pobre e mestiço, a plebe, como participante legítimo da nova
sociedade a ser criada. A concepção estamental de sociedade prevalecia sobre a de
igualdade civil e política. Os conspiradores tinham no horizonte proclamar uma
republica nos moldes norte-americanos com um povo composto de proprietários e
ilustrados 55. Era segundo Maxwell, sobretudo “um movimento de oligarcas e no
interesse da oligarquia, sendo o nome do povo evocado apenas como justificativa” 56.
Os povos que lutavam contra a tirania eram, sobretudo a nobreza da terra que defendia
um determinado tipo de relação pactuada com o rei.
Na conjura carioca, que não passou de algumas reuniões de letrados já sob o
influxo dos acontecimentos revolucionários na França, a penetração ilustrada foi mais
evidente, embora a tradicional crítica à tirania ainda fosse atuante. Na verdade, as duas
filiações se uniam no esforço crítico à situação vigente. Na devassa realizada contra os
letrados do Rio de Janeiro em 1794 podemos inferir alguns indícios dos ponto de vista
que floresciam entre membros das elites. O então vice-rei, o Conde de Resende,
__________ 54 Ibidem. 55 MAXWEL. A Devassa da Devassa. A Inconfidência Mineira. Brasil e Portugal (1750-1808). Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2009. 56 Ibidem. p.156.
85
justificou a necessidade da investigação declarando que nas reuniões ocorridas na casa
do intelectual Silva Alvarenga se aventava a idéia de que
os reis não são necessários, que os homens são livres e podem em todo tempo reclamar a sua liberdade; que as leis por que hoje se governa a nação francesa são justas e que o mesmo que aquela nação praticou se devia praticar nesse continente (...) que a Sagrada Escritura, assim como dá poder aos reis para castigar os vassalos, dá aos vassalos para castigar os reis. 57
É claro que as palavras da autoridade defensora da monarquia não refletiam
exatamente as crenças dos conjurados. Porém, acusação semelhante aparece no
testemunho do o Frade José Bernardo da Silveira Silva. Este teria ouvido dizer que os
acusados haviam defendido que “passados anos, não havia de haver mais testas
coroadas, por que os povos já tinham aberto os olhos e conheciam os seus direitos” 58.
Tais afirmações deixam dúvidas a respeito da vinculação às concepções tradicionais
corporativas ou às idéias revolucionárias francesas. Acreditamos que tampouco deviam
ser claras aos conjurados. Tradições se sobrepunham no esforço de crítica ao Antigo
Regime e à situação de exploração colonial.
Na Bahia de 1798, a participação popular na conjuração foi contundente e de
fato uma linguagem política diferente se forjava. Avaliando os “avisos” e “prelos”
produzidos no calor dos acontecimentos, Istvan Jancsó apontou como novidade de 1798
a emergência de uma “cultura política de outra ordem, cujos portadores não são apenas
os letrados, mas os homens de ínfima condição com visão política”. Desenvolveu-se a
visão de que todos os habitantes faziam parte de “uma mesma família política”, abrindo-
se dentro da hierarquia tradicional do Antigo Regime uma brecha para se pensar a
igualdade. Neste movimento, as duas idéias principais veiculadas nos prelos foram: a
idéia de representação, isto é, de que deveriam haver órgãos de representação da nação e
a igualdade de todos perante a lei. 59 O desejo de igualdade em todos os níveis foi muito
mais radical e o povo aparecia já claramente como uma realidade constituída no
presente, como mostrou um dos “avisos ao povo” produzidos pelos revolucionários:
__________ 57 AUTOS da Devassa. Prisão dos Letrados do Rio de Janeiro – 1794. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2002, p.12 58Ibidem. p.30. 59 JANCSÓ, Istvan. Na Bahia Contra o Império. História do Ensaio de Sedição de 1798. Salvador: Edufba, p.196. Também sobre os avisos e prelos ver MATTOSO, Kátia. Presença Francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798. Salvador: Itapuã, 1996.
86
“[...] os homens e pardos que vivem abandonados, todos serão iguais, não haverá
diferença: só haverá Liberdade Popular [...]” 60
Com Transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808, em meio à
invasão napoleônica à Península Ibérica, foi concentrado no Rio de Janeiro uma série de
interesses mercantis, financeiros e burocráticos diretamente vinculados à transferência
do aparato estatal e à liberalização da economia colonial. Entretanto, as imposições
econômicas mercantilistas continuaram normalmente nas outras províncias, que
passaram a ver no Rio de Janeiro toda a expressão do poder absoluto. O pesado
fiscalismo régio e a continuidade dos monopólios do comércio por portugueses faziam
com que as províncias vissem o Rio de Janeiro como antes viam Portugal: a
corporificação do centralismo monárquico absolutista e agente da opressão colonial 61.
Em 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido trouxe um novo elemento à realidade
política, uma vez que, com a promoção do status político, exacerbou-se o sentimento
das dignidades estamentais entre as elites locais das diversas províncias.
Um grande foco de descontentamento se desenvolveu no Nordeste. As camadas
pobres das cidades desejavam maior igualdade e condições melhores de vida e os
grandes proprietários, lideres do movimento, ambicionam acabar com a centralização
monárquica, com os privilégios comerciais para os portugueses e tomar em suas mãos
os destinos do Nordeste. Desse modo, a Província de Pernambuco explodiu em 1817 em
movimento revolucionário contra a imposição de um governador pela coroa. Ao
jusnaturalismo iluminista uniram-se mais uma vez as concepções tradicionais da
vassalagem e do pacto ou contrato entre súditos e o rei. Ao “povo pernambucano”,
caberiam privilégios e liberdades pela lealdade prestada ao rei por ocasião da grande
obra da expulsão dos holandeses no século XVII. No documento citado por Evaldo
Cabral de Mello, o Deão Portugal justificava sua participação na rebelião argumentando
que “a posse e direito da casa de Bragança eram fundados num contrato bilateral; e
havendo sido ela quem primeiro faltou às suas obrigações, estavam os povos
desobrigados da lealdade jurada” 62.
__________ 60 DOCUMENTOS Históricos. Biblioteca Nacional. Vol. 91, 1951. p. 77. 61 DIAS, Maria Odila da Silva. A Interiorização da Metrópole (1808-0853). In. MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em 1822: Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972. 62 CARTA da pastoral do cabido da Sé de Olinda apud Evaldo Cabral de Mello. Ver: MELLO, E. C. Rubro Veio – o imaginário da restauração pernambucana. 2a. ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 1997. p.137.
87
O povo não denotava todos os habitantes de Pernambuco, mas apenas os homens
bons”. As distinções estamentais organicistas básicas da sociedade se mantiveram
incólumes: homens bons, plebe e escravos. Na nova configuração social projetada pelos
revolucionários, a plebe não estava representada embora no manifesto oficial do
movimento se conclamasse o “povo de todas as classes” para o “exercício da
soberania”. Porém a tripartição corporativa permanecia fortemente presente como fica
exposto na proclamação aos habitantes em março de 1817 redigida na sede do governo
provisório onde se afirmava que o governo fora escolhido “entre as ordens do Estado” 63o governo ficava constituído por um representante eclesiástico, um militar, um da
magistratura, um da agricultura e um do comércio. O povo, no sentido de plebe não
tinha representação e nada era dito sobre os escravos.
O movimento em Pernambuco teve um caráter fortemente aristocrático. Os
lideres do movimento – proprietários rurais - projetavam uma sociedade de “classes
nobres” com manutenção das distinções sociais da sociedade colonial: homens bons,
plebe e escravos. O espírito de Ancien Régime dos revolucionários das classes
superiores se mostra claramente, mesmo após a repressão que os levou à prisão junto
com os membros da plebe. Em passagem célebre, Antonio Carlos Andrada e Silva,
chefe maior do movimento, declarou seu arrependimento aos tribunais:
derrubando-me da ordem da nobreza a que pertencia, me punha a par da canalha e ralé de todas as cores, e me segava em flor as mais bem fecundas esperanças de ulterior avanço, e de maiores dignidades. 64
Os rebeldes justificavam, portanto, a rebelião com argumentos típicos da tradição
ibérica de crítica ao despotismo em nome dos “povos”, como se pode apreender com
Evaldo Cabral de Melo, e não questionaram as divisões corporativas básicas da sociedade.
A idéia de uma soberania do povo, ou de uma vontade geral embora tivesse alguma
presença, era subjugada pela tradição de um pacto instaurador da soberania entre nobres e
reis. A idéia de um povo no singular, composto por indivíduos iguais em direitos civis e
políticos era muito frágil nos movimentos “liberais” de finais do XVIII e inícios do XIX.
__________ 63 CONTIER, Arnaldo Daraya. Imprensa e ideologia em São Paulo, 1822-1824 : matizes do vocabulário político e social. Petrópolis: Ed. da UNICAMP, 1979. p 55. 64 SILVA, Antonio Carlos Andrada e Apud MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817: estrutura e argumentos. São Paulo, 1972. p. 40.
88
Unindo a tradição corporativa, as idéias de pacto radical entre rei e povos e as
doutrinas e exemplos das revoluções americana e francesa, num contexto de algumas
mudanças na sociedade colonial e de mudança do estatuto político do Brasil, no caso de
1817, estes movimentos formaram alguns dos pilares que posteriormente, na cultura
política do liberalismo vintista foram retomadas e aprofundadas: o conceito de povo
contraposto à tirania, força atuante na vida pública, vinculado ao ideal de participação
política e ao direito de insurreição. Um conceito de povo essencialmente abstrato
contraposto à tirania real, e que na verdade se referia muitas vezes apenas aos “homens
bons” e não ao conjunto dos indivíduos. Interessa destacar a a-historicidade deste
conceito de povo e desta forma de linguagem política. A organicidade medieval já
estava revista, uma vez que o pacto com o rei de que o direito dos povos era fundado
numa noção pactual que se distanciava bastante da visão mística: tratava-se de um pacto
entre homens, entre povo e rei, que fundava o direito à insurreição em caso de seu
descumprimento, o pacto não preexistia aos homens, mas era estabelecido por estes. Era
fundado unicamente na vontade de cada parte. Esta idéia do contrato fundado na
vontade das partes, que também está presente no contratualismo ilustrado, foi definida
por Gauchet, ao tratar deste último, como o “complemento intelectual do absolutismo”,
onde a vontade simplesmente substitui a organicidade, mas não altera seus fundamentos
extra-históricos. Está fundado na idéia de um tempo das origens, de um passado
primordial que fundou as leis e o ordenamento da comunidade e as relações com o
soberano. Trata-se de um pensamento que funde completamente o “ato original” e a
“atualidade”, vista como uma reatualização do mesmo. A realidade política se funda
num ordenamento definido pelo direito natural ou das gentes. 65
2.2 O processo de dissolução da estabilidade semântica do Antigo Regime
Nesta seção, abordaremos alguns momentos do processo de dissolução da
tradição corporativa cujos traços fundamentais procuramos esboçar nas páginas
anteriores. Acreditamos que este processo deu seus primeiros sinais ao longo do século
XVIII, intensificando na segunda metade com a introdução na cultura lusitana das idéias
e práticas políticas do despotismo ilustrado. __________ 65 GAUCHET, Marcel. La Condicion Politique. Paris : Gallimard, 2005.
89
2.2.1 A questão da plebe colonial
No decorrer das transformações econômicas e sociais postas em curso a partir
das grandes navegações e dos processos de colonização, notadamente, a partir do século
XVIII, surgiram inúmeros novos grupos sociais, o que acelerou um processo crescente
que Antônio Manuel Espanha chamou de “pluralização de estamentos”, que abalou a
tripartição tradicional. A visão da sociedade, que sempre tivera um caráter
simplificador, o que fora percebido mesmo pelos teóricos medievais, se tornava ainda
mais complexa com as transformações em curso. Surgia um grupo intermediário entre o
povo – os “mecânicos”, como eram chamados no mundo luso – e os nobres: os
burgueses, os letrados, os lentes das universidades, os advogados, os cirurgiões, os
grandes comerciantes, de modo que a definição de quem é o povo passa a ser mais
complexa. Embora formalmente fizessem parte do povo, não se adequavam bem ao
qualificativo de “mecânicos”. No interior do povo, cada vez mais passaram a haver os
vis (ou plebe) e os limpos 66·, isto é, aqueles dignos de alguma participação na sociedade
e aqueles indignos por condição social, tipo de ocupação ou origem de sangue.
Os territórios coloniais portugueses constituíram o local onde este processo de
dissolução desestabilização na demarcação das três ordens tradicionais foi mais
evidente, quando comparada à realidade metropolitana. Percebendo o fenômeno, o frade
D. Domingos do Loreto Couto declarou nos seus célebres Desagravos do Brasil e
Glória e Pernambuco de 1757 que
não é fácil determinar nestas Províncias quais sejam os homens da Plebe; porque aquele que é branco na cor, entende estar fora da esfera vulgar. Na sua opinião o mesmo é ser alvo, que ser nobre, nem porque exercitem ofícios mecânicos perdem esta presunção [...] O vulgo de cor parda com o imoderado desejo de honras de que o priva tanto o acidente, como a substancia, mal se acomoda com as diferenças. O da cor preta tanto se vê com a liberdade, cuida que nada mais lhe falta para ser como os brancos. 67
__________ 66 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A Representação da Sociedade e do Poder. Paradigmas Políticos e Tradiçoes Literárias. In. HESPANHA, A. M. (coord.). História de Portugal. Vol. 4. . Lisboa: E. Estampa, 1993. 67 COUTO, Domingos de Loreto. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Rio de Janeiro: Officina Typographica da Biblioteca Nacional, 1904 p. 226.
90
O professor régio Luis dos Santos Vilhena, famoso na historiografia pela sua
frase “não é das menores desgraças viver em colônias” ∗, expôs bem este sentimento de
dissolução e desagregação que tanto incomodava os observadores. Em suas cartas
datadas nos anos iniciais do século XIX, analisa os prejuízos causados pela introdução
de negros escravos, especialmente no que diz respeito aos costumes. Explica que como todas as obras servis e artes mechanicas são manuzeadas por elles, poucos são os mulatos e raros brancos que nellas se querem empregar, sem exceptuar aquelles mesmos indigentes, que em Portugal nunca passarão de Criados de servir, de moçõs de taboa, e cavadores de enxada 68.
É certo, continua ele, que havia no Brasil daquela época famílias nobres, mas “a
duração dos tempos tem feito sensível confusão entre nobres e abjetos plebeos” 69. Com
essa “confusão”, muitos indivíduos, “tendo seus pais vindo não há muitos anos para o
Brazil para serem caixeiros, quando tivesses a capacidade de o ser, porque a fortuna lhes
foi propícia [...] cuidam seus filhos que o Imperador da China he digno de ser seu
criado” 70. Esta “mania de ser nobre” seria mais grave nos mulatos, por sua condição
ainda mais indefinida. Quase todos eles “querem ser Fidalgos, muitos fôfos e soberbos,
e pouco amigos dos brancos e dos negros, sendo differentes as causas” 71 Devido ao que
Vilhena considera uma, ou uma “quimérica nobreza”,
o comum do povo he serem todos ociosos, não trabalhando a maior parte dos artífices, enquanto lhes dura o comer a tempo que querendo apurar-se são em extremo habilidozos. O ordinário he serem conviventes e folgazões, e do comum bons homens.72
A realidade americana e colonial redefiniu em grande medida a visão
paradigmática da sociedade portuguesa sobre si própria neste Continente. Embora
continuasse presente e atuante, a estrutura tradicional dos três estados ou ordens ficava,
dentro da colônia, mais frouxa e confusa. Os portugueses se viam em meio de uma
multidão de indígenas, e, depois, de escravos africanos, libertos e mestiços, de modo
que a definição de quem eram os nobres em relação aos não nobres ficava era menos
austera. Diante daquela realidade, como aponta Schwartz, “todo europeu era de fato um __________ ∗ A frase foi tida como um marco pela historiografia interessada em entender o processo de tomada de consciência da situação colonial, que teria contribuído para os movimentos liberais do final do século XVIII e para a independência. 68 VILHENA, Luiz dos Santos. Recopilação de Notícias Soteropolitanas e Brazílicas. Bahia: Imprensa Official do Estado, 1921. p 140. 69 Ibidem. p 44. 70 Ibudem. 71 VILHENA. 1991. Op. Cit. P.47 72 Idem. p.46.
91
gentil-homem em potencial” 73, podendo eximir-se do trabalho manual com maior
facilidade do que na Europa. Além disso, o comércio e as funções estatais criavam
oportunidades de nobilitação, por serviços ou compra de títulos, ou mesmo para que
muitos pudessem “viver como nobres”, isto é, não realizar diretamente qualquer
trabalho manual.
Entretanto este sentimento de dissolução apontada por escritos contemporâneos
de homens da nobreza e das classes médias não nos deve levar a crer que o mundo
colonial setecentista era uma sociedade horizontalizada formada por nobres – ou por
homens que procuravam viver como nobres – e escravos apenas. Nesta sociedade
composta de índios e negros escravizados, e com cada vez mais indivíduos mestiços e
livres, passou a haver, segundo Schwartz, uma complexa estrutura de classificação
social, com diferentes matizes regionais, que combinava as diferenciações tradicionais
entre estados e funções sociais com elementos raciais: os “gentios” e os “boçais” eram
respectivamente os índios e africanos ainda não aculturados; os “índios aldeados” e
“ladinos” eram os índios e negros já inseridos na cultura européia cristã; os libertos
eram definidos pela cor – pardos, mestiços, pretos – e pelo ofício que exerciam. Muitas
hierarquias se fundiam, enfim, nesta, sociedade que se formava. Entretanto, a divisão
das três ordens era ainda muito marcante, pois constituía os idéias e desejos profundos
daquela sociedade: sair da condição de povo/plebe e se tornar um nobre era algo
bastante almejado.
O que se percebia como o povo da colônia diante deste espectro de
classificações? Segundo Schwartz, no século XVIII, autoridades coloniais apontavam o
problema de que nos territórios coloniais do Brasil não havia um povo propriamente
dito. As tradicionais instituições representativas portuguesas – as cortes - nunca haviam
sido instituídas na colônia e o conceito de “povo” como terceiro estado na sociedade de
ordens, isto é, organicamente e constitucionalmente vinculado ao corpo da política, era
frágil ou ausente em decorrência do tipo de ocupação “mecânica”, do sangue impuro e
dos costumes da população. Logo, a população colonial era constantemente denominada
“plebe”.74 __________ 73 SCWARTZ, Stuart B. Segredos Internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial. 1550-1835. São Paulo: Cia das Letras, 1988. p. 212. 74 A palavra povo no português deriva da palavra latina populus, cuja raiz é ple, que vem de plethos (multidão) que significa “o que enche”, “os que estão presentes” ou “os que convivem em uma área” Seu significado denota a inclusão de todos os homens dentro de um dado sistema político. Da mesma raiz ple deriva a palavra plebs, indicando
92
Era, porém, difícil para os observadores do período ter uma apreciação clara do
conteúdo significativo da vasta plebe colonial. Esta era descrita em geral a partir dos
exemplos da Antiguidade clássica. Analisar a realidade através do exemplo clássico era
uma característica do modo de se produzir conhecimento sobre o mundo humano
daquele momento, ainda profundamente marcado por uma concepção que podemos
denominar de “história mestra da vida”. Porém, podemos identificar neste recurso um
esforço realizado pelas autoridades coloniais para entender as características ímpares de
um mundo em que as formas costumeiras e tradicionais de demarcação social pareciam
mais confundidas.
A plebe do presente era a mesma do mundo Antigo. O curso do tempo não era
ainda visto como produtor do novo, pois a natureza humana não sofria alteração
histórica. Reportando-se aos acontecimentos da guerra dos mascates em Pernambuco
na primeira década do setecentos, Evaldo Cabral de Mello também percebeu que “as
crônicas coevas designavam a população livre e pobre por ‘plebe’, a fim de distinguí-la
do ‘povo’, noção mais abrangente que incluía as camadas médias, como os mascates
[...] 75. Porém, não a descreviam de fato, “não só por preconceito elitista, mas até pela
miopia ideológica que não lhes permite definir-lhe os contornos” 76. Esta cegueira
ficava evidente nos Desagravos em que o tema fora tratado em poucos parágrafos em
que é evocada a plebe da antiguidade clássica, “a qual terá de retoricamente invocar
para preencher a ausência da outra, a plebe colonial” 77.
Nas páginas dos Desagravos, Couto escreveu que “sendo a nobreza a alma de
uma republica, o seu corpo se compõe de homens mecânicos, assim chamados das artes
mecânicas, ou servis, [...], e de povo miúdo, que é a gente popular, plebe e povo”. Após,
esta introdução, partiu o autor para Platão, que comparava a plebe “a um grande animal,
do qual é preciso conhecer as manhas para saber como há de ser tratado, que se não tem
este animal quem o amanse, faz-se furioso, se não o guiam, não sabe para onde anda, é
terrível se não tem medo, começando a temer se perturba e foge”. Além disso, a plebe a “parte miúda do povo, a arraia miúda, o populacho”. No Brasil, Populus e plebs, povo e plebe, aparecem como conceitos fundamentais do léxico político, pois seu uso permeia e fomenta os principais contextos de debates e conflitos de nossa história. A emergência da plebe na cena política, seu direito de participação e representação nas instituições formais, em que medida, enfim, o povo pleno de diretos deve incluir a plebe: este conjunto de questões constitui um vasto campo para a análise histórico-semântica. DICIONÁRIO de Ciências Sociais. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.1986. 75 MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates. Pernambuco 1666-1715. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 302. 76 Ibidem. 77 Ibidem.
93
era em Platão “incapaz de distinguir as aparências das verdades e quando falam de
política, confundem as coisas, de modo que não podem governar a si próprios”. Citou
ainda Scipião, para quem “o vulgo era como o mar imóvel por sua natureza, mas
segundo os ventos, que o agitam, quieto ou proceloso”, e Catão, para quem “o “vulgo
era como uma ‘carneirada”, pois “que assim como nenhum carneiro obedece a pessoa
alguma, mas todos juntos seguem o mesmo pastor” 78.
No Discurso Histórico e Político sobre a Sublevação que houve nas Minas no
ano de 1720, D. Pedro Miguel de Almeida Portugal, o Conde de Assumar, a quem se
atribui a obra, percebia que os representantes da coroa portuguesa viviam nos territórios
coloniais ameaçados por habitantes hostis e insubmissos, prontos a motins, tumultos e
desordens. Assim como no escrito de Loreto Couto, o “povo”, utilizado aqui no sentido
de plebe, era também descrito através de exemplos da autoridade clássica. Para o conde,
a situação vivida na colônia era um espelho do que havia ocorrido na criação de Roma,
de acordo com a descrição legada por Lucio Floro “o povo constava de varões que não
tinham mais bens que a esperança do que houvessem de conquistar suas armas,
roubando” 79. Em outra passagem, cita a descrição de Tertuliano sobre os habitantes do
Ponto Euximo: “uma região habitada por gente intratável, sem domicílio, e ainda que
está em contínuo movimento”.
A plebe tinha características estáveis e eternas. Uma delas era a de não possuir
motivações políticas próprias, sendo apenas levada pela vontade de alguns principais.
Para Loreto Couto, a plebe era incapaz de governar a si própria, tal qual os carneiros
que seguem o pastor e o mar que muda conforme os ventos. O Conde de Assumar
assinalou o mesmo, ao afirmar que “tal é a natureza do vulgo, que para se alegrar e
folgar com o seu próprio mal, basta ser novidade e sem razão, porque tem, como por
hombridade e capricho, seguir tudo o que vem contra a razão, contra a piedade e contra
o agradecimento” 80 A “ínfima plebe” só se envolvia em amotinações quando levada
pelos “cabeças”. As pessoas envolvidas nos movimentos rebeldes das minas eram de
duas qualidades: aqueles que desejam dominar o governo, recuperar ou manter seus
__________ 78 COUTO, Domingos de Loreto.. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Rio de Janeiro: Officina Typographica da Biblioteca Nacional, 1904 p. 226. 79 DISCURSO Histórico e Político sobre a Sublevação que houve nas Minas no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994.p.62. 80 DISCURSO Histórico e Político sobre a Sublevação que houve nas Minas no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994.p.62. p. 73.
94
antigos privilégios, e a plebe desejosa apenas de se ver livre das dívidas e da punição
por seus crimes. Este “perdido gado” devia o quanto antes voltar ao seu “pastor”, pois
sem ele vai “mal guiado”.
A complexificação e pluralização do significado do termo “povo” ocorrida
notadamente no século XVIII não significou de modo algum, como já apontamos
acima, que as demarcações tradicionais não continuassem a ter grande uso. Como bem
observou Maria Beatriz Nizza da Silveira, embora todos na colônia quisessem “viver à
lei da nobreza”, isto é viver e parecer nobres, isso não significava de fato que todos
tivessem os mesmos privilégios e direitos dos nobres. A demarcação entre nobres e não
nobres era clara em todo o período colonial e se manteve aguerrida no século XVIII,
embora a pressão por uma menor rigidez estivesse já presente. Os sapateiros, pedreiros
e demais ofícios mecânicos não eram de modo algum considerados nobres, embora o
fenômeno da nobreza civil ou política pudesse crescentemente incluir o chamado
“estado do meio” a que nos referimos acima, através da nobilitação que o serviço nos
cargos eclesiásticos, nas tropas ou nas câmaras, além de graus acadêmicos e, depois da
legislação Josefina 81, do grande comércio transatlântico. Esta parte do terceiro estado
que já não se incluía perfeitamente na designação de “mecânicos” se tornou ao longo do
século XVIII cada vez mais rica e poderosa, pressionado por representatividade política.
Porém, de acordo com Maria Fernada Bicalho 82, desde o século XVII, a Coroa
procurou garantir, através de intervenções legislativas e alvarás, que os ofícios das
vereações fossem ocupados pelos “principais da terra”, a nobreza colonial, numa
tentativa de manter por todo o império o mesmo padrão estabelecido na metrópole. Os
aspirantes a um cargo oficial da república, isto é das câmaras, deveriam provar que não
tinham “raça alguma”, isto é, que não tivessem o sangue impuro de negros, índios e
judeus e que não fossem mecânicos. Uma exceção foi a Câmara de Vila Rica nas Minas.
Nesta, nos primeiros tempos, como nas outras, os cargos eram ocupados pelos grandes
mineradores, tidos como a nobreza da terra, mas, com o declínio da produção do ouro e
a diversificação da produção, começaram a entrar para a vereança muitos produtores
agrícolas e mercadores, além de indivíduos com sangue impuro __________ 81 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser Nobre na Colônia. São Paulo: Editora UNESP, 2005. p. 21 82 BICALHO, Maria Fernanda. “As representações da Câmara do Rio de Janeiro ao monarca e as demonstrações de lealdade dos súditos coloniais. Séculos XVII e XVIII”. In. O Município no mundo português. Seminário Internacional. Funchal/Região Autônoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico/Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1998.
95
Já no Rio de Janeiro e na Bahia, onde havia muitos brancos portugueses e
membros da aristocracia rural local 83, foi possível assegurar a predominância branca e
nobre nos principais cargos das câmaras. A nobreza da terra se esforçava por manter a
rigidez nas demarcações das ordens e seus privilégios de representação política. O
documento citado por Bicalho nos indica a preocupação da nobreza da terra com o
impedimento da ocupação dos principais da terra por “gente mecânica”. Em 1730, o
Senado da Câmara do Rio de Janeiro escreveu ao rei por intercessão de seu procurador
na Corte, sobre
as contendas e distúrbios que têm havido nos momentos de eleição de seus oficiais. [...] cada vez mais a ambição de se meterem no exercício dos cargos honrosos da República pessoas indignas de semelhante emprego; pelos interesses com que subornam os que fazem as eleições, se originou um geral escândalo do Povo, e tiveram as pessoas da principal nobreza dela por injuria ocuparem os lugares, em que se estavam elegendo homens de vara e covado e outros semelhantes comerciadores. 84
No Império Colonial português, algumas câmaras tinham um tipo de
representação dos “mecânicos”, baseados no sistema de corporações medieval. Cada
corporação elegia representantes, que podiam ser de doze a vinte e quatro: os “doze” ou
os “vinte e quatro do povo” Estes escolhiam quatro representantes, os “procuradores dos
mesteres” (“juízes do povo”) para representá-los nos conselhos das câmaras, ação que
era restringida aos assuntos próprios à vida econômica e aos ofícios específicos. No
Brasil, a única câmara a possuí-la foi Salvador 85, de 1581 a 1713, quando foi extinta
por ordem régia após inúmeros conflitos com os “homens bons”. No decorrer do século
XVIII, além do incremento das exigências de pureza de sangue, esta representação dos
trabalhadores foi sendo excluída de muitas câmaras, num crescente movimento das
nobrezas coloniais de impedir o acesso de “mecânicos” aos postos importantes da
“republica”.
__________ 83 BOXER, Charles. Conselheiros municipais e irmãos de caridade. In. O Império Marítimo Português. São Paulo: Cia. Das Letras, 2002. 84 ARQUIVO Histórico Ultramarino. Avulsos CX. 8 DOC 42 apud BICALHO, Maria Fernanda. As representações da Câmara do Rio de Janeiro ao monarca e as demonstrações de lealdade dos súditos coloniais. Séculos XVII e XVIII. In. O Município no mundo português. Seminário Internacional. Funchal/Região Autônoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico/Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1998.p.526. 85 Ver FLEXOR, Maria Helena. Oficiais Mecânicos na Cidade de Salvador. Salvador: PMS, 1974.
96
2.2.2 O conceito de população: uma releitura da questão da plebe colonial
As reformas iniciadas no governo do Marquês de Pombal deram o primeiro
impulso para o movimento ilustrado luso-brasileiro. Além disso, o novo ideário político
a ela vinculado, procurou combater o lugar que o conceito de povo tinha na tradição
política do Antigo Regime português e na Ilustração. Além de condenar a concepção
organicista do povo como entidade partícipe do corpo místico ou integrante ativo no
pacto com o rei ou no contrato social, em nome do direito natural e divino dos reis, o
pombalismo foi responsável pela elaboração de uma política de maior conhecimento e
controle sobre o Império, especialmente sobre as possessões ultramarinas na América.
Esta tendência foi elemento central na política levada a frente pelo governo de D. José I,
prolongando-se nos reinados posteriores.
Esta necessidade de conhecimento e controle vinha a par de uma visão da
política como “ciência”. Segundo Falcon, a política passou a ser baseada na análise das
condições da sociedade a que ela se destinava, isto é, é na verificação pela esfera de
poder das virtudes morais e civis que caracterizam cada povo é que definem as políticas
a serem adotadas, não se podendo estabelecer um padrão válido para todos os povos. Os
usos e costumes eram vistos como inerentes a cada povo, logo a simples implementação
de políticas formuladas apenas no nível teórico ou emprestadas de outras realidades
poderia produzir corrupção e os excessos. 86 Cabia ao governo a tarefa de dirigir e
tutelar os “povos”, formulando as políticas a eles adequadas.
Partindo do diagnostico implacável a respeito do atraso intelectual e econômico
em que se encontrava o Império Português em meados do século XVIII, estadistas e
intelectuais procuraram repensar a situação e os meios de transformá-la. A estratégia era
a de trazer elementos[ ilustrados que fossem úteis ao desenvolvimento do Império, mas
rejeitando elementos politicamente subversivos, em especial a idéia da soberania
popular e do direito do insurreição defendido por inúmeros teóricos escolásticos e
reivindicados em muitos momentos de rebelião no Império. Tratou-se, na expressão de
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves, de “luzes mitigadas” 87, cuja feição fora
__________ 86 FALCON, Francisco Jose Calazans. A época pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1982 87 NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e Constitucionais: a Cultura Política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro:Revan/FAPERJ, 2003.
97
composta por fragmentos do ideário ilustrado, resguardando apenas aqueles elementos
que fossem úteis ao desenvolvimento científico e econômico e inofensivos à ordem
política absolutista. A modernidade era vista fragmentariamente, de modo a que não se
tornasse incompatível com o absolutismo.
Tratava-se de uma ilustração de caráter prático revelado em estudos naturais
orientados no sentido das reformas de que o Império necessitava, sobretudo no campo
da produção e do comércio. Portanto, as reformas que se iniciaram com Pombal e se
exacerbaram no reinado seguinte se direcionaram a introduzir na cultura portuguesa, até
então dominada pela escolástica, elementos do cientificismo em desenvolvimento no
continente: o método critico e da lógica experimental de matriz lockeana, combinado ao
jusnaturalismo historicista de Montesquieu 88. Foram trazidos também os princípios
fisiocráticos e do liberalismo econômico fundamentais para o melhoramento do
comércio e da agricultura, sem que, as práticas exclusivistas em relação ao comercio
com as colônias fossem postas em questão.
Houve uma maior ênfase nas determinações “sociológicas” e históricas sobre o
conceito de povo, o que trouxe a tona outro conceito importante: o de “população”.
Nesta nova formulação, teve grande influência a economia política utilitarista do final
do século XVIII, para a qual a política não poderia ser deduzida de conceitos
metafísicos, como na tradição cartesiana, mas das condições econômicas e sociais. As
leis e formas de organização políticas deveriam antes de tudo serem úteis e não apenas
refletir princípios abstratos. Logo, o povo, conceito com grande carga de abstração,
torna-se um problema e um risco. Para os fisiocratas, a política tinha sido até então o
domínio das incertezas e paixões de maneira que não era possível o estabelecimento de
uma conhecimento verdadeiro neste domínio de idéias incertas. Logo, procuraram
retirar a política deste caos de opiniões e trazê-lo para a ordem das verdades
geométricas. Dentro deste mundo inconsciente e fluido da opinião estava o povo e a
idéia da soberania popular. De certo modo, corroboraram a idéia da soberania do povo,
pois acreditavam que a função do governo e da política era garantir a felicidade para o
maior número de pessoas possível. Logo, o governo era para o bem povo, mas a
soberania do povo, como toda idéia abstrata, engendrava as temerárias desordens. Daí, __________ 88 SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: Intelectuais Ilustrados e estadistas luso-brasileiros na Crise do Antigo Regime Português (1750-1822). São Paulo: Hucitec, FAPESP, 2006.
98
o uso do conceito de “população”, o que podia ser lido como “uma resposta ao risco do
povo” 89. A população aparecia como um ente mais controlável e disciplinável pelas
instituições estatais, um conjunto físico de indivíduos com necessidades a serem
supridas, mas sem ligação com idéias políticas abstratas.
É importante não perder de vista que a ilustração portuguesa não se caracterizou
pela exacerbação do espírito anti-religioso. Os eclesiásticos continuaram a ser atuantes
na própria condução das reformas pombalinas, trazendo para o movimento o caráter de
reforma pensamento tradicional, mediante a harmonização entre princípios ilustrados e
o catolicismo. Esta, entretanto, fora uma tendência em outros movimentos ilustrados,
modo que a historiografia mais recente tem refutado as analises do fenômeno que
privilegiam a ótica do descompasso entre Portugal e o Continente e que tendem a
conceber o iluminismo como um corpo doutrinário claro e definido, um conjunto de
idéias autônomas e independentes de seus contextos históricos. Da mesma forma, o
caráter anti-revolucionário e reformista assumido pela ilustração lusa fora uma
característica geral compartilhada por quase toda a ilustração, que tinha como objetivo,
não transformar a sociedade diretamente, mas assumir o papel de um “tribunal da
razão”, capaz de realizar uma reforma moral nas consciências e influir nas políticas
adotadas pelo Estado.
Foram realizadas amplas reformas pedagógicas, em especial na Universidade de
Coimbra 90 em 1772, com o intuito de formar novos homens de estado, administradores
e cientistas iniciados nos princípios e práticas científicas, capazes, portanto de participar
da elaboração e de executar as necessárias reformas. Um outro marco neste processo foi
a criação da Academia Real das Ciências de Lisboa em dezembro de 1779, que teve
instituições congêneres também criadas no ultramar 91. Desta instituição participaram
homens como José Bonifacio de Andrada e Silva, que desempenharam importante papel
na formação do estado nacional brasileiro.
__________ 89 COHEN, Deborah. La population contre le peuple. Labyrinthe, 22 | 2005 (3), mis en ligne le 22 juillet 2008. Disponível em : <http://labyrinthe.revues.org/index1035.html>. Acesso em: 09 out. 2012. Ver também toda a discussão realizada por Michel Foucault sobre o “biopoder”, por exemplo, em FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 90 Sobre a ilustração portuguesa ver CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008. 91 A fundação do Seminário de Olinda em 1798, cujo programa de estudos incluía os avanços recentes das ciências naturais, para além da ortodoxia jesuítica, atesta esta política da coroa.
99
Todo este intento reformista trouxe um renovado interesse pela “investigação
dos três reino da natureza ultramarina” 92 através do método trazido pela Historia
Natural. O reconhecimento e catalogação da rica e vasta natureza colonial entrou na
ordem do dia, o que era realizado em “viagens filosóficas”, como a de Alexandre
Rodrigues Ferreira. Para transformar a situação do Império era preciso um novo olhar
para seu vasto território e para suas gentes, e a partir desta observação formular
estratégias econômicas renovadas e também preceitos de organização da vida social.
Como observou Ana Rosa Cloclet da Silva, as luzes portuguesas trouxeram uma
vinculação estreita entre saber e poder, isto é, o conhecimento da realidade natural,
econômica e social era destinado a formulação de políticas de estado, novas formas de
administração exploração econômica. Neste sentido, um novo olhar para o elemento
humano nas colônias foi instaurado e nele a idéia de “população” sobrepujou em grande
medida a de “povo” 93, conceito que remontava à perigosa tradição corporativa
medieval e à idéia de soberania popular.
Para que o Império português desse o salto rumo à superação de seu estado era
preciso disciplinar a população colonial racialmente diversa, problemática e
insubordinada. Os novos homens de estado percebiam a dificuldade de realizar a
modernização econômica e o incremento da produção a partir da população colonial,
que, além de racialmente diversa, estava em grande medida à margem da grande
produção escravista agro-exportadora, sendo vista como essencialmente perigosa. Nesta
apreciação da população colonial fora de fundamental importância o ideário fisiocrático
e sua nova noção de riqueza que via a agricultura como a principal atividade humana, o
primeiro elemento de riqueza e a base da sociedade. Tornava-se fundamental para o
desenvolvimento do Império racionalizar a agricultura e o processo de produção. Para
nossos objetivos concentraremos nossas atenções no problema da plebe colonial,
renovado nas ultimas décadas do século XVIII por este novo olhar voltado para o
reconhecimento e a disciplinarização da população. Neste esforço disciplinador,
desenvolve-se um novo saber sobre os habitantes do império voltado para o diagnostico
e a formulação de políticas publicas “compatíveis” com sua situação. __________ 92 SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: Intelectuais Ilustrados e estadistas luso-brasileiros na Crise do Antigo Regime Português (1750-1822). São Paulo: Hucitec, FAPESP, 2006. 93 Sobre a superação do conceito de povo pelo de população ver: COHEN, Deborah, La population contre le peuple, Labyrinthe, n. 22, 2005. Disponível em: <http://labyrinthe.revues.org/index1035.html>. Acesso em 09 out. 2012.
100
É bastante significativa nas Memorias Econômicas da Academia Real de
Ciências de Lisboa, um dos principais conjuntos documentais para o estudo da
ilustração portuguesa, a preocupação de seus redatores com a pesquisa da população dos
diversos domínios do Império. Elaboraram-se estudos em que foram observadas e
catalogadas essas populações, com a produção de estatísticas detalhadas sobre sua
composição, organização social e política. Uma das grandes inquietações dos
acadêmicos era com a carência de população apta à produção e à defesa do território, e a
necessidade premente de seu aumento. Na verdade, esta preocupação esteve presente
desde os primórdios da ilustração portuguesa, quando os “estrangeirados” – intelectuais
e políticos que antes mesmo de Pombal se tornar Ministro tiveram contato com a
ilustração européia e denunciaram o “atraso” português – apontavam a carência
populacional como um grande problema para o Império. D. Luis da Cunha (1662-1749),
importante diplomata. no reinado de D. João V apontou a “sangria do corpo do Estado,
sendo o povo o seu sangue”, pois “muitos homens são a verdadeira mina de um Estado
porque sempre produzem e nunca se esgotam” 94. Para o diplomata, tal sangria causada
pelo grande numero de conventos que incentivavam o celibato dos jovens.
Nas Memórias da Academia de 1815, em particular a “Memória sobre os
terrenos abertos, o seu prejuízo na agricultura e sobre os diferentes métodos de
Tapumes” temos um bom exemplo da preocupação dos cientistas e homens de estado
com a população. O texto trata das vantagens do fim das terras comunais abertas e do
melhoramento técnico economia em geral e em especial para o aumento da população.
Segundo seu autor,
Está demonstrado [...] que todos os melhoramentos da agricultura, aqueles que tem por objeto o tapume dos campos são os mais favoráveis ao aumento da população de hum paiz, porque os campos fechados empregam um maior numero de obreiros, por causa da variedade e multiplicidade dos trabalhos [...] Ora, quantas mais são as produções de um terreno, mais habitantes ele pode sustentar, logo este gênero de melhoramento favorece necessariamente a população, visto que há mais trabalhos em que os homens se empreguem, e que as terras ficam sendo mais férteis. 95
Além do aumento, era preciso aprofundar o conhecimento do estado das
populações, como forma de propor políticas publicas para seu melhoramento econômico
__________ 94 CUNHA, Dom Luiz da apud FALCON, Francisco Jose Calazans. A época pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1982. p.247. 95 MEMÓRIAS Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa para o adiantamento das Artes e da industria em Portugal e suas conquistas. Tomo V, ano. 1815.
101
e seu controle político e social. Muitas memórias se dedicaram ao estudo de povos
nativos das diversas possessões ultramarinas e também das populações negras escravas
trazidas da áfrica 96. As viagens filosóficas se ocupavam freqüentemente do
reconhecimento das populações indígenas, como parte do esforço de conhecer a
“história natural” das diversas possessões ultramarinas, o que incluía as “notícias
geograficas e hidrográficas (...) com outras concernentes à história civil e política de
nações de índios, seus habitadores, e a sua população, agricultura e comércio” 97. Um
dos mais conhecidos e estudados viajantes naturalistas, Alexandre Rodrigues Ferreira,
em seu Diário da Viagem Filosófica pela capitania de São José do Rio Negro, realizada
em 1786, descreveu minuciosamente o estado da população da capitania. Na introdução
dirigida ao monarca
Quanto à população, pelo mapa deste título, verá Vossa Excelência a soma total dos moradores brancos, índios aldeados e pretos escravos. Moradores brancos são neste lugar bastantes, tem índios de diversas nações, entre os poucos que o povoam; são manaos, barés, carajaís, japiúas, baniúas, jaruna etc. Falecidos neste ano são 18, até ao mês de agosto andavam ausentes 15, e esta, com a outra falta dos índios empregados nos serviços, influem quanto podem no atrasamento da agricultura. 98
Os exemplos poderiam ser prolongados, mas apenas nos interessa destacar o
renovado interesse pelo conhecimento da vida, dos hábitos, costumes da população,
enfim, no estado de civilização das populações do Império. A preservação da ordem
social e o aprimoramento econômico das populações exigiam na visão ilustrada um
conhecimento mais profundo destas fundado nas ciências experimentais do século.
As elites dirigentes diretamente envolvidas com a administração colonial
também realizaram seu diagnostico sobre os habitantes da colônia 99. Um grande
__________ 96 Ver MEMÓRIAS Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa para o adiantamento das Artes e da industria em Portugal e suas conquistas. Tomo IV. 97 DIÁRIO da Viagem quem em visita e correição das povoações da capitania de São José do Rio Negro fez o ouvidor e intendente geral da mesma Francisco Xavier Ribeiro de Sampaioem 1774 e 1775. Exornando com algumas noticias geographicas e hidrográphicas da dita capitania, com outras concernentes à história civil, política das nações de índios seus habitadores, e a sua população, agricultura e comércio, Academia Real de Ciências de Lisboa, 1825. 98 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Diário da Viagem Filosófica pela Capitania de São José do Rio Negro com a Informação do Estado Presente. 99 Silvia Hunold Lara indicou igualmente que ma segunda metade do século XVIII, este tipo de diagnostico critico sobre a situação da população colonial começou a se fazer mais presente. As autoridades denunciavam a existência de uma grande quantidade de “vadios” e o numero excessivo e perigoso de escravos. Isso se deveu à presença cada vez maior de escravos e libertos nos centros urbanos da América Portuguesa naquele momento. As autoridades se esforçaram por disciplinar essa população através de registros, classificações e imposições de todo tipo, que os forçassem a ter uma vida “útil” e produtiva, evitando assim a dissolução dos costumes, fomentando o aumento da população e a produção de alimentos. Ver: LARA, Sílvia Hunold. Fragmentos Setecentistas. Escravidão, Cultura e Poder na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
102
exemplo pode ser encontrado nos Pensamentos políticos sobre a Colônia, escrito nos
fins do século XVIII pelo professor régio Luis dos Santos Vilhena, quando nos aponta a
falta de uma “população” no Brasil no Brasil. Assim como outros intelectuais
portugueses, na esteira do reformismo pombalino, Vilhena refletia sobre as reformas
que se poderia fazer nas colônias lusitanas com o intuito de desenvolver e modernizar
sua economia para maior enriquecimento do reino português. Propunha uma série de
reformas, entre elas uma lei de terras que diminuísse a concentração fundiária.
Fisiocrata, por excelência, Vilhena atribuía a pobreza da população da colônia à má
distribuição de terras. Havia estímulo econômico que os colonos constituíssem famílias
de grande porte e povoasse a imensidão do território colonial. Numa breve descrição da
população colonial, Vilhena conclui que em sua maioria é composta de pobres e
miseráveis:
Os senhores de engenho nada mais tem, a maior parte deles, que a aparência de ricos, pois que a maior parte das safras dos seus engenhos [...] não chegam para satisfazer aos comerciantes assistentes. Casas antigas há muito poucas. Todo o mais povo, à exceção [dos comerciantes] e de alguns lavradores aparatosos, como os senhores de engenho, é uma congregação de pobres, pois que além de serem muito poucas as artes mecânicas e fábricas em que possam empregar-se, nelas mesmas o não fazem pelo ócio que professam, e a conseqüência que daqui pode tirar-se é que infalivelmente hão de ser pobríssimos. 100
Para Vilhena, um grande problema da colônia era a falta de uma população, que
a pudesse desenvolver economicamente, pois aqui só havia em imensa maioria
escravos, alijados por princípio da categoria “povo” e um pequeno número de homens
brancos livres, mas em sua maioria pobres e não proprietários, fora, portanto da
“sociedade política”. A colônia possuía fundamentalmente uns poucos pobres e
inúmeros escravos, e não uma população de fato, que pudesse ser chamada de povo.
Este problema que Vilhena apontou na linguagem modernizada do liberalismo
fisiocrático do final do XVIII esteve presente já muito antes na mente de diversos
homens que se debruçaram sobre a realidade colonial. Segundo Schwarcz, o termo
“plebe” ou o povo no sentido de plebe (povo miúdo, vulgo, canalha,) passou a ser cada
__________ 100 VILHENA, Luís dos Santos. Pensamentos Políticos sobre a Colônia. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1987. p. 51.
103
vez mais utilizado pelas autoridades coloniais em referência à população da colônia 101.
Povo, plebe, negros eram termos que se substituíam nas falas de administradores a
respeito dos habitantes da colônia. O Marquês do Lavradio se exasperava com o que via
nas ruas da Bahia quando nos anos em que foi governador da capitania de 1768 a 1769.
A natureza, dizia ele, era “muito bonita, porém os seus habitadores, e os costumes de
que usam, e eu pude ver, me parecem muito mal; não via que uma inumerável multidão
de negros, a maior parte deles nus, porque destes os que pareciam mais compostos, era
trazendo uma camisa solta no corpo, sem trazerem nem calções [...]” 102. Em outro
trecho, observa “os chapéus desabados com que andava de dia, e de noite todo este
povo, os homens já nenhum anda com eles, e as mulheres já algumas deixavam de os
trazer assim como os lenços atados na cabeça, porém estas ainda de todo lhes não
perderam o amor “103.
Laura de Melo e Souza, no seu conhecido Desclassificados do Ouro assinalou o
problema que significou para as autoridades coloniais a manutenção desta plebe
colonial nos limites da ordem. No período da produção aurífera nas Minas, houve,
segundo a autora, um inédito ajuntamento populacional na região, tornando ainda mais
premente a preocupação das autoridades. A urbanização na região das minas trouxe
como conseqüência a convivência entre populações de forma muito mais intima que em
qualquer outro ponto da colônia. Daí que normalizar a população e cobrar impostos
tornaram-se necessidades prementes. A população de escravos, índios e forros
representava um grave problema. Temia-se uma revolta escrava, e também o
agravamento das revoltas fiscais que se proliferaram no setecentos.
As autoridades portuguesas, que para lá eram mandadas em grande número,
apontavam, com o fez o Marques do Lavradio, que aqueles povos eram “gentes da pior
educação, de um caráter o mais libertino, como são negros, mulatos, cabras, mestiços e
outras gentes semelhantes” tornavam impossível o exercício do governo” 104. Daí a
__________ 101 SCHWARTZ, Stuart. Gente da Terra Braziliense da Nasção. Pensando o Brasil: a Construção de um Povo”. In MOTA, Carlos Guilherme. Viagem Incompleta. A Experiência Brasileira (1500-2000). Formação: Histórias. São Paulo, Editora Senac, 2000. 102 LAVRADIO, Marquês do. Cartas da Bahia. 1768-17, . n. 68. Série Publicações, Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1972. p. 34. 103 Ibidem. p 119. 104 LAVRAGIO, Marquês apud SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro. A Pobreza Mineira no Século XVIII. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. p. 106.
104
“ideologia da vadiagem”: a população livre e pobre era considerada vadia e deveria ser
rapidamente enquadrada em uma forma de trabalho.
O problema da falta de povo se fazia constante nos relatórios e ofícios, como
mostra um trecho de Carta do Morgado de Mateus, Governador da Capitania de São
Paulo, ao Conde de Oeiras, escolhido pela autora como epigrafe de sua conclusão, em
que este expõe com máxima clareza o tópico da falta de povo: “Nesta terra não há povo,
e por isso, não há quem sirva ao estado: exceto muito poucos mulatos que usam seus
ofícios, todos mais são Senhores ou escravos, que servem àqueles senhores [...]” 105
A apreciação de intelectuais e homens de estado ilustrados sobre os habitantes
do Império aprofundou a percepção sobre os problemas e deficiências da plebe colonial,
trazendo a reflexão em torno da “falta de povo”, ao mesmo tempo em que formulou um
novo olhar informado pelo método da história natural que se direcionou ao
reconhecimento da do estado de civilização destes das populações. O diagnostico
negativo em relação à população colonial composta pela plebe e por escravos implicava
a necessidade de um poder forte e disciplinador, que tutelasse os povos e os levasse à
civilização.
Neste sentido, podemos perceber um aspecto de temporalização conceitual.
Como vimos na seção anterior, o problema da plebe colonial era vista na tradição
portuguesa ainda atuante no século XVIII a partir do exemplo da Antiguidade clássica.
O povo e a plebe uma só realidade no passado clássico e no presente, de modo que se
anulava a diferença entre os tempos. Logo, na cultura ilustrada que se insinuava nos
finais dó século XVIII e primeiras décadas do século XIX este modo de pensar era
crescentemente substituído pela por um conceito de povo e de plebe fundado na
apreciação sistemática, na observação empírica e no registro e catalogação detalhada, de
acordo com os parâmetros da história natural. Também entrou na órbita do conceito os
conceitos de civilização e aperfeiçoamento, que traziam um aspecto temporal mais
destacado.
Cabe aqui uma pequena digressão a respeito deste conceito de civilização em
uso nestes primeiros momentos da ilustração portuguesa até os primórdios do
oitocentos. De acordo com as análises de Valdei Lopes Araujo sobre o pensamento e
__________ 105 CARTA do Morgado de Mateus apud SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro. A Pobreza Mineira no Século XVIII. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. p. 106. p 215.
105
ação de José Bonifácio de Andrada e Silva, a civilização nestes primórdios da ilustração
portuguesa ainda não tinha adquirido a “espessura histórica” que tomara após a década
de 1830. A “história natural” ou na “história pragmática e filosófica” das luzes
portuguesas era informada pela concepção de que conhecer povos e populações era um
modo de ter acesso às diferentes manifestações de uma mesma natureza humana
acessível pela observação e pela razão. Tal natureza estaria presente em todos os
homens, embora encoberta por camadas de preconceitos, costumes, e superstições, que
impediam sua plena manifestação. A catalogação das populações ultramarinas e seus
costumes tinham a intenção, portanto, não de acessar a alteridade histórica e cultural,
mas de reconhecer o mesmo no outro, a lei e o principio eterno na diversidade da
realidade.
A descoberta dos princípios e leis universais eram o objetivo primeiro das
observações e dele seriam extraídas as regras de conduta, as leis da organização social e
política. Conhecer a plebe, o povo ou a população, especialmente dos vastos territórios
coloniais era uma forma de formular artifícios de governo e repressão, formas de
organização da vida econômica e social, que pudessem restaurá-los, ou melhor, trazê-los
para o domínio da razão civilizadora. Este conceito ilustrado do povo teve grande peso
na formação política das elites dirigentes luso-brasileiras durante todo o final da fase
colonial, sendo politicamente fundamental na consolidação do Brasil como corpo
político autônomo, como veremos no capítulo seguinte.
Sob o influxo da política pombalina, especialmente com a Reforma da
Universidade de Coimbra em 1772, que introduziu o estudo das ciências naturais
modernas e do método cientifico, formaram-se gerações de políticos, administradores e
cientistas que militaram na Independência e mesmo posteriormente, entre eles José
Bonifácio de Andrada e Silva. Grande parte da elite brasileira da primeira metade do
século XIX se formou na Coimbra reformada, a maior parte no período da “viradeira” 106, o que, de acordo com a célebre analise de José Murilo de Carvalho, tornou possível
uma “unificação das elites” em oposição às América espanhola, que teve desde muito
cedo universidades diversas sob o controle jesuíta em seu território. A formação
coimbrã, para José Murilo de Carvalho, caracterizou-se pela obstrução quase completa __________ 106 A “Viradeira” no Reinado de D. Maria I trouxe o enfraquecimento da orientação cientificista do ensino trazida em 1772 e a ênfase no direito e nas disciplinas humanísticas. A repressão à circulação e leitura dos livros considerados subversivos, como Rousseau, fora intensificada.
106
às idéias políticas do iluminismo francês e do anti-absolutismo jesuíta. O direito de
resistência dos povos era inteiramente censurado. 107. Estes intelectuais e políticos
formados em fins do século XVIII e inícios do século XIX eram influenciados menos
pela “vontade geral” de Rousseau e mais pelo pragmatismo de Voltaire e dos
enciclopedistas 108. A crítica à coroa, ao clero e à nobreza existia, mas não ia além da
intenção tipicamente ilustrada de promover reformas.
No que interessa à nossa análise, é importante destacar que as elites formadas na
ilustração portuguesa coimbrã se caracterizaram politicamente pelo conservadorismo
político, isto é, pelo respeito à autoridade do monarca acima de tudo e pela rejeição da
política como participação popular. O governo era considerado um núcleo de poder
formulador de políticas a serem impostas aos povos, formuladas de acordo com suas
condições. A preocupação constante com a unidade e integridade do Império foi outro
importante elemento que se estendeu após a independência, impedindo a fragmentação
do Império do Brasil.
Esta política foi forjada, entre outras coisas, em torno de um determinado
conceito de povo de viés “sociológico”, isto é, calcado nas apreciação da ciência natural
e da economia política sobre o estado das populações do império, sua composição
social, econômica e racial, e que lhe negava qualquer possibilidade de atuação política
direta e revolucionária. As teorias do direito natural ilustrado e o pactismo ibérico que
percebiam o povo como partícipe de um contrato e um bravo oponente da tirania
contrapostas e negadas, por um pensamento que começava a se abrir para a diferença no
tempo, a contingência da situação em dado tempo e lugar.
2.3 Considerações Finais
Na tradição política lusa, o povo ou os povos eram vistos como os membros
integrantes de uma totalidade social hierarquizada, cuja cabeça era o rei, o centro moral
e espiritual, cujo dever era o de manter a harmonia do todo através da justiça, dando a
cada parte desta ordem o que lhe era devido. Para além dessa acepção mais geral, o
__________ 107 CARVALHO, Jose Murilo de. A construção da ordem e Teatro de Sombras. Rio: Civilização Brasileira, 3a. edição, 2003. 108 DIAS, Maria Oldila da Silva. Aspectos da Ilustração no Brasil. Revista do IHGB.. Rio de Janeiro, v.278, jan./mar, 1968.
107
povo era o terceiro estado na sociedade de ordens, abaixo da nobreza e do clero, de
acordo com a tradicional tripartição colonial. Estas acepções informaram a relação entre
povos e reis, tanto no cotidiano da administração colonial, quanto em momentos de
contestações e rebeliões durante séculos chegando ao século XVIII. Outra vertente desta
tradição tendeu à radicalizá-la dando aos povos a possibilidade da insurreição em nome
de um “pacto” humano realizado entre povos e rei num momento primitivo da formação
do reino.
O absolutismo pombalino e mariano pretendeu neutralizar tal tradição,
transformando os antigos “povos” hierarquizados e detentores de direitos e privilégios
em súditos numa perspectiva horizontalizada que os punha como súditos do rei
baseando-se em teorias do direito divino e num direito natural de fundo religioso.
Contra tal perspectiva, afloraram tentativas revolucionárias do final setecentos e inícios
do oitocentos, temperado perspectivas pactistas tradicionais às idéias e exemplos da
revolução francesa e americana. No mundo ibérico, o peso e a permanência da tradição
corporativa de compreensão dos fenômenos sociais e políticos é particularmente
notável109, especialmente no espaço colonial, muito fechado ao contato com o mundo
europeu. Nos movimentos revoltosos do final do século, floresceu o conceito de povo
como força teórica e abstrata contraposta à tirania, uma potencia a ser realizada
decisivamente no espaço publico.
Por outro lado, sociedade hierarquizada do Antigo regime divida em clero,
nobreza e povo, foi em grande medida redefinida, especialmente no espaço colonial,
tendo a estabilidade semântica típica do Antigo Regime posta em questão. A
exacerbação da questão da “plebe colônia” foi o grande sintoma deste sentimento de
dissolução da ordem e trouxe a necessidade cada vez mais contundente de mecanismos
de controle dessa população. Porém, num primeiro momento, como vimos, a plebe ou a
própria população colonial era pensada a partir do recurso ao exemplo da Antiguidade
Clássica, numa vinculação direta entre a realidade presente e o passado como modelo.
A partir da tímida introdução das idéias e práticas ilustradas, o povo passou a ser
conceituado de outro modo: como população a ser descrita e pela ciência natural,
processo em que a realidade e a diferença histórica contingente passa a ser mais __________ 109 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A Representação da Sociedade e do Poder. Paradigmas Políticos e Tradições Literárias. In. HESPANHA, A. M. (coord.). História de Portugal. Vol. 4. . Lisboa: E. Estampa, 1993.
108
percebida, o que apontamos como um sinal do processo de temporalização da
linguagem política Os olhares se voltam para seus modos de vida, sua composição
étnica, econômica, seu estado moral em fim, sua civilização. Todavia, este olhar para a
realidade não significava qualquer perspectiva de abertura histórica ou de relativismo
cultural. Também não implicou o desenvolvimento da idéia de uma “história”, no
sentido de uma e continuidade entre o passado, o presente e o futuro, que afere
significado à situação presente. O olhar para a realidade era ainda informado pela noção
de uma natureza humana imutável e por um conceito de civilização ainda não
historicizado, como aconteceria ao longo do século XIX.
Neste momento, se fundou uma vertente de pensamento político de grande
importância na formação do estado brasileiro: a idéia de fundar a política na ciência
empírica, na observação dos fenômenos humanos, afastando-a da tradição e das teorias
abstratas. Tal vertente se caracterizou por uma visão naturalista do povo, procurando
afastá-lo da vida política e da revolução. Tradição formada no absolutismo ilustrado que
moldou bastante os primórdios do liberalismo político no Brasil e a própria visão que
sociedade brasileira passou a ter de si própria.
109
CAPÍTULO 3
REGENERAÇÃO, REVOLUÇÃO, RAZÃO E O ESTADO DE
CIVILIZAÇÃO DO POVO: O PERÍODO DA INDEPENDÊNCIA
(1820-1823)
3.1 O conceito político de povo no vintismo e a idéia de “regeneração”
A Revolução Constitucionalista de 1820 em Portugal fomentou nos dois lados do
atlântico a entrada definitiva do conceito de povo no debate político, de modo que este
passou a ter a estabilidade semântica ainda mais abalada. Os significados e usos
perderam a relativa solidez, característica de uma sociedade de Antigo Regime,
passando a ser um enigma a ser solucionado e um ponto de conflitos, na medida em que
foi posta na ordem do dia a questão da soberania do povo-nação e sua prática efetiva. O
conceito, que antes tinha grande recorrência na forma plural – povos – passou a
aparecer no debate político mais freqüentemente na sua forma singular, uma vez que
agora se tratava para muitos do povo como totalidade da nação. Nesta transformação, a
questão da abertura histórica da linguagem política foi central. O conceito de povo no
processo político desencadeado no Brasil no contexto vintista é o tema do presente
capítulo.
Na tentativa de compreensão desta ascensão do povo como conceito político
capital na vida pública, partimos de uma visão geral de como ele apareceu e foi
empregado durante a verdadeira explosão de periódicos e panfletos publicados desde as
primeiras notícias do movimento constitucional na metrópole. Diante das
transformações políticas, era preciso na visão dos grupos de diversas tendências, que
aderiram ao movimento, preparar os portugueses residentes no Brasil para a
participação no novo sistema monárquico constitucional. Estes autores empreenderam
uma verdadeira pedagogia política, procurando e esclarecer os conceitos que floresciam
nos novos tempos. Era preciso, sobretudo, elucidar os novos significados que termos
oriundos da tradição como “cortes”, “soberania”, “constituição” “cidadão”, “povo”,
entre outros, passariam a tomar na nova ordem. A política se tornou de forma mais
110
evidente uma arena de debates em que os significados dos conceitos eram as principais
armas.
A Revolução de 1820 condensou toda a insatisfação em Portugal gerada pela
perda do lugar de cede da monarquia desde 1808 e pelo fim da exclusividade no
comércio com o Brasil. De modo geral, na visão dos contemporâneos, foi o momento de
reatualização do tradicional pacto entre povo – ou povos – e rei, aquele entendido agora,
não mais apenas como conjunto dos vassalos ou súditos, mas também, em muitos casos,
como povo cidadão, origem e lugar soberania, o que se expressaria num texto
constitucional escrito por seus legítimos representantes. Os acontecimentos foram vistos
em geral, não exatamente como uma novidade, mas como “a restituição de suas antigas
e saudáveis instituições corrigidas e aplicadas segundo as luzes do século (...), a
restituição dos inalienáveis direitos que a natureza concedeu a todos os povos. 1 O
movimento não foi percebido como uma “revolução” que instaurava a soberania do
povo ou da nação a partir de uma ruptura com o passado: o pouco uso desta designação
quando comparada à “regeneração” 2, indica que para estes adeptos do novo
constitucionalismo, tratava-se de fazer retornar aos povos as suas antigas e costumeiras
liberdades de que sempre haviam gozado na historia do reino de Portugal, mas que
teriam sido usurpadas pelo despotismo, fruto da ignorância, da superstição e da força
bruta. No reino do Brasil não foi diferente. Este tópico foi bem expresso no folheto
intitulado Dialogo entre o Corcunda Abatido e o Constitucional Exaltado do ano de
1821. Nas palavras do personagem “constitucional”, “a Monaquia Portugueza sempre
foi bastante Democrata, e como os Povos sempre forão, e são muito humildes, deixarão
alienar seus direitos, que o rei correndo a brida apanhou”3.
A regeneração significava também a retomada dos direitos a que os povos
tinham direito por natureza, de acordo com as teorias jusnaturalistas ilustradas e com os
exemplos dados pelas revoluções atlânticas. O passado era ao mesmo tempo negado e
retomado: voltar a um passado de liberdade e ao mesmo tempo negar um período de
opressão e despotismo, em que os direitos naturais haviam sido esquecidos. Tratava-se __________ 1THOMAZ, Fernandes. Manifesto da Nação Portuguesa aos Soberanos e Povos da Europa apud SOUZA, Iara Lis Carvalho. Pátria Coroada. O Brasil como Corpo Político Autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1999. p. 84. 2 VERDELHO, Telmo dos Santos. As Palavras e as Idéias na Revolução Liberal de 1820. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1981. p. 207. 3 DIÁLOGO Entre o Corcunda Abatido e o Constitucional Exaltado. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. Por um anônimo muito anônimo e muito constitucional. 1821. p. 5.
111
fundamentalmente de um retorno a um estado de respeito aos princípios à natureza
humana e à razão. As míticas cortes Lamêgo e a aclamação real no campo de Ourique
no século XI, momentos fundadores do reino, eram considerados um tempo áureo do
passado português em que os direitos naturais imprescritíveis dos povos se
manifestaram em toda sua plenitude, antes de serem obliterados pela ação degradante do
tempo. As Cortes iriam restabelecer as antigas “Leis Fundamentais da Monarquia” 4 que
antes garantiam os direitos dos cidadãos, de modo que significavam uma “regeneração”
política. 5
A razão ditava que o povo era portador de direitos naturais, unindo, portanto, na
prática política, os princípios tradicionais do direito costumeiro de origem medieval – o
“direito das gentes” analisado no capítulo anterior – e o discurso setecentista ilustrado.
A revolução constitucionalista era responsável por atualizar um princípio eterno da
natureza das coisas, de modo que a concepção de “passado” e de temporalidade
contidos na idéia de “regeneração” tinham um sentido diverso do que ganharia nas
décadas posteriores do século XIX. Não se tratava de voltar a um momento da história
ou época exatamente, mas de fazer reviver um princípio inscrito na natureza eterna do
homem. O interesse histórico naquele momento definia mais pela “atualização” que
uma reconstrução do passado. Deste não interessava tudo, mas exclusivamente seus
princípios e verdades eternas soterradas. 6
Constituiu opinião corrente nestes periódicos que circularam durante o
movimento constitucional do Rio de Janeiro que o povo português estava acordando
“do profundo lethárgigo em que se achava sopitado há tantos annos (...)” 7 As cortes __________ 4 O Espelho 1º de Outubro de 1821. 5 A concepção regeneração foi bem expressa nas Preleções Filosóficas de Silvestre Pinheiro Ferreira, obra em que o político e pensador, um dos grandes expoentes do liberalismo monárquico, procurou entender as conseqüências ético-políticas da ciência natural moderna e formular um sistema geral que englobasse natureza e vida sociopolítica. Segundo o autor em suas considerações cosmológicas, o universo é dotado de princípios de conservação, perfeição, decadência, transformação e regeneração. Sobre a regeneração “umas vezes acontece, que depois de se haver destruído um sistema, e terem-se portanto separado os seus componentes, saindo uns da esfera de atividades dos outros; tornam depois de algum tempo a voltar a ela, e torna por conseguinte a apresentar-se-nos o mesmo sistema: não só idêntico nas qualidades, mas também nos componentes. E esta é a primeira espécie de regeneração. Mas em outras ocasiões sucede, que tendo-se destruído um sistema parcial de outro mais composto, se observa pela ação do que ficou unido sobre outros corpos que vêm sucessivamente entrando na esfera da sua atividade, se vai formando e finalmente torna a aparecer completo um novo sistema parcial idêntico em qualidades com o que havia perecido; mas formado de outros componentes: E esta é a segunda espécie de regeneração; aquela que mais freqüentemente acontece na Natureza; e que, para assim dizer, envolve em si todos os fenômenos do Universo. Também se lhe chama renovação”. FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Preleções Filosóficas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo;Editorial Grijalbo, 1970. 6 ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo. Conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008. 7 O CONSTITUCIONAL. 12 de Abril de 1822.
112
foram consideradas como o tradicional instrumento dos povos para este fim, como
mostravam os exemplos históricos em que as cortes em diversos momentos da história
atuaram decisivamente, como em Lamego e na Restauração de 1641, que livrara o reino
do domínio espanhol. O Revérbero Constitucional Fluminense de 15 de outubro de
1821 assim se expressou sobre as Cortes vintistas:
[...] o sábio e Magnânimo Congresso Nacional, reunindo-se em Lisboa, como os Bravos e Prudentes de Ourique na célebre Cidade de Lamego, fazem vêr na pasmosa Regeneração da Monarquia o mesmo Heroismo, que alli se admirara na sua pasmosa fundação. Elles restituem o Caráter Nacional ao seu primitivo esplendor, dissipando as trevas, que o sepultavam no mais vergonhoso esquecimento. 8
Um folheto explicitou muito bem este tópico da retomada da primitiva soberania
do povo-nação possibilitada pela reassunção das luzes da razão, após um longo período
de “obediência” cega ao despotismo:
lenta reacção contra o poder coercivo, a difusão das luzes, as mesmas convulções políticas, elevarão os povos ao justo conhecimento dos abusos arbitrários dos governos para dizerem a estes: quem não quer que se voltem contra si não devem revoltar-se contra a razão, contra a justiça, contra as Leis e contra a humanidade: vós tendes offendido as faculdades físicas, e moraes dos homens; vós dormíeis descançados sobre o antigo erro de nossa obediência habitual; mas acordai, porque as luzes dos governados alumião, os governantes para não mandar jamais se não o que for justo e bom – A este grito huma Nação retoma a sua soberania primitiva [...] 9
Dois grupos principais se definiram ao longo dos eventos de 1821 e 1822,
demonstrando entendimentos divergentes acerca do lugar do povo no sistema político a
ser adotado. O conceito de povo apresentou, portanto usos distintos, diferença que se
aprofundou conforme as cortes de Lisboa radicalizaram sua postura recolonizadora com
a exigência da volta de D. Pedro, e a necessidade de uma representação política no
Brasil se fez sentir mais claramente. Inicialmente, a repercussão dos acontecimentos em
Lisboa no Brasil se restringiu à elite cortesã sediada no Rio de Janeiro, que se dividia
entre os partidários da volta do rei para conter os excessos revolucionários do
movimento e aqueles partidários da permanência do rei no Brasil como forma de não se
curvar ao vintismo e manter no Brasil a cede do Grande Império Luso Brasileiro 10.
__________ 8 Revérbero constitucional Fluminense. 15 de Outubro de 1821. p 34 9 Constituição Explicada. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1821. 10 Os contrários à partida do rei se filiavam à antiga proposta do “grande Império Luso-Brasileiro”, que desde fins do século XVIII, com D. Rodrigo de Souza Coutinho, e inícios do século XIX com Hipólito José da Costa no seu Correio Brasiliense, recomendava que a cede da Monarquia se transpusesse para o Brasil. Em Janeiro 1821, um folheto que reivindicou o mesmo. De autoria de um desconhecido Cailhé, Le Roi et la famille Royale de Bragance
113
Posteriormente, com a difusão pelas províncias dos sucessos do movimento
constitucional no velho continente, muitas se declararam desligadas do governo do Rio
de Janeiro e solidárias à “causa de Portugal”, preparando-se para eleger seus
representantes. A primeira delas foi o Pará, seguido pela Bahia e por diversas outras.
O movimento no Rio de Janeiro estourou quando o decreto de 18 de fevereiro de
1821, inspirado pelo conselheiro real Vila Nova Portugal, determinou o retorno do
Príncipe D. Pedro à Portugal, seguido pela convocação de pessoas para elaborar um
texto constitucional próprio do Brasil. Esta atitude pareceu aos grupos políticos
apoiadores das Cortes uma tentativa das forças absolutistas do governo de frear a adesão
do Brasil à Revolução. Neste momento, os grupos de interesses no Rio se articularam
mais claramente e passaram a formular na cena publica suas concepções políticas
diversas.
3.2 O conceito liberal monárquico de povo e o diálogo com a tradição
política luso-brasileira
Uma primeira vertente se caracterizou pelo maior vínculo com o governo11.
Procuraram dirigir o movimento constitucional no Brasil à sua maneira: para eles, era
imprescindível compatibilizar o princípio monárquico de relação entre o rei e seus
povos e o princípio da soberania do povo ou da nação que se impunha nos novos
acontecimentos. A idéia de que o povo ou a nação eram soberanos deveria se
compatibilizar claramente com a idéia da soberania real. Estas concepções eram com
poucas diferenças defendidas por homens ligados ao poder político sediado no Brasil
desde 1808, como o Conde de Palmela, Silvestre Pinheiro Ferreira e José Bonifácio. doivent-ils, dans les Circonstances présentes retourner en Portugal, ou bien rester au Brésli defendeu que não havia sentido a volta do Rei à Europa uma vez que o Brasil era imprescindível economicamente a Portugal, mas não o contrário. O Brasil, vislumbrava o autor, seria a sede de uma poderosa e florescente monarquia com importância mundial. A partida da família real poderia, além disso, significar o prelúdio da Independência, argumentou ameaçadoramente o autor, pois um reino grandioso como o Brasil não aceitaria ter uma posição secundária. O folheto foi lido como separatista, incitando o aparecimento de três folhetos de repudio à tese de Caillhé. Estes Insistiram na unidade dos dois reinos a todo custo, com argumentos estritamente pragmáticos: se o Brasil se separasse de Portugal poderia ser dominado facilmente por potências estrangeiras. Segundo Raymundo Faoro, a publicação do folheto foi articulada pelo conselheiro de D. João Thomaz Antônio Vila Nova Portugal, absolutista ferrenho, contrário à revolução constitucionalista e pela permanência do rei no Brasil como forma de combater e enfraquecer os liberais portugueses. Segundo ele, a revolução seria enfraquecida com o rei no Brasil longe dos “fazedores de constituições” mas seria fomentada se o rei partisse.Ver FAORO, Raymundo (org). O Debate Político no Processo de Independência. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973. 11 Este grupo de interesses foi formado por proprietários abastados da capitania, negociantes atacadistas e membros burguesia emigrada, beneficiados pelas políticas mercantilistas do governo, além da elite política coimbrã ocupante dos principais cargos públicos dirigentes e burocráticos.
114
Eram adeptos de reformas liberais no Estado, aceitando a existência de uma
constituição, mas eram contrários à orientação tomada pela Revolução
Constitucionalista em Portugal. A Constituição era vista como o resultado de um
contrato entre o povo e o rei e não um ato do povo por si mesmo. Para o Conde de
Palmela, a revolução constitucionalista não deveria ser entendida, como um ato em que
“nação assumisse radicalmente o exercício da soberania” mas apenas uma renovação do
pacto social que existia historicamente entre o monarca e a nação 12 Seu liberalismo
político não significava a generalização da participação política do povo, mas apenas a
ordenação racional do poder para evitar o despotismo.
O movimento da década de 1820 era visto fundamentalmente como uma
tentativa de retomar a antiga e boa relação entre o rei e seus povos eclipsada pelo
“despotismo” ocasionado principalmente pela ação perniciosa de funcionários públicos
e ministérios. Rei e povo eram ambos tidos como soberanos e continuavam a ser, como
na tradição portuguesa, os dois pilares fundamentais do sistema político. A nação era
composta por esses dois elementos fundamentais, rei e povo:
(...) os direitos que os povos hoje reaquistam tinham sido usurpados, não pelo soberano, mas sim pelos empregados públicos de diversas categorias, que transcendendo a esfera, que lhes assinava no sistema social, a peculiar função do seu ministério, depois de haverem reduzido ao povo a uma nulidade absoluta tinham já em grande parte eclipsado o esplendor da majestade. Reduzidos, pois estes gigantes à estatura ordinária, só deve aparecer grande aos olhos do mundo a nação, a qual sendo composta de duas partes distintas, mas essenciais, que são o rei e o povo, se o povo é soberano, o rei que é o chefe do povo será soberano do soberano, crescendo assim tanto em dignidade e respeito quanto mais o povo avultar em prerrogativas. 13
A soberania do povo, portanto, não eliminava em absoluto o lugar fundamental
do rei e o tipo de relação que tradicionalmente era esperado que mantivesse com seus
povos: este continuava sendo “a cabeça e parte essencial desse corpo moral” 14, como
era concebido o corpo social na tradição portuguesa. O periódico baiano O bem da
ordem exigia que o rei continuasse a ser um “pai no meio dos seus filhos”, amplamente
acessível às demandas de seus povos. O respeito e o amor permaneceriam o fulcro desta
relação e o dever real era cultivar a harmonia social administrando a justiça, isto é,
__________ 12 BARRETO, Vicente. O Liberalismo da Independência. In. A Ideologia Liberal no Processo de Independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1973. 13 O Bem da Ordem. n. 5, 1821 apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Formas de Representação política na época da independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1987. 14 Ibidem. p. 50
115
mantendo “o merecimento premiado, os ricos mantidos no gozo de seus bens, os pobres
protegidos contra as pretensões daqueles” 15. Neste sentido, segundo O Espelho, a
Constituição a ser feita em Lisboa não seria “um acto de hostilidade”, mas “um acto de
união” que fixava as “relações recíprocas do Monarca, e do Povo”, e lhes indicava “os
meios de sustentar-se, de apoyar-se e de ajudar-se mutuamente" 16. Trata-se de uma
citação de Benjamin Constant muito em voga nos jornais vintistas 17.
Em meio ao clima de transformação política que caracterizou o movimento
constitucional luso-brasileiro, a linguagem política revelava elementos claros do mundo
do Antigo Regime português revistos através de autores do pensamento político
oitocentista europeu, como Constant, Guizot, Mably entre outros. Nesta vertente do
constitucionalismo, o “povo” aparecia como uma entidade dependente da relação com o
rei. Rei e povo – ou povos – eram ainda as partes componentes de um todo harmônico e
coeso.
A monarquia constitucional e a união entre povo e soberano foi o mote dos
discursos. O constitucionalismo foi visto pela como uma concessão, mas do que uma
conquista do povo ativo e soberano. O movimento foi posto, ao menos como estratégia
política, em dependência da sanção do monarca. E, ao contrário de uma ruptura com o
este, propunha a sua refundição e reconciliação com o povo, através de um novo pacto.
Um tema comum nos periódicos brasileiros foi a louvação do Soberano D. João VI por
ter aceito o movimento constitucional logo em seus primórdios, revelando sua
disposição em retomar a antiga integração com seus povo:
Hum soberano, que até então não conhecia limites a sua autoridade, posto que nella nunca transpozesse as metas do justo, entregar nas mãos de seo Povo esse poder de que gozaram seos Inclitos Maiores, para o receber depois restricto, mas consolidado por hum novo pacto social, he este um fenômeno nunca visto depois que a sociedades, depois que ha Reis!" O Pacto Social estabelece os "deveres reciprocros do Soberano para com seos povos, e destes para com sua magestade. 18
Porém, os partidários dessa visão sabiam que as atuais Côrtes tinham outra
natureza, assim como outros eram o lugar e o caráter dos povos aí representados. Sabia-
__________ 15 Ibidem. p 49. 16 O Espelho 1 Outubro de 1821. 17 Por exemplo, o tópico foi expresso também no folheto Constituição Explicada publicado em 1821, dedicado à esclarecer o que significa uma constituição nos moldes definidos por Benjamin Constant. Ver Constituição Explicada. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1821. 18 O Bem da Ordem n 1. 1821.
116
se que as Côrtes convocadas em 1821 não eram meramente consultivas, como no
Antigo Regime, mas soberanas, isto é, com poderes deliberativos, legislativos e
constituintes. Houve o surgimento de uma infinidade de panfletos e periódicos ligados à
Coroa e à burocracia que passaram a se dedicar a esclarecer esta diferença. Eram os
novos princípios da monarquia constitucional que deviam ser difundidos. Os textos
tentavam mostrar que, embora tenham tido atuação decisiva em diversos momentos da
história portuguesa, na maior parte do tempo as cortes eram impotentes e não soberanas,
dependendo da vontade e arbítrio do soberano para serem convocadas e mantidas.
Agora, sabia-se que as Cortes seriam permanentes e soberanas e contariam com
representantes de todo o povo, como ressalta o periódico baiano:
Que diferença há entre as Cortes antigas, e as que agora se convocam? Em que agora não se convoca arbitrariamente certa parte da nação, porém todo o povo concorre a nomear sujeitos que o representem, confiando-lhes o poder soberano que reside na nação, para que disponham, e estabeleçam o que é mais conducente ao bem público. 19
O constitucionalismo, porém, era visto, portanto mais como um freio ao
despotismo do que como uma forma ativa de consagração do povo soberano. O quarto
número do periódico O Bem da Ordem, tratando das transformações em curso, explicou
ao leitor a origem do despotismo no mundo português. Existiriam três explicações para
a origem das sociedades: o medo originário e a conseqüente necessidade de associar-se,
a força dos mais fortes obrigando os homens à submissão e a autoridade paternal
naturalmente desenvolvida no núcleo familiar e prolongada para o todo social. A
sociedade portuguesa, segundo redator era tradicionalmente assemelhada a este
primitivo sistema patriarcal, pois pela pouca extensão do território, o soberano podia
pessoalmente “ouvir as representações de seus Povos, e administra-lhes a justiça” 20.
Porém, com a ampliação ocasionada pelas grandes descobertas e colonizações, o rei
teve que delegar a ministros o poder de governar em seu nome, sendo os desmandos e
injustiças cometidas por eles a causa do despotismo. A necessidade da Constituição,
portanto, vinha desta subversão da ordem tradicional que regia as relações entre Povos e
Rei, o que tornara “os Povos mais cautelosos sobre a sua conservação” 21.
__________ 19 Semanário Cívico. no 2,3,4,8,15,22. Março de 1821 apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Formas de Representação política na época da independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1987. 20 O Bem da Ordem n 4, 1821 21 Ibidem.
117
Nesta vertente do constitucionalismo vintista, os imperativos da ordem e da
harmonia impunham o controle e da vigilância do monarca sobre a soberania popular e
sua representação, embora esta fosse imprescindível. Em outros termos, a soberania era
partilhada entre o povo em Assembléia e o rei. O monarca e a monarquia eram vistos
como elementos que estavam na própria origem, formação e constituição histórica dos
povos, de modo que a soberania do povo não era entendida como separada e oposta à do
monarca. Ao contrário, sem o rei, povo não é nada além de uma massa informe,
desorganizada, não se constituindo numa totalidade orgânica e desenvolvida, idéia
presente em diversos autores, como Hobbes, e Hegel, retomada pelo liberalismo daquele
momento. 22 A existência do monarca era, portanto, essencial para a própria
possibilidade da existência da soberania do povo. Daí, a o reconhecimento dos direitos
históricos do monarca transmitidos hereditariamente.
A política real não era vista como a aplicação de teorias abstratas ou fundada
apenas na natureza do homem, no contrato social que deu origem à sociedade. Como
Burke, Benjamin Constant e os liberais “doutrinários” do século XIX desconfiavam das
teorias abstratas ou metafísicas e se preocupavam com os mecanismos reais de
construção de um estado moderno e liberal. Herdeiros do absolutismo ilustrado
pombalino e mariano, julgavam que era preciso olhar para a realidade histórica e
reconhecer a verdadeira o estado civilizacional do povo a que se destinam os governos e
sistemas políticos. Acreditavam que, uma vez que o povo não estava preparado para se
governar, de acordo com seus diagnósticos racionais, cabia ao Estado a direção dos
negócios públicos.
Esta tendência aparece muito em diversos periódicos de caráter oficial, como o
Regulador Brasílico-Luso, que após a Independência se chamaria Regulador Brasileiro.
O periódico acusava de metafísicas e utópicas as pretensões daqueles que supostamente
almejavam a mudança da forma de governo no Brasil e propunha um olhar para as
circunstancias reais e atuais do povo brasileiro. Citando Rousseau, argumentou que o
governo republicano seria o mais perfeito se o Brasil fosse formado por um “Povo de
Deoses” 23, o que não ocorria, entretanto, em nenhum lugar do universo. Aludindo a
diversos exemplos da República Clássica Romana e a exemplos da França __________ 22 FLORES, Alberto Bivar. El Liberalismo Constitucional em la Fundación del Império Brasileño. Revista Eletrônica de História Constitucional. n. 6 , set, 2005. 23 Regulador Brasílico-Luso. 31 de Julho de 1822.
118
revolucionária, concluiu que as revoluções trazem sempre malefícios aos povos, e que
estes jamais e em nenhum lugar estariam preparados para um sistema de governo
diverso daquele em que foram educados e acostumados. A sociologia política de
Montesquieu foi a todo o momento evocada, como nesta passagem em que são dados
conselhos aos deputados brasileiros nas Côrtes:
He necessário portanto que os Deputados tenham uma justa Idea do Estado da Nação, a fim de tomarem as medidas, que lhe sejam mais convenientes: He preciso, que conheçam os progressos, que já se tem feito, e aquelles que ainda estão a fazer: o que a nação tem de bom e o que ainda conserva defeituoso: sem este prévio conhecimento, os Representantes se conduziram ao acazo (...) Julgaram obrar com muita sabedoria, imitando a conducta dos povos reputados os mais hábeis, sem se lembrarem que tal regulamento, tal uso saudável a huma nação pode ser perniciosa a outra. 24
Sobre a questão do veto e da sanção real aos atos do poder legislativo, problema
que constituiu o centro de um dos maiores debates políticos do Império, a mesma
concepção foi veiculada. O rei teria por justiça o direito de examinar “a
compatibilidade, ou a incompatibilidade das leis com as “circunstâncias dos povos”,
direito fundamental de que as monarquias não podem ser despozadas por convenção
alguma [...]”25. Os “charlatães”, segundo o periódico,
não conceberiam o temerário projecto de darem aos brasileiros um systema de governo antimonárquico-constitucional se estudassem melhor o caráter da nação, e a influencia de sua educação; viam o povo no thermômetro de seo partido e bastavam o grito de quatro ou cinco alucinados pelos sofismas reveberianos para julgarem que marchavam ao lado da opinião pública. 26
Nesta concepção, era preciso dirigir o olhar para o estado atual do povo, seu
caráter, para encontrar as leis e o sistema político a ele adequado. Era um pensamento
político que se pretendia aberto ao curso do tempo, à mudança histórica e à realidade
presente. Cabe, entretanto, precisar o que significa este mote do ponto de vista da
questão a que nos propomos: a relação entre o conceito de povo e temporalidade
histórica. Neste contexto, os propalados estágios de civilização por que passavam os
povos, eram vistos, não como uma marcha histórica livre rumo ao futuro, mas como um
movimento de retorno da razão a si mesma, deixando um passado em que fora
__________ 24 Regulador Brasílico-Luso. 31 de Julho de 1822. 25 Regulador Brasílico-Luso. 7 de agosto de 1822 26 Regulador Brasileiro. 27 de novembro de 1822. P 278.
119
subsumida pela ignorância e pela superstição. O gênero humano estaria em “marcha
para a época de sua civilização”, processo em que “a razão levanta a voz, e sale fora o
equilibrio que a moderava, encarando então as proscrições e a morte para conseguir o
triunfo contra o seo oppressor”27. Este movimento, embora universal, seguia ritmos
diferenciados nos diversos povos: “mais tardia nos povos do oriente, do que nos do
meio-dia, e do Ocidente”, daí a necessidade de procurar um sistema político e legal
apropriado a tal diversidade.
No Brasil, este movimento histórico rumo à civilização era visto como
incipiente, de modo que todas as garantias oferecidas pela forma de governo
monárquico-constitucional se faziam ainda mais necessárias. Além disso, o “caráter do
povo” era avaliado como historicamente afeito a tal forma de governo, sob a liderança
de D. Pedro, sempre louvado como o soberano, de espírito justo e liberal que soubera
ouvir o clamor de seus povos, aceitando de bom grado o constitucionalismo. Nessa
perspectiva, o Brasil possuía um “povo, cujo caráter é sempre firme, sempre político,
sempre decidido pela causa da Monarquia Constitucional, que he a verdadeira e a única
causa do Brasil, donde há de sair a segurança e a prosperidade nacional”28.
Esta vertente do liberalismo político vintista foi a dominante politicamente em
todo o movimento constitucional, no processo de independência e no primeiro reinado.
Ela deu o tom do sistema monárquico-constitucional adotado no Império brasileiro, em
que o povo-nação partilhou com o rei a soberania. Nesta concepção, a tradição
monárquica portuguesa, assim como a consciência sociológica herdeira do cientificismo
pombalino, foram rearticulados ao novo ideal constitucional, no intuito de frear suas
possíveis tendências democráticas e republicanas e dirigir do alto os rumos do país.
3.3 Um outro conceito de povo: razão, insurreição e “vontade geral”
Mais afastado da esfera de política e burocrática em torno do rei na Corte, outro
grupo lutava pela ascensão política e por medidas liberais mais amplas29. Foi, segundo
__________ 27 Regulador Brasílico-Luso. 7 de agosto de 1822. 28 Regulador Brasileiro. 27 de Novembro de 1822 29 Grupo formado pelos negociantes do sul de Minas e donos de engenhos, proprietários de fazendas e negociantes do Recôncavo da Guanabara e Campos de Goitacazes.
120
Ana Rosa Cloclet da Silva, a principal tendência de adesão ao constitucionalismo tal
como proposto na Revolução do Porto. Num primeiro momento, se bateram pela volta
de D. João à Lisboa, conforme queriam as Cortes, e a continuidade da ligação com
Portugal revolucionária para despojarem do poder econômico os controladores do
mercado fluminense e dos cargos públicos. Os grandes jornais de expressão destes
grupos foram o Revérbero Constitucional Fluminense, o Correio do Rio de Janeiro, A
Malagueta, entre outros.
Este viés do constitucionalismo vintista tinha uma propensão maior a radicalizar
seu discurso, fugindo das idéias antigas da relação entre os povos e o monarca, tais
como a do rei como o pai bondoso dos povos, que lhes administra justiça. A
“liberdade”, o “direito de resistência dos povos”, assim como a “vontade geral” e a
soberania do povo eram constantemente reivindicados e associados ao conceito de povo.
Nesta perspectiva, a razão havia ditado que os homens em sociedade tinham direitos
naturais e imprescindíveis que se traduziriam em direitos de participação política.
Aqueles que os exercem tais direitos “formao um Povo livre: subditos que os não
exercem não são mais que huma tropa de d’homens ou escravos, ou enganados” 30. O
povo, portanto, para essa linha constitucionalista é um conjunto independente de
homens racionais portadores de direitos naturais que realizam um pacto político
expresso numa constituição. A inspiração vinha, entre outras coisas, da Antiguidade
Clássica, vista como momento da história em que os direitos naturais tiveram sua plena
realização e reconhecimento. Nesta linha, o Revérbero questionou: – o que he Povo? – Ah! Nós já somos em tempo de podermos responder, que os seus Direitos vem de Deos e que os dos Governos vem dos Povos; esta doctrina não he dos impios da França, mas sim dos grandes Philosophos que tem seriamente estudado a natureza do homem; não he moderna, como pretendem os amantes do Servilismo; Sócrates dice: ‘he verdadeiro Monarcha o que govérna Póvos, que livremente lhe prestão a sua obediencia; he Tirano aquelle que obriga á que lhe obedeçam; hum faz executar a Lei, outro só faz executar a sua vontade 31
Os povos apareciam como uma força destacada da figura real só estando ligado
ao rei por sua vontade, pela utilidade do bem estar 32, ou pela sujeição forçada e não por
uma obrigação fundada no passado ou na tradição. Existiam anteriormente e
independentemente dos governos constituídos e da lei, sendo deles a escolha sobre por
__________ 30 Revérbero Constitucional Fluminense. 27 de agosto de 1822. p. 39 31 Revérbero Constitucional Fluminense. 27 de Agosto de 1822. p. 173 32 Reverbero Constitucional Fluminense . 22 de Janeiro de1822
121
quem e como serão governados. Ao tratar do que é a “constituição de um povo”, explica
que para que esta se forme,
he mister que o Povo exista, e esteja constituído antes de se organizar; que os homens se tenhão tornado Cidadãos por hum pacto, antes de se fazerem subditos pelo estabelecimento da Lei: he mister finalmente que huma Convenção permanente, e immutavel, assegure a todos os Membros do Corpo político o exercício de seus direitos essenciaes, antes que elles possão, entrando neste exercício, determinar por instruçoes, as suas diversas, e consentidas relações.33
Um panfleto de 1821 teorizou sobre a anterioridade da existência do povo e seu
conseqüente poder soberano e originário em relação ao poder real. O trecho que
reproduziremos a seguir procurou desvincular o conceito de Povo da idéia monárquica
tradicional do paternalismo real, que unia indissoluvelmente o “rei e seu povo”. Num
diálogo fictício entre a “constituição” e o “despotismo”, fórmula muito utilizada no
momento, o primeiro questionou:
E dize-me tu: Quem existio primeiramente, o povo ou o Rei? O povo: e se acaso não imaginávamos como os Peruvianos, que um homem privilegiado, e de outra diversa matéria descera dos Ceos para imperar sobre os outros homens havemos de conceber que foi o povo, ou a Nação quem condecorou a um dos seus membros com a dignidade de Chefe ou de Rei; Ella foi portanto que lhe deo o poder, e a Ella compete diminuir-lo, como justo lhe pareça (...) assim o Rei não é o Senhor, não é he o Pai, mas sim o Chefe, e o primeiro magistrado da República. E qual foi o fim que os povos tiveram, quando entre si nomearão um Cidadão para esta suprema magistratura? Nenhum outro podia ser que o de firmarem por este meio a sua felicidade 34
Desenvolvendo este argumento, portanto, a constituição não deveria ser
entendida simplesmente como um pacto entre o povo e o rei, “seu chefe”, pois um
contrato supunha um juiz que pudesse resolver em caso de contestação de uma das
partes. Entretanto, argumentou o Revérbero, “entre o Povo e seu Chefe não póde haver
Juiz, e por consequencia contracto; pois que huma das partes pelo menos poderia
annula-lo a todo instante” 35. A constituição, portanto, como argumentou o Revérbero,
era fruto não de um contrato entre povo e rei, mas de um pacto, que por sua vez se dera
__________ 33 Revérbero Constitucional Fluminense. 18 de Junho de 1822. p 38 34 DIÁLOGO entre a Constituição e o Despotismo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1821. p.3. 35 Revérbero Constitucional Fluminense. 18 de Junho de 1822. p.38.
122
entre homens numa associação livre e voluntária, prescindindo da presença da figura
real.
Os jornais dessa tendência, entretanto, não prolongaram seus argumentos em
direção a uma defesa explicita da forma republicana de governo, como pareciam indicar
suas propostas. Pouca entrada teve no debate político luso-brasileiro deste momento o
ideário republicano propriamente anti-monárquico. Mesmo homens de tendências ainda
mais radicais que aqueles reunidos em torno do Revérbero, como João Soares Lisboa,
criador do Correio do Rio de Janeiro, não chegaram a se definir explicitamente como
republicanos. Segundo Renato Lopes Leite, a palavra republica era rara no período
inicial da luta pela Independência. Isso por dois motivos conjugados. Por um lado, a
palavra era proscrita, o que sujeitava aqueles que a utilizavam a perseguições e censuras
por parte da Coroa. Também porque o republicanismo da época era diferente daquele
desenvolvido no século XX. A tradição republicana de que participavam os
vintistas do Revérbero e da Malagueta, e da qual também desfrutaram em certa medida,
dos conjurados de 1789 aos revolucionários de 1817, era inspirada na republica clássica
romana. Tratava-se principalmente de um “ideário ético cultural igualitário e anti-
hierarquico” 36 dos filósofos ilustrados da revolução americana e francesa que se
expressava, sobretudo na defesa da Constituição e da representação, no Império da lei,
na virtude cívica, elementos que num primeiro momento se coadunavam a forma
monárquica de governo. É, por isso que os “republicanos” brasileiros puderam apoiar a
monarquia constitucional em 1822. Entretanto, como veremos no próximo capítulo, ao
longo da década de 1820, o republicanismo se radicalizou, passando se opor cada vez de
forma mais aberta à monarquia, o que se expressará claramente na abdicação do
primeiro Imperador.
Ainda que absolutamente minoritário neste momento, portanto, republicanismo
já se fazia presente na Corte e nas principais cidades das províncias, muito embora seja
coerente crer que a forte repressão tornasse imprudente o alarde de suas posições na
cena pública e a aceitação da monarquia constitucional fosse possível. Trata-se de uma
concepção mais distante da tradição monárquica, que transubstanciava diretamente os
direitos naturais dos povos em direitos políticos de participação política e representação,
__________ 36 LEITE, Renato Lopes. Republicanos e Libertários. Pensadores Radicais no Rio de Janeiro 1822. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
123
o direito à insurreição e ao auto-governo.
A questão da avaliação do estado civilizacional do povo e a adequação ao
sistema político era bem menos aventada e até mesmo diretamente questionada nesta
tendência do constitucionalismo. A Malagueta de treze de abril de 1822 questionou a
aplicação da sociologia política de Montesquieu para fundamentar a escolha do tipo de
governo apropriado ao Brasil, tão aventada no período. O determinismo sócio-histórico
foi invertido, de modo que são os povos que passam a ter a obrigação de se adequar à
liberdade, sob pena de serem considerados indignos:
Acaso queremos que se pergunte: La liberte n’étant pás um fruit de tout les pays, n’est pás à la portée de touts les peuples? Mas não; para o nosso caso não convenho com Montesquieu, e traduzirei a sentença pela maneira seguinte – Que os Reys, e os Povos, que não quiserem convir em que a liberdade se pode enxertar com boa fé, em todos os países, são indignos aquelles de serem Reys, estes de serem livres, e ambos terão de ser mizeráveis 37
A questão do estado civilizacional ou social do povo não deixou de ser
analisado, mas, com bem menor freqüência, e numa chave bastante diversa da
perspectiva expressa na vertente constitucionalista primeiramente analisada. Um dos
políticos mais críticos ao sistema monárquico, Frei Caneca, alumbrou no Brasil a
existência de um povo com características próprias que o habilitava escolher seu sistema
político sem a tutela de um soberano europeu. Sua sociologia o levava diagnosticar a
existência no Brasil de um povo preparado e afeito à liberdade, por sua história e suas
origens. Partindo das teorias de Montesquieu, acreditava que “o clima do Brasil, a sua
posição geográfica, a extensão de seu território, o caráter moral de seus povos, seus
costumes e todas as demais circunstancias” possibilitavam que tivéssemos um sistema
político próprio, peculiar e independente dos padrões europeus. Nossa dupla origem nos
teria dado como o povo um espírito peculiar em relação aos europeus: dos primeiros
europeus aventureiros e dos indígenas, teríamos herdado um espírito de insubordinação
e independência, diferente do servilismo que caracterizaria a Europa:
Os Brasileiros descendemos dos primeiros indígenas deste continente e dos europeus transplantados nele. (...). Dos primeiros, as idéias de dependência e de submissão, que entre nós (europeus) derivam da idéia de um Ser Supremo,
__________ 37 A Malagueta. 13 de Abril de 1822.
124
são incógnitas a estes povos ateus. Eles não concebem, que hajam homens assaz audaciosos, para quererem comandar os outros. Ainda menos imaginam que hajam homens assaz loucos para quererem obedecer. Os segundos foram homens, que, por isso mesmo eram feridos pelas leis, deixaram de ter um espírito de dependência (...) Destes elementos, se formaram os brasileiros que sempre conservam o mesmo espírito de seus progenitores, que se tem mostrado em todas as épocas. 38
Nesta vertente do constitucionalismo monárquico, havia uma confiança na
capacidade dos povos de se adequar à forma considerada mais racional de governo, o
que os punha em certa medida em oposição à chave sociológica de conceituação do
povo expressa pelo grupo anteriormente analisado que invariavelmente concluía pela
sua incivilidade e incapacidade política. O conceito tendia a permanecer teórico e
abstrato, significando fundamentalmente um conjunto de homens o portadores de
direitos naturais se traduziriam diretamente em novas instituições políticas: uma
monarquia destituída do que eram consideradas as suas grandes prerrogativas, como o
direito de veto e sanção real aos atos do poder legislativo. O povo deveria ser o único
soberano, o centro do sistema político.
3.4 Alguns momentos-chave no uso do conceito
Nas próximas seções percorreremos alguns contextos chave do movimento
constitucional brasileiro e da formação do Brasil como corpo político autônomo em que
as diferenças entre as concepções se exacerbaram.
3.4.1 A atuação do povo em Praça pública: o dilema da participação política
Diante dos acontecimentos em Portugal, por todo o país explodiram, portanto, já
a partir de janeiro de 1821 movimentos de apoio às cortes revolucionárias. A adesão
veio primeiramente do Pará e logo ocorreu em diversas províncias, onde o espaço
público foi tomado por defensores do novo regime. O monarca ainda não aceitara
formalmente as cortes e mandara organizar em todo o império português uma consulta
às câmaras municipais e vilas para formar as bases de um possível novo texto
constitucional. Era uma tentativa clara de manter a antiga e costumeira relação com seus
__________ 38 CANECA, Frei. Ensaios Políticos. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Editora Documentário, 1976.
125
povos através das tradicionais câmaras, os órgãos de “representação” no Antigo Regime
Português. Porém, os tempos haviam mudado. Os “povos” eram outros e exigiam um
relacionamento com o poder e com seu rei alicerçado em novas bases.
Em reação a estas ações do governo, no dia 26 de fevereiro, os ventos do
constitucionalismo passaram também pelo Rio de Janeiro. “Tropa e povo” tomaram o
Largo do Rocio exigindo do rei o juramento às Cortes. Este princípio de tensão se
dissipou quando em março o rei, após receber representantes do movimento da praça,
finalmente realizou o juramento às Cortes e determinou a eleição de deputados segundo
as regras estipuladas pela constituição espanhola, além de anunciar sua volta para
Portugal. Os periódicos ligados ao rei não se cansaram de elogiar o D. João VI.
Louvava-se hum soberano que até então não conhecia limites à sua authoridade Real, posto que n’ella nunca transpozesse as metas do justo, entregar nas mãos de seo Povo esse poder que de Gozaram seos Inclitos Maiores, para o receber depois restricto, mas consolidado por hum novo Pacto Social, He este um fenômeno nunca visto depois que há sociedades, depois que há Reis! 39.
A atuação de D. Pedro I como articulador desta “reconciliação” entre o Rei e seu
povo foi muito aplaudida nos jornais. D. Pedro se havia tornado naquele momento o
“intérprete do Coração Paterno, ao qual foi sempre o mais caro dos interesses formar a
Ventura dos Seus Povos” 40. D. João, através da mediação de D.Pedro, tinha ouvido
“seus vassalos”, de acordo com a tradição portuguesa que regia a relação entre o rei e
seus povos. Esta imagem de D. Pedro como o grande mediador e pacificador foi
amplamente divulgada e aos poucos foi unindo o projeto constitucional no Brasil à
figura do jovem príncipe 41.
Os acontecimentos no Largo do Rocio foram lidos pelos periódicos “oficiais” de
acordo com os parâmetros tradicionais, mas sem dúvida havia um tom diferenciado que
se pronunciava. Era uma nova relação entre rei e povo que se delineava nestes
acontecimentos. De acordo com o Revérbero Constitucional Fluminense, publicado
meses depois, algo muito diverso da tradição acontecera, uma vez que “o povo (...) na
configuração das tropas, no Rio de Janeiro, reivindicava algo numa praça pública e
__________ 39 O Bem da Ordem. n. 1. 1821 apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Formas de Representação política na época da independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1987. 40 O Amigo do Rei e da Nação. Rio de Janeiro: Imprensa Régia. 1821 41 SOUZA, Iara Lis Carvalho. Pátria Coroada. O Brasil como Corpo Político Autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1999.
126
impunha ao governante a sua vontade” 42.
Quem era o “povo” que exigia as mudanças? Eram, sobretudo, proprietários de
terras, grandes comerciantes atacadistas e intelectuais. Tinham como grandes
articuladores políticos Joaquim Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, José
Clemente Pereira, para citar os mais importantes. A saída de D. João VI para Portugal e
a pronta adesão ao sistema constitucional lhes parecia uma forma de livrar-se dos
entraves criados pela burocracia de estado cortesã aos seus negócios e à sua participação
no poder.
Esta atuação dos povos em praça pública, entretanto, logo se tornou um
problema para as elites políticas favoráveis às liberdades constitucionais. Para a
historiadora Iara Lis C. Souza, os anos imediatamente posteriores à Revolução em
Portugal até a independência em 1822 foram marcados pela irrupção da presença do
povo nas ruas e praças públicas, com suas diversas reivindicações, anseios e muitas
vezes também com violência43. As elites liberais de todos os matizes se atemorizavam
quando o espaço público era tomado pela “gente turbulenta”, pois numa sociedade
escravista os distúrbios eram sempre vistos pelas elites como muito perigosos. Sob pena
da desordem, era imprescindível estabelecer quem era a “plebe” a ser excluída do
processo.
Havia sido convocada para o dia 22 de abril uma assembléia de eleitores
paroquiais para proceder à eleição de representantes que iriam eleger deputados para
participarem das cortes, conforme estava ocorrendo em diversas províncias. Após muita
controvérsia e tentativas de boicote por parte dos altos escalões burocráticos do
governo, a reunião se deu em 20 de abril de 1821 na Praça do Comércio, local de
grande aglomeração de pessoas. Eram considerados cidadãos eleitores os proprietários e
os homens que possuíam um ofício próprio, isto é, estavam excluídos, não apenas os
escravos, mas os trabalhadores subalternos pobres ou sem ocupação fixa.
__________ 42 Reverbero Constitucional Fluminense apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Formas de Representação política na época da independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1987. p. 98. 43 Reverbero Constitucional Fluminense apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Formas de Representação política na época da independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1987. p. 98.
127
O que deveria ter sido uma reunião seleta, portanto, tomou outro rumo
quando a população comum, a "gente miúda", se aglomerou em volta do espaço
reservado aos legítimos eleitores e interveio no processo. O anuncio feito pelo Ministro
Silvestre Pinheiro Ferreira, de que o Rei partiria para Portugal a pedido das Cortes deu
inicio a uma verdadeira comoção do povo em praça publica, que aos gritos exigia a
adoção temporária da Constituição de Cádiz, tida como modelo de carta liberal. Mesmo,
acatado o pedido, os ânimos não se acalmaram. O povo da praça, apoiado por alguns
eleitores de vertente mais radical passaram a exigir do Rei que formasse um novo
Ministério escolhido pela Assembléia e uma junta de Governo provisória. O episodio
teve fim com a repressão violenta das tropas e um saldo de mortos e feridos. O ocorrido
nesta reunião deu o tom dos dilemas que os constitucionais ou liberais brasileiros teriam
que enfrentar por todo o império. A Praça fora tomada, não apenas pelos eleitores
legalmente constituídos, mas por uma multidão de homens pobres, mulatos e negros,
que se postaram em torno do espaço reservado para a reunião. Enquanto o ministro de
estado Silvestre Pinheiro Ferreira anunciava a decisão do rei de partir para Portugal e de
deixar seu filho como Príncipe Regente, iniciou-se uma série de protestos de que não
era possível escutar o que era dito nos cantos mais distantes da Praça. Os protestos se
transformaram em uma grande manifestação popular em que era exigida a instalação de
um governo provisório, uma mudança ministerial e a promulgação imediata da
constituição espanhola, tida como o grande modelo de constituição liberal, enquanto as
cortes não finalizassem a nova constituição portuguesa. Comissões foram organizadas
para apresentar ao rei as exigências e aquela referente à constituição espanhola chegou a
ser atendida. A situação na Assembléia tornou-se cada vez mais tumultuada e violenta e
as tropas foram chamadas para reprimir a multidão, matando e ferindo diversas pessoas.
Após estes eventos, uma devassa foi instalada pelo governo para apurar os fatos e os
culpados.
Para o ministro de estado Silvestre Pinheiro Ferreira, um dos grandes
representantes da visão monárquica e presidente daquela Assembléia, os acontecimentos
foram causados por aqueles que “requereram a honra de falar a sua majestade em nome
do povo”, “malévolos” que falavam em soberania do povo como o pretexto para “fazer
tumultos”. A este povo de ares liberais e até mesmo democráticos que se materializara
na Praça do Comércio, o ministro opunha o princípio tradicional, argumentando que o
128
rei não havia autorizado este princípio – a soberania do povo –, mas que “faz de próprio
moto o que sempre se fez”, isto é, ouvir os povos, que se expressariam da única forma
que lhe era direito, isto é, através da voz de homens dignos de sua confiança (neste caso,
os eleitores). Podemos inferir que para o ministro, a soberania do povo não era
necessária uma vez que a monarquia tinha seus próprios modos de conceber a relação
entre rei e povos: na tradição portuguesa, ao ouvir seu povo, o rei já estaria sendo justo.
O ministro, assim como outros homens letrados e de função pública eram favoráveis à
existência de uma constituição e à reformas liberalizantes na sociedade em geral.
Porém, a participação direta do povo soberano e ainda menos do “povo-miúdo” nas ruas
não poderia fazer parte das mudanças em curso.
O cerne da argumentação da maior parte das testemunhas, conforme aparece nos
autos 44, entre populares eleitores participantes da assembléia, era a de que um
“ajuntamento tumultuozo do povo miúdo” havia interferido abrupta e indevidamente na
reunião, tomando “tanto a porta de entrada como a sahida e laterais daquela praça”45.
Segundo a testemunha Marianno Antonio d’Amorim Carrão, este povo miúdo havia se
revoltado
contra a superior e legítima forma do governo estabelecido para conseguir a mudança do mesmo nosso governo, e arrancar e extorquir por meios violentos a sanção de El Rey, a nomiação de Ministros de Estado que hunica e privativamente pertensem a El Rey. 46
Na mesma linha, a maior parte dos eleitores chamados a falar por ocasião da
devassa, enfatizaram o argumento de que a assembléia tinha sido coagida e obrigada a
pedir ao rei a promulgação da constituição espanhola por uma “populaça desenfreada e
amotinada” 47 que havia ameaçado os eleitores e os transformado em “instrumentos
passivos” de sua vontade. A maioria dos eleitores não via aquele mecanismo de
representação como passível de ser entendido à plebe miúda das ruas. As discussões
deveriam ser restritas aos eleitores, num processo ordeiro afastado da rua.
Os eventos na Praça do Comércio evidenciam claramente os limites que a idéia
__________ 44 Processo da Revolta na Praça do Comércio do Rio de Janeiro. Inquirição de Testemunhas. In. DOCUMENTOS para a História da Independência.Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. 45 Ibidem. p. 281. 46 Idem. p 290 47 “Processo da Revolta na Praça do Comércio do Rio de Janeiro. Inquirição de Testemunhas”. In. DOCUMENTOS para a História da Independência. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. p. 305.
129
de “soberania do povo” tinha que ter para poder ser operada no Brasil de inícios do
século XIX Não significava nem para os setores mais “democráticos” do
constitucionalismo carioca a possibilidade de inclusão da plebe ou do “povo miúdo”.
Era preciso manter a ordem social numa sociedade desigual e escravista. A força que as
concepções estamentais de uma sociedade de antigo regime ainda possuíam naquele
momento era muito poderosa: os lugares sociais hierarquizados e os direitos e deveres a
eles associados era fortemente demarcados. A relação entre povo e Monarca e a
representação política, embora em processo de remodelamento, tinham que seguir
determinadas regras que impediam a ampla participação da população.
O sucedido na Praça do Comercio do Rio de Janeiro pós em evidencia duas
concepções de soberania do povo que estavam em jogo nestes primórdios do
constitucionalismo liberal luso-brasileiro. Menos expressa teórica e conceitualmente, a
primeira destas, que podemos denominar de “radical” e “democrática”, concebia que o
principio da “soberania do povo” deveria se traduzir imediatamente num poder popular
baseado na participação ativa e direta, o que poderia incluir mesmo membros da plebe.
Oposta a esta, havia a concepção mais restrita em que o povo só poderia ser soberano
através de seus representantes em assembléia, isto é, de que o principio deveria se
traduzir, não em atos diretos, mas numa delegação, autorização consentimento. Neste
sentido, os representantes do povo não seriam seus os mandatários da vontade popular,
constituindo antes um corpo restrito afastado do povo tumultuoso. Esta ultima
concepção podia se identificar, notadamente nos círculos mais próximos ao poder, a
idéia tradicional da representação política dos povos como simples consulta e
consentimento tácito, idéia que se vinculava a do rei bondoso e paternal que admite
ouvir as queixas dos povos.
A soberania do povo como atuação direta no espaço publico não teve a adesão
dos principais grupos presentes no vintismo luso-brasileiro, o que significou um acordo
tácito quanto à idéia de soberania do povo como consubstanciada num mecanismo de
representação restrito, controlado e, sobretudo, afastado das turbulências populares. É
importante salientar a importância que teve no Constitucionalismo dos anos vinte a
idéia dos limites necessários da soberania do povo, mesmo nos grupos considerados
mais radicais na critica às Cortes portuguesas e mais democráticos. Já eram
reconhecidos e discutidos pelos constitucionais brasileiros os “males” ocasionados pelo
130
poder desmesurado dado ao povo no período jacobino da Revolução Francesa e nas
revoluções hispano-americanas. Benjamin Constant, muito citado no período, já havia
chamado a atenção para a opressão do povo que poderia advir da própria soberania
popular, sendo, portanto forçoso reconhecer o caráter limitado desta, no mundo
moderno. A liberdade política moderna não se caracteriza pelo exercício direto, como
na democracia ateniense clássica, mas pela delegação e representação. O Reverbero
Constitucional Fluminense explicitou bem a idéia ao afirmar que
Se todo despotismo he ilegal, segue-se que conseguintemente que he mister nao dar uma latitude indefinida a esta soberania, onde que se ela ache, para que nao degenere em arbitrariedade. Se concedernos a hum homen hum poder imenso derivado da divindade, ou se estabelecermos, que a Soberania do Povo he ilimitada, criamos e lançamos ao acaso na Sociedade Humana um grao poder demarcadamente grande em si mesmo e que por si mesmo he um mal, ou seja confiado a hum, a alguns, ou a todos. A latitude do poder degenera sempre em despotismo; por consequencia, he o gral de força, e nao os depositarios dela que nos devemos recear. 48
3.4.2 Duas formas de entender o lugar do povo no sistema político: a
polêmica em torno do tipo de representação do povo brasileiro
Em janeiro de 1822 D. Pedro atendeu às representações de fluminenses,
paulistas e mineiros e resolveu permanecer no Brasil, desobedecendo aos decretos das
cortes de Outubro de 1821, ordenando seu regresso imediato. Além da partida do
Príncipe, os decretos extinguiram os tribunais criados desde 1808 no Brasil e outras
medidas que pretendiam fazer do que antes era um Reino Unido e sede da Monarquia
novamente uma colônia. O ideal de união dos dois reinos sob o regime constitucional
começou lentamente a se arrefecer no espírito do constitucionalismo brasileiro e a
defesa da "Soberania Brasilica" entrou na ordem do dia. A campanha dos jornais contra
as medidas foi a primeira grande ação da imprensa brasileira, unindo diversas
tendências políticas 49
Ao final do ano de 1821, portanto, já estava claro para os constitucionais
brasileiros de ambas as vertentes que o intuito dos Liberais portugueses era o de
recolonizar o Brasil. Na imprensa, muitos jornais passaram a falar abertamente na
necessidade da formação de um corpo legislativo Brasileiro essencial a "um povo [...] __________ 48 Revérbero Constitucional Fluninense. 30 de julho de 1822. 49 LUSTOSA, Isabel. Insultos Impressos. A Guerra dos Jornalistas na Independência (1821-1823). São Paulo: Cia das Letras, 2000.
131
[que] vio subitamente diante de si, pela revolução acontecida no estado político de
Portugal o momento de reassumir a sua soberania" 50. Ainda segundo o periódico,
Nada com mais prioridade pode representar a sociedade, ou hum povo, e nação do que huma Assembléia, ou ajuntamento (...), e escolha desses mesmos, que tem cada hum o seu Direito representativo, de que se forma a Summa Soberania: esta idéia é obvia, e tão reconhecida nas Idades mais remotas, que se olharmos para os livros históricos de Moises ou Poéticos de Homero observamos hum Colégio, ou só, ou a par, dos Chefes do Povo.51
As cortes também haviam criado em cada província do Império juntas
provisórias de governo ligadas diretamente às Cortes de Lisboa, com força militar e
governadores de armas independentes. Diante da criação das juntas por todo o país,
lideranças liberais do Rio de Janeiro sentiram a necessidade de fortalecer a frágil união
do país, ameaçada pela fragmentação. O Senado da Câmara do Rio de Janeiro em 8 de
fevereiro de 1822 aprovou então um projeto de José Clemente Pereira para que fosse
pedido ao Príncipe Regente que criasse um Conselho de Procuradores de Província
sediado no Rio de Janeiro, o que foi feito no em decreto no dia 16.52 A esta altura dos
acontecimentos, diante das investidas das cortes no sentido de fazer retroceder o Brasil
ao status de colônia, a idéia de independência já começava a aparecer na imprensa,
notadamente no Revérbero Constitucional Fluminense, sobrepujando a cada dia a antiga
idéia de um império luso-brasileiro unido num mesmo sistema constitucional.
A primeira representação nacional tomou forma com o decreto de 16 de
fevereiro de 1822 assinado pelo Regente D. Pedro, que havia se recusado a voltar para
Portugal, como queriam as cortes portuguesas. Era um "conselho de procuradores" que
seria presidido e convocado pelo regente. Segundo José Bonifácio, articulador de sua
criação junto ao príncipe, tratava-se, de um “conselho de estado, que servissem de
mediadores entre o povo e o soberano, até que o Brasil, livre de inimigos e facções,
pudesse constituir-se sem baionetas” 53. Era a idéia tradicional de representação,
__________ 50 O Macaco 4 de Maio de 1822 51 O Macaco n. 7. 1822 52 As propostas de uma representação política no Brasil não significavam necessariamente o desejo de ruptura. A nação portuguesa, na visão dos vintistas, era composta, não de um povo apenas, mas de “povos” ligados entre si, mas com um grau considerável de independência e de direitos políticos. Trata-se de uma concepção tradicional da cultura política portuguesa, que, como vimos no primeiro capítulo, via o poder político como algo essencialmente repartido entre “povos”. As atitudes das cortes no sentido de trazer o Brasil de volta ao estatuto colonial eram vistas como uma volta ao despotismo. Frente a elas, os “povos” teriam o direito de se tomar para si o seu destino político, mas sem necessariamente romper com o sentimento de ser um português. 53 SILVA, José Bonifácio Andrada apud Silva. 1988. p 121
132
consultiva e não deliberativa, que tinha adeptos no grupo mais conservador do
constitucionalismo brasileiro. Aqui a soberania do povo e sua forma representativa não
era total, mas partilhada e, sobretudo, controlada pelo poder monárquico. O Conselho ia
de encontro à idéia inicial dos formuladores do pedido como José Clemente Pereira e
Joaquim Gonçalves Ledo, partidários de outra visão da soberania do povo, que
reivindicava uma “junta de representantes do povo”, sem a participação e controle do
regente e com amplos poderes 54
A Malagueta, por exemplo, opôs-se energicamente à forma tomada pelo
Conselho. No decreto que o criou, D. Pedro, o jornal lembrou o que estava escrito: “E
desejando Eu para utilidade geral do Reino Unido, e particular do bom Povo do Brasil,
hier d’antemão dispondo, e arreigando o Sistemma Constitucional, que ele merece e eu
jurei dar-lhe” 55. O redator questionou a idéia de que o Conselho foi obra da boa
vontade do Príncipe e do Ministro José Bonifácio. Antes teria sido uma obrigação
fundada no Direito Natural, que daria ao povo do Brasil o direito a ter uma
representação. Além disso, protestou contra a participação dos ministros, que, como
parte do poder executivo, nada teriam a fazer num conselho daquela natureza.
Em maio, o Senado do Rio de Janeiro, por iniciativa de José Clemente Pereira e outros
membros da casa, entregou a D. Pedro o título de Defensor Perpétuo do Brasil e dias
depois uma representação pedindo a convocação de uma Assembléia Geral das
Províncias do Brasil 56, isto é, de uma Assembléia Constituinte em que o povo fosse
representado por deputados eleitos “reassumindo os seos Direitos indubitáveis por si, e
em nome das províncias colligadas” 57. A convocação da Assembléia constituiu uma
vitória dos grupos mais democráticos e republicanos do constitucionalismo sobre a
tendências monárquicas encabeçadas por Bonifácio. O grupo de Bonifácio foi obrigado
a aceitá-la, embora tenha resistido o quanto pode.
Como pudemos perceber, o caráter que teria este conselho punha em desacordo
os dois grandes grupos que compunham as elites cariocas no momento. Para o grupo
__________ 54 Ibidem. 55 A Malagueta. 19 de Fevereiro de 1822. 56 Representação do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, pedido a convocação de uma Assembléia Geral das Províncias do Brasil (Rio de Janeiro, 23 de maio de 1822). In. DOCUMENTOS para a história da independência. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. 57 Representação do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, pedindo a convocação de uma assembléia Geral das Provincias do Brasil.23 de Maio de 1822. In. DOCUMENTOS para a História da Independência. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional.
133
liderado por José Bonifácio de Andrada e Silva, este não passaria de um “conselho de
estado” para mediar a relação entre o povo e o soberano. Era a visão do movimento
constitucional brasileiro, que procurava compatibilizar a preponderância do poder
monárquico e o antigo regime com as mudanças em curso: a representação parlamentar,
a constituição e a soberania do povo. Já para o grupo de José Clemente Pereira, o
conselho era mais do que um mediador, mas um verdadeiro corpo de representantes do
povo. O primeiro era influenciado pela constituição Espanhola, aceito pelas cortes de
Lisboa; já o segundo seguia o modelo da carta constitucional francesa de 1814. Como
salientou Maria Beatriz Nizza da Silva, a diferença de vocabulário entre a carta do
senado da câmara do Rio de 8 de fevereiro pedindo a convocação e o decreto do dia 16
através do qual D. Pedro criou o conselho expressou muito bem a diferença de
concepção dos dois grupos a respeito do que significava a participação política do povo.
Enquanto a carta do senado falava em “junta” e “representantes”, sem mencionar a
participação do regente, o decreto real se referia a “conselho” e “procuradores”,
remetendo diretamente à tradicional relação do rei com as câmaras municipais e ao
caráter puramente consultivo e não deliberativo 58. As palavras de D. Pedro no decreto
foram claras quanto ao que entendia como atribuição do conselho, sendo a primeira
delas “aconselhar-me todas as vezes que por mim for mandado em todos os negócios
mais importantes e difíceis” 59.
As relações entre o Brasil e as Cortes se tornavam a cada dia mais tensas. Em
agosto, D. Pedro declarou inimiga qualquer força armada que viesse de Portugal e se
recusasse a regressar imediatamente. Era um passo para a Proclamação da
Independência.
3.4.3 A aclamação do povo-vassalo
Assim como D João VI fora aclamado no Paço Imperial em 1816, logo após o
Brasil ter sido elevado à categoria de “reino unido”, D. Pedro foi aclamado quando se
tornou “Príncipe Regente e Defensor Perpétuo do Brasil”, e mais tarde, quando se
tornou imperador. As aclamações foram realizadas na tradição política portuguesa, com
__________ 58 DOCUMENTOS para a História da Independência. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. 59 DIÁRIO constitucional, n. 35 de 1º de Abril de 1822. Apud. SILVA. 1988. Op. Cit p. 103.
134
festejos em praça pública, coordenados pelas câmaras municipais, sob a supervisão
direta e cuidadosa de José Bonifácio. As câmaras eram o local por excelência em que se
dava o pacto entre povos e rei 60 na história portuguesa. Tratava-se de um momento
simbólico em que o pacto entre o rei e seus povos era revalidado e reatualizado 61, em
que era assegurado perante o corpo social que o rei iria continuar o exercício da justiça e
a manutenção de equilíbrios sociais fixados e aceites. Havia uma escolha divina e uma
continuidade de uma dinastia, mas estas eram efetivadas porque o povo assim o
desejava. Logo depois, a notícia era dada às outras cidades e vilas para que fosse feita
também a grande festa da aclamação. A preocupação da elite política com relação aos
rituais se explica pelo escopo de ligar os eventos em curso à perspectiva monárquica,
unindo indissociavelmente povo e Imperador, impedindo a proliferação do
republicanismo, da desordem social e das reivindicações democráticas.
O conjunto do corpo político que fez as aclamações se apresentou como os
“vassalos” leais, com 62 o nos revelou esta carta da Vila de Alagoas:
Senhor – Penetrados do mais sério transporte de alegria, de gosto e consolação, o vigário da Vila Capital das Alagoas Antônio Gomes Coelho, e os mais párocos e clero secular e regular daquela Província, vem prostrar-se rendidamente nos degraus do Trono de Vossa Alteza, e dar parte que o efeito de sua obediência, amor e adesão à Real Pessoa de Vossa Alteza, de comum acordo com o governo, tropa, comarca, nobreza, e mais povo daquela Província, cabam de aclamar Regente protetor Constitucional e Perpétuo defensor deste Reino do Brasil a Vossa Alteza Real, como já tem feito outras províncias deste Reino, a quem esta não cede na sua fidelidade, certos que tal procedimento não desagrada de modo algum a sua majestade nem às Cortes reunidas em Lisboa. Queira, pois, Vossa Alteza dignar-se de aceitar estas firmes e sinceras demonstrações do filial amor com que juram ser eternamente de Vossa Alteza Real fidelíssimos vassalos. 63
Em documentos enviados ao Rio de Janeiro, em que tais eventos eram descritos
ao Imperador, o povo ou os povos eram o conjunto de súditos ou vassalos leais. Em
Olinda, a câmara remeteu ao novo Imperador os “antigos votos de fidelidade,
vassalagem e contentamento, de todo o povo desta cidade, Capital da Capitania de
Pernambuco.” 64. Em Alagoas, houve “onze dias de iluminação geral, e festins, em que
__________ 60 SOUZA, Iara Lis Carvalho. SOUZA, Iara Lis Carvalho. Pátria Coroada. O Brasil como Corpo Político Autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1999.p 148. 61 Ver. SCHIAVINATTO. Cultura Política do Primeiro Liberalismo Constitucional. A adesão das câmaras no processo de autonomização do Brasil. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofia, Politica y Humanidades. No 18, ago/dez 2007, p.220-235, 2007. 62 AS CÂMARAS Municipais e a Independência. 1973. Op. Cit. p 76 63 DOCUMENTOS para a História da Independência, IHGB, Alagoas, 1972. 64 AS CÂMARAS Municipais e a Independência, 1971. Op. Cit. p106
135
o povo, com porfia bem manifestava sua congratulação”65. O Senado declarou em nome
dos habitantes da vila que tinha a honra de, como “humilíssimos e sempre leais súditos”
ir
beijar as Reais Mãos de V. M. Imperial, dar-lhe os devidos parabéns, e garantir a sua eterna submissão, respeito, e filial amor ao melhor dos Soberanos e debaixo do auspício de V.M Imperial, de quem desejamos ser imitadores, protestamos que o nosso brasão é – Independência ou Morte. 66
Uma carta vinda da junta provisória em Salvador afirmava o desejo do “heróico
povo” “animado dos mais nobres sentimentos e cheio do mais patriótico entusiasmo”67,
de aclamar Sua Alteza Real quando foram divulgadas pela imprensa as notícias da
aclamação no Rio de Janeiro. Porém, segundo o documento, o povo havia sido
impedido por “intrigas particulares” de aclamar o Imperador.
Os usos do termo povo nas festas de aclamação revelam a força da tradição do
Antigo Regime nos primórdios do Brasil Constitucional. A proeminência das câmaras
municipais na aclamação nos indicam de que povo se tratava neste momento. Não era o
povo livremente reunido em praça pública, tais como nos eventos ocorridos na Praça do
Comércio em abril de 1821. Tratava-se de um povo organizado e disciplinado, de
acordo com antigas tradições, realizando o pacto com seu monarca. O fato de serem as
câmaras a organizar o povo nesta ocasião definia qual o povo considerado apto a
participar do novo pacto, tornando ilegítima qualquer outra forma de manifestação e
participação, definida doravante como desordem 68.
Essa concepção sobre o povo e sua relação com o monarca revelada nas práticas
dos rituais de aclamação, para além de constituir uma tradição arraigada no mundo luso-
brasileiro, foi promovido pelos que controlaram o processo de emancipação política e
formação do primeiro governo. Os rituais no Rio de Janeiro foram organizados com o
intuito claro de consolidar uma determinada visão monárquica e rechaçar visões de viés
liberal radical e republicanas.
3.4.4 Alguns debates na Assembléia Constituinte de 1823. __________ 65 Ibidem. p.76 66 Ibidem. p.76 67 Ibidem. p.127 68 SOUZA. Iara Lis C. Op. Cit. p. 183
136
3.4.4.1 O debate sobre a sanção real
O problema da necessidade da sanção real aos decretos, leis e regulamentos
administrativoss antes de concluído o texto constitucional, gerou uma discussão sobre a
própria natureza do regime, opondo concepções divergentes na Assembléia Constituinte
de 1823. O projeto da Comissão de Constituição sobre o modo de promulgar leis havia
incluído um artigo que dizia que “Os decretos da presente Assembléia serão
promulgados sem preceder sanção”. O deputado Carneiro de Campos foi uma das vozes
mais contundentes na Assembléia ao se opor ao artigo, sob o argumento de que isso
seria o mesmo que despojar o Imperador de um direito essencial e inseparável do caráter
sagrado da monarquia. Para o deputado, quando o pacto social no Brasil foi firmado
com a Independência, não éramos selvagens, mas, ao contrário, já éramos uma nação
soberana que já havia escolhido, por consentimento tácito, sua forma de governo: a
monarquia hereditária. Muito antes da reunião da Assembléia, no ato de aclamação de
D. Pedro, o povo havia escolhido o sistema monárquico constitucional e representativo.
Essas bases, portanto, não poderiam ser alteradas pela Assembléia. 69
Retirar o poder de sanção do rei a qualquer tipo de lei criada pela assembléia
seria, portanto ferir o pacto inicial entre o povo-nação e o rei no ato de aclamação,
momento fundador do Brasil independente, em que o povo escolheu seu sistema político
e seu imperador. A monarquia supunha que o Imperador tivesse autoridade para
contrabalançar as resoluções do poder legislativo, que o “chefe da nação tenha uma
influencia igual na organização das leis”, sendo o “augusto defensor da nação, sua
primeira autoridade vigilante, (...) guarda dos nossos direitos e da Constituição” 70.
Citando Benjamin Constant, qualificou este poder do Imperador de “poder neutro”ou
“moderador”. Este poder é tido como superior a todos os interesses particulares, tendo
apenas um único fim: manter a constituição e o bem da nação. Portanto, é uma garantia
da nação, um “protetor dos povos”.
Outra postura, desta vez a favor do artigo, surgiu na fala do deputado Henrique
de Rezende. Contrário ao principio monárquico garantidor dos direitos do monarca, __________ 69 Diários da Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil (1823). Seção de 26 de Junho. Portal da Câmara dos Deputados. 70 Ibidem. p. 300
137
argumentou que as leis da assembléia não poderiam sofrer sanção Real, pois a
assembléia é quem deve ter o poder de delimitar os limites dos poderes, “as regras de
conduta dos poderes constitucionais e a parte que o chefe da nação deve ter na factura
das leis” 71. Logo, a Assembléia possui poderes ilimitados, não agindo de acordo com
tradições, pactos anteriores entre o monarca e os povos. Não havia, portanto, direitos e
dignidades prévias que a assembléia deveria acatar, de modo que tudo procedia
unicamente do “interesse dos povos e da conveniência que eles acham em taes e taes
instituições” 72. Na visão do deputado, os povos haviam conferido à Assembléia plenos
poderes, que não estavam sujeitos a nenhuma força superior ou tradicional. Além disso,
procurou desmistificar a figura real, argumentado que tratava-se de um homem como
todos os outros, com paixões e interesses, refutando o argumento de sua distinção como
“ente metafísico” frente à uma sociedade corrompida tendente à desordem e à
arbitrariedade.
Nestas duas posturas, vemos refletidas na prática política elementos importantes
das duas tendências básicas do constitucionalismo brasileiro: uma que via o monarca
como um ser especial, ornado de distinção frente à sociedade, capaz, portanto de ser o
primeiro representante. O povo era, por conseqüência, essencialmente, e
tradicionalmente, ligado à figura real, protegido e tutelado por ela. Em relação à
Assembléia, o corpo de representantes da nação, o rei deveria ter um poder superior,
capaz de coibir seus excessos. Como defensor do povo, o rei tinha o dever de evitar que
o mando e o interesse particular dos elementos da assembléia se sobrepujassem aos
interesses gerais. Noutra vertente, o povo era representado unicamente pela Assembléia,
que deveria ter poderes ilimitados. As tradições não deveriam ditar a organização das
instituições, mas apenas a razão política, que ditava que apenas o povo era soberano, a
força única e exclusiva capaz de guiar seu próprio destino.
3.4.4.2 O debate sobre o poder provincial
Nos primeiros debates da Assembléia Constituinte instaurada em 1823, o povo
foi elemento-chave no debate a respeito de qual seria o sistema de organização do poder
__________ 71 Ibidem. p. 302 72 Ibidem.
138
político provincial. A discussão em torno de projeto de lei que pretendia abolir as juntas
de governo eletivas constituídas por decreto em 29 de setembro de 1821 nas Cortes de
Lisboa e substituí-las por uma administração escolhida pelo Rio de Janeiro, o conceito
de povo apresentou usos em conflito. Fazendo um esforço de abstração da
complexidade do debate, podemos extrair duas linhas de argumentação. Para um grupo
minoritário, as juntas deveriam ser mantidas, por ser expressão legítima da vontade do
povo. Neste caso, o conceito de povo apareceu com o significado de uma potência de
ação política legitima. Para a grande maioria dos deputados, as juntas deveriam ser
suprimidas, para alguns imediatamente, e para outros, posteriormente, quando
Assembléia Constituinte já estivesse com seus trabalhos mais avançados. Para estes
últimos, em regra, a argumentação se baseou em análises e diagnósticos a respeito do
“estado de civilização” e “luzes” do povo, que indicavam sua incapacidade como agente
político.
Para homens como Muniz Tavares e José Bonifácio, mais identificados com os
princípios monárquicos de governo e administração, o governo de uma província em
nada se relacionava com a idéia de soberania dos povos. Era nada mais que uma
delegação do poder real. A idéia de um governo local composto por uma junta
deliberativa com amplos poderes nada mais poderia significar do que a desordem, pois,
o povo “é sempre falto de luzes” e será manipulado pelos interesses particulare e iludido
pelos demagogos. Um governo escolhido pelo Imperador era visto, além disso, como
mais ágil e eficiente, pois concentraria em um centro de poder todas as decisões. A idéia
de “soberania do povo” que vinha à par da existência das juntas era considerada
preocupante. Vale lembrar que muitas destas juntas foram formadas espontaneamente,
mesmo antes do decreto das Cortes determinando sua instalação. Eram vistas, portanto,
como algo que emanava diretamente das forças pertencentes ao povo, isto e, uma
criação direta e afirmativa deste, sem a mediação das elites dirigentes do Rio de Janeiro
e do poder monárquico. Mesmo muitos deputados que defendiam a demora nas
mudanças, o faziam, não por reconhecer qualquer legitimidade àquelas juntas, mas pelo
receio de que os povos se revoltassem contra as ordens vindas do Rio de Janeiro
determinando seu fechamento, uma vez que a Assembléia ainda não teria a necessária
força moral frente as diversas partes do Império. Preponderava na Assembléia a adesão
a um princípio monárquico que entendia os povos apenas como uma entidade existente
139
ao lado do rei. Em outros termos, os povos não eram vistos como uma força autônoma
de ação na sociedade, capazes de tomar para si seus destinos.
Nesta vertente, o poder político e administrativo não podia por princípio ser
entregue a muitos, mas apenas a um só, pois exigia celeridade e agilidade, não podendo
depender de deliberações prolongadas. A administração e o governo, para estes homens
eram uma delegação do poder real e deviam ser exercidas por uma pessoa em nome da
Majestade. O povo era visto como um elemento essencialmente problemático e incapaz
de exercer por si mesmo um papel de destaque. Muniz Tavares se mostrou a favor da
revogação imediata do decreto das Cortes que havia criado as juntas provisórias. O fato
de seus membros serem eleitos pelo povo lhe pareceu um grave problema, pois “o povo
(...) sempre desejoso do bem, quase sempre infelizmente iludido, quando se lhe confia a
escolha dos seus governantes, de ordinário escolhe homens ou ignorantes ou
nimiamente ambiciosos (...)”73. Além de escolher mal seus representantes, para o
deputado, o povo, quando adquire tais poderes, acredita que assim como pode eleger,
pode depor quando não estiver satisfeito, o que teria gerado a anarquia e o
aniquilamento da ordem social nas diversas províncias do país.
O estado de “anarquia” das províncias exigia mudanças rápidas e imediatas, que
seriam, segundo José Bonifácio, um desejo dos próprios “povos que em muitas
províncias tem pedido que lhes tirem aquelles governos [as juntas]. E se elles são os
mesmos que os não querem, como se temem revoltas quando se lhes faz o que tem
requerido uma e muitas vezes?” 74. Andrada Machado também refutou a idéia de que o
povo preza a forma de governo das juntas e de que por isso elas deveriam ser mantidas.
Mesmo se houvesse tal apoio, isso não seria um motivo legítimo para sua manutenção,
uma vez que O povo em regra não conhece a causa do mal; e muitas tentativas são precisas para que elle por fim acerte com o remédio verdadeiro (...). Esta causa era a policephalia do governo; mas a tanto não chegava a discernimento popular. A nós que compete fazer o que o povo não fez por não saber75
Embora não se opusessem ao fim das juntas, acreditando também, no principio
de que o “movimento do corpo político deve ser rápido e vigoroso”, como bem
__________ 73 DIÁRIOS da Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil (1823). Seção de 26 de Junho. Portal da Câmara dos Deputados. p 120. 74 DIÁRIOS da Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil (1823) IHGB. p 127. 75 Ibidem. p 54.
140
expressou Henrique de Resende, um numeroso grupo de deputados argumentou que não
era hora de fazer tais mudanças, pois seria “extemporâneo e até perigoso, attendidas as
desconfianças em que se acham as províncias a respeito da marcha dos negócios do Rio
de Janeiro” 76. Os “partidos” existentes nas províncias iriam necessariamente contra as
reformas pretendidas, logo era preciso esperar até que os povos estivessem mais
acostumados às novas instituições e a assembléia tivesse adquirido mais força na
opinião pública. A reforma imediata, portanto, poderia trazer mais “anarquia”, pois os
povos poderiam se revoltar.
Carneiro de campos apontou que o maior problema que afligia as províncias não
eram propriamente as juntas provisórias, mas a transformação abrupta de um governo
arbitrário para o livre, o que teria feito com que o povo confundisse o significado da
palavra liberdade, e concebesse erroneamente que todas as cidades e vilas poderiam
exercitar a soberania. O problema fundamental para o deputado era o caráter geral dos
povos, de onde nascem todos os males, o fato de “que o povo que é sempre falto de
luzes, vai na boa fé do que lhe pregão os mal intencionados que o descaminha para seus
fins particulares”.77
Após calorosos debates, aprovou-se que o projeto fosse para a segunda
discussão, que cuidaria dos artigos específicos. Nesta segunda etapa, surgiram opiniões
mais claramente favoráveis à existência das juntas consideradas como instituições
garantidoras da liberdade e soberania dos povos. Para estes deputados, as juntas não
eram apenas uma instituição a ser substituída, mas uma emanação da vontade legítima e
direta do povo. Como argumentou um deputado, foram uma instituição que os “povos
esposaram”, uma “obra do povo”, e que portanto merecia respeito. Era uma visão que
diversa em que o povo tinha aqui uma existência e potencia autônomas, fonte de todo
poder político. Nesta construção, o nível de luzes ou de civilização associado
normalmente ao uso do conceito é deixado de lado. Na defesa dessas idéias, o deputado
Xavier de Carvalho declarou:
Não sou nem serei nunca do parecer de que desde já se declarem abolidas as juntas de governos; é uma instituição que os povos esposarão, que receberão com gosto, e que tanto tem respeitado que ainda na desordem tem insurgido contra algumas juntas, é para as substituírem por outras ainda temporárias, mas nunca por um só indivíduo. 78
__________ 76 Partido aqui significa grupos de interesses e não partidos formais. 77 Diários da Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil (1823). IHGB, p. 121. 78 Ibidem, p. 54
141
No mesmo espírito, Carneiro da Cunha foi contra o projeto por conhecer “os
sentimentos livres dos povos das províncias do Norte”, a quem foi seguido por Alencar
para quem se devia conservar “essas mesmas juntas que são obra do povo” e esperar a
Constituição do Império, o único remédio capaz de acabar de uma vez com as
desconfianças . 79
Para conciliar os direitos do Imperador e as “circunstancias do tempo”, que
impunham que se desse a soberania aos povos, Henriques de Rezende propôs que o
Presidente fosse nomeado pelo Imperador, mas somente entre os homens da Província
como forma de acalmar e evitar as desconfianças. Esta proposta foi amplamente
criticada com argumentos que o Imperador não devia ter o seu poder cerceado e de que
isto seria feito de qualquer jeito, pois o Imperador o faria de acordo com “a opinião
conhecida do povo”. Carneiro de Campos concordou com a idéia base do artigo, mas,
assinalou, entretanto, que “os prejuízos dos povos merecem muita contemplação em
política” e como eles não tem “luzes” para distinguir estes presidentes daqueles
governadores do período colonial, propôs que o Imperador tivesse o seu direito
mantido, mas que sua escolha fosse restrita a uma lista tríplice feita pela junta eleitoral
entre qualquer cidadão do império 80.
O debate sobre alguns artigos em particular deixam claro o temor que os
deputados sentiam pela possibilidade do povo atuar na política. Sobre a questão da
independência do poder judiciário provincial em relação à Assembléia, um deputado
opinou que era “preciso ceder um pouco do rigor dos princípios por duas razoes: para
que o governo faça [as mudanças] e não o povo; e para que o governo faça por lei e não
por arbítrio e por circunstancias” 81. Sobre o direito do Imperador de suspender os
conselheiros provinciais à sua vontade, Carneiro de Campos argumentou que embora o
conselho representasse o povo, e, portanto, somente este tivesse, em tese, o direito de
suspender um conselheiro, essa prerrogativa nunca deveria ser posta em prática, haja
visto o perigo à ordem pública que poderia causar esse excesso de poder conferido ao
povo:
__________ 79 Ibidem. p 57. 80 DIÁRIO da Assembleia Constituinte de 1823. IHGB, p. 68. 81 Ibidem. p. 201.
142
não convém que o povo use de sua autoridade, que além de promover freqüentes ajuntamentos populares, quase sempre perigosos, abriria uma porta franca a intrigas e subministraria meios bem commodos para os perturbadores dos sossego e segurança publica subverterem a boa ordem. 82
Em resumo, neste debate, do qual analisamos algumas partes mais relevantes,
para a grande maioria dos deputados, o povo possuía características constantes e
estáveis. O advérbio “sempre” aparece constantemente quando os atributos do povo são
evocados para fundamentar os argumentos quanto à mudança na organização do poder
provincial. “O povo é sempre falto de luzes”, “o povo é obediente”, “o povo não
conhece a causa do mal” são expressões que evidenciam uma apreciação estática do
fenômeno. Em outros termos, o povo era sempre o mesmo, a causa do mal é sempre
conhecida, como disse Bonifácio, logo, caberia administrar prontamente o remédio
conhecido, no caso, o fim das juntas provinciais. Tratava-se de um povo visto numa
perspectiva em grande medida ainda a-histórica, própria deste contexto. O povo das
províncias era um ente de características invariavelmente negativas, incapaz de agir
politicamente, logo, cabia ao governo do Rio de Janeiro agir para o seu bem, “dar-lhe o
pronto remédio”, a partir do reconhecimento de desta realidade.
Frente ao povo falto de luzes, o governo deveria ser compreendido como um
centro decisório centralizado na Corte e na figura real do qual irradiava o poder político
e administrativo. Neste usos do conceito, ficou clara a necessidade sentida pela maioria
dos deputados de estabelecer diagnósticos a respeito do estado “real” em que se
encontravam os povos das províncias, seu verdadeiro estado de espírito e disposição no
momento histórico em questão, o que já aponta para uma abertura histórica deste
pensamento político. Tais diagnósticos constituíam uma espécie de sociologia
embrionária que infalivelmente apontava para características estáveis e invariavelmente
negativas do povo nas províncias do Brasil. Acreditamos, porém, que o “estado”, ou as
“luzes” de que falavam os deputados ao se referir ao povo não reportavam ainda a uma
marcha temporal progressiva dirigida ao futuro, mas diziam respeito ao grau de luzes,
no sentido do afastamento ou proximidade dos princípios da racionalidade presentes em
todos os homens. Neste momento, a historicidade apenas começava a ser inserida no
conceito de modo que predominava nestes debates um conceito de povo em grande
medida ainda estável. __________ 82 Ibidem. p. 207.
143
3.4.4.3 Mudar as circunstâncias, mudar o povo: os projetos de José
Bonifácio.
É bastante reconhecida a atuação de José Bonifácio de Andrada e Silva durante o
movimento constitucional. Na década de 1820 atuou como conselheiro de D. João. Em
1821 foi vice-presidente da junta de São Paulo, quando formulou aas principais
diretrizes seguidas pelos deputados brasileiros nas cortes portuguesas. Mais tarde, em
1822, foi nomeado por D. Pedro Ministro do Reino, atuando fortemente nos primeiros
tempos do governo independente. Para nossos propósitos, nos interessa destacar nos
principais escritos de Bonifácio ao longo destes anos, uma determinada construção do
povo, realizada nos padrões herdados da ilustração portuguesa. Suas concepções
transpuseram a dimensão política apresentada pelo vintismo português e brasileiro,
assim como aquela revelada pelos políticos mais próximos a Bonifácio, como Silvestre
Pinheiro Ferreira, ao vislumbrar a transformação da “população” brasileira num
verdadeiro povo de cidadãos unido e coeso através de reformas na estrutura econômica
e social. Bonifácio levou às últimas conseqüências os preceitos do reformismo ilustrado
lusitano e do liberalismo da restauração, para o qual a dimensão política deveria estar
fundada na realidade e não nos princípios metafísicos, logo, supunha que para que a
soberania do povo pudesse se tornar uma realidade no futuro, era preciso, em primeiro
lugar aperfeiçoar este povo composto de índios, brancos e negros escravizados.
Aperfeiçoar significava civilizar, o que, naquele momento denotava fazer aflorar nos
homens os princípios universais da natureza humana até então adormecidos e inertes.
Ainda como vice-presidente da junta de São Paulo, ao formular as diretrizes a
serem seguidas pelos deputados daquelas províncias nas Cortes de Lisboa, Bonifácio já
deixou claro a visão que tinha do que era um povo. Nas “Lembranças e apontamentos
do governo provisório para os senhores deputados da província de São Paulo” de 10 de
outubro de 1821, pediu que os deputados atuassem a favor de “providências para a
prosperidade e conservação do Reino do Brasil”. Isso incluía a catequização geral dos
índios bravos, o melhoramento da sorte dos escravos, favorecendo sua emancipação
gradual e sua “conversão de homens imorais e brutos em cidadãos ativos e virtuosos”.
Além disso, para que o êxito do governo constitucional e a prosperidade da nação,
144
julgava imprescindível a “instrução e moralidade do povo” 83 com a disseminação de
escolas e universidades.
Mais tarde, essas idéias foram reafirmadas e melhor elaboradas por ocasião da
Assembléia Constituinte convocada em 1822 e instalada em 1823. Nas “memórias”
oferecida em junho à Assembléia, Bonifácio tratou detalhadamente da civilização dos
índios. Como era usual naquele momento, o autor diagnosticou o “estado selvático” dos
índios, decorrente de uma razão humana ainda sem exercício e apuração. Porém,
apostou que com o tratamento correto, estes homens poderiam, pela “perfectibilidade”
se converter de bárbaros em homens civilizados e assim, participar do povo brasileiro,
pois “mudadas as circunstâncias, mudam-se os costumes”84. Entre as medidas,
Bonifácio propôs o, aldeamento, o favorecimento e desenvolvimento à inclusão
econômica através do fomento à industria e comércio e a educação cristã. O
favorecimento do matrimonio entre índios e brancos, e mulatos era um item do projeto
bastante radical, pois inaugurou uma determinada visão sobre uma sociedade brasileira
multirracial que percorreu um longo percurso no pensamento social e no senso comum
brasileiros.
Em outra representação que não chegou a ser apresentada, uma vez que a
Assembléia fora fechada, Bonifácio propôs a progressiva emancipação dos cativos
como um dos acabamentos necessários da própria regeneração política no Brasil. Para
Bonifácio a independência não fora o bastante, pois “como poderá haver uma
constituição liberal e duradoura em um pais continuamente habitado por uma multidão
imensa de escravos brutais e inimigos?” 85 O fim da escravidão era tido como o
complemento fundamental da emancipação política, pois necessário à formação da base
principal de qualquer ordenamento político: o povo.
Para Bonifácio, o despotismo colonial havia feito dos brasileiros um “povo
mesclado e heterogêneo, sem racionalidade e sem irmandade”, sobretudo pelos efeitos
da escravidão. Numa assembléia de donos de escravos, Bonifácio propôs o fim
progressivo do trafico e da e a escravidão “para que venhamos a formar em poucas
__________ 83 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Lembranças e apontamentos do governo provisório para os senhores deputados da província de São Paulo. In. Projetos para o Brasil. São Paulo, Cia das Letras/Publifolha, 2000. 84 Idem. Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil. In. Projetos para o Brasil. São Paulo, Cia das Letras/Publifolha, 2000. p.49. 85 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. “Representação à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura”. In. Projetos para o Brasil. São Paulo, Cia das Letras/Publifolha, 2000. p.49.
145
gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres,
respeitáveis e felizes” 86. A escravidão era vista como uma doença, um vírus que
infectou e corrompeu os costumes e instituições mais fundamentais do país, impedindo
o desenvolvimento da moralidade e a justiça social, corrompendo a família, a religião,
as relações sociais. Trouxe o amor ao luxo, ao ganho fácil e o horror ao trabalho manual
por parte dos brancos. Além disso, causou a estagnação econômica, impediu o
florescimento da indústria, e conteve o aumento da população. Como solução para todos
os males, Bonifácio propôs que se tratasse a raça africana com maior cristandade,
promovendo sua “civilização”, mesmo ainda no cativeiro, através da educação e de um
tratamento digno. Ao o mesmo tempo, se deveria cuidar já de sua emancipação gradual.
O objetivo almejado por Bonifácio era converter os escravos um dia em “cidadãos úteis,
ativos e morigerados”, isto é, parte do povo brasileiro.
Como na ciência química, em que era especialista por formação, Bonifácio
pretendeu nos seus discursos propor formulas capazes de realizar homogeneização da
população brasileira. Como observou Valdei Lopes Araujo, para Bonifacio e outros
intelectuais e políticos em países recém independentes nos primórdios do século XIX, a
composição de sociedades “civilizadas” como as do velho mundo dependia apenas da
razão política. Uma vez que a razão humana estava contida em todos os homens, a
civilização era possível. A civilização, neste caso, era entendida como um processo de
perfectibilidade de que todos os homens seriam capazes, dada a universalidade racional
de sua natureza. O conceito de civilização ainda não tinha adquirido peso histórico que
adquiriu mais tarde, especialmente a partir da década de 1830.87
Logo, os negros escravizados e indígenas eram vistos como seres racionais,
embora sua razão estivesse latente e não utilizada, sendo, portanto passiveis de serem
aperfeiçoados e integrados ao povo, através de mecanismos como o da miscigenação, a
inclusão econômica e a educação. Eram passíveis de formar a base humana de um povo
plenamente constituído. Portanto, o povo era aqui um conceito que significava um
conjunto de homens racionais, portadores de uma natureza universal e direitos naturais,
unidos sob um mesmo sistema político, mesmas leis e mesmo território. Um povo-
nação ainda sem a historicidade que teria mais tarde. __________ 86 Ibidem. p. 24. 87 ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo. Conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008.
146
O conceito de povo de Bonifácio, que certamente era partilhado por outros
políticos e estadistas do período foi uma reatualização da herança ilustrada portuguesa,
agora reforçada por elementos do liberalismo doutrinário do século XIX, que como
vimos tendia a perceber o povo como “população” passível de intervenção por parte da
razão política de governo, um conjunto de homens a ser organizado, disciplinado e
reformado pela ciência da política. Tal ciência seria responsável pelo diagnostico do
estado do povo e das reformas a serem adotadas, assim como o sistema político mais
apropriado a ele. Munido dessa crença na racionalidade política que rege uma
população politicamente passiva, Bonifácio pôde pensar reformas radicais como as que
analisamos acima, onde interesses diversos e poderosos seriam confrontados. A
população era um objeto da ação política e não um sujeito. Cabia ao estado reconhecer e
defender os direitos naturais, que não se traduziam necessariamente na liberdade de
participação política, mas sim em liberdades civis, que o estado tinha o dever de
promover. No Brasil, essa concepção implicava a resolução especialmente da
escravidão, o principal obstáculo às liberdades civis do povo brasileiro.
3.5 Considerações finais
O processo de independência política foi remodelado em torno de um conceito
político de povo em grande medida ainda a-histórico. Os direitos naturais, a natureza
humana racional e a concepção do contrato social eram o pano de fundo semântico do
uso do conceito. A idéia de “regeneração” aglutinou este significado básico: o
constitucionalismo vintista fora uma forma de promover o retorno do povo à sua
verdadeira natureza, fazendo coincidir a realidade política com os direitos naturais.
Tratava-se de uma marcha do gênero humano para a “época de sua civilização”,
processo em que “a luz da Razão veio com tudo a pezar da força dos prejuízos
desvanescer as sombras do engano e da ilusão, e fez triunphar plenamente a verdade,
que jazia desconhecida”88.
Entretanto, podemos perceber o confronto entre duas vertentes: a primeira
defendia um tipo de entendimento da política de viés mais “democrático”, isto é com __________ 88 DIÁLOGO entre a Constituição e o Despotismo. Rio de janeiro: Imprensa Nacional, 1821. p. 4.
147
participação mais ampla e direta do povo. O povo era entendido como um conjunto de
indivíduos com direitos naturais que se traduziriam em instituições: uma Assembléia
Constituinte e legislativa que consubstanciaria o contrato oriundo da escolha livre dos
indivíduos, isto é, do povo. Este era concebido como entidade autônoma em relação ao
rei, a fonte única da soberania. Era a república clássica o grande modelo, vista como
tempo e lugar em que os direitos do homem foram respeitados. Tratava-se de um
conceito essencialmente abstrato, em que as determinações históricas e sociológicas
tinham pouca relevância na formação de seu significado. É claro que este conceito,
embora de caráter teórico e abstrato, não abrangia toda a população porque existiam
aqueles indivíduos que não eram considerados aptos a participar do sistema político,
como bem nos mostrou o episódio na Praça do Comércio nos inícios de 1821.
Outra vertente era identificada com homens de estado como José Bonifácio. Seu
modelo era a Carta Constitucional Francesa de 1814 e os princípios da monarquia
constitucional formulados por Benjamin Constant. O povo não era o único titular da
soberania, que a partilhava com o monarca constitucional. Em outras palavras, o corpo
soberano era formado por dois elementos: rei e povo-nação, este último representado
em Assembléia. O contrato, portanto, se dava primordialmente entre o povo e o rei e
não no interior do próprio povo. Embora não fosse um modelo despótico, pois havia
uma constituição a ser seguida, o povo e a assembléia tinham força mais restrita e o rei
tinha poderes legislativos e não apenas executivos. O conceito era visto como
inextricavelmente ligado à figura real, isto é, sem uma existência autônoma na vida
política. Embora a concepção de soberania dos povos fosse presente, persistia a idéia
em muitos círculos políticos de que o fenômeno da soberania se dava na tradicional e
balizada relação entre povos e rei, o que nos ajuda a entender a vinculação do
movimento constitucional à figura de D. Pedro e vitória da solução monárquica no
Brasil independente. O povo deveria ser afastado da política direta e sua atuação deveria
se dar através do Imperador, seu principal representante e defensor. Povo e Monarca
continuariam em perpétua comunhão e harmonia, num pacto firme e silencioso, como
na tradição portuguesa, agora revigorada pelas teorias européias da monarquia
constitucional.
Esta vertente, que se vincula diretamente ao reformismo ilustrado cientificista
português viu o povo do ponto de vista cientifico e sociológico, ligado a contingência da
148
situação histórica, de seu grau de luzes, procurando desvinculá-lo do viés revolucionário
e republicano. O grau de luzes ou civilização era aqui entendido não exatamente como
um estágio no tempo, muito embora essa dimensão estivesse presente, mas como o grau
de aproximação ou afastamento em relação aos princípios eternos da natureza do
homem.
149
CAPÍTULO 4
REVOLUÇÃO, REGRESSO E HISTORICIZAÇÃO DA LINGUAGEM
POLÍTICA: O PERÍODO REGENCIAL (1831-1840)
4.1 A crise do primeiro reinado: a eclosão do conceito de povo na luta contra o
despotismo
Neste capítulo, trataremos dos usos do conceito político de povo no período
regencial. Trata-se de uma década de grande importância na formação e consolidação
do Estado Nacional Brasileiro e na reformulação da dinâmica do conflito e linguagem
políticos. Foi um momento de acirramento da luta política com a contestação do projeto
monárquico vitorioso após a outorga da Carta de 1824; momento de grande perigo de
quebra da ordem por rebeliões escravas, populares e de elites locais; foi o momento de
forja das bases políticas e ideológicas que sustentaram o Império Brasileiro. Neste
ínterim, como veremos, a linguagem política sofreu uma intensa reformulação em meio
ao contexto político e social conflituoso, processo que teve como uma das marcas a
historicização ou aceleração do tempo.
Com o fechamento da Assembléia Constituinte de 1823, a outorga da Carta em
1824 e a perseguição a políticos e publicistas considerados opositores ao governo de D.
Pedro, arrefeceu-se a nova vitalidade do espaço publico de debates e a onda de
politização1 do conceito de povo do início dos anos 1820. Com a reabertura da câmara
em 1826, diversos grupos políticos saíram da obscuridade e passaram a expressar no
espaço público seus anseios sociais e políticos antes reprimidos com o fechamento do
regime. Tal movimento pôs novamente o conceito de povo na ordem do dia no novo
contexto de posição à tirania ou despotismo que levou à abdicação do Imperador na
revolução do Sete de Abril de 1831. No final dos anos 1820 e início dos anos 1830, uma
nova onda de publicações de jornais e panfletos fermentaram o debate político em
__________ 1 Entendemos o fenômeno da “politização” tal como o historiador Reinhart Koselleck, como o incremento da importância da controvérsia política na semântica dos conceitos.
150
diversos pontos do país. Ao mesmo tempo nestes anos, pulularam movimentos diversos,
motins e revoltas nas ruas em que o povo miúdo apareceu enfaticamente.
O amplo descontentamento que levou à revolução da Abdicação era entretanto
pouco coeso no que diz respeito aos atores, formas de conceber a política e a sociedade,
haja visto a profunda diversidade e hierarquização social, política e étnica que
caracterizava a sociedade imperial. Por um lado, havia uma massa populacional pobre
formada em sua maioria por libertos e mestiços que vivia em acentuada pobreza
notadamente na segunda metade dos anos 1820, quando houve um forte aumento nos
preços dos víveres e a desvalorização da moeda local 2. A esta população livre e pobre
se somavam os escravos de ganho que circulavam pelas ruas da Corte em seus diversos
ofícios e atividades. Tal população trouxe sempre preocupações para as autoridades,
que, através da Intendência de Polícia e legislação punitiva e coercitiva – com rondas
noturnas e revistas – procurava manter com dificuldades a ordem nas ruas.
O clima era tenso nas ruas no final dos anos 1820. A população pobre culpava,
sobretudo, os portugueses, em sua maioria pequenos comerciantes do varejo, pelos altos
preços dos produtos e pelo agravamento da miséria. As brigas entre brasileiros e
portugueses se sucediam, assim como entre brasileiros e estrangeiros de origens
diversas que viviam na cidade. Roubos, brigas, e assassinatos invadiram o cotidiano. A
situação nos quartéis não era melhor. Os conflitos entre oficiais e soldados, muitos
imigrantes mercenários, se sucediam dia-a-dia, em função dos maus tratos e castigos
físicos, que eram rotina, as péssimas condições dos quartéis, os baixos salários e
condições de vida. No dia 9 de junho de 1828 um conflito entre soldados alemães e
oficiais se transformou num enorme motim causando comoção na cidade: o comercio
fechou as portas e a câmara dos deputados chegou a suspender a sessão.
A atuação do governo para reprimir tais motins e desordens foi lida como inábil
e fraca, principalmente pelas elites. Nos jornais de tendência moderada como o Aurora
Fluminense e na Assembléia o governo e a própria pessoa de D. Pedro passaram a ser
cada vez mais criticados. Mas os descontentamentos não pararam por aí. As ligações do
Imperador com nobres e comerciantes portugueses emigrados que aqui se tomavam os
mais altos cargos da administração, davam munição às críticas, além do seu conhecido
__________ 2 SOUZA, Iara Lis Carvalho Souza. Pátria Coroada. O Brasil como Corpo Político Autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999.
151
interesse em interferir no processo sucessório português para por sua filha D. Maria da
Gloria no trono daquele país.
A elite brasileira passou a atacar, portanto, de forma cada vez mais incisiva o
governo de D. Pedro, notadamente seu ministério. Os motins populares, que as
autoridades controlavam com dificuldade, punham em perigo a propriedade e a ordem
pública, indispensável para a segurança continuidade dos seus negócios. Ao mesmo
tempo, a assinatura de tratados anti-tráfico com a Inglaterra pusera grande parte desta
elite em atitude de desconfiança com relação ao Imperador, que sabidamente era a favor
da extinção gradual do tráfico, na linha aberta por José Bonifácio. 3 O imperador se
transformava, pouco a pouco, para esta elite, do grande defensor da Independência, ao
“tirano interno”, enquanto a Inglaterra se tornara o “tirano externo”4. Ainda em relação
ao candente problema da escravidão, havia o descontentamento em relação à medida
tomada pelo imperador que autorizara que a abolição gradual pudesse ser resolvida no
âmbito provincial retirando da assembléia geral o poder decisório em assunto tão
crítico.
Essa elite política que dominava a câmara dos deputados passou a clamar pela
liberdade contra a tirania, pela soberania da Constituição e da Assembléia contra o
despotismo do executivo. O argumento liberal apropriado naquele momento era
absolutamente compatível com a manutenção da escravidão e das hierarquias
fundamentais da sociedade. O liberalismo dos grandes líderes dessa verdadeira “tropa
da moderação” 5 não ia além de uma defesa ardorosa da constituição de 1824 e dos
poderes da assembléia contra os do Imperador. Liberdade significava comércio livre,
respeito à constituição e aos poderes da Assembléia. Não atingia a escravidão e as
hierarquias sociais básicas da sociedade e via com verdadeiro horror qualquer tentativa
__________ 3 No tratado de 1826, o Brasil se comprometeu a abolir o comércio de escravos no Atlântico. Outro tratado estipulou que a partir de 1831 todo traficante brasileiro aprisionado pela marinha britânica seria julgado por uma comissão formada por britânicos, brasileiros e franceses em Serra Leoa. Ver: ALVES, Andréa Firmino. A Escravidão no Império do Brasil. Revista Múltipla. n. 10 (20) Julho/2006, p. 33-50, 2006. 4 Ibidem. 5 LENHARO, Alcir. As tropas da Moderação. O Abastecimento da Corte na formação política do Brasil. 1808-1842. São Paulo: Símbolo, 1979. Lenharo revela como muitos dos comerciantes e produtores de Minas, São Paulo e interior do Rio de Janeiro, do ramo de abastecimento da Corte, transferiram as sedes de suas empresas e moradias para a corte carioca. Mantinham representantes de seus interesses na Assembléia, como Bernardo Pereira de Vasconcelos e outros. Para este autor, o liberalismo moderado defendido por este grupo se explica em grande parte pela prioridade de que se revestia a questão da manutenção da ordem e da escravidão, essenciais para a manutenção e expansão de seus negócios.
152
revolucionária e a Republica. Nas palavras de Alfredo Bosi, estes liberais moderados
eram “parlamentares ardidos em face da Coroa, antidemocratas confessos perante a
vasta população escrava ou pobre. Nem rei, nem plebe: nós” 6. Entretanto, como revelou
Alcir Lenharo, os “moderados” se mostraram, na verdade, ambíguos em relação à
opinião quanto ao tráfico e à escravidão. Muitos criticavam o horror humanitário que
significavam, mas não ousavam se postar francamente contrários. Havia desde
intelectuais urbanos e setores médios, com tendência mais desfavorável ao tráfico e que
vislumbravam no futuro um país sem escravos, até àqueles absolutamente favoráveis ao
tráfico e à escravidão como necessários ao desenvolvimento nacional 7.
Entretanto, embora fossem estes homens e este “liberalismo oligárquico” 8
dominantes na Imprensa e na Assembléia, havia outras forças e outros projetos em jogo
naquele momento. Uma corrente republicana que já vinha em gestação desde os anos da
Independência 9 ganhou força e voz na corte, mantendo ligações com a política das ruas,
das praças publicas e dos quartéis no Rio e outras capitais do país. Era o liberalismo
exaltado, minoritário, mas de grande peso nesta ebulição social e política por que
passava o Rio de Janeiro naqueles anos. Para Marcelo Basile, os exaltados, embora com
menor peso político, foram grandes responsáveis pela formação de uma insipiente
“esfera pública” na corte carioca. Articularam-se em torno de alguns jornais , como o
Nova Luz Brasileira, O Exaltado, O Tribuno do Povo, O Republico e singularizaram-se
pela radicalidade de suas bandeiras de luta que ultrapassavam em muito a concepção
liberal de sociedade e de política que triunfou no vintismo e se cristalizou no Império
Brasileiro. Concordamos que sua derrota e descrédito ao longo do período regencial na
Corte e nas Províncias denota, mais que a perseguição um grupo de oposição, foi “o
silenciamento de um projeto político radicalmente transformador, mais voltado para as
camadas populares, para a redução das desigualdades e para a ampliação do estatuto de
cidadania” 10.
__________ 6 BOSI, Alfredo. A Escravidão entre dois liberalismos. Estudos Avançados. v.2 n.3. São Paulo, Set./Dez, 1988. 7 LENHARO, Alcir. As tropas da Moderação. O Abastecimento da Corte na formação política do Brasil. 1808-1842. São Paulo: Símbolo, 1979. 8 Ibidem. 9 Ver LEITE, Renato Lopes. Republicanos e Libertários. Pensadores radicais no Rio de Janeiro (1822). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 10 BASILE, Marcelo Octavio Néri Campos. Anarquistas, rusguentos e demagogos: os liberais exaltados e a formação da esfera publica na corte imperial (1829-1834). Dissertação de Mestrado. Departamento de História, ICHF/UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. p. 333.
153
Ao contrario dos moderados, os exaltados eram francamente revolucionários.
Até a abdicação, eram mais discretos no seu republicanismo e no seu federalismo, mas
no governo regencial, o propalaram abertamente. A insurreição era para eles um “direito
dos povos” na luta contra a tirania e o despotismo, e a republica a melhor forma de
governo. Porém, a revolução era considerada um recurso extremo, a que se recorrer em
situações limite onde imperava o despotismo absoluto, o que, na visão dos exaltados
estava acontecendo naquele momento, tanto no final do primeiro reinado, quanto nos
primeiros anos da regência. Tratava-se de uma revolução de caráter popular que
instauraria um governo liberal e diversas outras transformações de caráter social.
Os liberais exaltados defendiam uma ampla transformação social, diferenciando-
se de outros liberais radicais que o precederam, como Frei Caneca, que enfatizavam a
crítica política contra a tirania e a luta por instituições políticas liberais, numa
concepção mais tímida das transformações liberalizantes. Sublinhavam a oposição entre
o rico e o pobre, o povo e fidalgo, numa visão dualista e classista da sociedade e da
mudança social. Para homens como Ezequiel Correa dos Santos, editor da Nova Luz
Brasileira, só haveria verdadeira liberdade com maior igualdade, não apenas jurídica,
mas social e econômica 11. Batiam-se pela melhoria da relação entre a polícia e a
população pobre, pelo fim dos maus tratos nos quartéis, pelo cuidado do governo com
os mais carentes. Além disso, eram a favor de uma reforma agrária, “O Grande
Fanteusin Nacional”, o que os punha em absoluta oposição à corrente liberal dominante
que via a propriedade como um direito inalienável. A cidadania exaltada ia, portanto,
muito além do repertório do período em relação ao conceito de cidadania, pois incluía
os direitos sociais como direitos do cidadão 12.
Em relação à escravidão, porém, de certa forma, permaneciam nos limites do
momento, pois não propunham a abolição total e imediata. Eram, porém, já favor da
libertação dos nascituros, o que só viria acontecer no Brasil mais de 40 anos depois.
Viam o atraso que significava a escravidão em relação às idéias do século XIX e o
comprometimento que ela significava em relação ao progresso e à liberdade do país, e à
própria constituição da nação. Denunciavam constantemente os maus tratos, com
argumentos humanitários e filantrópicos. Mas não se livravam do preconceito em __________ 11 Ver: BASILE, Marcelo Octávio Néri Campos. Ezequiel Correa dos Santos. Um Jacobino na Corte Imperial. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 12 Ibidem.
154
relação à cultura e o modo de vida dos negros, que estariam, em sua visão, prejudicando
a nação brasileira. No entanto condenavam arduamente o preconceito racial contra
negros e mulatos, no preenchimento de cargos públicos, uma de suas principais
bandeiras de luta.13
No momento do ato revolucionário, essas forças políticas – exaltados,
moderados e a população das ruas – se uniram em torno da luta do “povo” contra a
“tirania” do primeiro imperador. O conceito de povo aglutinou diversas tendências
políticas, diversos desejos, anseios e interesses na explosão revolucionária. Ricos,
pobres, negros, mulatos, até mesmo mulheres e homens, apareceram unidos por breves
momentos na oposição à D. Pedro I em defesa do povo. Referindo-se à Revolução
Francesa, Raymonde Monnier apontou que esta união sob a idéia genérica de povo “não
toma corpo senão nas situações extremas, no momento da revolução ou da guerra:
momento de um tempo suspenso, entre campo de experiência (violento) e horizonte de
expectativa de um povo novo, de um povo livre” 14. O Sete de Abril pode ser lido como
um destes momentos, em que momentaneamente as diferenças profundas da sociedade
pareceram apagar-se em nome do povo em ato revolucionário em busca da liberdade, da
igualdade e da felicidade.
Na primeira semana de Abril, as agressões entre portugueses e brasileiros se
avolumaram. Ao mesmo tempo, correram boatos que fomentaram ainda mais a
violência. Os quartéis entraram em prontidão. Num ato espontâneo, a população foi se
juntando no campo de Santana, lugar tradicional de festas públicas e procissões
religiosas. Os liberais do parlamento se decidiram pela revolução no último instante,
vendo que as tentativas de diálogo com o Imperador eram infrutíferas. Uma revolução
burguesa, que abatera o trono de Carlos X como a de julho de 1830 na França apareceu
como uma saída possível. Com a adesão das tropas, a situação se tornou insustentável
para D. Pedro, que é forçado à abdicar do trono.
4.2 Os conceitos moderado e exaltado de povo
__________ 13 Ibidem. 14 MONNIER, Raymonde. « Autour des Usages d'un nom indistint: « peuple » sous la Revolution Française ». Revue Dix-Huitieme Siecle, n. 34, p. 389-418, 2002. Lidee de Peuple ne prend corps que dans les situations extremes, dans le moment de la Revolution ou celui de la guerre: moment d'un temps suspendu, entre champ d'experience (violente) et horizon d'attente d'un peuple nouveau, d'un peuple libre p. 394.
155
A historiografia percebeu claramente o caráter desta adesão da maioria
moderada da Assembléia ao movimento revolucionário. As três grandes figuras do
partido moderado, Diogo Antônio Feijó, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de
Vasconcelos estiveram até o fim receosos quanto a uma ruptura revolucionária.
Segundo Octávio Tarquínio de Souza, Evaristo somente aceitou e se envolveu na
revolução um mês antes, enquanto os outros dois, Vasconcelos e Feijó, não tomaram
parte nos acontecimentos decisivos da praça pública. Como nos explica o historiador,
para homens do temperamento político de Vasconcelos, uma revolução não é nunca motivo de entusiasmo: um certo senso estético da ordem e instintos profundos de estabilidade reagem fortemente ante o desencadeamento das forças descontroladas que caracterizam os tempos revolucionários. 15
Foi somente nos derradeiros momentos que Vasconcelos falou em tom
revolucionário, utilizando o conceito de povo como agente de oposição à tirania: “E
pedirei ao povo para que resista em massa contra toda invasão que houver em damno de
suas liberdades e de seus direitos, e também para derribar as cabeças que ainda tentarem
sujeitá-lo à escravidão” 16. Evaristo, por sua vez, não teria sido dominado pelo espírito
revolucionário apenas o tendo aceito como fatalidade, sendo o homem de moderação e
de ordem que era 17. A mudança deveria acontecer, mas pela mão das autoridades e não
do povo nas ruas. 18
Esta visão sobre o processo revolucionário, sobre a necessidade de manter a
ordem e dar limites à liberdades, e este crivo negativo em relação à atuação popular em
praça pública informou a atuação dos moderados que tomaram o poder no período
regencial, bem como sua linguagem política. No primeiro relatório apresentado à
Assembléia, o ministro da Justiça do governo regencial Souza Franco traçou um breve
quadro histórico dos acontecimentos do Sete de Abril. Ainda tocado pelo furor
revolucionário recente, o Ministro não podia deixar de louvar a força “de um Povo
Cioso de seos Direitos”19 contra o despotismo do Imperador; porém, ao mesmo tempo, __________ 15 SOUZA, Octavio Tarquínio de. Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1937. p.113. 16 Ibidem. p.104. 17 SOUZA, Octavio Tarquínio de. Evaristo da Veiga. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed USP, 1988. 18 Ibidem. p. 98. 19 Relatório do Ministro da Justiça.. E-collections at the Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project. 1831, p.2. Disponível em: <http://www.crl.edu/content.asp?l1=5&l2=24&l3=45>. Acesso em: 09 out 2012.
156
já procurou ressaltar o caráter “moderado” do povo que tinha evitado excessos de
violência e sabido se manter em ordem durante a revolução. Eis esboçada a idéia que se
perpetuou do Brasileiro como um “povo pacífico e ordeiro” sendo delineada neste
momento fundamental 20: He porém á moderação do bom Povo Fluminense, superior a todo o elogio, que na realidade se deve a glória, que hoje nos cobre de não termos maculado a terra de Santa Cruz com o sangue de nossos cidadãos nessa lucta terrível do Poder abusivo contra os esforços da liberdade legal: exemplo raro na História Política das nações civilizadas, e que devemos ter como feliz presságio da nossa verdadeira regeneração. 21
Após o triunfo, o povo, segundo o ministro soube manter a disciplina
confirmando seu caráter ordeiro:
O Povo e a Tropa concorde em seos sentimentos puros de Liberdade legal conservarão a disciplina no meio da victória, salvas pequenas desordens, que ainda fera de huma revolução são vulgares em grandes ajuntamentos; e que o Governo por mais activo e vigilante que fosse não podia evitar de todo, entre homens armados por dias sucessivos até que o Imperador deixou as nossas praias. Immediatamente depois disso depozerão os Cidadãos as armas, e dando Graças a Deos, voltarão pacíficos ao seio das suas famílias. 22
Enquanto Souza Franco ainda falava em tom revolucionário e enaltecia o Povo
que havia lutado bravamente pelos seus direitos, o discurso do segundo ministro da
justiça, Diogo Antonio Feijó, abandonou absolutamente o louvor à atuação
revolucionária do povo, revelando apenas o desejo de refreá-la. Feijó se mostrava
preocupado com os conflitos ocorridos nos meses após a emancipação, segundo ele
puras conspirações lideradas por vadios turbulentos. O conceito de Povo apareceu
despido de todo seu conteúdo revolucionário recentemente adquirido, como mostra o
seguinte trecho:
__________ 20 Emília Viotti da Costa também percebeu nestes primeiros momentos após a revolução do Sete de Abril a consolidação da idéia do povo brasileiro ordeiro e pacífico. Segundo a autora “reprimidos os levantes [de 1831 na Corte], Feijó afirmou que ‘o brasileiro não foi feito para a desordem, que o seu natural é o da tranqüilidade e que ele não aspira outra coisa além da constituição jurada, do gozo de seus direitos e de sua liberdade’ – afirmação que, se bem que desmentida muitas vezes pelos fatos, tornou-se uma das crenças que, juntamente com o mito da democracia racial e da benevolência das elites brasileiras, vieram a constituir o núcleo da mitologia social que perdurou até o século XX”. Ver COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. p.153. 21 FRANCO, Souza. Relatório do Ministro da Justiça, 1830. p.2. In. E-collections at the Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project. Disponível em: <http://www.crl.edu/content.asp?l1=5&l2=24&l3=45>. Acesso em: 09 out 2012. 22 Ibidem.
157
Augustos e Digníssimos representantes da Nação, entre nós a Moral foi sempre hum objeto religioso; e feliz o povo, cujas máximas de virtude vindas do Ceo não estão sujeitas ao capricho, e ás paixões dos homens. 23
Souza Franco lembrou que, por ocasião das manifestações populares em praça
pública que ocasionaram a abdicação, o importante papel das autoridades constituídas,
notadamente os juizes de paz, que tiveram a capacidade de manter a multidão em franco
e decidido ato revolucionário e as tropas sob controle. O pavor dos moderados em
relação à multidão desordenada nas ruas e sem chefes constituídos foi um tema
freqüente ao logo de todo o período regencial:
Receando o Ministério tudo da Multidão entregue a si mesma, e dominada de mais pelo justo sentimento de vingança das injurias soffridas, e sobre tudo curando da Causa da Liberdade que poderia perigar, tornando-se duvidosa a sua sorte, se hum imprudente rompimento chocasse as armas dos Partidos, envolvendo-os na guerra civil, cujo desfecho infalível seria a mais lamentável anarchia; fez presidir á essas assembléias nocturnas pelos zelosos, e vigilantes Juizes de Paz, cujo incansável zelo, assim como o de algumas authoridades Militares beneméritas da Pátria, que gozavão da opinião Pública, bastou para conter, e conservar na defensiva de seos Direitos ameaçados da força, hum Povo, que só queria conservar ilesa a Constituição 24
O conceito de povo ligou-se nestas falas à idéia de ordem e disciplina contra a
anarquia, de modo a perder seu significado ligado ao ato revolucionário. Essa
verdadeira operação semântica se realizou dentro da preocupação dos moderados de
“coibir as agitações do populacho”, o que se verificou logo nos meses iniciais da
regência, em que foram estabelecidas diversas medidas no sentido de disciplinar as ruas.
Foram decretadas, entre outras coisas, rondas noturnas, patrulhas particulares para
segurança publica, e também uma subscrição publica para angariar fundos para a
construção de uma casa de correção inspirada nas idéias de Jeremy Benthan. 25. Os dois
primeiros Ministros da Justiça, primeiramente Souza Franco, e depois Diogo Antônio
Feijó, insistiam na necessidade premente da reorganização dos aparelhos judiciários,
penais e policiais.
__________ 23 FEIJÓ. Diogo Antônio. Relatório do Ministro da Justiça, 1831, p.8. In. E-collections at the Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project Disponível em <(http://www.crl.edu/content.asp?l1=5&l2=24&l3=45)>. Acesso em: 09 out 2012. 24 FEIJÓ. Diogo Antônio. Relatório do Ministro da Justiça, 1831, p.20. In. E-collections at the Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project Disponível em <(http://www.crl.edu/content.asp?l1=5&l2=24&l3=45)>. Acesso em: 08 out 2012. 25 GUIMARAES, Lucia Maria Paschoal. Liberalismo Moderado: Postulados Ideológicos e Práticas Políticas no Período Regencial. In.PRADO, Maria Emilia (org.) O Liberalismo no Brasil Imperial. Origens, Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: Revan-UERJ, 2001. p. 103-126.
158
4.3 Os motins urbanos de 1831 no Rio de Janeiro: quem é o legítimo povo?
Para entender este processo, em que o grupo moderado se esforçou para abater
o conceito exaltado e sua abertura para a ação política direta e revolucionária,
investigaremos um pouco mais a miúdo as diferenças “moderados” e “exaltados”
através da analise da apreciação que os dois “partidos” tiveram em seus dois mais
importantes jornais, Aurora Fluminense e Nova Luz Brasileira, de três grandes motins
urbanos ocorridos na Corte no ano de 1831 nos primeiros seis meses do governo
regencial. Motins e revoltas como estes ocorreram em diversas cidades do país, num
momento delicado em que um governo novo procurava se instalar, ganhar sustentação e
poder efetivo. Estes movimentos, iniciados por motivações diferentes, normalmente
com motins no interior de quartéis, receberam apoio e fomento, tanto de partidários de
D Pedro I, mas principalmente de liberais exaltados, interessados na desestabilização do
governo recém-formado e na possibilidade de que a revolução prosseguisse rumo às
mudanças mais profundas na sociedade. Os exaltados perceberam logo que o Sete de
Abril, revolução para a qual doaram todas as suas energias, tinha sido capturado pela
moderação. Nas palavras do liberal mineiro Teófilo Otoni, imortalizadas pela
historiografia, a Revolução fora para os exaltados uma journé des dupes 26.
No dia 12 de julho de 1831, iniciou-se uma grande revolta, inicialmente o 26º
Batalhão de Infantaria do Exercito de Linha no Mosteiro de São Bento, que se alastrou
pela cidade. Nos dias posteriores, a revoltas se propagou por batalhões de policia, tendo
também a adesão de parte do exército convocado para combatê-la. À revolta, uniu-se
um grupo de indivíduos ligados aos liberais exaltados. Inicialmente ocasionado por
maus tratos aos soldados e policiais por parte de seus governantes, o movimento tomou
as feições da disputa política mais ampla. Numa representação dirigida à regência, e
publicada em diversos jornais, o “Povo e Tropa” exigiam expulsão do país de várias
pessoas consideradas inimigas da nação e mudanças na composição da regência, além
de declarar a disposição em não depor as armas até que suas exigências fossem
atendidas. Diversos tumultos pulularam pela cidade, que ficou sem policiamento. O
governo da regência, dominado pelo partido moderado sofria assim seu primeiro grande
__________ 26 Trata-se de uma referência à desilusão daqueles que tentaram derrubar o Cardeal de Richelieu em 11de novembro de 1630.
159
abalo. Não nos cabe aqui retraçar os detalhes do movimento, o que num outro lugar já
foi feito de forma brilhante 27, mas apenas enfatizar sua gravidade e o perigo que
implicou para o governo regencial e para a ordem estabelecida. A criação da Guarda
Nacional em 18 de Agosto foi uma das muitas medidas tomadas pela regência para
conter e prevenir o tumulto das ruas, assim como as rondas noturnas, e a perseguição
aos periódicos exaltados, processados judicialmente por abuso de liberdade de
imprensa.
O ambiente era tenso e a possibilidade de que as ruas da corte se
transformassem no palco de uma guerra civil 28 se fazia cada vez mais presente. Outros
dois eventos violentos marcaram no mesmo ano esses primeiros tempos sem D. Pedro I.
No Teatro São Pedro de Alcântara houve em 28 de Setembro uma briga entre dois
oficiais do exército, que acabou se transformando numa grande cena de violência. Os
dois receberam ordem de prisão, mas um conseguiu fugir, justamente aquele que era de
origem lusitana. Protestos inflamados se iniciaram contra a prisão do brasileiro e os
guardas municipais e o Juiz de Paz que estava presente foram acusados de deixar fugir o
oficial “chumbo”. Diante da situação a autoridade mandou fechar o teatro, o que
provocou protestos, gritos e xingamentos aos guardas. Um tiro acidental foi disparado
por alguém da platéia e os guardas municipais abriram fogo contra a multidão, deixando
mortos e feridos. Como em julho, a revolta se espalhou pela cidade, com protestos,
brigas e as tentativas dos exaltados de fomentar rebeliões na tropas. A Guarda
Municipal, entretanto conseguiu reprimir mais rapidamente os distúrbios. Novo grande
motim militar ocorreu em seis de outubro no Corpo de Artilharia da Marinha na Ilha de
Cobras, ocasionando também apreensão por toda a cidade.
Os Principais jornais noticiaram e opinaram sobre os eventos, revelando
conceituações distintas sobre o povo. Vejamos como o A Nova Luz Brasileira e o
Aurora Fluminense o fizeram. A cobertura exaltada dos episódios se mostrou ambígua.
Os redatores não podiam dar apoio evidente aos motins, sob o risco de denunciarem sua
própria participação às autoridades. A perseguição aos jornais exaltados era grande e era
imprescindível medir as palavras. Os exaltados respondiam às acusações de
__________ 27 Ver BASILE, Marcelo Octavio Néri Campos. Anarquistas, rusguentos e demagogos: os liberais exaltados e a formação da esfera publica na corte imperial (1829-1834). Dissertação de Mestrado. Departamento de História, ICHF/UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. 28 Ibidem. p. 250.
160
envolvimento nos motins, revidando na mesma moeda, isto é, mostrando-se também
contra as desordens como incitações da tropa e imputando a culpa por elas aos
moderados, que as teriam fomentado para produzir motivos para a política “despótica” e
repressiva que praticavam.
Entretanto, podemos entrever algumas idéias-força do trabalho de
conceituação do povo que caracterizaram a visão exaltada. A Nova Luz dia 20 de julho
referiu-se ao recente evento em que “o povo e tropa” se reuniram no campo de honra
para pedir a expulsão de pessoas consideradas inimigas da nação e publicou na íntegra o
manifesto de seus participantes. Para o periódico exaltado, os acontecimentos de julho
eram uma legítima manifestação do povo, junto com a tropa, no exercício de seu direito
inalienável de “petição” e “resistência”. No dia 30, discutindo diretamente com os
moderados,
Diz mais a Aurora, que é pecimo concitar o Povo e a tropa à revolta: isto é verdade, a Nova Luz também o diz. Porém quem concita o Povo e a Tropa são os aristocratas trahdores e tyrannos, e seos Sanchos; e estes é que são os malvados. Advirta-se porém que em boa ordem fazer uso do Direito de Petição; ou pegar em armas com boa ordem para o direito de resistência contra aristocratas trahidores que quizerem sugeitar o Brasil, e suas Liberdades ao oiro dos gabinetes extrangeiros [...] 29
O povo para os exaltados era fundamentalmente uma força revolucionária que
se realizava na cena publica, nas ruas e praças, impondo sua vontade ás autoridades e às
Assembléias vistas como lugar de domínio das aristocracias. O direito natural à luta
contra a tirania, não era um direito latente, que jazia como uma referência, um
fundamento último e teórico da vida política, mas, ao contrário, era passível de, a todo
momento, se transformar em ato revolucionário. Trata-se de um povo ativo
politicamente, com poder de decisão no espaço público não de uma força inerte.
Era de uma determinada concepção de soberania do povo de que falavam.
Como apontou Marcelo Basile, “a idéia de que a soberania reside, não no governante ou
mesmo no Parlamento, mas sim no povo [...] constitui um dos elementos-chave do
pensamento político exaltado, diferenciado-o, [...] daquele seguido pelos moderados” 30.
Nesta concepção, a política e a representação deviam espelhar na sua vontade. Povo e
__________ 29 Nova Luz Brazileira. Sábado 30 de Julho de 1831. 30 BASILE, Marcelo Octavio Néri Campos. Anarquistas, rusguentos e demagogos: os liberais exaltados e a formação da esfera publica na corte imperial (1829-1834). Dissertação de Mestrado. Departamento de História, ICHF/UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. p. 333.
161
representantes, povo e política, formavam uma unidade indissociável, coincidindo
completamente, portanto, o “povo empírico” com o “povo teórico e juridico” 31. Um
pensamento que procurava fundar a política diretamente nos direitos naturais
teoricamente formulados do povo e assim transformar inteiramente a sociedade pela
revolução.
Num país como o Brasil, escravista e profundamente hierarquizado, esta
compreensão do fenômeno político tinha ainda efeito mais devastador, trazendo a
possibilidade da revolução popular e até mesmo escrava, embora esta última hipótese
fosse rejeitada mesmo pelos exaltados. Aqui o povo era profundamente heterogêneo do
ponto de vista étnico e fortemente desigual econômica e socialmente. Se na Europa, a
divisão entre o povo e a plebe sempre fora um mote da política 32, aqui deste lado do
Atlântico, a manutenção desta diferença era ainda mais fundamental para as elites
dirigentes. Aqui, o povo, se mostrava ainda muito mais ameaçador no ponto de vista dos
grupos dominantes e incapaz para a política.
O povo para os exaltados tinha um sentido muito mais inclusivo e
universalizante, quando comparado à visão hegemônica durante o império, que insistia
na hierarquia dos “três mundos” 33, isto é, o povo, apto a participar da política, a plebe, a
ser controlada e disciplinada e os escravos, constituintes do mundo do trabalho. Na
visão revolucionária exaltada, o povo era identificado com o conjunto dos homens livres
independente de sua cor, raça, nível de renda, propriedade e educação. Apenas eram
excluídos do povo aqueles indivíduos realmente prejudiciais ao país, os aristocratas e
fidalgos, “bajuladores dos reis” e exploradores do povo. Os aristocratas identificados
muitas vezes com os portugueses, e com os moderados dominantes no governo
regencial, eram mesmo excluídos do conjunto do povo e postos, de forma jocosa, como
parte da plebe 34. A oposição entre o conceito de povo e o de aristocracia era uma __________ 31 GAUCHET, Marcel. La révolution des pouvoirs : la souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-179. Paris : Gallimard, 1995. 32 Como apontou Marilena Chauí, “De Marsílio de Pádua e Jean Bodin, de Machiavelli a Espinosa, de Tyndale de Loyseau, a divisão social e política retoma a divisão romana entre populus e plebs, i. é, entre Povo como instancia jurídico política legisladora, soberana e legitimadora dos governos, e Plebe, como a dispersão dos indivíduos desprovidos de cidadania, multidão anônima que espreita o poder e reivindica direitos”. CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência. Aspectos da Cultura Popular no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1993. p.13. 33 MATTOS, Ilmar. Rohloff. O Tempo Saquarema. A Formação do Estado Imperial. Rio de Janeiro: Access, p.194. 34 Marcelo Basile cita o verbete “Povo” publicado pelo Nova Luz em que este aspecto revolucionário para o pensamento liberal brasileiro na época é evidenciado: “Fallando emgeral chama-se Pôvo a reunião de todos os habitantes que formão a sociedade, e habitão hum paiz debaixo do mesmo governo. Nesta palavra Povo se comprehende todos os indivíduos sem excepção, desde o Rei athe o mais pobre e mizeravel cidadão [...] entre nós não há mais do que povo e escravos; e quem não He Povo, já sabe que He captivo. Ora como entre o Povo de que seforma
162
constante nos jornais exaltados, como, por exemplo, nesta matéria em três de agosto de
1831:
Mas porque será que os padres, os aristocratas, sendo verdugos da Liberdade do Povo e da authoridade dos reis, sempre recebem do Povo, e dos Reis honra, mando, dinheiro e favores? É porque os opressores, aristocratas, hábeis na tenebrosa arte da hipocrisia, e adulação, adquiriram riquezas, vendendo o Povo aos reis, e estes ao Povo, segundo era mister a seos interesses constantes, que são atraiçoar os dois e dominar em ambos.35
Outra era a visão dos Moderados e sua construção conceitual do povo. Na
apreciação dos eventos de 1831 foram incisivos e drásticos em suas críticas. Vejamos
como o Aurora noticiou os eventos de julho:
A insubordinação em alguns corpos militares continua, ao ponto de não se respeitarem officiaes, de serem varios expulsos pelos soldados, etc. Algumas violências, roubos e mesmo assassínios se tem perpretado por essas ruas, e os instrumentos de morte são passeados ao hombro de soldados as vezes ébrios que disparão tiros ao accaso, incutindo terror aos cidadãos. 36
Os eventos não passavam, portanto, para os moderados de insubordinação
militar e desordem, nada tendo a ver com os direitos naturais do povo à resistência.
Segundo o Ministro da justiça Diogo Antônio Feijó, em seu relatório referente ao ano de
1831 apresentado aos “representantes da nação” apontou o perigo do avanço do
“espírito revolucionário no Brasil”, que identificou diretamente com a ação de “bandos
de assassinos armados”, “vadios turbulentos”. O relatório conclamava a Assembléia a
aprovar reformas no processo judicial, na organização das polícias e das guardas
a sociedade existem alguns homens mal creados, muito tolos, e cheios de vícios, e baixezas, os quaes homens são algumas vezes madraços, e sem brio, e nem tractão de se instruir, e de abjurar sua grosseria e mãos costumes, assentou-se chamar plebe a esta gente má: e baixa plebe aos que d’entre a plebe, são incorrigíveis, e quase piores do que os mãos escravos. Por conseqüência He baixa plebe o mao e tolo fidalguete, ou negociante rico, ou alto empregado, cuja conducta instrucção, brios, e costumes são máos como acabamos de dizer. He pois ignorante ridículo, e insolente todo parlapatão que em-ar de Lord bagatela chama com desprezo – Povo agente da sociedade que trabalha e produz riquezas com a enxada, ou com a enxó. Gente desprezível He a que consome as riquezes [sic] que outros produzem, e em cima tracta de resto ao verdadeiro cidadão productor de riquezas; e para mais, só cuida em atraiçoar ao Povo, escravizando-o contra as ordens do próprio Deos, que quando fez Adão, não o fez Conde, Frade, ou Marquêz. Quem diz – Povo por desprezo He desprezível aristocrata [...]o governo deve emanar de todos e pender de todos em massa: [...] e as Leis devem ser iguaes para todos, e feitas por todos mediante seos Deputados e só para o bem geral: donde também se conclue que só o merecimento e serviços á benefício do paiz, podem dar destinção aos cidadãos em quanto vivem. Tudo o mais He violencia despótica d’aristocratas velhacos, em quanto achão Pôvo tolo, e sem vergonha, que os não força a entrarem no caminho da justiça, e da Constituição” (Nova Luz Brazileira, n 11 – 15/1/1830). BASILE, Marcelo Octavio Néri Campos. Anarquistas, rusguentos e demagogos: os liberais exaltados e a formação da esfera publica na corte imperial (1829-1834). Dissertação de Mestrado. Departamento de História, ICHF/UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. p. 99. 35 Nova Luz Brasileira. Quarta-Feira, 3 de Agosto de 1831. n. 157 36 Aurora Fluminense 18 de Julho de 1831.
163
nacionais e municipais. Na visão moderada do governo, todos os movimentos que
contavam com o apoio exaltado em diversas partes do país, portanto absolutamente
ilegítimos, eram simples atos de violência a serem reprimidos pelas autoridades. Eram
“conspirações” que tinham “por fim deixar o Brasil acéfalo e sem representação” 37.
Fundamentalmente a argumentação moderada procurou atacar a pretensão dos
exaltados de que aqueles movimentos fossem atos legítimos do povo. Procuravam
demonstrar que eram atos de pequenos grupos de desordeiros. Neste sentido o conceito
de povo apareceu unido à idéia inclusiva e generalista de massa em oposição à idéia de
bando, facção ou grupo: Apezar de serem as circunstâncias muito extraordinárias, apezar de que os malévolos não descanção hum momento, nós temos ainda toda a esperança de que a ordem se restabeleça, e essa esperança está posta na firmeza de nossa Reprezentação Nacional, no patriotismo do Governo, e no caráter do Povo Brasileiro. Meia dúzia de perversos ou de enthuziastas irreflectidos não formão a massa do povo 38.
O conceito de “povo” estaria nesta concepção sendo apenas utilizado pelos
desordeiros e insubordinados para seus fins particulares. Era fundamental revelar à
opinião pública que não se tratava de atos do povo. O argumento foi repetido diversas
vezes no Aurora, como na seguinte passagem: “os perversos, [...], usão sempre nas
revoluções dar-se como a massa do povo, como a nação inteira, e he em nome da nação
e do povo, que apresentão seus particulares interesses, caprichos e vontades” 39. Em
outro momento, referindo-se ao ocorrido no Teatro São Pedro de Alcântara e à
cobertura feita pelo jornal exaltado O Tempo, o Juiz de Paz Saturnino de Souza e
Oiliveira, que estava no local e comandou as forças da ordem, declarou, no mesmo
espírito:
O povo!! Pois 20 ou 30 vadios sem moral, sem educação, sem respeito alguns as leis constituem o povo para os redactores do Tempo! Mas pode mesmo o povo , sem tornar-se crimonoso, tirar a justiça um homem prezo em flagrante, batendo-se em lugar publico, como o Tempo confessa? [...]
O povo, o povo, por hum punhado de furiosos amotinadores que o Tempo mesmo confessa terem obstado à prizão, e intentarem tomar as armas à patrulha. Contuinua - ‘chegão-se as portas do theatro, dispara (?) as armas para dentro do Teatro sobre o povo que se conservou sempre desarmado –‘ Suppondo que o fogo começasse dos guardas tinham elles em taes circusntâncias praticado um acto licito á vista do código, por que o Tempo confessa que os amotinadores, o povo, intentou tomar-lhes as armas, e como para ser o povo, devião ser em grande número,
__________ 37 RELATÓRIO do Ministro da Justiça, 10 de Maio de 1832. 38 Aurora Fluminense 18 de Julho de 1831. 39 Aurora Fluminsense. Quarta-Feira, 27 de Julho de 1831
164
necessário era o fogo para se cumprirem as ordens da autoridade, a lei, e não serem desarmados os guardas 40 .
Portanto, não se tratava nesta visão do legítimo povo, mas de um punhado de
furiosos, desordeiros, criminosos, vadios: um grupo que ilegitimamente usou o conceito
de povo para seus fins criminosos, incitando a população pobre e ignorante ao crime e à
revolução.
A cobertura moderada também se esforçou por convencer a opinião pública de
que todo aquele turbilhão de motins, revoltas e reivindicações nos corpos policiais e
militares e nas ruas não passavam de distúrbios da plebe, auxiliados e insuflados por
exaltados. Sobre a revolta iniciada na Ilha de Cobras, o jornal declarou que se tratou de
um “bando de salteadores”, “rebeldes”, “sediciosos” auxiliados pelo “apoio que podiam
facilmente encontrar os facciosos em muitos indivíduos da populaça de ínfima classe”41.
Sobre o acontecimento no teatro, toda a culpa das desordens vinha dos “assanhadores da
populaça” que, “distribuindo alguns deles talvez por suas mãos punhaes envenenados,
instrumentos assassinos de nova invenção por negros, e pardos de pés descalços, por
escravos, pra ferirem com vil traição aquelas authoridades, que mais se tem oposto a
seus intentos” 42. Mais uma vez a oposição semântica entre povo e plebe se tornou uma
tônica na linguagem política. Neste sentido os movimentos de revolta foram
considerados ilegítimos, pois não eram parte do povo, que possui o direito e se colocar
na cena pública.
Além dos exaltados, os “corcundas” ou restauradores, os supostos partidários
de Dom Pedro I, também foram acusados de incitar e utilizar os indivíduos da plebe, da
populaça, da “gente de ínfima classe”, como mostrou a seguinte passagem do Aurora
Fluminense:
Como se há de explicar semelhante procedimento? Como se poderão escançar certas ligas feitas a um tempo com homens interessados nos velhos abusos, como despotistas, e com aquelles que não cessam de pregarnos a republica democrática, violenta, alcançada entre ondas de sangue! Tais alianças não previnem a favor da interacção pura de quem a forma, e o remédio que procuram à enfrmidade que imaginarão, da a entender que elles tem mais em vista o entronizarem-se no poder do que a salvação da pátria; que são mais os interesses pessoaes do que os públicos quem
__________ 40 Aurora Fluminense. 10 de Outubro de 1831 41 Aurora Fluminense. Segunda-Feira 17 de Outubro de 1831 42 Aurora Fluminense. Sexta-Feira 7 de Outubro de 1831
165
os move e faz pôr em acção hum patriotismo violento, declamador, talvez affectado, e sempre fatal 43
Um grave problema identificado pelos moderados era o da infidelidade da
tropa ao governo, muitas das quais eram formadas por estrangeiros e membros da
“ínfima classe”, facilmente manipuláveis pelos “anarquistas”. Reconhecia-se que as
tropas haviam sido fundamentais na Revolução do sete de Abril que expulsou o tirano e
instaurou o novo governo. O Aurora publicou várias proclamações da Assembléia e
câmara municipal conclamando os soldados insubordinados retornar “família
brasileira”, ao “grêmio da Nação” e deixar a ação revoltosa. Deputados da Câmara
Municipal declararam em meio aos motins de julho:
Briosos Fluminenses: A Gloria Imortal que adquiristes para vós e para toda a posteridade, no memorável Dia 7 de Abril, em que expelistes do Brazil a tyrannia não deve ser murchada. Temos uma Constituição, que he fonte de todo bem, e prosperidade publica: respeitai-a. Temos um Corpo Legislativo, escolha da briosa Nação Brasileira, o qual se esmera nos meios mais conducentes ao grande fim de firmar, e consolidar a Independência e Liberdade Nacional: Confiai nelle (Paço da Câmara Municipal, 15 de Julho de 1831).44
O problema de fundo era, em outras palavras, o afastamento verificado entre a
tropa e o povo. A unidade entre “povo e tropa” fez parte da linguagem política de
inúmeros movimentos revolucionários ao longo de todo o século XIX, como em 1817, e
neste momento, o tópico foi usado para desqualificar os motins cariocas. Segundo o
jornal, as tropas que estavam por traz dos motins e revoltas, não podiam falar em nome
do povo, porque não eram compostas por ele e não refletiam seus interesses e seu
“espírito”. Se muitas vezes as tropas se uniram ao povo, como no Sete de abril, podiam
se voltar contra este e se tornarem seus algozes.
Uma das grandes inquietações do Ministro da Justiça nestes primórdios da
regência era, portanto a criação de uma força militar e policial que de fato espelhasse o
povo, que fosse composta por ele. Esta preocupação se transformou em atuação,
primeiro, na arregimentação dos “Voluntários da Pátria” e depois na criação das
Guardas Nacionais, logo depois dos motins de julho. O objetivo era que as tropas
fossem compostas por cidadãos em armas, ou, em outras palavras, pelo verdadeiro __________ 43 Aurora Fluminense. 15 de Julho de 1831. 44 Aurora Fluminense . 20 de Julho de 1831
166
povo. Esta preocupação apareceu claramente num numero do Aurora, que realiza uma
reflexão a respeito da relação entre as tropas e o povo e expõe a importância de uma
espécie de simbiose entre os dois
Soldados tem fundado o despotismo, Soldados o tem destruído. Esta sentença do sábio Reinald nos mostra evidentemente a conducta dos soldados desde que a defesa da pátria ficou ao encargo de mercenários, a quem pouco importa o seu bem estar quando o ouro lhes franqueia deliciosos momentos [...] Sem dúvida na defeza da liberdade muitas vezes temos visto os soldados enfileirarem-se com o povo, e em estreita união despedaçarem os ferros, que manietam a infeliz pátria; também os temos visto propugnando contra a liberdade lançarem as algemas ao desgraçado solo que os vio nascer. Se eles se tem unido ao povo para debellarem a tyrannia, perseguem o povo. Estes efeitos heterogêneos não provém, se não de entregar-se a defesa da pátria a homens que nenhum interesse tomam por ella [...] [...]apenas os soldados formarão uma classe differente, e até heterogênea, apenas o espírito do povo deixou de entrar nessa classe, as armas começaram a ser funestas à pátria, e à liberdade, começaram a servir de appoio ao despotismo [...] As guardas Nacionais sem dúvida são o melhor meio de prevenir semelhantes abusos, compostas de pessoas cujos interessses se acham identificados com os da pátria, são o mais forte baluarte da liberdade [...] Felizmente entre nós a Tropa regular tem mostrado huma conducta contraria a experiência, tem estado sempre em oppsição ao despotismo, e se em seo seio tem apparecido algum desvario, se deve somente a perversos homens, que abusando de sua ignorância a pertendem fazer instrumento de sua malvadeza. 45
Segundo este trecho, as tropas tinham que ser compostas, ou ao menos
comandadas, por pessoas identificadas com os interesses do povo, o que na visão dos
moderados, significava que deveriam ser formadas por cidadãos proprietários e
produtivos. Na “visão moderada”, portanto, “espírito” e os “interesses” que deveriam
informar as tropas eram identificados ao do cidadão industrioso e trabalhador, e não o
da camada pobre da população. Somente os cidadãos teriam interesses concretos na
manutenção da ordem pública por possuir bens a proteger e negócios a cuidar. Além
disso, sua riqueza provava suas capacidades intelectuais e de trabalho. Tratava-se de
uma visão do liberalismo político em que o “povo” era um conceito que excluía mais do
que abrangia: a plebe estaria excluída ou identificada a uma parte do povo que deveria
ser guiada pela porção superior. Citaremos um trecho ilustrativo da perspectiva do
__________ 45 Aurora Fluminense. 28 de Setembro de 1831
167
Aurora sobre o homem pobre no Brasil. Tal visão nos ajuda a entender melhor o
conceito restritivo de povo dos moderados:
na bastança cultivão-se melhor as virtudes moraes do que naquellas cincunstâncias em que a necessidade dá a lei, e a tudo sujeita o que carece de tudo. Na abundância há mais meios de receber decente e honesta educação (...) Ademais, o homem abundante em cabedaes, se não os ganhou por meios indignos, prova de algum modo que ama o trabalho, e a industria e da indicio de que possue espirito de ordem, e de economia, principio de quasi todas as virtudes domésticas. A respeito porém do pobre, nasce sempre a prevenção de que deverá á sua inércia, e mau proceder a indigência que soffre, muito mais num paiz aonde os meios de adquirir trabalhando se aprezentão com toda facilidade 46
A visão de homens moderados como Diogo Antônio Feijó e Evaristo da Veiga
e Bernardo Pereira de Vasconcelos sobre aos motins militares e tumultos urbanos que
eclodiram na cidade diz respeito a uma determinada visão geral da política que
imperava entre as elites daquele momento. Os “direitos do povo”, a “vontade do povo”,
de fato eram vistos como o fundamento da vida política moderna para estes homens.
Porém, como fundamento, era considerado teórico e subjacente, não devendo se
transformar em ação direta. A realidade política deveria ser governada pelas
circunstâncias, pela história, pelo fluir do tempo. Procurar fundar a política real nos
fundamentos do direito natural seria impor uma teoria à realidade dos fatos, produzindo
excessos, anarquia e terror revolucionário. Por isso era preciso definir bem quem era o
povo que teria direito a participar do mundo político, opondo-o, como vimos à plebe, à
tropa e à idéia de facção. O povo “teórico”, fundamento da política e da sociedade, não
podia se confundir em nenhum momento com o povo “empírico”, atuante na política.
Povo não deveria ser um conceito de abrangência ilimitada, e sim ancorado nas
características reais dos homens, nas divisões sociais e econômicas, que definiriam
quem era realmente apto a participar do sistema político.
Era preciso, portanto ultrapassar as doutrinas políticas revolucionárias da
soberania popular e refundar a política numa outra concepção menos perigosa, ancorada
na temporalidade histórica, no fluir do tempo: a civilização. O conceito de civilização
passaria na consciência moderada e, posteriormente abertamente conservadora, a se unir
ao conceito de povo, envolvendo-o numa perspectiva historicizada do tempo como
__________ 46 Aurora Fluminense. 28 de Setembro de 1831
168
marcha universal e imperiosa. Na seguinte passagem do Aurora, essas idéias foram
apresentadas muito claramente:
Os excessos produzidos pela doutrina do direito recalcam os povos nas desventuras que produz a doutrina da opressão. Então confirma-se por novas demonstrações esta verdade – que o adiantamento da civilização deve resultar de trabalhos tranqüilos, e que os esforços para substituir as revoluções dos homens à revolução do tempo, são fecundos em desastres. 47
Esta operação semântica levada a frente pelas elites moderadas foi caracterizada
pelo esforço de superação do conceito povo genérico e abstrato em luta contra a tirania,
que havia congregado momentaneamente as forças políticas no Sete de Abril. Este
conceito seria paulatinamente superado por um novo conceito caracterizado pela
imersão numa renovada concepção processual do tempo, especialmente com o
fortalecimento da idéia da marcha civilizacional, que ganharia força ao longo dos anos
1830. Os primeiros sinais desse processo já ficaram evidentes, como vimos, por ocasião
da experiência dos motins de 1831 no Rio de Janeiro. Mas a experiência histórica ainda
seria marcada que pelas tentativas revolucionárias nas diversas províncias do país, o que
aprofundou e intensificou a operação de transformação semântica que pretendemos
abordar. Nas revoluções provinciais, o conceito abstrato e revolucionário de povo
floresceu, assim como a possibilidade de quebra da ordem política e social no Império,
colocando novos desafios para as elites políticas no poder.
4.4 O conceito de povo e a revolução nas províncias
Se os exaltados perderam a força na Corte em virtude da repressão que sofreram,
da falta de apoio da população, mas também, da promulgação do Ato Adicional em
1834 que transformou em realidade parte de suas reivindicações federalistas, nas
províncias sua atuação cresceu enormemente, o que explicou em parte os diversos
conflitos do período regencial. Distintas foram as motivações de tais revoltas e os
grupos envolvidos, sendo difícil estabelecer uma análise. A miséria do povo, o
autoritarismo dos governantes e chefes locais, notadamente, o ódio aos portugueses, que
ainda mantinham tantos anos após a Independência inúmeros privilégios políticos e
__________ 47 Aurora Fluminense. 7 de Outubro de 1831.
169
comerciais, as disputas entre os chefes locais, eram elementos causadores de grande
tensão por todo o país. Mas sejam quais tenham sido os estopins para estes movimentos,
na maioria deles o povo pobre emergiu contundentemente no cenário político nacional
com em poucas vezes. Se a historiografia conservadora insistiu em classificar os
insurretos como facínoras sanguinários, sem cor política alguma 48, estes movimentos
foram fundamentais para o desenvolvimento do conceito de povo no período em
questão, pois punham em jogo um liberalismo popular radical diferente do liberalismo
das elites.
Os ideais da Revolução Francesa e Norte-Americana que coloriram estas
tentativas revolucionárias foram disseminados pelas províncias no período da
Independência: a defesa da constituição, da representação e da lei eram seus principais
elementos. Como nos apontou Vicente Sales, houve no Pará, desde a Revolução do
Porto, e notadamente nos anos 1830, por ocasião da onda de críticas à D. Pedro, uma
grande fermentação de idéias políticas, com a publicação e circulação de jornais e
panfletos incitando o povo à Revolução. 49 Na casa de Sabino Vieira, principal líder da
Sabinada na Bahia foram encontrados exemplares de toda a ilustração européia 50.
Havia portanto, idéias e conceitos envolvidos nestas revoltas, embora não se
constituíssem num corpo teórico definido e acabado. Se eram principalmente trazidas
pelas classes ilustradas que na maioria das vezes lideraram os movimentos, isso não
implicava uma total despolitização dos pobres, índios, negros libertos e caboclos que
participavam dos movimentos. Isso seria tomar a visão dos vendedores, para quem era
inconcebível “que esses homens de pé no chão tivessem idéias na cabeça e ousassem
__________ 48 Em famosa memória histórica da Balaiada, o político e literato conservador Domingos José Gonçalves de Magalhães, então secretario de governo do Maranhão e um dos organizadores da repressão, lastimou a ação sanguinária de uma “raça cruzada de índios, brancos e negros, a que chamam cafusos”, “massas brutas” animadas exclusivamente pelo “espírito de rapina” Em sua interpretação que forjou a opinião corrente sobre o movimento, a população ignorante, irreligiosa e “sem cor política” teria sido simplesmente insuflada por “partidos rancorosos”. Em oposição à essa “população”, o verdadeiro povo, isto é os proprietários rurais e urbanos, assistiam assustados ao terrível espetáculo das “vilas tomadas” e “fazendas devastadas”. MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Memória Histórica e Documentada da Revolução da Província do Maranhão. Desde 1839 até 1840. São Paulo: Siciliano, 2001. Ver também: OTÁVIO, Rodrigo. A Balaiada 1839. Depoimento de um dos heróis do cerco de Caxias sobre a revolução dos ‘Balaios’. São Paulo: Siciliano, 2001. Neste livro o acadêmico Rodrigo Otávio apresenta o depoimento do Tenente Coronel do exército Ricardo Leão Sabino, tomado em 1890 para quem a Balaiada não passou de um “desordenado motin das classes inferiores do Maranhão”. 49 SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem. Esboço do Pensamento Político-Revolucionário no Grão-Pará. Belém: CEJUP, 1992 50 VIANNA FILHO, Luiz. A Sabinada (A Republica Bahiana de 1837). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1938
170
tentar mudar sua vida, transformando a sociedade que os oprimia”, como argumentou
Julio José Chiavenato, ao tratar da Cabanagem 51.
Essas idéias de revolução e de necessidade de respeito à Constituição e às leis
eram veiculadas e ouvidas pelas classes mais pobres, que aderiram aos movimentos
revolucionários. Na época em que ocorreu a cabanagem no Pará, a capital Belém tinha
cerca de quinze mil habitantes, dos quais poucos sabiam ler e escrever. Porém, como
argumentou Chiavenato, “havia aqueles que falavam diretamente ao povo o que ele
queria ouvir”52. Logo, embora seja difícil tratar conceitualmente as idéias envolvidas
nestes movimentos, e especificamente o conceito de Povo, a tarefa não deve ser de todo
abandonada, sob pena de vermos na atuação das classes populares e iletradas apenas a
expressão de anseios materiais imediatos, sem nenhuma coloração político-ideológica e
conceitual.
Entretanto, não se deve atribuir o furor revolucionário das províncias unicamente
à propagação do liberalismo político europeu. Eis aqui uma dificuldade para a história
dos conceitos: tratar da dimensão conceitual em momentos e contextos de revolução
popular em que justamente esta dimensão se torna menos fundamental que a ação, e em
que grupos populares iletrados dominam muitas vezes a cena, como na Balaiada e na
Cabanagem. Não se trata de dizer que os insurretos da balaiada nada mais tinham além
de objetivos materiais, como Gonçalves de Magalhães, nas sua célebre Memória.
Concordamos que houve, para citar a Balaiada no Maranhão, “um heroísmo balaio” em
que figurou “uma síntese original da cultura popular cabocla e tradicional com as idéias
revolucionárias de liberdade e igualdade” 53. Esta cultura revolucionária acabava tendo
um conteúdo muito mais radical que aquele expresso oficialmente nas proclamações dos
líderes, que se situavam no campo do pensamento liberal, para quem os movimentos
defendiam a constituição, a lei e o Imperador. A Balaiada, na visão de Claudete Maria
Miranda Dias, não deve ser compreendida apenas através de seus documentos escritos
deixados pelas lideranças letradas, pois as ações dos rebeldes, como saques, invasões de
__________ 51 CHIAVENATO, Julio José. A Cabanagem: O Povo no Poder. São Paulo: Brasiliense, 1984. p 123. 52 Ibidem. p. 67. 53 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÂO. Documentos para a História da Balaiada. São Luís: Edições FUNCMA, 2001. p. 12.
171
terras e libertações em massa de escravos, ultrapassavam em muito o liberalismo das
elites. 54
A grande revolta eclodida no Maranhão e no Piauí , que ficou conhecida como a
Balaiada se iniciou como um movimento de resistência de camponeses ao recrutamento
forçado, destinado a enviar reforços ao Sul na luta contra os farrapos. O “Balaio”,
Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, um dos grandes líderes populares do movimento,
foi um pai que arregimentou homens para libertar seu filho recrutado a força no dia 22
de novembro de 1838. O domínio político opressor e autoritário dos “cabanos”, partido
que dominava a Província a mão de ferro, aliado à situação de miséria e exploração da
população, fomentou uma revolta popular de enormes proporções. Os liberais bem-te-
vís viram positivamente a revolta contra as autoridades provinciais pertencentes ao
partido opositor, procurando assumir a direção do movimento. Com isso, se juntaram
aos anseios iniciais da população por justiça, as idéias da soberania popular, da luta
contra o despotismo, pela constituição e pelas leis.
Entretanto, as elites urbanas liberais logo perceberam que a plebe revelava sua
feição própria e independente no mundo da política, com diversas ações de
radicalização. Estas, temendo a crescente radicalização dos elementos da plebe, se
uniram aos conservadores e às tropas na repressão. Tratava-se de um conceito de povo
mais igualitário, democrático, avesso aos preconceitos raciais na vida pública, ao
despotismo e ao nepotismo dos chefes locais. Num manifesto produzido durante a
revolta, estes elementos ficam claros: Como me acho nesta villa, com a reunião de povos a bem do socego público, como consta dos artigos seguintes = Primeiro: que seja sustentada a Constituição e as garantias do Cidadão. = Segundo: que seja demettido o prezidente da Província, e entregue o governo ao vice prezidente. = terceiro: que sejam abolidos os prefeitos, subprefeitos, e comissários, ficando somente em vigor as leys geraes, e as provinciaes, que não forem encontro à constituição do Império = Quarto: que sejão expulsados [dos] empregos [os] portuguezes, e despeijarem a província dentro de quinze dias com excepção dos casados com famílias brazileiras. 55
A Cabanagem no Pará foi, por sua vez, um movimento de massa, liderado por
pequenos comerciantes, intelectuais e profissionais liberais, uma classe média urbana e
pequenos proprietários rurais. Foi segundo Julio José Chiavenato, “o único movimento
__________ 54 DIAS, Claudete Maria Miranda. Balaios e Bem-Te-Vis. A Guerrilha Sertaneja. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1996. p. 135. 55 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. Documentos para a história da Balaiada. São Luís: Edições FUNCMA, 2001. p 36.
172
no Brasil em que os pobres tomaram o poder de fato” 56 Participaram dela índios,
mestiços, escravos e camponeses pobres. Foi portanto a guerra dos esfarrapados
colonizados contra a minoria dos colonos detentora do poder e dos meios de
produção”57. Também contou com o apoio de indivíduos da classe média urbana
ilustrada, que procuravam dar uma conceitualização mais clara ao movimento, assim
como conter seus excessos de violência.
O Jornal Sentinella Maranhense na Gorita do Pará tinha como epígrafe: “sem
rei existe um povo/ sem povo não há nação/ os brazileiros só querem Federal
Constituição”58. Era, portanto de um povo independente, pleno de direitos e afastado da
tradição monárquica de que se falava. O jornal era de responsabilidade de Camilo José
Moreira Jacareacanga que se declarava “camperão dedicado das liberdades pátrias e
paladino sincero dos direitos do povo” 59. Lutava pela defesa da Constituição, contra os
privilégios dados aos portugueses, contra a exploração e opressão da população e o
preconceito racial. Os revolucionários também eram a favor da distribuição de terras,
pelo fim da escravidão e pela República. Como ocorreu em muitos destes movimentos
do período regencial, o repertório das idéias liberais havia sido veiculado desde o
movimento constitucional por essas elites urbanas letradas, mas poucas mudanças
haviam ocorrido de fato, mesmo após a vinda da Regência, o que mantinha o Pará
próximo ainda à situação de domínio colonial.
Na Bahia, em novembro de 1837, a antiga capital do país, Salvador, foi também
tomada num movimento revolucionário de grande vulto. As classes médias urbanas,
além de Índios, negros libertos, caboclos e escravos proclamaram a separação da
província na “Sabinada”, revolução que tomou o nome de um de seus líderes, Francisco
Sabino da Rocha Vieira. A capital permaneceu tomada pelos revolucionários até março
de 1838, quando o governo central conseguiu debelar a revolução.
Durante este período, as clivagens da sociedade baiana não tardaram a se fazer
sentir. No interior do próprio movimento, o temor de que a onda revolucionária se
alastrasse entre os escravos, causava enorme receio, principalmente entre os membros
__________ 56 CHIAVENATO. CHIAVENATO, Julio José. A Cabanagem: O Povo no Poder. São Paulo: Brasiliense, 1984. 57 SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem. Esboço do Pensamento Político-Revolucionário no Grão-Pará. Belém: CEJUP, 1992. 58 Ibidem. p. 117. 59 SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem. Esboço do Pensamento Político-Revolucionário no Grão-Pará. Belém: CEJUP, 1992.
173
de classe média, mas também entre os próprios negros e mulatos livres. A revolução
haitiana e o grande levante escravo dos Malês ocorrido poucos anos antes na Província
eram imagens próximas e aterrorizantes e a presença maciça de homens livres de cor no
movimento poderia de fato incitar os negros cativos na busca pela liberdade. A
Sabinada defendia a “soberania e a liberdade do povo”, mas os escravos claramente não
eram incluídos em seu projeto. Os jornais oficiais da revolução procuravam tranqüilizar
o povo das cidades quanto ao “brutal furor dessa gente preta” 60. O conceito de povo não
poderia englobar a população escrava sob pena da total quebra da ordem social e
política:
Uma insurreição de africanos não é atualmente de se recear, porque mesmo quando alguns inconsiderados alguma coisa pretendesses, seus planos baqueariam logo que eles vissem a tropa em ação, os Batalhões completos, e tudo em atitude de lhes fazer a maior destruição (...) 61
No Rio Grande do Sul, outro movimento revolucionário de grande vulto
desafiou o governo do Rio de Janeiro. A Revolução Farroupilha teve um caráter
bastante diferente das rebeliões analisadas acima ocorridas no Norte e Nordeste do país.
Seus, líderes e comandantes eram abastados estancieiros e oficiais do exército ou da
guarda Nacional. A revolução que durou dez anos e proclamou a República Rio-
Grandense soube manter as aspirações e descontentamentos populares sob controle. O
jornal O Recompilador Liberal, refutando as palavras do presidente da Província e dos
jornais do governo, traçou um quadro geral dos participantes do movimento. O
movimento não era formado por
um pobre e desacreditado coronel [Bento Gonçalves] com meia dúzia de anarquistas e assassinos, mas sim ricos fazendeiros abastecidos proprietários, pacíficos lavradores e homens independentes que de todos os distritos contíguos à cidade, espontaneamente se ofereceram e apresentaram para vingarem a Pátria e expulsarem do mando aqueles que, acobertados pelo manto da legalidade, cometiam as mais escandalosas e ofensivas arbitrariedades: não foi a canalha da cidade que quis roubar pescando nas águas turvas, como outrora se dizia, mas sim a mocidade porto-alegrense , que se vendo há um ano privada de seu comandante e mais oficiais de sua escolha, foi ao campo ajudar a repelir aquele que abusando de sua confiança, havia desarmado a guarda Nacional. 62
__________ 60 Apud SOUZA, Paulo Cezar. A Sabinada. A Revolta Separatista na Bahia. Saão Paulo, Círculo do Livro, 1987. p. 149 61 Apud ibidem, p. 148. 62 Jornal O Recompilador Liberal Apud FLORES, Moacyr. A Revolução Farroupilha. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. p 35.
174
A revolução dos farrapos foi pretendia a liberdade, garantida pelas leis, o
respeito à constituição, e especialmente, federação, com a autonomia da província e do
município, com o controle do poder político pelos representantes do povo 63. Queriam a
soberania total da Assembléia, à semelhança da câmara dos comuns na Inglaterra, em
detrimento do poder executivo. Este povo, entretanto, não incluía a plebe urbana e rural.
O movimento não chegou a se transformar num amplo movimento de massas com
lideranças populares e mestiças como no Pará ou no Maranhão. Para evitar o
desvirtuamento da revolução, as lideranças procuraram propagar na população o sentido
de respeito aos líderes, pois, para garantir a liberdade, era preciso conter os excessos,
como mostra este trecho de O Povo, o jornal oficial da República Rio-Grandense de 1
de Setembro de 1839:
Devemos nos identificar com o poder que rege a guerra, e tentar todos os meios lícitos para lhe adquirir maior probabilidade de uma decisiva vitória. Procurar com todas as nossas forças propagar entre o Povo doutrinas essencialmente democráticas, sendo aquellas das quais depende a salvação, e a felicidade da Republica. Tal é a missão que a nossa consciência imperiosamente nos ordena nas circunstâncias 64
Nestas revoluções ocorridas nos anos 1830 nas diversas províncias, o conceito
revolucionário de povo veio à tona nas diversas regiões do país, desafiando a hegemonia
do conceito moderado que se impunha a partir da Corte. Tratava-se de um conceito
eminentemente abstrato e político, no sentido da centralidade semântica da ação direta
no espaço público, fundamentada no direito de insurreição contra a tirania do centro
carioca. Entretanto, como vimos, as elites provinciais também sentiram a “ameaça” da
quebra da ordem por rebeliões escravas, populares, que muitas vezes, fugiram ao seu
controle.65 Logo, este temor moldou o caráter e os limites do projeto político liberal no
__________ 63 Jornal O Povo aaud FLORES, 2004. p 36. 64 Op. Cit, nota 62, p. 74. 65 O maranhense João Francisco Lisboa expressa claramente a visão liberal das elites locais a respeito do povo no que diz respeito à participação política. O ativista e político participara dos movimentos anti-portugueses da década de 1830, inclusive dando apoio inicial à Balaiada, mas sempre deplorou os excessos revolucionários da plebe. No Jornal de Timon, publicado no Maranhão no ano de 1852, analisou de forma satírica o processo eleitoral maranhense. No dia das eleições, a cidade assiste à“(...) aparição de figuras desconhecidas e estranhas, que invaedem e passeiam de continuo as praças, ruas, becos e travessas, todos ou a maior parte pertencentes à classe conhecida pela designação geral de patuléia, que quer dizer povo, na acepção de plebe ou gentalha” A plebe ou “patuleia”, na visão deste liberal, não possuía outra motivação para a participação política além da “amor do ganho ou da novidade”, e os “instintos de desordem” A “turba” era arregimentada pelos partidos e candidatos através da distribuição de favores e presentes, o que transformava o sistema eleitoral num “sistema de pedintaria”. Lisboa lembra, entretanto, que tal distorção fora obra das “classes superiores que lho ensinaram [à patuleia], sem pensar por seu turno quão pesados e
175
âmbito local, revelando mais uma vez, os impasses e conflitos que caracterizaram as
tentativas de implantação de uma ordem liberal moderna numa sociedade escravista
marcada pela hierarquia social e racial. No âmbito conceitual, esta capitulação das elites
no nível local, como veremos, enfraqueceu ainda mais a linguagem política de tom
exaltado, abrindo espaço para a consolidação do discurso político conservador.
4.5 Povo, ordem e civilização: a visão moderada a respeito das revoluções
provinciais
Tal qual por ocasião dos eventos de 1831 no Rio de Janeiro, os grupos dirigentes
construíram para as revoltas provinciais um amplo discurso da ordem contra os
“facinorosos”, “anarquistas e “turbulentos” que incendiavam as províncias com suas
idéias de liberdade, igualdade e república. Além dos vultosos movimentos, como o dos
Farrapos e a Cabanagem, muitas outras pequenas disputas entre grupos rivais,
notadamente por ocasião das eleições para deputados nas províncias e juízes de paz
punham em estado de alerta as autoridades. Além disso, a violência de caráter
particular, os roubos e assassinatos se avolumavam diante de uma polícia e de um
aparato repressivo ainda mal organizado 66. Todos os relatórios de Ministros da Justiça e
de presidentes de Província da Regência iniciavam o tópico referente “à segurança e
tranqüilidade pública” lamentando o espírito de revolução e de violência que
dominavam as províncias, mas procurando, ao mesmo tempo mostrar que a ordem já se incômodos lhes viriam a ser para o diante estes voracíssimos auxiliares” A solução apontada por Lisboa o aproxima claramente do conservadorismo mais aguerrido com a negação da própria política: “Convertam-se em uma palavra as presidências em cargos puramente administrativos e despojados de todo o caráter político; e eu fico que a província tomará subitamente um novo aspecto, em proveito comum do administrador e dos administrados”). Em províncias pobres e pouco desenvolvidas como era o Maranhão em meados do século XIX, o liberal argumenta que a atividade dos partidos deve ser abolida, sendo os cargos preenchidos por nomeação direta do Imperador. Tais províncias devem, antes de se entregar ao jogo partidário, cuidar de “interesses mais sérios e palpitantes, sob pena de as vermos caídas no ultimo abismo da miséria e perdição, de atrasadas e decadentes que já se acham” Embora, como “liberal”, acreditasse na importância da participação política do povo, a participação da plebe lhe infundia profundo temor, fazendo-o recorrer às soluções vindas das “alturas vertiginosas do poder e majestade”. LISBOA, João Francisco. Jornal de Timon. Partidos e Eleições no Maranhão. São Paulo: companhia das Letras, 1995.
66 A fala do Presidente da Bahia Paulo José de Mello Azevedo e Brito em 2 de fevereiro de 1841 revela a
preocupação geral com a criminalidade causada pela “ociosidade e conseqüente pobreza de certas classes, o espírito vertiginoso do tempo, a facilidade do mandato, e a que encontra o mandatário para evadir-se depois do crime, a inconveniência de algumas disposições do nosso código, mormente o do Processo, e outras muitas circunstancias de todos reconhecidas”. O presidente lembra que quando chegou à cidade, “dominava ainda este consternado povo, o terror que se difundira pela perpetração de vários assassínios commettidos de pouco antes” Relatório dos Presidentes de Província, Bahia, 1840. p 6.
176
fazia sentir no seio do povo. Era constante a preocupação de depurar o conceito de povo
do espírito revolucionário, mostrando que a população ansiava também pela ordem.
Neste sentido, o Presidente da Província da Bahia Thomaz Xavier Garcia de Almeida na
abertura da assembléia legislativa em e de fevereiro de 1840, referido- se à recente
pacificação da Província procurava persuadir a Assembléia de que nos últimos tempos,
se fez desenganar os ambiciosos, de que qualquer tentativa com que pretendessem estimular o Povo á uma Revolução, seria infructuosa, e em seu proprio dano. Não penseis vós que quando assim fallo do estado pacífico da Província, seja meu intento atribuí-lo ás providências, e medidas enérgicas do governo: pois que na maior parte He devido ao permanente espírito de ordem, que predomina na população; não sendo ahi o Governo mais do que o Sacerdote officiante no Altar do Civismo, que em todos geralmente se manifesta. 67
Ao mesmo tempo, as autoridades procuraram mostrar, assim como por ocasião
dos eventos de 1831 no Rio de Janeiro, que as revoltas não haviam sido perpetradas
pelo povo, mas por homens que se diziam representantes deste para levantar a frente
seus interesses e paixões particulares. Um exemplo desta postura pode ser encontrada na
famosa Memória histórica e documentada da Revolução da Província do Maranhão,
onde, anos depois, Domingos José Gonçalves de Magalhães, secretário de Governo do
Maranhão e participante na repressão, lamentou haver “nos governos livres certos
homens que se julgam os representantes, de fato e de direito, de vontades que nunca
teve o povo, em cujo nome falam” 68. A soberania do povo entendida de modo abstrato
e teórico à moda ilustrada havia na visão do poder central levado ao caos do
separatismo, da violência e da anarquia, ameaçando a unidade e paz do Império. O
conceito de povo generalista, abstrato e teórico exaltado, fundado em direitos naturais á
liberdade, à participação política e à insurreição, havia sido o impulsionador do “espírito
de sedição”, que havia dominado as províncias.
O discurso da ordem contra a revolução naquele momento foi forjado numa
linguagem caracterizada por uma maior historicização quando comparado ao dos anos
da Independência. Acreditamos que ao longo da década de 1830, o tempo histórico
passou de modo mais significativo a ser introduzido na semântica dos conceitos
__________ 67 Relatório do Presidentes de Província da Bahia Thomaz Xavier Garcia de Almeida na abertura da assembleia legislativa da província em e de fevereiro de 1840. p.4.
68MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Memória Histórica e Documentada da Revolução da Província do Maranhão. Desde 1839 até 1840. São Paulo: Siciliano, 2001. p. 76.
177
políticos, ligando-os a um sentido cada vez mais processual e orientado ao futuro. O
argumento do poder central em relação ao ocorrido nas diversas províncias do país se
direcionou a uma historicização do conceito de povo. Depurar o conceito de seu
potencial de ação revolucionária, reduzindo-o aos limites impostos pela visão liberal
dominante, significava retirar o povo das garras do direito natural ilustrado, das teorias
do contrato social e da idéia da ação política popular imediata, inserindo-o numa
concepção processual, histórica e sociológica. Por trás da avidez com que as autoridades
denunciavam os “facinorosos ávidos de sangue, e de pilhagem” 69 e insistiam na
necessidade da repressão, havia um discurso histórico e sociológico sobre o Brasil que
se insinuava naquele momento e que permanece até os nossos dias como marcas da
reflexão sobre o país. Tal discurso historicizado sobre o povo procurou se sobrepor às
referências aos direitos naturais e à revolução, substituindo a “revolução dos homens”
pela “revolução do tempo”.
Tal transformação, quando analisamos, por exemplo, os Relatórios dos
Ministros da Justiça, foi bastante visível. Se no relatório de 1830, como vimos acima, o
povo ainda apareceu como o bravo opositor ao despotismo, nos anos seguintes, o
conceito de povo foi inserido em relatos históricos e interpretações sociológicas, que
procuram analisar o “estado de civilização” 70 em que o país se encontrava e mostrar sua
marcha progressiva. O conceito de civilização foi chave na historicização da linguagem
política ocorrida naquele momento, pois trazia uma nova dimensão temporal dos
fenômenos políticos e sociais, ainda pouco desenvolvida no mundo luso-brasileiro
durante os anos da independência brasileira 71.
O conceito de civilização, surgido na segunda metade do século XVIII durante a
expansão das idéias ilustradas na Europa, foi uma das expressões mais evidentes da
nova consciência histórica. A civilização denotava o próprio movimento universal de
desenvolvimento progressivo dos povos no ocidente. O conceito, que inicialmente se
relacionou as qualidades individuais ligadas ao autodomínio e controle dos impulsos
pela razão, à arte de governo à sociabilidade urbana, logo teve seu significado
expandido para à própria dinâmica universal do tempo histórico. __________ 69 Souza, Paulino José Soares de. Relatório do Ministro da Justiça,1840.
70 Idem. 71 ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo. Conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008.
178
No mundo luso-brasileiro, a utilização do termo aparece nas primeiras décadas
do século XIX. Porém, somente ganhou um verbete específico no principal Diccionário
da Língua Portuguesa, de Antônio de Moraes Silva, na quarta edição de 1831,
conforme dos indicou Maria Elisa Mader 72. Este fato corroborou nossa hipótese de que
a temporalização da linguagem política em geral, e do conceito de povo, em particular,
se deu de forma mais drástica ao longo dos anos 1830 no Brasil.
O conceito de civilização que moldou a cultura política Império Brasileiro foi
analisada também por Ivo Cozer. Segundo o autor, a civilização era vinculada
fundamentalmente ao “trabalho entendido como uma atividade que disciplina os
indivíduos”. O conceito de civilização envolvia a idéia de que os indivíduos,
constrangidos pelas condições sociais, buscavam um constante melhoramento da sua
condição. “Neste sentido”, segundo Cozer, “o conceito de civilização acarretava a idéia
de progresso” 73. O conceito, que esteve profundamente vinculado ao conceito de
povo, especialmente após a experiência das revoluções que eclodiram no período
regencial, trazia a dimensão temporal do processo, o que deveria ser observado pelos
legisladores ao formular as transformações legais e políticas que pudessem aprofundar a
participação política. Este processo era marcado pela determinação das condições
sociais e econômicas, pelo trabalho, propriedade, costumes, e educação.
Deste modo, o conceito de povo e a temporalidade histórica se uniram no
discurso político dominante. O conceito de povo passou a significar um determinado
estágio, um determinado momento da experiência do povo no tempo histórico. Com o
avanço da pacificação das províncias, começaram a se delinear nos discursos narrativas
históricas dos acontecimentos que procuravam indicar que o esmagamento das
tentativas revolucionárias eram “necessárias” no sentido de seguirem o curso imperioso
e progressivo do tempo. Paulatinamente, o povo estaria deixando a desordem e a
anarquia da revolução rumo ao progresso e à ordem. Esta visão já havia começado a ser
elaborada no início da década. Ainda em 1833 o Ministro Aureliano de Souza e Oliveira
Coutinho anunciava, precocemente, como sabemos, que “espírito Anárquico” “natural
depois do sete de abril”, se havia acalmado em todas as províncias do Império e que __________ 72 MADER, Maria Elisa Noronha de Sá. Civilização e Barbárie: a Representação da nação nos textos de Sarmiento e Visconde do Uruguai. Tese de Doutorado. Departamento de História. Universidade Federal Fluminense. Niterói: Rio de Janeiro; 2006. p 42. 73 COZER, Ivo. O pensamento político do Visconde do Uruguai e o debate entre centralização e federalismo no Brasil (1822-1866). Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: IUPER; 2006. p.188.
179
sejão quaesquer que forem as vistas políticas de inimuigos internos, e externos, que tem animado, e protegido semelhante núcleo de guerra civil, elles terão de desanimar á vista do espírito progressivo de ordem que tem desenvolvido a maioria do bom Povo Brasileiro, mais judicioso, e sensato, do que o supunhão os que o tem julgado incapaz de sustentar suas Instituições livres, sua Independência, e Dignidade”74
A temporalização da linguagem política levou também a um esforço discursivo
de maior realismo, empirismo e contingenciamento. Na tentativa de afastar a linguagem
política das abstrações metafísicas e revolucionárias, era preciso que a política passasse
a ser definitivamente ancorada nos fatos, na experiência, na analise empírica do real
estado do povo. Se, de acordo com o Ministro Paulino José Soares de Souza a violência
e a anarquia tinham sido frutos de um problema teórico e doutrinário, era preciso
consolidar uma outra forma de fazer política, fundada no diagnostico da realidade dos
fatos. Para o Ministro, os brasileiros haviam saído
há pouco do regimen colonial; em demasia desconfiados e receosos do arbitrário, abraçamos com avidez doutrinas vagas e declamatórias de huma liberdade exagerada, pondo de lado o positivo e os factos, cuja observação, anályse e estudo, derrama huma luz immensa na applicação das questões Moraes, políticas e de Legislação a hum Paiz. 75
Deste modo, o domínio dos fatos históricos recentemente ocorridos era
importante, como nos falou Manoel Alves Branco em 1834, para a formação de uma
visão “estatística da moralidade do nosso Povo, e da acção, e força de nossos juízos, e
Tribunaes” 76. Tratava-se de um esforço para retirar o pensamento político, e
especialmente o conceito de povo, do campo das idéias para reinseri-lo no domínio dos
processos de desenvolvimento empiricamente observáveis por que passava a sociedade.
Era a experiência social e não as idéias sobre o povo e a política que deveriam nortear a
ação e o discurso dos legisladores. Como alertou o Ministro Paulino, era imprescindível
chamar a attenção sobre os factos,; colhe-los, coordena-los, e derramar o seu conhecimento, até mesmo para combater a declamação, o vago, o falto de positivo, com que nos vastos domínios de imaginações, optimistas tanto a Sciencia Social tem sido desvairada” 77
__________ 74 Relatório do Ministro da Justiça. Ministro Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. p.5. 75 Ibidem. p. 18 76 Relatório do Ministro da Justiça, 1834. p3 77 Idem. p. 25
180
“estes phenômenos, são importantíssimos; convém que não sejam esquecidos; derramão eles pois huma luz immensa sobre o estado do Paiz; convém que não passem desapercebidos quando se trata de avaliar o grão de efficacia das nossas leis que tem por fim prevenir e reprimir os delictos.78
A ênfase nos fatos a serem conhecidos pelos governantes, tal como mostravam
diversos documentos oficiais implicava um conhecimento e controle sobre as
populações do Rio de Janeiro e aquelas espalhadas pelos sertões do imenso Império. Os
relatórios dos presidentes de província eram quase sempre acompanhados de relatórios
analíticos sobrem as populações, com informações sobre sexo, idade, composição
étnica, além de estatísticas sobre crimes 79. Verifica-se um esforço das autoridades de
esquadrinhar a realidade da população do Império, com o intuito de estabelecer políticas
públicas, notadamente no que se refere à segurança.
4.6 As discussões em torno das leis descentralizadoras
O debate em torno da descentralização política foi sem dúvida o mais rico e
complexo ocorrido durante o durante o período regencial. Segundo José Murilo de
Carvalho, até a década de 1860 com a publicação do programa do Partido Progressista,
as divergências entre Liberais e Conservadores se deram em torno das tendências de
centralização e descentralização do poder 80. Logo, os debates parlamentares ocorridos
por ocasião da reforma constitucional de 1834 e das leis de interpretação de 1840 se
.tornam relevantes para a compreensão da linguagem política do período e, em especial,
dos significados e usos políticos que envolveram o conceito de povo.
Após a revolução do sete de abril, as grandes bandeiras liberais começaram a se
transformar em realidade, através da aprovação na Câmara dos deputados do Código de
Processos e do Ato adicional. Ambas foram reformas no sentido da descentralização
política. Com o primeiro, em 29 de novembro de 1832, a autoridade judiciária passou a
ser eleita pelas assembléias municipais. O promotor, o juiz municipal e o juiz de órfãos,
que antes eram nomeados pelo poder central passaram a ser escolhidos pela Câmara
municipal. Além disso, foi criado o Júri Popular, antiga reivindicação liberal. Visto
__________ 78 Idem p. 8 79 Ver Relatorio do presidente da provincia do Rio de Janeiro, o conselheiro Paulino José Soares de Souza na 1840 a 1841. 80 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem. A Elite Política Imperial. Rio de janeiro: Campus, 1980.
181
como imensa concessão ao espírito democrático, a aprovação do Código de Processo
desencadeou uma reação conservadora na assembléia.
Isso explica o caráter moderado do Ato Adicional de 1834. Este criou a
Regência Una, dissolveu o Conselho de Estado criou Assembléias Legislativas
Provinciais, mas manteve o poder moderador e a vitalicidade do Senado. Segundo Ivo
Cozer, a intenção dos liberais responsáveis pela aprovação do Ato Adicional era “conter
os conflitos armados que apareciam no país”, dando às elites províncias meios
institucionais de representação de seus interesses, tornando a perspectiva revolucionária
e separatista desnecessária. Foi, portanto já o resultado de um recuo dos liberais
federalistas em relação aos mecanismos descentralizadores do código de processo 81,
que puseram, no seu entender, em perigo a unidade nacional e a propriedade. Segundo
Miriam Dolhnikoff, na mesma linha, o Ato Adicional de 1834, estabeleceu a divisão
constitucional das respectivas competências do governo central e dos governos
provinciais no sentido de dar meios para a participação das elites provinciais no Estado
nacional. Foi, portanto, fundamentalmente um mecanismo criado no intento de manter a
unidade e a ordem. Para a autora, isso implicava a construção de um aparelho
institucional, no qual essas elites contassem com autonomia para administrar suas
províncias e, ao mesmo tempo, participassem do governo central [...]” 82.
O reformismo teve seu ponto Maximo quando em 1831 a Câmara aprovou um
projeto de reforma constitucional no sentido de criar uma monarquia federal e
constitucional (assembléias provinciais, executivos municipais, divisão de rendas entre
o governo central e as províncias, extinção do Conselho de Estado, do poder moderador
e da vitalicidade do senado). Porém, o projeto não foi aceito pelo Senado, o que chegou
a ser visto pelos líderes liberais na Câmara como uma contra revolução.
A discussão do projeto no Senado, especialmente nos artigos em que se
pretendia extinguir o Poder Moderador são de suma importância para nossos propósitos,
pois trouxeram à baila a forma monárquica de compreensão do povo no sistema
político. As grandes vozes neste sentido foram as do Marquês de Caravelas e do
Visconde de Cairu. Estes grandes representantes da tradição política monárquica, o
__________ 81 COZER, Ivo. O pensamento político do Visconde do Uruguai e o debate entre centralização e federalismo no Brasil (1822-1866). Tese de Doutorado.Rio de Janeiro: IUPERJ; 2006. p. 165. 82 DOLHNIKOFF, Mirian. Entre o Centro e a Província. As elites e o poder legislativo no Brasil oitocentista”. Almanack Brasiliense, n. 1, mai,, p. 80-92.2005.
182
povo era uma entidade política indissociavelmente ligada à Coroa por um laço de afeto
e confiança. Logo, se puseram firmemente contrários à reformas que fragilizassem o
poder do Imperador. Para Caravelas “o trono “está firmado no coração dos Povos” 83.
Este vínculo amor e confiança que instituía o poder monárquico dava ao rei a
prerrogativa de ser o primeiro representante do povo ou nação, o que tomava substância
no elemento monárquico da Constituição com o Poder Moderador, que o projeto
pretendia abolir Através deste poder, o monarca, “colocado no vértice da pirâmide
social” era, na prática, o “sentinella vigilante de todos os poderes” 84 em nome do povo,
no intuito de conservá-los em harmonia. O poder moderador sobrepunha-se
especialmente ao poder legislativo através da sanção real, impedindo seus “abusos”. Na
ação do rei sobre os outros poderes, ele possuía total legitimidade e irresponsabilidade,
pois o fazia apelando “para o juízo da nação”. Enquanto o legislativo era visto nesta
concepção como a expressão, sobretudo, de interesses particulares das “oligarquias”, a
Coroa representava o resguardo do espírito público, pois seu prestigio, poder e riqueza
não são provenientes do mundo da política ou dos interesses econômicos. Logo, o
Monarca é elevado acima de todos os outros cidadãos, sendo coberto “do esplendor
necessário para conciliar o espírito dos Povos”, “encheu-o de comodidades”, para que o
rei não tivesse outra preocupação além de “ vigiar incessantemente sobre a felicidade da
Nação e não tivesse maior fortuna a que pudesse aspirar do que a de augmentar a do
Povo com quem tal sorte ligou a sua”85. O veto, portanto, era, além de uma prerrogativa
real, uma prerrogativa do próprio povo a quem este estava ligado
um direito do povo, pra prevenir que se estabeleça o despotismo oligarchico: elle é conferido ao Monarcha como o primeiro representante da Nação porque elle é tão interessado como o povo em obstar a que jamais se estabeleça tão pesado e perigoso despotismo.86
Em relação aos mecanismos de descentralização político-administrativa
propostos no projeto, havia discordâncias, embora tenha prevalecido após o debate a
rejeição de todas as propostas. No Senado, o Visconde de Cairu foi uma das vozes mais __________ 83 ANAIS do Senado Imperial, 27 de junho de 1832. 84 ANAIS do Senado Imperial, 25 de junho de 1832. 85 ANAIS do Senado Imperial. 26 de junho de 1832
86 ANAIS do Senado Imperial. 27 de junho de 1832
183
contundentes ao declarar ser contrário à criação de Assembléias provinciais, pois isto
equivaleria a “destruir a Soberania Nacional para estabelecer Soberanias Provinciais”87.
Já Caravelas, mais flexível, se mostrou a favor de “afrouxar esse laço, essa centralidade,
para que possamos conceder ás províncias o fim que a mesma Constituição teve em
vista” 88. Segundo Lynch, Caravelas e também Cairu possuíam concepções
“sociológicas”, que indicavam que o problema brasileiro não estava nas instituições
políticas, mas em sua “limitada eficácia num ambiente de geral incultura” 89. As
reformas, se levadas ao extremo, seriam, portanto, um artificialismo, pois pretendiam
impor matrizes culturais estrangeiras a um povo inapto a recebê-las. Na tradição do
reformismo monárquico ilustrado que informava tais opiniões, o povo deveria ser
percebido, não a partir de teorias abstratas, mas de apreciações de base empírica que
pudessem revelar seu grau de civilização.
Embora tenha havido divergências, todos os senadores se mostraram
absolutamente unidos na defesa do Poder moderador. Todas as propostas enviadas pela
câmara foram rejeitadas, salvo a criação das Assembléias provinciais. Grandes debates
ocuparam o congresso e a Imprensa do período. Havia o entusiasmo pelo modelo norte-
americano de federação, mas também o grande receio de a implantação de tal modelo
trouxesse o perigo da fragmentação. Daí o perigo percebido por muitos deputados da
cópia de instituições de outros países. O mal não estava no federalismo em si, mas no
estado de civilização no Brasil, pensava Bernardo Pereira de Vasconcelos. Como
solução de compromisso, chegou-se ao Ato Adicional de 1834 que adotou alguns
elementos federais como as assembléias provinciais, a divisão de rendas e a e
eliminação do Conselho de Estado. O fim da vitaliciedade do senado, a extinção do
poder moderador e do conselho de estado e a criação de executivos municipais não
foram aceitos 90.
A discussão que deu origem ao Ato se iniciou já em 1831, em meio aos
distúrbios e motins dos exaltados na Corte e foi marcada pelo esforço da ala moderada
de pôr freio à exacerbação do princípio federalista, embora a necessidade de reformas __________ 87 ANAIS do Senado Imperial. 30 de junho de 1832 88 Ibidem. 89 LYNCH, Christian E. C. O Momento Monarquiano. O Poder Moderador e o Pensamento Político Imperial. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: IUPERJ; 2008. 90 CARVALHO, José Murilo de. Federalismo e Centralização no Império Brasileiro. História e Argumento. Folheto. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1992.
184
fosse bem aceita pela maioria. A proposta da comissão encarregada de redigir o texto
era ampla e radical, por exemplo, mas as emendas propostas pelo Senado, se aceitas
imporiam limites, com a rejeição da supressão do poder moderador e não admissão da
idéia de monarquia federativa. Nestes debates, o significado da soberania do povo e da
nação apareceu como tônica. Na seção de 31 de agosto de 1832 o deputado Francisco
Montezuma defendeu que o Brasil necessitava de uma reforma parcial e não de uma
refundação do pacto social, o que ocorreria com reformas federalistas extremadas.
Segundo ele, os poderes das assembléias legislativas já haviam sido definidas pela
Constituição, com o apoio da opinião nacional. Mudanças radicais seriam fundadas em
teorias abstratas relacionadas à soberania do povo, que deveriam ser evitadas em nome
da utilidade e dos fatos:
Eu sou respeitador da soberania do povo, bem que elle não seja hoje tao respeitado como o fora no passado. Hoje prefere-se mais o positivo aos principios teóricos e abstratos. Os povos já se não deixão arrastar por palavras vas; querem que a política assente sobre factos, e mais que tudo sore a política e geral utilidade. Mas é por ser respeitador da soberania nacional, que ou não quero arrogar-me poderes que ella não me delegou. 91
Deslocar a discussão das idéias teóricas e atentar para as circunstancias do povo
implicava deixar de importar modelos políticos e administrativos estrangeiros. Em
contraste com os Estados Unidos, evocados pelos defensores da descentralização mais
ampla como o grande modelo de organização federalista, o povo do Brasil era, já na
Independência, uma grande família unida e coesa, uma nação constituída. Os EUA eram
formados por colônias, depois, por Estados com alto grau de independência desde seus
primórdios. Os dois países apresentavam, portanto circunstâncias diversas, logo, as
mesmas teorias de organização política não poderiam ter aplicação nos dois lugares.
“Aquelle Povo”, argumentou Montezuma, referindo-se aos Estados Unidos
não so resolveu um problema de grande difficuldade em política, mas que vive feliz com a forma de governo definitivamente estabelecido no momento critico de sua independência. Mas nego, e ninguem me convencera em presença dos fatos que aquelle povo antes da revolução de 1776 fazia um corpo de nação composto e unido, como o Brasil.92
__________ 91 ANAIS da Câmara dos deputados. 31 de agosto de 1832. 92 ANAIS da Câmara dos deputados. 31 de agosto de 1832.
185
A mesma preocupação apareceu mais tarde no discurso do deputado Bernardo
Pereira de Vasconcelos de 1º de julho de 1834, paradigmático no que diz respeito ao
anseio de amoldar as teorias de organização política e administrativa às condições
consideradas “reais” do povo. Nesta fala, Vasconcelos se mostrou contra determinados
pontos da reforma que punham o poder nacional à discrição do poder provincial,
tornando, segundo ele, soberanas as províncias. “E estará o Brasil preparado hoje para
este governo?”, questiona o deputado. Segundo Vasconcelos, não estaria, pois, antes da
independência, as colônias norte-americanas viviam já de modo independente, diferente
do Brasil, que até 1831 vivia num sistema unitário e absolutista:
insisto na minha idéia; nos Estados Unidos tudo estava harmonizado para estabelecer o melhor sistema federativo possível; no Brasil não existe esta harmonia: nós temos o principio hereditário; pelo habito, costumes e estado da civilização não podemos adotar semelhante idéia; temos uma câmara vitalícia, que por muito tempo tem saboreado o gosto de um poder grande (...) 93
Sobre a escolha dos presidentes de província, Montezuma defendeu que ficasse
a cargo do Imperador, ainda entre os nomes de uma lista tríplice feita pelas assembléias
provinciais. Em sua argumentação, manter essa atribuição do Imperador era
indispensável para a conservação da força do governo, porque “governos de sua
natureza fracos, melhor que não ajão; reja-se o povo por si mesmo, a mesma multidão
que governe, reúna-se em praça pública, faça as leis e execute-as; que há de certo fazer
e executar muito bem” 94 Claro que se tratou de uma ironia do deputado. Seu medo era
justamente que as reformas levassem a este governo do povo pelo povo, o que seria na
sua visão a porta aberta para a anarquia:
Disse-se que governo forte (...) esta muito perto do arbitrário; responderia
ao Sr deputado que isto dissera que o governo fraco esta muito perto da anarchia; e elle (orador) não queria a anarchia, que não é senao o arbitrario nas maos da multidao, que é muito mais funesto em seus effeitos, muito mais sanguinario e atroz que nas maos de um so homem
Discorre-se acerca dos agentes do poder executivo como se o Brasil estivesse barbaro ou a barbarizar-se, (...) mas existe na organizaçao das provincias meios capazes de cohibir excessos; vao se constituir assembleias legislativas em todas as provincias, essas assembléias devem discutir publicamente, devem estar revestidas de todo o apreço popular que lhes da não so a sua origem popular, mas as suas discussoes publicas; vemos que em toda a superficie do Brazil as autoridades quasi
__________ 93 Discurso na Câmara dos Deputados. Sessão de 1º de Julho de 1834. In. VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. CARVALHO, José Murilo de (org). São Paulo: Ed. 34, 1999.p. 223. 94 ANAIS da Câmara dos Deputados. 5 de Agosto de 1834.
186
todas sao de eleiçao popular até muitos dos magistrados; quasi tudo é electivo; o principio democratico tem uma força irresistivel em toda a extensao do Império; e teme-se que os presidentes escolhidos pelo governo central possao ser arbitrarios contra todo esse movimento? Retrogradara a razao humana em cada uma das provincias?
Não temo que o Brasil se despotiza, temo que se anarchise, não temo o arbitrario, pq a generosidade brazileira, alem de sua illustraçao, seria bastante garantia contra o regimen arbitrario; pq os sentimentos generosos que dominao na populaçao mais facilemente podem ir para outro extremo contrario; temo mais hoje os cortezaos da gentalha que aquelles que cheirao a capa do monarcha; aqielles que cheirao a capa do monarcha de certo fazem mal, mas aquelles que cheirao os trapos da populaçao fazem peior ainda, procedem mais baixamente que os outros. 95
O contingenciamento e a historicização do conceito de povo levado a frente
pelas elites políticas liberais naquele momento fora realizado por meio da idéia de
civilização. Adaptar as teorias ao estado empiricamente observável do povo implicava
portanto, fundamentalmente, constatar o seu “grau” ou “estado de civilização”:
Tem-se dito nesta casa que nós estamos muito instruídos, que não é só nesta casa que existem as ilustrações do Brasil, que o Brasil está muito adiantado, etc., etc. Eu não sou representante do povo para ser seu panegirista, sou representante do povo para exprimir as suas necessidades, propor medidas que possam satisfazer ao povo do Brasil, que não julgo neste grau de civilização que se lhe supõe. 96
O povo era então tido como um projeto de futuro, um processo em andamento,
mas ainda inacabado. A idéia de civilização ligada ao povo trazia junto o ato imperioso
de civilizar como seu correlato. Logo, a insistência nos discursos na questão da
educação, que traria a aceleração do processo civilizador do povo e o tornaria, no
futuro, apto a formas de governo mais descentralizadas. Neste sentido, Vasconcelos
chamou a atenção para o estado ainda precário do ensino do país,
não temos tantos estabelecimentos literários que possam ilustrar o povo de maneira que ele seja apto para gozar dos benefícios do governo ou por si mesmo praticá-los; as associações patrióticas não são muito respeitáveis, o direito de petição mesmo não tem valor algum entre nós97
Sobretudo, era preciso seguir o ritmo do tempo e da experiência real e não impor
abstrações teóricas à marcha real da civilização do povo no Brasil. Era certa a
__________ 95 ANAIS da Câmara dos Deputados. 31 de agosto de 1832. 96 VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. CARVALHO, José Murilo de (org). São Paulo: Ed. 34, 1999. p.223. 97 VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. CARVALHO, José Murilo de (org). São Paulo: Ed. 34, 1999.p 224.
187
necessidade de reformas para diminuir os laços da centralização, mas estas deveriam ser
feitas aos poucos e não por grandes saltos. Do contrário,
em vez de fazer produzir os efeitos que a civilização espera, nos fará retrogradar; em tais matérias, o mais conveniente é seguir a experiência que nega tais saltos; observo que tudo procede progressivamente com diferenças quase imperceptíveis; além disto, a experiência nos mostra que todas as vezes que se têm adotado tais saltos os efeitos têm sido sempre desgraçados: para que experimentarmos estas teorias as custa do povo brasileiro? Decerto que, para tanto, não estamos autorizados. 98
A respeito do número de deputados das assembléias, a comissão encarregada de
redigir o projeto definiu números previamente fixados, trinta e seis membros nas
Províncias de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro Minas e São Paulo, 28 no Pará,
Maranhão, Ceará e Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Sul e 20 em todas as outras, sendo
que este número poderia ser alterado por lei geral, isto é pela Assembléia Nacional.
Uma emenda procurou dar às Assembléias Provinciais o direito de definir tais números,
o que seria uma ampla concessão à descentralização. Na discussão que se seguiu,
muitos argumentos levantaram-se em contrário. O deputado Paula Araujo argumentou
que esta medida feriria a uniformidade das províncias e a unidade nacional. Mais uma
vez a comparação com a situação Norte-Americana é colocada. Enquanto a população
dos Estados Unidos era composta de estados diversos tinha leis diversas e não havia um
centro forte, optou-se pela federação como forma de unidade contra o perigo da
dispersão. No Brasil a realidade era outra: as províncias não eram estados separados,
mas compunham um mesmo Império, e o que se procurava com a reforma era apenas
afrouxar um pouco os laços, sem ferir a uniformidade deste Império. Além disso, como
observou o deputado, não existia em todas as partes do Brasil “o gráo de illustração que
existe em outros países”. Na mesma linha, observou Ferreira da Veiga que o Brasil não
estava em “civilização e luzes a par dos povos mais avançados em civilização”. Logo,
segundo Souza Martins “nem todos os povos devem de chofre receber instituições para
que não estavam preparados”. 99
Entre aqueles que defenderam o aprofundamento da reforma, por exemplo,
apoiando as emendas que permitiam às assembléias provinciais escolher o número de
deputados e o tempo de duração das legislaturas, não havia uma desconsideração pelas
__________ 98 Ibidem. p. 223. 99 ANAIS da Câmara dos Deputados, 25 de junho de 1834 p. 173
188
circunstâncias do país e pelo estágio real de civilização do povo. A idéia de marcha
progressiva da civilização também moldava suas reflexões. Porém, para a que o
progresso seguisse seu rumo era imprescindível a participação política, o exercício ativo
da liberdade. As reformas descentralizadoras estabeleceriam um corte em que uma nova
realidade forjaria uma outra vivência da política e, no futuro, um novo povo. Neste
sentido, o deputado Costa Ferreira, de acordo com seu entendimento de que “o systema
é tanto mais liberal quanto mais vezes o povo reassume seus direitos” 100, defendeu a
ocorrência de
multiplicidade de eleições porque entendo que um povo se torna tanto mais livre, quantas mais vezes reasssume seus direitos (...) portanto deve-se deixar as províncias marcarem o tempo da duração de suas legislaturas (...) conforme as circunstancias do país e a utilidade da escolha, natureza, clima e circunstancias.101
Havia na defesa do aprofundamento da descentralização, a crença de que o a
participação política ao logo do tempo traria a civilização do povo, transformaria os
costumes políticos. As mudanças seriam aceleradas pela lei, que instituiria uma nova
realidade política na qual o povo seria educado para o progresso. A atuação política era
portanto uma forma de trazer a civilização do povo.
Nestas discussões a respeito das leis descentralizadoras, percebemos claramente
a historicização do conceito, o que fica claro quando as comparamos aos debates de
1823 a respeito das juntas governativas surgidas ao longo do movimento
constitucionalista analisadas no capítulo II. Enquanto lá a necessidade de destituir os
poderes locais era justificada pelas características do povo enquanto ente em grande
medida ainda a-histórico, moldado pelo estado de “luzes”, isto é pelo “grau” de
aprimoramento de sua razão natural, nos debates que acabamos de analisar, os
argumentos refratários à descentralização se basearam num conceito de imerso na
marcha histórica por que passava o povo. O povo aqui não possui características
constantes, sendo considerado um ente em transformação no tempo histórico.
__________ 100 ANAIS da Câmara dos Deputados. 28 de junho de 1834. 101 ANAIS da Camara dos Deputados, 28 de junho de 1834.
189
4.7 O Regresso conservador e a formação da tradição política imperial
Não tardou para que muitos liberais de visão moderada que chegaram ao poder
com a revolução do sete de abril se transformassem em francos conservadores,
tendência que foi coroada com a criação do partido conservador e com a queda do
regente Feijó em 1837102. Vimos como já nos debates na Câmara em torno do Ato
Adicional, muitos liberais se mostraram contra o aprofundamento das reformas,
notadamente Vasconcelos, Paulino, Rodrigues Torres, ao defenderem uma
descentralização moderada, de acordo com as condições do povo Brasil. Esta
divergência, na verdade refletia um desacordo entre os liberais que se acentuou após a
eclosão das grandes revoltas regências. Segundo Lynch, uma parte do Partido Liberal
era formada por proprietários de terras, como Feijó, José Bento Ferreira de Melo e
Martiniano Alencar, e eram mais afeitos à reformas descentralizadoras e federalistas.
Outra ala era formada por jovens magistrados, como Araujo Lima, Vasconcelos e
Honório Hermeto Carneiro Leão, defensores menos ardorosos do federalismo. O
Partido Conservador congregou esta ala liberal “de direita” e realistas sobreviventes da
geração coimbrã, como Francisco Carneiro de Campos e Miguel Calmon Du Pin. 103
Nesta reviravolta política, já bastante analisada pela historiografia104, foi
fundamental a experiência das grandes revoluções provinciais. Já vimos que em muitas
delas, as próprias elites liberais locais insurgentes se voltavam contra os movimentos
quando os percebiam chefiados por lideranças populares. Segundo Ilmar Rohloff de
Mattos a experiência destas revoluções trouxe a tona as contradições do liberalismo
moderado brasileiro. Com os olhos na Europa de 1789 e na América de 1776, os
políticos liberais viam o povo como principio político e legislador fundamental, o
portador da “vontade geral”. Mas de que povo falavam? Era preciso diagnosticar o
estado real do povo o que forçava o reconhecimento da clivagem entre “povo” e
__________ 102 É neste momento que se começa a poder falar de partidos no Brasil, pois até este momento, os “partidos” existentes desde a Independência (liberal radical e moderado e restaurador) eram organizações ilustradas nos moldes de sociedades secretas ligadas muitas vezes à maçonaria. Sobre isso ver MOREL, Marco. Sociabilidades entre Luzes e sombras: apontamentos para o estudo histórico das maçonarias da primeira metade do século XIX. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 28, 2001.
103 LYNCH, Christian E. C. O Momento Monarquiano. O Poder Moderador e o Pensamento Político Imperial. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: IUPERJ; 2008. 104 MATTOS, Ilmar. Rohloff. O Tempo Saquarema. A Formação do Estado Imperial. Rio de Janeiro: Access, p.194.
190
“plebe”. A presença desta última – brancos pobres, libertos, mestiços – com suas
reivindicações de igualdade econômica e política e racial – trazia o perigo da desordem
social e da revolução republicana. Até onde levar os princípios de igualdade e liberdade
numa sociedade escravista, onde crescia a massa de homens livres pobres? Esta questão
enfraqueceu a frente liberal, dando espaço para uma reação conservadora.
O regresso tornou-se a grande bandeira do partido conservador, sob o comando
de Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro Leão e Rodrigues
Torres, que ajudaram a aprovar a Lei de Interpretação do Ato adicional de 1840, a
reforma do Código de Processos, e o restabelecimento do Conselho de Estado. Nas
discussões que levaram a essas reformas, o conceito de povo e de soberania do povo foi
pouco aventado. A idéia de “soberania do povo” cedeu espaço mais espaço à idéia de
“soberania da nação”. A ala regressista supunha que as reformas centralizadoras eram a
expressão da vontade da nação, enquanto que a defesa das liberdades provinciais não
passavam da defesa de “interesses locais”, nada tendo a ver com a soberania popular. O
poder forte e centralizado no executivo, através do poder moderador, notadamente, era
considerado a própria expressão da nação brasileira, de modo que defender a
centralização era, portanto, defender a nação. Embora as duas expressões – povo e
nação – pudessem ser consideradas sinônimas na época, a primeira tomara conotações
extremamente negativas, principalmente apos os conturbados anos 1830. O povo
soberano passou a ser visto pelos conservadores de fins dos anos de 1830 apenas um
principio abstrato da política moderna, nunca devendo se traduzir em ações políticas
reais.
A necessidade das reformas do regresso conservador eram justificadas pela
contingência da situação social e pelo momento civilizacional do povo. A história
recente do Brasil havia mostrado para estes homens que as idéias abstratas de liberdade
e progresso haviam levado à onda revolucionária e à anarquia. O legislador deveria,
portanto, voltar os olhos para “a vida do povo” ao formular as idéias sobre a ordem
política, isto é, entender o estado concreto povo, o que muitas vezes significava
confrontar-se com uma realidade contrária às suas convicções sobre política e
administração. Em polêmica com o Ministro da Justiça Montezuma a respeito da
reforma do Ato adicional, Vasconcelos, se esforçou por mostrar que o progresso não
podia se transformar num ideal cego que não atentasse para a realidade da vida do povo:
191
Muitas vezes a vida de um povo esta no que o legislador julga uma excrescência defeituosa, (...) Se o legislador depois conhece pela experiência que e pela observação seu erro, há de insistir nele, porque já uma vez disse que aquele objeto era inútil e podia eliminar-se das instituições do país em perigo? Filósofos que viveram há poucos anos sustentaram que a história era o estudo mais desnecessário, sendo hoje a opinião contraria geralmente seguida. 105
Era preciso redefinir a concepção da vontade do povo, desvinculando-a do ideal
de soberania entendida como participação política direta. Para o deputado Moura
Magalhães, em discurso de julho de 1839, o povo não se interessava por idéias; mas
“por alguma coisa de real”, isto é, instituições firmes, direitos e garantias estabelecidos.
O povo queria ser protegido pela força e pelo poder de seus representantes e não pela
eloqüência 106.
O regresso conservador gestado nos anos finais da década de 1930 e firmado na
década seguinte foi responsável pela consolidação do conceito de povo que forjou a
tradição política imperial. Através da idéia dos estágios de civilização, a historicidade
foi definitivamente incorporada, o que fez do povo um processo de formação em curso
voltado para o futuro. Além, disso, aprofundou-se a tendência ao contingenciamento da
linguagem já evidenciada desde os finais do século XVIII, de modo que o conceito
passou a ser utilizado para tratar de fatos e situações concretas, reportando menos às
idéias sobre seus direitos naturais ou costumeiros e à representação e participação
política direta. Para a edificação desta perspectiva, concorreram, além da própria
experiência dos agentes políticos durante as grandes revoluções provinciais – não
podemos esquecer que a revolução Farroupilha no Rio grande do Sul esteve em curso
até 1845, a que se somaram as de 1842 no Sudeste e 1848 em Pernambuco – a
influencia do liberalismo da restauração francesa e a tradição do reformismo
monárquico ilustrado luso-brasileiro. Além disso, o regresso também reabilitou as
concepções monárquicas e religiosas da relação privilegiada entre o rei e seus povos, as
noções de centralização político-administrativa e o poder moderador. Como
conseqüência, o povo, que no sete de abril e nas tentativas revolucionárias teve lugar
__________ 105 VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. CARVALHO, José Murilo de (org). São Paulo: Ed. 34, 1999. 106 ANAIS da Câmara dos Deputados. 11 de Junho de 1839.
192
central e ativo, se tornou um elemento a ser guiado, dirigido pela tutela real, enquanto
percorria sua marcha civilizacional.
4.8 O conceito de povo em algumas obras paradigmáticas da tradição Imperial
Conservadora
O ideário regressista ou conservador forjado ao longo dos anos conturbados da
regência foi o esteio sobre o qual se consolidou o Estado Imperial nas décadas
seguintes. Unindo habilmente o reformismo ilustrado e realista coimbrão ou
“monarquiano”107 ao liberalismo francês da restauração, as elites regressistas
dominaram a cena política, rechaçando as últimas grandes tentativas revolucionárias
liberais de 1842 e 1848 108, e negociando a “conciliação” dos anos 1850, que garantiu
uma certa estabilidade do jogo político imperial sob a égide da coroa. Neste momento,
consolidou-se uma concepção política que dava certo lugar e significado ao “povo”, que
perduraria até as décadas finais do Império.
Para aprofundarmos a compreensão desta concepção, recorreremos a algumas
obras paradigmáticas da ideologia que presidiu o segundo reinado: Direito Público
Brasileiro e Analise da Constituição do Império de Jose Antônio Pimenta Bueno,
publicado em 1857, e Ensaio sobre o direito Administrativo, de Paulino José Soares de
Souza, publicado em 1860; Do Poder Moderador de Brás Florentino Souza, publicado
em 1864. Tais obras sintetizaram as principais linhas doutrinárias conservadoras do
Segundo Reinado. Entretanto, devem ser compreendida numa chave essencialmente
política e não doutrinária apenas. O pensamento político conservador somente foi mais
bem sistematizado quando o amplo acordo conciliatório entre liberais e conservadores
em torno de tais princípios começou a sofrer os primeiros abalos no inicio da década de
1860. Em 1862 ocorreu a formação da liga progressista, a primeira dissidência pró-
__________ 107 VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. CARVALHO, José Murilo de (org). São Paulo: Ed. 34, 1999. 108 Por um lado, foi uma continuidade do impulso que havia ocasionado os movimentos do período regencial: a situação de miséria e opressão popular, o autoritarismo do governo central e ainda a repulsa ao elemento estrangeiro, notadamente o português, controlador da atividade comercial. Porém, no tocante às idéias, além do liberalismo, se somava a notória influência do movimento francês ocorrido no mesmo ano e o ideário socialista utópico. No Manifesto ao Mundo, publicado em janeiro de 1849, era reivindicado o “voto livre e universal do povo brasileiro” e o “direito universal ao trabalho” (Apud Quintas, 1967: 57). Nos escritos revolucionários e de apoio ao movimento, a massa pobre, é vista sem sobra de dúvida como parte integrante do povo, isto é, como participante legítimo do mundo político.
193
reformas ocorrida entre os próprios conservadores. Os dissidentes Nabuco de Araujo,
Zacarias Góes, Sinimbu, Saraiva e outros se uniram a ala mais moderada dos liberais
para formar a Liga Progressista. A Liga chegou a alcançar a presidência do gabinete e
trouxe pontos de reforma para a pauta, como a responsabilidade dos ministros pelos atos
do poder moderador, as garantias de liberdade individual, a descentralização
administrativa, a reforma judiciária, regeneração do clero e a reforma do código
comercial. Este primeiro movimento fora o estopim para uma onda reformista que se
intensificou no final da década. Neste ínterim, os grandes chefes saquaremas saíram em
defesa da ordem política por eles arquitetada no início dos anos 1840 com a
Interpretação do Ato Adicional.
O livro de Pimenta Bueno publicado em 1857 constituiu uma análise elogiosa
da Constituição de 1824. Procurou mostrar que o sistema político adotado pelo Império
brasileiro era o mais equilibrado, justo e apropriado à realidade do povo brasileiro. Para
entender o pacto político constituinte a nação brasileira, Bueno parte de um momento
considerado fundador: a Independência. Naquele momento, a nação se tornou soberana,
isto é, o povo tomou para si o poder, força e independência, tornando-se uma força
coletiva e suprema ganhando, assim, “o indisputável direito de determinar as formas,
instituições, garantias fundamentais, o modo e condições da delegação do exercício
desse mesmo poder” 109
Soberana, a nação brasileira delegou seu poder aos seus representantes: a
Assembléia Geral e o Imperador. A nova nação emancipada, livre e independente,
escolheu assim a forma monárquico-constitucional e hereditária de governo. Esta
escolha se deveu à “razão brazileira esclarecida pela experiência dos povos, o
sentimento de seus hábitos, a previsão de sua segurança e bem-ser”. Fora assim, uma
escolha “apropriada á sua civilização e necessidades sociais”, “às suas condições, ao seu
desenvolvimento, às idéias do seu progresso intelectual, moral e material” 110
A forma de governo escolhida, com um só centro moderador e executivo, único
e permanente, espelhara a unidade e a estabilidade da nação. Esta estabilidade garantira
a segurança e a ordem, que refletem as “tradições nacionais”. A nação escolhera assim a
dinastia de Bragança como sua mais alta representante. D. Pedro teria sido a melhor __________ 109 BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Publico Brazileiro e Anayise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Tipographia Imp. E Const. de J. Villeneuve e C, 1857. p. 260. 110 Ibidem.
194
escolha, pois já contava com a gratidão nacional e o prestigio de ser o representante da
antiga soberania nacional do Brasil e de Portugal. Revestindo assim de positividade a
continuidade da dinastia dos Bragança no Brasil, na pessoa de D. Pedro I, Pimenta
Bueno realiza uma importante inflexão do pensamento liberal que predominou com a
abdicação. A fundamentação monárquica do governo e das instituições é retomada é
fortalecida
A dinastia de D. Pedro fora assim uma escolha dos povos, numa relação direta
com o monarca, anterior à instauração da assembléia, da Constituição, e mesmo do
próprio Ato da aclamação. Este momento
é uma renovação do pacto social, uma garantia recíproca sancionada pela inovação do testemunho da Divindade, uma condição sem a qual não haveria direitos, nem obrigações entre a nação e o Throno, pois que seu implemento deve preceder á acclamação; é ao mesmo tempo uma augusta identificação do monarcha com o seu povo. 111
Vemos que a primeira e principal relação ou pacto de delegação que funda as
instituições políticas é entre o povo e seu monarca. Sendo o principal representante do
povo, acima de qualquer outro corpo representativo, deve possuir um poder específico,
”superior a todas as paixões, a todos os interesses, a toda rivalidade”. Trata-se do Poder
Moderador, “a mais elevada força social, o órgão político mais ativo, o mais influente,
de todas as instituições fundamentais da nação” 112 Este poder refletia assim o caráter
da coroa um centro de poder e representação, fundado diretamente no vínculo afetivo e
contratual com o povo. Revestida deste poder como primeira representante do povo, a
Coroa era apta a vigiar, zelar pelo bom funcionamento e harmonia entre todos os
poderes políticos
Este organização política que concentrava os poderes na coroa, especialmente
através do Poder Moderador, justificava-se pelo grau de civilização do povo no Brasil,
que, enquanto não fosse suficientemente elevado, precisaria de um governo forte.
__________ 111 BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Publico Brazileiro e Anayise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Tipographia Imp. E Const. de J. Villeneuve e C, 1857. p. 260. 112 Ibidem.
195
Força é confessar que a primeira das garantias de um povo é a sua civilização elevada, a consciência de seus direitos, a energia de sua intelligencia; enquanto porém ella não se eleva á altura precisa quasi tudo do governo. 113
Outra Obra de grande importância foi escrita por Braz Florentino Henriques
Souza (1825-1870) em resposta ao livro de Zacarias Góes Vasconcelos Da natureza e
limites do pode moderador. Trata-se de uma defesa da irresponsabilidade ministerial
perante os atos do poder moderador, um dos fundamentos deste poder. O esforço do
autor, no que se refere ao nosso tema, é o de retirar o conceito de povo das garras das
teorias e das ficções do contrato social e da “arte política”. O fundamento da sociedade
era, para o autor, anterior a qualquer ato político, uma vez que é dado pelo sentimento
religioso existente nas “almas” e “corações”. Para o autor, “as leis dos homens não são
nada sem a religião, a caução geral, a garantia realmente eficaz de todos perante todos
na sociedade” 114. Conseqüentemente, o poder político, o mando e a obediência tinham
seus alicerces na “piedade e no temor de Deus”: o rei se via compelido a agir com
justiça e o povo, por sua vez via
em seu soberano o ponto de apóio da ordem social, e, nesta ordem mesma, uma parte da ordem eterna que tem a Deus por autor, por guia, por juiz, e por vingador. Assim a religião consolida nos estados cristãos os laços que unem o povo e o príncipe para o bem geral. 115
O povo era entendido na relação com o rei, que se dava dentro da relação geral
de ambos com Deus. A religião garantia que os princípios e sentimentos do povo e dos
reis se orientassem para o bem e a justiça. A vida do Estado era ligada à Igreja e ao
sentimento religioso e não à arte política. Logo, “nas monarquias o trono descansa sobre
o altar, enquanto os princípios e os sentimentos que emanam do altar prendem e unem o
trono ao povo e o povo ao trono.”116 O livro de Braz Florentino evidenciou uma das
marcas da tradição política imperial: a religiosidade como elemento privilegiado de
coesão social e como pedra angular da vida política, do mando, da obediência e das
instituições políticas.
Enquanto Pimenta Bueno e Braz Florentino valorizaram o vínculo entre o povo e
o monarca como pedra angular da tradição e do sistema político monárquico, a terceira __________ 113 Ibidem. 114 SOUZA, Brás Florentino Henriques de. Do Poder Moderador. Brasília: Senado Federal, 1978. p.413. 115ANCILLON, Johann Peter Friedrich. Apud. Idem, 116 Idem p. 414.
196
obra considerada um de seus pilares ideológicos aprofundou a análise sociológica do
povo brasileiro. A questão proposta por Uruguai em Ensaio Sobre o Direito
Administrativo foi a da adequação ou não do modelo político-administrativo norte-
americano do self-government à realidade nacional e à índole do povo. Para Uruguai, a
regra de que “é o povo é que deve dirigir o Governo e não o Governo o povo”, isto é, de
que o “o Governo vai com o povo, porque o Governo é o povo” não nos pode ser
aplicada, como na Inglaterra ou nos EUA.
Uruguai partiu de uma avaliação extremamente negativa do período do
“federalismo brasileiro”, onde se optou por uma organização administrativa semelhante
ao sistema dos Estados Unidos. Com o Sete de Abril e o Ato Adicional fora instituídas
as Assembléias Provinciais, o sistema eletivo popular para a escolha de juízes de paz, as
policias e vice-presidentes de Província. Foi na visão de Uruguai o quase fim da
hierarquia, o que teria causado abdicação do primeiro regente e as convulsões
provinciais. Para Uruguai, tal regime instituído arbitrariamente no Brasil era próprio
àqueles “afortunados países, onde o povo [era] homogêneo, geralmente ilustrado e
moralizado, e onde a sua educação e hábitos o [habilitavam] para se governar bem a si
mesmo”. Por outro lado,
nos paises nos quais anda não são difundidos em todas as classes da sociedade aqueles hábitos de ordem e legalidade, que únicos podem colocar as liberdades publicas fora do alcance das invasões do Poder, dos caprichos da multidão, e dos botes dos ambiciosos, e que não estão portanto devidamente habilitados para o self-government, é preciso começar a introduzí-lo pouco a pouco, e sujeitar esses ensaios a uma certa tutela, e a certos corretivos. Não convém proscreve-lo, porque em ternos hábeis, tem grande vantagens, e nem o Governo Central, principalmente em paises extensos e pouco povoados, pode administrar tudo. É preciso ir educando o povo, habituando-o pouco a pouco, a gerir os seus negócios. 117
Para Uruguai, “não bastavam leis” para que se criasse no povo do Brasil um
espírito de participação política. Tínhamos uma inescapável singularidade latina e
católica que nos afastava da possibilidade do autogoverno, ao contrário dos povos de
origem anglo-saxã e de cultura protestante. Éramos, portanto, afeitos à hierarquia
política e administrativa e o processo de introdução das liberdades deveria ser sempre
dirigido pelo Estado, responsável ministrá-lo em lentas e diminutas doses. Em outras
palavras, por sua formação racial, cultural, histórica, o Brasil não possuía um povo-__________ 117 URUGUAI, Visconde do. “Ensaio sobre o Direito Administrativo”. In J. Murilo de Carvalho (org). Visconde do Uruguai, São Paulo: Editora 34, 2002. p.403.
197
nação com índole condizente com a de povo-cidadão plenamente atuante. O resultado
da liberdade seria indiscutivelmente a anarquia, isto é, o desmembramento territorial, o
desmando das elites provinciais e o uso político de uma população que não teria ainda
logrado constituir-se em povo soberano.
Reportando-se às idéias de Alexis de Tocqueville (1805-1859), Uruguai
argumentou que a liberdade municipal não era o resultado do esforço do povo através da
imposição de leis. Ao contrário, era algo que o povo devia constituir, não apenas pela
ação das leis, mas a partir dos costumes, o que só poderia vir com o tempo. Este povo
que está por se constituir na duração temporal necessitava, pra o bom andamento dos
negócios públicos, da hierarquia administrativa, e especialmente da manutenção do
elemento monárquico da Constituição
porque por fim das contas, é para aqueles povos que nela nasceram e foram criados, essa forma de governo rodeada de garantias e instituições livres, a que melhor pode assegurar uma liberdade sólida, tranqüila e duradouda 118
As três obras de espírito conservador resumiram muito bem o conjunto de usos e
significados do conceito de povo que imperaram na construção político-ideológica
imperial a partir do regresso. Um povo unificado e homogêneo, vinculado afetiva,
religiosa e institucionalmente ao Imperador como seu principal representante e
intérprete. Um povo visto sob o prisma histórico-sociológico, isto é, sob um olhar que
procura perceber suas condições, situação ou estado civilizacional. Um povo visto como
ainda não plenamente constituído, em processo de civilização, em construção histórica,
que necessitava da proteção hierarquia e da tutela hierárquica.
4.9 O conceito de povo em algumas obras paradigmáticas da tradição Imperial
Liberal
É interessante traçar um paralelo com o discurso liberal constituído após com a
consolidação do domínio político e institucional conservador. Podemos fazer esta
comparação através do exame de duas obras liberais clássicas: o Libelo do Povo de
__________ 118 Ibidem. p. 294.
198
Francisnco Sales Torres Homem escrito em 1848 e a Circular dedicada aos srs.
eleitores de senadores pela província de Minas Gerais de Teóphilo Benedicto Otoni,
escrita em 1860. Torres Homem (1812 – 1876), que neste texto utilizou o pseudônimo
“Timandro”, foi um político de tendência liberal, jornalista de grande prestígio e alto
funcionário público imperial. Foi deputado pelas províncias do Ceará, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, chegando a senador em 1870. Participou das revoluções de 1842 em
Minas e São Paulo e da Praieira em 1848 em Pernambuco. Teóphilo Otoni (1807-1869),
por sua vez chegou ao senado em 1864. Antes foi deputado provincial por Minas Gerais
e por três vezes deputado geral. Foi um dos grandes líderes da revolução de 1842 e
grande crítico do segundo reinado.
Enquanto os conservadores ou regressistas deram conotações sociológicas e
historicizadas ao povo, além de o perceber como um dos pólos de sustentação da
sociedade política ligado indissoluvelmente ao Monarca e à religião, aqueles que se
mantiveram fiéis à uma visão liberal construíram seu discurso sobre outros alicerces. O
mineiro Teóphilo Otoni foi um destes. A conhecida Circular foi originalmente
concebida como uma memória política destinada à propaganda de sua candidatura à
uma vaga na Câmara dos deputados na campanha eleitoral de 1860 na província de
Minas Gerais. Teve como finalidade fazer um agradecimento aos eleitores que o haviam
apoiado nos escrutínios de 1859 e 1860 para o Senado nos quais Otoni fora o deputado
mais votado, mas a escolha imperial o preterira.
O texto era um verdadeiro programa político 119. Atacou o “governo pessoal”, as
instituições que o amparavam (o conselho de estado, o senado vitalício e os ministérios)
e a conseqüente falácia do sistema representativo e as instituições que o amparavam.
Realizou uma defesa árdua das liberdades do Ato Adicional e da Constituição. Em suas
páginas podemos perceber o desenvolvimento também de uma forma especial de
significar o povo, diversa da visão conservadora.
Em primeiro lugar, havia uma menor ênfase nas determinações sociológicas e
circunstâncias históricas e civilizacionais, quando comparamos o discurso liberal ao
conservador. Porém, este ponto de vista não deixa de aparecer em alguns momentos, por
exemplo, quando o autor se disse convencido da imaturidade do povo evidenciada nas __________ 119 Para uma análise da Circular de Otoni ver MARSON, Izabel Andrade. O Império da Revolução: Matrizes Interpretativas dos Conflitos da Sociedade Monárquica. In. Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2007 . p.73-102.
199
desordens de 1831 no Rio de Janeiro, o que o tornava despreparado para usufruir de
instituições equivalentes às dos EUA. Para Otoni, esta “imaturidade” era condizente
com a experiência histórica, pois “300 anos de escravidão não podem preparar um povo
para entrar no gozo da mais perfeita liberdade”. Otoni procurou se afastar do liberalismo
exaltado ao se mostrar partidário da prudência e moderação e da proscrição de
mudanças radicais na política e na sociedade brasileira. As carências políticas, culturais
e morais de um “povo acomodado na ignorância e no despotismo” tornava
imprescindível atentar para as circunstancias ao projetar a política.
Porém, a percepção sociológica e histórica do povo não impedia a Otoni de
conferir-lhe outros elementos ligados simplesmente à capacidade como força política
imediata e revolucionária. Primeiramente, o “direito de insurreição”, a grande pedra de
toque liberal. Citando diversos publicistas, entre eles Silvestre Pinheiro Ferreira,
defendeu a idéia da limitação e regulação da autoridade do príncipe por leis
fundamentais. Portanto,
o príncipe, sahindo dos limites que lhe estão traçados, governa sem direito algum, e mesmo sem título; a nação, desobrigada da obediência, póde resistir ás suas tentativas injustas. Desde que ataca a constituição o príncipe rompe o contrato que o ligava com o povo: o acto do monarcha desobriga os súbditos, que podem considerar como usurpador. 120
Foi este direito do povo à insurreição que teria motivado o levante de 1842,
momento em que “povo se levanta em massa para dizer aos seus opressores: ‘basta”121,
numa reatualização da defesa da Constituição levara à Abdicação. A insurreição,
revelando “ímpeto do povo triunfante”, era vista como o verdadeiro ato fundador do
povo. No Brasil, este direito se teria transformado em ato na glorioso movimento em
torno da abdicação do Imperador em 7 de Abril de 1831. Vimos como o pensamento
conservador buscou a instituição da nação política na aclamação de D. Pedro pelo povo
e na continuidade da dinastia de Bragança. Otoni, assim como outros liberais como
José Antônio Marinho 122, entendeu que a sociedade política no Brasil se havia fundado
__________ 120 OTONI, T. B. Op. Cit. p. 100 121 Idem. p. 104 122 MARINHO, José Antônio. Historia da Revolução de 1842. Brasilia: Senado Federal, 1978. Neste livro de memórias, José Antônio Marinho lembra as causas e desfechos da revolução de 1842 em Minas e São Paulo. Defende ardorosamente os envolvidos, como homens que defenderam a constituição e as instituições livres contra uma oligarquia que tomava o poder.
200
como pacto político na aclamação, em menor medida, mas especialmente com o
estabelecimento Constituição e com a revolução de Sete de Abril.
Citando um discurso seu de julho de 1840 na Câmara dos Deputados, declarou
que o prestigio do Sr. D. Pedro II nascia da aclamação dos povos, mas não porque
“descendesse de uma antiga linhagem de reis da Europa, mas porque, comprehendendo
bem as necessidades do Brasil, [seu pai] poz-se á frente da nossa independência, e
soltou nas margens do Ypiranga esse grito famoso: - Independência ou Morte!” 123 A
aclamação dos povos foi um ponto importante, mas, sobretudo, estabeleceu um pacto
político com o Monarca, realizado com a condição do respeito à constituição. Em outro
trecho, Otoni chegou a negar que o valor da aclamação, vendo somente a constituição
como fundamento da autoridade real:
quando a Constituição falla em unânime acclamação dos povos não menciona um facto, mas dá um título. E nem de outra sorte se podia considerar esse artigo da constituição, porque o Sr. D. Pedro I não foi acclamado unanimemente. Sabe-se que houve dissidências, tanto de brasileiros, que pretendiam outra forma de governo, como do partido portuguez, que pretendia recolonizar-nos. Por conseqüência, não foi acclamado unanimemente, e não é da acclamação que vem o título, mas da constituição124
Uma diferença marcante em relação ao discurso conservador foi a valorização da
revolução do sete de abril, como um momento especial, que teria remodelado os
alicerces políticos da nação, reconstruindo a noção de autoridade real e colocando o
“povo” no centro da arquitetura política e institucional. A revolução significara uma
ruptura absoluta com o primeiro reinado, em que ainda imperava o tradicionalismo
político, deixando para traz qualquer aspiração de continuidade dinástica com a Europa
e qualquer intuito despótico. O segundo reinado que começava se erigiria sobre novas
bases.
Outro texto liberal de enorme repercussão foi o Libelo do Povo125 de Francisco
Sales Torres homem escrito em 1848, por ocasião da última grande rebelião provincial
contra a ordem saquarema, a Praieira em Pernambuco. Tratou-se fundamentalmente de
uma interpretação da história política brasileira que apontava para uma luta terrível
entre, de um lado, o poder, o despotismo as cabalas palacianas e o capricho dinástico e, __________ 123 Ibidem. 124 OTONI. Op. Cit. p. 108. 125 TORRES HOMEM. Francisco Sales Torres. O libelo do povo por Timandro. In. MAGALHÃES Júnior, R. Três panfletários do Segundo Reinado. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1969.
201
de outro, “a massa do povo”. Em Torres Homem, a Independência aparece como um
momento de ruptura absoluta com o passado colonial e com o governo legitimado pela
sucessão dinástica dos Bragança momento de afirmação do “dogma da soberania do
povo”. Para “Timandro”, tratou-se de uma ruptura completa, pois “todos os laços que
prendiam-nos ao passado estavam mortos: tínhamos recebido uma segunda vida, uma
segunda natureza, que anulava e excluía as pretensões da realeza da conquista”126 .
Toda a história imperial surgia como uma traição deste ato fundador da
sociedade política brasileira e desta ruptura originaria com o passado realizada pelo
povo. Teria havido uma crescente usurpação da soberania popular pela soberania real,
pelo direito divino e hereditário. Primeiramente com a outorga da Carta em 1824,
depois com o regresso conservador consubstanciado na Lei de Intepretação do Ato
Adicional. O Sete de Abril e o período regencial, por outro lado, eram valorizados como
um momento de tentativa de afirmação do espírito democrático, que teria sido mais uma
vez traído e corrompido. O regresso conservador fora nesta visão uma grande volta ao
passado, uma tentativa de, mais uma vez, impedir que a revolução do povo fundasse um
tempo renovado. O segundo reinado
constituía-se solidário e continuador do antigo, riscava de nossa história o grande fato da revolução, que os devia separar e discriminar; inutilizava o tempo, os acontecimentos, o caminho andado: e restaurava o passado, não só com suas deploráveis tradições e tendências, mas até com seus homens, com seus erros e seus crimes!.127
Fundamentalmente, a monarquia brasileira, na visão de Torres Homem tentou
conciliar dois princípios opostos e absolutamente contraditórios: o governo popular e o
governo de um só, a democracia e a feudalidade128 Tentou combinar o passado de
“tradições góticas” e a ruptura, desrespeitando o direito inalienável do povo. O resultado
foi o poder pessoal e o amesquinhamento da liberdade do povo visto como um conjunto
de “crianças e idiotas, tendo a sua frente um único homem de juízo” 129
Em resumo, na visão liberal resumida nestas obras paradigmáticas, em primeiro
lugar, o povo era sobretudo uma figura abstrata, portadora de direitos naturais, que,
__________ 126 Ibidem. p. 62. 127 Ibidem. p. 94. 128 Ibidem. p. 111. 129 TORRES HOMEM. Francisco Sales Torres. O libelo do povo por Timandro. In. MAGALHÃES Júnior, R. Três panfletários do Segundo Reinado. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1969.
202
quando postos em ação, fundam um novo tempo e uma nova sociedade. Era a revolução
política o que pode seria capaz de gerar as mudanças necessárias no Brasil. As análises
sociológicas sobre a formação do povo, os estágios evolutivos e civilizacionais, ficavam
em segundo plano em relação ao marco zero fundador que implicava a retomada dos
direitos naturais do povo. Tais momentos teriam ocorrido na independência e na
revolução de 7 de Abril, mas teriam sido golpeados pelo despotismo e pelo poder
pessoal, vistos como uma volta ao passado.
Enquanto os conservadores tendiam a unir o povo e o monarca, numa concepção
místico-religiosa da ordem política e social, o discurso liberal pretendia desconstruir
esta imagem, apontando justamente para o contrário: a história nacional fora uma luta
entre os princípios dinástico e pessoais – identificado com o passado – e o “povo”.
Monarca e povo foram postos como forças opostas em conflito.Visto que o “povo”
encarnava o momento histórico em que os direitos naturais inalienáveis foram de fato
respeitados, o poder pessoal do monarca era visto como algo pertencente ao passado. A
única possibilidade de adquirir alguma legitimidade na atualidade seria a escolha
popular.
A perspectiva da história não era de todo ausente deste pensamento, uma vez
que o fundamento do seu argumento era uma apreciação da história brasileira como uma
luta entre o povo e o poder dinástico. Entretanto, podemos perceber que no que diz
respeito ao conceito de povo, a história não é inserida de fato no cerne do conceito. Ao
longo desta história, o povo é sempre o mesmo, a saber, uma força política abstrata em
luta contra a tirania. Não se trata de um conceito em que a temporalidade histórica faça
parte de fato de seu significado.
É importante perceber que este povo abstrato excluía a plebe. Timandro, em
passagem celebrizada pela historiografia, declarou que nas revoltas regenciais
dominaram os “instintos grosseiros da escoria da população; era a luta da barbaridade
contra princípios regulares, as conveniências e necessidades da civilização” 130. Já em
1842 e 1848, o cenário teria sido diferente, pois o movimento fora composto pela “fina
flor da sociedade brasileira tudo o que havia de mais honroso e eminente em ilustração,
em moralidade e em riqueza” 131. O trecho espelhou muito bem os limites da concepção __________ 130 Ibidem. p 82. 131 TORRES HOMEM. Francisco Sales Torres. O libelo do povo por Timandro. In. MAGALHÃES Júnior, R. Três panfletários do Segundo Reinado. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1969.
203
de povo do liberalismo imperial: o aspecto político-abstrato do conceito escondia seu
caráter essencialmente restritivo a aqueles que preenchiam os requisitos de
pertencimento à boa sociedade.
4.10 A historiografia e a literatura: algumas palavras
A perspectiva historicizada que passou a imperar na reflexão política sobre o
povo com o movimento em torno do regresso conservador reverberou num amplo
movimento para se buscar entender os princípios da nacionalidade brasileira. Os locais
da produção deste discurso foram a literatura e a historiografia. Era preciso diagnosticar
o estado e a índole do povo aqui existente e forjar no país um princípio de unidade
nacional. Depois das desordens regenciais, era necessário consolidar em todas as
regiões um sentimento legítimo de pertencimento nacional, que pudesse ajudar a
garantir a unidade territorial e política.
Neste projeto, a historiografia teve lugar privilegiado, com a criação do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838 por iniciativa da Sociedade Auxiliadora da
Indústria Nacional teve importante papel. O IHGB, que mais tarde seria incentivado e
patrocinado pelo Imperador D. Pedro II foi responsável pelo primeiro esforço de escrita
da história “geral e filosófica do Brasil”, nas palavras do Secretário Januário da Cunha
Barbosa. O IHGB coletou e publicou fontes históricas e deu incentivo à pesquisa para a
escrita da história nacional. Foi por meio de seus concursos e prêmios, que em 1847 o
alemão von Martius definiu as diretrizes deste projeto: este deveria se concentrar no
estudo da peculiaridade do país, destinado a ser o local de união e aperfeiçoamento de
três raças fundadoras: brancos, negros e índios. Martius, como naturalista ilustrado,
pensava o “hibridismo racial” do mesmo modo como pensava o cruzamento de plantas
ou animais, porém sua “relativa sensibilidade etnológica fê-lo ao menos rascunhar o que
se chamou de “sincretismo o cultural e atualmente se formula como circularidades ou
hibridismos culturais” 132
Dando continuidade a estes primeiros passos, o historiador Francisco Adolfo de
Varnhagen publicou em 1857 a primeira História Geral do Brasil. A história do Brasil __________ 132 VAINFAS, Ronaldo. “Colonização, miscigenação e questão racial: notas sobre equívocos e tabus da historiografia brasileira”. Revista Tempo. no 8, ago. 1999. p. 1-12, 199.
204
se inscrevia nos quadros do progresso da civilização ocidental, que aqui tomava
substância no processo de colonização. Seguindo os passos da consciência conservadora
do momento, o historiador valorizou o período colonial como parte deste processo dede
civilização de um território inóspito e de uma população em estado de barbárie. O Brasil
era assim uma nação diretamente descendente da Europa, destinada a repetir seus
padrões civilizatórios, a partir do braço forte do Estado
O Estado era na visão de Varnhagem o agente responsável por educar o povo.
Era um Estado que “busca sua legitimação na sempre reiterada missão de constituir o
povo” 133 isto é “transformar a massa heterogênea em um povo que se determina, um
território imenso e sem unidade, num país, numa nação”134. Neste sentido, a Coroa era o
agente que deveria manter o povo sob tutela, preparando-o, para que num futuro incerto
este pudesse se transformar num agente social, um futuro em que o elemento branco
europeu se sobreporia ao elemento negro e indígena e a marcha civilizacional estaria
completa.
As reflexões sobre a literatura de meados do século XIX também tiveram um
importante papel na reformulação do conceito povo. O povo passava a ser
compreendido como um processo de desenvolvimento no tempo, a literatura passava a
ser a expressão dos momentos desta história, das épocas ou fases constituintes desta
macha linear de transformação em direção ao futuro. O povo estava no tempo histórico
e precisava de um saber que acompanhasse seu processo de formação.
O entendimento do povo na extensão temporal implicava ao mesmo tempo
pensar seu espírito essencial, seu princípio. Na nova consciência temporal que se
desenvolvia, a história era entendida como o desvelamento de algo na duração, logo era
preciso definir este “algo”. Ao mesmo tempo que a literatura acompanhava as etapas de
desenvolvimento do povo, era também a expressão de seu princípio fundamental. Para
autores como José de Alencar e Gonçalves de Magalhães um povo era um “espírito” ou
uma “idéia” que se manifestava na história. A literatura, por sua vez, era uma das
grandes forças deste espírito dos povos. Segundo o Ensaio sobre a História da
Literatura do Brasil de Gonçalves de Magalhaes, publicado na Revista Nictherói em
1836, __________ 133 ODALIA, Nilo. As formas do mesmo. Ensaios sobre o pensamento historiográfico de Varnhagen e Oliveira Vianna. São Paulo: Editora UNESP Fundação, 1997. 134 Ibidem, p.44.
205
A litteratura de um povo é o desenvolvimento do que elle tem de mais sublime nas idéias, de mais philosófico no pensamento, de mais heróico na moral, e de mais belo na natureza, é o quadro animado de suas virtudes, e de suas paixões, o despertador de sua glória, e o reflexo progressivo de sua intelligência. 135
Seguia-se desta reflexão que cada povo existente possuía uma literatura própria.
Porém, o romantismo literário brasileiro logo percebeu o quão problemática se tornava
esta teoria em países, nações ou povos “cuja civilização apenas é um reflexo da
civilização de outro povo” 136. Os povos ainda em fase inicial do processo de formação,
tendiam à cópia da literatura de outros povos, formado assim um “amálgama indigesto,
limo de que deve sair mais tarde uma individualidade robusta” 137. O Brasil estaria neste
momento de infância da literatura, e ao mesmo tempo, infância como povo. O
movimento romântico se propôs então a fazer com que o a literatura brasileira olhasse
para a realidade da natureza e da civilização que a cercava e deixasse de imitar os
padrões e temas estrangeiros. Foi um esforço que fazer com que o povo descobrisse e ao
mesmo tempo desenvolvesse o seu espírito através da literatura.
A realidade brasileira era então o que deveria inspirar os literatos. Daí o convite
a que os índios e natureza se tornassem os temas. Da mesma sorte que as formas de um
governo deveriam ser a expressão dos costumes do povo-nação, “assim também o
litterato, que não serve de intérprete, que não se introduz nas superstições e
pensamentos secretos do povo, (...), é um anachronismo, e estabelece-se em posição
estranha de tal modo, que os vindouros d’elle não podem colher lições” 138. José de
Alencar desenvolveu as mesmas idéias em seu ensaio Sonhos D’Ouro quando defendeu
que a missão dos poetas, escritores e artistas, nos primórdios da formação da
nacionalidade era como a de “operários incumbidos de polir o talhe e as feições da
individualidade que se vai esboçando no viver do povo”139.
A historiografia e a literatura que se esboçaram em meados do século XIX foram
um das expressões da historicização da realidade e da linguagem política. Pela
historiografia, instituiu-se a idéia de um estado destinado, desde a colonização, a tutelar __________ 135 Nitheroy. Revista Brasiliense. Sciencias, Letras e Artes. Paris: Darwin et Fontaine Librairies. Tomo 1 e 2. 1836. p. 121. 136 Ibidem, p. 122. 137 ALENCAR, José de. Sonhos D’Ouro. In. Ficção Completa. v. 1. Rio de Janeiro, Companhia Aguillar Editora, 1965. p 496. 138 Revista Nictheroy Op. Cit. p. 216. 139 ALENCAR, J. Op. Cit. p 497
206
e incentivar, com seu braço forte, um povo em uma fase inicial do processo histórico de
formação. Na literatura, o povo surgia como um espírito em desenvolvimento na
história.
4.11 Considerações finais
O Sete de Abril de 1831 foi posto em segundo plano por grande parte da
historiografia tradicional, que se concentrou na Independência de 1822. Entretanto, toda
a oposição a D. Pedro na segunda metade dos anos 1820 e o movimento revolucionário
subseqüente significaram um corte muito mais drástico no tocante ao conjunto de idéias,
valores e sentimentos que informam o conceito de povo. Vimos como nos anos 1820-
1822, o povo ganhou relevância por sob o influxo da Revolução Liberal do Porto e,
depois, no embate com as cortes recolonizadoras, o povo e os povos ganharam
centralidade no discurso político. Porém, no ideário do “vintismo”, em grande medida, e
para a maior parte dos envolvidos, como vimos, o conceito de povo permanecia ainda
nos marcos da tradição monárquica portuguesa, uma vez que permanecia
inextricavelmente ligado à figura real. O povo ou os povos eram ainda em grande
medida os súditos leais, os filhos, o conjunto dos membros do corpo social, de que o rei
era a cabeça. Este vínculo foi ritualizado nas festas de aclamação, nas cerimônias e
rituais em que o Imperador e o povo reafirmaram o seu pacto de união140 durante e após
a Independência. A ritualização do pacto também se deu no quotidiano parlamentar, em
todo o cerimonial e nos ritos do beija-mão e outros, que foram objeto de debate desde a
Constituinte de 1823 141. Na revolução do sete de abril, podemos perceber demolição
desta unidade e a emergência do conceito de povo em grande medida desligado da sua
da aliança com o monarca. Este deixa de ser apenas o conjunto dos filhos do rei pai, o
corpo ligado ao rei-cabeça, e passa a figurar único no debate político. Evidentemente,
esta transformação não foi absoluta, e muito menos geral, nas diversas províncias do
imenso território brasileiro. Além disso, o regime continuou a ser monárquico e a figura
do imperador menino ainda mantinha firmes os laços com o passado. Entretanto,
__________ 140 SOUZA, Iara Lis Carvalho Souza. Pátria Coroada. O Brasil como Corpo Político Autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 141 Ver: CUNHA, Rui Vieira da. O parlamento e a nobreza brasileira. Brasília: Senado Federal, 1979.
207
acreditamos que o entendimento desta sutil mudança pode nos ajudar a compreender
melhor o período regencial e seus conflitos, nossa primeira “experiência republicana”,
como considerou grande parte da historiografia.
Ao longo da década de 1830 assistimos ao processo mais decisivo de
historicização do conceito de povo. Esta transformação conceitual se verificou no
processo de combate por parte das elites liberal moderadas e conservadoras ao conceito
de povo abstrato, generalista e revolucionário em jogo nos anos finais do Primeiro
Reinado, e nas diversas rebeliões e tentativas revolucionárias ocorridas no período. A
historicização se deu pela incorporação concepção da marcha histórica da civilização,
que trouxe o repudio às concepções consideradas “abstratas” sobre o povo como força
unificada, soberana, e o reforço das visões sócio-históricas herdadas da ilustração
portuguesa. As elites que dominaram a direção do Estado se esforçaram por depurar o
conceito do seu caráter de pura força de atuação decisiva na esfera social e política,
trazendo-o para o domínio das moderação, da morigeração dos costumes, e, sobretudo,
do processo histórico da civilização, que deveria seguir seu curso independente da ação
imediata. Para o liberalismo conservador que triunfou no final da década, o conceito de
povo trazia em si a idéia de uma marcha sempre inacabada, composta por etapas, que
deveriam ser observadas pelos legisladores e homens de estado na formulação das
políticas publicas. Enquanto processo em curso, o povo deveria permanecer tutelado
pela Coroa, cujo poder era garantido pelas prerrogativas do Poder Moderador, pela
Igreja Católica. Também foi de fundamental importância, a vinculação estrita do povo
ao Imperador, no interior de uma ordem mística e afetiva, ponto de vista que ecoa da
tradição monárquica portuguesa analisada no primeiro capítulo.
Neste processo, o conceito de povo “vencedor”, por assim dizer, foi aquele de
cunho sócio-histórico, em detrimento do conceito de cunho mais político e abstrato
presente nas concepções da ilustração francesa, nas concepções “exaltadas” e no
liberalismo imperial clássico. O conceito de civilização que esteve em jogo se afastou
do conceito presente no liberalismo conservador da independência, que teve na voz de
José Bonifácio, sua maior expressão. Não se tratava mais da civilização como processo
de retomada das leis e princípios inscritos na natureza humana, mas abafados pelo curso
do tempo; a temporalização dos anos 1830 trouxe a civilização como o próprio curso da
208
história, concepção que moldou o conceito de povo como um vir-a-ser no plano sócio-
cultural, sem caráter político e revolucionário.
Este conceito de povo histórico-sociológico saído dos embates políticos da
década de 1830 foi aquele que deu esteio ao conceito de povo-nação, desenvolvido
especialmente a partir de fins do século pela “geração de 1870” e aprofundado nas
primeiras décadas do século XX, formando o que costumamos chamar do cânone do
pensamento político e social brasileiro.
209
CAPÍTULO 5
POVO E EVOLUÇÃO: A GERAÇÃO DE 1870
5.1 A reforma política como forma de transformar o povo: o
evolucionismo político
Propomos neste capítulo uma avaliação da construção conceitual do “povo”
realizada pela chamada “geração de 1870” no contexto da crise do sistema política e
social no segundo reinado. Após termos investigado o desenvolvimento dos usos liberal
e conservador do conceito de povo na regência e primórdios do Segundo Reinado, com
a afirmação da idéia conservadora e monárquica no final dos anos 1830, é preciso
investigar o movimento de profunda crítica deste estado de coisas que tomou contornos
mais definidos a partir do fim dos anos 1860. Neste momento, os grandes pilares da
tradição política imperial foram questionados, através de uma linguagem política
renovada, posta em ação no sentido de ultrapassar o que eram considerados os limites
daquele pensamento e ação para resolver os impasses do país. A escolha por finalizar
este trabalho com a geração de 1870 se fundamenta por dois motivos básicos: por ela
pretender discutir e contradizer a linguagem política e conceitual vitoriosa no segundo
reinado, constituindo-se, portanto numa novidade frente ao que viemos tratando
anteriormente; por outro lado foi a geração de 1870 que forjou as primeiras grandes
macrointepretações do Brasil que fizeram história ao longo do século XX no que se
convencionou chamar de “pensamento político e social brasileiro”.
Nosso interesse não é realizar uma análise exaustiva que esgote toda a vasta
produção da geração, o que seria inviável dentro dos limites de um capítulo. Nosso
intuito é indicar as principais linhagens interpretativas produzidas por ela no que diz
respeito à ressemantização do conceito de povo. Recorreremos para tanto a alguns
autores e obras considerados pela bibliografia dedicada à geração como elementos
típicos de suas principais vertentes e essenciais para a compreensão geral do movimento
em questão.
210
Embora a idéia de que existia um grupo político e intelectual que podia ser
agrupado sob o prisma geracional não seja nova, estando presente em diversos autores
que enfatizaram o aspecto doutrinário e filosófico do movimento, tomaremos a idéia de
geração construída por Ângela Alonso em Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na
Crise do Império, publicado em 2002 1. Para a autora, faz sentido utilizar a idéia
geracional para seu objeto, uma vez que teria havido, segundo sua análise sociológica,
uma certa “experiência compartilhada” 2 pelos membros do movimento. Essa
experiência foi essencialmente política: um certo grau de marginalização de seus
membros em relação à ordem imperial os unia, a despeito de todas as diferenças de
origem social, formação e opções doutrinárias, num contexto de profundas
transformações sócio-econômicas e políticas.
Lembremos toda a “remodelação material” 3 por que passou o país na segunda
metade do século XIX. Segundo Emilia Viotti da Costa, dois grandes eventos foram
responsáveis pelas alterações na estrutura econômica e social do país, contribuindo para
um certo desenvolvimento do mercado interno e estimulando o processo de
urbanização: o fim do tráfico em 1850, as medidas graduais rumo à abolição, que se deu
em 1888, e a imigração européia, que se intensifica a partir de 1870. A extinção do
fluxo da entrada de mão de obra cativa ocasionou maior acúmulo interno de capital,
estimulando o crescimento das atividades urbanas, uma incipiente industrialização e
ampliação do comércio interno. A imigração também estimulou o desenvolvimento dos
núcleos urbanos e a monetarização da economia. Somem-se a isso as novidades
tecnológicas como o aperfeiçoamento do sistema de transportes, com as ferrovias e
navios a vapor 4. Os setores médios urbanos cresceram em representatividade social e
econômica, mas menos em termos de inserção política e instrucional na sociedade
imperial. A geração de 1870, embora, tenha origens sociais diversas, inclusive ligações
com a grande lavoura, dirigia seu discurso crítico especialmente estes novos grupos de
intelectuais e profissionais liberais, que eram vistos como os portadores uma incipiente
“opinião pública” nacional.
__________ 1 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 2 Ibidem 3 COSTA, João Cruz. Contribuição à história das idéias no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1967. 4 COSTA, Emília Viotti. Urbanização no Brasil no século XIX. In.______. Da Monarquia à República. Momentos Decisivos. São Paulo, Fundação Editora da UNESP, 1999. pp. 233-270.
211
É consenso entre os autores que trataram da geração que o ponto de referência
para o “surto de idéias novas” foi a crise governamental da década de 1860 5. Já em
1862, um primeiro movimento de crise política se originou no interior do partido
conservador. Foi a primeira dissidência a favor de reformas no sistema que consolidara
o Segundo Reinado: Nabuco de Araujo, Zacarias Góes, Sinimbu, Saraiva Cotegipe e
Paranaguá se juntaram à linha mais moderada dos liberais para formar a Liga
Progressista. O grupo, que conseguiu a presidência do gabinete de ministros, defendeu
um programa moderado de reformas que incluiu a instituição da responsabilidade
ministerial pelos atos do poder moderador, pontos relativos à liberdade individual, à
descentralização administrativa, à reforma judiciária, além a criação de um código civil,
a regeneração do clero e uma revisão do código comercial do Império 6.
Um livro que resumiu o ponto principal do reformismo deste grupo foi escrito
por Zacarias Góes Vasconcelos e publicado ainda em 1860, sendo reeditado com
acréscimos em 1862. Da Natureza e Limites do Poder Moderador fez uma defesa do
governo parlamentar no Brasil frente ao descrédito que lhe dirigiu Paulino José Soares
de Souza em seu Ensaio sobre o direito administrativo, também de 1862. Vasconcelos
defendeu que o governo dos “imediatos representantes do povo”, era possível no Brasil,
embora o grau de civilização das maiorias fosse ainda baixo. À questão de se “pode ou
não o povo do Brasil reger-se a si mesmo”, à que Paulino responde negativamente, uma
vez que o povo aqui não teria um grau de civilização adequado a tanto, Vasconcelos
replicou positivamente, argumentando que os “gênios nascem na liberdade”, logo seria
com a prática e com o aprimoramento da representação política que os homens
ilustrados e capazes se formariam no Brasil. Chamou de “anacrônica e desarrazoada” a
pretensão de suprimir o elemento democrático nos governos. Ao contrário, era preciso
melhorar a forma da representação, dirigindo e conter o elemento democrático, é claro,
mas sem aniquilá-lo. O livro se concentrou na defesa da responsabilidade dos atos dos
ministros quando executavam ordens do poder moderador, como forma do conter os
excessos do poder executivo frente ao poder do “povo”, que era representado pelo
parlamento. A obra foi uma reatualização da crítica liberal imperial, que desde as
__________ 5 Ver PAIN, A. e BARRETO, Vicente. Evolução do Pensamento Político Brasileiro. São Paulo, EDUSP, 1989; ALONSO, op.cit., nota 1. 6 VASCONCELOS, Zacarias Góes de Góes e. Da Natureza e Limites do Poder Moderador. Brasília: Senado Federal, 1978.
212
primeiras décadas do século XIX clamou pelo controle do poder pessoal do Imperador e
dos Ministros em nome do retorno do poder a um genérico e abstrato “povo”.
Porém, a crise política de fato se acentuou quando em 1868, em meio a uma
crise política originada por desentendimentos em relação a conduta na guerra do
Paraguai 7 em curso naquele momento, o Imperador designou um gabinete conservador
a despeito da maioria parlamentar liberal 8. Nesta ocasião, os liberais se dividiram
formando o “partido liberal radical” e o “novo” partido liberal em 1869, que congregou
liberais históricos e os antigos pertencentes à Liga. Este último grupo criou o Clube da
Reforma ainda em 1868, que seria o Centro Liberal em 1869, do qual participaram
Nabuco de Araujo, Bernardo de Souza Franco, Zacarias Góes e Vasconcelos, Antônio
Pinto Chichorro da Gama, Francisco José Furtado, José Pedro Dias de Carvalho, João
Lustosa da Cunha Paranaguá, Teófilo Benedito Otoni, Francisco Otaviano de Almeida
Rosa. Este grupo manteve as tradições do partido liberal até o fim do Império. A tônica
do discurso era uma reatualização do liberalismo político imperial, com a denúncia da
“falsidade do sistema representativo”, do “absolutismo do executivo”, por conseguinte a
necessidade de responsabilizar os ministros pelos atos do poder moderador, o fim da
vitalicidade do senado, a descentralização política, além de questões relativas à
liberdade individual, reforma educacional, liberdade comercial e de ensino. Um ponto,
entretanto, destoava: a ainda tímida proposta de abolição gradual da escravidão. Em
geral, o discurso clamava por um regime “do povo”, no sentido teórico e abstrato dos
liberais históricos do Império. Onde está neste regime, que se diz do povo e pelo povo, a influência mediata ou imediata, próxima ou remota do povo no governo do país, na nomeação e demissão daqueles que governam? Se nem ao menos a municipalidade é obra do povo, mas criatura da polícia, o que resta ao povo?9
__________ 7 Ver DORATIOTO, Francisco. História e Ideologia: a produção brasileira sobre a Guerra do Paraguai. NUEVO MUNDO MUNDOS NUEVOS[EM LINEA], Colóquios 2009, puesto en línea el 13 enero 2009. Disponível em: <HTTP://nuevomundo.revues.org/49012>. Acesso em 08 out 2012. Para este autor a guerra, com seu enorme custo humano e financeiro contribuiu para “acirrar as contradições políticas” e “desgastar as regras informais da luta pelo poder, que ocorria sob o controle do Imperador e seus simbolismos”. Esta crise se expressou mais contundentemente a partir dos acontecimentos de 1868 e 1870. 8 Ver. PAIN, A. e BARRETO, Vicente. Evolução do Pensamento Político Brasileiro. São Paulo, EDUSP, 1989. p . 118; VIANNA, Oliveira. O Ocaso do Império. São Paulo: Melhoramentos, 1933. 9 “Manifesto do Centro Liberal” (31 de Março de 1869). In. BONAVIDES, Paulo e AMARAL, Roberto (orgs). Textos Políticos da História do Brasil. Vol II. Império. Segundo Reinado. Brasília: Senado Federal, 2002. p. 457.
213
A outra vertente liberal formou o Clube Radical também em 1869 e em 1870, o
Partido Republicano, “o primeiro partido alternativo ao status quo imperial” 10, cujas
idéias analisaremos mais detalhadamente adiante. Os republicanos também
reatualizaram o projeto liberal histórico, mas propondo um regime republicano a ser
atingido sem revolução, por via parlamentar, provavelmente após a morte de D. Pedro
II.
As novas dissidências liberais traziam novas demandas por reformas que
incluíam em sua pauta, além das bandeiras tradicionais, como o federalismo, reformas
eleitorais e educacionais, a abolição gradual da escravidão, chegando até a mudança de
regime político, com o Partido Republicano. Na sociedade, a mobilização foi intensa
em torno das propostas e das novas forças políticas, fomentando e dando visibilidade a
um grande movimento de crítica e contestação à ordem imperial. Na tentativa de dar
respostas às transformações econômicas e sociais e aos novos anseios políticos por
reformas, os próprios conservadores no poder iniciaram o processo reformista, que teve
como ponto culminante a Lei do Ventre Livre de 1871, mas que também tocou em
aspectos educacionais, de liberdade civil e de modernização do Estado. A imigração
européia foi incentivada; foi realizada uma reforma judiciária, ampliou-se o habeas
corpus, e a polícia teve seu poder reduzido frente ao dos juízes de direito, o que
dificultou praticas autoritárias de chefes locais, notadamente em épocas eleitorais.
Reformou-se também a Guarda Nacional e aboliu-se o recrutamento forçado. Também
houve investimentos em infraestrutura e educação 11. Foi uma modernização
conservadora ou incompleta, mas que, segundo Ângela Alonso, foi responsável por dar
aos elementos dissidentes e alijados pelo status quo imperial um caminho de novas
oportunidades políticas que tornaram mais visíveis suas idéias.
Vimos que a tradição política imperial forjada com mais clareza nos anos 1840
foi responsável por uma crescente temporalização do conceito de povo nos quadros de
uma maior historicização da realidade política e social. Cada vez mais a linguagem
política foi construída a partir da perspectiva processual e histórica, se afastando do
nível a-histórico e das teorias abstratas. O povo foi entendido a partir da idéia de
__________ 10ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p.74. 11 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
214
“estágios de civilização”, o grande mote do pensamento político oitocentista, e as
instituições políticas e administrativas deveriam se adequar ao diagnóstico deste estágio.
O conceito se tornou cada vez mais contingente, isto é, referido a uma realidade
palpável vinculada a uma determinada apreciação da realidade em dado momento. O
diagnóstico do povo no Brasil, como estando numa etapa ainda inicial, ou atrasado desta
evolução, forneceu as justificativas para a concentração de poder político na corte, em
detrimento das províncias, e na Coroa em detrimento da Câmara dos Deputados.
Embora aceitasse a idéia da soberania do povo, mas, mais correntemente da
soberania da nação, a tradição imperial se distinguiu pela acepção do povo unido
indissoluvelmente à figura real, a partir de uma visão monárquica e católica da política e
da vida social. Enquanto, o povo estivesse percorrendo as lentas etapas do processo de
seu aprimoramento, era necessário que o conceito permanecesse nos quadros da tradição
monárquica e religiosa e ancorado à figura do Imperador e à Igreja, e longe das teorias
jusnaturalistas e democráticas, da idéias e práticas de igualdade, da participação popular
e da revolução.
Pela crítica empreendida pela geração de 1870, este edifício conceitual começou
a sofrer seus abalos mais severos. Os críticos do regime não aceitavam mais o simples
diagnostico negativo do estagio evolutivo do povo e a conseqüente justificação do
sistema político mais adequado ao povo ainda “incivilizado”. Era preciso acelerar a
constituição e progresso do povo através de reformas na estrutura social, econômica e
política. Era imperioso afirmar a existência de um povo no Brasil, por mais imperfeito e
incompleto que pudesse parecer, e trabalhar pelo seu aperfeiçoamento. Buscou-se assim
a compreensão positiva da formação da sociedade brasileira, de seu povo e de sua
história, e pela primeira vez, alguns grupos procuraram teorizar a respeito da
incorporação, de fato, e não de forma romântica, da diversidade étnica e social que
compunha a população brasileira.
Na crítica realizada por estes novos pensadores, a linguagem política sofreu um
processo de historicização mais contundente. Ao mesmo tempo em que a historicização
empreendida pelo conservadorismo imperial foi aprofundada e desenvolvida sob novos
parâmetros, a antiga crítica liberal do Império, que mantinha o conceito de povo no
âmbito abstrato da crítica ao despotismo, da insurreição e da ampliação da participação
política das assembléias provinciais, também foi mais fortemente inserida na concepção
215
da marcha temporal linear e progressiva aprofundada naquele momento. O conceito
político de povo foi envolvido e levado pela onda da nova consciência histórica das
últimas décadas do século, tomando novos sentidos, evidenciados em novos usos, sob o
amparo de novas ferramentas intelectuais.
Neste processo, foi fundamental a influência intelectual exercida pelas teorias
evolucionistas, cientificistas e materialistas, como o darwinismo e o spencerismo,
presente também em autores como Haekel, Moleschott, Pichard, LeBon, Strauss, Stuart
Mill, Lewes, Buckle, assim como os publicistas da República Francesa, como Leon
Gambetta, Thiers e Jules Ferry e autores da “geração de 1870 portuguesa”, como
Oliveira Martins e Teóphilo Braga, Ramalho Ortigão e Eça de Queiroz. Também nota-
se a entrada no repertorio intelectual brasileiro de autores positivistas, como o próprio
Augusto Comte, mas também seus discípulos como Pierre Laffitte, Littré, Taine, Leroy-
Beaulieu e outros. Os autores estrangeiros e seus vulgarizadores eram conhecidos em
grande parte através da Revue des Deux Mondes e pelo Journal des Débats, de grande
circulação entre as elites intelectuais brasileiras na época.
De modo geral, abstraindo as grandes diferenças entre os diversos autores
empregados pela geração, podemos dizer que havia a partilha da noção geral de que a
humanidade caminhava num processo evolutivo. De uma sociedade primitiva, baseada
na organização clânica e tribal, o mundo social caminharia rumo à constituição dos
povos e nações modernos. Na modernidade, a história da sociedade estaria evoluindo no
sentido da superação da sociedade autoritária, baseada no mando militar e na
hereditariedade pra uma sociedade onde imperaria a liberdade e a “ação coletiva
voluntária” 12, com o mínimo de intromissão do Estado, no caso de Herbert Spencer. Já,
de acordo com Auguste Comte, a humanidade estaria caminhando para uma sociedade
governada pelas leis positivas manejadas por sábios especialistas em “física social”.
Esta noção de uma grande marcha evolutiva foi o pano de fundo sobre o qual o conceito
de povo sofreu uma nova ressemantização pela geração de 1870.
Como exemplo paradigmático desse evolucionismo, podemos citar as idéias do
intelectual pernambucano Sílvio Romero, que incorporou ao longo de sua vida
elementos do positivismo e da ciência da época para pensar o fenômeno social, a
formação dos povos e nações. Nesta visão, o desenvolvimento da vida social é uma __________ 12 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999
216
criação natural, apreensível cientificamente. Nos primórdios da humanidade, a
necessidade de sobreviver às forças destrutivas da natureza, teria incutido nos homens
um incipiente estímulo à coesão, fenômeno natural a partir do qual se pode compreender
a passagem do simples agregado humano à “horda” e depois à “tribo”. Posteriormente,
teria havido a gênese das nações pela reunião das tribos. A mais forte impôs sua língua
e cultura às outras tribos e deste modo “se foram organizando povos e nações” 13 até a
criação das nações modernas.
Tais idéias evolucionistas foram incorporadas no sentido de formular uma
apreciação do estado da sociedade brasileira, e também refletir e propor as reformas
econômicas, sociais e políticas de que o Brasil necessitava. Ao contrário do que uma
importante linhagem de autores apontou 14, as idéias do repertório europeu não eram,
em geral, incorporadas acriticamente por intelectuais “deslumbrados”. Esta
interpretação que desaguou na famosa e polêmica tese das “idéias fora do lugar” 15 foi
criticada por autores que enfatizaram em suas análises a “coerência própria ao discurso”
construído pelos membros da geração. Suas análises evidenciavam a apreensão critica e
seletiva das doutrinas segundo interesses políticos e culturais articulados com os
problemas nacionais. 16. De modo geral, o repertorio assimilado pela geração trazia uma
visão clara e científica da evolução social e política que postulavam determinadas etapas
que a marcha da civilização deveria percorrer em todas as partes do globo.
Munidos de novo repertório, mas também, incorporando ainda parte do
repertório da tradição imperial, a geração de 1870 alterou as balizas do debate entre
conservadores e liberais durante o Império. Isto foi possível através de um
aprofundamento da temporalização ou historicização da linguagem política, em relação __________ 13 ROMERO, Silvio. Ensaio de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1908. p. 18. 14 A história das idéias e da filosofia no Brasil iniciou seus passos abordando a problemática da incorporação das doutrinas e correntes filosóficas estrangeiras pelos intelectuais nativos e a “subversão” de seu significado originário no contexto da experiência histórica americana. Os autores grosso modo eram julgados como “filósofos” de variada “competência” para entender e desenvolver a filosofia ocidental no Brasil. Para Cruz Costa, um dos grandes nomes representativos dessa tendência interpretativa as idéias no Brasil de modo geral, não teria conseguido fugir àquela “fatalidade que pesa sobre a cultura brasileira e que é a de registrar, de comentar os ecos das escolas e correntes estrangeiras” As correntes filosóficas européias – o liberalismo, o positivismo, o evolucionismo, etc – ao serem transplantadas para a sociedade brasileira, sofreram “desajustes” e “deformações”. Os intelectuais seriam meros “comentadores” deslumbrados e pouco rigorosos da “doutrinas de importação”, incapazes de produzir um pensamento original e de responder aos anseios e problemas nacionais. Ver. COSTA, João Cruz. Contribuição a Historia das Idéias no Brasil. O Desenvolvimento da Filosofia no Brasil e a Evolução Histórica Nacional. Rio de Janeiro: José Olimpio Editora, 1956. ; BARRETO, V. e PAIM. A Evolução do Pensamento Político Brasileiro. Belo Horizonte/ São Paulo, Itatiaia/EDUSP, 1989. 15 SWARCZ, Roberto. As idéias fora do lugar. Novos Estudos., n. 3, Cebrap, 1989. 16 VENTURA, Roberto. Estilo tropical : historia cultural e polemicas literarias no Brasil 1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
217
à empreendida no processo de consolidação do segundo reinado. O conceito de
civilização que estava agora na base da nova linguagem política e social se identificava
à idéia positiva de modernização, ao diagnóstico da “obsolescência dos modos de
pensar e agir das sociedades aristocráticas”17 e ao esforço de modernizar o Brasil,
conhecer seus problemas e potenciais, para inseri-lo na marcha da civilização ocidental.
Como apontou Roque Spencer Maciel de Barros, as idéias progressistas da história não
eram escolhidas ao acaso, mas com o propósito de integrar o país na cultura ocidental,
dar um sentido universal aos acontecimentos nacionais, justificando e fomentando as
transformações necessárias por que o país teria que passar naquele momento.18A nova
intelectualidade política do momento se propunha a um esforço de atualização,
modernização e universalização em oposição a simples busca de uma singularidade do
romantismo, como apontou Lucia Lippi de Oliveira. 19. Integrar a singularidade
brasileira à marcha universal da civilização era portanto a palavra de ordem da geração
de 1870.
Um grande ramo da geração acreditou ser a reforma política e institucional o
caminho privilegiado para gerar um povo diferente no futuro. Mais apegados a uma
“visão jurídica do homem” 20 decorrente de um liberalismo mais tradicional, mas
embebidos também pelo evolucionismo cientificista em voga, supunham que a lei podia
e devia caminhar adiante dos fatos e da sociedade, alterando-os. A expansão da
participação política, alterações no sistema eleitoral e organização federativa do Estado,
mudanças no sistema político, aliada a reformas administrativas racionalizantes,
engendrariam um novo povo formado por cidadãos ativos e conscientes como teria
ocorrido nos Estados Unidos da América – tidos como o grande modelo. Antes de
qualquer reforma de cunho social, o povo deveria ser incluído no sistema político
através de uma mudança institucional e de regime. Schwarcz, entre outros intérpretes da
geração, apontou nestes autores - fortemente presentes na Academia de Direito de São
__________ 17 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 18 BARROS, Roque Spencer Maciel de Barros. A ilustração Brasileira e a idéia de universidade. Tese/doutorado São Paulo: USP; 1959. 19 OLIVEIRA, Lucia Lippi de. A questão Nacional na Primeira Republica. São Paulo: Brasiliense, 1990 20 BARROS, Roque Spencer Maciel de Barros. A ilustração Brasileira e a idéia de universidade. Tese/doutorado, São Paulo:USP; 1959.
218
Paulo 21, - a clara aposta no liberalismo político como forma de resolver os impasses do
país. Estes autores aceitavam a ciência evolucionista da época, mas a consideravam
incapaz de criar valores que pudessem guiar as escolhas humanas. Estes seriam naturais
ao homem, e a grande luta política seria justamente no sentido de torná-los efetivos.
Acreditamos que estes autores foram responsáveis pelo desenvolvimento de um
conceito político-evolutivo de povo.
Nesta vertente, os problemas econômicos e sociais que afligiam o Brasil nas
últimas décadas do século XIX – o “atraso econômico” que representava a monocultura
agro-exportadora, o débil desenvolvimento urbano e industrial e, principalmente, o
regime escravista – tinham a solução transposta para um horizonte futuro. Eram vistas
como “reformas sociais”, logo pertencentes a uma outra esfera, apartada da esfera da
iniciativa política. Era premente limpar o caminho reordenando a institucionalidade
política e burocrática com o estabelecimento do regime republicano, acabando com o os
privilégios, com o poder moderador, com a falsificação do sistema representativo
imperial. Era preciso, portanto, transformar primeiramente o Estado, a “força superior”,
nas palavras do republicano paulista Alberto Sales, 22 capaz de protagonizar todas as
reformas de que o país carecia.
O desenvolvimento econômico-social seria obra do tempo, cuja marcha seria
acelerada com o reordenamento político. Neste sentido, a escravidão, embora um grave
problema social e econômico, corruptora das instituições do desenvolvimento em todos
os sentidos, deveria ter um fim gradual, acompanhada de uma competente política
imigratória que substituísse a mão de obra, e que trouxesse o sopro de civilização que
representava a entrada de raças em estágio mais avançado de desenvolvimento. É
preciso entender que este liberalismo se banhava nas teorias raciais e numa visão
cientifica evolutiva tão em voga no final século XIX, fazendo das reformas sociais e
econômicas parte de uma transformação ampla cujo ritmo deveria ser respeitado. O
tempo oportuno do fim da escravidão ainda não teria chegado, embora sua existência no
país já estivesse condenada.
Como grande exemplo desta vertente, temos Quintino Bocaiúva, um dos autores
do Manifesto Republicano de 1870, ao lado de Salvador de Mendonça. Discípulo de __________ 21 SWARCZ, Lílian Mortiz. As faculdades de direito ou os eleitos da nação. In. O Espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Cia. das Letras, 1993. 22 SALES, Alberto. Catechismo Republicano. São Paulo: Leroy King Bookwalter, MDCCCLXXXV.
219
Saldanha Marinho, importante figura liberal do império, desde cedo ingressou na
política. Na década de 1870 se identificou com as doutrinas evolucionistas em voga,
especialmente com o spencerismo e o comtismo, mas sempre repudiando o aspecto
religioso deste último, assim como sua defesa de uma republica ditatorial. Deste modo,
permaneceu como um defensor dos ideais liberal-democráticos, mas, acrescentando ao
liberalismo imperial a proposta da republica federativa. Num elogio histórico à
Tiradentes, proferido em 1886, fica clara importância que dava à esta forma política no
sentido de formar um novo povo:
Após o sacrifício do mártir, após tão longo tempo decorrido, nós outros ainda representamos a minoria resistente, em nossa consciência e da dignidade nacional, que sonha com o ideal da forma republicana federativa para salvar a nacionalidade brasileira e reerguer o caráter do povo. 23
O caráter do povo aqui significava algo essencialmente político: a participação
política poderia formar um povo com consciência cívica, educação e costumes
apropriados ao sistema representativo republicano. A Republica, entretanto, deveria ser
atingida sem sobressaltos revolucionários, acompanhando o “ânimo dos povos”. O
movimento republicano, portanto, era um movimento de propaganda, no sentido de
acelerar a marcha de esclarecimento do povo para possibilitar, no futuro, a chegada do
novo regime. Era um evolucionismo essencialmente político, e menos sociológico,
como em outros autores da geração, onde o que estaria em evolução seriam as
consciências, as virtudes e a moral cidadã. Em 1882, Bocaiúva definiu claramente sua
visão evolucionista da política:
Saber acompanhar a marcha progressiva de uma idéia no animo dos povos; facilitar o êxito de sua propaganda; proporcionar, pela ilustração dos espíritos, novos instrumentos de ação à causa de perfectibilidade social; fortificar as consciências pela prática assídua das virtudes civis, que únicas podem concorrer para a afirmação e para o cumprimento do dever em todas as esferas da atividade moral; saber acompanhar os movimentos impulsivos da sociedade política, que sempre aspira chegar ao cumprimento da sua organização, e tende a elevar-se sucessivamente às regiões da perfectibilidade relativa das suas funções e do seu mecanismo; fazer ao tempo e às circunstancias especiais do meio em que se vive e trabalha, aquelas concessões que razoavelmente se lhes pode fazer sem quebra dos princípios nem desfacelamentos morais; concessões que nada mais exprimem do que uma contemporização legitima e
__________ 23 BOCAIUVA, Quintino. Idéias Políticas de Quintino Bocaiúva. Cronologia, introdução, notas bibliográficas e textos selecionados por Eduardo silva. Brasília: Senado Federal; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986. p. 592.
220
necessária com a modalidade ocasional ou transitória da sociedade; tal é, no nosso humilde entender, a definição do evolucionismo político. 24
Este evolucionismo político, ao mesmo tempo em que transpunha a republica
para um futuro, quando as consciências estivessem preparadas, via a questão servil
como uma obra que extrapolava o âmbito das reformas políticas, algo pertencente ao
mundo social, que seguiria sua lenta marcha. Embora tenha se declarado abolicionista
em algumas ocasiões, acreditava que o partido republicano não deveria se imiscuir no
movimento abolicionista, visto como essencialmente revolucionário e desestabilizador
da ordem. Os republicanos se posicionaram contra a Lei do Ventre Livre de 1871 como
um “monstruoso projeto” e eram favoráveis á descentralização das decisões sobre o
elemento servil, bem como à indenização aos proprietários de escravos. Houve, porém,
discordâncias sobre esta questão, como mostra a violenta discussão entre Quintino e
José do Patrocínio no Assembléia Geral do Partido em 15 de agosto de 1881, quando
Bocaiúva, o Candidato escolhido pelo partido para as eleições fez sua apresentação
formal.25 O posicionamento em relação à abolição evidencia o caráter essencialmente
político, mas também excludente do conceito de povo esboçado neste republicanismo
de 1870: não eram necessárias reformas econômicas e sociais imediatas para gerar um
povo. Este seria desenvolvido a partir de reformas puramente políticas e institucionais,
capazes de revelar uma consciência política republicana já constituída, mas latente,
notadamente entre as camadas superiores da sociedade.
O pensamento e o modo de ação de Quintino Bocaiúva podem ser resumidos no
Manifesto Republicano, como atestam Ângela Alonso26 e Eduardo Silva27. Faremos
uma breve exposição de seu conteúdo, procurando ressaltar o modo pelo qual o conceito
de povo foi utilizado e significado. O texto se concentra no problema das instituições
monárquicas, responsáveis pela “decadência moral, desorganização administrativa e
perturbações econômicas”. Trata-se de um defeito sistêmico: a existência de um único
poder ativo, onipotente, perpétuo, superior à lei e à opinião, sagrado, inviolável e
__________ 24 SILVA, Eduardo. Quintino Bocaiúva, um republicano em busca da republica. In. BOCAIUVA, Quintino. Idéias Políticas de Quintino Bocaiúva. Cronologia, introdução, notas bibliográficas e textos selecionados por Eduardo silva. Brasília: Senado Federal; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986. p 60. 25 BOCAIUVA, Quintino. “Apresentação do Candidato escolhido pelos Eleitores Republicanos”. In. Idéias Políticas de Quintino Bocaiúva. Cronologia, introdução, notas bibliográficas e textos selecionados por Eduardo silva. Brasília: Senado Federal; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986. p. 560-581. 26 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 27 SILVA, op. cit., nota 24.
221
irresponsável, frente a uma povo alheio e inerte. Para entender a origem deste estado de
coisas, os autores optam pelo método consagrado em sua época, o método histórico. Era
preciso retornar à fundação do Império para entender a institucionalidade política ali
fundada.
O republicanismo do Manifesto é a vertente do pensamento de 1870 que mais se
assemelha ao argumento liberal tradicional no Império, expresso, por exemplo no Libelo
do Povo de Sales Torres Homem ou na Circular de Otoni, analisados capitulo anterior.
Como nestes liberais “históricos”, o Manifesto percebia a história brasileira como o
conflito entre o Estado e o “povo”, entre o despotismo e as forças vivas e democráticas
da sociedade. O conceito de povo aparece portanto como uma entidade abstrata e
teórica, portadora de vontade e consciência, sempre em oposição ao estado monárquico
visto como despótico. Neste sentido, a opção monárquica fora fruto uma “emboscada
política” ou de um “consorcio falaz da realeza aventureira” que sobrepujou a evolução
natural da idéia de emancipação e de soberania popular que ganhavam naturalmente
terreno na consciência do povo.
Referindo-se à independência brasileira, os autores deploram que “entre a sorte
do Povo e a sorte da família, foram os interesses dinásticos os que sobrepujaram os
interesses do Brasil” 28. Com a dissolução da Assembléia e a outorga da carta, se teria
iniciado o problema que caracterizou o sistema político imperial: a conciliação
impossível entre dois sistemas contraditórios e inconciliáveis que a concepção de
“monarquia temperada” implicava, a saber, soberania do povo e o poder dinástico e
hereditário. Tal combinação é vista no Manifesto como inadmissível, uma vez se trata
da “transição entre a verdade triunfante e o erro vencido, entre as conquistas da
civilização e os frutos do obscurantismo” 29.
Os autores do manifesto viram a colapso da sociedade imperial pelo viés
evolucionista: a decadência de um modelo de sociedade e de uma organização política
forjados com o despotismo colonial e com a escravidão e perpetuado indevidamente ao
longo da história brasileira de forma anacrônica. Essa constituição histórica específica
__________ 28 Manifesto republicano de 3 de dezembro de 1871. In. BONAVIDES, Paulo e AMARAL, Roberto (orgs). Textos Políticos da História do Brasil. .v II. Império. Segundo Reinado. Brasília: Senado Federal, 2002. p. 482.
29 Manifesto republicano de 3 de dezembro de 1871. In. BONAVIDES, Paulo e AMARAL, Roberto (orgs). Textos Políticos da História do Brasil. v II. Império. Segundo Reinado. Brasília: Senado Federal, 2002. p. 493.
222
teria deturpado o desenvolvimento do povo, criando a nossa “decadência moral” e a
“frouxa languidão que enerva as almas e a própria força física de nossa população” 30. A
monarquia de 1822 teria criado um mecanismo político que tornou inerte o eixo em
torno do qual deveria girar qualquer governo legítimo: a vontade do povo. Assim, o
governo teria passado a girar em torno do outro pólo, o “poder pessoal” e arbitrário do
Imperador.
O argumento contrário à sucessão dinástica e a toda instituição vitalícia, como o
Conselho de Estado e o Senado é especialmente importante por ir de encontro a um dos
fundamentos da tradição política imperial: a união mística entre “o rei e seu povo”,
fundada num pacto originário de constituição da nação no ato da aclamação. A
soberania nacional é “a reunião das vontades de um povo”. Porém, este povo não é uma
entidade fixa e estática, mas está no tempo e na história. Logo,
como as gerações se sucedem, e se substituem, fora iníquo que o contrato de hoje obrigasse de antemão a vontade da geração futura, dispondo do que não lhe pertence, e instituindo uma tutela perene que seria a primeira negação da própria soberania nacional 31
Trata-se de uma percepção do povo e da nação ainda mais historicizada e que
foge completamente à inclusão mítica e simbólica, que o liberalismo conservador
imperial realizou. O povo está no tempo, passa por gerações sucessivas, e, portanto, sua
vontade se transforma. Logo, as instituições não podem se pretender atemporais e
possuidoras da tutela do povo. Porém, neste argumento historicista, o povo é definido
ainda na esfera política e teórica apenas, pois é, sobretudo, o portador de uma
“vontade”, de uma “opinião”, que deve ter influência na vida política do país. Trata-se
de um povo abstrato e genérico, assim como o povo do liberalismo de Otoni ou de
Timandro, tratados no capítulo anterior, embora banhado numa nova consciência
temporal mais historicizada.
O evolucionismo científico foi mobilizado de forma ainda mais contundente por
outros grupos republicanos das províncias, em especial de São Paulo e Rio Grande do
__________ 30 Bocaiúva, Q. e Marinho, s. Manifesto Republicano apud ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 183. 31 Manifesto Republicano apud BONAVIDES, Paulo e AMARAL, Roberto (orgs). Textos Políticos da História do Brasil. Vol II. Império. Segundo Reinado. Brasília: Senado Federal, 2002. p. 457.
223
Sul, marginalizados politicamente. 32 Foram muito influenciados pelo positivismo, mas
pela linhagem não ortodoxa, a de Littré, que valorizava as liberdades individuais e não
propunha como solução política um estado autoritário e centralizado. Sua relação com a
doutrina de Augusto Comte era livre, devendo antes ser descrita como um “espírito
positivo” e materialista, o que era comum a quase toda a geração e não como
“positivismo” no sentido da aceitação da totalidade da filosofia política e social de
Augusto Comte 33.
O mote deste grupo era igualmente a reforma política, assim como para os
autores do Manifesto de 1870, mas eram mais claros sobre seu caráter cientifico:
tratava-se de uma reforma que fosse fundamentada em “princípios científicos
incontrovertíveis, com o fim de racionalizar uma vida social que se lhe aparecia
entregue a uma pura vitalidade inorgânica presidida pela improvisação” 34. O principio
republicano e democrático não era uma invenção da racionalidade política, mas uma
“imposição da própria evolução espontânea das instituições políticas”35. Criticavam as
instituições monárquicas, especialmente a centralização político-administrativa e a
religião de estado.
Como no Manifesto, a reflexão destes republicanos partia da formação histórica
do estado-nacional brasileiro que se teria dado através de uma manobra dinástica
artificial, sobrepujando a legítima vontade política do povo forjada na evolução
histórica. Este fato anômalo em nossa história teria causado um antagonismo entre o
povo e o sistema político, assim como a corrupção dos caracteres e da consciência
pública. Para Alberto Sales, embora, o povo brasileiro estivesse sendo
levado espontaneamente pelas suas próprias tendências ao regime político da republica, foi, no entanto, obrigado a aceitar o governo despótico da monarquia bragantina, pela pressão irresistível das baionetas reais. Nunca se poderá , portanto dizer, em presença deste fato que a monarquia no Brasil teve a sua origem na escolha franca do povo. Ela aqui se estabeleceu pela vontade única de um homem. 36
__________ 32 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 33 Este grupo reúne autores como Américo Brasiliense, Prudente de Morais, Jorge Miranda, Rangel Pestana, Pereira Barreto, Julio de Castilhos, Francisco Assis Brasil, Pinheiro Machado, entre outros.
34 VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965. 35 SALES, Alberto. apud VITA. Ibidem. 36 Idem. Política Republicana. apud VITA. op. cit. nota 34.
224
No Rio Grande do Sul, o líder republicano Julho de Castilhos expressou idéias
semelhantes. Em artigo de 3 de março de 1884, apoiou-se na experiência da Revolução
Farroupilha (1835-1845) para argumentar que a formação histórica do povo de sua
província a tinha adornado de um caráter essencialmente republicano. Porém, o domínio
político imperial e dos partidos tradicionais, havia feito adormecer essa tendência
histórica do povo gaúcho:
Infelizmente, porém, pela ambição indisciplinada de alguns homens que souberam explorar os sentimentos tradicionais deste grande povo, pela tibieza condenável de outros, pela culpada indiferença de quase todos, a uma longa apatia esteve votado o viril espírito republicano que animou o passado do Rio Grande. Era, todavia, inevitável o termo dessa apatia. O espírito de um povo, sob a pressão vitoriosa da tirania, ou sob a ação funesta da corrupção política, pode se entorpecer, retardar-se mesmo no seu desenvolvimento através da história; mas não pode ser votado ao abatimento irremediável. 37
Julho de Castilhos foi figura proeminente do Partido Republicano do Rio Grande
do Sul. Em seus editoriais inflamados no jornal A Reforma que circulou durante a
década de 1880, vemos resumidas suas posições quanto às necessárias transformações
políticas por que o pais teria que passar. Castilhos se identificou bastante ao
positivismo, mas, como muitos outros no período, não endossou as teses sobre a
ditadura republicana centralizada, permanecendo um liberal-democrata e um federalista.
Aliás, era um fervoroso defensor da vida parlamentar como um elemento pedagógico,
pois “é de um parlamento que uma idéia pode mais imediatamente impor-se ao espírito
de um povo” 38. De Comte, apenas tomou a sua filosofia da história evolucionista que
dava como certo o caráter obsoleto das monarquias hereditárias no globo e sua
superação pelo regime republicano. Era também defensor da abolição imediata e sem
indenização, contrariando a tendência de muitos outros republicanos. Porém, não deixou
de concordar com as teses comteanas a respeito da hierarquia sociológica das raças.
Para Castilhos, a Republica tinha que vir necessariamente acompanhada da abolição
__________ 37 SALES Apud VITA. VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965. p. 10 38 MARTINS, Liana Bac, SILVA, Luís Antônio Costa da e NEVES Gervásio Rodrigo Pensamento político de Júlio de Castilhos. Porto Alegre: Martins Livreiro Ed., 2003. (19/01/1885). p. 28.
225
para ser de fato legitima, pois este regime de liberdade não podia conviver com a
escravidão 39.
Castilhos via o Estado Imperial como absolutamente contraposto às idéias do
povo, suas aspirações e sentimentos e opinião. O primeiro reinado fora unicamente
fundado na “violência”, portanto, absolutamente ilegítimo, assim como o segundo, em
que abundou a corrupção. Neste sentido, o pacto político fundador entre o povo e o rei
propalado pela tradição como fundamento da nação brasileira era falso. As instituições
monárquicas estariam em absoluto e irremediável descompasso com a sociedade
política:
As instituições se tornaram incompatíveis com o Estado da Opinião, ficaram imóveis enquanto a consciência nacional avançou, perderam finalmente o prestigio moral, indispensável a todo poder para manter-se. (...). É um principio que não está identificado com os sentimentos e aspirações do povo a que se aplica, que nãos e prende por vinculo algum à felicidade da Pátria, é um principio insubsistente 40.
A comparação com a república norte-americana era constante entre os
republicanos de todos os matizes. Naquele país, a independência fora feita através de
uma guerra com a metrópole, que havia congraçado todo o povo e forjado ali suas
tradições políticas. O sistema político ali adotado, com a união de todos os estados
numa grande nação fora compatível com o Estado da sociedade. Já no Brasil, a unidade
sob o manto imperial fora artificial, não acompanhando e fomentando o principio
democrático que já se desenvolvia no seio do povo. A Independência, “glória” e
“patrimônio do povo” das diversas regiões, “fora atraiçoadamente arrebatada pelo
déspota.”41
O mote da tendência histórica do povo refreada pela astúcia dinástica foi
embasado em argumentos evolucionistas sobre a formação das sociedade políticas
nacionais. Uma nação não pode para estes republicanos ser uma criação arbitrária ou
acidental, mas o resultado natural da evolução do organismo humano. Foi esta evolução
que não teria sido respeitada no Brasil. O povo brasileiro em processo natural de
formação teria tido sua marcha interrompida por uma dinastia estrangeira que criou um
__________ 39 Para uma análise das idéias abolicionistas de Julio de Castilhos ver. CASTILHOS, Julio. Julio de Castilhos: positivismo, abolição e republica. Organização e apresentação de Margaret Bakos. Porto Alegre: IEL-Edpucrs, 2006. 40 Idem, artigo de 3 de março de 1885. p. 241. 41 CASTILHOS, Julio. Artigo dia 03 de janeiro de 1885.
226
estado forte e centralizado, sufocando arbitrariamente os povos das diversas regiões,
excluindo-os das decisões políticas.
Alberto Sales expôs com grande clareza estes argumentos em sua teoria da
evolucionista das sociedades políticas. Por um lado, acreditava que as instituições e
regimes políticos deveriam ser fundamentadas na realidade do povo a que se destinam:
“só o povo é o único competente para escolher o governo que quiser, desde que entenda
que a forma preferida esteja de harmonia com a índole, seus costumes, seus
antecedentes históricos e suas necessidades sociais” 42. Em sua teoria evolucionista da
história de inspiração spenceriana, as sociedades políticas partiriam da época dos
privilégios de nobreza e casta, característicos das monarquias hereditárias, para o
mundo da republica, governo do povo.
O esforço de Alberto Sales em A Pátria Paulista foi o de fundamentar seu
projeto separatista republicano sob argumentos científicos, no sentido de mostrar que
tais pretensões eram fundadas no estado do povo e numa análise científica de sua fase
histórica. O desenvolvimento dos processos políticos de uma sociedade poderia para ao
autor ser entendido a partir da analogia com o desenvolvimento embriológico. Para
pensar esta biologia social, se filiou às idéias de Herbert Spencer para quem o progresso
de todas as coisas, desde a vida biológica e geológica, até a vida social, parte do
“simples ao complexo, através de diferenciações sucessivas”43. Este processo evolutivo
de desenvolvimento consistiria em movimentos sucessivos de “desagregação” e
“agregação”, “diferenciação” e “reintegração”, num fluxo constante que vai do
homogêneo ao heterogêneo e vice-versa. Esta lei explicaria o desenvolvimento dos
povos e nacionalidades.
Em sua visão evolucionista, além de Spencer, tiveram grande importância
Theóphilo Braga e Littré, para quem o “povo” e a nação são o resultado de uma longa
evolução, que se inicia na fase primitiva da população, a tribo, considerado um estágio
insipiente e de frágil coesão, pois fundado unicamente no parentesco. Tratar-se-ia de
uma fase onde predominaria o caráter heterogêneo. Numa fase posterior viria a cidade,
portadora de uma agregação ou homogeneização mais forte e estável, pois fundada na
__________ 42 SALES, Alberto apud VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965. p. 188. 43 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
227
diferenciação de funções e classes e na sua cooperação. Pouco a pouco, os elementos
de coesão deixam de se limitar unicamente à cidade, passando a abranger todo um
território mais vasto, produzindo “essa agregação imperfeita, mas inteiramente nova e
original que se chama povo” 44. Citando o filosofo alemão Johann Caspar Kaspar
Bluntschli (1808-1881) e Littré, Sales define o povo como
uma espécie de desenvolvimento psicológico, que produz pouco a pouco uma massa de homens, um caráter próprio, e uma comunidade de vida, que se afirma pela hereditariedade. Para criar um povo é preciso o lento trabalho das gerações; o povo não existe definitivamente senão quando seu caráter próprio tem se tornado hereditário pela perpetuação das famílias e pela transmissão de sua cultura de pais a filhos’. Na opinião de Littré, chama-se povo, a “uma multidão de homens de um mesmo país, que vivem debaixo das mesmas leis. O povo , portanto, representa uma incorporação social e política de indivíduos que se ligam pela identidade de origem e pela identidade de cultura.45
Esta unidade social, cultural e de origem que é o povo para Alberto Sales dá,
numa fase posterior da evolução, origem à “nação”, considerada uma unidade social
superior. Além da comunhão de caráter, língua, costumes, cultura, que caracteriza o
povo, a nação, que repousa sobre a existência deste, distinguir-se-ia, pela faculdade de
exprimir sua vontade em um governo, em leis e órgãos constitucionais, isto é, sendo
uma personalidade publica e jurídica. Para conceitualizar a nação, Sales se vale das
idéias de Stuart Mill, para quem a nação se dá quando entre um dado grupo humano se
formam simpatias que os levam a agir coletivamente, viver sob um mesmo governo.
Tais “simpatias” seriam resultados de diversas causas, entre elas a identidade de raça e
de origem, de língua, de religião, assim como os limites geográficos. Porém, o mais
importante seria “a identidade dos antecedentes políticos, a posse de uma história
nacional, a comunidade de recordações, o orgulho e a humilhação, o prazer e o pesar
coletivos, que se prendem aos mesmos incidentes do passado” 46.
No Brasil, todo este processo evolutivo fora obliterado. Mas mesmo assim, a lei
social seguiu seu rumo, formando nacionalidades regionais, comunidades de língua,
raça, cultura. A história fizera de São Paulo uma nação independente e autônoma, com
língua, raça, limites geográficos e cultura comuns. Vale destacar a visão sobre a raça, __________ 44 SALES, Alberto apud VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965. p.91. 45 Ibidem 46 SALES, Alberto apud VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965, p.96.
228
que Sales estende para toda a região sul. Para o autor, argumentação em que se
fundamenta nas teses de Oliveira Martins, os colonos que foram para esta região eram
superiores, pela cultura moral e genealogia racial, quando comparados aos do norte.
Também se distinguiram por não se terem miscigenado com a população de origem
africana, num estágio inferior. Desta constatação viria o projeto federalista. A principal
causa advogada por Sales em nome do evolucionismo histórico é, portanto, a inclusão
do povo no sistema político através do sistema federativo.
Os republicanos cientificistas, como Sales e Castilhos, se batiam contra um dos
pilares da tradição imperial: a idéia de que o povo deve ser preparado, levado à
civilização, e, enquanto se dá esta preparação, deve permanecer protegido sob o manto
imperial. Esta fase de preparação parecia uma falácia, pois o sonho de um povo livre e
educado para a política parecia ainda muito distante. Para Sales, “infelizmente a
preparação já tem séculos, a contar do domínio português, e o resultado é este: Mais de
dez milhões de analfabetos” 47. Era preciso, portanto, acelerar este processo através da
mudança de regime:
Podemos assegurar que o Imperador é da mesma opinião. Sua majestade se confessa republicano, mas é de parecer que a monarquia ainda é parecer que a monarquia ainda é necessária por cem anos para preparar o povo. Moisés foi menos exigente. Contentou-se com 40 anos de preparação no deserto para entrar na terra prometida. E quando a monarquia chegasse a formar um povo livre, forte, instruído e feliz, teria realizado tão grandioso monumento, que fora ingratidão a mudança de forma de governo. Que viria fazer a Republica? Porque a Federação? 48
Julho de Castilhos no Sul também combateu este mesmo mote da tradição
imperial, que apontava o “estado de decadência moral” do povo e a inaptidão para a
liberdade política que tornariam imprescindível monarquia hereditária. Para este
republicano, este argumento se evanescia diante de um povo que contradizia este
diagnostico. Em um de seus editoriais de 20 de janeiro de 1888, analisou a atitude da
Câmara Municipal de São Borja diante das notícias de que o imperador havia sido
acometido de moléstia talvez incurável. Os vereadores propuseram que se aprovasse
uma moção sugerindo um plebiscito nacional para decidir quanto à conveniência da
sucessão no trono da Princesa Isabel. O fato teve enorme repercussão fazendo com que __________ 47 Ibidem, p. 110. 48 Ibidem, p. 112.
229
Em São Paulo e no Rio de Janeiro as câmaras municipais e assembléias provinciais
repetissem o ato. Diante desses fatos, era tempo de refletir sobre
Se, de fato, a degeneração popular, tantas vezes por voz invocada nas revelações intimas e sinceras, que vos tem impedido de assumir a atitude respeitável de direitores de um povo que aspira viver livremente – o exemplo de São Borja invalida por completo esse temor infundado, e bem claro indica o dever que vos cumpre em face do desvairamento do governo.49
Vimos nesta seção, a construção conceitual do povo era uma entidade
essencialmente política. Embora partissem de considerações “sociológicas” baseadas no
evolucionismo do período, o esforço destes homens se orientou para a construção de um
conceito de povo como a entidade portadora de vontades e valores essencialmente
políticos. Nesta reflexão, o evolucionismo político em obra no sentido da formação do
povo apto à vida republicana e democrática foi de certa forma “traído” ou “obstruído”
pelo artifício político de uma casa dinástica estranha ao desenvolvimento do Brasil. O
aspecto de uma unidade política é ressaltado como o grande definidor do conceito de
povo. A ciência evolucionista é aqui utilizada no sentido de afirmar, como se pode
perceber igualmente nos escritos dos liberais históricos do Império, que a marcha da
evolução das consciências no interior do povo fora rompida. Porém, estes autores pouco
desenvolvem uma reflexão sobre o povo como no sentido propriamente social.
5.2 A reforma social como forma de transformar o povo: o
evolucionismo social e a questão da miscigenação
Para um importante grupo de autores, entre os quais podemos destacar Silvio
Romero, Annibal Falcão, André Reboucas, Miguel Lemos e Joaquim Nabuco, o
momento do país na segunda metade do século XIX exigiria uma regeneração
econômica, moral e das relações sociais antes da transformação política e legal. As
soluções para os problemas políticos deveriam vir no ritmo da evolução histórica, no
curso do tempo, como resultado natural destas mudanças, não sendo forçadas por
mudanças de caráter político. O latifúndio, a monocultura, escravismo e a questão racial
eram o fulcro dos problemas nacionais, aqueles que deveriam ser primeiro entendidos e __________ 49 SALES, Alberto apud VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1965. p. 70.
230
atacados. Economia, cultura e sociedade constituíam o foco das reformas pretendidas, e
a abolição, o primeiro passo no caminho das transformações 50. As atenções se voltaram
então para o povo como constituição étnico-cultural, econômica e histórica: os legados
culturais e raciais ibérico e africano, bem como o sistema monocultor e escravista, são
as chaves para entender o caráter do povo realmente existente e forjar o povo que se
queria ter.
Para estes pensadores e políticos, o povo precisava ser aperfeiçoado e
incentivado em sua marcha rumo à modernização. Sua existência estava forjada na
materialidade do entrecruzamento das raças, na miscigenação, na cultura e na vida
social. Transformar as instituições políticas e o direito não poderia ser o primeiro passo,
pois, como observou Barros 51, esta mentalidade supunha serem estas realidades
produtos naturais de determinado estagio da humanidade. Logo, rupturas neste domínio
requeriam uma transformação social que lhes desse base e legitimidade histórica. Era
preciso para estes homens, no entendimento de Lilia Swarcz, “ir além da consciência
jurídica para encarar como um todo os impasses do país”.52 A aposta no liberalismo
político e a idéia da transformação da política formal e do direito como saídas para os
problemas nacionais parecia insuficiente. Era imprescindível estudar, entender o povo
realmente existente e transformá-lo a partir de sua base de formação sociológica. Nas
palavras de Joaquim Nabuco, o problema não era político, mas dizia respeito ao social.
Era imprescindível, portanto, formar “um outro ambiente” em que o povo brasileiro
pudesse “desenvolver-se e crescer em meio inteiramente diverso” 53.
Cabem aqui algumas considerações a respeito do critério heurístico utilizado
para tratar deste segundo grupo de autores. Pode parecer fora de propósito unir num
mesmo ponto de análise autores francamente positivistas e republicanos e autores como
Joaquim Nabuco, monarquistas e herdeiros mais diretos dos liberais imperiais. Ângela
__________ 50 A questão da abolição imediata, entretanto, é uma divergência entre os autores. Para Silvio Romero e outros, a questão da libertação dos escravos foi uma “obra na qual colaborou toda uma nação” e não um mérito de políticos individuais. A abolição, para Romero, já havia começado há tempos de forma espontânea e progressiva, como um processo natural próprio do caráter nacional brasileiro. A confiança em seu diagnóstico da nação era tão grande que o autor se punha contra a abolição imediata ou com prazo definido. Por receio de retirar subitamente do país sua fonte de produção da riqueza social, acreditava ser a melhor solução deixar a questão nas mãos da iniciativa particular. Ver ROMERO, Sílvio. O momento intelectual brasileiro no ano da proclamação da publicação da História da Literatura Brasileira. In. Sílvio Romero. Trechos escolhidos. Rio de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1959. p. 30. 51 BARROS, Roque Spencer Maciel de Barros. A ilustração Brasileira e a idéia de universidade. Tese/doutorado São Paulo: USP; 1959. 52 Ibidem, p. 169. 53 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 239.
231
Alonso os dividiu em grupos separados em sua análise, agrupando sob o título de
“positivistas abolicionistas”, os primeiros, e de “novos liberais”, os segundos, de acordo
com seus critérios de maior ou menor proximidade ao status quo imperial. Outros
autores preocupados com doutrinas, e menos com o aspecto da ação política das idéias,
falam de “liberais” e “cientificistas”. Porém, de acordo com nossos objetivos, o
agrupamento aqui proposto procede, uma vez que tais autores, guardadas suas
especificidades, focavam suas análises do Brasil e suas propostas políticas em
apreciações históricas e sociológicas do povo, sob o prisma evolucionista da época,
diferenciando-se do evolucionismo político dos autores do Manifesto Republicano, de
Alberto Sales e Castilhos.
De todo modo, os autores que serão aqui analisados se aproximavam também,
em certa medida, por seus ideais políticos 54, uma vez que eram favoráveis a governos
com executivos fortes para dirigir a sociedade de cima. É bom não perder de vista,
entretanto, que os positivistas eram favoráveis a uma ditadura republicana dirigida por
sábios especialistas em “física social”. Eram republicanos, mas divergiam muito dos
signatários do Manifesto, pois eram contrários à influência do “elemento democrático” e
mesmo do governo parlamentar. Já liberais monarquistas como Nabuco eram partidários
de um governo monárquico forte e ilustrado, promotor do progresso, mas com forte e
atuante participação política parlamentar.
A leitura destes autores revela a própria idéia de um Brasil social em
desenvolvimento naquele momento, isto é, de um povo que se definia por sua formação
social e histórica e menos pela evolução de suas idéias e vontades políticas relacionadas
à noção de soberania do povo. É da perspectiva do povo como um elemento social,
antes que político, de que vamos tratar.
Primeiramente, vamos abordar as idéias e atuação de um político e autor liberal
de grande importância para o pensamento social Brasileiro: Joaquim Nabuco. O político
pernambucano foi eleito deputado geral pela primeira em 1878, com a bandeira de
combate ao sistema escravista, que considerava o grande mal do país. Tornou-se desde
então o grande chefe do movimento abolicionista no Brasil. Para ele, para transformar o
Brasil era preciso, em primeiro lugar, romper com a visão liberal que vinha da tradição
imperial e que reverberava em grande parte do movimento republicano daquele __________ 54 VIANNA, Oliveira. O Ocaso do Império. São Paulo: Melhoramentos 1, 1933.
232
momento. Para tanto, via a necessidade de repensar a estratégia de ação e a forma dos
partidos conceberem seu papel político. Os partidos falavam em liberdade, soberania do
povo, e discutiam reformas políticas de grande vulto, mas sem olhar para a realidade
social à que se dirigiam tais mudanças. Para Nabuco,
todos os três partidos baseiam as suas aspirações políticas sobre um Estado social cujo nivelamento não os afeta; o abolicionismo, pelo contrário, começa pelo princípio, e antes de discutir qual o melhor modo para um povo ser livre para governar a si mesmo – é essa a questão que divide os outros – trata de tornar livre a este povo, aterrando o imenso abismo que separa as duas castas sociais em que ele se extrema. 55
Os problemas brasileiros pra Nabuco não eram o sistema monárquico e o
“governo pessoal”, como na crítica liberal tradicional do Império e no novo ideário
republicano. Vimos como os republicanos, seguindo a linha liberal, apontavam a opção
monárquica e o excessivo poder do executivo ao uma trama dinástica que teria
sobrepujado a vontade do povo e o espírito democrático desta, que se teria manifestado
numa longa série de eventos e personagens no decurso da história nacional (As
Inconfidências, a revolução de 1817, etc). Nesta abordagem o poder do Imperador teria
pervertido a índole essencialmente democrática do povo brasileiro. O povo era nesta
visão um elemento impalpável, sem substância específica, que servia mais à retórica
político-partidária que à relação com o real. Embora o “poder pessoal” fosse um grave
problema também apontado por Nabuco, o autor foi enfático ao deslocar a questão para
outro terreno, antes sócio-econômico, que político: a escravidão e suas conseqüências.
O pode pessoal não era a causa dos males, mas a conseqüência destes, um resultado
inevitável do estado das relações sociais no país marcado pela escravidão. Para Nabuco,
esse chamado governo pessoal é explicado pela teoria absurda de que o imperador corrompeu um povo inteiro; desmoralizou por meio de tentações supremas, à moda de Satanáz, a honestidade dos nossos políticos; desvirtuou, intencionalmente, partidos que nunca tiveram idéias e princípios, senão como capital de exploração. A verdade é que esse governo é o resultado, imediato, da prática da escravidão pelo país. Um povo que se habitua a ela, não dá valor à liberdade, nem aprende a governar a si mesmo. Daí a abdicação geral das funções cívicas, o indiferentismo político, o desamor pelo exercício obscuro e anônimo da responsabilidade pessoal, sem a qual nenhum povo é livre, porque um povo livre é somente um agregado de unidades livres: causas que deram em resultado a supremacia do elemento permanente e perpétuo, isto é, a monarquia. 56
__________ 55 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 16. 56 Ibidem, p.192-193.
233
No inicio da década de 1870, Nabuco escrevia artigos no jornal A Reforma em
que debatia intensamente com os chefes republicanos Quintino Bocaiúva, Salvador de
Mendonça, Silveira de Meneses e Barbosa da Silva, que, por sua vez exprimiam-se nas
folhas do periódico A Republica. Os republicanos negavam a possibilidade das
mudanças necessárias no governo monárquico, uma vez que este era e sempre seria o
governo do privilegio, onde o direito é uma exceção e não a regra. Preocupavam-se com
as freqüentes dissoluções da câmara e dos gabinetes, que a constituição de 1824
possibilitava através do poder moderador, e que tornavam uma quimera o sistema
representativo, e, portanto, o “governo do povo”.
A estas ponderações, Nabuco respondia que não eram os sistemas políticos que
faziam o povo tomar a frente dos governos e governa-se. Tanto na Inglaterra
monárquica, quanto, nos Estados Unidos republicano o governo do povo era uma
realidade. Era preciso em primeiro lugar entender e estado do povo e transformá-lo para
que ele não necessitasse mais de qualquer tutela e estivesse pronto para o auto-governo.
Nabuco questionava: “onde está o povo nas preocupações dos republicanos?”57. Em sua
opinião, os republicanos não se ocupavam em conceitualizar mais claramente o povo no
sentido sociológico mais concreto simplesmente por não possuírem em seus quadros e
projetos qualquer ligação com ele, sendo apenas um movimento de elites ressentidas
após a Lei do Ventre Livre:
em toda parte do mundo a republica apóia-se nas camadas inferiores da sociedade, é um movimento que começa entre o povo, entre os que trabalham, entre os que sofrem, é uma forma proclamada por uma democracia ciosa de seus direitos e desejosa de coroar-se sempre a si mesma. Entre nós, porem a idéia republicana lavra em zonas agrícolas importantes, e tomou ultimamente força com os ressentimentos da lavoura, por ocasião da lei de 28 de setembro. 58
Deixar para trás a tradição do liberalismo dos partidos imperiais e por freio ao
movimento republicano significava para Nabuco concentrar esforços na investigação da
história da sociedade brasileira e não propor mudança na forma monárquica de governo,
como queriam os republicanos, mas também os positivistas de todos os matizes,
guardadas as suas especificidades. O problema era compreender a formação
socioeconômica e cultural do povo ao longo de sua história como forma de __________ 57 GOUVEIA, Fernando Cruz. Joaquim Nabuco. Entre a Monarquia e a Republica. Recife: FUNDAJ/Editora Massangana, 1989. p. 56. 58 Ibidem.
234
compreender e atacar os problemas políticos e institucionais. O que o guiava era
sobretudo um “imperativo moral” e não uma “razão de Estado” 59
Entretanto, sua preocupação era também política e liberal: encontrar os meios
para a formação no Brasil de um povo de indivíduos livres, com a universalização da
cidadania. O horizonte que enxergava para a sociedade brasileira era o mesmo que o dos
liberais do império: uma sociedade de pequenos produtores, com vida urbana,
industrialização e comércio desenvolvidos, o que possibilitaria a formação de uma
opinião publica forte e atuante, a pedra de toque de um sistema representativo moderno.
Além disso, o Brasil deveria se tornar uma sociedade em que as províncias e municípios
tomassem parte ativa nos negócios públicos. Neste sentido, tratava-se de uma
continuidade com o liberalismo imperial, como apontou Ângela Alonso ao inserir
Nabuco no grupo dos “novos liberais” 60. Porém, a proposta para chegar a esta nova
vida política era a ampla reforma socioeconômica e moral social, antes de uma reforma
política e institucional. O ponto nevrálgico das mudanças era o regime de trabalho, a
escravidão, a cultura: a sociedade.
Além de sugerida ao autor pela própria análise da realidade brasileira, esta
unidade indissociável entre “reforma moral” e “reforma política e “reforma social”, foi
formulada por Nabuco, a partir da sua inserção no debate político e intelectual europeu,
que tinha como problema de fundo a Revolução Francesa e suas conseqüências.
Herdeiro direto do liberalismo imperial como era, Nabuco se aprofundara desde seu
ingresso na Faculdade de Direito de São Paulo em 1866, nas leituras de interpretes e
historiadores da Revolução Francesa, como Quinet, Lamartine, Thiers, Mignet, Guizot e
Louis Blanc. Importa aqui destacar, tomando a proposição de Maria Alice Rezende de
Carvalho, que toda a polêmica em torno da Revolução Francesa serviu a intelectuais
americanos do século pois parecia resumir os dilemas de um pais recém formado depois
de um passado colonial. Nabuco se filara ao “partido inglês” dentro deste debate, isto é,
àqueles para quem a Inglaterra de 1688 e não a Revolução Francesa e seus
desenvolvimentos controversos eram os exemplos de conteúdo democrático-popular e
__________ 59 SALES, Ricardo. Joaquim Nabuco. Um pensador do Império. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002. 60 Os “novos liberais”, de acordo com a avaliação da autora, eram ligados ou mesmo descendentes dos liberais antigos, mas não tinham espaço institucional garantido no status quo imperial. Seus principais nomes eram José Mariano, Gusmão Lobo, Joaquim Serra, Muniz Barreto, Barros Pimentel, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e André Rebouças.
235
revolução duradoura. O percurso inglês representava o sucesso da opção reformista,
num ajuste entre a mudança e a conservação, que a França revolucionária não pudera
desenvolver a contento e que a restauração havia sepultado. Este partido inglês
capitaneado por Eddgar Quinet (1803-1885) tinha a reforma intelectual e moral da
sociedade como princípio, pois o que faltara à França revolucionária, fora justamente
esta revolução dos códigos de conduta consensuais, uma sabedoria e modos de ação
partilhados por todo o povo, que dariam fundamento estável ao sistema e às instituições
políticas. 61 A França realizara a reforma do ponto de vista social, não atingindo as
consciências dos indivíduos A preferência pelo sistema político inglês fora também
influenciado pela obra de Bagehot que defendeu a superioridade prática do governo de
gabinete inglês sobre o sistema presidencial americano. 62
O pensamento de Nabuco era embebido também na historiografia alemã e
portuguesa, como evidenciam as citações de Theodor Mommsen (1817-1903) e
Joaquim Pedro de Oliveira Martins, autor da chamada “geração de 1870 portuguesa”.
Tais influências são importantes fortalecer uma dimensão temporal e evolucionista ao
liberalismo e uma aproximação entre a discussão continental e o mundo ibérico.
Segundo Ângela Alonso, de Momsen, Nabuco tomou a “idéia de desenvolvimento
linear das sociedades ocidentais, indo da organização feudal até o capitalismo e a
universalização da cidadania” 63. De Oliveira Martins, tomou a concepção de que a
colonização do Brasil se deu em meio à decadência da metrópole. Deste modo, Nabuco
pôde pensar que a escravidão brasileira, não somente ia de encontro aos direitos
fundamentais do homem, mas era uma instituição atrasada, incompatível com as
sociedades modernas, capitalistas e democráticas. A escravidão seria a marca de uma
sociedade retardatária no processo de civilização, e estava fadada a desaparecer para
liberar a modernização do povo brasileiro.
Nos debates na Câmara em torno do projeto do Gabinete liberal de José Antônio
Saraiva que daria origem à “Lei dos Sexagenários” em 1885, a visão sobre a evolução
social do povo rumo à abolição ficam bastante evidentes. A proposta governista se
__________ 61 CARVALHO, Maria Alice Rezende de. O Quinto Século. André Rebouças e a Construção do Brasil. Rio de Janeiro: REVAN: IUPERJ-UCAM, 1998. 62GOUVEIA, Fernando Cruz. Joaquin Nabuco. Entre a Monarquia e a Republica. Recife: FUNDAJ/Editora Massangana, 1989. p. 32. 63 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p 192.
236
inseria numa concepção gradual e emancipacionista da abolição, libertava os escravos
maiores de 65 anos, mas obrigando a mais alguns anos de trabalhos forçados aqueles de
60 anos. Além disso, criava uma tabela nacional de valores para as alforrias. Desde que
o projeto entrara em pauta, no gabinete anterior de Souza Dantas, sofreu grande
oposição dos representantes da lavoura escravocrata, tornando-se mais brando. Para
Nabuco, defensor da abolição imediata e sem indenização aos proprietários, tal projeto
era incompatível, não somente com a moral do século, mas com o estado da sociedade
brasileira naquele momento. Nabuco diagnosticava a “atração do país pelas grandes
forças morais do nosso século” 64, isto é, que a sociedade estaria numa marcha social
rumo ao fim da escravidão mais rápida que a que apontava o projeto. Tal caminho não
poderia ser interrompido, pois não era possível interromper o curso natural e
progressivo da sociedade 65. Portanto, a lei deveria se adequar a esta grande revolução
social operada já pelo povo, ligando-se e colocando-se a frente desta marca inexorável e
o gabinete liberal, que tinha poderes para tanto, deveria ser o primeiro a aceitar e aderir
ao movimento da “alma do povo”, os “clarões de uma nacionalidade nova” que se
esboçavam no horizonte.
Quando uma mudança esta iminente nas instituições de um povo, os espíritos todos concorrem para ela; não só as esperanças, como também os receios, a precipitam, e os que persistem em combatêla parecem menos resistir a uma lei do homem do que a um decreto da providência Pois bem, essa mudança do antigo sistema da liberdade está iminente, é nacionalmente desejada, a sua hora chegou.66
A escravidão pertenceria para Nabuco “ao numero das instituições fósseis”, só
existentes “em nosso período social numa porção retardatária do globo”, “um fato que
não pertence naturalmente ao estágio em que já chegou o homem” 67. Além de ser ilegal
no Brasil desde 1831, arruinava a economia do país, impedindo o desenvolvimento do
interior, do comércio e da indústria, e da própria lavoura, como Nabuco argumentou em
detalhe, impedindo a “vida normal do povo”, isto é, a formação de um “povo moderno”.
__________ 64 NABUCO, Joaquim. Discursos Parlamentares. Obras Completas de Joaquim Nabuco. Vol. XI. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949. 65 NABUCO, Joaquim. Discursos Parlamentares. Obras Completas de Joaquim Nabuco. Vol. XI. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949. p. 168. 66 Ibidem, “Discurso de 3 de julho de 1885. O projeto do elemento servil.” . p. 181. 67 NABUCO, Joaquim. Discursos Parlamentares. Obras Completas de Joaquim Nabuco. Vol. XI. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949. p. 114.
237
A escravidão teria feito dos brasileiros “um povo criado fora da esfera da civilização”
uma vez que: “criou um ambiente fatal para todas as qualidades viris e nobres,
humanitárias e progressivas, da nossa espécie; criou “um ideal de vida grosseiro,
mercenário, egoísta e retrógrado”. Isto porque fez do povo brasileiro, não um povo de
cidadãos, mas um “mestiço político”, um composto de senhor e escravo uma vez que
combinaria os dois elementos morais fundamentais do sistema escravista, a “degradação
servil” e de “imperiosidade brutal”. A ambos, escravos e senhores, faltava o hábito da
liberdade, da vida cívica e cidadã, do respeito ás liberdades e direitos naturais, que
caracteriza as sociedades modernas.
Toda a degradação social e moral da escravidão teria impedido, portanto, a
formação das qualidades básicas do povo cidadão moderno: o sentimento de
individualidade e independência política, a solidariedade social, uma opinião pública
forte, o patriotismo, elementos que poderiam dar vida a qualquer sistema representativo.
Numa sociedade formada desta maneira, um governo republicano, democrático e
fundado na idéia de participação popular, seria uma quimera e necessariamente um
fracasso. Diante de um povo inerte e deturpado em seu desenvolvimento por séculos de
escravidão, o governo republicano seria dominado necessariamente pelas oligarquias
econômicas. Logo, não fazia sentido realizar o processo de modernização brasileiro a
partir de uma mudança de regime; o Imperador era capaz de realizar as reformas
necessárias, especialmente a abolição da escravatura. Podemos entender deste modo, a
insistência de Nabuco em afirmar que o movimento abolicionista que liderava não
dirigia seu discurso às senzalas, mas opinião pública e ao monarca. Era de um
reformismo monárquico e ilustrado, a partir do alto, de que se tratava. A sociedade
brasileira possuía para Nabuco um povo constituído, com muitos problemas, mas
também capaz de se desenvolver no futuro. Este desenvolvimento, entretanto, dependia
da ação do Imperador, o único capaz de realizar as necessárias reformas ético-morais e
político institucionais de que o país necessitava. O esforço de Nabuco com a
propaganda abolicionista era fundamentalmente “evitar a separação [do monarca] em
relação ao povo, que as classes conservadoras provocam” 68 e “entrelaçar o povo e o
trono” através de reformas. Neste ponto, Nabuco mostra um ponto de convergência com
__________ 68Apresentação do Ministério Cotegipe (24 de agosto de 1885). In NABUCO, Joaquim. Discursos Parlamentares. Obras Completas de Joaquim Nabuco. Vol. XI. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949. p. 244.
238
os autores do primeiro grupo analisado no capitulo, na medida em que o Estado ainda é
também o centro gerador das grandes mudanças.
A apreensão sociológica do conceito de povo foi também desenvolvida por um
grupo de autores que se filiaram estreitamente ao positivismo. O núcleo do pensamento
de Augusto Comte (1798-1857) é a noção de que a sociedade só pode ser reorganizada
através de uma completa reforma intelectual e moral do homem. Era preciso para tanto
fornecer ao homem novos hábitos de pensamento e uma nova organização social de
acordo com as ciências modernas. Essa seria a “fase positiva”, o termo de uma evolução
ditada por uma determinada filosofia da história. Segundo Comte, a história humana se
desenvolve em três fases ou estados de acordo com uma lei natural e objetiva. A fase
teológica é dominada pela “imaginação” e pela pouca observação de fenômenos. Deste
modo, o homem explica os fenômenos naturais através da intervenção de seres pessoais
e sobrenaturais. Trata-se de um tipo de compreensão absoluta, pois o homem acredita
ter posse de todo o conhecimento necessário sua vida, fechando-se à duvida. A forma
política correspondente a essa fase é a monarquia hereditária e o militarismo
Na segunda fase, chamada metafísica, o homem procura explicar os fenômenos
que o rodeiam por “forças” abstratas, ao invés de deuses pessoalizados. Num segundo
desta fase momento, todas as forças seriam reunidas numa só: “natureza”. Como na fase
teológica, tende à procura de soluções absolutas, porem através da argumentação. Em
política, há a substituição dos reis pelos juristas, e o domínio da idéia “liberal”de
contrato e da “soberania do povo”. Na terceira e decisiva “fase positiva” são
ultrapassadas a argumentação e a imaginação como forma de conhecimento, assim
como a procura de causas ultimas e princípios dos fenômenos. Estas são substituídas
pela observação da natureza e pela procura de “leis” definidoras das relações constantes
entre fenômenos empiricamente observáveis. No que concerne à vida política, para
Comte, esta é tarefa dos nas mãos dos sábios e cientistas num governo forte
centralizado, e, sobretudo, antidemocrático
Para Comte, que viveu as décadas conturbadas da Europa pós-napoleônica, a
crise política e moral da contemporaneidade provinha, sobretudo de uma “anarquia
intelectual” ocasionada pelo emprego simultâneo das três filosofias incompatíveis –
teológica, metafísica e positiva. Era preciso, então, e esta era a tarefa do movimento
positivista, formar uma consciência social comum com a adesão geral a certas idéias
239
gerais e a um novo sistema moral fundado na ciência positiva. Na percepção dos
positivistas brasileiros da época, o país estava mergulhado nesta “anarquia”, ou, pior,
podia-se dizer que estava afundado inteiramente na fase metafísica. A política e o
pensamento político eram dominados pelo liberalismo, pelo parlamentarismo e pela
idéia de soberania do povo. A religião católica imperava com a religião de Estado. Além
disso, os recentes conflitos com os países visinhos, que foram uma marca do Império
brasileiro, eram uma evidencia da militarização, outra característica da fase metafísica.
Some-se a isso a escravidão que era tida como absolutamente incompatível com a vida
moderna. Era preciso, portanto, acelerar a marcha da história, para deixar essa fazer e
trazer a sociedade brasileira para o progresso ditado pelas leis positivas. Para difundir
sua doutrina, Miguel Lemos e Teixeira Mendes fundaram em 1881 A Igreja Positivista
do Brasil, que mantinha intensas ligações com o movimento na França, chefiado por
Pierre Laffitte (1823-1903), desde a morte de Comte. São as idéias destes positivistas
ortodoxos que vamos analisar neste momento.
Na verdade, cabe aqui uma palavra geral sobre a relação deste primeiro grupo de
autores com o conceito de povo. Para autores positivistas hortodoxos, como Annibal
Falcão, Miguel Lemos, “povo” é considerado um conceito essencialmente metafísico,
pois ligado à idéia de “soberania do povo”, igualdade e parlamentarismo, elementos
políticos repudiados por Augusto Comte como pertencentes a uma fase da sociedade
que deveria ser superada. Povo remetia à idéia de direitos naturais, um conceito
metafísico. O conceito preferido, por exemplo pelos positivistas para tratar da
“civilização brasileira” não é o de povo, ou mesmo o de nação, que praticamente não
apareces nos escritos, mas o de “pátria”. Como esclarece Annibal Falcão, a “noção
positivista de pátria”, de acordo com a teorização de Pierre Laffite69, um dos grandes
discípulos de Comte, supõe o concurso de três elementos básicos: “solo continuo,
governo e tradições comuns”. Porém, mesmo criticado, em muitos momentos o conceito
de povo aparece nos escritos positivistas.
__________ 69 LAFFITTE, Pierre. “De L’Union Nationale”. Revista Ocidental. 1º de Setembro de 1881 69 FALCÃO, Annibal. Fórmula da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, sd, p. 83. Segundo este autor, pátria é “o conjunto de famílias ou grupos sociais, vivendo sobre o mesmo solo, ligados pelo mesmo governo independente, tendo tradições comuns e concorrendo ao mesmo destino, sob o peso das necessidades criadas pelo passado, pela situação geográfica e pela natureza do território”.
240
Entre os autores da geração de 1870 ligados ao positivismo, minoritários frente
aos republicanos “clássicos”, digamos assim e os monarquistas-parlamentaristas 70, o
problema frente ao qual o pensamento crítico e modernizador brasileiro estava colocado
naquele momento era o de adequar o pensamento e a linguagem política à contingência
da situação histórica, econômica e social do país. A tônica era a substituição da
metafísica foi pela ciência sociológica para pensar a sociedade. De acordo com a
filosofia de Augusto Comte, o “movimento” deveria ser sempre subordinado à
“existência”, logo, hoje, dizia Annibal Falcão (1859-1900) em sua Fórmula da
Civilização Brasileira “toda política deve ser histórica”. Para o autor, “é preciso antes
de tudo examinar a ordem que se trata de desenvolver” 71, isto é, conhecer histórica e
sociologicamente a sociedade brasileira para poder transformá-la, para poder agir
politicamente sobre ela. A geração de 1870 aprofunda é dá um sentido positivo a esta
tendência historicista do século XIX, que analisamos no capítulo anterior. Embora
fossem republicanos viam a reforma social como a prioridade sobre qualquer reforma
política, e conceituavam o povo fundamentalmente como uma totalidade social e
cultural.
Como em todos os assuntos humanos, para os positivistas, “o ponto de vista
político é insuficiente”. Para que uma ação “política” ganhe sentido e legitimidade, é
preciso que esteja de acordo com “princípios morais” que são oriundos unicamente da
observação da realidade capaz de revelar certas relações constantes de sucessão e
semelhança entre os fenômenos a partir do que se inferem as “leis sociológicas”. Deste
modo, observando como os fenômenos se deram até hoje, se pode indicar como se
devem realizar no futuro. A grande ambição da ciência positiva da sociedade é estender
este princípio, que já presidira as descobertas das grandes leis físicas e biológicas ao
conhecimento da história humana e da política. Trazer para o domínio da ação política
na história o princípio da observação paciente dos fenômenos antes de qualquer
conclusão mais peremptória. Isto implicava retirar a ação política do campo da decisão
de curto prazo, das paixões e dos interesses e concebê-la como resultado de uma atitude
__________ 70 Segundo Oliveira Vianna, “o campo de propagação do Positivismo fora limitado até o fim do Império”. Ver. VIANNA, Oliveira. O Ocaso do Império. São Paulo: Melhoramentos, 1933. p. 125. 71 FALCÃO, Annibal. Fórmula da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, sd. p. 137.
241
de resignação paciente e perseverante às “lentidões, que são inerentes a qualquer
sucesso prático”72.
Qualquer intervenção no curso da história que não atentasse ou pretendesse
infringir suas leis era fadada ao malogro. Nesta perspectiva, a idéias de soberania do
povo, vontade do povo, participação popular, eram tidas como formas ilegítimas de
intervenção nas no curso normal dos fenômenos, pois eram relacionadas à rapidez e
intempestividade do interesse e da paixão imediatas. A “vontade do povo” não era em si
um critério político válido de intervenção no real, uma vez que freqüentemente seria
contrária às necessidades sociais e às leis históricas fundamentais. Deste modo,
argumentam Annibal Falcão, Teixeira Mendes e Teixeira de Souza, “malgrado a
vontade popular, a ditadura dantoniana foi plenamente legitima, e as fogueiras da
inquizição um crime, apezar de aplaudidas pela quazi totalidade dos povos em que se
atearão”73
Entretanto, a grande preocupação dos positivistas, sobretudo na década de 1880
foi a compreensão da sociedade brasileira fundada no escravismo e a propaganda
abolicionista. Os positivistas eram a favor da libertação imediata, mas divergiam em
relação à forma desta libertação. Annibal Falcão, Teixeira Mendes e Teixeira de Souza
propunham a adstrição do ex-escravo ao solo, transformando-o em algo próximo aos
servos da gleba medievais. Propunham ainda a educação rural e mecanismos de
promoção de sua “moralidade”, como a interdição da poligamia. O argumento era o de
que a situação moral e intelectual do escravo não permitia que se tornasse da noite para
o dia um cidadão, sendo preciso uma espécie de período de adaptação como etapa à sua
condição futura. Da mesma forma o país não suportaria a falta súbita de mão de obra. O
momento da “civilização brasileira” exigia medidas especificas. Miguel Lemos, por sua
vez, era contrário a tal idéia argumentando que, pela falta de um poder espiritual e
moral poderoso como na Idade Média e pela incapacidade do Estado na vigilância, a
restauração da servidão iria degenerar rapidamente numa retomada da escravidão.
__________ 72 FALCÃO, A; MENDES, T; SOUZA, T. de. Apontamentos para a solução do problema social no Brazil. In LEMOS, Miguel O Positivismo e a Escravidão Moderna. Trechos extraídos das obras de Augusto Comte, seguidos de documentos pozitivistas relativos à questão da escravatura no Brazil e precedidos por uma introdução. Rio de Janeiro: Centro Positivista Brasileiro, 1884. p. 31.
73 Ibidem, p.31.
242
A abolição era vista por grande parte dos positivistas como forma de
incorporação ou assimilação dos escravos como “condição preliminar de nossa
existência como pátria”, ou como povo, problema que não estava, em sua visão,
colocado nos Estados Unidos, por exemplo, em que o negro não era considerado de fato
um dos componentes da nacionalidade. Para tanto, clamaram pela ação do Imperador,
contra o parlamento, considerado nada mais que uma “assembléia de senhores”. Era
preciso ajustar a pátria brasileira à marcha geral da humanidade, que deixava o regime
“militar” caracterizado como agrícola, católico, monárquico – e passava ao regime
“industrial”, onde imperaria a liberdade universal e a cidadania, e onde a escravidão não
poderia existir. O Brasil possuía as condições para este trânsito, desde que removesse
um obstáculo: o regime escravocrata.
A escravidão moderna era tida anacrônica, e, portanto, ilegítima, diferente da
escravidão no Mundo Antigo, que teria ocorrido como fruto natural de uma sociedade
baseada na guerra e na conquista, e tinha servido para o aperfeiçoamento humano e a
introjeção do hábito do trabalho nas populações conquistadas. Em suma, no mundo
antigo, a escravidão concorreu para os primeiros desenvolvimentos da civilização
ocidental; já no mundo moderno não passava, na visão do próprio Comte de uma
“efêmera monstruosidade”, uma vez que subordinada apenas ao interesse econômico do
chefe industrial capitalista.
Os positivistas ortodoxos eram contrários ao governo e à representação
parlamentar e à separação dos poderes. Além de postular como sendo o mais “natural”
que aquele que realiza deva ser o mesmo que planeja e legisla, dando agilidade e
eficiência ao governo, percebiam na representação parlamentar moderna a entrada
maciça de elementos da burguesia letrada, em detrimento dos proletários. E, em países,
como o Brasil, em que a massa proletária era escrava ou recém saída desta condição, e
portanto, afastada da vida política, o problema se agravava. A burguesia era, para
Falcão essencialmente egoísta e agia somente por interesses econômicos, sendo,
portanto, o principal obstáculo à instituição e ao livre funcionamento de um governo
destinado a favorecer o proletariado, que é no que se resume a verdadeira aspiração do
bem público. Daí que a Republica sonhada pelos positivistas, “deduzida da situação
histórica do Brasil, como problema que o passado nos impõe e a que devemos da
solução” era fundada sobre outros princípios que não a representação parlamentar:
243
Ora, o problema republicano consiste exatamente no opposto, isto é, na instituição de uma dictadura forte, ispirada no amor do povo, ordeira e progressista, limitando a sua acção ao domínio prático, prescrevendo todos os privilégios theóricos e práticos, em uma palavra – conciliando autoridade com liberdade. Uma assembléa com poder legislativo é o governo da burguezia, e o governo republicano é instituído para o bem do Povo. 74
Vemos como a concepção positivista do governo republicano se assemelhava em
alguma medida à concepção monárquica, pois pretendia se fundar numa união de amor
direta entre o povo e o governante. Porém, é claro que não se deve esquecer que a
concepção positivista, ao contrário da tradição política imperial, era francamente
antiliberal e não aceitava de forma alguma a idéia da soberania do povo e sua prática
parlamentar.
O republicanismo dos positivistas era, entretanto, uma aposta no futuro e não
deveria se transformar revolução, ficando na esfera da propaganda e da “expansão dos
nobres sentimentos”. A monarquia era inconciliável com a modernidade, considerada
uma cópia artificial das instituições inglesas, que era, por sua vez um anormalidade em
relação ao progresso. Porem, essa mudança de regime, embora necessária e inevitável,
teria que vir no ritmo ditado pelas leis sociológicas e históricas e com a conjuntura com
a conjuntura mais oportuna. Naquele momento da história brasileira, a medida mais
adequada e cabível era a abolição da escravatura, e não a republica. Entretanto, mesmo
a abolição era considerada pela maioria dos positivistas uma obra do futuro; realizá-la
imediatamente lhes parecia algo impossível dado o estado mental e moral do cativo 75 e
dos problemas econômicos que poderiam advir da súbita falta de mão de obra.
A preocupação dos positivistas com a abolição como a principal e mais urgente
reforma social do Brasil denota a percepção dos positivistas de que a pátria ou o povo
eram elementos fundamentalmente sociológicos, isto é, caracterizados por uma
determinada vida social, cultural e moral, antes que por vontades ou direitos políticos
Neste ponto, os positivistas eram radicais: o povo não deveria ter nenhum contato com a
política, entendida como uma prática cientifica de especialistas. Seu republicanismo
nada tinha a ver com a vontade ou soberania do povo, mas com a idéia de que a
monarquia era uma instituição ultrapassada, pertencente a uma etapa passada da
__________ 74 FALCÃO, Annibal. Fórmula da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, sd.p. 188. 75 COSTA, Emilia Viotti da. Da Senzala à colônia. São Paulo: Editora UNESP, 1998. p. 429.
244
civilização fundada na vida militar e no catolicismo. Porém, eram igualmente contrários
às instituições democráticas, uma vez que a política não deveria ser guiada pelas
vontades e interesses individuais, mas pela ciência da sociedade, da qual eram os
grandes especialistas.
5.2.1 Mestiçagem: a chave do conceito sociológico de povo
A geração de 1870 afirmou que o Brasil tinha as condições necessárias para
integrar-se à civilização ocidental, tanto por seu povo, quanto por sua história. Uma das
características marcantes destes autores de que viemos tratando é a reformulação da
visão sobre a composição étnica do povo: a idéia da miscigenação racial que trazia a
formulação de que o destino do povo brasileiro era produzir um novo tipo biológico, o
mestiço. Esta idéia já havia sido esboçada pelo naturalista alemão Von Martius, nos
anos iniciais do IHGB, e agora seria levada às últimas conseqüências. A tradição
imperial formulou duas opções para a questão étnica no Brasil: o indianismo romântico,
que incorporava de forma mítica e poética o índio, mas silenciava a existência do negro
e a ideologia do branqueamento e da imigração européia, que iria frear a degeneração
racial e impulsionar o desenvolvimento do povo.
Como apontou Lilia Schwarcz, referindo-se á obra de Sílvio Romero, houve
nesta uma aposta “mestiçagem como saída para a realidade nacional”.76 Os estudiosos
tinham “tinham a certeza de que era necessário ir além da consciência jurídica para
encarar como um todo os impasses do país”.77 Para Ricardo Sales, era de uma nova
narrativa da nação brasileira de que se tratava: assumia-se que o povo era mestiço e
assim o pertencimento à civilização ocidental era garantido, a partir desta
peculiaridade78. Nesta nova narrativa, o racismo científico em voga na Europa foi
incorporado pelos autores, de “forma crítica e seletiva, segundo os interesses políticos e
culturais das camadas letradas, preocupadas em articular os ideários estrangeiros à
realidade local”79.
__________ 76 SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil. 1870-1930. São Paulo: Cia. Das Letras, 1993. p. 154. 77 Ibidem, p. 169. 78 SALES, Ricardo. Joaquim Nabuco. Um pensador do Império. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002. 79 VENTURA, Roberto. Estilo tropical : historia cultural e polemicas literarias no Brasil 1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
245
Na verdade, os pensadores brasileiros interessados em explicar cientificamente a
composição racial e as características sociológicas do povo no Brasil tinham um grande
problema nas mãos. A ciência européia era taxativa quanto à hierarquia racial e o
determinismo ambiental: os Europeus do norte eram considerados raças superiores e seu
meio físico era mais favorável ao progresso. Logo, as raças mais escuras e os climas
tropicais eram inferiores e nunca poderiam civilizações tão evoluídas. Muitos autores
também analisaram os supostos males ocasionados pelo do hibridismo, condenando os
resultantes do cruzamento entre raças à degeneração física e moral, e até mesmo à
esterilidade. Thomas Buckle (1821-1862) escreveu, sem nunca ter visitado o Brasil,
famosas e amplamente lidas oito páginas em que discorreu sobre os malefícios do clima
sobre a vida social. Arthur de Gobineau (1816-1882) em seu Essai sur l’Inegalité des
Races Humaines de 1855 visitou o Brasil e não escondeu suas opiniões negativas sobre
nossa degenerescência genética. Louis Couty (1854-1884) em seu Ebauches
Sociologiques, citou os males que a introdução dos negros causara à sociedade
brasileira. Por fim, Louiz Agassiz (1807-1873), cientista que veio ao Brasil numa
expedição científica e publicou um relato de viagem em que a deteriorização ocasionada
no país pela mescla de raça é discutida. Uma de suas frases mais célebres sobre o Brasil
foi a seguinte “Aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos da mistura de raças
e são levados, por falsa filantropia, a romper todas as barreiras colocadas entre elas
deveriam vir ao Brasil” 80
Como então pensar a constituição de um povo a partir destas teorias, que, de
principio, inviabilizavam qualquer característica positiva e o seu próprio
desenvolvimento futuro? A população negra escrava era enorme, e com a abolição, que
parecia cada vez mais próxima, iria fazer parte, quer se quisesse, quer não, da
nacionalidade; a mistura de sangues, embora não fosse geral e irrestrita, era um fato, o
que formara uma população mulata ou mestiça. Aceitar acriticamente, essas teoria
raciais seria negar ao Brasil, para muitos membros da geração, sua própria existência
como povo-nação. Além do que, era evidente que alguns argumentos, eram absurdos,
como exemplo máximo, a esterilidade dos híbridos.
__________ 80 AGASSIZ, Louiz apud SKYDMORE, Thomas E. Preto no Branco. Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
246
Era preciso, então, se contrapor aos elementos que tornassem impossível
conceber a civilização do povo no Brasil. Primeiramente, a idéia de diferenças inatas
entre as raças foi amplamente criticada. Mesmo na Europa, muitos cientistas já viam a
questão das diferenças raciais do ponto de vista histórico-sociológico e ambiental. A
escala das raças seria determinada pelo grau de desenvolvimento que historicamente as
raças tiveram, por sua evolução separada das demais em determinado espaço e não de
características congênitas. Além disso, as teorias da degeneração do mestiço sua suposta
esterilidade foram abrandadas ou rebatidas. Estes autores perceberam que o mestiço era
a grande marca da nacionalidade brasileira e procuraram pensar sua viabilidade. Por um
lado, o mestiço seria um elemento capaz de se tornar cada vez mais branco, processo
que seria auxiliado pela imigração européia; numa segunda visão, formaria ele mesmo a
grande raça distinta e original formadora do povo no Brasil. Na verdade, muitos
intelectuais ficavam no meio termo entre as duas posições, o branqueamento e o mestiço
como o futuro do povo.
Para Sílvio Romero era primordial nas últimas décadas do século XIX conhecer,
compreender e incentivar a marcha evolutiva do povo brasileiro. Numa célebre
passagem, declarou: “já andamos fartos de discussões políticas. O Brasil social é que
deve atrair todos os esforços de seus pensadores”. Em seu percurso como crítico
literário, filósofo, folclorista, sociólogo e jurista, as filosofias e teorias científicas
evolucionistas só tinham sentido se usadas para a compreensão e incentivo da nação
brasileira, a identificação de suas virtudes e a descoberta das soluções possíveis para
suas faltas. E nesta tarefa a ciência sociológica lhe parecia a ferramenta por excelência.
Na introdução do Compêndio de História da Literatura Brasileira, aparecem resumidas
as suas idéias básicas neste sentido. A sociologia mostra que o caráter nacional ou do
povo é formado pela “composição racial”, pelo “meio físico” e pelo “influxo de
correntes estrangeiras”. No que se refere ao meio, a nacionalidade brasileira é uma
“dádiva do solo”. As quatro depressões circundantes do planalto aliadas a sistemas
fluviais capazes de ligá-los são importantes responsáveis por nossa unidade política. O
meio é a base de nossa divisão político-administrativa, de nosso povoamento, de nossas
relações econômicas, de nossas criações artísticas e de nossa fisiologia. Seria um dos
principais responsáveis pelo lirismo de nossas letras, pelo “caráter pouco inventivo de
nossa indústria”, pela “anemia”, “apatia” e “tendência a desarranjos empáticos”. A
247
natureza pródiga traria um “bem estar aparente inimigo do progresso” nas regiões mais
quentes. 81
A obra de Romero se dedicou a uma investigação sobre todas as “raças” que
compõem o povo do Brasil, os três fatores étnicos de nossa história seriam os índios,
africanos e portugueses Seu diagnóstico é inicialmente negativo: nossos colonizadores
teriam trazido para o Brasil os problemas de raças atrasadas. O negro é superior ao
indígena, e o branco, o mais evoluído entre todos. Porém, dentro do conjunto da raça
branca o português é considerado “um povo inferior resultante do cruzamento entre
ibéricos e latinos”, portanto, formando um tipo menos capacitado para a civilização e
para a produção intelectual original e inventiva. 82 Em 1881, foi categórico:
Povo que descendemos de um estragado e corrupto ramo da velha raça latina, a que juntara-se o concurso de duas das raças mais degradadas do globo” resultando no “servilismo do negro, a preguiça do índio e o gênio autoritário e tacanho do português produziram uma nação informe sem qualidades fecundas e originais. 83
Seu racismo era evidente, porém a forma como incorporou as doutrinas
estrangeiras em muitos outros momentos se dava no sentido da possibilidade de pensar
a mestiçagem como fator de diferenciação nacional. Refutou as teses acerca da
tendência a degeneração do mestiço e as teses evolucionistas sobre monogenismo, que
postulava que os tipos cruzados não seriam originais, mas repetiriam as raças anteriores.
Da “repetição abreviada da história” de Herbert Spencer, para quem todos os povos
passariam pelos mesmos estágios evolutivos, o que traria implícita a idéia de que as ex-
colônias teriam que repetir o processo evolutivo de suas metrópoles. Romero, assim,
como todos de sua geração, estava interessado em entender a originalidade brasileira,
dentro do concerto da civilização ocidental, logo não poderia ter aceito tais idéias. 84
Em O Brasil Social e Outros estudos Sociológicos, uma coletânea de textos
publicados a partir de 1880, Romero mostrou outra postura em relação ao mestiço,
revelada também em muitos outros textos. Defendeu a importância de se valorizá-lo
__________ 81 ROMERO, Sílvio. “Idéias Propedêuticas”. In. Compêndio de História da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1909. 82 VENTURA, Roberto. Estilo tropical : historia cultural e polemicas literarias no Brasil 1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.p.49. 83 SKYDMORE, Thomas E. Preto no Branco. Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p. 52.
84 Ibidem.
248
como o elemento mais importante do povo, onde estaria o presente e o futuro do Brasil.
Romero discutia a idéia da inevitabilidade do desaparecimento do mestiço devido à
impossibilidade, por suas precárias condições físicas e mentais, de sobreviver ao contato
com a civilização. Romero não podia concordar com esse prognóstico do aniquilamento
do que percebia como a maioria da população brasileira. Imbuído da sua confiança no
desenvolvimento do povo brasileiro, o autor escreve um trecho que, a meu ver, resume
o espírito da obra de Sílvio Romero:
A força de resistência, em que pese aos fantasistas, da população brasileira, está precisamente nessas gentes do interior, nos doze milhões de sertanejos, matutos, tabaréus, caipiras, jagunços, caboclos, gaúchos... O problema brasileiro consiste exatamente em compreender este fato tão simples e tratar de fazer tudo o que for possível em prol de tais populações, educando-as, ligando-as ao solo, interessando-as nos destinos desta pátria.85
Estaríamos, portanto, num processo de formação de um “tipo brasileiro”, o
mestiço, uma “raça histórica” específica do Brasil. O mestiço seria um tipo novo,
formado a partir de cinco fatores: o português, o negro, o índio, o meio físico e a
imitação estrangeira 86. É neste tipo ideal do povo brasileiro que estaria o amanhã da
nação, o elemento formador de nossa literatura e poesia nacionais. Ao lado de muitas
desvantagens da mestiçagem, corrigíveis, segundo ele, pela educação, esta poderia
fornecer a civilização e a unidade da geração futura. Esta aposta em uma raça que no
futuro seria responsável pela singularidade do povo brasileiro perante as nações, aparece
bastante clara na seguinte passagem: “O povo brasileiro, como hoje se nos apresenta, se
não constitui uma só raça compacta e distinta, tem elementos para acentuar-se com
força e tomar um ascendente original nos tempos futuros” 87
Nesta linha, o positivista Annibal Falcão também apontou em sua “fórmula da
civilização brasileira”, um discurso apresentado em 1883 por ocasião do aniversario da
restauração pernambucana, que o Brasil tinha condições de integrar a civilização
ocidental, tendo em vista as potencialidades fornecidas por sua história e seu povo; mas,
ao contrário de Romero, que via, em muitos momentos, de forma extremamente __________ 85 ROMERO, Silvio. O Brasil Social e outros estudos sociológicos. Brasília, Senado Federal: 2001. p. 90. 86 VENTURA, Roberto. Estilo tropical : historia cultural e polemicas literarias no Brasil 1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 87 Apud SKYDMORE, Thomas E. Preto no Branco. Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p. 53.
249
negativa os resultados da composição racial brasileira, a peculiaridade brasileira em
Annibal Falcão teria características que poderiam trazer a esse movimento de integração
no mundo ocidental moderno uma clara distinção positiva, assim como novas
possibilidades criativas.
Annibal Falcão via na pátria brasileira um “destino”: a continuidade da
civilização ibérica, capaz de assimilar até a total unificação os índios e negros presentes
na sociedade brasileira. Para que este destino fosse pensável era preciso desacreditar as
teorias raciais do “materialismo” de seu tempo e proclamar a “unidade humana”,
entendendo de outro modo as variações e hierarquizações entre os grupos raciais. Para
pensar o problema racial fugindo do simples racismo, viu as raças como provenientes,
não de características inatas, mas de “influências cosmológicas”, isto é climáticas e
geográficas em geral, ocorridas durante séculos e que se fixariam hereditariamente. As
diferenças raciais seriam principalmente sociológicas e históricas, uma vez que com o
desenvolvimento da civilização, as influências cosmológicas diminuíram fortemente.
Logo, não haveria sentido em postular uma separação radical entre as raças fundada na
biologia: os “fetichistas negros e amarelos”, isto é, índios e negros africanos, estariam
apenas retardados na marcha civilizacional e poderiam ser reincorporados a ela. Tal
marcha desigual proviria de influências sociológicas, logo tal estado de coisas poderia
ser alterado. No contato com a civilização ocidental e com os brancos, os grupos
retardados no processo de civilização podem se transformar substantivamente, tanto
física, quanto intelectualmente. Daí, a possibilidade de pensar o “destino da pátria
brasileira”, capaz de integrar perfeitamente, e até mesmo de forma superior, a
civilização ocidental com sua peculiar composição racial.
Para Falcão, não se trata apenas de integrar o país na civilização ocidental. O
destino do Brasil é a integração, mas de forma elevada, em função da herança cultural
ibérica brasileira. O passado ibérico e colonial é aqui reabilitado e enaltecido. Nas lutas
contra a dominação holandesa, a pátria brasileira teria expurgado o protestantismo e seu
individualismo, assim como seu correlato político, a igualdade, a soberania popular e o
parlamentarismo. Em seu lugar, teria afirmado sua herança ibérica, vista como a
consagração da evolução ocidental.
Tendo preservado sua matriz ibérica, o Brasil preservara, na visão de Falcão, o
sentimento de lealdade, ternura, o catolicismo e monarquia. Conservou as tradições
250
medievais e desta maneira, as três características essenciais da evolução humana: a
cultura moral, que prevaleceu sobre a atividade industrial; a síntese poética que
sobrepujou a especialização científica; e a centralização do poder que venceu a
dispersão democrática. Falcão se postou contra a admiração cega pelos Estados Unidos,
que caracterizam tanto o discurso liberal, quanto o conservador ao longo do segundo
reinado. É verdade que houve um grande desenvolvimento material naquele país, mas
em relação ao sentimento, que deveria ser o fim supremo de todos os progressos
humanos, o autor percebe uma grande decadência: o culto ao dinheiro, à produtividade e
todo tipo de ganho material.
Para Annibal Falcão, a composição racial, e as características históricas e
sociológicas permitiram, portanto, ao Brasil a formação de um povo unido, uma nação
homogênea como em poucos lugares. Embora fosse um país plural etnicamente, sua
formação histórica teria histórica permitido esta coesão:
Não subsistem em relação à nós as razões deduzidas de differenças historicas, que tornam oppressivo e instável nos povos europeus o actual systema das grandes nacionalidades: somos talvez sob este aspecto o povo mais uno e harmônico de toda terra, apezar de nossa variedade éthnica – o que demonstra a posteriori que é o Passado [e não a raça] o factor predominante das nacionalidades. 88
A unidade do povo brasileiro e a própria idéia de que “existe um povo
brasileiro” mestiço e que este pode se desenvolver também se revela em Joaquim
Nabuco. Em meio ao movimento abolicionista de fins do XIX, Nabuco apontou como
vimos a escravidão como o fenômeno distintivo da nacionalidade brasileira e causadora
de diversos males de nossa vida social e política. O autor corrobora a visão da
inferioridade da raça negra em voga na época. A mistura com o sangue negro teria
causado todos os problemas decorrentes do “cruzamento com uma raça num período
mais atrasado de desenvolvimento”, isto é, de nível mental atrasado, com seus “instintos
bárbaros” e “superstições grosseiras” 89. Além dos problemas físicos, causou a
corrupção da língua, das “maneiras sociais”, da educação e muitos outros efeitos.
Porém, em sua visão, o fenômeno histórico e social da escravidão era o primeiro
causador da degeneração social, moral e econômica da nação por impedir o progresso
da raça negra, bem como por provocar a piora da raça branca. Para Nabuco, fora do __________ 88 FALCÃO, Annibal. Fórmula da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, sd, p 170. 89 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p 145.
251
ambiente da escravidão, a mistura e a convivência entre as raças em estágios desiguais
de desenvolvimento teria produzido o progresso da raça negra em todos os sentidos de
modo que seu estado presente seria profundamente diferente.
Assim como Aníbal Falcão e Romero, o processo histórico deu ao Brasil um
importante legado, embora tenha sido edificado na exploração econômica escravista. A
escravidão teria dado ao Brasil um povo específico, um povo mestiço, cujo sangue é
“saturado de sangue preto”. O grande desafio do momento, para Nabuco, era a
incorporação deste povo mestiço ao sistema político, o que somente pode ser atingido a
partir da abolição e da sua inclusão social em todas as esferas da vida do país. O futuro
do Brasil dependeria da aceitação dessa pluralidade da constituição étnica do povo, em
consentir com o fato de que “não somos um povo exclusivamente branco”, e não
devemos concordar com nenhuma idéia estrangeira que nos indique uma “maldição da
cor”. Ao contrário, era imprescindível anular esta idéia que não permitiria ao Brasil ver
suas potencialidades como povo:
Nós, brasileiros, descendentes ou da raça que escreveu essa triste pagina da humanidade, ou da raça com cujo sangue ela foi escrita, ou da fusão de uma e outra, não devemos perder tempo a envergonhar-nos desse longo passado que não podemos lavar, dessa hereditariedade que não há como repelir. Devemos fazer convergir todos os nossos esforços para o fim de eliminar a escravidão do nosso organismo, de forma que essa fatalidade nacional diminua em nós e se transmita às gerações futuras, já mais apagada, rudimentar e atrofiada. 90
Neste caminho de superação que deve percorrer o povo brasileiro, tanto no que
diz respeito aos males causados contato com uma raça atrasada, mas principalmente aos
males do regime servil, a sociedade brasileira teria uma peculiaridade em relação a
outros países escravistas como os Estados Unidos da América. Para Nabuco, não
teríamos desenvolvido o ódio racial e as divisões rígidas entre brancos e negros. Logo,
estando o caminho da cidadania aberto naturalmente aos mestiços e negros libertos, é
possível pensar num movimento político como o abolicionismo que visa a “reconstruir
o Brasil sobre o trabalho livre e a união das raças na liberdade” 91 No Brasil, a raça
negra, não é um elemento estranho como nos Estados unidos, ou como o percebia o
movimento abolicionista na Europa. Não é de um problema filantrópico ou de piedade
cristã de que se trata. Trata-se, sim, do próprio problema do Brasil como corpo político, __________ 90 Ibidem. 91 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 22.
252
uma vez que aqui, diferente de outros lugares, o negro “é um elemento de considerável
de importância nacional, estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à
constituição, parte integrante do povo brasileiro” 92.
A experiência escravista no Brasil seria, na perspectiva na Nabuco, a marca da
nacionalidade brasileira pra o futuro. Ela teria formado elementos profundos do modo
de ser brasileiro, do modo de sentir e pensar mais elementares, idéia que depois foi
desenvolvida por Gilberto Freyre.
É importante não perder de vista que a aposta na mestiçagem como o futuro do
Brasil era uma postura teórica bastante arrojada na época, não sendo em absoluto,
partilhada pela grande maioria da geração de 1870. Mesmo autores que a defenderam,
tiveram muitas vezes uma postura titubeante em relação a ela, como foi o caso de Silvio
Romero. Dentro do primeiro grupo de autores, aqueles que viam o povo essencialmente
como o portador de uma vontade política, Alberto Sales e, também, Pereira Barreto são
exemplos de não aceitação da miscigenação como futuro da nacionalidade brasileira,
embora fosse aceita com fato sociológico. Em sua divisão do Brasil em “três regiões
etnológicas”, Alberto Sales, via o sul do Brasil como uma ilha de pureza racial, em
oposição às outras regiões onde predominava o sangue indígena e negro, centro e Norte
respectivamente. A região sul e especialmente, São Paulo, se mantiveram “limpos”,
afastando-se etnicamente por “caracteres secundários importantes” das outras regiões do
Império. Os colonos que foram para o sul seriam superiores, pela cultura moral e
ascendência etnológica, logo, não se misturaram às populações negra e índia, como
ocorrera amplamente nas outras regiões.
Salles, entretanto, assim como a maior parte dos autores brasileiros da geração,
refutou a suposição das diferenças inatas entre as raças, o que condenava as raças
consideradas inferiores à eterna apatia intelectual e decadência moral Ao contrário,
concordava com Littré quando este defendeu que “todos os povos são suscetíveis de
cultura moral e intelectual. Uns podem preceder os outros na longa e trabalhosa escala
da evolução mental; mas não há aí ponto algum que constitua o apanágio de uma só raça
ou de uma única população” 93 Acreditava que as distinções, embora afastassem suas
trajetórias históricas, não eram especificas e acentuadas a ponto de se afirmar que há
__________ 92 Ibidem. p 24. 93 SALES, Alberto. Op Cit. p. 98.
253
regiões do pensamento que só são acessíveis alguns povos. Entretanto, essas
ponderações não impediram o autor de propor a separação de São Paulo do resto do
Império, considerando apenas a hipótese da agregação de toda a região sul, região que
teria desenvolvido um povo limpo racialmente.
O também paulista Pereira Barreto, muito tocado em seu pensamento pelo
evolucionismo de Comte e Spencer, foi mais radical que Alberto Salles no seu racismo
científico. Em artigos publicados em A Província de São Paulo entre os fins de 1880 e
princípios de 1881, tratou dos problemas do movimento abolicionista, da escravidão e
da raça. Seu tema geral foi a critica do ponto de vista metafísico da maior parte dos
abolicionistas para conceber as reformas sociais. Era, segundo o autor, levados pelo
“sentimentalismo retórico” e por uma “metafísica revolucionaria”, que se baseava e
tipos abstratos e não pela analise das condições social, “grau de cultura mental, a serie
de tradições, a índole, o caráter, os costumes do povo” 94. Neste conhecimento do povo,
a teoria racial era a principal ferramenta.
Proclamou sem hesitações teóricas a preponderância política e social da “raça
ariana”, fundada sobre condições naturais. Os arianos deveriam governar os de outras
raças, pois é esta que carrega a civilização, onde está contida a inteligência e o saber.
Esta diferença natural entre as raças seria perceptível em analises anatômicas do crânio
e do cérebro. Deste modo, a escravidão seria algo natural, um dado histórico inevitável.
Teria sido antes um bem que um mal ao negro, que antes vivia em estado de barbárie
em seu continente de origem, e como escravo na America, pode ter contato com a
civilização e evoluir.
A escravidão, para Barreto causara mais mal à sociedade branca que ao negro,
pois afetara seus costumes, sua vida doméstica seu caráter social, causando atraso e
apatia. Porém, diferente de outros autores que também perceberam os males que a
introdução do negro africano causara ao Brasil, como Nabuco, por exemplo, Pereira
Barreto se diferenciou por não incluir o negro escravo e liberto no interior do povo
__________ 94 BARROS, Rocque Spencer Maciel de. (org). Obras Filosóficas de Pereira Barreto. Volume III. São Paulo: Humanitas/ FFLCH/USP, 2003. p. 238.
254
brasileiro. Tratava-se para ele de uma “massa de homens estranhos a nossa vida social” 95.
Compreende-se, portanto, porque as maiores bandeiras de luta de Pereira Barreto
foram a eliminação das barreiras que impediam o fluxo da imigração européia para o
Brasil. Escrevendo também em A Província de São Paulo, defendeu ardorosamente a
supressão das barreiras legais para a naturalização dos imigrantes, a abolição da religião
de estado, a introdução casamento civil, a legalização da elegibilidade dos não
católicos, a liberdade absoluta de pensamento. Sua esperança era que a intervenção do
elemento estrangeiro trouxesse esperança de melhora a “um povo ignorante, pusilânime
e corrompido” 96 como o brasileiro. A imigração de alemães, franceses e anglo-saxões
poderia trazer esperança de formar um povo melhorado, atenuando da origem lusa,
“uma nação de sangue neolatino, mesclada de sangue romano, já bem fraca, pobre e
exausta, quando dela nos desprendemos” 97. Na perspectiva de Barreto, eliminadas a
monarquia e suas “futilidades teológicas”, o Brasil poderia seguir o caminho que
seguiram os Estados Unidos e se aproximar das “condições e morais do povo que assim
se ergue tão pujante, tão gigantesco á nossa vista” 98.
A miscigenação foi uma questão que dividiu os ânimos nas últimas décadas do
século XIX: alguns a viam como saída para a formação do povo brasileiro e sua
integração positiva na civilização ocidental. Foi preciso que o racismo cientifico
europeu da época fosse questionado e selecionado para que um novo horizonte
interpretativo pudesse se abrir. Porém, essa saída para sociológica para o conceito não
foi hegemônica, e para muitos a mistura de raças continuou sendo um empecilho ao
progresso do país. De todo modo, a história posterior do conceito de mestiçagem mostra
sua potencia e fecundidade. Foi uma das grandes construções intelectuais que deram
uma direção mais clara ao processo de historicização do conceito de povo no Brasil.
5.3 Considerações finais
__________ 95 BARROS, Rocque Spencer Maciel de. (org). Obras Filosóficas de Pereira Barreto. Volume III. São Paulo: Humanitas/ FFLCH/USP, 2003. p. 262. 96 BARRETO, Luis Pereira. Soluções Positivas da Política Brasileira. São Paulo: Editora Escala, 2007. p.25. 97 Ibidem. p. 58. 98 Ibidem. p. 27.
255
Vimos o repertorio cientifico da época foi incorporado de forma diferenciada
entre os membros da geração. Primeiramente, vimos a vertente que vinculou
preferencialmente povo e política, formulando o que chamei de evolucionismo político.
Estes autores viam uma evolução das vontades políticas rumo à modernização, isto é,
rumo à democratização e à republica, afastando-se, conseqüentemente do passado
monárquico, do governo dos privilégios e da nobreza. Esta evolução havia sido
interrompida pela intromissão intempestiva do interesse dinástico, que teria dado inicio
ao Brasil Imperial. Este marco conceitual, que teve os autores do Manifesto
Republicano como exemplos paradigmáticos, tinha a transformação política do país
como a grande bandeira de luta, de modo que as reformas que viam como “sociais”,
como a abolição, eram transpostas para um futuro quando as barreiras político
institucionais fossem removidas.
Em certa medida, este povo-político era bastante semelhante à construção
conceitual realizada pelos liberais históricos do império, tendo Teóphilo Otoni e
Timandro a frente, isto é, um povo mais teórico identificado a uma forma abstrata de
vontade política. Embora, estes autores de 1870, de forma diferente dos liberais
históricos, utilizassem fortemente as teorias do cientificismo da segunda metade do
século XIX, seu mote era bastante semelhante ao daqueles, pois percebiam a história
brasileira como a evolução das vontades políticas democráticas do povo. As
transformações políticas que defendiam, entretanto, tinham que vir no ritmo do tempo,
da prudência, sem trazer desordem social e grandes rupturas. Propunham como medida
imediata apenas a propaganda e a educação do povo para os novos princípios políticos,
sem conflitos e rupturas revolucionarias, isto é sem trazer este ‘povo” para o domínio da
ação na cena publica.99 Assim como no pensamento conservador formulado no fim dos
anos 1830, preferiam a revolução do tempo à revolução produzida pelos homens. A
__________ 99 Aliás, a prudência foi uma das marcas da geração de críticos da sociedade imperial. Segundo Sérgio adorno, em sua pesquisa sobre jornalismo estudantil na Academia de Direito de São Paulo, uma característica que unificavam os diversos matizes da critica política naquela instituição era “o repudio ao radicalismo”. Segundo este autor, esta prudência política significava “(...)trazer as camadas populares para o aprendizado ‘civilizado’ e ‘ordeiro’ do complexo manejo da administração burocrática do Estado, razão por que a cooptação política configurou estratégia de solida eficácia. A prudência política recomendava: dar sem a necessidade de conquistar; ampliar sem a necessidade de precisar abdicar do controle; distribuir poder sem o imperativo de sua partilha. Mais do que issso, a prudência política significava tratar das questões sociais jamais como se fossem resultantes de conflitos entre grupos e classes sociais” ADORNO, Sérgio. Os Aprendizes do Poder. O Bacharelismo Liberal na Política Brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. p. 246.
256
historicização foi incorporada também ao pensamento liberal típico da tradição imperial
através das idéias de evolução, de modo a formular um “evolucionismo político”. O
conceito de povo da tradição do liberalismo imperial, antes mais abstrato e teórico, foi
então também banhado nessa nova consciência histórica dos anos 1870.
O segundo grupo de autores foi responsável pela consolidação de uma
importante tradição conceituação do povo no Brasil, associando este menos à vontade
política, e mais à idéia de sociedade, raça, cultura e natureza. Era o povo brasileiro de
cunho social que estava em construção naquele momento, idéia que sobrepujou em
grande medida o povo de cunho político. Enquanto o primeiro grupo de autores via a
reforma política como o primeiro passo rumo à modernização do Brasil, Silvio Romero,
Miguel Lemos e Joaquim Nabuco viam na sociedade o lugar por excelência desta
evolução, sendo as instituições políticas apenas um epifenômeno derrivado e
dependente. Esta idéia, que, de alguma esteve presente em toda a geração, não deixa de
ecoar a concepção da “marcha da civilização” que o pensamento conservador punha em
pauta para justificar a necessidade das instituições monárquicas e da centralização
política. Lembremos de todas as justificativas expressas por ocasião da Interpretação do
Ato Adicional em 1841 no sentido de que o povo não estaria preparado para a liberdade
do autogoverno, necessitando da tutela monárquica enquanto percorria o lento caminho
da civilização.
Uma dos elementos que tornam mais evidente a diferença entre as duas posturas
quanto ao conceito de povo é a questão da inclusão ou exclusão da diversidade racial
brasileira no povo e a postura quanto á abolição. É bastante conhecida a postura
titubeante dos republicanos em relação à abolição. Em muitos momentos, Quintino
Bocaiúva se declarou abolicionista, mas o Manifesto nada mais declarou sobre o assunto
que a condenação dos “privilégios de raça” no país. Já os federalistas Alberto Sales e
Luis Pereira Barreto, embora percebessem a escravidão como uma instituição
ultrapassada na marcha civilizacional, não a viram como essencialmente maléfica para
os negros. Para estes pensadores, a escravidão não era um problema premente, entre
outras coisas, porque não incluíam de fato a população etnicamente variada e “mestiça”
do Brasil no interior de seu conceito de povo. Este contingente populacional era uma
parte alijada do corpo político do povo. Já os teóricos da “mestiçagem”, a categoria, por
excelência com que pensaram a constituição do povo Brasileiro, não deixaram de
257
perceber no interior do povo toda a mescla de sangue, raça e culturas, componentes da
população brasileira. Entretanto, embora o mestiço e o negro fizessem parte do povo,
enquanto ente social, sua participação como entidade política cidadã era, para alguns,
inteiramente vedada, como para os positivistas, e para outros, como Nabuco, era
relegada ao horizonte futuro, quando a sociedade estivesse já mais adiantada em sua
marcha de modernização.
Neste capítulo, procuramos evidenciar dois caminhos por que o conceito de
povo foi reconstruído na geração de 1870, processo em que se verificou o
aprofundamento da historicização conceitual dos anos 1830 através da resposta às
grandes questões políticas do momento e da incorporação das visões evolucionistas da
política e da sociedade. No movimento de critica à sociedade imperial e suas tradições
políticas, o conceito de povo foi definitivamente imerso numa concepção processual e
progressista do tempo, o que lhe deu os contornos sociológico e histórico que possui até
os dias na forma como o brasileiro se compreende como povo-nação.
258
CONCLUSÃO
Este trabalho analisou algumas linhas de transformação histórica do conceito
político de povo no Brasil nos séculos XVIII e XIX, sob a perspectiva da historicização
da linguagem política moderna. Consideramos a “historicização” como um complexo
processo histórico-semântico constituído por uma série de fenômenos entre os quais
destacamos alguns fundamentais. Primeiramente, a inserção dos conceitos em
concepções processuais do tempo, o que lhes confere uma profundidade histórica que
antes não possuíam. Também definimos com historicização dos conceitos políticos seu
contingenciamento, isto, a medida em que seus significados são extraídos de analises e
percepções da realidade presente, sejam quais forem os pontos de vista que as presidem,
fugindo a repertórios semânticos estáticos e a-históricos.
Uma pesquisa sempre se inicia a partir de alguns preconceitos, como revelou o
filósofo Hans-Georg Gadamer. Ao invés de escamoteá-los, acredito que a postura mais
produtiva é expô-los e dialogar com eles. Numa pesquisa sobre a semântica histórica do
conceito de povo no Brasil, uma grande fonte de pré-concepções é sem dúvida conjunto
de autores que agrupamos sob o nome de pensamento social brasileiro. Tal tradição
construiu em suas diversas vertentes uma influente conceituação do povo no Brasil: um
povo afastado da atuação política e revolucionária, definido por seus dotes naturais e
pelas peculiaridades de seu caráter cultural e historicamente construídos. O conceito de
povo foi englobado na construção da idéia nacional perpetrada por diversos autores
especialmente ao longo do século XX: um povo ordeiro, pacífico emotivo, rico do ponto
de vista étnico e cultural, mas carente no que diz respeito à capacidade política para a
vida cidadã moderna. Nas grandes narrativas erigidas a partir deste prisma, o conceito
de povo foi percebido como singular coletivo, identificado à nação e revestido de
historicidade, isto é, foi visto como o resultado de uma grande marcha histórica que
resultou na construção de um determinado “caráter do povo brasileiro”. Estas análises
sobre o “povo” como substancia concreta a ser conhecida revestiram-se de objetividade
científica, obliterando o complexo e conflituoso processo histórico-semântico e
ideológico de sua constituição.
Esta construção conceitual realizada pelo pensamento social brasileiro se
realizou no interior consciência histórica moderna. Longe de ser objetivo, o conceito de
259
povo-nação no Brasil foi resultado de um longo processo histórico-semântico. Este
processo constitui a historicização do conceito de povo, um conjunto de transformações
sociais, cultuais e lingüísticas ocorridas tanto no meio literário e cientifico, quanto no
senso comum. Neste processo, a estabilidade semântica da linguagem política foi
abalada pelo desenvolvimento da consciência histórica. A reconstituição crítica deste
processo no âmbito da linguagem política cotidiana foi o nosso objetivo nesta pesquisa.
A tradição corporativa luso-brasileira, cuja origem remonta ao período medievo,
percebia o povo como a totalidade do corpo político. Era mais freqüente a utilização do
conceito na forma plural “povos”, uma vez que, se tratava, não de uma singularidade,
mas do conjunto dos vassalos do rei, divididos em ordens, estados ou corpos do reino. O
povo era compreendido como elemento fundamental de uma unidade político-espiritual,
que tinha no rei seu centro. Nesta concepção, rei e povo eram indissociavelmente
ligados e tinham, ambos direitos e deveres independentes de suas vontades, fundados
nesta ordem mística que imputava lugares e funções especificas na manutenção da
harmonia do todo. Isso implicava que o rei era soberano, mas deveria agir com justiça, o
que significava o respeito às funções, jurisdições e privilégios de cada parte.
Esta tradição, embora informasse em grande medida a conduta dos agentes, não
implicava na prática política uma harmonia absoluta entre os povos e o rei. Como
vimos, não foram raros conflitos em que os povos exigiam o respeito aos privilégios
direitos e deveres costumeiramente acordados. Havia inclusive uma vertente derivada
desta tradição, formulada mais claramente pelos teóricos doutrinários no contexto da
Restauração Portuguesa ainda no século XVII, que dava aos povos o direito de
rebelarem-se e tomarem para si a soberania em caso de despotismo. Nesta concepção os
povos recebiam o poder diretamente de Deus e posteriormente o transferiam ao monarca
através de um pacto político, porem, conservavam-no “em hábito”, o que dava ensejo ao
retorno da soberania aos povos em caso de desrespeito ao pacto.
A política pombalina procurou, como parte de seus esforços de reorientação
política do lugar do poder monárquico no Império Português, destruir esta tradição,
sobrepondo o poder real a todas as jurisdições e privilégios que pelo costume eram
conferidos aos povos. Contra essa política, em fins do século XVIII, o conceito
apareceu nos territórios coloniais como força contrária à tirania. Tratou-se de uma
rearticulação da tradição luso brasileira, retemperada pelo ideário da ilustração européia.
260
Os povos ou o povo foram vistos como força política abstrata em luta contra a tirania e
em defesa dos seus direitos naturais e costumeiros. Vale notar que a forma singular
“povo” já aparece com mais freqüência no contexto neste fim de século. Acreditamos
que estes esta imagem dos “povos em luta contra a tirania” eram uma expressão ainda
da estabilidade semântica típica do Antigo Regime. Tratava-se uma concepção do povo
estática e a - histórica, pois fundada em idéias de um ordenamento natural e tradicional.
Este povo era o oposto conceitual do rei absoluto, ambos pertencentes ao mundo do
Antigo Regime.
O problema da plebe colonial, que recrudesceu ao longo do setecentos, foi um
dos fatores que abalaram a estabilidade do conceito, tal como utilizado na tradição luso-
brasileira nos movimentos conspiratorios do ultimo quartel do século. A presença de um
vasto contingente de libertos e homens livres pobres sem lugar no sistema produtivo
trouxe a dissolução da visão tripartida da sociedade entre clero, nobreza e povo. A
categoria “plebe” tomou maior importância e passou designar, na fala dos
administradores coloniais a totalidade da população colonial, em lugar do conceito de
povo. Entretanto, a plebe era ainda vista em grande medida como possuidora de
características eternas e imutáveis. Para tentar compreender o fenômeno, muitas vezes
se recorria a exemplos da Antiguidade Clássica Greco-Romana, capaz de revelar o
caráter da plebe em qualquer época histórica.
Na segunda metade do século, a questão da plebe colonial passou a ser vista sob
novos ângulos. A política pombalina, visando maior controle sobre os territórios
coloniais, buscou fomentar o conhecimento cientifico dos habitantes coloniais, como
parte do desenvolvimento do conhecimento da natureza das possessões ultramarinas. A
informação detalhada das condições da sociedade colonial, de sua composição étnica,
seus usos e costumes, passou a ser vista como de extrema importância para a
formulação das políticas destinadas a retirar o Império da profunda crise em que se
encontrava. Neste sentido, o conceito de “população”, um conjunto de indivíduos a
serem conhecidos, disciplinados, cresceu em importância na fala dos administradores e
intelectuais ligados ao Estado. Ao conceito abstrato e revolucionário da ilustração e da
tradição corporativa medieval a consciência cientifica da época contrapunha o conceito
de população a ser avaliada, categorizada, disciplinada e tutelada pelo Estado.
261
O cientificismo ilustrado pombalino procurou perceber as especificidades da
população colonial e fundou as bases conceituais da apreciação realista e sociológica do
povo no Brasil. Esta tendência deu esteio ao pensamento de gerações de intelectuais e
estadistas que ao longo do Império defenderam os princípios conservadores contra o
que consideravam os excessos da doutrina da soberania do povo e da nação.
No processo de independência esta vertente naturalista e conservadora se
mesclou às reivindicações constitucionalistas do vintismo, formando as bases da
tradição do Império Brasileiro, cujos alicerces foram formulados em especial por José
Bonifácio. O conceito de povo teve, para certa vertente do vintismo, seu significado
cada vez mais preso ao diagnostico da situação histórica contingente, procurando fugir
do que eram consideradas “abstrações” do contratualismo liberal e a – histórico, que
trazia na idéia de “regeneração” a concepção de um retorno do povo aos princípios de
sua natureza humana obliterados pela ação do despotismo. Para esta vertente, era
fundamental ajustar o conceito monárquico de povo, que o vinculava ao monarca, ao
dogma da soberania nacional. O rei surgia então como o primeiro representante do
povo, aquele que deveria zelar por este ente ainda num estado embrionário de
civilização. A civilização tinha, entretanto, um caráter pouco historicizado, uma vez que
não era entendida exatamente como uma fase histórica de uma marcha universal, mas
como processo em que o povo, por intermédio de uma forte política estatal, se
transformaria em direção à um estado de razão, atributo presente em todos os homens,
mesmo que em estado rudimentar. A civilização se identificava mais ao
aperfeiçoamento de um princípio racional universal. O conceito de povo era nesses anos
do constitucionalismo ainda bastante estático, pois entendido como conjunto de homens
racionais dotados de direitos naturais, embora, a visão naturalista já percebesse as
especificidades da situação contingente do povo na formulação do projeto político do
país independente.
Acreditamos que na experiência histórica da década de 1830, a historicização do
conceito se aprofundou, especialmente nos discursos do liberalismo moderado e
conservador construídos frente às tentativas revolucionárias e sediciosas dos liberais
exaltados e da população pobre, na capital e nas províncias. Ao conceito de povo
universal, inclusivo, abstrato e revolucionário veiculado por ocasião da Revolução de 7
de Abril, que dava ensejo à atuação popular direta e decisiva na cena pública, as
262
lideranças moderadas que tomaram a direção do Estado opuseram o conceito ordeiro e
pacífico e disciplinado. O conceito revolucionário foi identificado ao de “facção”
amotinada insubordinada, apartado da massa do povo. A “soberania do povo, aceita
como princípio – muito embora a “soberania da nação” fosse a expressão mais
freqüente –, não implicava a participação popular irrestrita e direta nas decisões
públicas. O lema destes políticos era o de que a política real não deveria ser fundada em
fundamentos teóricos e doutrinários, mas na analise acurada das circunstancias do
tempo, capaz de apontar o estágio de civilização do povo, que, julgava-se, ainda era
inicial.
O conceito de civilização, agora entendido como grande marcha histórica porque
passavam o Brasil e o mundo, foi o esteio da historicização do conceito de povo levado
a cabo ao longo dos conturbados e violentos anos de 1830. O conceito de povo se
inseriu na consciência “moderada” e posteriormente, francamente conservadora, erguida
nesses anos numa perspectiva temporal e sociológica que pretendia apontar as
características do povo no presente histórico. Ao falar em povo, os conservadores
realizavam analises sociológicas e históricas a respeito da contingência do momento
com o intuito dar um embasamento realista ao projeto político centralizador,
monárquico e antidemocrático. Formavam-se as bases da tradição imperial: enquanto o
povo estivesse seguindo o lento e gradual processo de civilização, cabia à Coroa,
auxiliada pelas elites, ocupar-se dos negócios políticos. Reatualizava-se assim sob
bases renovadas o projeto ilustrado luso-brasileiro, iniciado no setecentos e herdado nos
anos 1820, que unia apreciação naturalista, sociológica e histórica da realidade
contingente do povo com o objetivo de fornecer subsídios para seu controle e disciplina
em função de um projeto político monárquico-conservador.
Enquanto as elites que compuseram o regresso conservador consolidaram este
conceito de povo, os liberais se aferraram ao conceito teórico e abstrato de povo em luta
contra a tirania e o despotismo. O povo aparecia como uma força política “democrática”
em luta contra o “poder pessoal”, de modo que as concepções sociológicas histórico-
sociológicas eram menos presentes. O povo significava um conjunto de indivíduos
portadores de direitos em duelo histórico com o Estado, visto como cerceador das
liberdades naturais. Por um lado, quando os liberais históricos como Teóphilo Otoni
falavam em “povo”, a aparente universalidade do conceito escondia seu caráter
263
restritivo, pois não estavam incluídos grande maioria da população pobre e mestiça: a
plebe brasileira, sempre vista como essencialmente problemática.
Na década de 1870, com as críticas ao Império em nome da visão evolucionista
da história em voga, o conceito ganhou definitivos tons históricos, sociológicos e
naturalistas, formando as bases do conceito que fez história no pensamento social
brasileiro, notadamente com as noções de raça e mestiçagem. A historicização
conceitual que caracterizou as bases da tradição política Imperial conservadora foi
incorporada e transformada por uma geração de políticos e intelectuais envolvidos na
critica ao status quo através incorporação seletiva do evolucionismo cientificista da
época. Para a nova geração de críticos do Império, era preciso inserir o Brasil na marcha
da modernização, para tanto, era preciso conhecer o povo do Brasil, suas características
culturais, raciais e sociais, suas potencialidades e limitações através de investigações
detalhadas.
Houve um aprofundamento do olhar histórico sobre o povo no Brasil
empreendida por intelectuais de diversas vertentes, desde aqueles descendentes diretos
do liberalismo imperial, por republicanos, positivistas ortodoxos e heterodoxos e novos
herdeiros do liberalismo imperial. Entretanto, delinearam-se duas grandes vertentes
conceituais. Para uma delas, o povo era ainda vista como força política contraposta ao
despotismo, como na tradição liberal imperial, mas, esta força eminentemente política
revestia-se de uma tonalidade evolucionista: salientavam a evolução das vontades, da
consciência democrática do povo desde os primórdios da história nacional, em
conformidade ao progresso a humanidade, tendência sobrepujada pela manobra política
dinástica ilegítima que teria dado origem ao Estado Imperial. Para outra vertente, que
variou no que diz respeito ao regime político almejado, havendo, desde monarquistas
até republicanos autoritários, era mais apropriado aprofundar o conhecimento étnico,
racial, cultural e sociológico do povo no Brasil, antes de imputar-lhe um caráter político
democrático ou republicano que não está preparado para ter. Eram necessárias reformas
sociais e econômicas amplas, como a abolição, para que o povo pudesse progredir e se
tornar apto à participação política republicana. Nesta concepção, o povo era entendido
como complexo sociocultural em evolução.
De certa forma, as duas vertentes da geração eram uma reatualização das
vertentes liberal e conservadora forjadas nos anos 1830: assim como os liberais
264
históricos, como Otoni e Timandro, os republicanos do Manifesto acreditavam que as
reformas políticas federalistas e democráticas deveriam ser aplicadas imediatamente ao
povo considerado apto à participação cidadã na política; assim como para os
conservadores como Uruguai, para Joaquim Nabuco ou Sílvio Romero era preciso que o
povo seguisse sua marcha progressiva no plano sócio-cultural para que uma reforma
política tivesse pleno sentido e adequação ao real.
O processo de historicização da linguagem política por que passou o conceito de
povo distinguiu-se pela paulatina desconstrução do conceito abstrato de povo, ou mais
freqüentemente dos “povos” contra a tirania, o despotismo e o poder pessoal. Ao
mesmo tempo, em seu lugar se erigiu um conceito de povo como realidade histórica e
sociológica, a ser conhecido em sua marcha civilizacional ou evolutiva nos planos da
cultura da sociedade. O conceito geral e abstrato dava ensejo à possibilidade do ato
revolucionário, mas quando usado pelas elites, significava um seleto numero de homens
considerados aptos à vida política e cidadã em detrimento da maioria. Já o conceito
sociológico, mais inclusivo, teve caráter essencialmente apolítico. Eis o dilema que
encerra a história do conceito de povo no Brasil que procuramos traçar: por um lado um
conceito essencialmente abstrato e político, mas extremamente restritivo quanto àqueles
aptos à integrá-lo, por outro, um conceito sociológico e histórico, generalizante, mas
fora da domínio político. Este último conceito foi aquele que fez história na formulação
da idéia de nacionalidade no Brasil a partir das formulações do pensamento social
brasileiro.
265
REFERÊNCIAS
1. FONTES
1.1 Periódicos
A MALAGUETA. Rio de Janeiro: 1822. (1821-1832) AURORA FLUMINENSE. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 1831 .(1827-1839) NITHEROY. REVISTA BRASILIENSE. SCIENCIAS, LETRAS E ARTES. Paris: Darwin et Fontaine Librairies. Tomo 1 e 2. (1836- Irregular) NOVA LUZ BRASILEIRA. (1829-1831) O AMIGO DO REI E DA NAÇÃO Rio de Janeiro, (1821) O BEM DA ORDEM 1821 O CONSTITUCIONAL 1822 O ESPELHO 1821 O MACACO (Jun-Ago de 1822). Rio de Janeiro: Tipografia de Silva Porto e Cia, 1821. REGULADOR BRASÍLICO-LUSO.
REVÉRBERO CONSTITUCIONAL FLUMINENSE. Rio de Janeiro: (1821-1822)
1.2. Folhetos
CONSTITUIÇÃO Explicada. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1821.
266
DIÁLOGO entre a Constituição e o Despotismo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1821.
DIÁLOGO Entre o Corcunda Abatido e o Constitucional Exaltado. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. Por um anônimo muito anônimo e muito constitucional. 1821
1.3 Documentos Oficiais/ Anais e Diários Legislativos
Anais do Senado Imperial
Anais da Câmara dos Deputados.
Arquivo Histórico Ultramarino
Autos da Devassa. Prisão dos Letrados do Rio de Janeiro – 1794. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2002.
RIO DE JANEIRO (RJ). Biblioteca Nacional. Autos da Devassa da Inconfidência Mineira..
Diário da Assembléia Geral, constituinte e legislativa do Império do Brasil (1823).
Ordenações Afonsinas. Livro I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984
Ordenações Filipinas. Livro I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984
Ordenações Manoelinas. Livro I. Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.
Relatórios de Ministros da Justiça. [on line] E-collections at the Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project (http://www.crl.edu/content.asp?l1=5&l2=24&l3=45).
Relatórios de Presidentes de Província. [on line] E-collections at the Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project (http://www.crl.edu/content.asp?l1=5&l2=24&l3=45)
1.4. Diários, memórias, testemunhos
Diário da Viagem quem em visita e correição das povoações da capitania de São José do Rio Negro fez o ouvidor e intendente geral da mesma Francisco Xavier Ribeiro de Sampaioem 1774 e 1775. Exornando com algumas noticias geographicas e hidrográphicas da dita capitania, com outras concernentes à história civil, política das nações de índios seus habitadores, e a sua população, agricultura e comércio. Publicado em 1825 pela Academia Real de Ciências de Lisboa.
FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Diário da Viagem Filosófica pela Capitania de São José do Rio Negro com a Informação do Estado Presente.
267
MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Memória Histórica e Documentada da Revolução da Província do Maranhão. Desde 1839 até 1840. São Paulo: Siciliano, 2001.
MARINHO, José Antônio. Historia da Revolução de 1842. Brasília, Senado Federal, 1978.
MEMÓRIAS Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa para o adiantamento das Artes e da industria em Portugal e suas conquistas. Tomo V, ano. 1815
OTÁVIO, Rodrigo. A Balaiada 1839. Depoimento de um dos heróis do cerco de Caxias sobre a revolução dos ‘Balaios’. São Paulo: Siciliano, 2001.
1.4. Dicionários
BLUTEAU, Rafael. Vocabulário Português e Latino. Tomo 6. 1720. SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da língua portugueza. Lisboa: Impressão Régia, 1831
SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da língua portugueza. Lisboa: Impressão Régia, 1844
SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da língua portugueza. Lisboa: Impressão Régia, 1858
1.5. Coletâneas de documentos
ALENCAR, José de. “Sonhos D’Ouro”. In Ficção Completa. Vol. 1. Rio de Janeiro, Companhia Aguillar Editora, 1965.1 Revista Nictheroy Op. Cit. p. 216.
Documentos Históricos. Biblioteca Nacional. Vol 91, 1951.
ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÂO. Documentos para a História da Balaiada. São Luís: Edições FUNCMA, 2001.
AS CÂMARAS Municipais e a Independência. Conselho Federal de Cultura. Departamento de Imprensa Nacional, 1973.
BOCAIUVA, Q. Idéias Políticas de Quintino Bocaiúva. Cronologia, introdução, notas bibliográficas e textos selecionados por Eduardo silva. Brasília: Senado Federal; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986.
BONAVIDES, Paulo e AMARAL, Roberto (orgs). Textos Políticos da História do Brasil. Vol II. Império. Segundo Reinado. Brasília: Senado Federal, 2002.
268
CANECA, Frei. Ensaios Políticos. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Editora Documentário, 1976.
CASTILHOS, Julio. Julio de Castilhos: positivismo, abolição e republica. Organização e apresentação de Margaret Bakos. Porto Alegre: IEL-Edpucrs, 2006.
Documentos para a História da Independência. IHGB Alagoas, 1972.
Documentos para a História da Independência. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional.
LAVRADIO, Marquês do. Cartas da Bahia. 1768-1769. Série Publicações. n. 68. Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1972.
MAGALHÃES Júnior, R. Três panfletários do Segundo Reinado. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1969.
MARTINS, Liana Bac, SILVA, Luís Antônio Costa da e NEVES Gervásio Rodrigo Pensamento político de Júlio de Castilhos. Porto Alegre: Martins Livreiro Ed., 2003. (19/01/1885).
NABUCO, Joaquim. Discursos Parlamentares. Obras Completas de Joaquim Nabuco. Vol XI. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949.
ROMERO, Sílvio. Sílvio Romero. Trechos escolhidos. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1959.
SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil. São Paulo: Cia das Letras/Publifolha, 2000.
URUGUAI, Visconde do. Ensaio sobre o Direito Administrativo. In. CARVALHO, José Murilo de (org). Visconde do Uruguai, São Paulo: Editora 34, 2002.
VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. Organização e Introdução de José Murilo de carvalho. São Paulo: Ed. 34, 1999.
VILHENA, Luís dos Santos. Pensamentos Políticos sobre a Colônia. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1987.
VILHENA, Luiz dos Santos. Recopilação de Notícias Soteropolitanas e Brazílicas. Bahia: Imprensa Official do Estado, 1921.
1.5. Livros
BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Publico Brazileiro e Analyise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Tipographia Imp. E Const. de J. Villeneuve e C, 1857.
BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução na França. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982.
269
COUTO, Domingos de Loreto. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Rio de Janeiro: Officina Typographica da Biblioteca Nacional, 1904.
DISCURSO Histórico e Político sobre a Sublevação que houve nas Minas no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994.
FALCÃO, Annibal. Fórmula da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, sd.
GONZAGA, Thomás Antônio. Cartas Chilenas. Domínio Publico. Disponível em: <http/: dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 09 out. 2012.
GONZAGA, Tomaz Antonio. Tratado de Direito Natural. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
GUIZOT, M. De la démocratie en France. Paris :Victor Masson Librairie, MDCCCXLIX.
JASMIN, Marcelo. Alex de Tocqueville. A Historiografia como ciência da política. Rio de Janeiro: ACCESS, 1997.
JUSTA Acclamação do Sereníssimo rey de Portugal D. João o IV. Tratacdo analytico dividido em três partes . Ordenado e divulgado em nome do mesmo reyno, em justificação de sua acção. Dirigido ao summo pontífice da Igreja Cathólica, Reys, Príncipes, respublicas, e senhores soberanos da Christandade. Composto pelo Doutor Francisco Velasco Gouveia (...). À custa dos três Estados do Reyno. Lisboa, Typ. Fênix – Beco de Santa Martha, n. 123, 1846.
LEMOS, Miguel. O Positivismo e a Escravidão Moderna. Trechos estraídos das obras de Augusto Comte, seguidos de documentos pozitivistas relativos à questão da escravatura no Brazil e precedidos por uma introdução. Rio de Janeiro: Centro Positivista Brasileiro, 1884.
LISBOA, João Francisco. Jornal de Timon. Partidos e Eleições no Maranhão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
NARRAÇÃO Histórica das Calamidades de Pernambuco. Sucedidas desde o anno de 1707 até 1715 com a notícia do Levante dos Povos de suas capitanias. Escrita por um anônimo (1749). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiros, v. 53, Parte II, 1890.
PENALVA, Marquês de. Dissertação a favor da Monarquia. Porto: Edicões Gama, sd. (Título original: Dissertação a favor da Monarquia. Onde fe prova pela razão, authoridade, e experiencia fer efte o melhor e mais jufto de todos os Governos; e que os noffos Reis são os mais absolutos, e legítimos Senhores de Feus Reinos: offerecida a sua alteza Real o Príncipe do Brazil nosso senhor pelo Marquez de Penalva. Lisboa, na Regia officina Typografica. M. DCC. XCIX, por ordem de sua magestade)
270
PENALVA, Marquês de. Dissertação sôbre as obrigações do vassalo. Lisboa: Pro Domo, MCMXLV. (título original: Dissertação sobre as obrigações do vassalo dedicada ao príncipe regente nosso senhor pelo Marquês de Penalva. Lisboa, na impressão régia, MDCCCIV, com Licença de S. A.R.)
ROMERO, Silvio. Ensaio de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1908.
______. Ensaios de Crítica Parlamentar. Rio de Janeiro: Editores Moreira, Máximo e C., 1883.
______. O Brasil Social e outros estudos sociológicos. Brasília, Senado Federal: 2001.
______. Parlamentarismo e Presidencialismo. Brasília: Senado Federal, 1979.
______. Compêndio de História da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1909.
SALLES, Alberto. Catechismo Republicano. São Paulo: Leroy King Bookwalter, MDCCCLXXXV.
SOUZA, Brás Florentino Henriques de. Do Poder Moderador. Brasília: Senado Federal, 1978.
TOCQUEVILLE, Alex de. La démocratie en Amerique. Paris : Pagnerre Éditeur, 1848.
Tractado analytico e apologético sobre os provimentos dos bispados da coroa de Portugal: calumnias de castella convencidas: resposta ao seu author D. Francisco Ramos del Manzano: justifica-se o procedimento do senhor Rey D. Joam o IV e do senhor Rey D. Affonso seu filho, com a fé apostólica (...) escrita em 1715 por Manuel Rodrigues Leitão (Lisboa: Officina Real Deslandesiana, 1715.
VASCONCELOS, Zacarias Góes de Góes e. Da Natureza e Limites do Poder Moderador. Brasília: Senado Federal, 1978.
2. REFERÊNCIAS
2.1. Dicionários
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Dicionário de Ciências Sociais, 1986.
RIVAS, Xosé Luiz Barreiro. Verbete “povo” In. Instituto de Filosofia da Linguagem. Universidade de Lisboa. Fundação para a Ciência e Tecnologia. Ministério da Ciência,
271
Tecnologia e Ensino Superior. Dicionário de Filosofia Moral e Política. Disponível em: <www.ifl.pt>, Acesso em: 09 out. 2012.
SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal. Lisboa: Livraria Felgueiras,1992.
2.2. Livros e artigos.
ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. 1500-1800.Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Publifolha, 2000 (Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro).
ADORNO, Sérgio. Os Aprendizes do Poder. O Bacharelismo Liberal na Política Brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.
ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A Geração de 1870 na crise do Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
ALVES, Andréa Firmino. A Escravidão no Império do Brasil. Revista Múltipla, n. 10 v.20, p.33-50, Jul., 2006.
AMARAL, Azevedo. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio de Janeiro: José Olympio,1938.
ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos Rebeldes. Violência coletiva nas minas na primeira metade do século XVIII. Belo Horizonte: Editora c/ Arte, 1988.
ARAUJO, Valdei Lopes de. História dos Conceitos. Problemas e Desafios para uma Releitura da Modernidade Hibérica. Almanak Brasiliense, São Paulo, p. Mai., 2008.
ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo. Conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008.
ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.
BALAKRISHNAN, Gopal. Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.
BARRETO, Pereira Luis. Soluções Positivas da Política Brasileira. São Paulo: Editora Escala, 2007.
BARRETO, Vicente; PAIM. Antonio Evolução do Pensamento Político Brasileiro. Belo Horizonte/ São Paulo, Itatiaia/EDUSP, 1989.
BARRETO, Vicente. A Ideologia Liberal no Processo de Independência. Brasília: Camara dos Deputados, 1973
BARROS, Rocque Spencer Maciel de. (org). Obras Filosóficas de Pereira Barreto. Volume III. São Paulo: Humanitas/ FFLCH/USP, 2003.
BARROS, Roque Spencer Maciel de Barros A ilustração Brasileira e a idéia de universidade. Tese/doutorado São Paulo: USP; 1959.
272
BASILE, Marcelo Octavio Néri Campos. Anarquistas, rusguentos e demagogos: os liberais exaltados e a formação da esfera publica na corte imperial (1829-1834). Dissertação de Mestrado. Departamento de História, ICHF/UFRJ. Rio de Janeiro; 2000.
______. Ezequiel Correa dos Santos. Um Jacobino na Corte Imperial. Rio de Janeiro: FGV, 2001
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.
BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política, São Paulo: Brasiliense, 1994.
BICALHO, Maria Fernada. O que significava ser cidadão nos tempos coloniais. In. ABREU, Martha e Soihet, Rachel. (orgs). Ensino de História. Conceitos, Temáticas e Metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. BICALHO, Maria Fernanda. As representações da Câmara do Rio de Janeiro ao monarca e as demonstrações de lealdade dos súditos coloniais. Séculos XVII e XVIII. In. O Município no mundo português. Seminário Internacional. Funchal/Região Autônoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico/Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1998.
BIDET, Jacques. A Multidão no Império. Crítica Marxista, n. 19, jul. 2006.
BINOCHE, Bertrand. Les Trois Sources des Philosophies de l’Histoire (1764-1798), Paris, P.U.F., coll. Pratiques Théoriques , 1994.
BOSI, Alfredo. O Tempo e os Tempos. In. ABENSOUR, Miguel; NOVAES, Adauto. Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura, 1992.
______. A Escravidão entre dois liberalismos. Estudos Avançados. São Paulo, v.2, n.3, Set./Dez. 1988.
BOXER, Charles. Império Marítimo Português. São Paulo: Cia. Das Letras, 2002.
CAMPOS, Francisco Antônio de Novaes. Príncipe Perfeito. Emblemas de D. João de Solórzano. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1985.
______. O estado nacional. Sua estrutura. Seu conteúdo ideológico. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1940.
CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008
CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Pontos e bordados : escritos de história e política. Belo Horizonte: UFMG, 1998
______. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001
273
______. Dimensões da cidadania no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1995
______. Federalismo e Centralização no Império Brasileiro. História e Argumento. Folheto. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1992.
______. A construção da ordem e Teatro de Sombras. Rio: Civilização Brasileira, 3a. edição, 2003.
______. O Motivo edênico no imaginário social brasileiro. Revista brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 13, n. 38, Out, 1998.
CARVALHO, Maria Alice Rezende de. O Quinto Século. André Rebouças e a Construção do Brasil. Rio de Janeiro: REVAN: IUPERJ-UCAM, 1998.
CASSIRER, Ernest. El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. De la muerte de Hegel a nuestros días. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
CASSIRER, Ernest. A Filosofia do Iluminismo. Campinas: Ed. Unicamp, 1994.
CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.
CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência. Aspectos da Cultura Popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1993.
CHIAVENATO, Julio José. A Cabanagem: O Povo no Poder. São Paulo: Brasiliense, 1984.
CHIGNOLA, Sandro. História de los conceptos, história constitucional, filosofia política. Sobre el problema del léxico político moderno. ResPublica, Lisboa, Marc.p.11-12, 2003.
COHEN, Deborah, La population contre le peuple. Labyrinthe, v.22, 2005, Disponível em: <http://labyrinthe.revues.org/index1035.html>. Acesso em: 09 out. 2012.
COMPARATO, Fábio Konder. Variações sobre o conceito de povo no regime democrático. Estudos Avançados. São Paulo, v.11, n.31, Set./Dez., 1997.
CONTIER, Arnaldo Daraya. Imprensa e ideologia em São Paulo, 1822-1824 : matizes do vocabulário político e social. Petrópolis: Ed. da UNICAMP, 1979.
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999.
COSTA, Emilia. Da Senzala à colônia. São Paulo: Editora UNESP, 1998.
COSTA, João Cruz. Contribuição à história das idéias no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
274
COSTA, João Cruz. Contribuição a Historia das Idéias no Brasil. O Desenvolvimento da Filosofia no Brasil e a Evolução Histórica Nacional. Rio de Janeiro: José Olimpio Editora, 1956.
COZER, Ivo. O pensamento político do Visconde do Uruguai e o debate entre centralização e federalismo no Brasil (1822-1866). Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: IUPERJ; 2006.
CUNHA, Euclides. Da independencia à Republica. In. À Margem da História. São Paulo: Martin Claret, 2006.
CUNHA, Rui Vieira da. O parlamento e a nobreza brasileira. Brasília: Senado Federal, 1979.
DESBROUSSES, Hélène et al. Le Peuple. Figures et Concepts. Entre Identité et Souveraineté. Paris: François-Xavier Guilbert, 2003.
DIAS, Claudete Maria Miranda. Balaios e Bem-Te-Vis. A Guerrilha Sertaneja. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1996.
DIAS, José S. da Silva. Pombalismo e Teoria Política. Cultura, História e Filosofia. v.1. Instituto Nacional de Investigação Científica. Centro de História da Cultura da Universidade Nova Lisboa, 1982.
DIAS, Maria Odila da Silva. A Interiorização da Metrópole (1808-1853). In. MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em 1822: Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972.
______. “Aspectos da Ilustração no Brasil”. Revista do IHGB. Rio de Janeiro. v.278. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional. Janeiro/março, 1968.
DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT. Encyclopedie ou Dictionaire Raisoné des Siences, des Arts et des Métiers. v.12. [S.I.]:Stuttgart-Bad Gannstat, 1967.
DOLHNIKOFF, Mirian. Entre o Centro e a Província. As elites e o poder legislativo no Brasil oitocentista. Almanack Brasiliense, São Paulo, n. 1, p. 80-92, mai, 2005.
DORATIOTO, Francisco. História e Ideologia: a produção brasileira sobre a Guerra do Paraguai. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colóquios, jan., 2009. Disponível em:< http://nuevomundo.revues.org/49012> Acesso em: 09 out. 2012.
DUARTE, Nestor. A ordem privada e a organização política nacional. Brasília: Ministério da Justiça, 1997.
FALCÃO, Annibal. Fórmula da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, sd.
FALCON, Francisco Jose Calazans. A época pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1982.
FAORO, Raymundo (org.). O Debate Político no Processo de Independência. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973.
275
FERES JÚNIOR, João. For a critical conceptual history of Brazil: Receiving Bergriffsgeschichte. Contributions, [S.I], v. 1, n. 2, 2005.
FIGUEIREDO, Luciano Raposo. Rebeliões no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
FLECK, Eliane Cristina Deckmann. Os Inconfidentes – Intérpretes do Brasil. In. AXT, Günter; SHULER, Fernando. Intérpretes do Brasil. Cultura e Identidade. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2004.
FLEXOR, Maria Helena. Oficiais Mecânicos na Cidade de Salvador. Salvador: PMS, 1974.
FLORES, Alberto Bivar. El Liberalismo Constitucional en la Fundación del Império Brasileño. Revista Eletrônica de História Constitucional. [S.I], n. 6, set, 2005. FLORES, Moacyr. A Revolução Farroupilha. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Uma leitura do Brasil Colonial. Bases da materialidade e da governabilidade no Império. Penélope Revista de História e Ciências Sociais. Lisboa, v.23, Oeiras: Celta Editora, p. 2000.
FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Atica, 1974.
FREGE, Friedrich Ludwig Gottlob. Escritos Coligidos e outros. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
FREYRE, Gilberto Freyre. Sobrados e Mucambos. Decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Record, 1996.
FRITZ, Gerard. L’idée de Peuple em France du XVIIe au XVIIIe siècle. Strasburg : Presses Universitaires de Strasburg, 1988.
FURTADO, João Pinto. Uma república entre dois mundos: Inconfidência Mineira, historiografia e temporalidade. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.21 n.42, 2001.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 2002.
GAUCHET, Marcel. La Condition Politique. Paris: Gallimard, 2005.
______. La révolution des pouvoirs : la souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-179. Paris: Gallimard, 1995.
GOUVEIA, Fernando Cruz. Joaquin Nabuco. Entre a Monarquia e a Republica. Recife: FUNDAJ/Editora Massangana, 1989.
GUILHAUMOU, Jacques. La Langue Politique et la Révolution Française. De l’Événément de la Raison Linguistique. Paris: Meridiens Klinksieck, 1989.
276
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Liberalismo Moderado: Postulados Ideológicos e Práticas Políticas no Período Regencial. In. PRADO, Maria Emilia (org.). O Liberalismo no Brasil Imperial. Origens, Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: Revan-UERJ, 2001.
HARTOG, François. Regimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003.
HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1992 (Coleção Clássicos).
______. Leviatã. Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico. São paulo : Abril Cultural (Coleção Os pensadores).
HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence (orgs). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 6ª ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1971.
HUMBOLDT, Wilhelm von. Considerations sur l’histoire mondiale, Considerations sur les causes motrices dans l’histoire mondiale; La tache de l’historien.Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires de Lille, 1985.
IBBETT, John. Gadamer, application and history of ideas. History of Political Thought. v.8, n. 3, 1987, p. 549.
IDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. 2.ed. São Paulo: UNESP, 1991.
IGGERS, Georg G. The “linguistic turn”: the end of history as a scholarly discipline . In. Historiography in the twenty century. From scietific objectivity to the postmodern challenge. Hanover, Westeyan University Press, 1997, p. 118-133.
______. Epilogue: the last fifteen years. In. The German conception of history. The national tradition of historical thought from Herder to the present. Hanower: Westeian University, 1983. p. 269-293.
JANCSÓ, István (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, 2003.
JANCSÓ, Istvan. Na Bahia Contra o Império. História do Ensaio de Sedição de 1798. Salvador: Edufba, 1966.
JANCSÓ, Istvan; PIMENTA, João Paulo Garrido. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira). In: Mota, Carlos Guilherme (org.) Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: SENAC, v.1, 2000.
JANCSÓ. István. Independência: História e Historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005.
JANSÓ, István (org). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Editora Hucitec, 2003.
277
JASMIM, Marcelo Gantus. História dos Conceitos e Teoria Política e Social. Referências Preliminares. Revista Brasileira de Ciências Sociais. [S.I], v. 20, n. 57. 2005.
JASMIN, Marcelo Gantus e FERES JUNIOR, João (orgs). História dos Conceitos. Debates e Perspectivas.Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006.
JASMIN, Marcelo Gantus. Política e Historiografia no Renascimento Italiano. O caso de Maquiavel. In. CAVALCANTE et al. Modernas Tradições. Percursos da Cultura Ocidental. Séculos XV-XVII. Rio de Janeiro: Acess, sd.
KANTOROVIVCZ, Ernst . Les Deux corps du roi: essai sur la théologie politique au Moyen âge. Paris: Gallimard, 1989.
KOSELLECK, Reinhart; GADAMER, Hans.George. Historia y hermenêutica. Barcelona: Paidos, 1997.
______.Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidos, 1999.
______. Uma História dos Conceitos. Problemas Teóricos e Práticos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p. 134-146.
LARA, Sílvia Hunold. Fragmentos Setecentistas. Escravidão, Cultura e Poder na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
LEITE, Renato Lopes. Republicanos e Libertários. Pensadores Radicais no Rio de Janeiro. 1822. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. LENHARO, Alcir. As tropas da Moderação. O Abastecimento da Corte na formação política do Brasil. 1808-1842. São Paulo: Símbolo, 1979.
LUSTOSA, Isabel. Insultos Impressos. A Guerra dos Jornalistas na Independência (1821-1823). São Paulo: Cia das Letras, 2000. LYNCH, Christian Edward Cyril. O Conceito de Liberalismo no Brasil (1750-1850). Araucária. Sevilla, p. 212-234; 2007.
LYNCH, Christian Edward Cyril. O momento monarquiano. O Poder Moderador e o pensamento político imperial. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 2008.
MADER, Maria Elisa Noronha de Sá. Civilização e Barbárie: a Representação da nação nos textos de Sarmiento e Visconde do Uruguai. Tese de Doutorado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2006.
Marcelo Octávio Néri Campos. Ezequiel Correa dos Santos. Um Jacobino na Corte Imperial. Rio de Janeiro: FGV, 2001
MARSON, Izabel Andrade. O Império da Revolução: Matrizes Interpretativas dos Conflitos da Sociedade Monárquica. In. ______. Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2007
278
MATTOS, Ilmar. Rohloff. O Tempo Saquarema. A Formação do Estado Imperial. Rio de Janeiro: Access, 1994.
MATTOSO, Kátia. Presença Francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798. Salvador: Itapuã, 1996.
MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro Veio – o imaginário da restauração pernambucana. 2a. ed., Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.
______. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates. Pernambuco 1666-1715. São Paulo: Editora 34, 2003.
MOMIGLIANO, Arnaldo. Problemes d’historiographie Anciènne et Moderne. Paris: Gallimard, 1983.
MONNIER, Raymonde. Autour des usages d’un nom indistinct: ‘peuple’ sous la Révolution Française. Révue Dix-Huitième Siècle. n.34, 2002.
MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O rei no espelho. A monarquia portuguesa e a colonização da América: 1640-1720. São Paulo: Hucitec, 2002.
MOREL, Marco. Sociabilidades entre Luzes e sombras: apontamentos para o estudo histórico das maçonarias da primeira metade do século XIX. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 28; 2001.
______. As transformações dos espaços públicos. Imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820- 1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
MOTA, Carlos Guilherme. Atitudes de inovação no Brasil. 1789-1801. Lisboa: Livros Horizonte, sd.
MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817 : estrutura e argumentos. São Paulo: [s.n], 1972.
NEVES, Maria Bastos Pereira das. Corcundas e Constitucionais: a Cultura Política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Revan/FAPERJ, 2003.
NOGUEIRA, Octaciano. (org). Obra Política de José Bonifácio. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1973.
NOVAES, Luiz Antônio. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808) 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1983.
ODALIA, Nilo. As formas do mesmo. Ensaios sobre o pensamento historiográfico de Varnhagen e Oliveira Vianna. São Paulo: Editora UNESP Fundação, 1997.
OLIVEIRA, Lucia Lippi de. A questão Nacional na Primeira Republica. São Paulo: Brasiliense, 1990.
PAIN, Antonio; BARRETO, Vicente. Evolução do Pensamento Político Brasileiro. São Paulo, EDUSP, 1989.
279
PALTI, Elias José. Temporalidade e refutabilidade dos conceitos políticos. In. FERES JUNIOR, João; JASMIN, Marcelo. História dos Conceitos. Diálogos Transatlânticos. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2007.
PEREIRA, Luisa Rauter. A História e “o diálogo que somos”: a historiografia de Reinhart Koselleck e a hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Rio de Janeiro: PUC-Rio; 2004.
POCOCK, J. G. A. The History of Political Thought. A methodologiccal enquiry. In. Lasllet, P. & Ruciman, W. G. Philosophy, Politics and Society. Oxford: Oxford Press, 1969.
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1992.
QUIRINO, Celia Galvão; MONTES, Maria Lucia. Constituições brasileiras e cidadania. São Paulo: Atica, 1987.
RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Identidade nacional e conflitos anti-lusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
RONZEAUD, Pierre. Peuple et Répresentations sous le Regne de Louis XIV. Les representations du Peuple das la Litterature politique en France sous le Regne de Louis XIV. Aix-e-Provence: Publications/Diffusion Université de Provence, 1988.
ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable: histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998.
ROUANET, Maria Helena.(org.) Nacionalidade em Questão. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre as origens e os Fundamentos da desigualdade entre os homens. In. Rousseau. São Paulo: Abril.(Col. Os Pensadores).
SALES, Ricardo. Joaquim Nabuco. Um pensador do Império. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002.
SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem. Esboço do Pensamento Político-Revolucionário no Grão-Pará. Belém: CEJUP, 1992.
SCHIAVINATTO. “Cultura Política do Primeiro Liberalismo Constitucional. A adesão das câmaras no processo de autonomização do Brasil”. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofia, Politica y Humanidades. n. 18, segundo semestre de 2007. p. 220-235.
SCHWARCZ, Lilia K. Moritz. Romantismo Tropical. A estetização da Política e da cidadania numa instituição imperial brasileira. Penélope Revista de Ciências Sociais. n. 23, p.109-127, 2000.
SCHWARTZ, Stuart. Gente da Terra Braziliense da Nasção Pensando o Brasil: a Construção de um Povo. In. MOTA, Carlos Guilherme (org.), Viagem Incompleta. A
280
Experiência Brasileira (1500-2000). Formação: Histórias. São Paulo: Editora Senac, 2000.
SCWARCS, Lília Moritz. O Espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.
SCWARTZ, Stuart B. Segredos Internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial. 1550-1835. São Paulo: Cia das Letras, 1988.
SERRAO, José Vicente. Sistema Político e Funcionamento Institucional do Pombalismo. In. MONTEIRO, Nuno Gonçalo et al (orgs.) Do Antigo Regime ao liberalismo (1750-1850). Lisboa: Ed. Veja, sd.
SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: Intelectuais Ilustrados e estadistas luso-brasileiros na Crise do Antigo Regime Português (1750-1822). São Paulo: Hucitec: FAPESP, 2006.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Formas de Representação política na época da independência. Brasília: Câmara dos Deputados, 1987.
SILVEIRA, Maria Beatriz Nizza da. Ser Nobre na Colônia. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory, v.8, n. 1, 1969.
SKYDMORE, Thomas. Preto no Branco. Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
SODRÉ, Nelson Werneck. Quem é povo no Brasil? Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1962.
SOUZA, Iara Lis Carvalho Souza. Pátria Coroada. O Brasil como corpo político autônomo (1780-1831). São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1999.
SOUZA, Octavio Tarquínio de. Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1937.
______. Evaristo da Veiga. Belo Horizionte: Itatiaia; São Paulo: Ed USP, 1988.
SOUZA, Paulo Cezar. A Sabinada. A Revolta Separatista na Bahia. Saão Paulo, Círculo do Livro, 1987.
SWARCZ, Roberto. As idéias fora do lugar. Novos Estudos, [s.n.], n. 3, 1989.
TOCQUVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Paris: Pagnerre Éditeur, 1848.
TORES, Alberto. A organização nacional. Brasília: Ed. UNB, 1982 p 68
VAINFAS, Ronaldo. Colonização, miscigenação e questão racial: notas sobre equívocos e tabus da historiografia brasileira. Revista Tempo, [s.n.] n. 8, p. 1-12, ago, 1999.
281
VENTURA, Roberto. Estilo tropical : historia cultural e polemicas literarias no Brasil 1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
VERDELHO, Telmo dos Santos. As Palavras e as Idéias na Revolução Liberal de 1820. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1981. p. 207.
VIANNA FILHO, Luiz. A Sabinada (A Republica Bahiana de 1837). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1938.
VIANNA, Oliveira. O Ocaso do Império. São Paulo: Melhoramentos, 1933.
______. Populações Meridionais do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1952.
VITA, Luis Washington. Alberto Sales. Ideólogo da República. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965.
WEHLING, Arno. Ilustração e Política estatal no Brasil, 1750-1808. Revista Humanidades, [s.n.][s.i.], 2001.
WEHLING, Arno. O conceito jurídico de povo no antigo regime: o caso luso-brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro a.164, n. 421. p. 39-50, out./dez., 2003.
WEIL, Françoise. La Notion de Peuple et ses synonimes de 1715 a 1755 dans les textes non litteraires. In. Images du Peuple au dixuitème Siècle. Colloque d’Aix en Provence. 25 e 26 Octobre. Paris: Librairie Armand Colin, 1973.
XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel. A Representação da Sociedade e do Poder. Paradigmas Políticos e Tradições Literárias. In. HESPANHA, Antonio Manuel (coord.). História de Portugal. v. 4. Lisboa: E. Estampa, 1993.