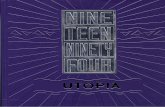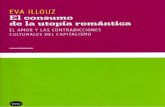Dismantling Utopia for the Reader: - John the Savage as a ...
Teatro a utopia..
Transcript of Teatro a utopia..
Carlos Fragateiro
Teatro a utopia da unidade do conhecimento
ou
Como o teatro pode ajudar a salvar a
escola
2003
3
“Num dos meus livros, Aquele que quer morrer, falava obsessivamente da palavra tudo. E acho que na Poesia, pelo menos na minha, também há uma angústia totalizante. É uma espécie de prática do tudo. Se calhar andamos todos inquietos em relação ao mesmo mistério, os físicos com os aceleradores de partículas e os poetas com os aceleradores da sensibilidade”.
Manuel António Pina 2001
Trabalhar no interior da contradição, uma frase que ouvimos ao
encenador/ animador Remy Hourcade numa entrevista que lhe fizemos em Évora
em 1979, é a frase-chave deste trabalho. Foi efectivamente no interior da
contradição que este trabalho se desenvolveu, num primeiro momento na
contradição entre a expressão dramática e o teatro, entre o espaço da formação
e da representação, e, nos momentos finais, entre a necessidade de apresentar
um trabalho onde fosse claramente perceptível uma efectiva distância do
investigador ao objecto analisado e a consciência de que o trabalho que
estávamos a desenvolver tinha um carácter predominantemente pessoal, onde o
afecto, a emoção e a intuição têm, na maior parte das vezes, uma importância
muito maior que a razão. Esta vivência permanente no interior da contradição fez
com que várias vezes ao longo deste trabalho tentasse cortar aquilo que no
discurso me aparecia duma forma mais afirmativa, mais directa, e até, por vezes,
panfletária, mas de cada vez que o tentei fazer confrontei-me com um texto
distante, sem alma, com algo de impessoal que não sentia como meu. Daí que,
para não me trair, nem trair tudo aquilo que, muitas vezes duma forma intuitiva,
fui descobrindo, tivesse optado por manter este estilo empenhado e pessoal, pois
também tomei consciência que na escrita não é possível estarmos a escrever e a
colocar toda a carga emotiva naquilo que escrevemos, e, ao mesmo tempo, a
criarmos distância e a esfriar o texto que vai tomando forma.
A razão porque a dimensão pessoal está tão presente explica-se pelo facto
de ter sido a partir dela que todo o processo de reflexão, desenvolvido ao longo
de anos, ganhou unidade, num período em que estive profundamente implicado
no terreno da acção, e, ao mesmo tempo, a tentar analisar e a reflectir sobre os
projectos e as práticas. Este estar fora e dentro, ser observador e observado,
levou a que em certos momentos me tivesse confrontado com tendências
contraditórias muito fortes, umas dizendo que devia optar por investir duma forma
mais efectiva no trabalho de investigação, enquanto outra me dizia que o
fundamental e estratégico para o desenvolvimento do projecto de integração das
4
artes e do teatro na estrutura escolar passava pela criação de condições para
que as práticas se reforçassem no terreno da acção. Foi a opção pela prática que
veio a ser privilegiada em momentos chave deste percurso, opção essa que
permitiu levar a cabo um conjunto de iniciativas e projectos que considero
relevantes, dos quais me parece importante destacar: a concepção e organização
do 1º Encontro Mundial de Teatro e Educação que teve lugar no Porto em 1992,
encontro onde se reuniram participantes de 45 países e que foi o momento
fundador da Associação Internacional de Teatro e Educação, culminando o
trabalho realizado em Portugal com os 4 Encontros Internacionais de Expressão
Dramática na Educação; a organização do 3º Encontro Mundial de Sociologia do
Teatro, em Lisboa, Acarte, em 1992; a concepção, em 1992 e 1993, dos
programas das Oficinas de Expressão Dramática II e III que permitiram balizar as
novas modalidades de intervenção da expressão dramática e do teatro no Ensino
Secundário; a concepção e coordenação, entre 1993 e 1995, do Certificado de
Estudos Especializados em Teatro e Educação da Escola Superior de Teatro e
Cinema de Lisboa, diploma de formação especializada que permitiu a saída dos
primeiros especialistas capazes de leccionarem áreas e disciplinas de teatro
como as que foram abertas com o lançamento das Oficinas de Expressão
Dramática; a participação na Comissão Inter-ministerial da Cultura e da
Educação, comissão que, entre 1996 e 1997, juntou especialistas das áreas da
educação e da cultura para produzirem o primeiro documento estratégico para a
estruturação de um plano global de integração do ensino das artes no sistema
educativo português; a abertura, numa unidade de produção artística com o
prestígio e a tradição do Teatro da Trindade, de um projecto directamente
vocacionado para o universo escolar que tem como centro das suas actividades
uma vertente de criação e formação teatral que se debruça sobre a problemática
da Arte e da Ciência, Projecto de Teatro Científico, onde, para além das
actividades de formação e reflexão, se têm produzido um conjunto de
espectáculos de forte conteúdo científico, nomeadamente ao nível da matemática
e da astronomia.
Tendo consciência de que não se pode estar a navegar no rio e, ao
mesmo tempo, a vermo-nos da margem, optei, duma forma mais ou menos
consciente, por trabalhar prioritariamente nas práticas e nos projectos do terreno
e por responder às questões que, a cada momento, essa prática colocava. E fi-lo
sabendo que estava a atrasar a conclusão do meu projecto de investigação,
projecto este que me poderia ajudar a intervir duma forma muito mais articulada e
reflectida no terreno da prática, mas que, ao mesmo tempo, me obrigaria, por
5
exemplo, a integrar nas recomendações finais, mais uma vez, a reafirmação da
necessidade da abertura de uma vertente de Formação de Professores em
Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, tal como tinha
acontecido repetidamente nas recomendações dos Encontros Internacionais de
Expressão Dramática na Educação e durante o Congresso Mundial de Teatro e
Educação. A verdade é que o facto de ter optado por intervir prioritariamente no
terreno da prática contribuiu para a transformação das recomendações em
realidades efectivas, tornando, entre outras medidas, o diploma de formação de
professores numa realidade, levando a que hoje, mais do que retomar e repetir as
recomendações, se exija uma análise rigorosa do que foi posto em prática e dos
seus resultados efectivos.
A contradição entre continuar uma intervenção mais efectiva na prática ou
o privilegiar da investigação foi a que se manteve durante mais tempo e foi a mais
forte e a mais intensa de todo este período, mas hoje estou consciente que o
facto de ter optado pela acção e de ter tido oportunidade de ser mais actor que
analista de todo este movimento me deu a oportunidade de vivenciar
experiências e projectos que, de outra forma, desconheceria. Permitiu-me ainda
construir todo um conjunto de materiais e de reflexões resultantes dessa imersão
de corpo inteiro na realidade social, materiais e reflexões que são o referencial
principal deste trabalho e que, estou consciente disso, têm hoje uma importância
estratégica para balizar o desenvolvimento de qualquer projecto de Arte e
Educação em Portugal.
Foi com este espírito de abertura e entrega que, durante todo este
processo, procurei optar por aquilo que me tocava e que a cada momento sentia
que tinha importância para mim, o que levou na prática a que, se não sentisse
qualquer relação afectiva ou emocional com um acontecimento, um livro ou uma
referência, se não os conseguisse integrar no meu discurso, os abandonasse,
pois essa falta de comunhão levava a que essas referências aparecessem no
interior do meu trabalho como uma prótese, como algo estranho, distante, que
não me dizia nada e que, ainda por cima, me incomodava. Esta dimensão
relacional foi de tal modo significativa que, no caso concreto das obras teóricas
de referência, a forma como as li e entendi esteve sempre em íntima articulação
com os percursos e os projectos que desenvolvia em cada momento, dado que
eram as preocupações e as necessidades resultantes desses projectos que
foram determinantes para criar uma ponte efectiva de comunicação e sintonia,
diria mesmo de comunhão, com as ideias de cada autor ou acontecimento. Havia
alturas em que não entendia partes de um livro que me soavam como algo
6
estranho, distante, partes essas que mais tarde me apareciam como fulcrais, em
perfeita sintonia com o que necessitava naquele momento, tornando as leituras
também parte integrante de um processo progressivo e de sucessivas
revelações. Hoje posso dizer que tudo o que está neste trabalho me diz alguma
coisa, me pertence, ainda que por vezes a sua autoria seja de outros, porque de
alguma forma me ajudou e contribuiu para que eu hoje seja o que sou, para que
faça as coisas como faço.
Enquanto observador e analista de um processo de que também fui actor,
tenho consciência de que é extremamente difícil que esta participação não tenha
determinado e/ou condicione as leituras que me propus fazer e as análises
consequentes. Efectivamente, analisei, enquanto um dos intervenientes do
processo, acontecimentos muito próximos, o que implica que há que assumir que
a análise do percurso tem uma perspectiva e um olhar pessoal e que essa leitura
ou as opções dos acontecimentos e das referências escolhidas e analisadas só o
são porque na minha perspectiva pessoal implicaram ou provocaram uma
evolução na forma como eu, actor e observador, fui vendo as coisas, como o meu
conhecimento ou o meu questionamento se foi construindo.
7
Teatro e Escola
Um projecto de dupla entrada
As relações entre o teatro e a escola caracterizaram-se, durante muito
tempo, mais do que por uma articulação efectiva entre os mundos do teatro e da
educação, pela predominância de um dos domínios, seja o do teatro ou o da
educação, dependendo essa relação de forças da proveniência do parceiro que,
em cada momento e em cada região, era o mais forte e/ou o mais dinâmico.
Raramente nos confrontámos com uma parceria efectiva onde cada projecto de
intervenção se propusesse, tanto ao nível dos pressupostos como dos objectivos
a atingir, servir de igual modo os dois parceiros. Na verdade, no interior da
educação falava-se e ainda se fala da relação do teatro com a escola na
perspectiva da abertura de espaços de jogo ou da introdução de novas
metodologias para ajudar as diferentes aprendizagens, enquanto que, do lado do
teatro, só se ultrapassa a desconfiança existente face a esta perspectiva quando,
também utilitariamente, se assume esta parceria com o objectivo da formação de
espectadores, da criação de um novo público e da organização de um circuito
alternativo de circulação de espectáculos. Maioritariamente, os sentidos da
articulação entre o teatro e a escola situam-se ainda hoje no interior desta
perspectiva interesseira, corporativa e fechada.
Reduziu-se deste modo, e durante muito tempo, a possibilidade de abertura
de espaços comuns de intervenção capazes de romper com uma realidade
redutora, onde é dominante uma perspectiva que, adaptando as categorias que
Scarpeta (1992) utiliza para o mundo da arte, caracterizaríamos assim: dotada de
uma tendência guerreira, pura e dura, que pensa a arte em termos de função
crítica e subversiva e que defende que o mundo do teatro não deverá ter
nenhuma ligação com a estrutura escolar; vocacionada para uma estética de
resignação ou de acordo com o modelo social dominante, fazendo a defesa da
integração plena das práticas teatrais no interior das estruturas escolares
existentes.
Mas será impossível criar efectivos espaços de circulação entre estes dois
mundos? Será que não existem alternativas entre uma atitude vanguardista que
recusa a integração do teatro, enquanto realidade pura numa escola impura, e
uma atitude de submissão total do teatro à estrutura escolar?
Encontrar as alternativas possíveis exige da nossa parte uma capacidade
de olhar tanto para o teatro como para a educação de uma outra óptica, com
8
outra lógica e outro método de conhecimento e análise, o que nos permitirá
detectar os sinais que emergem do interior de ambos os mundos e as mudanças
profundas que eles anunciam ou enunciam. Sinais como o do forte movimento
conflitual que se vive no interior da estrutura escolar onde, por um lado, se
reconhece o papel que a escola jogou e joga na origem das delimitações
disciplinares, e, por outro, se procura utilizar essa escola, de acordo com Olga
Pombo 1993, como meio de promover o desenvolvimento de atitudes, hábitos e
formas de trabalho multidisciplinares, tornando-a capaz de responder aos
desafios da nossa contemporaneidade e do futuro, desafios esses que se deixam
antever nas profundas transformações disciplinares em curso, nomeadamente no
que respeita à organização curricular, às metodologias de trabalho escolar e às
questões organizativas.
Movimento conflitual que nos aparece com uma maior clareza quando
tomamos consciência de como a educação se confronta hoje, de acordo com
António Nóvoa 1992, com a urgência de uma mudança radical na forma de
organizar os espaços e os tempos escolares, rompendo definitivamente com uma
lógica curricular disciplinar.
É a constatação da necessidade desta mudança radical que nos permite
afirmar a existência de grandes pontos de contacto entre as linhas de força que
deverá ter a intervenção das práticas teatrais na escola e as urgências que estão
no seio das transformações (Nóvoa op.cit.) que, de uma forma explícita ou
latente, atravessam hoje os sistemas educativos: a necessidade de dar maior
protagonismo aos actores educativos e de uma maior criatividade nas práticas de
ensino; a urgência de uma mudança radical na forma de organizar os espaços e
os tempos escolares, rompendo definitivamente com uma lógica curricular
disciplinar; a importância de uma articulação com as comunidades, assumindo
que a acção educativa só tem sentido em comunidades onde a cultura e as
aprendizagens sejam valorizadas.
O teatro pode ser efectivamente um aliado preferencial deste sentido de
mudança, principalmente quando sabemos que, pela sua própria natureza, é um
espaço e um tempo:
- onde a pessoa, todas as pessoas, têm espaço para descobrir e
desenvolver todas as suas capacidades de expressão e de invenção, trazendo as
suas histórias, reais ou imaginárias, para o espaço de jogo que é a cena (cf.
pensamento de Augusto Boal);
- de convergência de saberes, temáticas e capacidades que rompem com
as fronteiras e lançam pontes entre os professores, entre as várias disciplinas e
9
áreas do saber, entre o curricular e o extra-curricular e entre a escola e o meio, o
que é um factor de quebra do isolamento dos professores e pode levar à
abertura, no interior das estruturas escolares, de projectos capazes de responder
às urgências de programas, como, por exemplo, os da área de projecto que neste
momento são extremamente difíceis de concretizar (cf. pensamento de Gisèle
Barret);
- onde o trabalho de criação e produção de espectáculos implica a
existência de um espaço ou espaços com múltiplas valências, actualmente
inexistentes nas escolas não têm, mas a que uma nova arquitectura escolar vai
ter que dar resposta, e é incentivador de uma prática experimental ou laboratorial
que não se compadece com a actual organização curricular, levando a que a
escola não seja unicamente reprodutora dos saberes dominantes, mas se
assuma também como local de descoberta e invenção (cf. pensamento de Peter
Brook);
O teatro ganha também com a vinda para a escola
Se até agora falámos prioritariamente de como a vinda do teatro para a
escola é importante para esta, também o teatro ganha outras valias que se
traduzem no reforço da dimensão experimental das suas práticas, na criação de
espaços de liberdade, no privilegiar do processo e não do produto final, na
fruição do tempo disponível para a criação e a experimentação e num certo
sentido de gratuitidade que impede uma apropriação pedagógica e utilitária
destas práticas.
A ideia de que as práticas teatrais podem ter um espaço privilegiado de
experimentação quando integradas no domínio da formação é referida por todo
um conjunto de criadores que hoje sentem uma atracção pela escola, e a ela
retornam frequentemente pois aí encontram uma liberdade para experimentar
que não é possível ter no espaço das criações profissionais:
“Si l´école est (comme le théâtre, d´ailleurs), d´une part, un compromis avec ce qui existe, elle est, d´autre part, le lieu où les utopies se concrétisent, où les tensions qui sous-tendent l´acte théâtrale prennent forme et sont mises à l´épreuve à travers des situations. A une époque qui vit le théâtre possible dans le futur, le changement s´est trouvé institutionnalisé et en particulier les mutations intervenues dans les micro-sociétés de théâtre. On fonde toujours une école pour rénover le théâtre, pour donner consistance au théâtre du futur et pour ouvrir des perspectives à l´avenir du théâtre”(Cruciani 1988, p.104).
10
Robert Wilson (1992) reforça esta ideia quando fala das experiências no
interior de processos de formação e afirma o como essas experiências foram
extremamente pertinentes no seu percurso de criador:
“L´époque où j´ai travaillé à l´université de New York et dans une école de Hambourg, quand j´ai fait le Hamlet-Machine de Muller, a été pour moi une époque passionnante. Ça a été trés gratifiant de travailler avec ces étudiantes et de monter ce spectacle. Les gosses étaient plus ouverts, moins fermés à ma façon de faire, et je me suis senti plus libre”(p.54).
É na escola que à criação teatral se abrem “des espaces de liberté, de
gratuité et de plaisir incomparables » (Adrien 1988, p.42), pois “la classe offre à
l´homme de théâtre un espace supérieur de liberté, trés liè à l´innocence, à
l´ingénuité des partenaires qui n´est seulement un état d´ignorance mais aussi un
état générateur de solutions” (Penciulescu 1988, p.82). É também na escola que
a criação teatral encontra um espaço de excelência onde pode privilegiar o
processo, pois na escola não se vive “avec l´obsession du produit fini, complet. À
l´école on étudie par morceaux, la synthèse s´effectue plus tard” (op.cit., p.81). Na
escola há, efectivamente, tempo para procurar e descobrir soluções, pois a
pedagogia “offre davantage de temps, elle oblige à chercher des instruments qui
font que la solution n´est pas programmée mais découverte” (op.cit., p.82).
Finalmente uma outra vertente, quanto a nós extremamente importante, diz
respeito ao sentido de gratuitidade que caracteriza aquilo que se ensina:
“L´enseignement, pour qu´il s´accomplisse, doit revêtir l´apparence de l´inutile. Sans cela, il échoue en addition de réponses concrètes livrées à des élèves qui craignent le chômage. Il éduque mais ne forme pas. Il rassure, mais il n´ouvre pas. L´enseignement du théâtre est préparation dans la mesure où il échappe aux contraintes que l´avenir ne saura que trop imposer” (Banu 1988,p.98).
Esta ideia de gratuitidade é crucial para a prática teatral nas escolas, pois o que
tem dado força ao privilegiar do produto em vez do processo tem sido a ideia do
aproveitamento utilitário do teatro para resolver múltiplos problemas pedagógicos.
11
Este retorno ao teatro implica o fim da dualidade entre as dimensões
da formação e da criação
Este movimento de retorno às origens mostra que a ida do teatro para o
interior das escolas pode provocar a criação de espaços de liberdade e de
descoberta, o privilegiar do processo em detrimento do produto, a aparência de
gratuitidade que torna qualquer actividade num tempo onde temos todo o tempo
do mundo para fruir o prazer estético da liberdade, da descoberta e da
criação.
Viveu-se demasiado tempo com a ideia de que a expressão
dramática/drama e o teatro eram antagónicas; a expressão dramática/drama
seria o processo, a liberdade, enquanto o teatro seria o espaço da imposição,
onde se privilegiaria o produto e tudo estava dependente do autoritarismo do
encenador. Uma dualidade que perde o sentido e o fundamento em termos do
próprio mundo do teatro a partir do momento em que, na perspectiva da
formação, se analisam os movimentos teatrais deste século e nos apercebemos
que são as abordagens específicas no domínio da formação que lhes dão um
sentido inovador, como está bem explícito nos escritos e na prática de autores
como Appia, Craig, Stanislavski, Vakhtangov, Meyerhold, Copeau, Grotowski,
Barba, Brook e Boal, etc. Uma preocupação que, tendo como principal objectivo a
procura de um teatro diferente, encontrava na pedagogia o lugar necessário para
a sua actividade porque esta permitia
“la recherche d´une formation de l´homme nouveau dans un théâtre (société) différent et rénové, la recherche d´un acte théâtral toujours original dont les valeurs ne se mesurent pas en termes de spectacles réalisés, mais de tensions mises en oeuvre et de cultures élaborées à travers le théâtre”(Cruziani 1988, p.104).
Béatrice Pivon-Vallin (1988), num estudo dedicado aos encenadores/
pedagogos Stanislavski e Meyerhold, refere que a pedagogia para a cena é uma
pedagogia para a vida e que ambas se encontram intimamente ligadas no
trabalho dos autores analisados:
“Refuge, le Studio, comme l´Atelier, implique aussi l´absence de compromis, la lutte, le progrès vers la maîtrise intérieure ou physique. L´enseignement théâtral se double d´une formation morale et civique, il est éducation de l´homme complet. L´acteur doit être un homme idéal, note Stanislavski dès 1889” (p.p. 109-110).
12
A tomada de consciência de que é possível ultrapassar as dualidades
redutoras dominantes nas relações entre os mundos da arte e da educação e de
que há todo um conjunto de interesses comuns que dão às zonas de interferência
uma importância muito maior que à defesa dos seus mundos específicos, abre-
nos todo um conjunto de novos espaços de trabalho. Novos espaços e novas
propostas que terão que ser perspectivados não em referência às realidades e
aos modelos actualmente dominantes, mas no interior das dinâmicas de
desenvolvimento e dos movimentos de mudança que atravessam tanto a arte
como a educação.
O que implica a procura de um novo quadro de referências
"L´être devient humain quand il invente le théâtre" Augusto Boal 1990
Hoje, quando abordamos a relação entre o teatro e a escola, confrontamo-
nos geralmente com dois tipos de atitude: a daqueles que pensam o teatro como
mais uma disciplina que deve lutar pela institucionalização, por um espaço no
interior da estrutura escolar; a de outros que sentem que a institucionalização a
todo o custo tem alguns perigos, como o do teatro seguir o mesmo caminho que
seguiram a expressão visual e a música, hoje disciplinas como as outras, sem
nada que as caracterize como práticas artísticas.
Interessa-nos reflectir sobre esta segunda atitude porque para nós só tem
sentido que as práticas artísticas intervenham no interior da estrutura escolar se
se assumirem enquanto espaço e tempo de experimentação e descoberta, onde
o homem como artista se descobre, descobre as suas potencialidades, interage
com os outros e, tendo o real como referência, inventa/ficciona possíveis
soluções/ desenvolvimentos para os problemas e situações com que esse real
nos confronta. Há assim que, mais do que nunca, procurar hoje perceber o
sentido mais profundo do teatro na escola, se é que a ligação entre o teatro e a
escola tem sentido, o que passa pela clarificação do que é que de novo pode o
teatro trazer à escola e em que medida as práticas teatrais se poderão afirmar
como pivots que provoquem a emergência de um movimento que suporte a
mudança dessa mesma escola.
O que é interessante verificar, numa primeira aproximação, é que há uma
semelhança muito grande entre os obstáculos que dificultam a integração plena
13
do teatro na escola e as urgências que estão hoje no coração das transformações
que, de uma forma explícita ou latente, atravessam os sistemas educativos: a
necessidade de romper as fronteiras e criar pontes entre as várias disciplinas e
áreas do saber, entre o curricular e o extra-curricular e entre a escola e o meio; a
urgência de uma outra arquitectura escolar que permita e incentive o romper
dessas fronteiras; a abertura de espaços e tempos de experimentação e
investigação para que a escola não seja unicamente reprodutora dos saberes
dominantes, mas também um local de descoberta e invenção.
É com este tipo de questões, que começam a ser parte integrante da
reflexão actual em educação, que o teatro se confronta quando coloca a
possibilidade da sua integração plena no sistema escolar: o teatro é um espaço
de convergência de saberes, temáticas e capacidades que rompem com a
compartimentação disciplinar que suporta a actual organização escolar; o
trabalho de criação e produção de espectáculos implica a existência de um
espaço ou espaços com múltiplas valências que actualmente as escolas não têm
nem parecem capazes de acolher; a prática experimental ou laboratorial,
componente dominante da criação teatral, não se compadece com a actual
organização dos tempos lectivos.
Esta sintonia de questões e desafios que actualmente existe entre o teatro
e a educação coloca as práticas teatrais sob o desafio de serem capazes de
intervir num sistema onde as práticas artísticas têm pouco espaço de manobra e,
simultaneamente, de criar com essa intervenção condições para a emergência de
práticas que poderão vir a ser o suporte da construção de um outro modo de
pensar a escola.
15
2 - Quadro Conceptual da Intervenção do Teatro no
Interior da Educação
“Nous devons absolument libérer les initiatives et les capacités d´innovation au lieu de les freiner pour mieux répartir la pénurie.”
Michel Crozier 1995
As sociedades contemporâneas confrontam-se, cada vez mais, com a
problemática da qualidade de vida em todos os níveis da sua intervenção.
Assistimos actualmente à emergência duma nova forma de entender a prática
social, os espaços que habitamos, o modo de vida que assumimos e as relações
que criamos connosco e com os outros. O que está em causa é a ideia de um
novo modo de vida, de um novo estilo de vida, onde cada vez é mais necessário
que o homem se reencontre consigo próprio e com os outros e que volte a ter
uma relação de prazer com o espaço que habita e o mundo físico que o rodeia.
Habitamos hoje uma época que está a passar por um acelerado e profundo
processo de transformação, um processo que nos confronta, em directo e ao
vivo, com situações cada vez mais complexas, com um verdadeiro choque do
futuro como refere Rosnay (1991). Assistimos à emergência de uma realidade
cujos pressupostos vão implicar uma profunda mudança ao nível do interior de
cada um, da sua estrutura mental e do seu quadro de referências, que nos torne
capazes de sermos intervenientes activos e criativos no interior de um modelo de
desenvolvimento que respeitará as diferentes componentes sociais e que será
baseado não somente na dimensão económica, mas também e
fundamentalmente nas dimensões cognitiva, emocional, cultural, social e política.
Uma realidade emergente consciente de que o mais decisivo não é um
relançamento da economia à escala do Estado, mas sim uma nova forma de
viver, o que vai necessariamente obrigar, como refere Ander-Egg (1989), a uma
mudança do paradigma que suporta a concepção actual de desenvolvimento e a
romper com “la lógica del hombre fáustico que domina el pensamiento
contemporáneo impregnado en los códigos culturales de la racionalidade
europeia, o si se quiere nordatlántica” (op.cit.,p.120), uma lógica que nos mantém
16
prisioneiros e alienados na santa trindade do homem contemporâneo: dinheiro,
consumo e estatuto.
Vivemos hoje uma das épocas charneira, em que toda a ordem anterior das
representações e do saber oscila para dar lugar a imaginários, a modos de
conhecimento e a estilos de regulação social mal estabilizados, onde, a partir de
uma nova configuração técnica, ou seja, de uma nova relação com o cosmos,
como afirma Lévy (1990), se inventa um estilo de humanidade. Vivemos um
tempo de espaços cruzados, de espaços híbridos, um tempo da mestiçagem,
onde a integração dos projectos e das práticas artísticas no mundo da educação
implica a compreensão da importância que hoje têm estes espaços de
confluência e de interferência, "zonas de desafio", onde a invenção tem um lugar
privilegiado. A maior fertilidade criadora situa-se precisamente nas zonas de
intersecção ou de desafio, onde uma arte desafia a outra e a força a reinventar-
se, conforme refere Scarpetta (1992).
Este quadro obriga a que se assuma hoje uma outra perspectiva de
desenvolvimento, perspectiva esta que, no caso de Portugal, foi definida por
Petrella (1989) como a construção de um outro futuro, um cenário que não seria
prisioneiro de uma lógica económica e que se baseava no facto de Portugal estar
a pretender ser uma sociedade aberta, no seu interior e para o seu exterior, e que
essa abertura deveria ser sobretudo de natureza social, cultural e política, antes e
para além de ser uma abertura económica. A caminhada na direcção do outro
futuro tem implicações significativas ao nível da mudança de atitude de cada
indivíduo e da colectividade, na mudança de mentalidades. Um processo que
necessita de tempo e de todo um conjunto de abordagens e de projectos de
intervenção capazes de provocar, acompanhar e solidificar essa mudança, e que
obriga a que sejamos capazes de inventar uma forma de viver onde o respeito
pelo individual e pelo colectivo seja uma realidade, nas suas dimensões pública e
privada, onde se incentive a participação de cada um em todos os domínios da
sua própria vida, e onde a imaginação e a criatividade sejam consideradas como
capacidades fundamentais para o desenvolvimento integral do ser humano e para
a criação de uma outra sociedade.
Para a construção de um outro futuro, o autor fala, entre outras, de duas
medidas que nos parecem de extrema importância e que passam, por um lado,
pelo investimento no capital de beleza e, por outro, pelo reforço do papel da
escola. Ao nível do investimento no que chama o capital de beleza de Portugal,
Petrella aconselha que ele se faça nos espaços de vida das pessoas, como são
as cidades e as aldeias, as ruas, as igrejas, as praças, a natureza e os museus,
17
mas também no design industrial e doméstico. O investimento da indústria da
beleza não deve ser qualquer coisa luxuosa reservada às sociedades ricas (como
o mostra a história, o desenvolvimento partiu muitas vezes da inovação na e pela
beleza). “E esse capital de beleza só os agentes do lugar podem e sabem
explorá-lo. Quando os raiders dos outros sítios chegam, já é tarde de
mais"(op.cit., p.69).
Em relação à escola é reafirmado o papel e a importância que ela pode e
deve assumir em toda esta estratégia, referindo-se que a ideia força de todos
para a escola deveria ser o mote do país, uma ideia que o autor reforça com a
afirmação de que a abertura de escolas em todos os domínios, (como a
familiarização com as novas tecnologias, a aprendizagem da restauração de
quadros ou de igrejas, os serviços às empresas, a protecção civil e o socorrismo,
cursos de higiene colectiva, de gestão do meio ambiente ou de línguas), deveria
vir a ter tanta importância social como a abertura de uma fábrica ou de um
supermercado. Este regresso à escola teria de comportar um trabalho importante
de reorganização e de inovação ao nível dos instrumentos, dos materiais de
informação e de documentação, da imprensa escrita e audiovisual, das
telecomunicações.
Neste projecto de transformação, que implica não somente a dimensão
exterior da vida, mas também o seu nível mais íntimo e pessoal, a cultura e a arte
assumem um papel fundamental na medida em que trabalham sobre os domínios
do individual e da subjectividade, provocando, em permanência, a abertura de
espaços de experimentação de novas formas e de novos modos de ver, de
habitar e de transformar o mundo. E quando falamos de arte já não falamos
unicamente da formação estética e do gosto, mas também do incentivar de
processos de descoberta individuais e de grupo onde o sentido do belo não
esteja somente dirigido para o consumo de obras de arte, mas seja motor dum
processo de tomada de consciência que leve cada um e o grupo a reivindicar o
belo em toda a dimensão da vida social.
Sendo a cultura e a arte instrumentos privilegiados para a construção do
"outro futuro", sê-lo-ão duplamente quando integradas no Sistema Educativo, pois
é na escola que se começará a formar toda uma nova geração capaz de assumir
a vida e o futuro duma forma diferente, que se começarão a desenvolver
projectos e programas de formação permanente capazes de responder à
necessidade de actualizar e de reciclar as pessoas que actualmente estão na
vida activa e que querem também estar em contacto permanente com a inovação
e as novas tecnologias. É importante não esquecer que, como afirma Nóvoa
18
(1992), grande parte do potencial cultural (e mesmo técnico e científico) das
sociedades contemporâneas está hoje concentrado nas escolas.
Em Portugal há já muito tempo que se tenta introduzir uma dimensão
cultural e artística no Sistema Educativo que esteja presente não só nas escolas
especializadas, mas também em todas as dimensões da vida escolar. Neste
sentido têm sido experimentados nas escolas portuguesas vários projectos de
intervenção cultural e artística, mas dos quais não tem sido possível retirar nem
conclusões claras, nem resultados significativos, dado o seu carácter sectorial e
isolado. Hoje estamos conscientes de que a estruturação de um projecto para o
Ensino Artístico, se o nosso objectivo for recolocar as práticas artísticas na sua
dimensão de descoberta do novo, como o vimos prenunciando, e não na defesa e
manutenção de um espaço burocrático que se limite a reproduzir na escola todo
um conjunto de práticas artísticas socialmente dominantes, nos obriga a definir
um quadro teórico de referência que permita potenciar esta perspectiva de
transformação, quadro teórico onde se assuma a importância fundamental da
dimensão experimental para o trabalho das artes. Dimensão experimental que é,
para nós, a única forma de dimensionar a intervenção das artes enquanto
espaços e tempos de descoberta e criação do novo e de, nessa ordem de ideias,
tornar essa intervenção imprescindível para a formação das pessoas do século
XXI, homens e mulheres que vão ter que ter a capacidade de intervir activa e
criativamente num mundo em mutação constante.
Nesta perspectiva definimos três dimensões que julgamos deverem
enquadrar um projecto de intervenção artística no interior dos projectos de
formação.
Em primeiro lugar a dimensão da pessoa, uma pessoa capaz de produzir
e de incentivar a produção de pensamento, de compreender a complexidade da
realidade actual e com uma forte capacidade de invenção e sentido do belo.
Efectivamente, esta ideia de mudança deve ter a pessoa como seu actor principal
e sua finalidade central no interior de uma sociedade que deve construir-se e
desenvolver-se tendo por meta a felicidade dos indivíduos, uma ideia que muitas
vezes não esteve no centro das preocupações da sociedade pois “l´essor de
l´économie marchande et du capitalisme ont largement occulté cet humanisme”
(Dupuis 1995, p.37).
Em segundo lugar a dimensão da escola como estrutura privilegiada e
estratégica onde estas capacidades da pessoa se possam descobrir e afirmar
integralmente, possam produzir pensamento. Uma escola capaz de incentivar no
seu interior a emergência de projectos que sejam os espaços de ponte entre as
19
várias áreas artísticas, entre estas e as outras áreas do conhecimento e entre a
escola e o meio, assumindo-se na prática como um efectivo laboratório de
invenção e produção do novo. Isto implica tanto com a organização do tempo
como do espaço onde essa experimentação vai ser desenvolvida, obrigando
necessariamente a que se reflicta sobre o que é hoje a organização espacial das
escolas, a arquitectura escolar, e de como esta organização condiciona ou
incentiva o relacionamento entre os vários saberes e as práticas.
Em terceiro lugar há que ter a capacidade de introduzir uma forte dimensão
cultural no interior dos projectos de desenvolvimento de modo a obrigá-los a
centrar a sua actividade na procura de novos sistemas de valor e a afirmarem-se
como instrumentos de libertação e de afirmação da pessoa. Uma dimensão
cultural que não se pode limitar ao universo das obras de arte e das
humanidades, à acumulação de obras e conhecimentos que uma elite produz,
recolhe e conserva para os tornar acessíveis a todos, devendo ser também, e
antes de mais, aquisição de conhecimentos, exigência de um modo de vida,
necessidade de comunicação, pois hoje cada vez mais se entende a cultura
como algo que é inseparável da vida quotidiana.
Finalmente a organização de um quadro de referência sobre estas três
dimensões será completada pela apresentação de um referencial onde se
percepcione como é que o processo de criação teatral é uma das práticas
de excelência que cria condições para a emergência de respostas a este
conjunto de desafios e necessidades. O teatro, enquanto prática artística e
cultural, na medida em que trabalha sobre os domínios do pessoal e da
subjectividade e em que o seu próprio conteúdo é a vida, tem, pela sua própria
natureza, capacidade de provocar a abertura de espaços onde se experimentem
projectos que desafiem e cruzem diferentes áreas do saber e se desenvolvam
outras capacidades e outros modos de pensar, ver, habitar e, naturalmente,
transformar o mundo. Isto implica que se assuma, no interior da educação, não
como mais uma disciplina, mas como um espaço de interface, de cruzamento,
onde se abrem pontes de comunicação com os diferentes saberes e se desafiam
esses saberes a encontrarem-se no próprio processo de criação teatral de forma
a produzir, em conjunto, uma obra que tenha cada um dos participantes, as suas
angústias, desejos e necessidades, como centro do trabalho a realizar.
20
A pessoa no centro dos projectos
"Une vérité théâtrale est une vérité plurielle, faite de tous les éléments qui sont présents à un moment donné si une certaine combustion se produit."
Peter Brook 1992
Responder eficaz e criativamente a este tempo e a esta urgência de
mudança implica que cada pessoa tenha capacidade de ser actor de corpo inteiro
num processo que, para ter o homem como actor principal e como finalidade
primeira, implica que cada um tenha capacidade de produzir pensamento, ou,
como refere Morin (1993), a possibilidade e o direito de pensar. Este pensamento
ocorre no quadro de uma estrutura complexa que, tal como acontecia na
renascença, possibilita ao sujeito poder ser ao mesmo tempo letrado, humanista,
técnico e explorador de um novo modo de organização do saber e do intercâmbio
intelectual.
O problema da mudança é, como afirma Crozier (1995), primeiro que tudo,
um problema de raciocínio e a única falha evidente que é revelada por cada novo
problema da sociedade é a da fraqueza do raciocínio, sendo pois por aí que é
necessário lançar as reformas. Uma mudança desta dimensão não se possa
efectuar estritamente a nível do indivíduo, tendo sim que atravessar toda a
estrutura social, pois, como refere ainda o mesmo autor, muitas vezes é o
bloqueamento da inteligência das elites que bloqueia a sociedade, “et, dans ce
système, c´est l´intelligence qui est bloquée. C´est dans la mutation de
l´intelligence qu´il faut donc investir.” (op. cit., p.12). Há efectivamente uma
urgência e uma necessidade de descobrir novos instrumentos de observação e
análise, novos métodos de pensamento e novos itinerários, de forma a situar a
acção individual no coração de um processo de mudança de que somos ou
deveríamos ser actores principais.
Está aqui envolvido um conceito de pessoa que é motor e fim último do
desenvolvimento, uma pessoa que tem de estar preparada para responder aos
desafios de uma sociedade que já entrou na revolução da informação e da
comunicação, nomeadamente aos desafios das novas linguagens da
comunicação e da complexidade. Revolução que está a provocar um
“accroissement de la complexité de la société et des organisations, systèmes et
réseaux dont nous avons la charge” ( Rosnay 1995, p.27) e a desafiar os nossos
métodos tradicionais de análise e de acção, levando-nos a tomar consciência de
que o maior obstáculo a qualquer mudança é provocado pela organização
21
disciplinar do conhecimento científico e pelo encerramento da filosofia em si
própria.
Há pois que encontrar um método de análise que seja capaz de viver no
interior de uma contradição, ou complementaridade, dado que nenhum dos
métodos de análise, analítico ou sistémico, é capaz de responder à necessidade
e à urgência de fazer entender a realidade na sua globalidade e complexidade.
Isto, por um lado, porque se perdem no processo a qualidade das propriedades
emergentes se se decompõe, pela análise, a complexidade em elementos
simples, e, por outro, se se recompõe, pela síntese, o todo a partir das suas
partes não dispomos de provas experimentais com que confrontar as hipóteses.
É assim que uma das questões centrais que hoje se coloca tem a ver com a
criação de condições para desenvolver em cada pessoa a capacidade de pensar
o mundo ao mesmo tempo duma forma analítica e sistémica. Duma forma
analítica porque capaz de compreender um facto isolado em toda a sua
profundidade, e duma forma sistémica porque capaz de ligar esse facto com
outros factos e de o integrar em diferentes sistemas, compreendendo e podendo
assim descrever e agir com maior eficácia sobre a complexidade.
O método analítico corresponde, de acordo com Rosnay (1995), a um
arranha-céus que simboliza a pesquisa enciclopédica e que é construído, como
numa gigantesca biblioteca, para abrigar todo o conhecimento do mundo
organizado por disciplinas, onde a cada conhecimento novo corresponde uma
sala e a cada novo domínio um andar, com toda a dificuldade que há para nos
orientarmos e saber onde encontrar as informações pertinentes e em que andar
ou sala começar. O método sistémico, simbolizado por uma esfera, não tem no
seu interior nenhum compartimento, secção ou nível, pois todos os
conhecimentos vindos do exterior são permanentemente misturados (ideia de
trama) e colocados em perspectiva uns em relação aos outros. O conteúdo da
esfera enriquece-se assim globalmente, a parte contém o todo e o todo a parte,
tornando-se cada um significante para o outro. Tal como para o arranha-céus
enciclopédico, a expansão do volume dos conhecimentos é ilimitada, realizando-
se duma forma coerente e não por simples justaposição de saberes.
Na realidade, há uma profunda cegueira sobre a natureza do que deve ser
um conhecimento pertinente. Ora um mínimo de conhecimento do que é o
conhecimento, como refere Claude Bastian (1992, cit. Morin 1993, p.131), ensina-
nos que o mais importante é a contextualização e que a evolução cognitiva não
caminha para a instalação de conhecimentos cada vez mais abstractos, mas, ao
contrário, para a sua contextualização, pois é esta que determina as condições
22
da sua inserção e os limites da sua validade. Para Morin (op.cit.) o conhecimento
especializado é ele próprio uma forma particular de abstracção, pois extrai um
objecto dum campo determinado, rejeita as ligações e as intercomunicações com
o seu meio, inserindo-o num sector conceptual abstracto que é o da disciplina
compartimentada cujas fronteiras rompem arbitrariamente a sistematicidade (a
relação duma parte com o todo) e a multidimensionalidade dos fenómenos. Um
processo que conduz, por exemplo, à abstracção matemática, uma abstracção
que opera por si mesma uma cisão com o concreto, privilegiando, por um lado,
tudo o que é calculável e formalizável, e ignorando, por outro, o contexto
necessário à inteligibilidade dos seus objectos. É assim que Morin (op.cit.) dá
como exemplo a economia, a qual, sendo a ciência social matematicamente mais
avançada, é também a ciência social humanamente mais atrasada porque se
abstrai das condições sociais, históricas, políticas, psicológicas e ecológicas que
são inseparáveis das actividades económicas. Essa a razão que faz com que os
especialistas económicos sejam cada vez mais incapazes de interpretar as
causas e as consequências das perturbações monetárias e bolsistas e de prever
e de predizer, mesmo a curto prazo, o curso económico.
O Papel da Inteligência
Estamos confrontados com a necessidade de uma reforma que deverá
passar necessariamente pela construção de novos instrumentos de análise, pela
emergência de um novo quadro de referência que possibilite a modificação
radical do processo de aprendizagem e da aquisição de conhecimentos e crie
condições para um trabalho em equipa. Um processo que passa, como refere
Crozier (1995), pelo reforço do papel da inteligência em todos os processos de
intervenção humana, pois não haverá mudança se ela não passar pela
transformação dos homens e os homens só mudam pela demonstração da
superioridade de um modelo intelectual. “Cela peut paraitre utopique mais, si l´on
considère l´évolution des affaires humaines, on s´aperçoit qu´en définitive, le
changement des pratiques a toujours été permis par l´apparition des
raisonnements nouveaux.” (op.cit., p.33)
Este privilegiar da inteligência só pode ser efectivo e desenvolver-se
integralmente se a esta estiverem associadas duas capacidades tão estruturantes
como são a invenção e o sentido estético. A invenção porque é um elemento
fundamental para a afirmação da pessoa como alguém capaz de conceber, em
23
cada momento, respostas para a complexidade das situações com que se
confronta no quotidiano, já que, como afirma Serres (1991), “é o único acto
intelectual verdadeiro, a única acção da inteligência. O resto? Cópia, batota,
reprodução, preguiça, convenção, rotina, sono. Único despertador: a descoberta.
Só a invenção prova que pensamos verdadeiramente a coisa, seja ela qual for.”
(p.95) O que conta é a descoberta de formas novas (e conteúdos inéditos)
precisamente na passagem de uma matéria a outra e na interacção que ela
possibilita. O sentido estético porque as combinações úteis são precisamente as
mais belas, aquelas que podem melhor fascinar o que Poincaré chamava de
sensibilidade especial. Se é fundamental ter um pensamento global e complexo
que nos permita compreender a realidade nas suas múltiplas dimensões, é
também fundamental que essa compreensão nos dê os dados que nos permitam
responder ao imprevisível, inventar outras realidades onde o conceito do belo
esteja presente duma forma significativa.
As Estratégias da Invenção
“Comment créez-vous, lui lançais-je en découvrant l´un des ses carnets d´aquarelles. Par petites touches d´irréalité, me répondit-il, avec ce sourire des yeux des vrais humoristes”
Jacques Séguéla 1993
Criar, é explorar para além do possível, é a cada novo projecto fazer o vazio
do «já visto», do «já dito», é destruir as ideias recebidas e as palavras usadas, o
conservadorismo e os atavismos, as hierarquias e os regulamentos. Criar, é
incendiar o extraordinário, nas palavras de Séguéla (1995).
A corrida à invenção é na prática uma constante desestabilização, um pacto
assinado com o ilogismo.
“Toutes les grandes révolutions de la pensée scientifique durent se faire non seulement contre les dogmes aristotéliciens, platoniciens ou chrétiens, mais aussi contre ce qui paraissait l´évidence et le bon sens: les règles informulées du code. Chaque fois il fallut battre en brèche l´orde établi de la pensée conceptuelle. Kepler renversa la doctrine «évidente» du mouvement circulaire uniforme; Galilée ruina la notion de bon sens que tout corps en mouvement doit avoir un «moteur» pour le tirer ou le pousser. Newton, non sans répugnance, dut contredire l´expérience et montrer qu´il y a action possible sans contact; Rutheford dut commettre une contradiction dans les
24
termes en affirmant que l´atome, dont le nom signifie «indivisible», est divisible. Einstein nous interdit de croire que les horloges tournent à la même vitesse en n´importe quel point de l´univers; la physique des quanta a escamoté le sens traditionnel de mots tels que matière, énergie, cause et effet.” (Kloester 1964, pp. 158-159)
Mas para que esta explosão de criatividade seja possível há que
desenvolver um outro olhar e uma outra atitude sobre as coisas, há que perceber
que a criação não nasce nos espaços da normalidade, mas sim nos espaços
intermédios ou de fronteira, há que combater a força do hábito e das convenções
que nos fecham no banal e numa realidade de que muitas vezes não nos
apercebemos, há que romper com as cadeias invisíveis e os constrangimentos
que funcionam para além do nível da consciência, pois frequentemente são as
normas colectivas, os códigos de conduta, que determinam as regras do jogo e
nos fazem avançar quase sempre nos carris do hábito, reduzindo-nos ao estado
de autómatos bem adestrados. Como escreve Koestler (op.cit.), “l´acte de la
découverte a un aspect disruptif et un aspect construptif. Il faut qu´il brise les
stuctures de l´organisation mentale afin d´agencer un synthèse nouvelle (p.88).
O processo de invenção pressupõe assim uma outra capacidade de olhar
que nos dê condições para procurar ao lado, como refere Paul Soriau na sua
teoria da invenção, ou de “prendre recul, de nous élever pour mieux voir, de relier
por mieux comprendre, de situer pour mieux agir” de acordo com as perspectivas
de Rosnay (1995, p.28). Uma necessidade e uma urgência desse outro olhar que
Italo Calvino (1990) defende quando, numa das suas “seis conferências para o
próximo milénio”, fala sobre a leveza e lança a ideia de que, numa altura em que
o reino do humano parece mais pesado, se deveria, tal como Perseu, voar para
outro lado. Considerando que não está a falar de fugas para o sonho ou para o
irracional, Calvino conclui que temos de mudar o nosso ponto de vista, temos de
observar o mundo a partir de outra óptica e de outros métodos de conhecimento
e análise. Só esse outro olhar, aliado a uma ideia de simplicidade e à
necessidade de que cada criativo reencontre, à sua maneira, a inocência da sua
infância, nos pode aproximar do mundo da invenção.
Efectivamente há que voltar às coisas simples, “à capacidade de formular
perguntas simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma
criança pode fazer mas que, depois de feitas, são capazes de trazer uma nova
luz à nossa perplexidade" (Santos 1995, p.6). Na verdade foi esta simplicidade
que suportou muitas das invenções, invenções que partiram de atitudes e
processos extremamente simples como os de Marvin Minsky que inventou a
25
inteligência artificial analisando as crianças brincando com os cubos, ou de
Newton que compreendeu a gravidade concentrando-se numa maçã e Galileu a
Terra fixando as estrelas. A descoberta não é mais, como refere Séguéla (1995),
do que uma soma de deduções infantis e o génio é a capacidade de as ligar sem
medo do ridículo. Isto implica também o sermos capazes de desenvolver em cada
um a intuição, pois a aparição repentina de uma ideia nova é, efectivamente, um
acto de intuição, uma faísca/rasgo miraculoso, um curto-circuito da razão. A
procura do improvável exige longos e rudes esforços, mas o mediador é em
definitivo o inconsciente – com a sua souplesse e a sua liberdade, com a sua
libertinagem intelectual, a sua força visionária.
Está aqui em causa um processo de invenção que, para Serres (1991,
p.34), exige a passagem por um terceiro lugar, dado que é nesta franja fina, nesta
fronteira precisa entre a ordem perfeita e a anarquia total, neste estado de
transição instável e ao mesmo tempo estabilizado, que se situam os fenómenos
que constróem a vida, a sociedade, o ecosistema. A terra mais fértil é
aparentemente a da margem pantanosa, a região fronteira entre o sonho e o
acordar, onde as matrizes do pensamento disciplinado operam já sem ter tido
tempo de endurecer o bastante para perturbar a fluidez onírica da imaginação.
Nos sonhos acordados e na maior parte dos sonhos dos simples mortais, estas
actividades vão à deriva ou não servem senão para fins íntimos; nos momentos
inspirados do artista ou do sábio elas são empregues para fins criativos. Einstein
refere que teve a ideia da profunda generalização sobre o espaço e o tempo
quando estava na cama doente. Descartes, diz-se, fez as suas descobertas de
manhã na cama. Cannon e Poincaré escreveram que tiveram brilhantes ideias na
cama sem poder dormir – é a única coisa positiva das insónias. Conta-se também
que o grande engenheiro James Brindley, logo que se confrontava com um
problema difícil ficava deitado durante vários dias até que encontrava a solução.
Walter Scot escreveu a um amigo que a meia hora entre o acordar e o levantar foi
durante toda a sua vida um tempo propício às tarefas um pouco árduas, pois foi
sempre ao abrir dos olhos que via chegar em grande número as ideias que
desejava.
Se o pensamento disciplinado nos obriga a ficarmos presos a tal ou tal
sistema de referência, o acto criador, na medida em que depende de recursos
inconscientes, supõe um relaxamento dos controles e um retorno a formas de
criação de ideias que são indiferentes às contradições, aos dogmas e aos tabus
do que se chama senso comum.
26
“Au stade décisif de la découverte, les codes du raisonnement discipliné cessent de s´appliquer, de même que dans le rêve et la rêverie où le courant de l´idéation est libre de s´échaper pour vagabonder apparemment sans lois.” (Koestler 1964, p.160)
Uma vagabundagem que leva à descoberta do desconhecido, ao confronto com
coisas novas, com o imprevisto, numa perspectiva que deveria ser uma constante
em cada pessoa, em todos os seus tempos e actividades, pois é este sentido de
aventura que nos ajuda a crescer, a abrir-nos a outros mundos, num processo
como aquele de que Umberto Eco (1983) nos fala quando refere como é
importante cada um poder aventurar-se no interior de uma biblioteca:
"Um dos mal entendidos que dominam a noção de biblioteca é o facto de se pensar que se vai à biblioteca pedir um livro cujo título se conhece. Na verdade acontece muitas vezes ir-se à biblioteca porque se quer um livro que se conhece, mas a principal função da biblioteca, pelo menos a função da biblioteca da minha casa ou a de qualquer amigo que possamos visitar, é de descobrir livros de cuja existência não se suspeitava e que, todavia, se revelam extremamente importantes para nós. (...) Ou seja, a função ideal de uma biblioteca é de ser um pouco como a loja de um alfarrabista, algo onde se podem fazer verdadeiros achados, e esta função só pode ser permitida por meio do livre acesso aos corredores das estantes." (pp.28-29).
A Imprescindibilidade da Dimensão Estética
O desenvolvimento dos processos de invenção tem que estar suportado por
um forte sentido estético que dê a cada uma das coisas que se inventam uma
dimensão única e fascinante. Efectivamente, o sentido do belo é algo que
interessa a toda a actividade humana; o matemático, de acordo com Koelster
(1965), é incapaz de prever o sucesso das suas tentativas, mas há certo sentido
do belo que o guia e que é sem dúvida o mesmo que guiava os geómetras
gregos quando estudaram a elipse. Poincaré afirmava que, quando nos
admiramos ao ver invocar a sensibilidade estética a propósito das demonstrações
matemáticas que, parece, não podem senão interessar à inteligência, estamos a
esquecer o sentimento da beleza matemática, da harmonia dos números e das
fórmulas, da elegância geométrica. É um verdadeiro sentido estético que todos os
verdadeiros matemáticos conhecem. Para Poincaré, as combinações úteis são
precisamente as mais belas, aquelas que podem melhor fascinar o que chamava
27
chamava de sensibilidade especial. Para Max Planck, o pai da teoria dos quanta,
o sábio deve ter uma viva imaginação intuitiva para as ideias novas, uma
imaginação que não vem da dedução, mas sim da imaginação artisticamente
criadora. Mesmo os grandes actores da história da informática, como Alan Turing,
Douglas Engelbart ou Steve Jobs, não entenderam o computador como um
autómato funcional, apostaram na sua dimensão subjectiva, maravilhosa ou
profética, pois, como refere Pierre Levy (1990), há toda uma dimensão estética
ou artística da concepção das máquinas ou das aplicações. É esta dimensão
estética que provoca um envolvimento emocional e estimula o desejo de explorar
novos territórios existenciais ou cognitivos, ligando o computador a movimentos
culturais, a revoltas, a sonhos, apostando na sua dimensão subjectiva,
maravilhosa ou profética, aproximando os seus autores, enquanto criadores, dos
etnógrafos e dos artistas.
Como escreveu Serres (1992), “je n´ai jamais cessé de chercher la beauté.
Souvent le beau est l´éclat du vrai, presque son test. Le style est le sygne de
l´invention, du passage par un paysage neuf“ (p.43).
28
No Interior de uma prática capaz de transformar o quotidiano escolar
“A reforma do pensamento precisaria de uma reforma do ensino (primário, secundário, universitário) tal como este necessitaria de uma reforma do pensamento. É evidente que a democratização do direito de pensar precisaria de uma revolução paradigmática que permitisse a um pensamento complexo reorganizar o saber e ligar os conhecimentos hoje fechados nas disciplinas. “Isso implica uma revolução mental ainda mais considerável do que a revolução coperniciana. Nunca na história da humanidade as responsabilidades do pensamento foram tão esmagadoras”.
Edgar Morin 1993
A escola interessa-nos aqui enquanto espaço por excelência de
experimentação e de produção de pensamento, onde, pelo facto de aí existirem
especialistas das diferentes áreas do conhecimento, é natural que hajam espaços
de cruzamento, interferência e contaminação entre os vários saberes, haja
produção de um pensamento novo. Só nestas condições tem sentido a
integração no seu interior de uma oficina de teatro que deve ser, pela própria
natureza do fenómeno artístico, um tempo e um espaço privilegiado da multi e
transdisciplinaridade, um espaço onde convergem, porque necessários ao próprio
processo de criação, as preocupações, os problemas e as realizações de
diferentes áreas do saber. Uma realidade que poderia permitir que no interior das
escolas se tornasse possível o desenvolvimento de projectos experimentais que,
ao necessitarem de dados, informações e instrumentos interdisciplinares,
possibilitariam a descoberta, pelos seus diferentes intervenientes/ parceiros, que
os saberes não têm fronteiras e que cada vez há uma maior interdependência
entre as várias áreas do conhecimento. Criam-se, deste modo, condições para a
emergência da revolução paradigmática de que fala Morin (1993), que permita a
um pensamento complexo reorganizar o saber e ligar os conhecimentos hoje
fechados nas disciplinas. De notar que é na abertura deste espaço multi ou
transdisciplinar que se traduz um dos maiores desafios que o teatro traz à escola
actual e do qual podem emergir alguns dos sinais de mudança. Como escreve
Jean Pierre Ryngaert (1991):
"il me semble indispensable de chercher toutes les occasions de fondre des différentes disciplines dans le creuset de la théâtralité, de supprimer les barrières et d´indure dans la formation cette préoccupation pour une
29
activité dramatique que traversent réellement différents savoirs"(p.34).
Hoje tem-se consciência de que as escolas dedicam muito pouca atenção
ao trabalho de pensar o trabalho, isto é, às tarefas de concepção, análise,
inovação, controlo e adaptação, o que pode ser explicado pelo facto da lógica
burocrática do sistema de ensino implicar uma organização individual do trabalho
docente e uma redução do potencial dos professores e das escolas. E esta
questão é tão mais importante quanto também sabemos que as escolas poderão
ser um espaço privilegiado de produção de pensamento, de um pensamento
complexo capaz de cruzar diferentes áreas do saber, dado serem lugares onde
se concentra um dos mais numerosos grupos profissionais e também um dos
mais qualificados do ponto de vista académico (Nóvoa 1992), grupo esse que
está relativamente protegido dos confrontos políticos, das competições
comerciais e das tentações gestionárias. Com efeito, grande parte do potencial
cultural (e mesmo técnico e científico) das sociedades contemporâneas está
concentrado nas escolas, pelo que “não podemos continuar a desprezá-lo e a
menorizar as capacidades de desenvolvimento dos professores. O projecto de
uma autonomia profissional, exigente e responsável, pode recriar a profissão de
professor e preparar um novo ciclo das escolas e dos seus actores" (op.cit.,
p.29).
Poderá assim pertencer à escola um papel primordial na tarefa de pensar o
futuro e a grande questão que se coloca é saber como fazê-lo quando temos
consciência que a escola hoje é uma estrutura que, pela sua própria natureza e
modo de organização, tem tendência a partir e separar os conhecimentos em
disciplinas, tornando as ligações e as interdependências entre elas extremamente
difíceis, não só pelo modo como organiza os conteúdos e os tempos das
aprendizagens, mas também pela própria dimensão corporativa de organização
dos professores e das implicações que tal forma de se pensarem na profissão
docente tem no modo como concebem o processo de ensino – aprendizagem. Há
então que apostar decididamente nas escolas e nos projectos que potenciem
essa produção de pensamento, o que implica que decididamente se apoiem os
professores, pois, como considera Crozier (1995), as ideias não são nada sem
uma estratégia e uma estratégia não tem sentido se não dispõe do conhecimento
dos únicos recursos que contam a prazo: os recursos humanos. E isto é tão mais
importante quando sabemos como os estabelecimentos de ensino continuam a
30
ser vistos, essencialmente, como um agrupamento de salas de aula onde se
descura toda a vida escolar para além dos 50/90 minutos lectivos.
Sabemos também como se descura uma afectação de espaços onde os
professores possam trabalhar individualmente ou em grupo e como o espaço é
uma realidade que condiciona efectivamente a nossa maneira de pensarmos a
organização das nossas actividades. Daí que um projecto desta dimensão deva
também provocar a reflexão sobre o que tem sido a política e os princípios que
suportaram e enquadraram os modelos da arquitectura das escolas que hoje são
dominantes em Portugal e, possivelmente, chegar à conclusão que a pesquisa de
uma solução poderá passar pela implosão dos edifícios escolares actualmente
existentes. Uma reflexão que fosse capaz de provocar a emergência de
propostas como as que os americanos fizeram para as Escolas +, escolas do ano
2000 a que já aludimos anteriormente, instituições dotadas de uma arquitectura
capaz de ser espaço de desafio e de construção de um outro conceito de
aprendizagem, liberto de constrangimentos tais como o horário escolar, o
calendário lectivo, a divisão em disciplinas, o plano de estudos, o tamanho das
turmas, a distribuição do espaço, os ritmos da aprendizagem, as estratégias de
avaliação, o recrutamento dos professores, as estruturas de direcção e de
gestão, o papel dos alunos ou a natureza dos conteúdos.
A forma como se pensa ou deveria pensar a organização espacial dos
edifícios está sempre presente quando nos debruçamos sobre os projectos ou as
estruturas que implicam o confronto com ou a descoberta de novos
conhecimentos. Borges, citado por Eco (1983), fala de um universo, a que chama
biblioteca, constituído por um número indefinido e talvez infinito de galerias
hexagonais, com vários poços de ventilação ao meio e cercados por varandas
baixíssimas, de onde se vêem interminavelmente os pisos superiores e inferiores.
Umberto Eco, pela sua parte, completa a reflexão sobre o conceito de biblioteca
com algumas questões sobre a organização do espaço, partindo da estrutura da
biblioteca de Toronto onde toda a gente pode circular e retirar os livros do lugar:
“Este tipo de biblioteca foi feito à minha medida, posso decidir passar lá um dia inteiro em santa delícia : leio os jornais, desço até ao bar com alguns livros, depois vou à procura de outros, faço descobertas. Entrara ali para me ocupar, suponhamos, do empirismo inglês e em vez disso começo a seguir o rasto dos comentadores de Aristóteles, engano-me no andar, entro numa zona onde não suspeitava que pudesse vir a entrar, de medicina, mas de repente encontro algumas obras sobre Galeno, portanto com referências filosóficas. A biblioteca converte-se neste sentido, numa aventura.” (p.32)
31
A inexistência de espaços específicos no interior das escolas para as
práticas artísticas, se é por um lado limitadora do desenvolvimento integral das
mesmas, pode, por outro, ser extremamente motivadora do lançamento de todo
um processo/projecto de experimentação e criação de espaços que tenham como
referência não só as questões internas da criação artística, mas tudo aquilo que
estamos a afirmar no sentido da oficina de teatro como espaço de convergência
das várias áreas do saber.
Mas esta ideia dos espaços e das áreas de convergência não se deve
limitar ao interior da escola como realidade isolada, tem sim de criar articulações
e pontes com as comunidades onde se insere. Como referiu Nóvoa (1992)
durante o 1º Encontro Mundial de Teatro e Educação, hoje, a necessidade de
uma interacção escola-comunidade está de novo na ribalta, devido a três
questões que encontram algumas respostas pertinentes na experiência das
actividades teatrais. Para o autor, a primeira dizia respeito à degradação de
muitas áreas populacionais, sobretudo nas grandes cidades, cujas realidades
sociais inviabilizam qualquer esforço educativo, o que implicava um investimento
com uma estratégia de dupla pista: não canalizando os recursos unicamente para
os espaços escolares stricto sensu, mas dirigindo-os também para a
consolidação de laços de interacção entre as escolas e as comunidades. A
segunda questão prendia-se com a necessidade de sair da escola e de romper
com um pensamento excessivamente escolarizado, como única maneira de
apreender a complexidade do real educativo. A terceira e última questão remetia
para uma nova visão das escolas, como espaços onde as comunidades têm
direito a intervir com capacidade de decisão, pois considerava o autor que às
comunidades locais competia uma parcela importante na identificação das
necessidades de aprendizagem e das áreas curriculares, bem como na
construção de redes de trabalho e de cooperação.
Para todas estas questões encontrava Nóvoa uma resposta no campo das
práticas artísticas e, em especial, no teatro. Em primeiro lugar, e como referiu,
sempre que a escola quis lançar pontes para o exterior, recorreu em primeira
linha às expressões artísticas, sobretudo ao teatro, nalguns casos com excessos
propagandísticos. Em segundo lugar, quem melhor do que a arte pode levar para
a escola as diversas realidades, os diversos olhares e sensibilidades que
atravessam a sociedade? Em educação é preciso trabalhar, simultaneamente,
numa perspectiva local e global porque, como escreveu Miguel Torga, "O
Universal é o local, menos os muros". São estes muros que, para Nóvoa (1992),
32
o teatro sempre ajudou a quebrar. Então a inteligência, no seu sentido original,
interligar, poderá desenvolver-se nas nossas escolas.
Quando se referiu à tradição de redes, o autor em foco considerou que ela
passa também pelo campo da animação cultural e artística, o que implicará
necessariamente a celebração de protocolos entre as escolas e as autarquias
e/ou as colectividades para a dinamização artística e cultural das regiões e para o
lançamento de centros artísticos. Aproximar a decisão dos actores é, sem dúvida,
uma condição essencial para que cresçam projectos integradores nas escolas,
projectos que permitam às comunidades participar nos processos culturais,
facilitando a alfabetização artística das sociedades actuais. A arte tem sido ao
longo dos tempos um dos espaços privilegiados de articulação entre o universo
escolar e a comunidade e é neste sentido que as novas perspectivas de
organização escolar não podem deixar de fazer um apelo a um esforço renovado
de criação artística no seio dos estabelecimentos de ensino, tanto na perspectiva
de domínio integrador por excelência, como na de despoletador de projectos
culturais e pedagógicos.
Esta ideia de cruzamento, de quebrar com o isolamento e de romper com
as fronteiras não pode naturalmente ficar limitada ao interior das escolas, tem
também necessidade e urgência de se articular com os parceiros e as estruturas
sociais da comunidade onde estas se inserem. As práticas de experimentação e
de criação não se podem afirmar no interior da escola se no exterior não houver
focos de desafio que rompam a sua estrutura compartimentada e façam emergir
uma dinâmica de circulação entre o interior e o exterior, tanto nas diferentes
disciplinas e áreas do conhecimento, como nas estruturas sociais implicadas nos
projectos de formação.
Esta ideia da necessidade de criar espaços de circulação não é uma
preocupação que exista somente no domínio das práticas artísticas,
atravessando neste momento tudo o que poderá ser percebido como actividade
experimental no interior das escolas, como é testemunhado de forma clara por
Gago (1988) quando perspectiva um museu vivo da ciência que defende não
dever ser um museu do património, mas sim um espaço onde os jovens se
sintam à vontade, onde possam entrar e sair, onde façam experiências, onde
comuniquem. Um museu que se afirme como um verdadeiro desafio para as
práticas e os projectos que se desenvolvem no interior das escolas, um local
“para onde, se nas escolas a ciência for mal ensinada, os jovens estudantes
fujam, faltem às aulas para ir a esse espaço”. (op.cit., p.51)
33
A cultura no interior de um projecto de desenvolvimento
A perspectiva de ligar a cultura ao desenvolvimento permite aclarar o
conceito de cultura e cria condições para a percepção de como o seu quadro de
acção vai muito para além do universo limitado das belas-artes e da educação
stricto sensu, alargando a sua intervenção a todas as dimensões da vida social e,
nomeadamente, à ciência, ciência que, de acordo com cientistas tão significativos
como Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, se deve reconhecer como parte
integrante da cultura no seio da qual se desenvolve. A cultura não é
efectivamente o que permite brilhar nos salões, nem o que resta quando
esquecemos tudo, é “une capacité à mettre en oeuvre des références, des
schèmas d´action et de communication. C´est un capital d´habitudes incorporées
qui structure les activités de ceux qui la possèdent.» (Warnier 1999, p.11). A
cultura é a bússola de uma sociedade, sem a qual, como considera ainda Warnier
(op.cit.), os seus membros não saberiam nem donde vêm, nem como lhes
convém comportarem-se. A cultura dá ao homem a capacidade se situar perante
o mundo, não o deixando desarmado face aos problemas que se lhe vão
colocando e tornando-o capaz de os contextualizar no seu tempo e na sua
história, capacidade de contextualização esta que é fundamental no mundo de
hoje pois, como afirma Morin (2000), “le vrai problème est de pouvoir faire la
navette entre des savoirs compartimentés et une volonté de les intégrer, de les
contextualiser ou de les globaliser” (p.8).
A cultura é aqui entendida como espaço de criação de um destino pessoal e
criativo que deve assumir o seu pleno significado e dimensão, tanto na
perspectiva de antídoto para as crises, como na de espaço privilegiado de
invenção de um mundo diferente, da prospectiva, onde o desenvolvimento
apareça como inseparável da realização de todo o homem e de todos os homens,
da sua liberdade e autonomia, da qualidade das relações que estabelecem e da
capacidade de se situarem no mundo e de participarem em tudo aquilo que lhes
diz respeito. Na sua dupla dimensão de elemento estável que reproduz e
perpetua a instituição social e de forum donde emergem os gestos criadores
imprevisíveis e indeterminados, a cultura pode ter um papel indispensável no
processo de invenção de um novo estilo de vida, de um novo quadro de
referências, desde que seja capaz de integrar em permanência as novas
representações e os novos códigos simbólicos que emergem no seu próprio seio
e que são resultantes dos próprios processos de mudança. Como afirma Moktar
(1985), se uma cultura « ne réussit pas à assumer ce défi qui l´institue, elle se
34
sclérose en des formes rigides, dégénérées, potentiellement auto-destructives,
comme celles que sous-tendent les sociétés totalitaires”(pp. 30-31).
Neste quadro, e de acordo com Gaudibert (1972), parece-nos importante
referir que o combate por um projecto cultural numa perspectiva de
desenvolvimento não se situará mais nos aparelhos culturais, passando sim por
todos os poros e interstícios da vida quotidiana, única forma de podermos ter
esperança que a cultura seja um elemento capaz de mudar, ao mesmo tempo, a
sociedade e a vida. Para Gaudibert (op.cit.), a arte deveria encontrar a rua e a
cultura deveria encontrar a vida quotidiana, uma perspectiva que põe em causa
os lugares e instituições culturais e, sobretudo, reafirma “le refus de la division
entre une minorité de spécialistes se réservant le monopole de la création
artistique et une masse de purs récepteurs de produits artistiques » (p.138).
Trata-se de recriar a ideia da criatividade generalizada e permanente de todos,
onde o único sentido da acção cultural seria o de ajudar a criatividade a encontrar
os seus meios de expressão. A arte e a cultura são assim repostas ao lado do
quotidiano e do existencial, uma ideia que é reforçada por Goldman (1971) ao
defender a cultura, ou mais precisamente qualquer obra cultural, como o ponto de
encontro ao nível mais elevado da vida do grupo e da vida individual, “residindo a
sua essência no facto de elevar a consciência colectiva a um grau de unidade
para o qual estava espontaneamente orientada mas que nunca teria atingido na
realidade empírica sem a intervenção da individualidade criadora” (p. 103).
Só com uma dimensão cultural enquanto realidade que atravessa todos os
domínios do social e que, ao fazê-lo, nos incentiva e obriga a ultrapassar as
visões localizadas e redutoras que ainda são dominantes na nossa sociedade,
estaremos em condições de inventar outras realidades. Como refere Dupuis, “il
s´agit de renverser la problématique du développement en reconnaissant à la
culture son pouvoir de structuration et sa dynamique, qui font qu´il ne peut y avoir
de développement sans un approche globale des problèmes.” (1995, p.26)
35
Presença permanente do teatro no interior deste processo
Neste processo de afirmação da cultura como bússola de uma sociedade,
como algo que dá ao homem a capacidade de se situar no mundo, de que forma
as práticas teatrais poderão ser um espaço e um tempo capazes de criar
condições para a descoberta e afirmação de cada um enquanto pessoa, capaz
de fazer pensar de uma forma complexa a sociedade em que vive, de inventar
respostas criativas para as situações imprevistas com que diariamente cada um
se confronta e de dar a essas respostas uma forte dimensão estética?
Enquanto prática artística que trabalha a partir de temáticas do nosso
quotidiano, das preocupações e dos anseios que em cada momento histórico o
atravessam, ao possibilitar no seu espaço de ficção a visualização de outros
mundos que muitas vezes são mais reais que a própria realidade, o lugar do
teatro é um dos espaços privilegiados onde é possível inventar futuros possíveis.
Por isso podemos afirmar que hoje a linguagem e a prática teatrais são um
instrumento indispensável a qualquer projecto que se queira de mudança, já que,
ao criarem ficção a partir da combinação das imagens da realidade, permitem a
libertação do actual para criar um possível.
A concretização da participação do teatro num projecto com estas
características implica que encontremos no interior das suas práticas teóricas um
quadro de referência que permita que ele intervenha, simultaneamente, como
área de projecto que desafia as várias áreas do saber a trabalharem em conjunto
e a cruzarem os seus saberes e como espaço de produção ficcional que dê corpo
e produza o pensamento resultante dessa interpenetração. Este quadro
encontramo-lo no interior das práticas e das reflexões de autores que, como
Peter Brook, Robert Wilson, Eugénio Barba, Ariane Mnouchkine, Robert Lepage,
etc., são hoje as referências contemporâneas mais significativas duma prática
teatral intercultural que tem como objectivo principal conceber e criar uma ideia
de cultura mundial que seja, ao mesmo tempo, capaz de respeitar a diversidade e
de encontrar e explorar os pontos de convergência entre as várias práticas, os
vários projectos e as múltiplas culturas.
Que princípios e que pressupostos dominantes que encontramos na obra
destes autores de referência que possam responder às necessidades, às
urgências e aos desafios do quadro que temos vindo a explicitar?
36
Em primeiro lugar, trazer a pessoa para o centro da realidade e das
preocupações de um processo de mudança é o objectivo prioritário destas
práticas teatrais que se afirmam como capazes de criar espaços de jogo onde
cada um possa descobrir e interpretar diferentes personagens e situações e, ao
fazê-lo, acordar em si capacidades desconhecidas ou adormecidas e desenvolver
todas as cordas sensíveis do seu ser. Personagens e situações desconhecidas
que quanto mais profundas e complexas forem mais rica tornam a dinâmica de
descoberta e de crescimento, num processo de procura do outro que é também o
eu. Como escreveu Artaud citado por Brook (1977), o teatro é “le seul endroit où
nous pouvions nous libérer des contraintes de nos vies quotidiennes. Cela faisait
du théâtre un lieu sacré où trouver une réalité plus profonde"(p.79).
Para Brook (1993), o actor é exaltado pelo acto de representar e quando
representa em boas condições e desenvolve uma verdadeira pesquisa é melhor
do que o que de facto é na vida. Quando cessa de o fazer e volta à vida
quotidiana também já não é o mesmo, pois a sua vida alimentou-se da sua
experiência no palco, num processo recíproco que nunca se confunde. A
verdadeira personagem existe pois escondida no próprio actor e ao subir à
superfície transforma-o, num percurso de transformação que se trabalha pela
sinceridade, pelas emoções e pelo jogo e que só acontece se acreditar no que
representa, no que é, no que incarna e no que o outro incarna. O trabalho teatral
põe a nu o ser e os seus possíveis e dá a ver o outro na sua diferença e nas suas
riquezas insuspeitas, "il nous fait pénétrer sur la scène du monde par cette
mécanique subtile de la relation des hommes entre eux. Ainsi nous convie-t-il
peut-être à entrevoir un bout du réel" (Bonnaud 1990,p.43).
Este processo de descoberta de cada um através do confronto e da
interpretação de personagens permite-nos ir mais longe quando no interior do
universo de uma peça podemos experimentar a diversidade de personalidades,
sensações e desejos, os diferentes pontos de vista que nos oferecem as
personagens existentes numa peça. É esta ideia de respeito e incentivo da
diversidade que dá ao teatro uma outra dimensão e o afirma ainda mais como um
instrumento privilegiado de afirmação da globalidade da pessoa, de leitura e
intervenção no mundo, na realidade. Ainda que consideremos que cada
personagem de uma peça contém todas as outras e que há um pouco de
« Prince dans Falstaff, un peu du père dans le fils, un peu de la fiancée dans le
fiancé, un peu de la fiancée dans la nourrice, un peu de la nourrice dans
Juliette..." (Brook 1992, p.13), esta possibilidade de cada um se confrontar e se
37
meter na pele de cada personagem dá uma outra dimensão ao processo,
permitindo que cada um se assuma como pivot de diferentes perspectivas. É
importante não esquecer que o elemento base de uma peça é o diálogo e que
este pressupõe uma tensão entre duas pessoas em desacordo, um conflito onde
a cada lado ou opinião deve ser dado igual grau de credibilidade: "Si l´auteur est
doué d´une générosité infinie, s´il n´est pas obsédé par ses propres convictions, il
donnera l´impression qu´il est en total osmose avec chacun. Tchekhov en est un
exemple" (Brook 1992, p.31).
É na procura duma cada vez maior complexidade na compreensão das
personagens e dos conflitos reais e latentes que emergem do interior das
histórias, que Peter Brook, durante o trabalho de montagem de um espectáculo,
faz com que os actores troquem de papéis durante os ensaios, o que permite a
cada um receber outras impressões da personagem que procuram interpretar e
estimular a sua compreensão. Esta troca permanente permitia que cada membro
do grupo pudesse acrescentar uma nova interpretação de cada papel, ajudando à
evolução global da peça. Foi o que aconteceu na Carmen com os cantores e, nos
espectáculos com textos de Shakespeare, com os actores que nunca tinham
representado este autor. Na Carmen, o actor Maurice Bénichou representava o
papel quando os cantores se mostravam incapazes de transformar a sua
representação normal em acções detalhadas e cheias de sentido, num processo
que permitiu que estes últimos adquirissem o gosto do que significa o jogo de
detalhe e tivessem podido procurar, duma maneira pessoal, os seus próprios
detalhes. Este processo ajudou igualmente os actores que nunca tinham
representado Shakespeare a desembaraçarem-se totalmente do que tinham
adquirido, pois ao terem oportunidade de experimentar uma cena a partir de um
modelo preciso criado por um actor mais experiente, libertavam-se da antiga
técnica e podiam lançar fora o modelo, como uma criança lança fora a bóia logo
que aprende a nadar.
Em segundo lugar, o que detectamos na obra destes criadores, e que nos
parece significativo para esta abordagem, tem a ver com a ideia de abertura aos
outros e ao novo, com a disponibilidade para reformular e adaptar
permanentemente aquilo que é feito, pois o teatro é, mais do que qualquer outra
prática artística, aquela que nos abre a via na direcção de uma outra apreensão
dum mundo em transformação. Capacidade de abertura, de reformulação e
adaptação permanente que é referida por Brook (1992) quando este considera,
38
como exemplo, que não há nada pior do que o que acontece aos pintores quando
começam a dar uma marca particular aos seus trabalhos e são por essa marca
reconhecidos. É que a partir daí o pintor « ne peut plus assimiler le travail de qui
que ce soit d´autres sans perdre la face. Cela n´a aucun sens au théâtre. Le
domaine où nous travaillons doit être celui du libre-échange"(p.37).
Na verdade hoje há uma efectiva atitude de abertura e disponibilidade que
poderemos encontrar, para além de Brook, nos processos de trabalho dos
criadores de referência como é Hélène Cixous, dramaturga do Théâtre du Soleil
de Ariane Mnouskhine, que para escrever uma peça fala da necessidade de se
atingir um estado de demoisation e de se estar disponível para que os outros nos
possam ocupar e invadir, o que lhe permite ser de repente invadida por todo um
povo e por personagens muito precisos que não conhecia e que se tornam seus
parentes para a eternidade. Um processo que a dramaturga constatou passar-se
da mesma forma com os verdadeiros actores que são pessoas que têm o eu
"assez réservé, assez humble pour que l´autre puisse l´envahir et l´occuper; il
donne lieu à l´autre d´une manière inouie" (Cixous 1988, p.86). Uma capacidade
para estar disponível que, em interacção com as energias suplementares
libertadas no teatro, na representação dos conflitos, no canto e na dança, no
entusiasmo e nos risos, cria condições para que, numa hora, coisas
surpreendentes se possam passar:
"Cet effet est particulièrement intense si le groupe d´acteurs comprend des gens d´origines diverses. Avec une troupe internationale, une profonde compréhension peut naître entre des gens qui semblent n´avoir rien en commun" (Brook 1992, pp151-152).
Um modo de estar que só o teatro é capaz de incentivar, mas que não se
pode satisfazer e limitar em exprimir um único ponto de vista, pois se o fizer está
claramente a empobrecer o todo.
Esta ideia de abertura inerente ao processo de criação teatral deve ter
como base, segundo os autores que temos vindo a referir, procedimentos e
métodos de abordagem que privilegiem a dimensão do sensível. A questão não
está na negação dos valores dos tempos modernos como a lógica, a
racionalidade e a linearidade, mas na abertura secreta de espaços ao ilógico, ao
irracional, ao cíclico. O teatro funciona na sua obra como experiência vivida
mobilizadora da totalidade das capacidades de ver e de escutar e como forma de
meditação que alarga o aparelho sensorial do homem, o que dá sentido ao facto
39
do autor basear o trabalho sobre qualquer coisa de aberto, sobre qualquer coisa
que não conhece.
A verdade é que hoje estamos confrontados, entre o inteligível e o sensível,
com dois modos de apreensão da realidade, um analítico e outro sistémico.
Modos esses que caracterizam as diferenças entre o teatro de pesquisa e o
teatro tradicional, partindo o primeiro de um conjunto de objectos e de relações
estabelecidas espontaneamente entre eles para chegar a uma estrutura,
enquanto o segundo se apoia numa estrutura (ideia, peça, etc.) que se explicita
por meio de objectos e de relações pré-estabelecidas:
"Si la saisie de l´environnement est guidée par la raison ou par la transparence du logos dans le théâtre traditionnel, la catalysation ou la cristallisation de la vision du monde passe d´abord par l´impression et bien souvent par le décalage dans le théâtre de recherche, qui donne à voir la pensée en mouvement. Dans ce dernier cas, le paradigme de la cognition ne tient pas avant tout dans le raisonnement, mais bien dans la perception, dans l´impression, dans la resensorialisation." (Herbert 1994, p.69).
O teatro de pesquisa cria na base de recursos sensíveis, no interior de
modelos de criação que estão regidos pela imaginação e pelas intuições do
colectivo de trabalho, num processo que se baseia na exploração livre, sem
limites e sem fins precisos: "Au lieu de formuler des discours sur les choses à
partir des idées (un théâtre du logos, du discours rationnel), nos artistes ont
repensé le langage théâtral en laissant parler les choses, en les explorant sans a
priori"(op.cit., p.68).
No fundo tudo é mutável, polimorfo e próximo do funcionamento da poesia
onde,
"un drap devient un linceul, un écran, une pure teinte, un voile...(...) l´organisation du sens dépend tout à la fois du maillage de noeuds hétérogènes, des accouplements chimériques qui en résultent, bref des multiples possibilités offertes par l´interaction, et du rapport dynamique, créatif qui s´en suit entre l´instance spectactrice et le fait scénique" (op. cit., p. 68-69).
Como diz Brook (1992), a sua ligação a uma peça começa a partir de um
pressentimento obscuro e profundo, semelhante a um odor, a uma cor ou a uma
sombra. Para o encenador, é esse obscuro pressentimento que lhe dá a
convicção de que essa peça deve ser montada hoje, convicção sem a qual nada
40
lhe seria possível: “Je pourrais mettre en place une sorte de synthèse technique
et quelques idées que mon expérience m´a apportées, mais ça ne donnerait rien
de bon » (p.15). Brook não dispõe pois de nenhum sistema para montar uma
peça, dado que é a partir desse sentimento sumário e informal que a começa a
preparar.
Em terceiro lugar, o teatro é portador de potencialidades
interdisciplinares e de percepção da complexidade, pois o processo de
criação de projectos efectivamente inovadores implica a mobilização e o apoio
das múltiplas áreas do saber levando os seus actores a descobrir que os saberes
não são disciplinares, mostrando-lhes que cada vez mais há uma
interdependência das várias áreas do conhecimento e que os muros e as
barreiras entre as pessoas e os saberes são produto de uma realidade
artificialmente imposta.
O afirmar do teatro enquanto prática que tem como terreno de acção a
própria vida, onde a pessoa é o centro de todas as preocupações, coloca-o num
lugar privilegiado da prática social, em geral, e da estrutura escolar, em particular.
Um lugar privilegiado de onde podem emergir algumas das respostas às
questões colocadas por aqueles que, nas diferentes áreas do saber, têm
consciência que a actual fragmentação e especialização do conhecimento
científico tem forçado o homem a abandonar o seu desejo de unidade do
conhecimento. Fragmentação e especialização do conhecimento que se tornam
cada vez mais pertença de especialistas, o que impede que o homem, porque
não lhe é devolvida uma imagem unitária do mundo em que ele vive, possua uma
teoria unificada no interior da qual possa encontrar pontos firmes de referência
para a compreensão da sua própria condição: "A humanidade do Homem, o seu
lugar de "espelho" do Universo, não pode consistir na mera acumulação de
saberes mas exige a sua integração num todo significativo que só pela ideia de
comunidade subjectivamente constituída pode ser perseguido e alcançado"
(Pombo 1993, p.177).
Porque os homens do teatro são uma espécie de caçadores furtivos que,
servindo-se do que têm à mão, procuram em todas as áreas o que pode ser útil e
operacionalizam no fazer saberes e métodos de todas as disciplinas (Nóvoa
1992), a função das práticas teatrais no interior da estrutura escolar será a de
descobrir relações ou ligações entre as áreas do saber, provocando encontros,
motivando projectos e inventando novas práticas que obriguem a sala a sair da
pedagogia encaixotada, a não se deixar fechar dentro do preparado para ensinar,
41
a arriscar afrontar o desequilíbrio, o imprevisto e a insegurança, trazendo para a
escola a paixão e o mistério, a capacidade e a fantasia, a prospectiva e a utopia.
Neste contexto o teatro tem todas as condições para ser um espaço
privilegiado de descoberta que permita e incentive a
“penser à côté et chercher une matrice auxiliaire qui débloquera la situation en accomplissant une tâche qu´on ne lui avait jamais demandée auparavant. La découvert consiste essentiellement à avoir l´idée de cette matrice, comme Guttemberg eut l´idée du pressoir et Keppler celle de la force solaire. Dans la pensée banale nous scrutons la périphérie crépusculaire du conscient, guidés par une montagne d´exploration plus ou moins automatique. Dans la pensée créatrice nous scrutons les profondeurs, apparemment sans guide. Il doit y avoir un guide cependant – à moins que toute invention ne soit due au hasard des touches qu´enfonce patiemment le singe dactylographe.” (Koestler 1964, p.145)
Sendo o teatro um lugar de descoberta e de produção de pensamento, é-o
também da complexidade, pois tem o potencial - que não existe em nenhuma
outra forma de arte - de substituir um ponto de vista único por uma multiplicidade
de outras perspectivas. O teatro pode efectivamente mostrar ao mesmo tempo
um mundo em várias dimensões, enquanto o cinema, ainda que procure desde
sempre o relevo, fica confinado a um único plano: "Le théâtre reprend des forces
et de l´intensité dès qu´il se consacre à créer cette merveille : un monde en relief"
(Brook 1992, p.30). Brook (op.cit.) refere um filósofo irlandês que falava da
théorie du point de vue changeant.
"Je me souviens d´un voyage à Dublin, à peu près au même moment. J´avais entendu parler d´un philosophe irlandais très à la mode dans les milieux universitaires. Je n´ai pas lu le livre qu´il a écrit, je ne l´ai jamais rencontré, mais je me souviens d´une phrase, citée par un inconnu dans un bar qui m´a frappé: il s´agissait de la théorie du <point de vue changeant>. Cela ne concernait pas un point de vue inconstant mais une exploration, comme avec certains types de rayons X, où le fait de changer de perspective donne l´illusin d´une densité. Je me souviens encore de l´impression que j´en ressentis" (Brook 1992,p.30).
Daí que Brook afirme que o processo de criação deve ajudar à emergência
de todas as correntes contrárias que estão na base de um texto. Os actores são
muitas vezes tentados a impor os seus próprios fantasmas, as suas próprias
teorias ou obsessões, daí que caiba ao encenador o papel de saber o que é
necessário encorajar e o que deve ser combatido, e o dever de "aider l´acteur à la
42
fois à être lui-même et à se dépasser pour qu´émerge une compréhension qui
dépasse les conceptions limitées de chacun" (Brook 1992, p.31). Depois de
algumas semanas de ensaios, tanto os actores como o encenador não são mais
os mesmos dado que o trabalho com os outros enriqueceu-os e abriu-lhes o
espírito. De facto, seja qual for o nível de compreensão a que cada um deles
chegou antes dos ensaios, estes ajudaram-nos a ver o texto de uma nova
maneira.
Nesta perspectiva, a intervenção do teatro poderá e deverá vir a ter um
papel privilegiado no reforço desses traços de união, no estímulo a todo o tipo de
trocas e de contaminação entre as áreas de conhecimento e na criação de
projectos de fronteira. É para nós claro que o espaço da criação teatral deve ser o
lugar onde, ao mesmo tempo que nos aventuramos no estudo e análise da
história do teatro, dos movimentos artísticos e da história das ideias e dos
movimentos sociais de que as artes são reflexo e produto, se confrontam os
resultados desse estudo com os da realidade actual, fazendo a ponte em
permanência entre o passado e o presente, entre a arte e as tecnologias, entre as
diferentes áreas do conhecimento.
Em quarto lugar há que afirmar o espaço da criação teatral como um
espaço de invenção por excelência onde é possível criar cenários, realidades
virtuais, futuros possíveis. Jacob (1985) afirma que se podem olhar determinadas
actividades humanas, as artes, a produção de mitos ou as ciências naturais,
como desenvolvimentos culturais numa mesma direcção, como actividades que
apelam para a imaginação humana e que operam pela reconstrução de
fragmentos da realidade a fim de criar estruturas novas, situações novas, ideias
novas. Hoje o homem pode inventar e cometer erros sem ter de esperar o
nascimento duma nova geração para julgar o resultado das suas criações, pois
graças à relação entre o mundo real e o mundo imaginário, pode construir
hipóteses, criar modelos, testar pelo raciocínio ou pela simulação – sem ter
necessariamente de traduzir imediatamente as suas criações em realidade.
Pode-se pensar por símbolos, analogias, metáforas, utilizar um modo indutivo de
reflexão e uma modificação na representação do mundo; pode-se mesmo
provocar modificações no mundo físico, como mostram os efeitos dos
desenvolvimentos tecnológicos. Como lembra Rosnay (1995), referindo-se à
divisa da sociedade de informação americana Xerox, “ la meilleure façon de
prédire ce que sera demain, c´est encore de l´inventer” (p.18).
43
O teatro assume-se hoje, de acordo com Banu (1991), cada vez mais como
um espaço de encontro onde os seres e as raças não estão em conflito, mas em
oposição, e é daí que vem a sua riqueza. O teatro é parecido com uma praça
pública onde elementos discordantes nos obrigam a sentir o que é em vias de se
desenvolver, é um espaço de encontro e de jogo onde as inquietações e as
problemáticas que atravessam o grupo, enquanto realidade individual e social,
emergem com toda a força, criando condições para responder a algumas das
perguntas que atravessam as reflexões dos homens da ciência sobre a sua
(im)possibilidade de conhecer a totalidade da realidade, pois, como afirma
Cazenave (1987), " se a ciência abandona a sua pretensão de tudo poder dizer
sobre o mundo, então surge o problema: como se descobre o que a ciência não
pode dizer".
Enquanto criadores e jogadores de ficção os homens de teatro são também
actores do desenvolvimento, inventores de múltiplas realidades virtuais que se
tornarão realidade na medida em que os actores do quotidiano as quiserem
integrar no seu real. Como afirma Augusto Boal (1990), o teatro ou a teatralidade
é esta capacidade ou esta propriedade humana que permite ao homem de se
observar em acção, em actividade: "L´autoconnaissance ainsi acquise lui permet
d´être sujet (celui qui observe) d´un autre sujet (celui qui agit): elle lui permet
d´imaginer des variantes de son action, d´étudier des alternatives" (p.21-22).
O que implica em quinto lugar uma nova metodologia de criação cuja
estruturação passa pela abertura de espaços onde cada pessoa tenha as
condições essenciais para ser actor de corpo inteiro do processo, para fazer parte
do processo de criação, para inventar. Para Brook (1992) há um mal entendido
no teatro de hoje ao se acreditar que o processo teatral passa por duas etapas -
fabricar e preparar e este mal entendido diz respeito tanto ao trabalho do autor
dramático, como ao do decorador ou do encenador. Brook fala então da imagem
da preparação de um foguetão para viajar para a lua: passam-se meses e meses
a preparar a descolagem , e depois um dia...Bang!
"La route doit être balayée, rapidement ou lentement, ça dépende de son état. (...) Le vol est d´une nature bien différente. De la même manière, préparer un personnage est à l´opposé de la construction - il s´agit de démolir, de retirer brique après brique tout ce qui dans les muscles, les idées et dans les inhibitions de l´acteur se dresse entre lui et le rôle, jusqu´à ce qu´un jour, une grand bouffée d´air, le personnage envahisse chacun de ses pores."(Brook 1992, p. 21)
44
É no desporto que encontramos, segundo Brook, as melhores metáforas
para ilustrar a representação teatral. No desporto ninguém confundiria o treino
antes do jogo com o desenrolar do próprio jogo. Existem regras do jogo que,
tanto aí como no teatro, são apreendidas de maneira rigorosa e onde cada um
aprende o seu papel. Mas este cenário cheio de directivas não impede a
improvisação se há ocasião para isso. Logo que a representação começa, o actor
penetra na encenação: ele também se encontra completamente implicado,
improvisa segundo as directivas estabelecidas e, como o atleta, entra no domínio
do imprevisível. Assim tudo fica aberto e para o público o acontecimento
produziu-se nesse momento preciso: nem antes nem depois. A preparação
rigorosa não impede o desenvolvimento inesperado da matéria humana que é o
jogo em si. Sem preparação, o acontecimento seria fraco, um borrão sem
significado. Contudo, a preparação não é a forma estabelecida. A forma exacta
revela-se no momento mais quente, quando o jogo começa. É o único momento
da criação em que toda a reflexão é dirigida para o exterior: "J´ai découvert qui
l´intérêt veritable se trouve ailleurs, dans l´événement lui-même, à chaque
moment, inséparable de la réaction du public" (Brook 1992, p.28).
Como escreve Barret (1991, p. 46), a exploração consiste em apresentar o
problema ao mesmo grupo, sem ideias a priori, sem induzir as respostas, antes
multiplicando a forma das perguntas para obter o maior número de respostas
possíveis. O jogo das hipóteses que o pedagogo pode fazer permite prever as
respostas clássicas, mas também toda uma outra espécie de respostas,
compreendendo nestas últimas as inesperadas ou as que parecem responder a
outras perguntas.
Uma perspectiva de que Brook (1992) também fala e que exemplifica, para
mostrar que no seu método de trabalho não há nenhum segredo, a partir do seu
trabalho com a Tempestade de Shakespeare, cujo texto não chega a abrir,
apesar dos actores terem chegado com um exemplar debaixo do braço. Num
primeiro momento trabalharam o corpo e depois a voz, com um conjunto de
exercícios cujo único objectivo era o de desenvolver a sensibilidade , de partilhar
uma consciência que se perde muitas vezes,
"et qu´il faut constamment renouveler, et de rassembler des individus séparés afin qu´ils constituent une équipe vibrante et sensible. Le besoin et les règles sont les mêmes que ceux du sport, si ce n´est qu´une équipe d´acteurs doit aller plus loin: non seulement les corps, mais aussi les pensées
45
et les sentiments doivent tous entrer en jeu et rester en harmonie." (pp. 230-231).
Depois de alguns dias começaram a trabalhar palavras, palavras separadas,
depois cadeias de palavras, e, enfim, frases isoladas, para tentar que cada um
consiga entender a natureza particular da escrita de Shakespeare. A experiência
ensinou a Brook que os actores cometem sempre o erro de começarem o seu
trabalho por discussões intelectuais, quando para o encenador o espírito racional
não é um instrumento de descoberta tão poderoso como as mais secretas
faculdades intuitivas. O que é preciso evitar, como afirma na sequência deste
raciocínio, é que o encenador faça uma demonstração da forma como quereria
ver representar o papel, o que força o actor a assumir o peso desta construção
que lhe foi imposta e que lhe é estranha e a guardá-la fielmente, pois, na
perspectiva do encenador, o actor deve ser sempre estimulado de forma a que no
fim do processo tenha encontrado a sua própria via.
Para Mnouchkine (1989) o começo do trabalho inicia-se pelo jogo. Segundo
a encenadora, nunca há trabalho à mesa, lê-se a peça uma vez e no dia seguinte
já se está a trabalhar no tapete. Lê-se o texto para o ouvir integralmente e é tudo,
pois para a encenadora não é pela leitura duma cena ou pela sua análise
intelectual que podemos compreendê-la, mas antes pela exploração das paixões
dos personagens. No mesmo sentido se situa Brook (1992) que afirma que nos
ensaios se deve construir um clima que crie nos actores uma atitude de liberdade
para proporem tudo o que possam trazer à peça:
"C´est pour ça qu´au premier stade, tout est ouvert. Je n´impose absolument rien. En un sens, c´est diamétralement opposé a la technique qui veut que le premier jour, le metteur en scène expose le sujet de la pièce et quelle est son approche. Je procédais ainsi il y a des années. Par la suite je me suis rendu compte que c´était le pire des points de départ."(p.16).
Para Mnouchkine (1989), os actores podem experimentar todos os personagens
durante várias semanas ou meses sem distribuição estabelecida, onde cada um
se mascara e se maquilha, onde cada grupo se encontra e se prepara para partir
à aventura, para explorar: "On ne travaille la pièce dans l´ordre. Cela ne vient que
beaucoup plus tard." (Moscoso 1989, p. 27).
Bob Wilson trabalha por etapas. Trabalha em atelier durante alguns dias
para instalar um clima que caracterizará a encenação e ajudará a tomar
46
conhecimento com os Kids. Depois regressa para trabalhar um pouco mais de
tempo e, finalmente, voltando quatro meses depois para durante um mês
preparar as coisas finais e estrear a peça: "Donc, ils auront eu plusiers mois pour
laisser leus esprit méditer sur ce type de travail, réflechir, s´intégrer au processus
et vivre un peu ce que nous faisons au lieu de tout faire en un seul calendrier de
répetititions continu “ (Wilson 1994, p.13). Quando os primeiros elementos da
peça, os actores, estão reunidos, Bob Wilson começa por criar uma série de
movimentos muito precisos, ritmados por baquetas de percussão: observa os
actores a evoluir no espaço, desloca-os, cria para eles um gesto ou deixa-os
encontrá-lo, num processo muito instintivo. Wilson trabalha independentemente o
texto e as acções de forma a que não corram o risco de se ilustrarem
mutuamente e que não haja uma relação de dependência.
"Le texte ne suit pas toujours les actions pas plus que les actions ne vont suivre le texte. C´est pourquoi j´ai tendance à les travailler séparément pour qu´ils ne risquent pas de s´illustrer mutuellement, qu´ils ne soient pas en rapport de dépendance. L´un comme l´autre peut allors développer sa propre indépendance et sa propre force en tant qu´élément autonome." (Wilson 1994, p.13)
O desejo de Bob é que cada comediante atinja uma certa perfeição no gesto e no
texto, mas que deixe uma total liberdade de sentimentos: "Le point primordial du
théâtre de Bob, c´est l´égalité des droits entre tous les éléments: texte, lumière,
son, acessoires, acteurs."(Muller 1992, p.16). Isto leva muita gente a perguntar se
no teatro de Wilson não se deverá falar de um processo de fusão das artes ou da
perspectiva de arte total wagneriana. A esta questão responde Guy Scarpeta
(1992) afirmando que
"Wilson sait se situer - comme beaucoup de grands créateurs d´aujourd´hui - à l´endroit où les arts se confrontent. Dans les zones de intersection. Là ou chaque art pose des questions aux autres. Là ou chaque art est mise en demeure de répondre à la provocation, ou au défi, qu´un art lui lance. Cela n´a rien à voir avec l´<art total> wagnérien."(p.18)
A etapa essencial - fixar a forma da peça - deveria acontecer o mais tarde
possível, nunca antes do primeiro ensaio. Todos os encenadores conheceram
esta experiência: no último ensaio o espectáculo parece coerente, mas na
presença do público a coerência desfaz-se. Ou então, inversamente, durante a
sua estreia um bom trabalho pode encontrar a sua coerência. Mas quando a peça
47
tiver vencido a prova de fogo do público, ela não deixará de estar em perigo -
porque uma representação deve em cada dia encontrar a sua forma de novo.
Nesta abordagem, o encenador tem um papel primordial e frequentemente
enganamo-nos sobre a sua função pois pensamos que é um arquitecto de interior
que pode fazer alguma coisa a partir de qualquer peça desde que lhe dêem
suficiente dinheiro e objectos para pôr lá dentro. Na verdade, nada se passa
assim, dado que o seu trabalho "a consisté à repérer les indications, et les trames
cachées de la pièce. S´il n´y a rien au départ on ne peut pas le faire."(Brook 1992,
pp.17-18). O encenador tem necessidade de uma única ideia - que ele deve
encontrar na vida e não na arte -, fruto da sua interrogação sobre o que traz o
acto teatral ao mundo, a sua razão de ser. Evidentemente que isso não pode vir
de um acto intelectual:
"Trop souvent, le théâtre engagé s´est noyé dans le remous de la théorie. Il est possible que le metteur en scène passe sa vie à chercher une réponse, son travail nourrissant sa vie, sa vie nourrissant son travail. Mais le fait est que jouer est un acte, que cet acte est une action, que la place de cette action est la représentation, que la représentation est dans le monde, et que toutes les personnes présentes se trouvent sous l´influence de ce qui est représenté."(Brook 1992, p.19)
O encenador deve-se deixar guiar pelo que Brook (1992) chama um
obscuro pressentimento, quer dizer, uma certa intuição, poderosa mas vaga, que
indica a primeira silhueta, a fonte a partir da qual a peça lhe fala. O que o
encenador tem necessidade de mais desenvolver é um sentido de escuta. Dia
após dia, ao mesmo tempo que intervém, cometendo erros ou olhando o que se
passa à superfície, deve escutar o interior, escutar os movimentos secretos do
processo escondido:
"C´est au nom de cette écoute qu´il sera constamment insatisfait, qu´il continuera à accepter ou à rejeter jusqu´à ce que tout à coup son oreille intérieure entende le son qu´elle espérait, et que son oeil voie la forme qui attendait pour apparaître. Pourtant à la surface toutes les étapes doivent être concrètes, rationnelles - les questions de visibilité, de cadence, de clarté, d´énergie, de musicalité, de variété, de rythme, tout cela a besoin d´être observé d´une façon strictement pratique et professionnelle. Le travail est le travail d´un artisan, il n´y a pas de place pour la fausse mystification, pour les méthodes magiques contrefaites. Le théâtre est un métier artisanal. L´écoute est d´un autre ordre. Un metteur en scène travaille et écoute. Il aide les acteurs à travailler et à écouter."(Brook 1992, p.240)
48
O encenador provoca sem parar o actor, estimula-o, questiona-o e cria a
atmosfera para o ajudar a cavar, remexer e explorar: "Il parvient ainsi à lui seul
mais aussi avec l´aide des autres, à retourner l´édifice tout entier de la pièce. Ce
faisant, on peut voir émerger des formes qu´on commence à reconnaître". No
último estádio dos ensaios, o trabalho do actor "se charge d´une zone d´ombre,
qui est la vie souterraine de la pièce, et l´illumine; et pendant que l´acteur illumine
la vie souterraine de la pièce, le metteur en scène est à faire la distinction entre
les idées de l´acteur et la pièce elle-même."(Brook 1992, p.p. 16-17)
Daí que se defenda no teatro que a forma final das coisas deve ser definida
o mais tarde possível. Da mesma forma que os cenários, os fatos, as luzes
encontram naturalmente o seu lugar a partir do momento em que nos ensaios
algo de verdadeiro começa a existir, pois é somente nesse momento que
podemos dizer de que música, de que forma e de que cor temos necessidade. Se
se concebem estes elementos demasiado cedo, se o compositor ou o cenógrafo
desenvolverem as suas ideias antes dos ensaios, então estes tornam-se um
fardo para os actores e podem facilmente "étouffer leurs intuitions toujours si
fragiles lorsqu´ils font de recherches en profondeur”. (Brook 1992, p.329). Por
outro lado, os cenários, os fatos ou as luzes não podem fazer grande coisa
isioladamente, pois só o actor é capaz de reflectir as correntes subtis da vida
humana. É um processo circular, onde no princípio há uma realidade sem forma,
e no fim, quando o círculo se fecha, "la même réalité peut à nouveau apparaître
tout à coup - saisie, canalisée et digérée - à l´intérieur d´une assemblée de
participants qui communient, arbitrairement divisés en acteurs et spectateurs"
(Brook 1992, p.33). É então o momento em que a realidade se tornará concreta e
viva, o momento em que o verdadeiro sentido da peça aparecerá.
Este processo é perfeitamente compreensível quando percebemos como é
que o problema da construção de um espaço cénico se colocou para Peter Brook,
um criador que se começou, primeiro que tudo, a interessar pelos aspectos
visuais do teatro, que estava fascinado pelas luzes, os sons, as cores e os fatos,
e que adorava jogar com as maquetas e fabricar cenários. A cena era, para ele,
verdadeiramente um mundo em si, separado do resto, um mundo de ilusão no
qual o público penetrava e onde o trabalho do encenador consistia na criação de
imagens que permitissem ao espectador nele entrar. Quando um dia teve de
destruir um cenário, um objecto lindíssimo e extremamente complicado mas
totalmente inútil, começou a ver em que é que o teatro era um acontecimento e a
aperceber-se de que esse acontecimento não dependia duma imagem ou dum
49
contexto particular, mas sim da intensidade da presença do actor e da relação
que se criava com o público. A experiência que Brook então desenvolveu sobre a
intensidade da presença do actor em cena, colocando, durante quatro a cinco
minutos, um homem sentado na cena e de costas para o público, mostrou-lhe
que o mais importante do acto teatral é a matéria humana e que é a partir da
matéria humana que tudo se pode construir.
E em sexto lugar é fundamental a existência de uma nova organização
do espaço no interior do teatro. A criação teatral pode e tem condições para
incentivar uma reflexão profunda sobre a estruturação de uma organização
espacial, de um espaço/laboratório que seja um incentivo e um convite ao
trabalho de pesquisa, ao encontro e à realização de projectos conjuntos de
especialistas das diferentes áreas artísticas, projectos esses que sejam capazes
de, ao mesmo tempo, desafiar os especialistas das outras áreas do saber e de
tornar este espaço num centro de produção de pensamento. Há efectivamente
um grande desafio que hoje tem que ser colocado aos arquitectos, aos
urbanistas, aos decoradores/arquitectos de interiores, aos engenheiros de
materiais, entre outros, para que sejam capazes de construir edifícios que sirvam
a dimensão do humano, encontrando soluções para que o conceito de leveza,
que os tecnólogos da comunicação tão bem souberam concretizar, se possa
aplicar à estrutura dos edifícios e das cidades que hoje, em vez de serem
espaços de libertação das energias e capacidades dos seus habitantes, são
realidades extremamente pesadas e bloqueadoras de toda a actividade e
realização humanas.
O teatro pode ser, efectivamente, uma referência significativa para este
processo de reflexão sobre os espaços de vida e a sua organização de acordo
com e servindo a dimensão humana, pois o processo de criação obriga a uma
coerência dinâmica entre os vários intervenientes, implicando uma fusão entre a
dinâmica do espaço teatral e o movimento do corpo dos actores, bem como dos
seus impulsos e gestos. O espaço deve ser perspectivado e construído como
parte inteira e fundamental do espectáculo de teatro, como algo que está feito à
dimensão humana e que tem de servir e responder à globalidade do que se
passa em cena:
"Il faut alors travailler les valeurs spatiales comme le peintre travaille les couleurs. Réveiller le sens de chaque lieu. Eveiller à l´espace les sens. Suggérer et permettre les mouvements.
50
Aménager, transformer, c´est jouer: comme l´acteur joue son texte (l´interprète tout en le respectant), le scénographe joue l´espace du texte. Ainsi il offre au metteur en scène les instruments qui lui
permettent d´organiser ces jeux. (Luc Boucris 1992, p.9).
Fechado o ciclo das viagens permanentes e do cosmopolitismo, o que
acontece(u) em múltiplas áreas disciplinares com a emergência da necessidade
de se criarem redes internacionais, passado o período da abertura ao mundo e
ao outro, começa a sentir-se a necessidade, tal como aconteceu nos anos 60
com a abertura de laboratórios de experimentação teatral de que Grotowski é
uma referência (a ideia do laboratório está sempre presente nos grandes
investigadores de referência do teatro), de se instituírem espaços de
experimentação que sirvam de referência ao trabalho de um criador ou de um
conjunto de criadores. Depois destes terem representado em quase todo o
mundo, como refere Lepage em relação à sua experiência, de terem realizado
digressões com todos os espectáculos que quiseram e de terem levado ao limite
a vontade de ver outras experiências, de mostrar o seu trabalho, de trocar, é
chegado o momento de parar e procurar um espaço e um tempo de pesquisa e
“revenir avec toute cette somme de bagages, tout ce qu´on est allé faire ailleurs,
tout ce qu´on est allé prendre ailleurs, et essayer de structurer, de faire un travail
beaucoup moins éparpillé, beaucoup plus fouillé." (Borello 1994, p.86)
Em síntese, se nos anos sessenta havia um grande desconhecimento do
que se passava a nível internacional e pouca interpenetração das experiências, o
que poderia ter levado ao fecho e ao esgotamento dos projectos, hoje há um
movimento dos criadores de referência no sentido da abertura de centros de
experimentação que lhes permitam desenvolver duma forma mais continuada o
seu trabalho, permitindo-lhes fundar algo sólido. Como refere Lepage, na
consciência do perigo da tentação de fechar o trabalho de experimentação dentro
dos laboratórios, estes centros deverão estar sempre no interior de um
movimento que vive numa relação dinâmica entre o privado e o público, tendo
sempre a perspectiva de reflectir e pensar as coisas numa dimensão
internacional e mesmo mundial.
Mas o que serão estes centros e o que é que esses criadores querem que
eles sejam?
Para Bob Wilson (1992), o centro que fundou em Long Island, Nova Iorque,
deve ser um lugar de encontro onde criadores de todas as disciplinas (teatro,
dança, música, escultura, pintura, filme, vídeo, etc...) poderão trabalhar em
conjunto sobre projectos artísticos. Quando fala do Centro, afirma que aí
51
esperava poder trabalhar com estudantes, pessoas sem formação teatral ou que
não têm habitualmente a palavra no teatro, com gente vinda doutras disciplinas
como a antropologia ou a matemática. Projectava também "établir des liens avec
les universités et des lycées au niveau international"(Wilson 1992, p.54).
Para Lepage, a concepção é a mesma, no sentido em que quer que o seu
centro permita a pessoas de diferentes disciplinas trabalharem em conjunto,
referindo que "c´est un peu l´esprit de la Renaissance que j´essaie d´installer
avec ce lieu" (Borello 1994, p.82). Não se trata da apropriação de um lugar
tradicional de teatro, dependente dos constrangimentos da temporada teatral,
mas da criação de um espaço que, apesar de poder ser um lugar extraordinário
de produção, tenha como vocação primeira a pesquisa, e onde as produções
serão sempre resultado dessa mesma pesquisa.
Tanto para Lepage, como para Wilson, a construção do centro permitirá
estruturar duma forma mais continuada e sistemática as suas equipas
pluridisciplinares de criação, o que possibilitará o reagrupamento de um conjunto
de pessoas com quem já tinham trabalhado ao longo das suas produções. Para
Robert Wilson o seu interesse maior é trabalhar com jovens actores com quem foi
trabalhando ao longo destes anos, o que já acontecera numa criação de 1994
sobre "la femme douce" de Dostoiewski e que teve como primeiro espaço de
trabalho o centro de Long Island. A existência deste centro dar-lhe-á ainda a
oportunidade para "se remettre en question de l´autre côté dans la lumière, sur
scène, où il a beaucoup appris en jouant ses premières pièces. Une façon pour lui
de redevenir aux sources." (Chemin 1994, p.3) Quanto a Lepage e ao seu espaço
da caserna, ( o espaço era uma antiga caserna/quartel de bombeiros), a equipa
com a qual tem vindo a trabalhar é constituída pelos principais artesãos que o
acompanharam na maior parte das suas criações e respondem aos três eixos
principais que está a explorar: a música, com Robert Caux, que fez a música em
vários espectáculos de Lepage e que dirigirá um estúdio de som; a parte do
desenvolvimento visual será trabalhada por Jacques Colin com quem já
concebeu numerosas multi-images; o terceiro eixo está relacionada com a
entrada de Josée Campagnale, um especialista de marionettes que dirige um
projecto no Québec e faz uma pesquisa muito especial ao nível da construção e
do questionamento sobre o que são e qual o papel que hoje têm as marionettes.
Robert Lepage retoma aqui a ideia da Renascença quando fala da
complementaridade do espaço e de que as pessoas não são unicamente artistas
mas também artesãos, uma ideia que lhe é muito querida, dando como exemplo
52
Robert Caux que é tão bom engenheiro de som como músico e de Jacques Colin
que é tanto artista visual como técnico da imagem.
Ao nível da sua estrutura de organização nós vamos encontrar,
principalmente na definição do espaço/projecto do centro de Lepage, uma
estrutura flexível e modular com interpenetrações entre as várias áreas de
trabalho. Os três laboratórios, imagem, som e marionettes, são adjacentes e dão
para um quarto lugar que é a sala de representação e de ensaio, muito flexível e
modular. O estúdio de som, por exemplo tem dimensões onde se pode fazer uma
gravação, mas, se se quiser registar um coral, pode-se abrir a divisão que dá
para a grande sala que é sonorisada, de maneira a que se possa organizar um
mega-estúdio. O mesmo sistema pode ser aplicado em relação ao estúdio de
imagem. Quando se está a representar as funções invertem-se e os estúdios são
utilizados como lugares de régie.
Uma outra dimensão destes novos espaços de laboratório é a de se
afirmarem como espaços de cruzamento e de encontro pois, como afirma
Lepage,
"nous voulons faire de ce lieu un carrefour et il est important de créer des espaces de rencontre intéressants. <Como também no domínio da reflexão e do pensamento, de troca e confronto de ideias e aí também com as ideias de Lepage, que sonha> "faire de la tour <é a torre do edifício que servia aos bombeiros para vigiarem e observarem os incêndios> une sorte de centre de la connaissance, une bibliothèque de livres d´art... (...) <Na perspectiva de abertura aos novos criadores pensa-se este espaço como> un endroit où nous pouvons recevoir un artiste de l´extérieur qui voudrait venir travailler, lui donner tous les moyens et créer un événement autour de son passage."(op.cit. p.84)
O reconhecimento da necessidade de um discurso sobre o espaço faz-nos
colocar à escola a mesma questão que Luc Boucris (1992) levantava sobre a
cidade quando dizia : « A sa façon la ville ne désire-t-elle pas s´organiser, elle
aussi, comme un théâtre? » (p.9) E é ao colocarmos a questão de que à sua
maneira a escola não desejaria organizar-se como um teatro, que pensamos que
as práticas teatrais e a organização deste espaço de interface, criam as
condições ideias para ligar a escola à comunidade e aos vários parceiros sociais
que intervêm no exterior da escola.
53
Num processo que deve estar integrado, em sétimo lugar, no interior de
um projecto cultural, de contaminação das práticas e das culturas, pois todos
eles desenvolvem a sua prática para além das fronteiras, sejam elas das
pessoas, das artes e das tecnologias, ou dos países, e fazem-no numa
perspectiva intercultural, de intersecção e confluência de culturas, onde o limite
de país ou de região não existe. As diferentes tendências interculturais que se
podem observar actualmente no teatro mundial estão baseadas na ideia de que
uma cultura mundial pode emergir a pouco e pouco, uma cultura mundial onde
participarão as mais diferentes culturas e onde se conseguirá respeitar e dar valor
à especificidade de cada uma:
"La conception plutôt utopique d´une culture mondiale, vers laquelle semble se diriger le rapport productif du théâtre avec des éléments de cultures théâtrales étrangères, est considérée et imaginée comme la tâche commune des avant-gardes théâtrales des cultures les plus diverses" (Ficher-Litchte s.d.,p.p.24-35).
É para a sua realização que se direccionam as tendências interculturais do teatro
mundial.
Esta dimensão encontramo-la no trabalho de Peter Brook (1992), para
quem cada cultura exprime uma parte do nosso atlas interior e um ser humano
plenamente desenvolvido incluiria uma multiplicidade de culturas. Brook fala
desde o início do seu teatro internacional que tem como finalidade articular uma
arte universal que transcenda o nacionalismo estreito, numa tentativa de realizar
a essência humana. O facto de os actores de Mahabarata representarem
dezanove nações é muitas vezes referido como um sinal metafórico e físico da
voz internacional do teatro: "La vérité est globale, a déclaré Brook, et la scène est
un endroit qui invite à jouer au puzzle." (Carlson s. d., p.82). A este nível também
Wilson (1994), considerado um globe-trotter da criação contemporânea e
representante de uma prática teatral que se baseia cada vez mais numa
estratégia de descoberta de uma área de investigação de tipo novo, considera
que, depois de vinte e cinco anos de trabalho desenvolvidos nesta perspectiva
intercultural ou de confluência, o seu vocabulário actual e a sua prática são
produto de um conjunto de ideias que têm origem e pertencem às diferentes
culturas que contactou e onde trabalhou, e é isso que, na perspectiva do autor,
nos enriquece culturalmente.
54
"Et nous ne devons jamais tomber dans l´isolationnisme, jamais nous ne devrions polariser notre regard sur notre propre culture. Il faudrait que nous prenions conscience que...Le Théâtre est une forme qui unit idéalement toutes sortes de voix douées de parole, sans considération d´ordre économique, politique, social, culturel. C´est un creuset, un lieu de rencontres, et s´il y a une chose qui va résister à l´épreuve du temps, de l´Histoire, ça sera l´Art, non...?"(p.12)
Daí que a tudo isto esteja subjacente a ideia de projecto cultural que para
Brook(1992) passa pela defesa daquilo a que chama a "terceira cultura", a única
que nos permite atingir a verdade de que frequentemente fala. A cultura
entendida como um misterioso elemento que, despertando-nos por instantes,
permite abrir momentaneamente essa percepção que geralmente está confinada
no interior de invisíveis limites. Considerando que só os actos culturais podem
explorar e revelar as verdades vitais, Brook afirma a terceira cultura como uma
culture des liens que tem a força para contrabalançar a fragmentação dos nossos
dias e descobrir relações que foram submergidas ou perdidas entre o homem e a
sociedade, entre uma raça e a outra, entre a humanidade e a máquina, entre o
visível e o invisível, entre as categorias, as línguas e os géneros, elemento
misterioso que, nos momentos em que nos desperta e abre, possibilita o encontro
com essa verdade que nós de outro modo dificilmente poderíamos alcançar. Para
Brook, a escolha não se processa no interior da dualidade entre uma cultura
oficial que é suspeita, pois toda a grande colectividade tem necessidade de se
vender e todo o grande grupo tem também necessidade de se promover através
da sua cultura, e a cultura dos artistas individuais, fechados sobre si próprios e
com um sentido profundamente interiorizado para obrigar os outros a observar e
a respeitar as criações do seu próprio mundo interior. Uma e outra, porque
resultantes de visões parciais e expressão de interesses inacreditavelmente
poderosos, são incapazes de se exprimir como uma totalidade. Esta a razão
porque ele perspectiva o que chama a "terceira cultura", uma cultura que é
"sauvage, hors de portée, que l´on pourrait assimiler au Tiers-Monde - quelque chose qui pour le reste du monde, est dynamique, indiscipliné, qui doit sans cesse être adapté dans une relation qui ne peut jamais être permanent"( Brook 1992, p.72).
Uma terceira cultura que procura a verdade e que tem consciência que a partir do
momento em que se transforma em programa toda a política cultural perde o seu
poder, pois quando uma forma se fixa perde o seu poder e a vida escapa-lhe. De
55
facto, para Brook, as mais fortes expressões artísticas e culturais de hoje são o
contrário das apreciações amáveis que os políticos, os dogmáticos e os teóricos
dedicam à sua cultura.
Assumindo a prática teatral no quadro deste conjunto de pressupostos que
atravessam as obras actuais da produção teatral, pensamos estar a criar
condições e a ultrapassar o obstáculo da fragmentação do discurso sobre a
cultura e sobre a acção cultural, dando um sentido à cultura como algo que
integra tudo o que diz respeito ao indivíduo. “Même si le culturel envahit de plus
en plus le discours économique et politique, la moralisation demeure au niveau du
discours et reste étrangère à la pratique sociale.” (Chasle 1985, cit.in Dupuis
1991, p.14).
56
3 - Um outro Teatro para uma outra Escola
“Eu espero. Espero não sei quem, não sei o quê, não sei onde, não sei quando; eu espero o momento fortemente improvável onde uma centelha de beleza fará brilhar o meu papel. Acontecimento inventivo, a origem tem lugar e tempo no presente vivo”.
Michel Serres 1993
Ao concretizarmos o nosso conjunto de propostas que, esperamos, possa
ajudar a responder a algumas das questões centrais com que se confronta o
ensino do teatro e das artes em Portugal, parece-nos importante referir que este
é o resultado de várias influências e práticas, nomeadamente daquelas que estão
referenciadas no quadro histórico explicitado, assim como as questões teóricas e
as experiências de referência a nível internacional que tivemos oportunidade de
enunciar e que foram e são determinantes para o esboço das propostas que
apresentamos. Em termos genéricos as perspectivas que apresentamos para a
integração do teatro na escola constituem em grande medida um projecto que se
quer de continuidade com todo o processo de implantação de uma vertente de
Ensino Artístico no Sistema Educativo Português, sendo uma consequência
normal do percurso e das reflexões que aqui estão descritas, onde as roturas
assumidas, ainda que tenham que ter uma certa radicalidade, são aquelas que
resultam do trabalho desenvolvido e da necessidade urgente de dar um sentido
de eficácia àquilo que se faz.
Neste capítulo definiremos, em primeiro lugar, os sete princípios que
enquadram a integração do teatro no sistema educativo; num segundo
momento, debruçar-nos-emos sobre as próprias práticas; em terceiro lugar
referiremos um modelo possível para uma estrutura de criação que sirva de
referência ao trabalho que se desenvolve nas escolas; finalmente, num terceiro
momento, procurar-se-á definir de que forma o teatro se pode assumir como
agente do desenvolvimento regional e local e de enriquecimento da vida
quotidiana das pessoas, numa dimensão capaz de criar condições efectivas
para que haja um público cada vez mais consciente e participativo.
57
Os Sete princípios enquadradores
"il n´est plus question de s´opposer pour savoir s´il faut commencer pour changer les structures pour changer l´homme ou pour changer l´homme pour que les structures changent. Il faut, si on croit au changement, changer ce que l´on peut, simultanément, et dans toutes les directions à la fois"
Gisèle Barret 1981
O desenvolvimento do trabalho, nomeadamente no aprofundamento da
análise dos projectos e das práticas existentes no terreno e da sua
contextualização ao nível temporal e histórico, permitiu-me, por um lado,
aprofundar e dar corpo a certos pressupostos que já vinham sendo enunciados
desde o princípio, e, por outro, abrir novas perspectivas de intervenção que o
aprofundamento do trabalho no terreno exigia. O cruzamento destes dados com
as referências que fomos integrando no nosso quadro teórico permitiu enquadrar
e reforçar as dimensões de intervenção já definidas, assim como justificar o
lançamento das novas perspectivas.
É assim que ao nível dos princípios foram ganhando cada vez mais
consistência as três dimensões que desde sempre foram entendidas como
estruturantes: a pessoa como centro de todo o processo; a escola como espaço
privilegiado onde tudo acontece e a que é urgente dar um outro sentido; a
cultura como ideia unificadora capaz de responder ao espartilhamento cada vez
maior do conhecimento. O mesmo aconteceu com a percepção que se tinha de
que todo este processo obrigaria a questionar a organização espacial das
escolas, a sua arquitectura, e a criar uma dinâmica de permanente articulação
entre o dentro e o fora da escola, entre as estruturas de criação artística e a
formação. Onde se deu a grande mudança foi ao nível do sentido último das
coisas, na definição da intervenção do teatro enquanto despoletador da
capacidade de pensar e de inventar de cada participante e na necessidade de
constituição de equipas multidisciplinares que dessem suporte a esse sentido,
equipas que não integrassem só as áreas artísticas, mas que introduzissem
também as ciências e a filosofia, tornando o processo de criação numa efectiva
aventura do conhecimento.
No interior deste quadro, e tendo em conta que nos confrontamos com uma
estrutura escolar bloqueada e sem capacidade de incentivar a emergência de
58
uma forma de pensamento complexa e de perspectivar um outro quadro de
referências onde a invenção e o sentido estético sejam capacidades centrais de
cada pessoa, é necessário e urgente clarificar que o teatro ao intervir na escola
só o deve fazer se se assumir claramente como um elemento de mudança. Uma
ideia de mudança que foi claramente explicitada na análise que Eduardo
Lourenço fez, em 1980, sobre o Plano Nacional de Educação Artística proposto
por Madalena Perdigão, onde defendeu que se a institucionalização de um
projecto de ensino artístico fosse levada às últimas consequências isso implicaria
uma revolução de todo o outro ensino. Também Nóvoa (1992) defende a ideia de
romper definitivamente com uma lógica curricular disciplinar como algo urgente e
radical que deve intervir ao nível da forma de organização dos espaços e dos
tempos escolares. Este mesmo sentido de mudança é também referido nos
pressupostos do programa da Oficina de Expressão Dramática II, 1992, onde se
afirma que o teatro se deve assumir como um espaço privilegiado para o
lançamento de práticas e de projectos capazes de ajudar a inventar uma outra
escola, de romper barreiras entre os vários saberes, de ligar a arte e a ciência e
de lutar pela abertura de espaços de experimentação no interior da estrutura
escolar.
Neste quadro é natural que se assuma que a estruturação de um projecto
de formação artística não possa, no nosso ponto de vista, limitar-se a integrar e a
adaptar-se a modelos de estruturas como as que actualmente existem nas
escolas, sabendo-se que estas já não correspondem às necessidades de
formação do nosso tempo, pondo em causa a própria natureza do acto artístico,
enquanto espaço de rotura, de criação do novo, de ficção do futuro. As artes,
enquanto actividade onde é potenciada e ganha forma a parte mais sensível da
sociedade, podem, devem e têm de agir como instrumentos privilegiados de
inquietação e mudança. Daí que, no contexto do nosso trabalho, tivéssemos
perguntado à partida de que forma as artes poderiam ser um instrumento que
ajudasse a romper com uma escola cada vez mais fechada e compartimentada,
uma escola que é cada vez mais um grande caixote onde se vão acrescentando
novas divisões disciplinares, de que forma as práticas teatrais poderiam ser um
instrumento privilegiado para a criação de pontes entre as pessoas, os espaços e
as diferentes áreas do conhecimento.
Com esta questão estávamos a reforçar a ideia que a intervenção das
artes nos projectos de formação deve corresponder a uma estratégia global, tal
como já o tínhamos afirmado em 1986 aquando do 3º Encontro Internacional de
Expressão Dramática, onde assumimos que cada vez mais, e a diferentes níveis
59
da prática social, as respostas e os projectos teriam de ser assumidos como
parte integrante de um projecto global, de um todo, um projecto capaz de romper
com as fronteiras entre a escola e a comunidade, entre as diferentes disciplinas e
áreas do saber. Uma ideia de projecto global que o próprio sistema sempre
combateu, como aconteceu, por exemplo, em finais dos anos 80, com o
lançamento quase simultâneo de projectos contraditórios, um que tinha uma
intervenção predominantemente centrada na escola (projecto A Escola Cultural),
outro, onde a intervenção dominante vinha do exterior da escola, dos artistas (A
Cultura Começa na Escola).
No fundo, o que propomos é um projecto de intervenção capaz de contribuir
para a emergência de um novo quadro de referências no interior da escola, o
que, na nossa perspectiva, implica e obriga a dotar a estrutura escolar de
condições que a potenciem enquanto realidade que está centrada no
desenvolvimento da pessoa e das suas estruturas do pensamento, a ter
uma matriz eminentemente cultural, onde as múltiplas potencialidades do
teatro, tornam o seu papel muito mais efectivo e determinante. O teatro surge
assim mais como espaço de interface do que como área disciplinar, numa
dinâmica de intervenção que será suportada pela constituição de equipas
multidisciplinares, num processo que, ao assumir intervir no interior da
contradição e num espaço cheio de fronteiras, com o objectivo de as romper e de
criar ligações entre as várias disciplinas e áreas do saber, vai obrigar à
emergência de uma nova organização da arquitectura escolar e a uma
articulação permanente entre a escola e a comunidade, entre os espaços de
criação e os espaços de formação.
Uma escola centrada na afirmação da pessoa
“A Pedagogia por Objectivos enquadra cada vez mais o desenvolvimento intelectual num laboratório artificial e abstracto que esquece (ou recusa?) tudo o que está vivo, ondulante e diverso. Daí que haja que fazer a apologia de uma pedagogia que defenda a vida na escola, onde os passageiros são considerados como seres humanos na sua globalidade e não como cabeças para encher e marcar. Uma pedagogia da vivência que se arrisca a responder às urgências do momento, sobretudo se são expressadas por estudantes implicados e motivados para manifestar-se sem medo à divergência e à diferença ".
Gisèle Barret 1991
60
Trazer a pessoa de novo para o centro da realidade e das nossas
preocupações é um dos grandes objectivos da proposta aqui em construção,
uma proposta onde cada pessoa pode libertar a subjectividade que faz parte da
sua história íntima, entrando, com a afirmação da interioridade e da
subjectividade, noutra dimensão da existência, onde o foco da realização se
dirige preferencialmente para a afirmação dos recursos íntimos do ser humano: a
paixão, a imaginação, a consciência.
No fundo, quando dizemos que as práticas artísticas e teatrais devem pôr
as pessoas no centro dos seus projectos, queremos dizer que no teatro se
devem desenvolver estratégias capazes de ajudar a formar pessoas abertas e
reflexivas, pessoas capazes de encontrar a simplicidade na complexidade e de
explicar as grandes questões a partir de coisas simples. Enquanto espaço
privilegiado do sensível, onde a pessoa tem tempo e lugar para se descobrir e
afirmar em toda a sua dimensão, a arte, ou, mais concretamente, o teatro, deve
dirigir e potenciar os seus focos de intervenção para as dimensões sociais que,
em cada momento, separam mais cada pessoa de si própria, alargam os fossos
sociais entre aqueles que pensam e decidem e os que executam, deve ser o
espaço do encontro e da troca, o espaço da solidariedade e da mestiçagem por
excelência.
Procuramos uma escola e um mundo onde o homem seja o actor central e
a sua finalidade primeira e onde cada um tenha a possibilidade e o direito de
pensar, pois é na mutação da inteligência que é preciso trabalhar, promovendo
em cada um novos métodos de análise e de acção que os torne capazes de
responder à cada vez maior complexidade das estruturas, das organizações, dos
sistemas e das redes. Não podemos esquecer que a interdependência é mais
importante que o isolamento, a complexidade que a exclusão, e que o maior
obstáculo a qualquer mudança é provocado pela organização disciplinar do
conhecimento.
Estamos naturalmente a falar de uma escola capaz de pôr a pessoa no
centro da cena e de criar condições efectivas para a reconciliação de cada um
consigo próprio, com os outros e com o mundo, o que sabemos acontecer no
trabalho teatral que põe a nu o Ser e os seus possíveis e dá a ver o Outro na sua
diferença e nas suas riquezas insuspeitas. Um trabalho que obriga a uma
enorme disponibilidade dos homens de teatro que, em interacção com as
energias suplementares libertadas na representação dos conflitos, no canto e na
dança, no entusiasmo e nos risos, cria condições para que, numa hora, coisas
surpreendentes se possam passar, sem as quais muitos desconhecidos que se
61
encontram durante um curto momento nunca se relacionariam.
É este processo que permite e incentiva a descoberta e a afirmação da
pessoa e da sua inteligência sensível, uma pessoa com capacidade de pensar e
de inventar respostas rápidas, profundas e criativas às situações imprevistas com
que cada vez mais nos confrontamos, uma pessoa capaz de entender e intervir
no mundo e de ser um verdadeiro atleta da inovação e do futuro. Uma
perspectiva que implica, de cada um, uma atitude de não acomodação com o
que acontece no interior da normalidade, uma grande capacidade de inquietação
que leva permanentemente à procura de novas coisas, à procura das melhores
ideias e soluções para inventar um futuro melhor, um futuro e uma sociedade
onde cada um tenha direito à felicidade e possa ser feliz.
Capaz de incentivar a produção de pensamento
"O que mais me chama a atenção é o contraste entre os alunos que pensam que o tempo é demasiado grande e os professores que crêem que é demasiado curto. Uns aborrecem-se, enquanto outros, tal como o Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas, correm sempre atrás do relógio com a obsessão de ‘terminar o programa´”.
Gisèle Barret 1991
Hoje começa a afirmar-se uma tomada de consciência de que o défice
principal com que nos confrontamos a nível social é o do pensamento, da
inteligência, da capacidade de invenção de outros modos de vida, de um mundo
onde valha a pena viver. Começa-se também a estar consciente de que é neste
domínio que se desenham as primeiras diferenças sociais, com alguns, os
eleitos, a serem motivados desde meninos a desenvolverem a sua capacidade de
pensar, e os outros, a grande maioria, a serem convencidos de que não vale a
pena pensar porque não são capazes, porque têm falta de inteligência. Uma
inteligência que, tal como a imaginação, é um músculo que se treina desde
sempre, ou, então, atrofia-se e perde as suas funções vitais. O grande drama
social é que podemos passar uma vida inteira sem tomarmos consciência desta
incapacidade porque, por um lado, não é visível à vista desarmada, e, por outro,
no quotidiano somos muito pouco incentivados a ter ideias, a utilizar os
mecanismos do pensamento.
A consciência de que é necessário agitar os neurónios e pôr o cérebro a
funcionar e de que o teatro é um instrumento de excelência para o fazer, é algo
que há muito preocupa os pedagogos, tal como podemos constatar na situação
62
descrita em 1912 por Adolfo Lima, onde se refere a experiência de um aluno que
fora escolhido para representar um pequeno papel numa récita e que desde esse
momento melhorou o rendimento em todas as matérias, concluindo o autor que
com essa participação o cérebro dessa criança tinha sido sacudido, num
processo que regrediu logo que essa participação terminou. No mesmo sentido
está o raciocínio de António Sérgio, que considerava que as boas técnicas
pedagógicas como o teatro permitiam abrir o espirito das crianças, fomentar-lhes
a curiosidade, treiná-las no manejo dos livros de consulta, dando-lhes o domínio
do método de investigação experimental e tornando-as aptas a adquirir por si
próprias todos os conhecimentos de que necessitarem. Para António Sérgio, o
verdadeiro objecto da educação era a formação do espírito, o domínio das suas
possibilidades intelectuais, a noção e o treino dos bons métodos de pensar, o
desenvolvimento da curiosidade, e não o conhecimento de tal ou tal facto, pois os
conhecimentos devem servir para o exercício da inteligência e não a inteligência
para a aquisição dos conhecimentos. Hoje é um neurologista com o renome de
Alexandre Castro Caldas (2001) refere, numa carta ao jornal Expresso em que se
debruça sobre os novos programas de Português, que:
“A informação disponível parece apoiar a necessidade de confrontar os alunos com problemas complexos de forma a estimular as redes neuronais de funcionamento em paralelo que constituem a base biológica das competências culturais. Para além disso, é necessário saber fazer pontes eficazes entre as disciplinas, o que é de certo mais difícil” (p.22).
Este défice é, em grande medida, provocado pela divisão que a nível da
formação se faz cada vez mais entre as várias disciplinas, entre as diferentes
áreas do conhecimento. Efectivamente, quando a tendência deveria ser de unir e
não de separar, assistimos hoje nas escolas a uma cada vez maior fragmentação
do conhecimento, fragmentação resultante de uma pressão social e corporativa
que leva a que, não reduzindo nada do que já se foi acumulando no espaço das
escolas, se introduzam cada vez mais matérias que pretendem, mais do que
tudo, responder às necessidades de certos grupos sociais que vêem a escola
como o primeiro e o mais fácil terreno social e institucional para se implantarem,
para ganharem influência e importância social. Esta tendência de colocar na
escola cada vez mais matérias está a provocar um processo de saturação,
processo que tem levado a que, em vez de ensinar melhor, a escola esteja
empanturrada, cheia de gorduras, com as digestões atrapalhadas, sem tempo
para repousar ou vagabundear à procura de outras coisas, numa palavra, sem
63
tempo para pensar.
Actualmente confrontamo-nos com a ideia socialmente dominante de que é
à escola que cabem todas as responsabilidades e todos os desafios da
formação, o que tem levado a que se deixe instalar uma crescente
desresponsabilização social ao nível da formação das pessoas. Isto quando
todos sabemos que hoje a formação se faz dominantemente pela aquisição de
conhecimentos em diferentes fontes e a partir de múltiplas experiências, da
televisão à rua, da internet aos jogos de grupo no bairro, devendo a
responsabilidade da escola ser a de fazer a síntese, de ligar os vários saberes,
de transformar ou de passar a cada um a ideia de que o conhecimento é uno e
complexo e que a sua descoberta pode ser uma grande e aliciante aventura. Um
trabalho que na prática passa por criar condições para a emergência de uma
outra perspectiva, de um outro quadro de referências, condição essencial para,
por exemplo, resolver alguns dos insucessos nacionais em certas áreas
disciplinares estratégicas, insucessos que, estamos conscientes, não se
resolvem no interior do mundo fechado de cada uma das disciplinas, mas sim
olhando-as de outras perspectivas, obrigando-as a romper as fronteiras em que
se fecharam e a construírem pontes com as outras áreas do conhecimento.
É fundamental ter um outro olhar sobre as coisas, uma outra perspectiva
em relação à realidade que nos permita alargar o nosso campo de visão e de
compreensão do mundo e uma outra atitude sobre as coisas e o mundo. Hoje
sabemos e estamos conscientes de que ao falar dos insucessos generalizados
estamos a falar de áreas que são estratégicas e estruturantes para o
desenvolvimento dos instrumentos e das capacidades que irão permitir a cada
um responder à imprevisivilidade do tempo em que vivemos e encontrar outras
soluções para os problemas e os desafios com que actualmente a sociedade se
confronta. Procuramos, por tudo isto, lançar um projecto capaz de agitar e de
mobilizar toda uma sociedade que, de uma ou de outra maneira, está ligada à
escola, uma escola que tem que ser reanimada num processo de respiração
boca a boca, uma escola que tem de ser contaminada com a ideia e o sentido da
experimentação e do rigor, da criação do novo, pois só assim conseguiremos que
as escolas sejam efectivamente um espaço privilegiado de referência ao nível da
produção de ideias e de projectos capazes de contaminarem a sociedade.
Queremos e procuramos uma escola que assuma e incentive o processo de
descoberta do conhecimento como uma aventura, uma aventura em que todos
deverão ter um enorme prazer de entrar, por um lado, porque têm necessidade
de pesquisar os conhecimentos necessários e fundamentais para a qualidade e
64
profundidade do trabalho que se está a produzir, e, por outro, porque cada um
está de corpo inteiro nesse projecto, nessa aventura fascinante, onde o mais
surpreendente que pode acontecer é que ao chegarmos às fontes dos
conhecimentos de que estamos à procura encontremos outras fontes e outros
conhecimentos que não sabíamos que existiam e que, pela surpresa e pelo
inesperado, acabam por ser mais úteis e por abrirem outros caminhos, outros
campos de pesquisa, transformando esta deriva do conhecimento numa aventura
interminável.
Um quadro de intervenção do teatro na escola que tenha uma matriz
predominantemente cultural
"O que mais me interessa no comportamento é a identificação da proxémica pessoal, da "dimensão oculta" como diz Hall, com quem nem sempre compartilho as generalizações "sociológicas". Conheço a minha necessidade de estar próxima que compartilho com bastantes pessoas (penso em Augusto Boal que não pode começar um encontro sem o convite a que se aproximem dele: "Vinde, vinde, vinde..."). Reconheço também, em geral, as proxémicas culturais ou individuais; porém aprendi que havia algo mais forte que a cultura e que a educação, que vinha da situação precisa do aqui e agora e da relação das pessoas implicadas” .
Gisèle Barret 1991
Ligar a cultura ao desenvolvimento e criar condições para que o seu quadro
de acção seja assumido muito para além do universo limitado das belas-artes e
da educação stricto sensu, é algo que aqui se assume, num projecto que tem de
ter uma forte dimensão cultural e que quer passar por todos os interstícios da
vida quotidiana, por todas as dimensões da vida social, não limitando a sua
intervenção aos aparelhos culturais. Só com esta dimensão alargada do conceito
de intervenção cultural poderemos ter esperança que a cultura seja um elemento
capaz de mudar, ao mesmo tempo, a sociedade e a vida. Numa sociedade cada
vez mais de plástico, asséptica, onde as pessoas desenvolvem a sua passividade
em frente aos televisores procurando esquecer as agruras sociais e viver as
alegrias e as riquezas dos outros, os artistas não podem continuar a ser os
produtores/comerciantes de produtos vendáveis com o único objectivo de alegrar
e dar cor a este quotidiano negro.
Só com uma dimensão cultural capaz de atravessar todos os domínios do
social e de nos obrigar a ultrapassar visões localizadas e redutoras que ainda
65
são dominantes na nossa sociedade, estaremos em condições de inventar outras
realidades, de assumir um outro quadro de referências, de ficarmos despertos
para encontrar a verdade e o sentido mais profundo da nossa existência, uma
verdade e um sentido que, de outro modo, dificilmente poderíamos alcançar. Daí
que Peter Brook defenda o conceito de terceira cultura referido acima, pois com
essa dimensão cultural poderemos trazer para o interior do nosso trabalho esse
elemento misterioso que tem força para intervir em dimensões que hoje temos
consciência serem fundamentais para contrabalançar a fragmentação dos
nossos dias e descobrir relações que foram submergidas ou perdidas entre o
homem e a sociedade, entre uma raça e a outra, entre a humanidade e a
máquina, entre o visível e o invisível, entre as categorias, as línguas e os
géneros.
Procuramos e queremos uma dimensão cultural que se assuma como
motor de transformação, como o território trans ou multidisciplinar, placa giratória,
ponto de encontro entre correntes mais universais que locais, mais abrangentes
do que particulares. É muitas vezes no lugar do afecto que o novo e o velho se
constróem, se preservam e servem de campo fértil ao diálogo entre o património
e a contemporaneidade, desenvolvendo a capacidade permanente de abertura a
novas áreas de intervenção. São hoje entendidas como uma realidade que deve
estar no coração de um projecto cultural a arquitectura, o urbanismo, a moda, o
design, a informática, etc., actividades por natureza transdisciplinares porque não
só globalizam diferentes disciplinas artísticas, como também diferentes campos
científicos. O urbanismo, por exemplo, conjuga em si as ciências humanas, a
arqueologia, a etnografia, a sociologia urbana, o ambiente, com as artes da
pintura e a própria arquitectura.
Onde o teatro não pode ser mais uma disciplina, mas sim um espaço
de interface
"Si on essayait de mettre en parallèle le contenant et le contenu, peut-être alors verrait-on que le problème n´est pas (ou n´est plus?) celui de la différence ou de l´opposition entre théâtre et expression dramatique, mais entre ce champ d´activité et son terrain, l´éducation, qui ne sont pas de même niveau. Avec l´expression dramatique, on est dans une vaste discipline ou dans la multidisciplinarité (ce qui déjà spécifie et différencie cette discipline des autres plus classiques; plus simples ou plus monovalentes".
66
Gisèle Barret 1991
Um atelier ou uma oficina de teatro é, pela própria natureza do fenómeno
teatral, um dos espaços possíveis de convergência das preocupações, dos
problemas e das realizações das diferentes áreas do saber, o que o transforma
num espaço privilegiado da multi e/ou transdisciplinaridade.
A tomada de consciência de que o sentido maior da oficina de teatro pode
tomar a dimensão de interface, espaço de encontro entre os vários projectos e as
diferentes áreas do saber que intervêm na realidade escolar, tornou visível a
contradição que tem atravessado todo o processo de institucionalização das
práticas teatrais nos diferentes sistemas educativos: a actual estrutura escolar,
pela forma compartimentada como organiza os tempos e os saberes, só permite
que essa institucionalização se faça em termos disciplinares, quando cada vez
mais temos ciente que, ao trazermos o teatro para a escola, não faz sentido
limitar a sua intervenção a uma área disciplinar, dado que a sua grande riqueza e
o seu interesse para a escola lhe advêm do facto de poder misturar/cruzar várias
áreas do saber e do seu tempo e espaço de criação não poderem ter por limites
os cinquenta minutos lectivos e as paredes de uma sala de aula.
A verdade é que tem sido extremamente difícil criar espaços de interface,
de projecto, onde a pesquisa e descoberta do conhecimento, enquanto algo
unitário e complexo, seja uma realidade e não um armazém onde se vão
acumulando os vários conhecimentos. Veja-se o que aconteceu com a área-
escola, cujos projectos não chegaram a ser analisados e avaliados, e a
dificuldade que há em definir com precisão o que é hoje a chamada área de
projecto. Contraditoriamente, ou não, é na escola que existe grande parte do
potencial técnico e científico das sociedades contemporâneas, um potencial que
a lógica burocrática dominante, ao implicar uma organização individual do
trabalho quando o fundamental para a mudança deveria estar centrado nos
recursos humanos e no trabalho em equipa, e ao olhar para as escolas como
agrupamentos de salas de aulas onde se descura a vida escolar para além dos
cinquenta ou noventa minutos lectivos, está a desperdiçar, tanto ao nível dos
professores, como das escolas.
Esta tomada de consciência de como se estão a desperdiçar as
inesgotáveis potencialidades da escola tem necessariamente de levar a uma
efectiva rotura com o estabelecido, rotura que, num primeiro momento, deve
passar por esta coisa tão simples como a definição do sentido de cada uma das
67
matérias que se leccionam, tornando-se clara a sua efectiva utilidade social, o
seu papel e a sua eficácia na formação das pessoas de hoje:
“ C´est la fragmentation du discours compartimanté qui, dominant sur la planète, ne voit à chaque fois que des coupes, et qui élimine tout ce qui est de la vie, de la passion, du sens, de l´humanité!” (Morin 2000, p.69).
É neste quadro que o processo de criação teatral que propomos tem que
pressupor, por um lado, o diálogo entre as disciplinas artísticas, onde todas sejam
parceiras por inteiro, e, por outro, a criação de condições para o aparecimento de
produtos e projectos de cruzamento entre as artes e as outras áreas do
conhecimento, num processo onde as interferências dos vários saberes sejam
uma realidade e a metodologia de criação se estruture na base de um processo
contínuo de transformações, in vivo et in situ, desde a sua concepção até ao fim
das representações. Estamos a referir um processo capaz de levar os alunos e
os professores a descobrirem que os saberes não são disciplinares, que há
interdependência entre as várias áreas do conhecimento e que a metodologia de
criação teatral implica a mobilização e o apoio de múltiplas informações e
saberes. Uma estratégia de intervenção que permite, ao mesmo tempo, mostrar
na prática que os muros e as barreiras entre as pessoas e os saberes são
produto de uma realidade artificialmente imposta, e responder a questões como
as que Morin (2000) refere, quando diz que estamos ainda longe de ter
compreendido a necessidade de religar, um religar que é o grande problema que
actualmente se coloca à educação.
Promovendo o trabalho em equipa e a constituição de equipas
multidisciplinares
“É difícil para o pedagogo que se deixa seduzir pelo grupo, não se vincular ao geral, ao colectivo, às tendências dominantes; deveria, pelo contrário, ter em conta o particular, as diferenças, as variações. A pedagogia da situação não deveria, parece-me, privilegiar o grupo como unidade permanente. Deveria identificar as dissidências, os desvios, as marginalidades e procurar uma solução dialéctica, globalizadora, onde cada expressão encontre o seu lugar, apresente a sua existência como indutor da situação de facto e de direito. A unidade ou a homogeneidade de um grupo não é mais do que uma verdade aparente, pontual, funcional ou estratégica, na qual o artificial salta em mil pedaços logo que alguém se aproxime e, renunciando à convergência, favorece a divergência, a multiplicidade, a pluralidade”.
Gisèle Barret 1991
68
O conhecimento descobre-se também, ou fundamentalmente, quando
desenvolvemos e nos implicamos em projectos que poderíamos caracterizar
como de banda larga, como aquele que Lepage refere quando fala do trabalho
que desenvolveu sobre a figura de Leonardo Da Vinci, um espectáculo de teatro
que cruzou as artes performativas com as tecnologias, que permitiu ao autor
descobrir como eram frágeis as fronteiras entre as diferentes áreas do
conhecimento, como era fluida, naquela época da renascença, a demarcação
entre um escultor, um pintor, um médico ou um arquitecto (cf. Chantal Herbert
1994). Um processo de construção de um espectáculo como o de Lepage, com
todas estas implicações, teve de ser suportado por um trabalho em equipa que
dispunha “de responsables d´origines diverses pour permettre la concertation de
points de vue et l´expérimentation” (Crozier 1995, p.32).
Este desafio à pluralidade da constituição de equipas para desenvolverem
as práticas artísticas na formação remete-nos para duas questões que foram das
mais significativas na história da expressão dramática e do teatro na educação
em Portugal: a diversidade de experiências e de autores de referência nas
práticas e nos discursos e a constante dinâmica entre o estar dentro e fora da
escola. Hoje, tal como aconteceu com o projecto de Lepage acima referido, não é
possível pensar e agir isoladamente, obrigando o trabalho, tal como o propomos,
à constituição de equipas que, num primeiro momento, integrariam especialistas
das disciplinas artísticas e das línguas, alargando-se progressivamente a
especialistas da organização dos espaços, a arquitectos, a urbanistas e a
especialistas dos domínios da filosofia e da ciência. Equipas que têm de ter
capacidade, por um lado, de entender os problemas e descobrir as respostas e
as soluções mais adequadas para eles, e, por outro, de ficcionar novas
perguntas e novos problemas com que possivelmente se poderão confrontar nos
futuros possíveis.
“La piège de la pensée serait de faire un galimatias théorique, une sorte de oecuménisme des genres. Ce n´est plus du tout cela! Il s´agit d´associer des gens de disciplines diverses, pour éclairer un même objet différemment. Chacun reste ce qu´il est, simplement il doit apprendre à parler avec un autre. Le biologiste reste biologiste, mais il peut tenter une passerelle et trouver la richesse d´un psychanalyste ou d´un sociologue” (Morin 2000, p.11)
Não nos podemos esquecer, como refere Nóvoa (1989), que os homens de
teatro são uma espécie de caçadores furtivos que, servindo-se do que têm mais
à mão, procuram em todas as áreas o que pode ser útil, sendo o teatro o espaço
69
e o tempo privilegiados de concretização dessa procura em toda a sua
globalidade. Um sentido que é reforçado por Gisèle Barret (1991) quando
defende que a função das práticas teatrais no interior da estrutura escolar é a de
descobrir relações ou ligações entre as áreas do saber, provocando encontros,
motivando projectos e inventando novas práticas que obriguem a sala a sair da
pedagogia encaixotada, a não se deixar fechar dentro do preparado para
ensinar, a arriscar e afrontar o desequilíbrio, o imprevisto e a insegurança,
trazendo para a escola a paixão, o mistério, a fantasia, a prospecção e a utopia.
Efectivamente, o teatro tem o potencial de substituir um ponto de vista único por
uma multiplicidade de outras perspectivas, dando-nos uma visão estereoscópica
da vida, mostrando-nos cada fenómeno de forma holográfica.
Pensar hoje a criação artística e teatral no interior de um projecto de
formação obriga-nos a criar condições para que as várias áreas artísticas sejam
obrigadas a largar a segurança em que vivem e que tem por base a defesa do
seu estatuto enquanto disciplina, sejam obrigadas a entrar em diálogo não só
com as outras práticas artísticas, mas também com as diferentes áreas do
conhecimento, sejam obrigadas por fim a perder-se nessas zonas difusas que
são as zonas de todos e de ninguém, as zonas de fronteira.
Reorganizando a estrutura espacial da escola
“Quando ensinava a uma turma de quarenta e dois adolescentes, havia tão pouco espaço que apenas nos podíamos deslocar. Todos os professores se queixavam. Contudo aquele espaço foi invertido, transformado por equipas que encontravam formas engenhosas - e pouco ortodoxas - de apresentar as suas investigações, as suas reflexões. Isto é talvez um dos precedentes da minha pedagogia actual”.
Gisèle Barret 1991
O quadro de intervenção que temos vindo a delinear obriga a estrutura
espacial da escola a criar condições efectivas para que os projectos se
desenvolvam, para que o diálogo com os outros seja possível e seja incentivado.
Uma reorganização que é uma das questões fulcrais para o sucesso ou
insucesso de um projecto deste tipo, que só se desenvolverá integralmente se
provocar a emergência de um espaço que permita e incentive a concretização
desta ideia de interface, que permita e incentive a contaminação e a troca de
ideias. No fundo, ao se pensarem as melhores formas de, em termos de
organização espacial, se criarem condições para que o teatro assuma esta
70
função alargada, queremos que se pense num espaço à dimensão do homem,
num espaço que liberte e leve os homens a descobrirem-se e a afirmarem-se na
sua globalidade, um espaço que provoque e incentive a experimentação, a troca
de ideias e a produção de conhecimento,
Efectivamente, e tal como é referido nos exemplos de referência que já
referimos, a organização do espaço assume um papel determinante, na medida
em que pode funcionar como um elemento facilitador ou castrador da circulação e
troca de ideias, do trabalho em conjunto, em suma, da aventura. E isto porque
imaginamos e entendemos a escola como um espaço onde a procura do
conhecimento seja efectivamente uma aventura, tal como a Biblioteca de Toronto
de que Umberto Eco fala e onde pode passar um dia inteiro em santa delícia, ou
o espaço de Robert Lepage que o encenador assume como um lugar onde
existem espaços de encontro, de cruzamento, onde é possível trabalhar ao nível
da reflexão e do pensamento, uma espécie de centro do conhecimento. Também
Robert Wilson assume o seu centro como um lugar de encontro entre criadores,
não só das artes mas de todas as disciplinas do conhecimento, referindo, como
exemplo, a antropologia e a matemática. Com esta mesma preocupação nasceu
o desafio lançado aos arquitectos pelo governo americano para conceberem as
escolas para o ano 2000, onde se propunha que se libertassem de todos os
preconceitos e de todos os constrangimentos existentes tanto ao nível da
organização das áreas disciplinares como da divisão dos tempos lectivos,
concebendo projectos que tivessem como objectivo principal provocar a
emergência de um outro conceito de aprendizagem e de uma outra relação com a
escola e com os processos de construção do conhecimento.
A realidade é que é praticamente inexistente, se não mesmo nula, a
reflexão que se faz entre nós sobre os modelos e os projectos de organização
dos espaços a que devem obedecer as escolas. Veja-se o que aconteceu com as
Escolas de Área Aberta P3, escolas construídas nos finais dos anos 70 em
Portugal e cujos espaços de circulação entre as salas, as turmas e as
aprendizagens foram fechados com armários, de modo a retomarem a sua
normalidade, tornando-se iguais a todos os outros. Da análise que fazemos sobre
esta situação é de realçar a ideia de que na altura não houve coragem política
nem visão estratégica para se avançar com a constituição de equipas de
professores saídos directamente das novas experiências de formação das
Escolas do Magistério, o que, a acontecer, teria obrigado a romper com a lógica
da colocação de professores, permitindo que tais equipas pudessem ter
aproveitado e potenciado integralmente essa organização aberta dos espaços,
71
esse desafio para um trabalho de interacção entre as turmas, os professores e os
projectos de aprendizagem.
Articulando a sua intervenção entre o interior e o exterior da escola
“A situação pedagógica só está completa quando se têm em conta as interferências explícitas ou implícitas do mundo exterior, que o grupo e o animador conduzem mais ou menos conscientemente, assim como os imprevistos que normalmente são expulsos da situação educativa clássica como intrusos e como obstáculos para a aprendizagem, a uma concepção viva e aberta do encontro não programado e como motor auxiliar precioso e poderoso da dinâmica”.
Gisèle Barret 1991
Como nos pudemos aperceber quando analisámos a história dos
movimentos de teatro e das artes no interior do Sistema Educativo Português, foi
a intervenção de diferentes parceiros, tanto no exterior como no interior da
realidade escolar, que impediu que estas práticas se burocratizassem e
perdessem a dimensão experimental que as deveria caracterizar. É esta ligação
ao exterior da escola, à criação artística profissional, que traz não só o sentido de
procura permanente que o teatro na escola deve ter, mas também as dinâmicas
que impedem a utilização utilitária do teatro pela instituição escolar. Na verdade,
as práticas de teatro no interior dos projectos de formação não podem sobreviver
em circuito fechado e sem uma ligação íntima com as estruturas de criação e de
produção. Recordo, a título de exemplo, a importância que tiveram para a
implantação e o desenvolvimento das práticas de teatro e expressão dramática
na educação, estruturas tão diversas como a Unidade Infância do Centro Cultural
de Évora, o Museu do Traje, o Centro de Arte Infantil da Fundação Calouste
Gulbenkian, a Comuna, o Centro- Português de Teatro para a Infância e a
Juventude e os Saltitões, entre outros.
Ao falarmos da importância que as práticas exteriores à escola têm para o
que se faz dentro da escola, é importante falarmos também de um movimento
que, saído da escola, acabará necessariamente por contaminar a actividade de
criação e produção artísticas do exterior. Com efeito, a partir do momento em que
se estrutura um quadro global de pensamento para a intervenção do teatro na
formação em íntima relação com as práticas exteriores, esse quadro, mais tarde
72
ou mais cedo, irá reflectir-se nas estruturas profissionais ligadas à criação
artística, sendo natural que estas sejam contaminados por algumas das ideias e
dos sentidos existentes nas escolas, levando os criadores a aprofundarem o seu
trabalho. Não nos esqueçamos que é na escola, no espaço e no tempo da
formação que muitos dos criadores consideram que têm um espaço privilegiado
de abertura e experimentação, que têm todo o tempo do mundo para descobrirem
e encontrarem novas soluções, em suma, para criarem.
73
Um Quadro de referência para a integração do teatro na escola
“Uma organização viva nunca se adapta ao princípio do comando rígido. Para manter o equilíbrio, o organismo não tem solução prévia já pronta. Nem sequer tem solução. Apenas possui um registo de funcionamentos que lhe permite fazer frente aos múltiplos problemas devidos às modificações permanentes do meio ambiente e às consequências induzidas pela evolução de um parâmetro à custa de outros. “(...) A organização viva aprende e transforma, continuamente, os seus processos para atingir os objectivos. A incerteza é igualmente tida em conta nos seus modos de decisão.”
André Giordan 1999
Quando a sociedade do espectáculo atinge a sua máxima expressão,
parece-nos importante afirmar, ainda que correndo o risco de o fazer em termos
redutores e panfletários, que a arte ou intervém, incomoda e questiona um
quotidiano onde o homem está cada vez mais ausente, ou então não é nada, não
tem nenhuma função social e é uma outra coisa que não uma manifestação
artística. Hoje é necessário e urgente ser radical, pegar as coisas pela raiz,
encontrar e desenvolver estratégias que ajudem a romper com os princípios e as
práticas que bloqueiam a sociedade, e, por maioria de razão, a escola, e definir o
que é essencial para a formação de pessoas que vivem e vão continuar a viver
numa sociedade cujas referências estão num processo constante de mudança.
Um processo que passa, na nossa perspectiva, por clarificar em primeiro
lugar as razões subjacentes às nossas propostas, ou, por outras palavras, de
que forma estas são necessárias a uma escola que já está atafulhada de
matérias e o que lhe podem trazer de novo ou de único. Para nós, as práticas
teatrais que propomos se venham a instituir no interior da escola deverão
desenvolver-se no sentido de ajudar a romper com a compartimentação dos
saberes e dos tempos lectivos, criando pontes, abrindo novos caminhos,
obrigando a uma nova organização do espaço físico, pois, mais do que uma área
fechada do conhecimento, queremos que esta intervenção seja capaz de viver no
interior da contradição que é o ser uma disciplina e, ao mesmo tempo, de se
assumir como um espaço de projecto, como um espaço de interface. Referimo-
nos aqui a práticas teatrais capazes de integrar os vários saberes, de levar cada
um e o grupo a descobri-los na prática e de acordo com as necessidades de cada
projecto, num processo que parte da abordagem do corpo e da sua
disponibilização, um corpo aberto ao conhecimento, com capacidade de inventar
74
novas ficções e de perspectivar a descoberta do conhecimento como uma
verdadeira aventura, entendendo-o, não como uma soma de conhecimentos
disciplinares que se vão amontoando, mas na sua globalidade. É a capacidade
de entender o conhecimento como uma globalidade que vai permitir a cada
participante conhecer e intervir mais e melhor no mundo em que vive, não numa
perspectiva passiva, mas enquanto actor social de corpo inteiro capaz de propor
novos cenários para esse mundo, de inventar outras realidades e outros futuros
possíveis e utópicos.
Em segundo lugar, há que responder a uma questão com que hoje nos
confrontamos e que é fulcral neste domínio do teatro na formação, questão que
tem a ver com o facto de nestes 26 anos de intervenção desta área no sistema de
ensino se ter assistido a um desvio do foco central de intervenção do 1º Ciclo,
antigo ensino primário, para o Ensino Secundário, desvio que é necessário
e urgente corrigir. Com efeito, quando desviamos o foco central da intervenção
para níveis de ensino onde a aprendizagem é mais espartilhada e especializada,
corre-se o risco de que os enfoques se dirijam mais para o produto do que para o
processo, mais para o espectáculo do que para a pessoa, mais para o teatro
enquanto objecto em si do que enquanto instrumento de descoberta e afirmação
da pessoa e do grupo, enquanto espaço de aventura do conhecimento. Este
desvio, que teve a sua manifestação mais visível no lançamento das Oficinas de
Expressão Dramática, pode levar a que se perca a dimensão de intervenção que
se ganhou devido às características do 1º Ciclo, espaço curricular que favorece
uma perspectiva integrada, já que nele o espartilhamento dos conhecimentos não
é tão visível, e onde é possível desenvolver projectos integrados de
aprendizagem. De notar que estão aqui em foco dimensões determinantes para
uma intervenção artística no domínio da formação que seja: mais centrada no
processo que no produto, onde a pessoa ocupa o lugar central, no quadro de
um projecto de descoberta do conhecimento como um todo, projecto esse
que é feito, não enquanto entidade autónoma, mas na exacta medida em que as
coisas se vão descobrindo e em que naturalmente as diferentes peças se vão
juntando.
No quadro que propomos temos assim que pensar a integração das
práticas de teatro no sistema geral de ensino, do pré-primário ao secundário,
obrigatoriamente como um projecto global, onde o espaço que nos últimos
tempos se ganhou no interior do Ensino Secundário seja enriquecido por todas as
dimensões que a intervenção no 1º Ciclo trouxe. Uma ideia que nos parece ser
75
possível e ter viabilidade prática, tal como se pode constatar na proposta que
fizemos para a organização das Oficinas de Expressão Dramática e para a
cadeira de Artes Performativas do projecto de curso de Artes do Espectáculo do
Ensino Secundário, propostas onde se sistematizam as diferentes aquisições e
descobertas que se foram fazendo ao longo destes vinte e seis anos da
integração das práticas de expressão dramática e teatro no interior do Sistema
Educativo Português. Note-se que esta afirmação da componente teatral nos
programas das oficinas de expressão dramática e no das artes performativas não
esquece a especificidade de intervir no meio escolar nas dimensões acima
consideradas como determinantes. Daí que se tenha perspectivado progressão
destes programas segundo duas direcções: uma para a descoberta do
fenómeno teatral enquanto prática artística e espectacular, e uma outra que
vai no sentido da animação e da reinvenção da estrutura escolar, tanto ao
nível da organização curricular e do seu espaço físico, como da sua articulação
com o meio envolvente.
Estamos assim em condições de pôr em prática um projecto que permita
manter e desenvolver os novos espaços de intervenção conquistados com a
introdução das práticas teatrais no secundário, sem perder a experiência levada
a cabo ao nível da educação de infância e do 1º ciclo, o que passa
necessariamente pela criação de pontes explícitas entre os níveis iniciais e
terminais do ensino não superior.
Em terceiro lugar temos que olhar para o teatro em Portugal a partir de
uma outra perspectiva, com um olhar que o pense não como repositório de
antiguidades que se devem preservar e ter sempre em repertório, nem como o
lugar de eleição onde um conjunto de criadores vão fazer as suas grandes
performances, mas sim como um espaço de referência e provocação social, um
espaço capaz de produzir acontecimentos artísticos que agitem os neurónios,
obriguem tanto actores como espectadores a pensar e a dar um outro sentido ao
quotidiano. Para que o teatro e a arte tenham hoje um efectivo sentido social, e é
isso que se exige de uma intervenção no interior da formação, têm de facto que
provocar as consciências, têm de tratar, divertindo e emocionando, dos
problemas, das questões e dos desafios centrais do nosso tempo, em suma, têm
de criar condições para a efectivação de um projecto de criação artística capaz
de articular a memória e a inovação e de ser, ao mesmo tempo, experimental e
popular. Um projecto que queremos seja ainda capaz de entusiasmar e mobilizar
tanto os actores como os espectadores, obrigando-o a trabalhar os mecanismos
76
da inteligência sensível e as emoções e transformando o teatro num laboratório
do pensamento, da sensibilidade e da invenção.
Interessa-nos hoje que os tempos de criação e fruição, os tempos de lazer
e gratuitidade de que falámos atrás, sejam não só um espaço-tempo de
respiração que liga dois tempos afogueados, mas também um espaço-tempo de
concepção de projectos que permitam e criem condições para o desenvolvimento
e a afirmação das capacidades criativas de cada indivíduo, onde se pode ter todo
o tempo do mundo para pensar, desenvolver projectos, experimentar soluções.
Efectivamente, procuramos configurar algo que possa potenciar ideias e
estratégias capazes de conduzirem à transformação do tempo chamado de
trabalho num tempo que estimule a participação e a criatividade de cada
indivíduo e que seja factor de desenvolvimento e de realização pessoal.
Procuramos no fundo romper as fronteiras entre os tempos chamados de trabalho
e de lazer, e isto porque temos consciência que a própria transformação interna
do mundo chamado do trabalho, que passará a exigir outras qualificações das
pessoas e uma redistribuição mais solidária, vai implicar não só um aumento dos
tempos livres, mas que estes tempos livres sejam não um tempo de fuga mas sim
um espaço de afirmação de novas qualificações e de novos desafios. A diferença
que passará a haver entre estes dois tempos traduzir-se-á, a nosso ver, no facto
de que no trabalho tudo se deverá centrar no produto e na planificação dos
tempos de criação-produção desse produto, enquanto que no lazer haverá uma
outra liberdade para experimentar os processos e para perder tempo a descobrir
outras soluções, para vagabundear tal como Umberto Eco quando se perdia nas
bibliotecas em busca do livro que desconhecia, ou melhor, em busca do
conhecimento.
Porque temos consciência que hoje o homem está cada vez mais longe de
si próprio e que o défice social dominante é o do pensamento, ou melhor, da
capacidade de invenção de um outro mundo, de uma outra realidade, e porque
pensamos e estamos convencidos que o teatro pode, de alguma forma, contribuir
para despertar as pessoas e ajudar a que elas se reencontrem consigo próprias
e sejam capazes de intervir e inventar um outro mundo, perspectivamos um
quadro programático que torne o teatro, cada teatro, num espaço social
privilegiado de afirmação e desenvolvimento da pessoa, do pensamento e da
prospectiva, capaz de:
- se assumir enquanto espaço do cerimonial e do ritual, da Pessoa,
contrariando o progressivo desaparecimento deste tipo de função nas
77
sociedades contemporâneas; perspectiva-se deste modo o teatro como um factor
singular para o reencontro do homem consigo próprio e com os outros, onde
cada um possa confrontar-se com e reflectir sobre si próprio e sobre o sentido da
sua existência, angústias, preocupações, desejos, sonhos e utopias;
- reflectir as grandes questões de hoje, assumindo-se como espaço
privilegiado de produção de Pensamento, pela forma como consegue abordar
conteúdos contemporâneos, ligando, nas suas temáticas, a arte, a ciência e a
filosofia, estabelecendo confluências entre os diferentes saberes, provocando a
emergência de novas ideias, tornando-se, na prática, num instrumento
privilegiado de desenvolvimento da inteligência sensível e num centro onde a
construção do conhecimento é assumida como uma aventura aliciante e onde
todos devem ter um enorme prazer de entrar;
- recuperar a ideia e o sentido da produção artística enquanto
instrumento de intervenção social e de invenção de novos cenários, de
Prospectiva. Procura-se esboçar um projecto de intervenção social que revele
os movimentos, as preocupações, os anseios e os desejos emergentes em cada
momento histórico, num processo que implica, a cada momento, ser capaz e ter
espaço para a redescoberta e o reavivar da memória social e para ficcionar
outras realidades, os mundos possíveis, o futuro.
Procuraremos nos items seguintes clarificar cada uma destas três
dimensões do quadro programático para a intervenção do teatro na escola.
78
Espaço de afirmação da pessoa, do cerimonial e do ritual
“Olha meu discípulo – disse Wang Fo com melancolia. - Estes desgraçados vão perecer, se acaso não pereceram já. Não supunha que houvesse água bastante no mar para afogar um imperador. Que faremos nós?” “Nada temas, Mestre – murmurou o discípulo. - Em breve se encontrarão em seco e nem sequer se recordarão que algumas vez se lhes molhou a manga. Só o Imperador há-de guardar no coração um resto de marinha amargura. Esta gente não foi feita para se perder no interior de uma pintura”.
Marguerite Yourcenar, A Fuga de Wang Foo
Nesta primeira unidade, cujo objecto central do trabalho é a pessoa
enquanto ser individual e como componente activo e interveniente de um grupo e
de uma comunidade, centraremos as nossas propostas de trabalho em três
níveis de actuação:
- em primeiro lugar, e tendo consciência de que cada pessoa é uma
totalidade que não é possível partir ou espartilhar, propomo-nos trabalhar ao
nível do desenvolvimento da capacidade de resposta do corpo aos
estímulos exteriores, da destreza corporal, do ritmo, do trabalho com os outros
e os objectos.
- em segundo lugar, visamos a construção de narrativas, para o que é
fundamental desenvolver as capacidades de imaginação e de invenção de
cada um, desenvolvimento esse que passa por alimentar a memória ouvindo
muitas histórias, cada vez mais histórias, e, a partir delas, conceber
personagens, construir situações múltiplas de cruzamento entre personagens,
inventar novas narrativas que se estruturem como verdadeiras aventuras
capazes de entusiasmar e de agarrar, em permanência, os futuros leitores e
espectadores;
- num terceiro momento, projectaremos a pessoa e as suas diferentes
personagens em diferentes espaços de representação, espaços não teatrais
e da vida quotidiana, o que vai obrigar a que as narrativas criadas sejam
transformadas em objectos de representação com a utilização e o suporte dos
instrumentos e das técnicas das artes tradicionais e da rua, pois são estes os
que mais fomentam e implicam um relacionamento mais directo com as pessoas,
a sua vida e os seus trajectos quotidianos.
79
Procuramos criar condições para a descoberta e a afirmação de uma
pessoa que se conheça e esteja bem consigo própria, que seja flexível e tenha
capacidade de resposta aos estímulos exteriores, uma pessoa que é capaz de se
confrontar directamente com os outros e de se adaptar a múltiplos espaços,
nomeadamente ao ar livre e à rua. Procuramos uma pessoa que seja capaz de
jogar com o grupo e de construir narrativas a partir das suas histórias e das
personagens do quotidiano, num trabalho que se propõe desenvolver as
estratégias de associação e de criação de metáforas, partindo de histórias
construídas a partir de estímulos exteriores para uma abordagem da
individualidade de cada um a partir do seu próprio corpo.
O teatro assume-se aqui como espaço de afirmação das capacidades
individuais e de grupo, como algo que está perto de cada um e que é produto e
produtor da emergência da multiplicidade de capacidades reais e potenciais aí
existentes. Uma prática teatral centrada na pessoa do aluno e do grupo, nas
problemáticas que são as suas e nos espaços que habitam, não recorrendo à
utilização de espaços ditos teatrais, mas sim animando os espaços do quotidiano,
mostrando como o trabalho teatral põe a nu o ser nas suas múltiplas dimensões e
capacidades e permite descobrir as respostas extraordinárias que cada um
possui dentro de si e que ignorava completamente.
Ao confrontar o sujeito com os seus diferentes espaços de vida, este
trabalho irá levá-lo a todos os recantos da escola, ajudando-o a perceber a forma
como estão ou não organizados para servir os grupos e a produção de ideias,
num processo que queremos seja o despoletador de toda uma reflexão sobre a
forma e o sentido da arquitectura escolar.
Como escreveu Augusto Boal, procuramos nesta unidade temática uma
prática teatral onde cada um tome consciência e represente o seu papel,
organizando e reorganizando a sua vida, analisando as suas próprias acções,
desenvolvendo formas e técnicas e mostrando caminhos através dos quais toda e
qualquer pessoa, independente do seu ofício, pode desenvolver a sua vocação
de fazer e de utilizar o teatro como forma de afirmação e de comunicação entre
os homens, como forma de luta contra o esquecimento de si próprio,
descobrindo, através do jogo lúdico individual e colectivo e da tomada de
consciência de uma linguagem dramática própria, toda uma série de formas e
instrumentos de libertação. As pessoas adquirem assim uma inteligência de jogo
e desenvolvem o seu imaginário, o que lhes permitirá inventar o seu próprio
teatro ou interpretar textos, se o desejarem, duma forma nova, fazendo assim o
teatro penetrar na cena do mundo por esta dinâmica subtil da relação dos
80
homens entre si, convidando-os a ir mais longe na descoberta do real e a
transbordar a realidade presente, a descobrir a realidade social e a inventar uma
outra sociedade.
A interpretação é o prolongamento de um acto criador.
Espaço privilegiado de produção de pensamento
“O tema da mente, em geral, e da consciência, em particular, permitem ao ser humano exercitar, até mesmo esgotar, o desejo de compreender e a sede de se maravilhar com a sua própria natureza, que Aristóteles reconheceu como inconfundivelmente humanos. Que poderia ser mais difícil de conhecer que conhecer como conhecemos? Que poderia ser mais desconcertante que apercebermo-nos de que é a consciência que torna possíveis e até inevitáveis as nossas perguntas sobre a consciência?”
António Damásio 2000
Esta unidade corresponde a um mergulhar em temáticas que, sendo
naturalmente resultado do cruzamento das diferentes narrativas individuais, têm
de corresponder a temas que, exteriores ao grupo, são reflexo das pesquisas e
dos desafios com que a escola e a sociedade se confrontam quando pretendem
construir estratégias e projectos capazes de provocar a emergência em cada
pessoa de uma estrutura de pensamento complexo. Propomo-nos operacionalizar
aqui um projecto teatral que aborde temáticas multidisciplinares a partir da
construção de produtos artísticos exemplares, incentivando na prática o diálogo
entre a arte e a ciência, pois hoje é fundamental a construção de um novo
conhecimento que contribua para a emergência de uma forma de pensar capaz
de responder à complexidade das questões que atravessam esta passagem do
século. O espaço de criação teatral assume-se, neste caso, como a ponte entre
diferentes áreas disciplinares, como o laboratório que tem necessidade, para a
construção e para dar forma a uma ficção dramática, que se rompam os caixotes
em que cada disciplina ou área do conhecimento se fechou e que se perceba
aquilo que é comum e o que é divergente, dando-se unidade ao conhecimento.
O homem do nosso tempo tem de ser cada vez mais artista e cientista, tem
cada vez mais de sentir as coisas, de as compreender, de estruturar o seu
raciocínio e inventar novas respostas para as situações imprevisíveis com que
está, consciente ou inconscientemente, em permanente confronto, pois os
pressupostos que presidem à capacidade de formular e desenvolver novas
respostas, tanto no campo da arte como no da ciência, são basicamente os
81
mesmos: uma curiosidade desperta, um grande sentido de observação e de
compreensão do mundo, uma enorme capacidade de reconstruir a realidade e de
a recombinar para dar origem a novas realidades. É fundamental, hoje, o
confronto com situações que estimulem esses mecanismos e o teatro, enquanto
realidade ficcional que muitas vezes é mais real que a realidade, é um
instrumento privilegiado neste domínio.
Esta segunda unidade é, assim, o tempo de potenciar a prática teatral
enquanto espaço de construção de problemas e enigmas capazes de desafiarem
os seus criadores e de mobilizarem especialistas das várias áreas do
conhecimento para participar na construção da ficção dramática e das
performances dela resultantes. Construção de performances que são uma
tentativa de corporizar a ciência como um organismo vivo, impregnado de
condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às
grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela
libertação, pois é a precisão, o espírito matemático e experimental que,
juntamente com o espírito artístico, estão na base da nossa civilização - uma
civilização que usufrui do raro privilégio de ser capaz de se pôr em causa a si
própria e de arrancar novas forças de renovação da insatisfação que sente com o
que realizou. Lógica, meticulosidade, espírito crítico, liberdade, coragem,
imaginação ... não é isso a Ciência? E a Arte?
Se hoje se fala e se faz um enorme esforço para dotar as estruturas de
formação de espaços de experimentação, o que propomos é criar condições para
a emergência destes espaços através do lançamento de projectos que
possibilitem que formandos e formadores se confrontem com a construção de
realidades ficcionais onde a ciência é tratada duma forma lúdica, capaz de fazer
sonhar e de desafiar a curiosidade, capaz de fazer interessar cada um pela
realização prática de um trabalho experimental ou pelo o prazer do raciocínio
abstracto. Estas questões estão hoje extremamente presentes, dado que tanto os
especialistas da área da educação como da ciência falam da necessidade cada
vez maior de se introduzir uma dimensão experimental no ensino, o que só se
pode fazer de uma forma efectiva se se conseguir articular a arte e a ciência,
áreas experimentais por excelência, no interior de projectos específicos. Daí que
possamos afirmar que, ao nível da escola, estas dimensões serão provavelmente
aquelas que mais irão implicar com a sua estrutura de organização,
nomeadamente porque obrigam à abertura de espaços e de tempos de
colaboração e de interface entre várias áreas do conhecimento, e criam, na
prática, condições para a estruturação de um laboratório da multidisciplinaridade,
82
Deste confronto com outras práticas e outros conteúdos, seja tanto da parte
do teatro como da ciência, queremos que possa emergir uma terceira realidade
que não seja nem do teatro nem da ciência, mas sim resultante da interacção dos
diferentes parceiros que vão ser mobilizados e dos diferentes cruzamentos que
daí surgirão, optimizando o fluxo de energia que os atravessa. Desta forma, o
jogo teatral ajudará a esclarecer, refinar e organizar os pensamentos, melhorando
a interpretação na abordagem e na solução de problemas e desenvolvendo uma
melhor significação para a linguagem científica. No fundo queremos que a criação
teatral crie condições que permitam descobrir outros mundos e outras realidades
que, tal como estrelas no firmamento, estavam perdidas algures à espera de
serem descobertas pela nossa imaginação extra-sensorial que constitui talvez um
sexto sentido empregue para compreender verdades que sempre existiram.
No quadro do teatro enquanto espaço de produção de conhecimento,
propomo-nos desenvolver um projecto de teatro de forte conteúdo científico
que irá trabalhar sobre as dimensões que actualmente mais fascinam e desafiam
o homem e o fazem pesquisar: uma no seu interior, o cérebro e os mecanismos
de produção de pensamento, um domínio que é fundamental conhecermos
para tomarmos consciência de quantas potencialidades do ser humano não
estão a ser inteiramente utilizadas; uma outra onde queremos abordar as
questões relacionadas com a invenção, num processo onde nos propomos
procurar a razão e os pressupostos que levam à invenção, a forma como se
inventa e quais os factores que contribuem para que isso aconteça; finalmente
abordaremos, numa outra linha de trabalho, os instrumentos de navegação e a
cartografia, instrumentos que são fundamentais, tal como já o foram noutros
momentos em que se fizeram grandes descobertas, para nos orientarmos no
interior dos percursos e processos de descoberta que estamos a desenvolver,
seja no nosso interior ou no exterior, seja na Terra Pátria, no Universo ou no
nosso Cérebro.
O cérebro e os mecanismos de produção de pensamento
“As equações são como a poesia: estabelecem as verdades com uma precisão única, condensam vastas quantidades de informação em poucas palavras e muitas vezes são de difícil compreensão para o não iniciado, e, tal como a poesia convencional nos ajuda a encarar as nossas profundezas interiores, a poesia matemática ajuda-nos a olhar para além de nós –
83
se não até ao Céu, pelo menos até ao limite do universal visível.”
Michael Guillen 1998
Quando temos consciência que, como já referimos atrás, o maior défice
social é o da inteligência, o trabalho desenvolvido neste eixo ganha uma outra
dimensão e um significado estratégico e de prioridade nacional.
É neste contexto que propomos que se desenvolva, num primeiro
momento, um projecto de intervenção teatral onde a matemática e a língua
sejam o centro de todas as coisas, não as pensando meramente enquanto
disciplinas curriculares, mas sim enquanto áreas do conhecimento que são
fundamentais para o desenvolvimento de um pensamento global e
complexo, desenvolvimento que temos vindo a referir como uma das
necessidades estruturais no interior de todo um processo que tem como grande
objectivo a afirmação de cada pessoa em toda a sua globalidade. Queremos que
se trabalhe sobre as estruturas do pensamento matemático enquanto
instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de certas áreas do nosso
cérebro, jogando sobre a sua dimensão lúdica, mágica e misteriosa, mostrando
na prática aquilo de que Fernando Pessoa falava quando dizia que o binómio de
Newton era tão belo como a Vénus de Milo, apesar de ninguém dar por isso.
A estratégia central é a de, no interior de diferentes situações problemáticas
criadas por textos dramáticos, desvendar o sentido das estruturas matemáticas a
que recorremos, perceber a razão da sua existência e a forma como nos podem
ajudar na resolução dos problemas, servindo a língua para concretizar as
narrativas dramáticas, para construir as histórias e dar forma escrita a todo uma
imensidade de aventuras possíveis, onde o avanço da trama e a sua progressão
só se conseguem através da resolução do conjunto de enigmas matemáticos
com que as personagens ficcionais se vão confrontando. Não nos podemos
esquecer que a matemática é talvez a linguagem global com mais sucesso de
sempre, pois uma mesma fórmula, número ou estrutura matemática têm
capacidade para descrever uma diversidade de fenómenos.
No fundo queremos que as pessoas se confrontem naturalmente com os
problemas, compreendam o sentido último das estratégias e dos instrumentos
matemáticos utilizados e desenvolvam uma capacidade de raciocínio leve e
rápida que permita romper, criar roturas, abrir brechas na ideia social dominante
de que a linguagem matemática é algo de estranho e/ou exótico, onde é
extremamente difícil entrar, dada a sua natureza abstracta e simbólica. E isto
porque temos consciência que a matemática é uma linguagem fundamental e
84
estratégica para o desenvolvimento da inteligência, da capacidade de ler, de
compreender e de pensar o mundo, para a invenção de propostas cada vez mais
rápidas, profundas e criativas que respondam às situações imprevistas do
quotidiano.
O modo como estruturámos esta unidade parte da consciência que temos
de que, se a linguagem matemática é necessária para a estruturação e
desenvolvimento do pensamento, a sua recusa leva a que estas mesmas
capacidades não se desenvolvam e a que a capacidade de inventar fique
limitada, já que uma parte das suas potencialidades não foi estimulada. Na
verdade, as matemáticas nascem no nosso cérebro e não existem fora de nós,
elas exprimem, de maneira abstracta, a nossa capacidade de ver, sentir e
reconhecer o real e constituem um verdadeiro reservatório de conceitos para
enfrentar a tarefa da sobrevivência e do desenvolvimento. A actividade
matemática que se caracteriza, nomeadamente, pela procura das invariantes
(conceptuais), é a extensão duma actividade cognitiva essencial para a
adaptação à realidade e, consequentemente, para a sobrevivência:
“A matemática ensina o pensamento rápido. Embora escrevendo x possa dizer 1,2,3, o infinito, os racionais e transcendentes, os reais e os complexos e mesmo os quaterniões, temos aí uma economia do pensamento. (...) Uma demonstração salta os intermediários.”(Serres 1996, pp. 97-98)
Queremos também com esta abordagem que se compreenda como o
domínio de linguagens como a da matemática é importante para a nossa
actividade do dia a dia, como nos permite e facilita a realização de actividades
criativas e nos incentiva à invenção de respostas novas. Esta ideia aparece
expressa, duma forma muito simples, num depoimento de Mário Barreiros,
músico e produtor de discos, onde refere a forma como o trabalho de produção
musical e a relação com as máquinas beneficiou da sua facilidade inata em
compreender os insondáveis mistérios da matemática:
“As coisas aconteceram naturalmente. Sou uma pessoa com algum talento para a matemática. Tenho alguma facilidade em organizar as coisas, em perceber como é que as máquinas funcionam, como é que um compressor funciona, como é que um equalizador reage...E tiro imensas notas sobre as coisas. Esse jeito para a matemática sempre me ajudou”. In Pedro Gonçalves, “A produção e a matemática”, revista On de O Independente de 2000-02-06, p.25.
85
Esta reflexão sugere-nos a pertinência em não restringir a um público
escolar o projecto de intervenção teatral que temos vindo a explanar, dado o
valor estratégico que pode assumir numa educação permanente. Se nos países
em vias de desenvolvimento se utilizaram e utilizam os instrumentos e a
linguagem teatral para lançar campanhas de informação e de prevenção ao nível
dos temas primários, porque é que no interior dos chamados países
desenvolvidos não poderemos utilizar os mesmos instrumentos e a mesma
linguagem para lançar toda uma campanha de agitação e desafio nos domínios
da inteligência e da imaginação?
Procura-se assim, fazendo apelo aos recursos do teatro, criar um mundo
mágico e envolvente que ajude também, por si, a vencer barreiras e preconceitos
em relação à Matemática, explorando-a com as crianças e jovens de múltiplas
formas estimulantes e lúdicas. Neste projecto os actores não aprendem primeiro
a matemática para depois a aplicar à história, antes exploram ambas em
simultâneo. É evidente que a partir dos espectáculos se podem gerar, com
facilidade, situações que encorajem a compreensão e a familiarização com a
linguagem matemática, estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem
corrente, os conceitos da vida real e a linguagem matemática formal, dando
oportunidade a que se fale sobre o vocabulário matemático e desenvolvendo
noções, conceitos matemáticos e habilidades de formulação e resolução de
problemas.
Para a operacionalização destas ideias há que encontrar as dimensões e
os domínios onde é fundamental uma abordagem matemática e que definir as
capacidades que podem ser desenvolvidas através desta intervenção, num
processo que permitirá ainda evidenciar os elementos ou conceitos estruturantes
de um processo de leitura, compreensão e operacionalização das linguagens
matemáticas ao longo dos diferentes níveis etários e, a partir daí, criar diferentes
produtos teatrais que possibilitem intervenções diversificadas do pré-primário ao
universitário, do popular ao erudito.
A invenção e o cientista como paradigma do inventor/criador
Ao propormos introduzir esta dimensão no trabalho queremos, num
primeiro nível, que se possam desenvolver projectos que permitam e criem
condições para que cada pessoa compreenda como os inventores desenvolvem
os mecanismos de descoberta e quais as capacidades e as características da
personalidade que lhes permitiram fazer as descobertas que fizeram.
86
Neste sentido, propomos que se trabalhe sobre a vida e a obra dos
cientistas enquanto paradigmas do inventor, tentando perceber a forma como
desenvolveram as suas descobertas enquanto momentos essenciais no percurso
de alguém que assume o conhecimento como uma aventura, uma aventura que
inquieta e desafia a ir cada vez mais longe, num processo que desoculta a razão
e as circunstâncias do acto de inventar. Hoje é urgente conhecer o que é que
nos faz inquietar e nos impede de nos contentarmos com o que acontece no
interior da normalidade, o que é que nos leva a entrar nesta aventura
interminável que é a aventura do conhecimento, dimensões que é essencial
desenvolver no interior dos projectos de formação.
Para além destas abordagens ao processo individual de cada cientista de
referência, parece-nos importante desenvolver uma vertente de pesquisa que se
centre no "Eureka", esse momento mágico em que as novas coisas emergem,
em que as descobertas ganham forma, num projecto que queremos se centre na
inesgotável capacidade de sonhar, inventar e descobrir do Homem e no modo
como todas as descobertas fizeram avançar o mundo. Este projecto, que terá
como ideia central o trabalho sobre a grande aventura da descoberta e do espírito
de invenção do Homem, constituindo um balanço e um louvor à capacidade de
superar dificuldades e engendrar novos caminhos e soluções, mesmo em
situações muito desfavoráveis, deverá tomar a forma de uma história e de um
espectáculo onde as personagens centrais serão as figuras da ciência e a trama
ficcionará o papel que elas tiveram para o avanço do mundo e para o
desenvolvimento das civilizações. Por aqui deverão passar muitos dos nomes e
das ideias que fizeram, às vezes quase sem se dar por isso, muito do que somos
hoje, num projecto onde se deve inventar tudo até ao fim.
Com esta proposta quer-se, naturalmente, homenagear os inventores. Mas
pretende-se também e sobretudo desafiar cada homem, neste início de século, à
invenção de um outro quotidiano, de uma outra forma de viver.
Os instrumentos de navegação e a cartografia
Se na altura das descobertas a cartografia e os instrumentos de orientação
foram fundamentais para a navegação e as consequentes descobertas que se
fizeram, é fundamental que hoje se saiba quais os instrumentos e os mapas que
poderemos utilizar para cartografar os nossos trajectos, para nos orientarmos no
nosso processo de descoberta e de criação de novos mundos. Um trabalho que,
esperamos, nos dará um conhecimento profundo dos instrumentos e dos
87
conhecimentos que nos permitirão navegar nesta realidade cada vez mais
complexa e desafiante.
A este nível propomos que se desenvolvam projectos cuja temática central
seja a cartografia, onde, por exemplo, se possa recordar e homenagear uma
obra tão significativa como foi a do cientista português Pedro Nunes, certamente
o maior matemático e astrónomo português. Não nos podemos esquecer que em
2002 se comemoram quinhentos anos do seu nascimento e que o cientista ocupa
ao nível académico internacional uma posição de relevo e justa honra, como o
comprova e ilustra o facto de o seu nome ter sido atribuído a uma cratera da Lua.
Ao tratarmos a cartografia, fazêmo-lo porque pensamos que para intervir
no mundo e para inventar novos mundos é preciso conhecer algo sobre os
instrumentos e as cartas que nos permitam navegar no mundo de hoje, tal como
aconteceu com os descobridores da época de Pedro Nunes. Como astrónomo,
matemático, mestre universitário, criador de instrumentos para as técnicas de
navegação e em muitos outros domínios, Pedro Nunes foi o expoente máximo da
cultura e ciência portuguesas. Com este trabalho sobre uma das figuras de
referência do pensamento e da criação portuguesa, que gostaríamos que tivesse
como referência o Galileu Galilei do Brecht, propomo-nos alargar o universo dos
públicos para além das escolas e aproveitar a oportunidade para mostrar ao
maior número de pessoas, à sociedade portuguesa, um dos momentos mais
significativos e criativos da sua história, da nossa história: a grande saga dos
descobrimentos.
Esta ideia de exploração da cartografia deve ter uma ligação cada vez mais
íntima com a gestão do quotidiano social, com a necessidade de se inventarem e
produzirem instrumentos de pilotagem e de regulação dos sistemas complexos
que constituem a vida em sociedade, instrumentos que permitam uma
governação mais eficaz. Um quadro social que implica, como escreve Rosnay
(1995), que olhemos para as coisas com uma outra perspectiva e um outro
quadro de referências:
“Il faut donc prendre du recul, considérer le système monde dans son ensemble, s´inspirer de la description de la vie du cybionte pour retrouver les grands enjeux des actions politiques nécessaires pour favoriser l ´avènement de l´homme symbiotique. Enjeux d´une complexité qui échappe à la capacité de gestion des gouvernements des États dans leur structure et fonctionnement actuels“ (p.191).
88
A prática teatral como instrumento de intervenção social
Este será o espaço e o tempo de afirmação deste trabalho na sua dimensão
social, enquanto prática intimamente ligada e interveniente no seu mundo e no
seu tempo, trazendo a realidade social para o centro do trabalho de criação, pois
sendo o teatro o espaço de descoberta do mundo interior de cada pessoa e do
grupo, será também um espaço e um tempo de emergência e revelação das
realidades sociais mais profundas e, consequentemente, de simulação das novas
realidades que seremos capazes de perspectivar. Poderá e deverá ser assim um
espaço e um tempo de revelação dos movimentos e dinâmicas sociais
emergentes, num processo de vaivém que se desenvolve através das trocas com
o outro ou os outros e que é a base da visão estereoscópica que o teatro nos
pode trazer da vida.
Vamos assim criar condições para que cada um e o grupo sejam capazes
de pensar o mundo de hoje e de construir ficções que mostrem como o mundo
poderia ou deveria ser, ficções essas construídas a partir das temáticas centrais
que o atravessam a cada momento e das contribuições das histórias individuais
de cada um. O teatro assumir-se-á aqui como um espaço privilegiado de
invenção e ficção de outras realidades, da prospectiva, como espaço de criação
de grandes frescos sobre a sociedade contemporânea.
Este módulo funcionará como o espaço e o tempo de construção de pontes
com o exterior, com a estrutura social envolvente, permitindo, na perspectiva
artística, o contacto e o conhecimento dos projectos de todos aqueles que
trabalham a partir da criação de textos ou de narrativas que falam da sociedade
de hoje e dos seus futuros possíveis, ou da actualização dos textos clássicos,
baseando-se em termos teatrais em duas constatações:
- a importância que o texto volta a ter no teatro contemporâneo, o que se
traduz num certo retorno aos clássicos e num incentivo ao aparecimento de uma
dramaturgia contemporânea, dos novos clássicos;
- o papel cada vez maior que a organização do espaço tem tanto no teatro,
como na organização da vida das pessoas, permitindo estudar e compreender os
momentos de evolução do espaço teatral ao longo dos tempos e a que
movimentos sociais a que essa evolução correspondeu, o que abre a
possibilidade de discussão do que são hoje as questões do urbanismo e da
forma de organização do espaço de vida das pessoas.
Há pois que, a este nível, trabalhar sobre o nosso quotidiano e o mundo
89
em que vivemos, a sua qualidade de vida, num processo de defesa e
manutenção de um mundo ou da nossa Terra Pátria, como refere Morin (1993),
onde a felicidade seja possível. Ciam-se assim novos mundos, os mundos
possíveis, numa vertente capaz de simular soluções múltiplas de futuro, de
mostrar problemas e abrir caminhos, questionando o mundo de hoje, sem
esquecer o como é importante conhecer como no passado, na história, se
resolveram certos problemas, ou como certas soluções propostas, por vezes
como mágicas, já foram tentadas noutros tempos. Por outras palavras, é preciso
entender o futuro como algo que se constrói no presente e que está
extremamente dependente da memória, da história, uma história que tem que ser
assumida não como um espaço onde se armazenam velhas histórias, mas sim
como uma referência que é fundamental para a compreensão do papel do
homem no mundo.
Hoje podemos olhar determinadas actividades humanas, as artes, a
produção de mitos ou as ciências naturais, como desenvolvimentos culturais
numa mesma direcção, como actividades que apelam para a imaginação
humana e que operam através da reconstrução de fragmentos da realidade com
o objectivo de criar estruturas novas, situações novas, ideias novas. O papel das
artes ganha neste processo de invenção de outros mundos um papel fulcral.
Nesta medida não é por acaso que os peritos militares americanos, confrontados
com a crise de 11 de Setembro e a destruição das torres do World Trade Center
e do Pentágono, tenham recorrido a um grupo de criativos de Hollywood para
recriar e antecipar cenários de eventuais atentados terroristas aos Estados
Unidos da América (veja-se jornal Público de 11 de Outubro de 2001). Este apelo
demonstra a consciência que cenários de ficção aparentemente improváveis se
podem tornar reais e que a indústria do espectáculo pode contribuir, com a sua
experiência em contar histórias, em definir personagens, criar efeitos visuais ou
de produção, para a criação de campos de treino virtuais onde os soldados se
confrontam com várias dificuldades e dilemas e são obrigados a decidir sob
pressão em tempo real. Este projecto de simulação conta ainda com uma equipa
responsável pelo desenvolvimento do raciocínio para autómatos e de modelos de
emoções para seres humanos virtuais e uma outra que desenvolve a animação
dos corpos virtuais e das expressões faciais, enquanto na área áudio há
investigadores que criam um sistema de som e sincronizam a mistura de efeitos
e do som de fundo e outros que elaboram sistemas de discurso sintético.
90
“Terra Incógnita - Terra Prometida” enquanto projecto de referência
“Fechar fronteiras é entregar as chaves às mafias. (...) Se os países ricos e desenvolvidos não tiverem a inteligência e a necessária vontade para mobilizar recursos para tratar a questão dos emigrantes acabarão, também eles, com navios em insuportável deriva no seu interior”.
Sena Santos 2001
“Terra Incógnita – Terra Prometida” pode começar com a história real de um
barco carregado de refugiados que aguarda, à entrada de um porto algures na
Europa, em África ou na costa da Austrália, autorização para acostar, autorização
que acaba por não chegar. A Terra Incógnita inicia-se assim, neste barco ou
nestes barcos cheios de gente que acreditou que as fronteiras caíam com os
muros e que de repente tomou consciência que outros muros e outras fronteiras
emergiram duma forma extremamente violenta, só deixando o mar como espaço
da não fronteira para fugir. Só que esta fuga para o mar, para o espaço da não
fronteira, fecha definitivamente todas as fronteiras, pois quem se arrisca a ser
contaminado pela ideia da não fronteira dificilmente voltará à normalidade que a
existência dos espaços de fronteira exige, e é assim que aos passageiros destes
navios só lhes resta fazerem-se outra vez ao mar, assumirem-se definitivamente
como habitantes da não fronteira e inventar aí um novo mundo, a “Terra
Incógnita-Terra Prometida”.
A ideia deste projecto surge com o movimento que veio dar origem à queda
do muro de Berlim. Pensava-se então que, com o alargamento das brechas que
começavam a aparecer nas zonas fronteiriças, a comunicação passava a ser
mais fácil e o diálogo e a interacção entre as diferentes culturas europeias
passaria a ser uma realidade. Puro engano, pois tinha-se desvalorizado o facto
de que, quando os muros desabam as pedras, em vez de desaparecerem no ar
como por encanto, tombam para os dois lados e provocam alguma agitação. E na
realidade a agitação foi tão grande que levou a que, contrariamente à ideia de
uma Europa sem Fronteiras, tenham ressurgido novos muros até então
adormecidos e que se têm revelado muito mais violentos que os muros e as
fronteiras anteriores. A Europa vive hoje no interior de um processo conflitual
entre uma realidade que tem na antiga Jugoslávia uma zona de fronteira
extremamente violenta e as tentativas de alargamento da ideia de um espaço
europeu sem fronteiras, como acontece com o projecto da Comunidade Europeia.
E a realidade é tão contraditória que podemos dizer que hoje, na Europa, se
estão a fechar as pontes entre os espaços de fronteira e de não fronteira, com os
91
territórios que se querem afirmar como da não fronteira a construírem imensas
fortalezas para impedir a entrada de gente proveniente dos países e das
comunidades de fronteira, de tal forma que, por exemplo, à porta de Ceuta, a
parte de Espanha que tem de proteger a fronteira sul da Europa da pressão
magrebiana e centro-africana, foi já construída uma estrada de nove quilómetros
na qual se colocarão muros elevados, redes e câmaras de televisão para
“impermeabilizar” a fronteira.
Esta realidade, que à primeira vista nos parece longínqua, mas com a qual
nos confrontamos a cada momento, voltou a acontecer recentemente com o
navio Tampa que recolheu 438 náufragos, curiosamente saídos ou em fuga do
Afeganistão, e que foram obrigados a ficar, em muito más condições de saúde e
higiene, fundeados ao largo da Austrália. O governo australiano argumentou que
não podia permitir que a Austrália fosse vista no mundo como um país de destino
fácil, um argumento que não encontrou eco junto da opinião pública, pois a
Austrália foi construída por emigrantes que, por acaso ou não, eram brancos.
Como escreveu Sena Santos no Diário Económico de 7 de Setembro de 2001,
“o caso do Tampa é simbólico. É o nosso navio, é o nosso destino, representa o nosso tempo. Faltam na terra lideranças políticas voluntariosas, ao mesmo tempo visionárias, sensíveis e determinadas. A questão das migrações sejam genuínos refugiados políticos que procuram escapar a perseguições, sejam os que fogem da pobreza – é uma das mais sérias na agenda internacional de hoje.”(p.11)
Situações como esta acontecem diariamente com os cidadãos do leste que
entram em Portugal, ou com aqueles que sulcam o estreito de Gibraltar ou as
águas do Adriático, uma humanidade desesperada em barcos que tantas vezes
não resistem ao peso dos passageiros ou à agitação do mar, fazendo com que
não saibamos quantas cargas humanas terão sufocado dentro de um contentor
como aquele que foi descoberto no ano passado na doca de Dover.
O projecto “Terra Incógnita – Terra Prometida” propõe-se ficcionar múltiplas
hipóteses sobre o que será ou poderá vir a ser essa Terra Prometida, ou esse
novo mundo, num discurso e numa prática artística que se assumem como o
espaço privilegiado de revelação dos movimentos e dinâmicas sociais
emergentes e de invenção de uma outra realidade. Um processo artístico que nos
interessa porque não se fecha no discurso das artes, antes parte da realidade
para simular um mundo outro, uma “Terra Incógnita – Terra Prometida” onde o
homem é entendido na sua globalidade e a felicidade é possível.
92
Um modelo para uma estrutura de criação teatral de referência
Conforme fomos tomando consciência ao longo deste trabalho, não é
possível a sobrevivência de um projecto artístico e teatral no interior da educação
se no exterior não existirem projectos que lhe sirvam de referência e de desafio.
É para nós fundamental defender a existência de estruturas de produção e
criação artística e teatral que sejam parte integrante de um projecto global de arte
e educação e definir os pressupostos a que essas estruturas devem obedecer de
forma a possibilitar às práticas e aos projectos de formação das escolas, por um
lado, a fruição e o confronto com diferentes produtos, e, por outro, o
acompanhamento dos processos de produção e criação teatral.
É esta definição que agora nos propomos fazer, procurando cruzar os sete
pressupostos ou princípios das práticas teatrais de referência, com os
pressupostos, as necessidades e os desafios resultantes da definição das
perspectivas de intervenção para o interior do trabalho das escolas. O resultado
deste cruzamento será traduzido, em termos práticos, com a introdução de
propostas de abordagem de textos teatrais que, pensamos, podem responder
duma forma exemplar aos pressupostos que vamos definir, textos estes que
resultam do trabalho de pesquisa desenvolvido para encontrar uma base de
dados de textos dramáticos que nas suas temáticas centrais se debrucem sobre
as questões que ligam a arte e a ciência.
É na pesquisa de uma dramaturgia de referência que podemos encontrar as
questões centrais que atravessam a história do homem e da sociedade ao longo
destes últimos séculos, como podemos verificar em obras como, por exemplo, as
de Josef e Karel Capek e Georg Büchner. A obra dos irmãos Capek trata, em
grande parte, da ascensão das ditaduras e das terríveis consequências da guerra
e é escrita, em larga medida, durante o período em que Praga esteve ocupada
pelas tropas de Hitler. R.U.R. e The Insect Play, as peças de maior sucesso desta
dupla de autores, são sátiras ferozes aos horrores de um mundo técnico e um
aviso sério à humanidade caso falhe a sua luta contra a opressão, contra
qualquer tipo de opressão, sendo consideradas um profético aviso para toda a
humanidade. Quanto a Georg Büchner, que viveu entre 1813 e 1837 e escreveu
Woyzeck, esse magnífico texto onde se questiona o ser humano e a sua
manipulação, foi no seu tempo alguém com uma aptidão muito definida pela
ciência e um desejo de perceber como funcionam as coisas, tendo, para além
disso, formado com um largo grupo de revolucionários a Sociedade para os
93
Direitos Humanos, para a qual escreveu panfletos ilegais. Acabou por ficar tão
envolvido em actividades políticas revolucionárias que teve de fugir para a Suíça.
Complementarmente ao trabalho de relação com os textos dramáticos
existentes, pensamos que é necessário desenvolver todo um conjunto de
estratégias capazes de incentivarem e provocarem o aparecimento de novos
textos, textos estes que, nalguns casos, podem responder duma forma mais
eficaz às temáticas que achamos fundamentais que, num determinado momento,
sejam tratadas. Refiro, concretamente, os projectos “Eureka”, “Pedro Nunes” e
“Terra Incógnita - Terra Prometida”, já mencionados neste capítulo, pois
respondem a temáticas que para nós e para a estratégia que definimos é
fundamental abordar. Os respectivos textos vão ter que ser criados no interior de
uma oficina de dramaturgia que ligue a escrita à cena, pois na pesquisa que
desenvolvemos não encontrámos textos dramáticos que correspondessem às
necessidades temáticas dos projectos.
Hoje existe a percepção de que a ausência de uma dramaturgia
contemporânea portuguesa é difícil de colmatar unicamente no interior do mundo
da escrita, começando a emergir a consciência de que os dramaturgos têm de
deixar de trabalhar sozinhos e que devem ligar o seu trabalho ao dos
encenadores, compositores, e, muitas vezes, cenógrafos, que se juntam para, em
conjunto, desenvolverem os seus projectos e criarem os seus espectáculos. Esta
tendência para a constituição de equipas multidisciplinares, que começa também
a ganhar forma no nosso país, parece-me ser um caminho extremamente
estimulante. De forma a criar condições para que as temáticas se desenvolvam e
o inesperado aconteça, há que desenvolver toda uma estratégia que permita, em
cada momento, testar determinados fragmentos no confronto com a cena, fazer
leituras encenadas dos textos, confrontá-los com os públicos, testar a pertinência
das temáticas abordadas e a sua capacidade de atrair e interessar segmentos
significativos de público ou de públicos. Uma estratégia que permitirá testar a
pertinência dos textos antes da sua passagem para a cena e torná-los cada vez
mais eficazes.
É fundamental desenvolver a técnica da escrita das narrativas dramáticas,
sentir o seu respirar, o respirar dos diálogos na sua adaptação à cena, refazendo
tudo o que for necessário para que as falas ganhem verdade na voz dos
actores/personagens, sejam capazes de transportar emoção e intensidade para o
público. Só assim, pensamos, desenvolveremos a nossa imaginação e a nossa
capacidade de contar/escrever histórias para os outros, histórias que agarrem em
permanência as pessoas, que as surpreendam e em que se consigam ver como
94
personagens. Há efectivamente que mobilizar os dramaturgos para a ideia de que
é fundamental construir histórias que tornem o espaço de representação, de jogo,
de tal forma aliciante que consiga despertar a curiosidade para a história ou as
histórias que se estão a pôr em cena, de forma a que todos se sintam motivados
a participar, a colocar um pouco das suas histórias na história geral,
contaminando a sociedade com o prazer da escrita, fazendo com que tudo seja
pretexto para se escrever, tornando a escrita uma verdadeira aventura no interior
de cada pessoa. É bom não esquecer que a parte mais significativa dos textos
que ainda hoje perduram e estão cheios de actualidade foi escrita e rescrita no
confronto directo com a cena: Gil Vicente, Shakespeare, Lope de Veja, Molière,
entre tantos outros, são exemplos paradigmáticos de como a compreensão e o
sentir do respirar das palavras e das situações só se vai acertando quando se sai
do isolamento do papel e as palavras, os sons, as cores, ganham vida, invadem o
espaço de representação.
A escrita dramática é, muitas vezes, o espaço onde ganham forma e
emergem, ainda que através de ficção, os movimentos sociais que, em cada
momento histórico, ainda estão subterrâneos ou clandestinos e daí a sua
importância :
“A coroa de glória da linguagem vem da sua capacidade de traduzir, com rigor, os pensamentos em palavras e em frases, e as palavras e as frases em pensamentos; da sua capacidade de classificar o conhecimento, rápida e economicamente, sob a capa protectora de uma palavra; da capacidade para exprimir construções imaginárias ou abstracções remotas através de uma palavra simples e eficaz.” (Damásio 2000)
É fundamental que a prática teatral que queremos que seja posta em
prática tenha, primeiro que tudo, capacidade de abordar as temáticas que hoje
definimos como estratégicas para a afirmação de pessoas conscientes e criativas
e com uma grande capacidade de intervirem na realidade social de que são
cidadãos de corpo inteiro. Temos necessidade de um teatro e de uma prática
teatral que seja, primeiro que tudo, o espaço da pessoa, que, em segundo lugar,
trabalhe sobre as estruturas que suportam o pensamento e a invenção, e,
finalmente, que tenha uma dimensão de intervenção social, pois só a conjugação
destas três dimensões nos permitirá desenvolvera a nossa acção no sentido e
com o objectivo de formar pessoas com capacidade de pensar e inventar uma
sociedade outra, num processo que terá que ser necessariamente suportado por
um outro quadro de referências.
95
Um espaço da condição humana
Assumimos aqui a ideia de um teatro que produza espectáculos capazes de
motivar cada espectador a iniciar uma viagem ao interior de si próprio, uma
prática teatral capaz de tornar o teatro num efectivo espaço de comunhão e de
encontro de cada um consigo próprio e com os outros, espaços que a
sociedade do espectáculo e do consumo foi fazendo desaparecer e que temos
necessidade de reinventar. Procuramos criações teatrais que tenham força e
energia para despoletar todo um processo de reflexão sobre a nossa condição de
seres humanos que têm direito a existir para além do número e do papel que lhes
foi ou é atribuído na engrenagem de que é feita esta sociedade do consumo e do
espectáculo. Conforme já afirmámos, o teatro é “le seul endroit où nous pouvions
nous libérer des contraintes de nos vies quotidiennes. Cela faisait du théâtre un
lieu sacré où trouver une réalité plus profonde" (Artaud citado por Brook 1977,
p.79). Falamos naturalmente de uma prática teatral que traz a pessoa para o
centro dos processos de mudança e a confronta com personagens e situações
desconhecidas capazes de despertarem em cada um capacidades adormecidas
ou desconhecidas, num processo que nos leva à procura e ao encontro com o
outro que é também o eu e que, naturalmente, nos ajuda a crescer.
Estamos a falar de uma abordagem que, ao nível da criação teatral e da
produção de espectáculos, se estrutura no interior de dois movimentos: o primeiro
é o movimento das forças que entravam funções e atitudes essenciais da nossa
humanidade e que, quando aprisionam alguém, o reduzem em definitivo a uma
outra vida, forças que se constituem em obstáculos e limitações nascidas no
interior de cada um ou a nível social; o outro movimento é o irresistível desejo de
lutar pela condição humana que existe em cada ser pessoa. Efectivamente, o
espaço de comunhão de que falamos só se poderá desenvolver integralmente se
se tornarem visíveis e se se perceberem os constrangimentos e as tendências
negativas existentes na sociedade para aprisionar o homem e o impedir de se
afirmar integralmente, em suma, para condicionar o seu desenvolvimento. Da
mesma forma há que tornar visíveis as longas lutas que se travam para contrariar
essa tendência.
O teatro tem assim que dar visibilidade aos movimentos e às tendências
sociais que impedem que o homem se afirme em toda a sua plenitude,
funcionando neste caso como um espaço de denúncia e alerta para a sociedade,
e, ao mesmo tempo, como antídoto para essa tendência de oprimir e manipular
96
as pessoas ao abrir espaços aos projectos onde cada pessoa tenha as condições
essenciais para ser actor da sua própria história, para se afirmar integralmente.
Como exemplo da primeira tendência, onde o ser é aprisionado por forças
que entravam funções e atitudes essenciais do ser humano e é reduzido em
definitivo a uma outra vida, temos como referência as peças Je suis un
phénomène e L'Homme qui (The Man Who) de Peter de Brook e Marie-Hélène
Estienne. A primeira conta-nos a história de Solomon Veniaminóvitch
Shereshevsky, um homem que possuía uma memória prodigiosa e que, não
tendo conseguido triunfar na música nem no jornalismo, acabou por rentabilizar a
sua rara habilidade tornando-se numa figura célebre que percorreu os circos de
toda a Rússia, tendo o seu caso interessado ao neurologista russo Luria que lhe
dedicou um livro e muito do seu tempo. Peter Brook e Marie-Hélène Estienne
elaboraram uma história que narra a relação entre Solomon e Luria, onde ambos
estão vivos e se reencontram nos dias de hoje nos Estados Unidos, mostrando o
percurso do homem da memória prodigiosa, memória que todos os dias, e a cada
uma das horas, se estíola dolorosamente porque é incapaz de esquecer,
esgotando assim o poder e o impacto do homem fenómeno. Na segunda, onde
se transforma a mente humana em matéria poética, os autores narram o drama
de um talentoso professor de música incapaz de compreender a realidade
através de sensações que não sejam as auditivas, numa adaptação da obra do
neurologista e psicólogo anglo-americano Oliver Sacks, The Man Who Mistook
his Wife for a Hat. Desta obra de Oliver Sacks existe ainda uma ópera, The Man
Who Mistook his Wife for a Hat, de Michael Nyman e Christopher Rawlence.
Esta tendência aparece também, ainda que na dimensão mais do social, no
Woyzeck de Georg Büchner que nos conta a história do soldado Woyzeck, criado
para todo o serviço de um Capitão prussiano que o considera amoral e estúpido,
principalmente porque é pobre, e é exactamente porque é pobre que tenta
arranjar mais algum dinheiro deixando que o Médico do regimento o utilize para
fazer experiências, obrigando-o a não comer nada a não ser ervilhas de forma a
provar uma qualquer obscura afirmação cientifica. Woyzeck acaba por ser traído
pela namorada, a quem corta a garganta, e finalmente, perdido de bêbedo e
desconfiado das pessoas, afoga-se.
A força do irresistível desejo de humanidade que vive em cada ser
humano e a forma como nalguns casos a perda de humanidade e a luta
para a reaver parece traçar um percurso humano exemplar, vamos
encontrá-las em Philip and Rowena : a play, de Gillian Plowman, uma peça que
97
é uma celebração do poder incomparável da vida. A acção passa-se num
Hospício algures, um local estranho onde se abrigam os doentes terminais
ritualizando a inevitabilidade da morte próxima. Philip e Rowena, dois doentes
internos do hospício, ele com 70 anos e à espera do divórcio da sua amarga
mulher e ela com 65 e a sonhar poder trazer unidade à sua família, descobrem-se
mutuamente por entre a surpresa e a ternura, revelando uma espantosa
capacidade para rir e imaginar. Este encontro dá-lhes a possibilidade de planear
uma viagem imaginária a Itália e de criar um mundo de fantasia, de jogo, dança,
banquetes e até corridas de moto, antes de decidirem casar.
Este mesmo sentido encontramo-lo também, mas aqui com uma
perspectiva e dimensão social, na peça R.U.R (Rossum's Universal Robots), de
Josef e Karel Capek, que nos conta a história da jovem idealista Helena Glory
que chega a uma ilha remota que abriga a fábrica Rossum's Universal Robots
onde contacta com os fundadores da fábrica, o inventor louco Velho Rossum que
sonha para si o papel de Deus e o Jovem Rossum, um industrial pragmático que
sonha com uma versão barata de exércitos de operários. Rejeitando a teoria
defendida por Helena de que os Robots têm alma, o psicólogo da fábrica,
Hallemeier, admite que às vezes eles fazem coisas pouco previsíveis, o que
interpreta como defeito de fabrico, ao invés de Helena, que vê nisso uma alma
emergente. Gradualmente os Robots planeiam conquistar o mundo e descobrir o
segredo da vida e é a vida que emerge triunfante quando Helena Robot e Primus
Robot se apaixonam. Alquist abençoa os noivos, dá-lhes os nomes de Adão e
Eva e manda-os embora da R.U.R. para que evitem cair nos erros dos seus
predecessores.
O espaço do pensamento e da invenção
Em segundo lugar queremos uma prática teatral que conte histórias
fantásticas onde o único limite seja o céu, histórias com capacidade de despertar
e alimentar o imaginário de cada espectador e de o motivar a desenvolver as
suas capacidades de associação e de descoberta de relações inesperadas, a
resolver enigmas e a responder a problemas a que é necessário dar resposta
para que as histórias avancem e os conflitos se resolvam. Uma prática teatral que
seja ainda capaz de nos confrontar com percursos de personagens ou de obras
de excelência que tenham a capacidade de invenção como objecto central pelo
qual lutam, percursos e histórias que mostrem como essa capacidade de
invenção é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, de todos os
98
seres humanos. No fundo, queremos uma prática teatral capaz de produzir
espectáculos que estimulem a inteligência, que contem histórias e coloquem
problemas e questões que provoquem o funcionamento dos neurónios e
incentivem a produção de pensamento.
A dimensão que procuramos neste ponto vamos encontrá-la, em primeiro
lugar, num musical que é simultaneamente uma alegre intromissão na História e
o desfilar de um confronto pessoal com o destino, numa trama que começa
quando, em 1993, Andrew Wiles espanta o mundo ao anunciar a solução para o
Teorema de Fermat, o famoso problema matemático colocado por Pierre de
Fermat em 1637. No musical Fermat's Last Tango, a personagem Daniel Keane
ganha de um momento para o outro aclamação unânime quando apresenta as
suas descobertas. No entanto, a festa rapidamente dá lugar à dúvida quando um
reincarnado Fermat descobre uma falha na prova apresentada por Keane. O
combate singular de Keane para corrigir os resultados acaba num singular
triângulo amoroso que o envolve a si, a sua mulher, Anne, e a matemática trazida
à vida por Fermat e os seus amigos imortais: Pitágoras, Euclides, Newton e
Gauss. Fermat's Last Tango, de Joanne Sydney Lessner e Joshua Rosenblum, é
um musical que, combinando opereta, blues, pop e, evidentemente, tango, acaba
também por ser um testemunho do extraordinário poder de excitação da
matemática e da sua beleza sem paralelo. Ainda nesta dimensão, The Five
Hysterical Girls Theorem de Rinne Groff, cuja acção se desenrola no Inverno de
1911 numa estância de veraneio britânica durante um congresso de matemática,
traz-nos uma comédia sobre amor e a matemática, onde desfilam, como numa
passerelle, uma longa fila de matemáticos excêntricos, novos e velhos, homens e
mulheres que se juntam para discutir uma teoria, aguçar rivalidades, trocar
mentiras e amores.
Ao nível das histórias de personagens que têm a invenção no centro da sua
existência, pois ela dá-lhes instrumentos como nenhuma outra para a procura da
verdade e do sentido das coisas, escolhemos três textos exemplares que, com
diferentes conteúdos, abordam esta questão. O primeiro, Proof, de David
Auburn, conta-nos a história de uma jovem enigmática, Catherine, da sua irmã
manipuladora, do seu brilhante pai e de um inesperado visitante, na busca da
verdade existente por detrás de uma misteriosa prova matemática. Uma
descoberta que finalmente vamos perceber como surgiu quando Hal descobre,
num velho bloco de notas, que a sua autora tinha sido Catherine, a personagem
mais frágil de toda a história, que de uma forma silenciosa e determinada acabou
99
por dar forma às questões que o seu pai colocava cada vez mais
fragmentariamente.
Os dois outros textos seleccionados trazem-nos uma outra perspectiva, pois
contam-nos histórias de personagens reais como foram Einstein e Richard
Feynman. Moving Bodies, de Arthur Giron, conta-nos a história da vida fantástica
de Richard Feynman, desde que, em criança, é capultado de uma cidadezinha de
província à beira-mar para o MIT e daí imediatamente para Princeton, lado a lado
com Einstein, até ser recrutado por Oppenheimer para o Manhattan Project em
Los Alamos (a construção da Bomba Atómica). Já Einstein, de Ron Elisha,
explora o génio e a consciência de Einstein que se debate com o seu eu de meia
idade e o seu eu jovem, enquanto se afunda no leito de morte. Einstein acredita
que o seu trabalho, que levou ao desenvolvimento da bomba atómica, lhe negará
o perdão de Deus e a salvação.
No domínio das ideias e da sua invenção, escolhemos um texto de Richard
Foreman que aborda uma figura tão significativa como a de Nietzsche,
debruçando-se sobre a sua loucura na medida em que foi essa "loucura" que
acendeu o fogo da filosofia. Nietzsche estilhaçou a sua época e tinha essa
faculdade produtiva de virar as coisas do avesso, como se estivesse nos
antípodas, do outro lado. Em Bad boy Nietzsche acaba por se afirmar que seria
uma delícia se pudéssemos todos ter acesso à loucura que se esconde dentro de
cada um de nós.
Estes exemplos mostram-nos como é importante a abertura aos outros e
ao novo, como é importante ter disponibilidade mental e corporal para reformular
e adaptar permanentemente aquilo que é feito, evidenciando também como o
teatro é, mais do que qualquer outra prática artística, aquela que nos abre a via
na direcção de uma outra apreensão dum mundo em transformação. Capacidade
de abertura, de reformulação e adaptação que, como já explicitámos, é referida
por Brook (1992) quando salienta, como exemplo, que não há nada pior do que o
que acontece aos pintores quando começam a dar uma marca particular aos
seus trabalhos e é por essa marca particular que são conhecidos. É que a partir
daí o pintor « ne peut plus assimiler le travail de qui que ce soit d´autres sans
perdre la face. Cela n´a aucun sens au théâtre. Le domaine où nous travaillons
doit être celui du libre-échange"(p.37).
A dimensão do imaginário, onde efectivamente o único limite é o céu,
vamos encontrá-la num texto de Jules Verne e num espectáculo dos Els
Comediants. Voyage à travers l'impossible de Jules Verne é efectivamente uma
história fantástica que conta uma viagem de comboio que se transforma numa
100
viagem alucinante, pois o comboio transforma-se numa nave espacial e os seus
ocupantes em cosmonautas, misturando nesta trama elementos e personagens
de várias das suas histórias, como Voyages et aventures du capitaine Hatters;
Voyage au centre de la terre; De la terre à la lune; Vingt mille lieues sous les
mers; L'École des Robinsons; Maître Zacharius; Une Fantaisie du Docteur Ox.
Este mesmo sentido do imaginário vamos encontrá-lo no espectáculo Sol solet
(Soleil, soleil) dos Els Comediants que nos mostra uma viagem fantástica de uma
companhia de comediantes em busca da Utopia, representada pelo Pai Sol. Num
percurso guiado pela música e pelas canções populares, Sol Solet permite-nos
assistir a um flirt entre o Sol e a Lua, a um combate do primeiro com as nuvens e
ao estabelecimento do ciclo das estações do ano. Sol solet é uma viagem à luz
do mundo, à natureza, às alegrias da vida e às coisas mais simples. Esta
perspectiva podemos também encontrá-la nos espectáculos do Cirque du Soleil
que são verdadeiros hinos ao espectáculo total, como se pode ver nas produções
Quidam e Dralion, onde há um efectivo cruzamento das diferentes disciplinas
artísticas e a transformação do espaço ou dos espaços é permanente.
Tal como afirmámos nos 7 princípios para um teatro de referência, estas
abordagens permitem-nos demonstrar na prática como o processo de criação
teatral abre novas perspectivas à transformação da estrutura espacial das
estruturas onde se desenrolam projectos e como o teatro é portador de
potencialidades interdisciplinares e de percepção da complexidade, pois o
processo de criação dos projectos efectivamente inovadores implica a
mobilização e o apoio das múltiplas áreas do saber.
O espaço da intervenção social
A terceira dimensão é necessariamente uma dimensão social, onde a
criação teatral é o espaço por excelência de análise e reencontro com a história e
com os movimentos sociais que determinaram a sua evolução. Espaço onde se
cruzam as histórias da história com as preocupações, os anseios e os desafios
que a cada momento atravessam as sociedades, cruzamento esse que permite
trabalhar ao nível prospectivo, ficcionar os mundos possíveis, o futuro. Um
processo que deve estar integrado no interior de um projecto cultural ou de
contaminação das práticas e das culturas, num processo que desenvolve a sua
prática para além das fronteiras, sejam elas das pessoas, das artes e das
tecnologias, ou dos países, e que o faz numa perspectiva intercultural, de
intersecção e confluência de culturas, onde o limite de país ou de região não
101
existe. As diferentes tendências interculturais que se podem observar
actualmente no teatro mundial estão baseadas na ideia de que uma cultura
mundial pode emergir a pouco e pouco, uma cultura mundial onde participarão as
mais diferentes culturas e onde se conseguirá respeitar e dar valor à
especificidade de cada uma: "La conception plutôt utopique d´une culture
mondiale, vers laquelle semble se diriger le rapport productif du théâtre avec des
éléments de cultures théâtrales étrangères, est considérée et imaginée comme la
tâche commune des avant-gardes théâtrales des cultures les plus diverses"
(Ficher-Litchte s.d.,p.p.24-35).
No domínio dos textos de referência encontrámos três categorias de obras
que nos parecem determinantes para o desenvolvimento desta perspectiva: uma
primeira onde se reflecte sobre as questões de ética que devem enquadrar todo o
trabalho de pesquisa e de invenção de outras realidades, como poderemos ver
nos textos Copenhagen de Michael Frayn e Hitlers Dr. Faust do autor alemão
Rolf Hochhuth; uma segunda que nos mostra as dificuldades com que muitas
vezes se confrontam aqueles que descobrem novas ideias que põem em causa o
estabelecido e obrigam a um outro olhar sobre a sociedade, o que de uma forma
extremamente clara podemos ver na Vida de Galileu de Berthold Brecht e no
texto de David Mamet The Water Engine; finalmente a consciência de como a
invenção, seja nos domínios da arte ou da ciência, ajuda o mundo a avançar,
como se percebe na peça de Steve Martin Picasso at The Lapin Agile que nos
permite afirmar o espaço da criação teatral como um espaço de invenção por
excelência onde é possível criar cenários, realidades virtuais, futuros possíveis.
A consciência social e a dimensão política de todos os actos da pessoa, o
sentido da ética, da razão e implicações da acção humana vamos encontrá-los
em Copenhagen de Michael Frayn, que põe em diálogo os cientistas Niels Bohr
(1885-1962), judeu-dinamarquês, e Werner Heisenberg (1901-1972), alemão. Em
plena Segunda Guerra Mundial, em 1941, Bohr e Heisenberg teriam tido um
suposto encontro onde se especula que estabeleceram caminhos para chegar à
bomba atómica, um encontro que ainda hoje intriga a comunidade científica. À luz
da história, ninguém sabe de facto o que se passou nesse encontro de dois
cientistas que, antes da eclosão do conflito, tinham escrito em conjunto as
primeiras linhas da física quântica, mas que a guerra acaba por colocar em
campos adversários (Heisenberg trabalha para os nazis e Bohr para os norte-
americanos). Copenhagen reinventa as razões que terão levado Heisenberg a
deslocar-se à Dinamarca ocupada e sobre o que é que os dois homens, tão
diferentes politicamente e no carácter, terão dito um ao outro.
102
Com a mesma ordem de preocupações, Rolf Hochhuth escreveu Hitlers Dr.
Faust, a partir de duas questões centrais: Será legítimo à ciência servir-se de
todos os meios para alcançar os seus fins? Significa isto que o Dr. Fausto cedeu
a soberania do Mundo ao Diabo? Uma história que coloca no centro do conflito
Hermann Oberth, um homem que na sua juventude sonhou com o voo de
foguetões para outros planetas, e que, conjuntamente com o seu discípulo
Wernher von Braun, construiu de facto foguetões, mas não para benefício da
Humanidade. Felizmente a prioridade ao estudo das bombas voadoras só foi
dada por Hitler na fase final da guerra, mas depois de ter morto, expulso ou
provocado a saída da esmagadora maioria dos físicos que seriam capazes de ter
construído as ogivas nucleares.
Ao segundo nível, o da percepção e tomada de consciência das imensas
dificuldades e resistências que, em certas épocas, se revelaram duma violência
enorme, escolhemos dois textos que, de diferentes maneiras, o mostram de uma
forma exemplar. Referimo-nos, em primeiro lugar, à Vida de Galileu, onde
Bertolt Brecht, nos conta, em traços bem marcados, a vida do cientista Galileu em
três momentos centrais da sua vida: a partida de Florença, a instalação em Roma
e o seu julgamento pelo tribunal da Inquisição, mostrando como a afirmação das
descobertas que mudam o mundo e que, naturalmente, rompem com o
estabelecido, se confrontam com enormes obstáculos para se afirmarem.
Obstáculos que levam à possibilidade de se perder a própria vida, tal como nos é
mostrado na história de David Mamet, The Water Engine, onde se conta a vida de
um inventor, Charles Lang, desde o momento em que procura protecção para si e
para o seu invento, um motor que trabalha a água, até ao seu inevitável
assassinato.
O texto de Steve Martin, Picasso at The Lapin Agile, conta-nos a história de
um encontro num bistrot parisiense de Montmartre, o Lapin Agile, entre Albert
Einstein e Pablo Picasso num dia qualquer de 1904, um encontro que nunca
ocorreu de facto, mas que nos mostra como a invenção ajuda o mundo a
avançar, seja nos domínios da arte ou da ciência. Tanto Picasso como Einstein
são portadores do impulso e da energia que hão-de transformar os séculos
vindouros, tendo Einstein publicado a Teoria da Relatividade, um ano depois do
encontro que é ficcionado nesta peça, e Picasso pintado, em 1907, Les
Demoiselles D´Avignon. O que se discute é o futuro: "Nunca pensei que o século
XX me chegasse de uma forma tão casual", diz Einstein quando vê pela primeira
vez um desenho de Picasso. Einstein tem uma teoria nova que permite formular
104
O Teatro como agente do desenvolvimento regional e local e de
enriquecimento da vida quotidiana das pessoas
Nesta dimensão estratégica é fundamental criar condições para que a
criação ao nível das artes do espectáculo chegue cada vez a mais pessoas e
mais localidades e espaços, possibilitando a existência de um público consciente
e participativo. Isto consegue-se se estruturarmos uma rede nacional permanente
de circulação de produtos artísticos de grande dimensão e qualidade e um
projecto articulado de captação, formação e fixação de públicos, aumentando a
oferta cultural em todo o país, acção que entendemos como factor de
desenvolvimento regional e local. Não podemos esquecer que a oferta cultural é
determinante para a fixação de quadros e para a consequente melhoria da
qualidade de vida numa determinada região ou localidade.
Organizar uma estrutura de produção
A operacionalização de um projecto cultural de e para o lazer implica a
existência de uma forte oferta cultural que incentive e responda às necessidades
de fruição cultural de um cada vez maior número de pessoas e localidades.
Oferta cultural que é hoje considerada peça fundamental na afirmação de uma
região, pois, como se considera actualmente no discurso de gestão, uma forte
infra-estrutura cultural é tão importante para uma região como são as estradas ou
as telecomunicações. O sucesso das regiões a médio prazo dependerá dos
serviços e da qualidade de vida que oferecerem, e as artes, a cultura em geral,
desempenham aqui um papel vital ao contribuírem para a promoção de uma terra
como civilizada e interessante, um lugar onde apeteça viver e instalar negócios.
Conscientes da importância que hoje assume a existência de uma forte
oferta cultural e da sua íntima relação com o desenvolvimento local e regional,
este projecto assume como um dos seus vectores prioritários, aumentar e
diversificar a oferta cultural no maior número de localidades e estruturas do país,
nomeadamente aquelas que integram a Rede Nacional dos Espaços Culturais.
Estruturar um projecto de Captação, Formação e Fixação de Públicos
A programação e gestão de espaços culturais impõe uma atenção cada vez
mais precisa sobre os públicos, suas motivações, seus hábitos, objectivos e
expectativas. Um projecto cultural terá assim que ter sempre em consideração as
105
pessoas/espectadores como centro e razão do seu trabalho, resultado da tomada
de consciência de que a intervenção cultural é um dos elementos estruturantes
de um processo de mudança e de renovação pessoal e social. Assim é da
responsabilidade dos programadores, dos gestores de espaços culturais e de
todos aqueles que desenvolvem uma actividade artística encontrar mecanismos e
estratégias que possibilitem um diálogo e interacção permanentes entre os
fazedores da cultura e os seus consumidores. Um processo egoísta de
programação, agarrado somente a crenças pessoais, apartado do espectador, do
público, transforma-se num fosso, num abismo enorme, entre os chamados
homens da cultura e os consumidores daquilo que estes produzem. É preciso não
esquecer que a obra de arte só ganha significado quando observada, discutida,
questionada, amada e odiada, logo, a sua existência depende de um público, de
espectadores que se querem cada vez mais esclarecidos, informados, com um
sentido crítico apurado e o músculo da imaginação e da criatividade devidamente
exercitado. Não pode o espectador ser mais entendido como elemento passivo,
elemento que tem no acto de ver, por norma silencioso, o seu único espaço e
tempo de participação.
Efectivamente, os espectadores devem ser a primeira preocupação de uma
estrutura de produção e criação teatral, espectadores que se querem cada vez
mais conscientes e críticos, com os sentidos activos, com capacidade de captar
os movimentos que atravessam em cada momento a realidade social e de ler e
intervir no mundo em todas as suas dimensões, num processo que tem de ser
despoletado através da fruição de um objecto artístico com um forte sentido
estético e uma grande capacidade de provocar emoções, dependendo a
intensidade e a eficácia do movimento provocado da força e intensidade do
produto artístico e do trajecto e das características próprias de cada uma das
pessoas que com ele se confrontam.
O trabalho neste domínio tem que ser desenvolvido em três dimensões:
formação/reflexão, fruição e informação.
Ao nível da formação/reflexão há que realizar um projecto que integre e dê
continuidade a algumas das actividades que pensamos estratégicas a este nível
e que temos vindo a estruturar no Teatro da Trindade, nomeadamente os
Encontros de Teatro, Formação e Lazer e o ciclo de seminários “Olhares
sobre o Espectáculo”, prolongando a sua duração ao longo do ano e integrando
as várias disciplinas das “Artes do Espectáculo” através da organização de um
106
“Círculo de Estudos”.
Tomamos diariamente consciência da necessidade de dotar as pessoas de
instrumentos das mais variadas disciplinas que contribuam para a criação
artística, bem como que estimulem uma melhor e mais crítica relação com as
artes e uma capacidade crescente de criação /produção próprias. Por isso, mais
do que um conjunto de ateliers de encenação, cenografia, interpretação,
marionetas, movimento, escrita para teatro, produção, ou outras quaisquer áreas
de formação onde as artes do espectáculo sejam trabalhadas e discutidas, os
Encontros de Teatro, Formação e Lazer tornam-se um espaço de reunião, de
encontro de ideais, experiências e de sensibilidades.
Com “Os Olhares sobre o Espectáculo” quer-se potenciar a criação de
pontes e interfaces que possibilitem um diálogo urgente e necessário entre os
criadores, os programadores e os espectadores, desenvolvendo acções de
formação e sensibilização para as diferentes áreas do espectáculo e criando
espaços e tempos para uma participação mais activa e criativa dos potenciais
consumidores dos produtos culturais. Saber mais, para poder escolher melhor.
Ver mais para poder ver melhor. Fazer mais para poder avaliar melhor, sabendo
que a Arte é um espaço em que o sentir é tudo e acreditando que também o
sentir se pode estimular, ensinar e aprender. Querem-se espectadores
conscientes, com capacidade de escolha e que sejam participantes activos dos
projectos culturais. Este Ciclo de Seminários aparece, assim, como resposta à
necessidade de articular os espaços de formação com o espaço de discussão e
reflexão, onde se poderão e deverão abordar temáticas como a análise de
públicos e de projectos de criação artística pontuais, desenvolvidos pelas mais
diversas motivações e instituições ou a forma como estes se poderão relacionar
com projectos de programação artística já devidamente implementados. Outras
actividades possíveis a realizar nos Ciclos poderão ser, por exemplo, a partilha
de experiências com directores, técnicos, encenadores, dramaturgos.
Ainda no domínio da reflexão, pensamos que é importante criar um espaço
de encontro entre os professores e os criadores com a característica de Círculo
de Estudos, um modelo de estrutura que permitiria, não só, aprofundar e
solidificar a relação criada com os professores e as escolas, mas também
analisar, reflectir e apoiar as práticas nas escolas e fazer a ponte com os
projectos que nos domínios artísticos aí se desenvolvem. Esta modalidade
enquadra-se nos modelos e métodos sociais de formação exigindo, por um lado,
uma relação estreita entre o professor em processo de formação e a sua
realidade experimental, e, por outro, a partilha e a capacidade de interrogação
107
sobre a cultura do grupo no qual o professor se integra, procurando, perante o
emergir de questões problemáticas, desencadear a procura colectiva de soluções
e respostas possíveis, favorecendo o conhecimento da complexidade de acção
nas situações educativas. O Círculo de Estudos deve ter como ponto de partida
uma análise de necessidades e de problemas que sejam comuns ao espaço de
intervenção profissional dos professores em formação, na definição e encontro de
estratégias partilhadas que possam criar condições para se ultrapassarem as
dificuldades específicas com que cada projecto se confronta.
Quanto à fruição, há que estruturar toda uma estratégia que permita a um
número cada vez maior de pessoas ter acesso a espectáculos e manifestações
artísticas, tanto nacionais como internacionais, o que se consegue pelo
lançamento e estruturação de um programa de turismo cultural que seja capaz
de trazer tanto as pessoas a Lisboa, como levar as pessoas de Lisboa a outro
ponto do país, complementando esta oferta com a organização de produtos
internacionais, como a visita a um museu de referência, a ida a uma estreia, um
fim-de-semana cultural em Londres, Nova Iorque ou Paris. Como suporte a todo
este projecto, há que organizar grupos nas várias regiões do país que, à volta de
estruturas associativas, congreguem os reais e potenciais interessados no teatro.
Referimo-nos a Clubes dos Espectadores (Excursionistas) de Teatro, estruturas e
pessoas que podem estar ligadas a grupos de Teatro Amador (o que implica que
se desenvolva uma estratégia articulada com as estruturas amadoras, tanto ao
nível da formação, como dos apoios e da informação/documentação), ou a outras
estruturas regionais e locais de acção cultural. Isto poderia, em articulação com o
lançamento de um projecto de Turismo Cultural, operacionalizar um programa
que integrasse múltiplas Instituições Culturais ou Científicas.
Conscientes de que os hábitos se aprendem e que é de pequenino que se
fazem nascer vontades, gostos, ambições, de que é em pequenino que mais
facilmente se têm sonhos nos quais se acredita totalmente, de que é em
pequenino que se deve ter acesso à maior quantidade de informação possível
para que se possa crescer informado e esclarecido, não podemos deixar de
considerar estas idades como idades de intervenção prioritária. Nesta medida, o
projecto Visitas ao Teatro visa uma aproximação aos alunos, em especial do
1ºCiclo e dos Jardins de Infância, e também aos seus professores, entendendo
estes como aqueles que serão os continuadores do momento artístico, por
natureza efémero, que o teatro oferece. Tirando partido da beleza e do encanto
dos espaços teatrais, sejam tradicionais ou contemporâneos, e do envolvimento
108
fantástico provocado, não só pelo facto de se tratar de casas onde reina a magia
do teatro, mas também, e no caso dos espaços tradicionais, pelos seus lustres e
escadarias que puxam pela imaginação e conduzem a um mundo fantástico, ou
pelas novas tecnologias, no caso dos novos espaços teatrais, pode-se
desenvolver toda uma diversidade de percursos e aventuras ao mundo do teatro,
ao espaço das ficções.
Ao nível da informação este projecto deverá ser enquadrado pela criação
de um Centro de Documentação, Informação e Investigação das Artes do
Espectáculo. Num primeiro momento, isto implica que se organize uma forte
componente de divulgação das actividades e dos projectos através da feitura de
um Jornal dos Teatros. De forma a incentivar a reflexão, deverão ainda ser
organizados Cadernos de Teatro concebidos como o espaço por excelência de
reflexão das questões centrais que hoje atravessam estas áreas artísticas.
O centro de documentação poderá ainda lançar todo um projecto de
criação de materiais de apoio pedagógico, como a publicação de textos, a edição
de vídeos, a produção de Kits de apoio aos professores (maletas pedagógicas de
teatro com uma cena, figuras articuladas, textos e CDs, e ainda uma pequena
publicação com sugestões de actividades a desenvolver, etc). Este trabalho será
acompanhado pela organização de uma feira permanente de publicações no
domínio das artes do espectáculo, onde se colocarão à disposição dos
participantes das diferentes iniciativas e projectos um conjunto de materiais de
referência, tanto nacionais como internacionais, superando uma lacuna
fortemente sentida neste domínios. Sugere-se ainda a recolha, organização e
disponibilização, em espaço aberto à consulta e sobre vários suportes, incluindo
o impresso e o audiovisual, de outros materiais que não estejam disponíveis para
venda. Paralelamente trabalhar-se-á na concepção de um site de teatro que
permita o acesso a outros sites de referência, para além do acesso directo às
bases de dados que é fundamental desenvolver ao nível do material existente no
domínio da “Arte e Ciência” e do material fornecido pelas companhias e artistas
participantes na Feira de Projectos Artísticos e Culturais Vocacionados para
o Público Escolar.
Esta feira deve ser um ponto de encontro e de troca entre os produtores
culturais, as escolas, os programadores regionais e locais e as entidades que,
nas diferentes regiões e localidades, apoiam e dinamizam este tipo de
actividades. Procura-se desta forma fazer chegar, de forma directa, informações
e exemplos significativos dos trabalhos produzidos, sejam espectáculos ou
projectos de formação e animação, de forma a que as escolas e os
109
programadores possam saber dos produtos disponíveis, das suas características,
e assim poder construir a sua programação duma forma coerente e com tempo.
Permitirá também aos produtores o contacto com e a tomada de consciência das
necessidades e dos desejos que aqueles que programam no terreno têm.
Procura-se com esta iniciativa, em primeiro lugar, satisfazer uma procura
crescente por parte das escolas de produtos culturais e artísticos de qualidade e
dirigidos ao seu público potencial. Em segundo lugar, quer-se, com esta feira,
permitir às escolas um planeamento mais cuidado destes produtos, possibilitando
assim uma exploração mais cuidada e constante e uma maior apropriação
pedagógica. Pretende-se ainda ajudar a colmatar a dificuldade que, por vezes, os
produtores culturais têm em fazer chegar a sua programação às escolas.
Finalmente quer-se também obrigar os produtores a organizarem
atempadamente e de forma acessível as suas programações.
A estrutura da Feira integrará espaços de mostra efectiva de espectáculos,
espaços de realização de ateliers, espaços de debate e um núcleo permanente
de stands representativos das diferentes estruturas, que esperamos integre as
várias disciplinas e manifestações artísticas, nomeadamente a dança, as
marionetas, as artes plásticas, a música, a escrita, o teatro de rua, a
performance, a poesia, o vídeo e os contos populares. Este espaço de Feira deve
existir anualmente para permitir que professores e alunos o possam visitar,
tomando contacto directo com as mais diversas realidades ao nível da produção
cultural nacional.