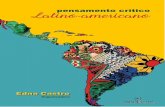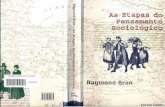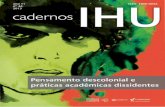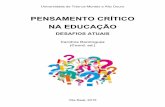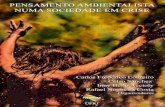Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles
Transcript of Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles
SENSATEZ COMO MODELO E DESAFIO DO PENSAMENTO JURÍDICO EM ARISTÓTELES
Sensatez como modelo e desafio.indd 1 10/07/12 16:05
SENSATEZ COMO MODELO E DESAFIO DO PENSAMENTO JURÍDICO EM ARISTÓTELES
Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
Sensatez como modelo e desafio.indd 3 10/07/12 16:05
E x p E d i E n t E
Presidente e editor Italo Amadio
diretora editorial Katia F. Amadio
editora assistente Ana Paula Alexandre
equiPe técnica Bianca Conforti Flavia G. Falcão de Oliveira Marcella Pâmela da Costa Silva
Projeto Gráfico Sergio A. Pereira
diaGramação Projeto e Imagem
Produção Gráfica Helio Ramos
imPressão RR Donnelley
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Coelho, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles / Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. – 1. ed. – São Paulo : Rideel, 2012.
Bibliografia. ISBN 978-
1. Direito previdenciário 2. Direito previdenciário – Concursos – Brasil I. Loyola, Kheyder. II. Título.
11-14379 CDU-34:368(81)(079.1)
Índices para catálogo sistemático:1. Brasil : Concursos públicos : Direito previdenciário 34:368(81)(079.1) 2. Brasil : Direito previdenciário : Concursos públicos 34:368(81)(079.1)
© Copyright – Todos os direitos reservados à
Av. Casa Verde, 455 – Casa VerdeCEP 02519-000 – São Paulo – SP
e-mail: sac@rideel.com.brwww.editorarideel.com.brwww.juridicorideel.com.br
Proibida qualquer reprodução, mecânica ou eletrônica, total ou parcial, sem prévia permissão por escrito do editor.
1 3 5 7 9 8 6 4 20 7 1 2
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Sensatez como modelo e desafio.indd 4 10/07/12 16:05
SUMáRIOINTRODUÇÃO – A sensatez e o direito como pensamento prático .................... IX
Capítulo 1 – O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana ............................................................................................................... 1
1.1 O humano entre o animal e o deus ............................................................... 3
1.2 O desafio da autossuficiência ....................................................................... 10
1.3 Eudaimonia: forma firme de viver no domínio radical de si mesmo ........ 14
1.4 Felicidade e os limites do poder do humano sobre si mesmo .................. 19
Capítulo 2 – Si mesmo como desafio no horizonte do desejo .............................. 23
2.1 A ética como doutrina das virtudes .............................................................. 25
2.2 A virtude ética como o meio‑termo entre o excesso e a escassez do desejo no horizonte das paixões ................................................................... 31
2.3 As virtudes éticas: seu elenco e seus horizontes ...................................... 35
Capítulo 3 – A virtude da justiça ............................................................................... 43
3.1 O horizonte da justiça ...................................................................................... 45
3.2 Lei e justiça ....................................................................................................... 46
3.3 A justiça como rainha de todas as virtudes e a alteridade na ética aris‑totélica ............................................................................................................... 50
3.4 O sentido particular da justiça, a especial consideração do outro e a instituição da convivência como uma ordem política ............................... 55
3.5 Justiça distributiva e justiça comutativa ..................................................... 60
Capítulo 4 – Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita .. 65
4.1 Lei e equidade .................................................................................................. 67
4.2 Necessidade, troca e igualdade e o fundamento da associação política.. 68
4.3 Determinação do preço e equidade ............................................................. 71
Sensatez como modelo e desafio.indd 5 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em AristótelesVI
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
4.4 Equidade, determinação do preço e antropocentrismo ético .................. 75
Capítulo 5 – Voluntariedade ....................................................................................... 79
5.1 Voluntariedade e agir (e a constituição do caráter) .................................. 81
5.2 Voluntariedade e decisão ............................................................................... 84
Capítulo 6 – A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da Ética a Nicômaco ......................................................................... 89
6.1 O agir como encontro entre o desejar e o pensar ..................................... 91
6.2 O sentido geral da investigação sobre a excelência do pensar e os ho‑rizontes da sensatez ........................................................................................ 92
6.3 Sensatez e epistêmê (o pensamento prático em face do pensamento teórico) ............................................................................................................... 99
6.4 Sensatez e habilidade técnica (o pensamento prático em face do pen‑samento técnico) ............................................................................................. 104
6.5 Nous e sensatez ............................................................................................... 108
6.6 Sabedoria teórica (sophia) e sensatez ......................................................... 110
6.7 Sunesis e gnômê no horizonte da sensatez ................................................ 113
6.8 Sensatez e sophia e a realização da felicidade como fim do humano ... 115
6.9 Sensatez e esperteza (deinotês) ................................................................... 117
Capítulo 7 – Fenomenologia do agir ......................................................................... 119
7.1 O decidir em questão ...................................................................................... 121
7.2 Universal e particular na racionalidade prática: a implicação recípro‑ca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequa‑ção do “silogismo prático” como modelo explicativo do agir ................. 124
7.3 A razão prática como a mobilização de meios e a afirmação de fins do humano .............................................................................................................. 131
7.4 A racionalidade prática sob o paradigma do debate político (a alma como agora) ...................................................................................................... 141
Sensatez como modelo e desafio.indd 6 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Sumário VII
Capítulo 8 – O fundamento da correição da ação .................................................. 149
8.1 O homem sensato (phronimos) como fundamento do agir ....................... 151
8.2 Não cognitivismo e historicidade radical e a constituição do humano como ser racional ............................................................................................ 155
8.3 O louvor e a constituição pública do phronimos como phronimos ......... 162
8.4 Caráter e ordem política ................................................................................. 167
Capítulo 9 – Conclusões .............................................................................................. 175
9.1 O comprometimento do ser do humano e da ordem no agir no horizon‑te da justiça ....................................................................................................... 178
9.2 O pensar que envolve o direito, sob o paradigma da razão prática aris‑totélica ............................................................................................................... 187
Referências bibliográficas ......................................................................................... 197
Sensatez como modelo e desafio.indd 7 10/07/12 16:05
INTRODUÇÃO – A SENSATEZ E O DIREITO COMO
PENSAMENTO PRáTICO
Sensatez como modelo e desafio.indd 9 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
INTRODUÇÃO – A sensatez e o direito como pensamento prático XI
Este livro convida para uma nova leitura da ética de Aristóteles, e para uma reflexão sobre a sua possível contribuição à investigação sobre o pensamento ético e jurídico e os processos de realização do direito contemporâneo. Interessa – como interessou muito especialmente à filosofia do século XX1 – retomar o Livro VI da Ética a Nicômaco, que trata das virtudes intelectuais, as virtudes do pensar, e da sua relação decisiva com as virtudes éticas, as virtudes do desejar. O Livro VI é chave para a compreensão de toda a ética de Aristóteles, e pode esclarecer questões cen-trais da experiência ético-jurídica atual. Encontra-se ali o conceito fundamental de sensatez,2 uma particular inteligência para a solução correta e eficaz de questões da vida prática, essencial para compreender o trabalho e o modo de pensar dos juris-tas. Por este motivo, ela é proposta aqui como desafio e fundamento do pensamen-to jurídico.
Ao contrário do pensamento eminentemente teórico, que considera as coisas que estuda como objetos prontos que lhe cabe simplesmente apreender e descrever, o pensamento prático, de que a sensatez é a excelência e o modelo, conhece e pensa as coisas (ações e situações) práticas, cuja causa é o próprio homem, preparando a decisão e a ação. No mundo prático, inaugura-se a ética com a possibilidade do agir humano sobre o mundo, perfazendo-o,3 e sobre si mesmo. O pensamento prático
1 Uma visão global do movimento de reabilitação da filosofia prática encontra-se na co-letânea de M. Riedel, Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Uma visão mais am-pla da presença de Aristóteles no cenário filosófico do século XX encontra-se na mo-nografia de Enrico Berti, Aristóteles no século XX. Destaca-se que a reinterpretação de Aristóteles está na origem de alguns dos mais importantes movimentos daquele século, como a fenomenologia (Aristóteles está na raiz da feitura de Ser e tempo de Heidegger), a hermenêutica (basta lembrar Verdade e método, de Gadamer) e a retórica e a teoria da argumentação (sublinhe-se o Tratado da argumentação de Chaïm Perelman, e Tópica e jurisprudência, de Theodor Viehweg).
2 A palavra grega phronesis traduz-se geralmente, por via do latim, como prudência. Aqui usamos simplesmente sensatez, acompanhando a interessante tradução de António de Castro Caeiro recentemente publicada no Brasil. Uma pequena fração da argumentação contida neste livro funciona, com algumas alterações, como introdução a esta edição brasileira da Ética a Nicômaco. Daquele mesmo estudioso recomenda-se também a lei-tura da monografia A aretê como possibilidade extrema do humano: fenomenologia da praxis em Platão e Aristóteles.
3 O universo da sensatez é o daquilo que pode ser diferente do que é – encontrando no humano o seu princípio – no que se distingue da outra virtude intelectual que também é possibilidade exclusiva do humano – a sophia, sabedoria teórica – que atine ao que é necessário, ao que escapa ao poder constitutivo do humano e diante do qual há contem-plação, e não ação.
Sensatez como modelo e desafio.indd 11 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em AristótelesXII
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
não quer simplesmente saber o que se passa, mas quer conformar o mundo, mudar o homem (a começar por si mesmo) ao resolver situações.
A proposta central aqui é entender o pensamento jurídico como uma das di-mensões fundamentais da existência humana, no contexto da razão prática, a par-tir da noção fundamental de sensatez. A reconstrução da sensatez está a serviço da compreensão do direito como forma de vida. Se a leitura de Aristóteles procura fa-zer justiça ao texto que a tradição nos legou, esforça-se ao mesmo tempo em recu-perá-lo como uma lição contemporaneamente relevante. Isto é feito ao pressupor bases pós-essencialistas que assumem, como ponto de partida, a destruição da me-tafísica tradicional perpetrada por Martin Heidegger em Ser e tempo, de 1927. Nes-te sentido, dizer “pós-essencialista” é o mesmo que dizer “pós-metafísico”, toman-do a palavra metafísica num sentido tradicional.4
O não essencialismo não conduz necessariamente a filosofia e o pensamento jurídico para o irracionalismo, mas exige e abre para outros modelos de raciona-lidade que não o epistêmico-teórico (matemático) – como o prático-argumentati-vo, paradigma que orienta a reflexão sobre a sensatez proposta aqui. “Não cogni-tivismo” sinaliza uma forma de pensar, elevada à condição de uma forma de estar diante do mundo, ainda concebível nos quadrantes da razão, mas de uma raciona-lidade muito distante dos modelos epistemicamente orientados, de matiz logicis-ta e formalista. O pensar não cognitivista, admitido como mais bem ajustado à di-mensão ético-jurídica da vida, é o pensar constituidor do seu próprio princípio em cada situação prática, e, por força disto, constituidor também do ser humano, que está em jogo em todo agir. Em resumo, de acordo com o princípio da historicida-de radical da existência humana e da experiência do direito, o homem está em jogo em sua compreensão do mundo. O homem torna-se o que é na medida em que vive, em que age e compreende o mundo. O pensamento jurídico é uma dimensão de sua existência, participando também, assim, da decisão acerca do próprio hu-mano. Ao decidir o direito, o homem decide a si mesmo. Neste sentido, concebe-
4 Uma filosofia do direito pós-essencialista tenta compreender o sentido do direito e a experiência jurídica sem recorrer à convicção (fé) antiga e moderna numa essência – do homem, como de qualquer ente – independentemente da existência. Ao contrário, tal filosofia parte do pressuposto da historicidade radical do homem e de tudo que está, no mundo, diante do homem, e tenta dar conta do que o direito pode significar a partir des-te novo ponto de vista. Vide nosso artigo O princípio ontológico da historicidade radical e o problema da autonomia do direito – ensaio de aproximação filosófica do jurispru-dencialismo. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, vol. 47, p. 217- 247, 2005.
Sensatez como modelo e desafio.indd 12 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
INTRODUÇÃO – A sensatez e o direito como pensamento prático XIII
se aqui o pensamento jurídico como forma de vida, segundo um princípio de his-toricidade radical.
Ao abordar o direito como este pensar não cognitivista, pelo qual o homem se torna o que é, o texto liga-se ao tema fundamental da reflexão ética de Aristóteles – o desafio da eudaimonia,5 como desafio de autorrealização do homem, pela qual ele mesmo é radicalmente responsável. A ética aristotélica não pretende outra coisa senão descrever o processo pelo qual o homem se torna o que é, cumprindo-se (ou falhando) a partir de suas possibilidades mais radicais.
A felicidade, enquanto tarefa de autorrealização do homem como humano, compreende-se no horizonte da sensatez, horizonte este partilhado com as virtu-des éticas. A sensatez preside à autoconstrução humana no horizonte ético, con-formando as virtudes éticas, cujo conjunto é conhecido como o caráter do homem.
A sensatez orienta a autoconstituição do homem como um homem sério, guiando o seu viver e permitindo-lhe ascender ao bem viver, para além do apri-sionamento na paixão e na sensibilidade (mas delas nunca prescindindo, enquan-to humano: no seu horizonte e no seu exercício o homem se descobre e se mantém humano – nem deus, nem fera, mas intervalo em que a liberdade e a ética fazem sentido) e em direção ao autodomínio e à felicidade. É pelo exercício da sensatez que o humano se levanta por sobre a necessidade simples e imediata para confor-mar sua própria vida, valorando cada situação em que se encontra e instituindo cri-térios sobre o agir que podem aquilatar o valor da própria vida. O valor já não re-side simplesmente em viver, não vale qualquer vida, mas a vida boa, medida por critérios (fins) em honra dos quais, dependendo das circunstâncias, pode ser prefe-rível morrer exatamente em homenagem a bem viver.
Esta descoberta – este soerguimento do humano para além do simples viver – é contemporâneo da invenção da filosofia e da autoafirmação da Grécia como inédi-
5 A palavra eudaimonia entra no Liddell-Scott como “prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness”: “eudaimon-ia (...) A. prosperity, good fortune, opulence (...) 2. true, full happiness (...) b. personified as a divinity (...)”. A palavra é composta por eu (bom) mais daimon, que significa demônio, ou gênio que habita o humano. Daí as palavras daimonikos (“possessed by a demon”), daimonizomai (“to be possessed by a demon or evil spirit”), daimoni-aô (“to be possessed of a God”). LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Ser feliz é ser habitado por um bom espírito, o que pode significar: é ter uma boa alma, é fazer de si mesmo uma boa alma. É estar de bom astral, como acentua Sebastião Trogo em suas aulas, mas em decorrência, em Aristóteles, de sua própria autoconquista.
Sensatez como modelo e desafio.indd 13 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em AristótelesXIV
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ta civilização fundada na ciência.6 É explícito já nos textos homéricos o tomar a vida nas próprias mãos e a assunção pelo homem da responsabilidade por si mesmo, e é isso que faz deles a pedra angular da vida grega e a peça inaugural de toda ética.7
A estes textos, e a toda a tradição cultural que eles fundam, a ética aristotéli-ca liga-se evidentemente – não bastasse para tanto o seu habitual recurso metódico às opiniões venerandas como ponto de partida dialético8 – e procura ser o seu con-tinuador (Aristóteles pensa-se ele mesmo educador, como Homero e Platão, mas com uma peculiar consciência dos limites de todo legislador e de toda ciência éti-ca) – a ética não é uma peça de interesse principalmente científico, mas é prática: ela pretende tornar os homens bons, e é isso que objetiva quem escreve – e lê – so-bre ética.
Falar da sensatez requer retomar todo o conjunto da ética de Aristóteles assim como o seu lugar no universo ético grego – e requer retomar também o pensamen-to político de Aristóteles.9
6 Vide: PATOČKA, Jan. Platon et l’Europe – Seminaire privé du semestre d’eté 1973; CH-VATIK, Ivan. The heretical conception of the european legacy in the late essays of Jan Patočka. Vide também: BLUMENBERG, Hans. O riso da mulher de Trácia: uma pré-história da teoria. Dedicamo-nos ao tema do copertencimento entre filosofia-ética e a civilização ocidental no artigo Direito e política e o advento do Ocidente como a civili-zação fundada na ciência.
7 Para uma detalhada reconstrução do itinerário do conceito de aretê, essencial para situar o pensamento ético de Aristóteles, vide a obra fundamental de Werner Jaeger, Paidéia. A formação do homem grego.
8 Sobre o método da exposição e da investigação na Ética Nicomaquéia, vide :BERTI, En-rico. As razões de Aristóteles, p. 115-156; VAZ, Cláudio Henrique de Lima. Platão revisi-tado. Ética e metafísica nas origens platônicas. Síntese, vol. 20, n. 61; FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito.
9 É preciso justificar a escolha dos textos utilizados para a reconstrução do pensamento ético de Aristóteles. O texto fundamental é sem dúvida a Ética a Nicômaco, a que nos de-dicamos precipuamente, em detrimento dos dois outros tratados éticos atribuídos a ele: a Ética a Eudemo e a Grande Moral (cuja autenticidade hoje já não é maioritariamente reconhecida, mas que seguem sendo uma referência a não desprezar de seu pensamento ético). Utilizamos estes textos como recurso apenas suplementar, e especialmente para tentar perceber as mudanças de perspectiva que marcam o desenvolvimento do pensa-mento ético-político de Aristóteles ao longo de sua vida, aceitando a tese genético-evolu-tiva de Jaeger de que correspondem a diferentes momentos de sua trajetória intelectual, num progressivo distanciar-se do idealismo dualista de Platão e na construção de sua própria perspectiva; deste processo a Ética a Nicômaco representa decerto o texto da maturidade e o ponto de chegada de um longo e original esforço compreensivo do modo
Sensatez como modelo e desafio.indd 14 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
INTRODUÇÃO – A sensatez e o direito como pensamento prático XV
Todo pensamento ético em Aristóteles é ao mesmo tempo político e jurídico. O pensamento grego moveu-se na unidade sincrética entre moral, política e direito. Tal como esclarece Ferraz Jr., “faltou à cultura ática o perfeito isolamento lógico da norma jurídica”, razão pela qual, “em que pese a grande elaboração do pensamen-to ático, sua formulação cuidadosa e acabada, uma doutrina do Direito ático não pode, ainda hoje, apesar da elaboração constante que vem sofrendo sua sistemáti-ca, ser mais que um aglomerado de problemas dispersos”, que se deve “à ausência, na Grécia antiga, de uma ciência do direito”.10 Se, como esclarece Salgado, a cons-ciência jurídica apenas se autonomiza na experiência jurídica romana,11 não ofere-cendo a literatura grega os elementos para a compreensão do direito em sua espe-cífica autonomia, qual o interesse, para a compreensão do direito como pensar tal como propomos aqui, desta recuperação do pensamento ético-prático grego, e es-pecialmente de Aristóteles?
Embora não se possa falar em autonomia do direito entre os gregos, reconhe-ce-se o mérito excepcional de Aristóteles por ter assinalado, pela primeira vez e em termos absolutamente explícitos, a autonomia do pensamento prático, da ra-zão mobilizada no agir, em contraposição à razão teórica, epistêmica, mobilizada na atividade científica. A compreensão da sua lição prática pode desfazer muitos dos equívocos da filosofia do direito moderna e contemporânea, pois os contornos com que nitidamente descreveu a sensatez – como excelência na racional mobiliza-ção de meios em face de fins descobertos na situação concreta única e irrepetível – fazem da teoria aristotélica do pensar prático uma reflexão ainda hoje poderosa so-bre o significado e sobre o que está implicado em todo agir. Se a sensatez não é uma excelência (uma forma de pensar) especificamente jurídica, é, no entanto, central
humano de estar diante do mundo e de si mesmo. Para a renovadora interpretação do conjunto da obra de Aristóteles na perspectiva genética, vide: JAEGER, Werner. Aristo-tle. Fundamentals of the history of his development. Para uma crítica ao método e aos resultados de Jaeger; AUBENQUE, Pierre. A prudência em Aristóteles. Para as relações entre Aristóteles e Platão e assim as relações entre metafísica e ética em Aristóteles, vide: VAZ, Cláudio Henrique de Lima. Platão revisitado... cit. Mas a denúncia que Jaeger diri-ge a até então exclusiva perspectiva sistemática de interpretação de Aristóteles não deve desanimar o intérprete a encontrar as ligações internas que marcam o multifacetado conjunto de textos de Aristóteles. Não deixamos de recorrer, e cremos ter sido impor-tante fazê-lo mesmo que as citações destes textos não sejam muito comuns neste livro, à Política, muito especialmente, e ainda ao Sobre a alma, à Retórica e à Poética.
10 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia... cit., p. 143.11 SALGADO, Joaquim Carlos. Experiência da consciência jurídica em Roma – a Justitia.
Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. vol. 38, n. 1, p. 33-115.
Sensatez como modelo e desafio.indd 15 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em AristótelesXVI
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
para o direito à medida que é mobilizada em todo agir, em toda e qualquer circuns-tância no horizonte prático, em que se inscreve o direito.
As relações entre a sensatez e o direito tornam-se particularmente importan-tes em razão da especial posição da justiça no conjunto das virtudes éticas, sem-pre conformadas mediante orientação da sensatez. Em Aristóteles (e no pensamen-to grego em geral) todas as virtudes éticas são formas de justiça, e a justiça está em questão em todo agir. À medida que a sensatez orienta todo agir verdadeiro, o exer-cício da sensatez é sempre uma forma de realização da justiça – especialmente da justiça como equidade que realça o caráter sempre situado, sempre circunstancial, de toda decisão prática, e a imperiosidade de sua adequação e contemporaneidade.
Toda decisão ética – todo exercício da sensatez – é nova, empenhando a cada vez o homem sério na desocultação da verdade prática. O exercício da sensatez se liga assim ao sentido profundo da equidade, que torna o agir sempre um desafio, mantendo o caráter do homem a cada vez em jogo, assim como a sua própria feli-cidade. Como a lei tem sempre de ser “adequada” à circunstância atual do agir, ela tem de ser “descoberta” sempre novamente. Isto impõe à razão prática, a cada vez que se exercita na descoberta do justo, sempre um problema novo.
O homem nunca se livra deste desafio e deste risco que o perfazem como hu-mano (ou seria deus): a cada vez tem de descobrir o que é o bem. O melhor a fa-zer – quais são os fins a perseguir – não está definido de uma vez por todas, mas é determinado na história e por quem se integra na vida da comunidade – enquan-to participa e se doa – autorrecuperando-se na sua própria história pessoal de per-tença à comunidade. Tal tarefa ninguém a inaugurou – cada um vai recebê-la pela educação e por todos os modos de socialização – e pela sensatez deve reassumi-la, reafirmá-la, sempre, porém, de um modo diferente, conduzindo sua vida em aten-ção aos cânones comunitários do viver bem, mas ao mesmo tempo transcendendo-os ao participar da determinação do sentido público de vida boa na medida em que decide (como é) (o que é) viver bem, a cada situação em que deve agir.
Reconstruindo a teoria aristotélica da sensatez, cremos encontrar importan-tes respostas acerca do tipo de pensamento que o direito é, e para a pergunta sobre se este pensar encerra alguma racionalidade, sobre se pode ser descrito como um modo racional de divisar o mundo e o outro. A recuperação de Aristóteles permite uma nova saída para um dos falsos (mas angustiantes) dilemas em que se enreda a filosofia moral e jurídica contemporânea, a encruzilhada entre cognitivismo e irra-cionalismo. Antes, sugerindo que estas não são as únicas saídas para a filosofia do
Sensatez como modelo e desafio.indd 16 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
INTRODUÇÃO – A sensatez e o direito como pensamento prático XVII
agir, desoculta-se a via própria e adequada da racionalidade prática, em cujo hori-zonte específico redescobre-se o homem como autor do mundo, como criador da ordem e de si mesmo, no exercício da razão prática.
Mas tampouco a ordem figura como fruto da vontade como mero capricho, mas da escolha racionalmente refletida e balizada pelos elementos da situação e condicionada (possibilitada) pela tradição em que o próprio ser do humano se põe também em jogo e se decide: “Do próprio homem, pois, depende ser bom ou mau: em conclusão, ele é pai e filho ao mesmo tempo de suas ações, as quais, depois de haver chegado a gerar seus hábitos espirituais, se convertem em manifestações ou indícios deles”.12 Isto, que vale para a autoconstrução do humano como pessoa, vale igualmente para o processo de construção comunitária. A sensatez orienta o pro-cesso pelo qual cada um nós se forja, e este é o mesmo processo pelo qual o país e a humanidade se constroem.
12 MONDOLFO, Rodolfo. O homem na cultura antiga. A compreensão do sujeito humano na cultura antiga, p. 367.
Sensatez como modelo e desafio.indd 17 10/07/12 16:05
CAPÍTULO 1O hORIZONTE DA éTICA E O SEU COMPROMISSO COM A
FELICIDADE hUMANA
Sensatez como modelo e desafio.indd 1 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 3
1.1 O humano entre o animal e o deus
A especificidade do humano distingue os horizontes da ética aristotélica. É a sua marca ser híbrido: parte racional, parte irracional, ele habita o hiato entre o animal e o deus, e é por isto que apenas num mundo humano faz sentido a ética.
O modo como Aristóteles compreende o ser humano é essencial para enten-der sua ética. Não por outro motivo o estudo da alma (psyché), um dos mais im-portantes conceitos da literatura grega, é ponto de partida da reflexão ético-políti-ca de Aristóteles. Por este motivo, o político deve conhecer o que se refere à alma, assim como aquele que cura os olhos deve saber também sobre todo o corpo (EN, I, 13, 1102a 17-20).13
Aristóteles compreende a alma no horizonte da reformulação socrática do problema do homem como o problema da alma: Sócrates, à pergunta “o que é o ho-mem?”, pela primeira vez respondeu: “o homem é a sua alma”, entendendo a alma como a consciência inteligente e responsável. Fazendo-o, Sócrates promoveu a gui-nada para o interior do homem no âmbito da reflexão sobre o comportamento e a normatividade, com que merece ser reconhecido como o fundador da ética.14
Aristóteles reelabora a tripartição acadêmica da alma. Também para Platão a alma é composta por diferentes partes – concupiscível, irascível e intelectiva.15 Mas é diferente a tripartição proposta por Aristóteles, que parte “da análise geral dos
13 Na tradução de Caeiro: “A felicidade é uma atividade da alma. Assim sendo, é evidente que o perito em política deve saber como é com as coisas respeitantes à alma, do mesmo modo que o terapeuta dos olhos não trata exclusivamente deles, mas trata também de todo o corpo.” ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, p. 39.
14 Entre as características da ética socrática, esta, em que “se manifesta propriamente a ori-ginalidade do ensinamento socrático, é formada pelos temas específicos que a tradição reconhecerá como aqueles que compõem para a história a figura do Sócrates moralista e de sua doutrina. Esses temas são o tema do homem interior (psyqué), o tema da verda-deira sabedoria (sophrosyne) e o tema da virtude (aretê). O tema do homem interior ou da alma (psyché) no sentido especificamente socrático, e que assinala uma profunda re-volução no curso do pensamento antropológico grego, constitui o motivo dominante da interpelação dirigida por Sócrates aos cidadãos de Atenas, tendo em vista mostrar-lhes que o verdadeiro valor do homem reside no único bem inatingível pela inconstância da fortuna, a incerteza do futuro, a precariedade do sucesso, as vicissitudes da vida: o bem da alma”. VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de filosofia IV. Introdução à ética filosófica 1, p. 95 (grifos no original).
15 PLATÃO. A República, IV, 436 a-b, p. 732, Obras completas.
Sensatez como modelo e desafio.indd 3 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles4
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
seres vivos e das suas funções essenciais”16 para apontar a existência das partes ou funções da alma: a vegetativa, a sensitiva e a intelectiva, cada qual animando um tipo de operação própria do organismo.
As duas primeiras perfazem a parte irracional (alogon) da alma, e são parti-lhadas pelo humano com outros seres vivos: a parte vegetativa, responsável pela nutrição, reprodução e crescimento, é comum a todos os seres vivos, vegetais e ani-mais (e entre estes, os humanos); a parte sensitiva, responsável pelas sensações, apetites e movimento, é comum a humanos e aos demais animais. A intelectiva é a parte racional da alma, e é exclusiva do humano, entre os animais. Mas a posse da faculdade ou parte racional, no humano, depende da posse também das outras di-mensões (irracionais).17 O humano, em Aristóteles, não é exclusiva ou completa-mente racional, instituindo um permanente diálogo e tensão entre o que há de ra-cional (divino) e irracional (animal) nele – tensão e diálogo que abre espaço para o homem decidir-se.
O agir do humano determina-se pela relação entre a parte irracional-sensitiva da alma e a parte da alma que tem a razão, e todo o problema ético é imposto e pos-sibilitado por esta relação que, enquanto o homem vive e a cada vez em que deve agir, está sempre por decidir-se.
A parte sensitiva (animal) da alma abriga os desejos, os sentimentos, as pai-xões, as sensações e o princípio de todo movimento do ser vivo. A mais importan-te e mais característica18 das funções da alma sensitiva é a sensação (aisthêsis), ca-pacidade de receber as formas sensíveis sem a matéria (percepção, captação pelos sentidos, sensibilidade) possibilitadora da fantasia, da memória e da experiência
16 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Platão e Aristóteles, p. 389.17 Vide REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 389-390. ARISTÓTELES. A política.
Trad. Nestor Siqueira Chaves, p. 180-181: “Sendo o homem formado de duas partes – a alma e o corpo, sabemos que a alma compreende igualmente duas partes: aquela que possui a razão e a que dela é privada, e que cada uma dessas duas partes tem as suas dis-posições ou maneiras de ser, das quais uma é o desejo, e outra a inteligência. Mas como, na ordem da procriação, o corpo está antes da alma, assim a parte irracional está antes da parte racional. Aliás isto é evidente; porque a cólera, a vontade e mesmo os desejos se manifestam nas crianças desde os primeiros dias da existência, ao passo que o raciocínio e a inteligência só se mostram naturalmente após um certo desenvolvimento. Eis porque é preciso prestar os primeiros cuidados ao corpo, antes da alma; em seguida ao instinto. No entanto, só se deve formar o instinto pela inteligência, e o corpo pela alma”.
18 REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 392.
Sensatez como modelo e desafio.indd 4 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 5
como acúmulo de fatos mnemônicos. O desejo ou apetite (orexis19) nasce em con-sequência à sensação: a faculdade apetitiva (desejante) acompanha necessariamen-te a sensitiva: o apetite é o desejo, ardor e vontade. Quem tem sensação (e todos os animais têm pelo menos um: o tato) sente prazer e dor – e o desejo é o apetite do agradável.20
Todo movimento de um ser vivo deriva do desejo, da faculdade apetitiva. As-sim se relacionam o movimento, o desejo e a sensação: a sensação (percepção do objeto desejado) provoca o desejo, que move o ser vivo. A sensação é condição de possibilidade de todo desejo e de todo movimento.21 O ponto fulcral da vida ética é o agir, e agir, como movimento, não existe senão por força desta parte da alma.
Mas a capacidade nutritiva e a sensitiva não bastam para explicar a vida do humano, que requer ainda a introdução de um princípio que ele não comparte com os restantes seres vivos e cuja presença especifica-o como humano: a parte da alma que tem a razão, responsável pelo pensamento (sua função própria é o pensar: dia-noia) e todas as operações a ele ligadas.22
A parte racional da alma é o que há de divino (to theion) no humano, é o que o homem tem em comum com Deus. G. Reale realça a passagem em que Aristóteles afirma que “o intelecto vem de fora e só ele é divino”:23 o nous não é transmitido de pai para filho (como as demais faculdades da alma, inferiores), mas “vem de fora”.24
19 Para compreender a singularidade com que esta palavra comparece no discurso aristo-télico, vide: NUSSBAUM, Martha Craven. La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega, p. 21 e ss.
20 De Anima, II, 414 a-b. ARISTÓTELES. Da alma (De Anima), p. 57.21 REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 394. Esta passagem será importante para
a compreensão da sensação na fenomenologia da decisão prática.22 Idem, p. 395.23 ARISTÓTELES. A geração dos animais, B 3, 736 b27-28 – Apud REALE, Giovanni. His-
tória da filosofia... cit., p. 397.24 Isso de vir o nous “de fora” tem a ver com a expressão com que Aristóteles refere à parte
superior da alma, racional: ele não diz “alma racional”, mas alma “que tem a razão” (lógon échon). Ainda sobre a divindade no homem, é preciso anotar que toda a sua alma parti-cipa do divino: assim, a parte vegetativa, sendo responsável pela reprodução aproxima o homem da eternidade de deus. Em alguma medida, todo animal participa de deus, o que está de acordo com a concepção grega de uma ordem do ser absolutamente integrada. Mas a parte racional é a que faz com que o homem mais se aproxime de deus, sendo esta a sua possibilidade extrema, fazendo com a felicidade seja afirmada como contemplação, na sophia…
Sensatez como modelo e desafio.indd 5 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles6
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O significado desta passagem permanece enigmático,25 mas é esclarecedora da dife-rença de natureza das partes da alma do humano, que resta assim um ser compos-to, sua parte divina consistindo decerto em sua parte superior, e devendo, portanto, governar o organismo todo no homem excelente e na realização da possibilidade mais própria do humano (por isto a sua felicidade estará na atividade em confor-midade com esta possibilidade). Mas o agir do humano nunca prescindirá do mo-vimento que lhe imprime sua capacidade sensitiva-apetitiva. Nunca prescindirá, no agir, da parte animal de sua alma. Como quero sublinhar enfaticamente, o agir empenha a totalidade do homem, todas as dimensões da sua alma, e o seu corpo.
As indicações introdutórias do problema da felicidade (que é no final das con-tas o problema de toda a ética e da política), no capítulo 07 do Livro I da Ética a Ni-cômaco, dirigem a investigação para o traço singularizador do humano, tendo em vista que a conclusão sobre a essência da felicidade depende da descoberta da fun-ção específica do humano (EN, I, 7, 1098 a). Há alguma função própria para o hu-mano como humano? O que distingue o humano não pode ser simplesmente o vi-ver, pois a vida o humano compartilha até mesmo com as plantas – há de ser, então, uma vida peculiar, mas tampouco será esta a vida perceptiva-sensitiva, comum a todo animal. Aristóteles conclui que o específico do humano é certa vida ativa na dimensão da alma capacitante de razão. O específico do humano é a vida própria do ente que tem razão (EN, I, 7, 1097 b-1098 a). Se isto o especifica, realiza-se o hu-mano como humano ao progredir na direção desta que é a sua possibilidade mais própria, na realização em si da sua melhor parte (ou: de si na sua melhor parte), de sua alma divina. Fazendo-o, caminha em direção da divindade, mas a busca em questão é uma busca de si mesmo; avançar nesta caminhada consiste a felicidade. A ética tem por objeto exatamente a realização da excelência como cumprimento do fim do homem que é a afirmação do que há de divino nele. A vida na sensatez
25 “(...) mas é igualmente verdade que, mesmo vindo ‘de fora’, ele permanece na alma (ev te psiche) por toda a vida do homem. A afirmação de que o intelecto vem de fora significa que ele é irredutível ao corpo por sua intrínseca natureza, e é transcendente ao sensível. Significa que em nós há uma dimensão metaempírica, suprassensível e espiritual. E isso é o divino em nós.” REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 397. Esta referência ao fato de a alma possuir o logos pode ser lido também como a afirmação de que o logos possui a alma; lemos isto como a participação do humano no divino que está presente em todo cosmos e o sustém. Este “possuir o logos” é um participar, é um integrar-se e, portanto, é um entregar-se… Eu não enveredo agora por este caminho, pois evito proble-matizar as relações entre ética e metafísica em Aristóteles neste trabalho, a que não refiro para além das estritas necessidades da argumentação.
Sensatez como modelo e desafio.indd 6 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 7
resume esta conquista de si, sendo o único caminho para a conquista de si, para a elevação do humano em direção ao divino que o constitui – sem qualquer signifi-cado religioso, mas ético.
Retomemos a descrição da dinâmica da alma, para compreender o desafio e a condição de possibilidade da sensatez – focalizemos ainda a estrutura da alma irra-cional. Há uma importante diferença entre as duas partes da alma irracional, ten-do em vista suas relações com a parte da alma que tem a razão. A parte irracional é dupla: ao lado da vegetativa, que não tem nenhuma relação com a dimensão ra-cional da alma, há a dimensão apetitiva/desejante da alma. Ocorre que esta última, e apenas ela, estabelece alguma relação com a dimensão racional da alma, partici-pando de alguma forma da razão à medida que é capaz de obedecer-lhe, se o ho-mem é moderado. O desejo habita a dimensão irracional do humano, mas ele dei-xa-se influenciar pela parte racional. Aqui reside a possibilidade de toda exortação e repreensão, cuja existência, aliás, comprova a diferença entre essas partes da alma e a possibilidade da submissão de uma a outra; abre-se o campo da persuasão, fru-to de uma interação entre as dimensões da alma, que assume a forma de um diálo-go. É argumentativa a relação entre a razão ativa e a faculdade de desejar (dimen-são apetitiva da alma irracional), que por esta perspectiva pode ser apresentada, em certo sentido, também como uma parte racional da alma, à medida que, como desejo, é capaz de se deixar orientar pela parte superior da alma, que tem a razão.26 Neste último sentido (em que se entende que a faculdade de desejar, a parte apetiti-va da alma, integra a alma que tem a razão), também a parte racional da alma mos-tra-se dupla, compondo-se pela parte capacitante da razão, que é a parte que tem a razão e que a exercita (sentido estrito e forma absoluta com que Aristóteles fala da razão do homem), e a parte capaz de obedecê-la (tal como descreve o desejo em sua possibilidade de obedecer a razão, em comparação a um filho, capaz de “ouvir” seu pai). Resulta uma descrição da faculdade de desejar que mostra como esta últi-ma pertence a um tempo à parte irracional da alma e à parte racional. No homem que tem autodomínio, esta parte (o desejo) obedece ao comando da razão e toda a alma ressoa em uníssono.
Mas a relação entre a razão e o desejo é sempre problemática. A faculdade de desejar – a vontade – é capaz de razão apenas em sentido passivo (pode deixar-se
26 “A alma se compõe de duas partes: uma traz em si mesma a razão; a outra não a traz em si, mas pode obedecer à razão. É nessas duas partes que residem, em nossa opinião, as virtudes que caracterizam o homem de bem.” ARISTÓTELES. A política, cit., p. 175-176.
Sensatez como modelo e desafio.indd 7 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles8
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
convencer pela razão), mas ao mesmo tempo é capaz também de incapacitá-la, à medida que pode “não dar ouvidos” ao que lhe dita a parte racional, superior, da alma. Nesta hipótese, a parte inferior da alma porta-se diante da parte racional como o membro paralisado do corpo, que se move para a esquerda quando se quer movê-lo para a direita, e pode mesmo incapacitar a própria razão, tornando o ho-mem não apenas incapaz de desejar o bem, mas mesmo de discerni-lo (EN, I, 12, 1102 b15-35).
Na investigação sobre a natureza da virtude, Aristóteles apresenta os três ti-pos de fenômenos que ocorrem com a alma: afecções (pathos: algo que acontece a algo ou a alguém; emoção, paixão), capacidades (dinamis) e disposições (hexis27). São afecções da alma o desejo, a ira, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, a ami-zade, o ódio, a saudade, o ciúme, a compaixão e tudo o que se acompanha do pra-zer ou sofrimento, as paixões que nos movem e que encontram na parte sensitiva da alma a sua sede (EN, II, 5, 1105 b19-24). Tais afecções são o “material” da ética e tudo aquilo com que o homem deve haver-se a cada vez em que age, desafiando-o a conduzir-se bem. Apenas por a alma do humano contar constitutivamente com a parte sensitiva-apetitiva (que ele comparte com o animal e que faz dele parcialmen-te animal) em que têm lugar aquelas afecções, coloca-se para ele a possibilidade e o desafio ético. Evidentemente que, encontrando-se as afecções na parte sensitiva da alma, também os animais as experimentam, e é aí, precisamente, que se dese-nha com nitidez o caráter especificamente humano da ética, que apenas tem lugar a partir da tensão que o seu caráter compósito (deus-animal) estabelece no homem. Se o homem fosse apenas sensação e apetite, sem contar também com a parte da sua alma que tem a razão, sua relação com suas afecções (com seus medos, seus de-sejos, seu apetite) seria de simples sujeição, assim como é a relação de qualquer ani-mal irracional com seus impulsos.28 Apenas na medida em que o homem é também racional é que surge para ele o desafio de dominar e por fim educar e conformar o seu desejo, isto é, a parte irracional-apetitiva de sua alma, impondo-lhe a direção e a medida tal que lhe indica a sua razão, como sentido orientador (orthos logos). Isto é que abre para que, ao lado das capacidades (que são condições de possibilidade
27 No Liddell-Scott, a palavra hexis aparece como “a having, possession”. A palavra pres-ta-se tanto para significar um estado natural como um estado conquistado (resultante assim do poder autoconformador do humano).
28 Rackham anota a propósito desta passagem: “praxis significa ação racional, conduta. Os movimentos dos animais, como Aristóteles parece pensar, são meras reações aos estímu-los sensorais”. ARISTOTLE. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 8 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 9
de o homem ser afetado por afecções, como capacidade de ter afecções, de se emo-cionar), surjam as disposições ou hábitos, conceito capital da ética aristotélica, que são aquilo de acordo com que o homem se comporta bem ou mal relativamente às afecções (EN, II, 5, 1105b 25-26).
Se o homem fosse apenas animal, seria levado cegamente por suas afecções e jamais se colocaria para ele o problema do agir e do viver bem, e assim não teria sentido qualquer ética. Mas se ele fosse apenas deus, determinando-se automatica-mente pelo que dispõe a razão, não surgiria o bem como um problema, como um desafio. Seu simples viver seria já bom.29
A ética surge nessa tensão constitutiva do humano, e todo o seu programa consiste em elevar o homem da brutalidade em direção à divindade, o que se con-funde com a realização de si mesmo (ou com a realização de si como o melhor de si mesmo), na sua dimensão mais própria, como ser racional. Trata-se de um es-forço de autoconformação em que o homem se autoconquista e se transforma, por meio da habituação como um processo de submissão da parte inferior da alma à superior, da conquista cotidiana de bons hábitos tais que resultem na conformação do modo de desejar. É importante, porém, não perder de vista que este processo de submissão do apetite-vontade-desejo em favor da razão não pode implicar a sub-tração daquela parte irracional da alma, mas a sua elevação, tanto quanto possível. O desejo deve acostumar-se a obedecer aos ditames (conselhos) da razão, até mes-mo a ponto de poder considerar-se uma parte passiva da alma racional, mas não ocorrerá nunca de ser substituída pela razão: o humano já não se moveria se isto acontecesse; ao mesmo tempo, as afecções devem ser reconduzidas ao seu devido lugar e podem mesmo ser reeducadas a ponto de o homem conformar o seu pró-prio sentir, mas não poderão nunca deixar de marcar o homem. Ser insensível, para Aristóteles, não é uma virtude, mas uma forma de monstruosidade.
A definição do humano, exposta a partir de considerações psicológicas, mos-tra-o como em parte racional e em parte irracional, e denota como o agir é pró-prio (exclusivo) do humano, por ter a alma assim dividida. Um deus não age, assim como não age um animal. O agir se possibilita e resulta sempre desta tensão entre o desejar e o pensar. Como para o deus essa tensão não existe (ele quiçá vive a identi-dade entre o que deseja e o que sabe ser o melhor – ou ele nem sequer deseja, e por
29 Mas não seria bom para o humano. Nussbaum insiste muito no valor dessa diferença do especificamente humano em face de deus. Vide: NUSSBAUM, Martha Craven. La fragilidad... cit., p. 463 e ss.
Sensatez como modelo e desafio.indd 9 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles10
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
isso não se move…30), assim como tampouco existe para a besta (o animal move-se por seu simples desejo), apenas o homem é um ser ético.
Por esta razão, só faz sentido falar em sensatez como uma virtude humana. Ela não é necessária para deuses, porque estes não têm que haver-se com desejos e paixões (que só ocorrem a animais). A sensatez tampouco é possível para animais não humanos, porque estes não têm o poder de pensar seus desejos e paixões.
Porque não é deus nem fera, o humano é capaz e necessitado de ética e de sen-satez – e igualmente de política. Compreende-se em que sentido “o homem é natu-ralmente um animal político, destinado a viver em sociedade” vincula-se à sua na-tureza especificamente humana, entre o animal e o deus. Nem animal, nem deus: “(...) aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem”.31
A natureza compósita do humano, que vive na tensão entre o animal e o deus que ele ao mesmo tempo é, torna-o capaz e carente da política e da lei, pois é a vida na cidade a condição de sua elevação em direção ao que há de divino nele: “(...) porque se o homem, tendo atingido a sua perfeição, é o mais excelente de todos os animais, também é o pior quando vive isolado, sem leis e sem preconceitos”. “Sem virtude, ele é o mais ímpio e o mais feroz de todos os seres vivos; mais não sabe, por sua vergonha, que amar e comer. A justiça é a base da sociedade. Chama-se julga-mento e aplicação do que é justo.”32
1.2 O desafio da autossuficiência
É preciso aprofundar o retrato aristotélico do humano, passando à discussão da sua mais peculiar característica, sua incompletude, que deve ser entendida em diversos sentidos: a) incompletude como o não bastar a si mesmo do humano iso-lado, sendo levado, por esta sua natureza, a associar-se;33 b) incompletude do hu-mano como ser inacabado: a tensão entre o desejo e a razão institui nele a possibi-
30 O deus não deseja. Ele é pura contemplação. Por isso é imóvel. A razão humana também se marca por esta singularidade: uma razão meramente contemplativa não é própria do humano. A razão do homem dirige-se para o agir, conforma o agir – esse tipo de razão (prática) não faz sentido para o deus.
31 ARISTÓTELES. A política. E ainda: “aquele que não pode viver em sociedade, ou que de nada precisa por bastar-se a si próprio, não faz parte do Estado; é um bruto ou um deus”. Idem, p. 15.
32 Idem, ibidem.33 Idem, ibidem
Sensatez como modelo e desafio.indd 10 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 11
lidade-necessidade de concluir-se, de finalizar-se como caráter e como inteligência; c) incompletude do universo no horizonte prático. Todas estas acepções estão liga-das, esclarecendo-se e requisitando-se mutuamente.
A letra b liga-se à argumentação por último desenvolvida: o humano é incom-pleto à medida que tem sempre por decidir, enquanto vive, a relação entre o deus e a fera que o habitam. Quanto à letra c, a incompletude é denunciada como abertu-ra, história e biografia a serem escritas por decisões, ações e situações. Pelo exercí-cio da sensatez, o humano completa a construção do universo, ao menos no hori-zonte prático. Esta questão será retomada. Para já, cumpre examinar a letra a.
Autarkeia, autarquia e autossuficiência, é uma noção fundamental da ética grega, compreendido como elemento essencial do ideal de vida. Sua presença na li-teratura atesta a inquieta consciência do grego acerca da incompletude do humano – parece claro que vencê-la é o seu maior desafio. Em muitas passagens da Ética a Nicômaco, a autarkeia é afirmada como o fim do humano, confundindo-se com a felicidade (eudaimonia).34
No início da Política, Aristóteles esclarece que o fim para o qual todo ser foi criado é bastar-se a si mesmo; “a condição de bastar-se a si próprio é o ideal de todo indivíduo, e o que de melhor pode existir para ele”.35 O ideal de autossuficiência não pode ser atingido pelo homem sozinho, por isto o homem só pode realizar-se à me-dida que se integra na cidade. A cidade é uma associação36 que apenas se institui pelo fato de que o humano, isolado, é carente do outro, com quem estabelece tro-cas. A necessidade é o fundamento da polis, lugar do encontro e da permuta em que o homem pode encontrar aquilo que sozinho não é capaz de obter para a satisfação de seus desejos. O homem é um animal político porque apenas na polis ele dá conta de alcançar a autarquia: a cidade é a “multidão de cidadãos capaz de bastar a si mes-ma, e de obter, em geral, tudo que é necessário à sua existência”.37 A cidade como
34 “Existe, pois, uma correlação necessária entre eudaimonia e liberdade, e é como conse-quência dessa correlação que se deve atribuir ao exercício da ‘vida no bem’ (eu zen) a autonomia ou a autocausalidade no domínio de si mesmo (autarkeia) que define o ser livre.” VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de filosofia IV. Introdução... cit., p. 120.
35 ARISTÓTELES. A política, cit., p. 14.36 A apresentação da polis como “uma espécie de associação” inaugura a Política. Idem,
p. 11.37 Idem, p. 96. Mais adiante: “A cidade se forma logo que se compõe de uma multidão sufi-
ciente para ter todas as comodidades da vida, segundo as regras da associação política”. Idem, p. 154. E ainda: “porque a cidade não é uma multidão de homens tomada ao acaso, mas bastando-se a si mesma, como dissemos, para as necessidades da vida”. Idem, p. 161.
Sensatez como modelo e desafio.indd 11 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles12
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
multidão marca-se pela diversidade: os homens não são todos iguais, e a função própria assumida por cada um, no amplo panorama das trocas entre os indivídu-os, permite a realização de todos e a autossuficiência e a permanência da cidade.38
Há uma ligação interna entre a carência e a incompletude humanas (que fun-damenta a natureza social do humano – só na cidade é que se pode tornar autár-quico) e a ética. Sua carência é que lhe impõe o encontro com o outro, encontro este que é o ensejo de toda ação e assim de todo processo de construção do caráter.
Mas a natureza social do humano não se esgota na busca da realização de suas necessidades e desejos: embora haja um valor atribuível ao simples viver, cuja pre-servação viabiliza-se pela integração na polis, a vida em comunidade não se resume ao simples viver, mas se dirige ao viver bem (atine à realização de si mesmo na sua melhor possibilidade).39 Apenas isto justifica a afirmação de que mesmo na hipóte-se de não precisar do auxílio dos seus semelhantes, o homem deseja viver em socie-dade.40 Afinal, “não é somente para viver, mas para viver felizes, que os homens es-tabelecem entre si a sociedade civil”.41 O viver bem, que coincide com a felicidade,42 integra decisivamente a definição da cidade.43
38 “Pode-se dizer do cidadão o que se diz de qualquer um dos indivíduos que viajam a bor-do de um navio: que ele é membro de uma sociedade. Mas, entre todos esses homens que navegam juntos, e que têm um valor diferente, visto que um é remador, outro piloto, este encarregado da proa, aquele exercendo, sob outra denominação, um cargo semelhante – é evidente que se poderá designar, por uma definição rigorosa, a função própria de cada um; e no entanto, haverá também alguma definição geral aplicável a todos, porque a salvação da equipagem é a ocupação de todos, e o que todos desejam igualmente.” Idem, p. 99.
39 Isto pode indicar uma diferença entre a natureza social e a natureza política do humano, que não se confundem. O humano é social na medida em que precisa do outro com quem trocar; sem a troca não pode satisfazer suas necessidades de sobrevivência. Di-ferente é a necessidade que o humano tem da política, da cidade enquanto sistema de trocas e de relações que lhe ensejam autorrealizar-se como ente vocacionado e desafiado à virtude. A política – e a polis como um lugar a preservar como meio possibilitador da virtude e assim da felicidade – não são dados naturais, mas tarefa, desafio, esforço.
40 ARISTÓTELES. A política, cit., p. 106.41 Idem, ibidem, p. 111: “Por outra, poder-se-ia dar o nome de cidade a uma associação de
escravos e mesmo de outros seres animados”.42 A felicidade é definida como fim do humano assim como a autarquia: são conquistas que
se implicam.43 Pois “a única associação que forma uma cidade é a que faz participarem as famílias e os
seus descendentes da felicidade de uma vida independente, perfeitamente ao abrigo da miséria (…) a cidade é uma reunião de famílias e pequenos burgos associados para goza-
Sensatez como modelo e desafio.indd 12 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 13
Mas a dependência e a incompletude do homem permanecem sempre. Mes-mo a mais perfeita virtude, cultivada pelo homem ao longo de toda a vida, não ga-rantirá sozinha a sua felicidade, que no humano não prescinde de bens externos como amigos, honra, poder e riqueza.44 Isto mais uma vez acentua a impossibili-dade de o homem autorrealizar-se fora da comunidade. Apenas na polis o homem pode construir-se e ser reconhecido como um homem de bem, sério e realizado (feliz). A essência da felicidade é a virtude, e esta não se constrói nem se exercita fora do convívio social. Embora essencial, a virtude não é suficiente para que um homem possa considerar-se feliz. Aristóteles, como sempre, é bem realista ao ad-mitir que o sucesso na vida não se alcança com virtude apenas – ser sério e sensato é essencial, mas coisas como sorte, amigos, dinheiro e saúde, se faltarem, são capa-zes de arruinar uma vida. Ora, tais bens externos apenas são acessíveis ao homem integrado na polis. Embora possuam uma relação apenas externa com a vida boa (poder-se-ia dizer que são condição sine qua non da felicidade): são, de todo modo, imprescindíveis. As virtudes do caráter, que têm uma relação interna com a feli-cidade (são causa per quam da felicidade), também dependem essencialmente da vida em sociedade. Apenas em sociedade surge o desafio e a possibilidade da virtu-de, pondo a felicidade desde sempre numa dependência inevitável da relação com o outro (EN, I, 7, 1097 b 9-11).45
rem em conjunto uma vida perfeitamente feliz e independente. Mas viver bem, segundo o nosso modo de pensar, é o viver feliz e virtuoso. É preciso, pois, admitir em princípio que as ações honestas e virtuosas, e não só a vida comum, são o escopo da sociedade política”. ARISTÓTELES. Idem, p. 113.
44 É um dos traços distintivos da ética aristotélica a afirmação de que os bens exteriores são necessários – embora não sejam suficientes – à felicidade: “Ninguém contestaria que os bens que se podem fruir, dividindo-se de fato de uma só maneira – bens exteriores, bens do corpo e bens da alma – o homem verdadeiramente feliz deve reuni-los todos. Não, ninguém consideraria felizes aqueles que não possuíssem coragem, nem sabedoria, nem sentimentos da justiça, nem inteligência, aqueles que o voo de uma mosca fizesse tremer, que não evitassem os excessos quando desejassem comer ou beber, ou, por um quarto de óbolo entregassem os seus melhores amigos, e que quanto à inteligência fossem tão estú-pidos e falhos como uma criança ou como um homem louco (…) Concluamos somente que a vida perfeita, para o cidadão em particular e para o Estado em geral, é aquela que acrescenta à virtude muitos bens exteriores para poder fazer o que a virtude ordena”. ARISTÓTELES. Idem, p. 145. Neste sentido remarca-se a importância da virtude espe-cial da justiça, que tem por objeto exatamente a repartição destes bens exteriores (bens e riquezas, e cargos públicos) sem os quais a felicidade não se mantém.
45 Vide infra o parágrafo 30 (“O outro na ética aristotélica”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 13 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles14
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Em resumo, tanto a virtude do caráter, essência da felicidade, como os bens externos sem os quais tampouco alguém se pode considerar realizado na vida, po-dem ser obtidos senão no horizonte da comunidade. Apenas no horizonte da polis o homem pode transcender sua incompletude em direção à realização de si mesmo,
Em Aristóteles, o modo como o humano é não está inteiramente determina-do pelo nascimento. Na conquista de si mesmo como virtuoso, o homem conta ao mesmo tempo com certa disposição natural favorável (ou não), pela qual não é res-ponsável, mas da qual parte ao ingressar no processo de conformação do desejo. Já a virtude autêntica constrói-se pela autoconstituição resultante do agir, por ação as-sim do esforço próprio.46
O homem não nasce pronto, mas deverá concluir-se pelo viver. Esta autocons-trução do homem (que o leva a ser virtuoso ou pervertido, a ter virtudes ou vícios) apenas é possível na interação e no encontro com os outros homens, junto ou em face de quem sempre age, assim como pressupõe o horizonte da lei (em que o jus-to a princípio se define) e os processos de educação ético-política (paideia) pelos quais se forma. No horizonte da polis, e enquanto tem, como cidadão, a oportuni-dade de obedecer (submetendo-se à lei e à autoridade do outro, que exerce a ma-gistratura) e especialmente de mandar (de exercer a magistratura) é que o homem encontra a oportunidade de pôr-se a descoberto, pondo à prova a sua excelência e assim tornando-se – ou não – excelente.47 “O fim da arte e da educação em geral é substituir a natureza e completar aquilo que ela apenas começou.”48
1.3 Eudaimonia: forma firme de viver no domínio radical de si mesmo
A compreensão do humano como composto por corpo e alma, e das partes da alma em sua hierarquia, é muito importante para entender o sentido emprestado por Aristóteles à palavra eudaimonia, que começamos a discutir no item 1.1, supra.
46 EN, VI, 13,1144 b5-6; EN, II, 1, 1103 b10-13. 47 Sobre estes pontos deverei voltar ao tratar de outros aspectos nucleares da ética. Des-
culpo-me por adiantar muitas vezes pontos que serão depois retomados, mas esta é, se-gundo creio, uma dificuldade própria à exposição da ética aristotélica, cujos temas estão ligados numa íntima interdependência de sentido que torna impossível tocar num ponto sem referir o outro. Estou tentando uma aproximação progressiva do pensamento ético de Aristóteles com vistas aos nossos objetivos aqui, o que não prescinde da paciência do leitor.
48 ARISTÓTELES. A política, cit. p. 187.
Sensatez como modelo e desafio.indd 14 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 15
Em regra, a palavra eudaimonia é traduzida por felicidade. Traduz-se também como sucesso ou realização pessoal. Adotando esta perspectiva, Barnes escreve que a ética aristotélica não “se preocupa com a questão de como deveríamos conduzir nossa vida, se essa pergunta for entendida no sentido moral. Ele deseja nos instruir sobre como fazer sucesso na vida”.49 A intuição é sugestiva e útil, mas deve-se cui-dar para que não ponha a perder o sentido específico da eudaimonia em Aristóte-les, que diz exatamente do cumprimento do fim do humano, realizado na conquista do viver bem, guardando sempre um sentido moral já que a vida boa coincide com a atividade conforme às virtudes, tanto éticas como intelectuais. A tradução de eu-daimonia como sucesso pessoal num sentido contemporâneo não deve fazer a éti-ca aristotélica parecer um manual de autoajuda. Nada seria mais distante da ética de Aristóteles, para quem ninguém pode realizar-se sozinho, mas apenas na com-panhia do outro, no e por seu pertencimento comunitário (daí a importância que dá à amizade (philia) e ao pertencimento à polis). Não é possível compreender a eu-daimonia senão num sentido moral e político.
De fato eudaimonia significa para Aristóteles fundamentalmente sucesso pes-soal, “vencer na vida” – mas para ele isto é impossível sem ética e sem política. Es-sencial no pensamento ético grego, o tema da eudaimonia talvez seja o de mais di-fícil inteligência pelo leitor moderno, eis que a eudaimonia tende a ser remetida, entre nós, para o escaninho dos assuntos particulares, nada tendo a ver com o agir bem ou com o fazer o que deve ser feito. Esse deslocamento da eudaimonia foi ex-pressamente perpetrado por Kant.50
49 BARNES, Jonathan. Aristóteles, p. 124.50 A leitura que fazemos do direito como pensar, contemporâneo de um agir-decidir que é
um reconstruir/restituir a norma pelo homem que toma as rédeas de sua própria auto-constituição ética e da ordem – norma que não é simplesmente encontrada, mas afirma-da, por força e autoridade da própria racionalidade do homem sério concreto – combate a teoria do direito que descreve a experiência do direito (e a ciência jurídica como parte da experiência do direito) como um simples contemplar a norma que já está lá para depois aplicar-se (atitude denunciada como cognitivista) – paradigma animado pela tra-dição positivista e pelo Kantismo. Cremos, porém, que a crítica é justa apenas contra uma leitura possível (embora dominante) de Kant. Gostaríamos de ressalvar o direito de discutir, em outro texto, uma leitura de Kant em que o problema da racionalidade prática seja visto de outra maneira. Não podemos enfrentar esse problema aqui, mas acreditamos que o mais importante da doutrina moral de Kant tenha sido ignorado por seus leitores mais eficazes. Para Kant a norma não está lá, mas é descoberta/construída a cada situação concreta. Neste sentido, devemos admitir que a crítica feita a Kant nesta passagem resulta de uma simplificação injustificada – que mantemos pelo fato de ser
Sensatez como modelo e desafio.indd 15 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles16
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Interessado em dissociar o agir bem do prazer, Kant no mesmo passo dester-rou a felicidade do território moral. Sua ética é dita “não eudaimonista”, em contra-posição a toda a tradição moral que o antecedeu. É preciso compreender o sentido da ruptura que propõe. O que se perdeu, com o abandono do compromisso da ética aristotélica com a realização do homem, de uma ética que não recorre à simples re-presentação do dever (como o faz a ética kantiana), mas que empenha toda a alma do homem na fundação da ação virtuosa?
Aristóteles também evita cuidadosamente a redução da ética a uma vida de prazeres, mas sem com isto banir a felicidade de seus domínios. Tampouco descura ele do papel do prazer e do sentimento, que fazem do humano um humano. A re-flexão sobre a felicidade culmina exatamente na demonstração de como o processo ético de autoconstrução pessoal visa a conquistar a alma para a virtude, o que im-plica inclusive conformar o próprio prazer.
Kant constrói sua ética a partir de uma radical cisão da razão com a natureza que marca o humano – importa-lhe o humano enquanto espécie do gênero ser ra-cional em geral, Aristóteles assume o homem em sua integridade e coloca como de-safio ético final a realização do humano em sua melhor possibilidade, mas de todo o humano segundo tal possibilidade; por isto a sua doutrina ética dá conta do in-teiro empenho do homem em sua vida ética. Está aqui uma das chaves para com-preender a eudaimonia em Aristóteles. No homem feliz, bem-sucedido no esforço de construção de si como uma pessoa virtuosa, o ato praticado conforme a virtu-de não causará qualquer sofrimento ou desconforto. O prazer enfim corroborará o agir do homem sério e feliz: este é o bom destino que se lhe reserva.
Aristóteles descreve a autorrealização humana (eudaimonia) como uma ativi-dade, com ênfase no seu efetivo exercício: ela não é mera possibilidade, mas pro-cesso, atividade contínua (EN, I, 9, 1099 b 26-27) exercitada ao longo da vida que, a partir de certo momento, torna-se estável e duradoura. Ela não se confunde com um estado de alma passageiro, como quando alguém diz “estou feliz hoje”. Antes ela se aproxima de um modo de viver que foi conquistado pelo próprio viver e do modo como o humano vive.
O problema da felicidade é introduzido, logo nos primeiros parágrafos da Éti-ca a Nicômaco, com o problema do bem, que é o problema do fim do humano. O primeiro parágrafo do Livro I subordina ao bem (agathos) toda técnica (tekhnê),
esta a leitura que acabou por marcar a presença de Kant no pensamento jusfilosófico dos séculos XIX e XX, fundamentando seu paradigma epistêmico-cognitivista.
Sensatez como modelo e desafio.indd 16 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 17
investigação (methodos), ação (praxis) e decisão (proairesis), que são atividades da alma.
Enquanto algumas atividades encontram em si mesmas o seu fim (sua per-feição, acabamento, completude, consumação: telos) há outras que, para além de si como atividades, resultam em uma obra (ergon). Nesse caso, parece óbvio que a obra, como fim, importa mais que atividade que lhe dá lugar (assim, a saúde em face da medicina, a vitória em face da estratégia, ou a riqueza em face da econo-mia). Figura já ali a ideia importante de uma hierarquia entre os fins.
O segundo parágrafo afirma a política como a mais “arquitetônica” das inves-tigações, porque o seu fim subordina o fim de todas as demais (subordina inclusive o fim dos então mais estimados saberes, como a economia, a estratégia e a retórica). Ela refere-se ao bem do homem. O bem do homem e da cidade são o mesmo. Mas como é mais divino procurar o bem do maior número, a política, que se ocupa do bem da cidade, tem primazia sobre todas as demais ciências e artes. Esta é uma das muitas passagens em que Aristóteles liga a ética à política. A dimensão omnicom-preensiva da política expressa-se pela legislação, pela qual a política dispõe sobre o que se deve fazer e evitar. Seu fim envolve o fim das restantes atividades, já que lhe cabe dispor sobre o lugar de cada uma delas na polis.
A unidade hierárquica entre os fins – em que uns fins são surpreendidos tam-bém como meios em face de outros fins, mais elevados – conduz à pressuposição de um fim último, em razão do qual os outros são escolhidos (são fins intermediá-rios). O fim último é aquele que não retira sua qualidade de fim da subordinação a qualquer outro – ele não é meio relativamente a qualquer outro fim. Um fim último deve ser postulado, pois o desejo do fim seria vazio se a linha de condução de um fim ao outro não encontrasse um termo final.51 O saber relativo ao fim último tem importância decisiva para a vida do humano (é o alvo em razão do qual ele pode orientar-se, qual o arqueiro…). A ética, como ciência comprometida com tornar bom o homem, deve esforçar-se por delimitá-lo.
A investigação de Aristóteles sobre o bem, objeto da política e da ética, par-te, como recorrente recurso dialético, dos usos das palavras que Aristóteles encon-tra em seu tempo e na tradição; ali ele constata a unânime afirmação da felicidade como o maior bem do homem. Não encontra, no entanto, concordância acerca do que signifique.
51 EN, I, 2, 1094 a 18-22.
Sensatez como modelo e desafio.indd 17 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles18
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Para uns, o homem realizado é o homem rico; para outros, feliz é uma vida cheia de prazeres.52 Mas como escolher entre tais concepções disputantes de vida boa? A que critério pode-se recorrer para arbitrar entre estes modos de viver? Para Aristóteles, a felicidade é o bem escolhido em razão de si e de mais nenhum outro fim. “De fato, nós escolhemos sempre a felicidade por causa dela mesma, e nun-ca em vista de outro fim para além dela.” “A felicidade parece, por conseguinte, ser de uma completude plena e autossuficiente, sendo o fim último de todas as ações possíveis.”53 É o bem supremo. Neste parágrafo 7 do Livro I, a investigação sobre a eudaimonia parte da problematização da vida mais própria para o humano, aquela em que se realiza e se cumpre como homem.
A felicidade identifica-se com o viver bem, e por isto a discussão sobre a feli-cidade é a discussão sobre a melhor forma de vida. Aristóteles passa em revista os diferentes tipos de vida em busca do que há de especificamente humano De que di-mensão da alma se trata? Qual a vida própria do humano? A resposta encontra-a na parte racional da alma. A dimensão capaz de razão é exclusiva do humano, entre os seres vivos, singularizando-o enquanto espécie. Diante disto, se há três tipos de bens atinentes ao humano (os bens exteriores, os bens do corpo e os bens da alma), são os bens da alma os mais autênticos e extremos – os bens da alma são próprios do humano,54 e a eles diz respeito a felicidade.
52 A mais importante objeção contra a validade do recurso a Aristóteles para compreender os desafios éticos contemporâneos é o caráter plural e mesmo fragmentário (pulveriza-do) que marca nossa visão de mundo hoje. A teoria ética de Aristóteles não teria nada a contribuir hoje, por estar enclausurada num horizonte cultural supostamente monolí-tico, homogêneo, marcado pela afirmação de uma única concepção de vida. Nada mais falso. O início da Ética a Nicômaco mostra que é exatamente a ausência de uma concep-ção unitária e aproblemática de vida boa o que provoca a reflexão ética de Aristóteles.
53 EN, I, 7, 1097 b1-22. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 28.
54 Fica mais uma vez clara a vinculação da ética aristotélica à guinada para o interior con-sumada por Sócrates. “E dado que este é o próprio fundamento da ética socrático-pla-tônica, não é de admirar que Aristóteles, aceitando o fundamento, acabe por concordar com Sócrates e Platão, muito mais do que se crê comumente. Os autênticos valores, tam-bém para o Estagirita (como acima já pusemos implicitamente de relevo), não poderão ser nem os exteriores (como as riquezas), que tocam apenas tangencialmente o homem, nem os corporais (como os prazeres), que não dizem respeito ao eu verdadeiro do ho-mem”. REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 410.
Sensatez como modelo e desafio.indd 18 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 19
A felicidade é a atividade do humano que se cumpre,55 e apenas está ao alcan-ce do homem que dá conta de viver de acordo com a sua melhor possibilidade, dei-xando-se governar pela melhor parte de sua alma e entregando-se à sua atividade específica: o pensar.56
1.4 Felicidade e os limites do poder do humano sobre si mesmo
Feliz é quem vive e age bem. No entanto, Aristóteles afirma que a felicidade é quase um viver bem e um agir bem. Grifamos a palavra quase porque, embora seja uma tarefa do humano, a ser realizada por seu próprio esforço nos quadrantes de uma vida inteira dedicada a viver bem, a felicidade depende ainda de condições as quais escapam ao poder do homem, porque não encontram nele o seu princípio. Esta é uma dimensão importante a caracterizar a fragilidade e a indigência do hu-mano, em cuja vida mantém-se um elemento imponderável e trágico: não está tudo a depender da autodeterminação do homem, mas há algo mais forte do que ele ca-paz de pôr a perder toda uma vida dedicada à construção da felicidade. O parágra-fo traz algo de esclarecedor sobre o sentido da vida humana. Nossa felicidade de-pende de nós, mas não apenas de nós.
O problema da possibilidade de a felicidade ser alcançada antes do fim da vida (a preocupação gira em torno do incontornável elemento trágico: a má sorte que
55 A felicidade pressupõe uma existência completa, durante a qual esta conquista tem lugar. Não se pode dizer que a criança, que ainda não viveu longamente, seja feliz. EE, III, 1219 b 1-10: “For we think that to do well and live well are the same as to be happy; but each of these, both life and action, is employment and activity, inasmuch as active life involves employing things – the coppersmith makes a bridle, but the horseman uses it. There is also the evidence of the opinion that a person is not happy for one day only, and that a child is not happy, nor any period of life (hence also Solon’s advice holds good, not to call a man happy while he is alive, but only when he has reached the end), for nothing incom-plete is happy, since it is not a whole”. ARISTOTLE. Eudemian Ethics. Trad. H. Rackham.
56 “Os homens distinguem-se dos outros animais por serem dotados de razão e da capaci-dade de pensar. Os homens ‘contêm algo de divino – aquilo que chamamos de intelecto é divino’, e nosso intelecto é ‘o divino que habita em nós’. Na verdade, ‘cada um de nós é concretamente intelecto, visto ser este o nosso elemento soberano, o nosso melhor elemento’. As excelências mais propriamente humanas são por conseguinte as intelec-tuais, consistindo a eudaimonia, primordialmente, em atividade de acordo com essas excelências – trata-se de uma forma de atividade intelectual (…) Realizar-se, fazer su-cesso na vida, requer a dedicação a empreendimentos intelectuais”. BARNES, Jonathan. Aristóteles, p. 125. As citações que constam no texto são, respectivamente: GA II, 3, 737 a11-11(2); EE VIII, 2, 1248 a47; e EN, X, 7, 1178 a 2-3.
Sensatez como modelo e desafio.indd 19 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles20
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
pode suceder até o último momento e desgraçar a vida) é trazido para colocar a questão da dimensão humana da bem-aventurança em que consiste a felicidade: ela tem algo de divino, à medida que a atividade da alma capaz de razão (que é o que há de divino no humano) é o que de mais divino pode o homem ter (ser), mas encon-tra-se ainda no horizonte do humano – e o humano não tem o destino inteiramente em suas mãos. Todo o tratado pode ser lido como dizendo a ética como autocons-trução do homem (e é um documento importante do iluminismo grego, em que a tensão com as forças irracionais do destino passa pelo autoesclarecimento do po-der do homem sobre si mesmo) – mas reconhece os limites dessa autonomia, dessa disponibilidade sobre si mesmo: o homem não tem o destino inteiramente em suas mãos, e esse é um dos limites incontornáveis da ética e da política. Alguém pode ser virtuoso, excelente, mas, ainda assim, ser infeliz. Isto se explica pelo quanto há de indisponível para o humano, mas que influencia a felicidade (o destino, a sorte, o acaso): Aristóteles não reduz a felicidade à excelência, há outros elementos coad-juvantes externos contra cuja influência o homem virtuoso é cada vez mais imune, mas não totalmente liberto.57
Se a autorrealização (felicidade) é o maior bem do humano, a ética deve es-clarecer os modos de sua aquisição.58 Afinal, como se obtém a felicidade? Por ha-bituação, aprendizagem, acaso ou favor divino? Independentemente de ser ou não enviada por deus, é a mais divina das posses humanas. Seria plausível considerá-la favor divino, pois é a melhor de todas as coisas? Ou está ao alcance de todos? É acessível a todos os que não são incapacitados para a excelência, por certa apren-dizagem e preocupação? Ou o mais sublime bem do homem poderia estar confia-do ao acaso?
Uma coisa é clara, em Aristóteles: a felicidade não é um dom. Não é um pre-sente divino e nem uma qualidade natural inata. Ao contrário, ela depende da exce-lência, da virtude – embora, repita-se, só a excelência não baste, já que o azar pode elidi-la. A política ocupa-se da felicidade, que está (em parte) na mão do homem. A sorte influi, mas a virtude é que é decisiva: o decisivo para a conquista da felici-dade é o agir autêntico do homem, já que a felicidade é uma atividade da alma de acordo com a excelência.
De todo modo, esta é uma advertência importante relativamente aos limites da ética e dos poderes do humano sobre si mesmo e sobre o mundo. Decerto que
57 EN, I, 8, 1098 a 31-1099 b-8.58 EN, I, 9.
Sensatez como modelo e desafio.indd 20 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O horizonte da ética e o seu compromisso com a felicidade humana 21
a ética figura como uma descoberta da capacidade do homem de tomar, nas suas mãos, a sua própria vida, furtando assim ao destino ou ao acaso a determinação de seu fim. A palavra eudaimonia está estreitamente ligada a isto. Aristóteles pensa so-bre os fundamentos, as condições de possibilidade e as fronteiras do poder do hu-mano sobre si mesmo e sobre o mundo. Voltarei a este ponto,59 mas para já gosta-ria de assinalar a lucidez de Aristóteles acerca deste aspecto em que mais uma vez assume a indigência do humano (muitas vezes impotente em face do destino). Ao mesmo tempo, ele deixa uma importante intuição acerca da localização destes li-mites, que cremos passíveis de deslocamentos por força e atividade do próprio hu-mano, fazendo da ética uma construção sem fim em direção à supressão dos limi-tes à autoconstituição do homem.
A presença do “acaso”, como conjunto de circunstâncias independentes do humano, as quais ele não pode controlar, mas que são também decisivas com re-lação à sua vida, introduz um importante elemento na ética, que trata da ação boa como a melhor ação possível, considerando as circunstâncias (assim como o estra-tegista fará o melhor uso possível do exército de que dispõe). O perito/feliz pode até não ser um bem-aventurado (se não contar com a sorte, não será feliz, mesmo que virtuoso), mas não será nunca um desgraçado.60
59 Quando tratar do raciocínio prático, na fenomenologia do agir, especialmente na consi-deração da reflexão sobre meios e fins. Vide infra o parágrafo 49 (“A razão prática como a mobilização de meios e a afirmação de fins do humano”).
60 EN, I, 10, 1100b, 21-34.
Sensatez como modelo e desafio.indd 21 10/07/12 16:05
CAPÍTULO 2
SI MESMO COMO DESAFIO NO hORIZONTE DO DESEJO
Sensatez como modelo e desafio.indd 23 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 25
2.1 A ética como doutrina das virtudes
A ética aristotélica é uma fenomenologia da autoconstrução humana no sen-tido em que descreve os processos pelos quais o homem se torna virtuoso (excelen-te) ou vicioso (pervertido). A autorrealização – o sucesso pessoal, a felicidade – é identificada mediante convincentes argumentos, com a vida virtuosa. A virtude é o caminho para a felicidade, e o seu prêmio, ocupando o centro da reflexão ético-po-lítica aristotélica.
A apresentação da felicidade como uma atividade (energeia) conforme a exce-lência impõe que a investigação se dirija a esta última,61 a que Aristóteles se dedica extensamente, tanto na Ética como na Política.62
A possibilidade da virtude dá-se com a abertura do humano, com o seu ina-cabamento. Uma virtude é um hábito, um bom hábito; hábitos não são adquiridos naturalmente, mas são conquistados por processos de habituação – pelos quais al-guém se torna como é. Este poder tornar-se só é possível por ser o humano aberto e incompleto; sua natureza é tal que exige um acabamento oriundo da própria ex-periência do viver. Embora se possa falar da aretê em sentido amplo, compreenden-do a excelência de qualquer ser, o termo avança na cultura grega para reservar-se à virtude ou excelência própria do humano, ou do deus.63
61 EN, I, 13, 1102 a 5-7. A excelência do humano também é a ideia que orienta a Poéti-ca e a Retórica, que assumem uma grande importância para a compreensão da ética aristotélica.
62 Afinal, trata-se do objeto da política, pois a ação política visa a excelência, para fazer dos cidadãos bons cidadãos e obedientes à lei: EN, I 13, 1102 a 7-9.
63 A palavra aretê figura no Liddell-Scott, num primeiro conjunto de sentidos, com as acep-ções de bondade, excelência, aparecendo em Homero com referência especialmente às qualidades dos homens (gênero masculino) ou dos deuses, mas também das mulheres. Em geral significa excelência de pessoas, mas também de animais, coisas ou terras; como pode ainda significar prosperidade. Num segundo conjunto de sentidos, comparece como um mérito, como um bom serviço prestado, em sentido honorífico. Depois, ainda, como prêmio pela excelência, distinção, fama, atribuível ao homem ou ao deus etc. LID-DELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
Marca-se bem a sua natureza ética e a sua destinação aos assuntos do homem ou do horizonte do humano e da divindade. Isto fica ainda mais claro diante das palavras que o dicionarista aponta como tendo significados similares: chrêstotês (bondade, honesti-dade, decência, gentileza, bondade de coração, boa natureza), eudoxia (boa reputação, honra, virtude, excelência, boa apreciação), euêtheia (bondade de coração, simplicidade) e andreia (coragem, bravura, masculinidade) – assim como diante das palavras com que regularmente ocorre: proairetikos (inclinado a escolher, escolha deliberada, proposital,
Sensatez como modelo e desafio.indd 25 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles26
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A cada parte da alma corresponderão as respectivas virtudes, como excelência no desempenho de sua função específica. “A possibilidade da excelência será tam-bém dividida em conformidade com esta diferença. Dizemos que umas excelências são teóricas e outras éticas.”64
A partir da afirmação dos dois tipos de excelências da alma, ligadas às diferen-tes partes da alma (a virtude ética ligando-se à parte irracional da alma, mas ain-da capaz de razão à medida que é capaz de “dar-lhe ouvidos”: o desejo65 – e a virtu-de intelectual (dianoética), ligando-se à parte da alma que tem a razão), Aristóteles dedica os Livros II a V às virtudes éticas, explicitando a sua natureza e o modo como podem ser conquistadas, e o Livro VI às virtudes intelectuais. A estes Livros da Ética dedicaremos nossa atenção neste estudo.
A virtude ética é a excelência do homem tal como deseja, ou relativamente ao seu desejo. Trata-se de um estado, um modo de ser, uma disposição em que se en-contra a parte apetitiva da alma. Atinando ao desejo, a virtude ética é do campo da-quilo que não é inexorável, necessário, por natureza, e que pode assim ser objeto de conformação pelo humano por sua própria atividade. Os objetos da ética são sem-pre coisas que dependem do homem, coisas cuja existência liga-se essencialmen-te à sua decisão e à sua vontade. O desejo se dirige para o que é possível ao homem alcançar. O modo como o homem deseja não está definido de antemão e de uma vez por todas. Esta parte da alma no humano testemunha a sua abertura, como ina-cabamento que reclama uma definição que se dá por força do próprio agir do ho-mem. O modo como o homem deseja – isto é, o modo como assume um fim, e a ele tende – apenas se determina por meio da sua própria história pessoal. A cada vez em que deseja, o homem modela o seu próprio desejo, influenciando desta ma-neira o modo como desejará em outras situações. Este é o sentido de habituação. O humano é constituído de tal forma que é capaz de acolher e aperfeiçoar as virtu-des, construindo a si mesmo numa espécie de modelagem da alma que resulta da sua própria atividade. É claro que isso (a possibilidade da autoconstituição pelo ho-mem) depende da posse de uma capacidade, a qual é posta em prática ou é ativa-
determinação, vontade) didaktos (possível de ser ensinado e aprendido, susceptível de ser conquistado pela experiência ou estudo), êthikos (moral, caráter), kakia (maldade, falta de coração, vício, desonra, má reputação), mesotês (posição do meio, meio entre ex-tremos, mediania), todas elas também palavras com especial lugar nos discursos éticos.
64 EN, I, 12, 1103 a1-4. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 41.
65 EN. I, 12, 1102 b30-1103 a1-10.
Sensatez como modelo e desafio.indd 26 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 27
da.66 Mas a natureza não contribui para a constituição do hábito senão conferindo ao homem esta condição de possibilidade, que se confunde com seu próprio inaca-bamento enquanto humano: o que o homem finalmente resulta de um processo de construção, de um constituir-se que se confunde com seu próprio viver.
A aquisição das virtudes é fruto do exercício – todo hábito é fruto de uma ati-vidade.67 É praticando atos conforme a virtude que se aprende a ser virtuoso, que se torna o homem excelente. Esta regra é válida para a aquisição da excelência no campo ético assim como o é nas “restantes” perícias, em que fazer é aprender. Nin-guém se torna um exímio tocador de violão senão pelo exercício da própria ativi-dade de tocar violão, assim como o homem apenas se torna justo praticando atos de justiça.68
Há aqui uma das várias analogias entre a ética e a técnica: assim como dar conta de fazer as coisas da técnica conquista-se fazendo-as, também o agir bem (eu prattein) torna-se possível ao homem pelo próprio agir. A habituação ética como processo de conformação do caráter pelo agir envolve um círculo em que o dese-jar atual provoca no homem certa tendência ou predisposição para desejar daquela forma, de tal sorte que agir bem predispõe a novas boas ações, por mediação (im-pulso) do caráter. Da mesma forma, más ações tornam o homem mau, predispon-do-o a novas más ações. Do modo como o homem age resulta o seu próprio caráter; em outras palavras, o agir do homem conforma a sua própria alma, empenhando o seu ser, para o bem ou para o mal. Na analogia entre ética e técnica,69 diferencia-dos pelo fato de o agir (a atividade no campo da ética) ser um fim em si enquanto o produzir (a atividade no campo da técnica) visa sempre a uma obra que é o fim do produzir (daí a superioridade da ética, cujo fim da atividade está nela mesma, sendo assim uma atividade mais autossuficiente), pode-se no entanto apontar o próprio homem – a sua alma, o seu caráter – como a obra do agir ético. O homem
66 EN I, I, 12, 1103 a26-31.67 EN, II, 1, 1103 b21-22.68 EN, I, 1, 1103 a-1103 b11.69 A ética e a técnica aproximam-se também à medida que compartem o mesmo horizonte:
os objetos de ambas encontram no humano o seu princípio. São saberes que atinam ao poder performativo do homem sobre o mundo; o agir ético tem por resultado uma obra que se confunde com o próprio humano que age, o que chama a atenção para a ética como um saber mobilizador dos poderes constitutivos do humano sobre si mesmo; e para a ética como uma espécie de muito especial técnica em a obra é o próprio homem.
Sensatez como modelo e desafio.indd 27 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles28
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
torna-se o que é ao agir; deseja tal como se habitua a desejar, por força de como se decide (de como deseja) ao longo da vida.70
O lugar onde a virtude se constitui (ou onde falha) é o lugar onde o homem se torna o que é, seja bom ou mau. O tornar-se virtuoso ou viciado, excelente ou per-vertido, define-se no mesmo tipo de situação, e depende apenas de como o homem desincumbe-se das circunstâncias da vida. Se ele age bem, torna-se bom – mas se, diversamente, naquela mesma situação, age mal, torna-se mau.
Nas situações em que transaciona com o outro, o homem torna-se justo ou in-justo. O perigo é o ensejo e a oportunidade em que o homem torna-se corajoso ou não: “As disposições permanentes do caráter constituem-se através de ações leva-das à prática em situações que podem ter resultados opostos”.71 Estabelece-se a li-gação entre o hábito e cada ação que o reconfirma e fortalece como hábito, consoli-dando aquele homem como tendo aquele caráter, isto é, como sendo daquele modo – e sendo aquele homem.
As virtudes éticas são disposições do caráter e, como tais, respeitam à cons-tituição da parte apetitiva-sensitiva da alma. Dizer que alguém tem uma determi-nada disposição ética (hábito) é dizer do modo como seu desejo funciona: é dizer como deseja. O homem tem o poder de conformar o seu próprio desejo, de deter-minar o modo como quer, o que persegue ou para que tende a cada vez. Esta ideia integra a mais radical dimensão da liberdade em Aristóteles, que reside num poder ontológico do homem que pode dispor de si mesmo, do modo como ele é, como caráter.
Ter uma disposição ética (virtude ou vício) é estar habituado a desejar de cer-ta maneira. A virtude ética é espécie do gênero “disposição” (hexis). Disposição é o gênero que compreende também as virtudes intelectuais (virtudes do pensamen-to), entre as quais a sensatez, que, enquanto disposição, abre-se no mesmo espaço possibilitado pelo poder autoconformador do humano, da sua disponibilidade e do seu poder ontológico sobre si mesmo. Como disposições, as virtudes intelectuais dizem então do modo como o homem pensa, e é inevitável concluir que, para Aris-tóteles, o modo como um homem pensa não pode decorrer senão da própria ativi-
70 EN, II, 1, 1103 b1-5. A função da lei, à qual voltaremos, compreende-se na arena do pro-cesso de autoconformação ética do humano: “Os legisladores tornam os cidadãos bons habituando-os a agir bem” (...) “Este é o propósito do legislador e o critério distintivo da boa constituição”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 41.
71 EN, II, 1, 1103 b22-25. ARISTÓTELES. Idem, p. 44.
Sensatez como modelo e desafio.indd 28 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 29
dade do pensar, assim como as virtudes do caráter são decorrentes de como o ho-mem habitua-se a desejar. O mesmo círculo implicado no binômio ser justo-agir com justiça está implicado no binômio ser inteligente-pensar com inteligência ou ser sensato-pensar com sensatez (phronesis). À medida que as virtudes intelectuais são disposições, valem para elas as indicações sobre a sua natureza enquanto dispo-sições (são algo da alma que denuncia o inacabamento do homem, e assim algo a depender de ultimação por força da atividade do homem) e do modo como podem ser adquiridas (decorrem do exercício, da atividade). Esse ponto é muito importan-te para esclarecer,72 como tentamos fazer, o sentido do direito como pensar. A ele retornaremos ao discutir as virtudes intelectuais, no Livro VI da Ética a Nicômaco.
Concentramos agora a atenção nas virtudes éticas, que são disposições da parte sensitiva-apetitiva da alma, atinando ao modo como o humano deseja e quer, perseguindo os seus fins.
À medida que a virtude ética é a excelência da parte da alma que deseja, ela comparte sua sede com as afecções desta parte da alma. O horizonte da virtude éti-ca é o horizonte em que atuam as paixões, os sentimentos e as sensações que o hu-mano vive (em sentido rigoroso: que o humano “sofre”). O agir ético é desejar sob a pressão do que há de animal na alma (a parte irracional da alma é a mola propul-sora de todo agir, já que ali se origina todo movimento). A atividade pela qual o ca-ráter se forma acompanha-se por isso necessariamente do prazer e da dor, afecções que não são ignoradas pela reflexão ética. Aristóteles atribui-lhes grande importân-cia: afinal de contas o prazer e a dor são decisivos no agir. Via de regra é por causa do prazer que o humano faz o mal, e é por causa da dor que ele se aparta do bem.73
O tema das paixões permite compreender a radicalidade do processo de au-toconstituição do homem. A possibilidade de moldar-se a si mesmo compreende até mesmo o poder de conformar os próprios sentimentos, o próprio prazer e a dor
72 Trata-se de um tema que tem recebido importantes e inovadoras interpretações nos úl-timos anos, que chama a atenção para como a própria razão é constituída pelo homem em função de como é exercida. A natureza de hexis, disposição que pode ser forjada pela atividade humana, é atribuída ao próprio nous na sua mais alta tarefa de descobrir os princípios primeiros de que parte toda a demonstração científica. Vide: NUSSBAUM, Martha Craven. La fragilidad... cit., p. 327 e ss. Com a descoberta de que o nous (como capacidade ou atividade de descoberta dos princípios) plasma-se também pela experiên-cia, passam a ser repelidas as interpretações que resumem em uma misteriosa intuição o trabalho de descoberta dos princípios, seja da ciência (epistêmê e sophia) seja da prática (phronesis – sensatez).
73 EN, II, 3, 1104 b9-11.
Sensatez como modelo e desafio.indd 29 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles30
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
que afetam o homem. Além de ser uma autoconformação de si no modo de querer e desejar, a habituação ética alcança também a conformação do próprio sentir, de tal sorte que, no limite, o homem temperado sentirá prazer com o bem e o mal o re-pugnará, e a sua própria sensibilidade o aproximará de um e afastará do outro. No início do processo, o prazer e a dor são indícios da bondade e da maldade de uma ação: muito prazer sinaliza fortemente que o desejo não se orienta para o bem. É o próprio prazer e a dor que são utilizados nos processos de habituação conduzidos pelo outro (o pai, o legislador, o educador) que ajuda o homem a construir em si um bom caráter: na educação familiar, serão administrados como prêmio ou casti-go para o agir, e o mesmo resultará da aplicação da lei. Tal processo conduz à trans-formação da própria sensibilidade do humano, que passará a sentir prazer com o que é bom, se o seu percurso de formação como homem sério tiver sido bem-suce-dido. O homem feliz, que é necessariamente virtuoso, vive uma vida prazerosa por que moldou por este processo o seu próprio prazer. Sente prazer com o bem. Este é o escopo e o ponto de chegada do processo ético, com o cumprimento do fim do humano. A realização de sua melhor possibilidade (do que ele especificamente é) dá-se com a tomada das rédeas do organismo inteiro pela sua parte divina, peran-te a qual tudo o mais se torna dócil. Essa docilidade é fruto de uma conquista de si (com o tornar-se o homem temperado).
A educação, como processo de habituação desde a tenra idade, procura fa-zer sentir prazer ou dor tal como é devido. Também o castigo obedece à lógica da ligação do prazer e da dor às ações e ao caráter. O prazer e a dor são importantes sinais no processo de constituição ética (em que a maioria dos homens se encon-tra ainda distante de ter conformado seu prazer assimilando-o ao bem). O pra-zer e a dor que o homem sente com as ações que pratica são indícios dos hábitos que tem. O moderado compraz-se em afastar-se dos prazeres (ou daquilo que a maioria considera “prazeres”) ao passo que o licencioso sente contrariedade nis-so (o que significa que, para o moderado, tais prazeres progressivamente deixa-rão de ser “prazeres”, e ele passará a paulatinamente sentir prazer com o que é ab-solutamente bom).
À medida que, em geral, os prazeres e as dores são responsáveis pelo homem agir mal, as virtudes éticas são popularmente descritas como formas de impas-sibilidade ou de serenidade. Aristóteles adverte, no entanto, que esta não é uma descrição inteiramente fiel da ética, pois a atividade pela qual as virtudes éticas se constituem nunca abandona o cenário da parte irracional da alma. O homem não pode deixar de sentir. A paixão que acontece ao humano realça como a ética só
Sensatez como modelo e desafio.indd 30 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 31
tem sentido no horizonte das paixões, como esforço em lidar bem com a emoção. A vida ética apenas é possível e necessária em razão de o humano ser agitado por afecções desta parte da alma. A vida ética envolve uma conformação do desejar a “como é devido”, a um “quando” e todas as demais determinações que tornam este desejar adequado, mas não se trata jamais de anular (mas antes de domesticar) as forças do animal que o humano abriga dentro de si. Mesmo a docilidade do dese-jo e da sensibilidade que o homem sério (virtuoso porque moderado e finalmen-te feliz) conquista nunca é definitivo. Em todo agir, seu poder sobre a sua parte animal está de novo em jogo, embora este homem conte com bons hábitos a incli-ná-lo para o bem.
A ética diz do esforço de autoconstituição do homem pelo qual ele pode, por seu esforço, realizar a si mesmo, porque ele pode dispor de si mesmo. Mas esta in-completude está de certa forma sempre presente, e o humano está sempre aberto, para se autorrecuperar para a virtude ou para se perder. A cada situação, a cada vez em que deve agir, o homem põe o seu próprio ser em jogo. Ser sensato é sempre um desafio, tudo pode, a cada vez, ser posto a perder.
2.2 A virtude ética como o meio‑termo entre o excesso e a escassez do desejo no horizonte das paixões
O problema ético fundamental é a relação do humano com suas paixões e sen-timentos. As afecções e sentimentos (paixão) interessam à ética porque todo agir é um haver-se de cada um com esta dimensão da sua alma. Mas a excelência e a perversão – a virtude e o vício – que são objeto de valoração ética (de louvor ou censura) não são paixões. A princípio, não são as paixões que o homem sente que definem se ele é sério ou se é desavergonhado.74 O homem não é louvado ou re-preendido em virtude do que sente, mas do que deseja, e do modo como lida com aquilo que sente. Todo louvor e toda censura dependem da excelência e da perver-são. A excelência e a perversão não dependem de como o homem se comove, mas do que ele é, do modo como está disposto. As pessoas são consideradas boas ou más a depender do caráter que ostentam.
Ser capaz de sofrer (isto é, a capacidade de ser tocado pelas afecções, senti-mentos e paixões que lhe acontecem) é da natureza humana, enquanto o ser bom ou mau não lhe acontece por natureza. Por isso, a virtude não é nem afecção nem
74 EN, II, 5, 1105 b28-1106 a4.
Sensatez como modelo e desafio.indd 31 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles32
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
capacidade, mas é disposição do caráter (ética). Assim Aristóteles define o gênero de que a virtude é espécie – a virtude é uma espécie de disposição, o que anuncia a essencial ligação do caráter com o agir, e do agir ético com a voluntariedade, sobre a qual será preciso dedicar algum espaço oportunamente. Como disposição deixa-da à conformação no espaço assinalado pela abertura e incompletude do humano, todo hábito pode ser um bom ou um mau hábito, uma virtude ou um vício, com que se torna o homem virtuoso (excelente) ou viciado (pervertido). Toda virtude aperfeiçoa a condição do ente, fazendo com que desempenhe bem sua função, e se cumpra no que especificamente é. Assim, a virtude do homem é o que o faz bom, é o que o faz executar bem sua função específica.75 O vício, ao contrário, afasta o ho-mem de sua humanidade. De toda sorte, devendo sempre decidir-se como virtuo-so ou como pervertido, o que o homem efetivamente acaba por ser não está deci-dido antes de viver.
Mas este realizar-se do humano, que cumpre seu fim na medida em que rea-liza, por força e decisão própria, a sua possibilidade mais própria (a virtude), não implica nunca o abandono da condição humana que marca o homem. Tratando-se embora de um elevar-se em direção do divino em si – na habituação da integridade da alma e do corpo a obedecer ao que dispõe a razão – não lhe é possível transcen-der os limites humanos da sua própria existência. Esta é uma interessante manei-ra de introduzir o tema da mediania, a mais difundida noção da ética aristotélica como doutrina das virtudes: a virtude ética institui uma mediania no homem que deve manter-se no seu lugar, entre o animal e o deus.
O desejo, no horizonte das paixões e das ações, deve tender para o termo mé-dio. É próprio das paixões, e em geral do prazer e da dor, poderem dar-se em exces-so ou defeito. Também nas ações cabe o excesso, a falta e o meio-termo. A virtude é um equilíbrio, que aponta para o meio. O desafio da virtude é encontrar o justo termo nas ações e paixões.76
75 EN, II, 6, 1106 a22-24.76 “Qual é a natureza comum a todas as virtudes éticas? O estagirita responde com exati-
dão: nunca há virtude quando há excesso ou falta, ou seja, quando há demais ou de me-nos; virtude implica, ao invés, a justa proporção, que é a via do meio entre dois excessos. (…) Mas – perguntar-se-á – a que se referem ‘excesso’, ‘falta’ e ‘justo meio’ do qual se fala a propósito das virtudes éticas? Referem-se – esclarece Aristóteles – a sentimentos, paixões e ações. (…) a virtude ética é, precisamente, mediania entre dois vícios, dos quais um é por falta, o outro por excesso”. REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 413-414.
Sensatez como modelo e desafio.indd 32 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 33
A virtude ética consiste na disposição do desejar tendente ao meio-termo (mesotês), caracterizador do homem que se inclina, a cada vez em que age, a evitar o excesso e a escassez do desejo no agir. Por este caminho, reconstruindo, a cada vez que age, o seu desejar, habituando-se ao bem, o humano torna-se excelente: eis porque, do ponto de vista de sua entidade e essência, a virtude é o meio-termo – embora, desde o ponto de vista do melhor e do bem, a virtude é um extremo, pois realiza radicalmente a melhor possibilidade do homem.77
A virtude (ou o vício – isto é: a boa ou a má disposição do caráter) constrói-se como resultado do agir. Por isso ela é apresentada como hexis proairetikê.78 A tra-dução de Maria Araujo e Julian Marias79 de hexis proairetikê esclarece que a virtude é um “hábito seletivo”, no sentido de que se trata de um hábito que faz tender a es-colher de uma determinada maneira. António Caeiro80 traduz hexis proairetikê como “disposição do caráter escolhida antecipadamente”, o que enfatiza a outra face da virtude como disposição do caráter, já agora iluminando o fato de toda virtude, como toda disposição plasmada pelo humano, ser resultado das escolhas anterio-res que marcaram o agir do homem no passado. As duas interpretações são corre-tas, mas iluminam aspectos diferentes da mesma expressão, que guarda em si toda a circularidade caracterizadora da vida ética: ao mesmo tempo o hábito é fruto das escolhas que antes foram feitas, como se apresenta ativamente a influenciar cada nova escolha a ser feita.
Sendo três as disposições do caráter (o meio-termo, virtuoso, e os extremos a evitar), duas são vícios (o excesso e a falta), e a virtude consistirá no termo médio. O verdadeiro empenhamento do homem sério (spoudaios81 – importante palavra do discurso ético aristotélico) consiste em distinguir o melhor a fazer a cada situa-ção concreta, o que coincide sempre com encontrar o justo meio-termo de seu pró-prio desejar e sentir. Aristóteles chama a atenção para a peculiar dificuldade deste esforço por ser bom, e no fato de que, sendo difícil agir como se deve, o agir do sé-
77 “É óbvio para quem compreendeu bem essa doutrina de Aristóteles, que a mediania não só não é mediocridade, mas a sua antítese: o ‘justo meio’, de fato, está nitidamente acima dos extremos, representando, por assim dizer, a sua superação e, portanto, como bem diz Aristóteles, um ‘cume’, isto é, o ponto mais elevado do ponto de vista do valor, enquanto assinala a afirmação da razão sobre o irracional”. REALE, Giovanni. Idem, p. 415.
78 EN, VI, 1, 1139 a 22.79 ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, p. 90.80 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 134.81 “Spoudaios: earnest, serious”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
Sensatez como modelo e desafio.indd 33 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles34
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
rio mostra-se raro, louvável e belo. O valor do sucesso ético reside exatamente na dificuldade do intento. É difícil lidar com as paixões e sentimentos, e por isto a éti-ca deve dedicar-lhes um tratamento completo. A perícia e a excelência se formam em vista das coisas mais difíceis, e é por isto que o êxito aí tem mais valor.
Aquele que procura o meio-termo deve manter-se afastado dos extremos (ví-cios). Ao fazer indicações82 sobre a dinâmica interna do esforço para alcançar o meio-termo (sobre como interpretar seu prazer e sua dor e sobre como a busca do meio-termo pode exigir do homem conduzir-se para o extremo oposto àquele para que inicialmente se inclina, esclarecendo as tensões que estão envolvidas no processo de autoconstituição do humano como homem sério), Aristóteles autoriza compreender a construção do caráter como uma busca sem fim, ou que pelo me-nos leva um grande tempo.83
O empenho em agir bem revela como na vida do homem sério vão-se enga-tando diferentes equilíbrios sucessivos, na busca e na reconstrução constante do meio-termo. A tarefa ocupa-lhe a vida inteira, assim como surpreende cada mo-mento concreto No instante em que lida com suas paixões e emoções, o equilíbrio conquistado (o meio-termo a que tende, pelo hábito que construiu em si, habi-tuação resultante das ações anteriores) é posto novamente à prova. A cada (sem-pre) inédita situação, seu hábito haverá de ser reconfigurado, na instauração de um novo equilíbrio, por força do poder conformativo do agir na situação presente.
A cada ação, o caráter do homem se reconforma, e assim o homem se reve-la sempre em acabamento, sempre em construção, por força da mobilização de si mesmo implicada no agir. A ideia de seriedade em Aristóteles guarda relação com esta importante caracterização da vida ética como um constante constituir-se. O homem sério é aquele que toma consciência de que sua vida (e seu caráter: seu ser – que tipo de homem ele é) pertence-lhe; ele então se dedica deliberadamente a este
82 EN, II, 9, 1109 b.83 Aristóteles é expresso quanto a que a felicidade (e a virtude, que a funda) não se obtém
senão em resultado de uma longa experiência de vida. Assim como pode um jovem ser geômetra, mas não phronimos EN, VI, 10, 1142 b15-20. Mas a ideia de que a virtude (e assim a felicidade) nunca está inteiramente conquistada (pois o homem pode sempre pôr-se a perder, tornando-se perverso) mostra que o empenho do sério em direção à virtude é uma tarefa que só tem termo com a morte. Neste sentido se compreende a afirmação de que só com a morte se pode dizer se um homem foi feliz. EN, I, 10, 1100 a 10-11.
Sensatez como modelo e desafio.indd 34 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 35
processo, não obstante sua enorme dificuldade. O homem sério dedica-se ao longo de toda a vida à tarefa de construir-se a si mesmo, de formar-se enquanto caráter.
Vislumbrada no contexto das diferentes partes da alma que tornam o humano um ser híbrido, o processo de conformação do caráter pode ser descrito como um processo de autorrecuperação do humano pela progressiva e a cada vez mais con-solidada (se o homem é sério e tem sucesso em seu esforço ético ao longo da vida) submissão da parte irracional à parte racional da alma. O esclarecimento disto de-pende da focalização do agir pelo qual o caráter se constitui (e que ao mesmo tem-po é determinado pelo caráter).
Com isto, aproximamo-nos do que, no pensamento ético de Aristóteles, é es-sencial para nossa argumentação em torno do pensamento jurídico como pensa-mento prático. Após apresentar os contornos gerais da exposição que Aristóteles oferece das virtudes éticas, e depois da justiça entre elas (como uma delas), passa-remos ao exame das virtudes do pensar e então à fenomenologia da decisão moral, em que a sensatez comparece como o mais importante conceito.
2.3 As virtudes éticas: seu elenco e seus horizontes
Na Ética a Nicômaco, assim como na Ética a Eudemo, Aristóteles dedica-se à apresentação dos horizontes dos diversos hábitos relativos ao agir (disposições éti-cas, hábitos do desejar) com os quais o homem se pode tornar virtuoso ou perver-so. Trata-se de dizer, “de cada uma das disposições do caráter, quais são, a respeito de que é que se constituem e de que modo se formam”.84
Muito embora seja verdade que “as abundantes e precisas análises sobre os vá-rios aspectos das virtudes éticas individuais feitas por Aristóteles permanecem, nor-
84 EN, III, 5, 1115 a 4-6. Vale reproduzir a síntese, muito clara, exposta por G. Reale: “Na Ética Eudêmica, Aristóteles fornece o seguinte elenco de virtudes e vícios: [1] a mansidão é a via média entre a iracúndia e a impassividade; [2] a coragem é a via média entre a te-meridade e a covardia; [3] a verecúndia é a via média entre a impudência e a timidez; [4] a temperança é a via média entre a intemperança e a insensibilidade; [5] a indignação é a via média entre a inveja e o excesso oposto que não tem nome; [6] a justiça é a via média entre o ganho e a perda; [7] a liberalidade é a via média entre a prodigalidade e a avareza; [8] a veracidade é a via média entre a pretensão e o autodesprezo; [9] a amabilidade é a via média entre a hostilidade e a adulação [10] a seriedade é a via média entre a compla-cência e a soberba; [11] a magnanimidade é a via média entre a vaidade e a estreiteza de alma; [12] a magnificência é a via média entre a suntuosidade e a mesquinharia” (REALE, Giovanni. História da filosofia... cit., p. 415-416).
Sensatez como modelo e desafio.indd 35 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles36
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
malmente, num plano puramente fenomenológico” e que, como é óbvio, “as con-vicções morais da sociedade à qual pertencia Aristóteles impõem-se ao filósofo”,85 não há dúvida de que a análise dos horizontes circunstanciais que envolvem a cons-tituição de cada uma dessas virtudes éticas tem muito a revelar acerca do que está envolvido em todo agir, no exercício da decisão ética em cada situação concreta em que o homem se vê lançado.
Em cada virtude ética estão implicados um objeto (ou horizonte) e um fim.86 O objeto consiste no tipo de situação em que aquela virtude pode ser exercitada (e a partir da qual ela se reconstituirá, confirmando-se ou desconstruindo-se), em que o homem deverá haver-se com determinadas emoções suas e em que exsurge o fim do agir, e em que é preciso distinguir entre o meio-termo e o excesso ou a falta.
Assim, por exemplo, no caso da coragem, o seu objeto, ou horizonte, são as situações terríveis em que qualquer humano vislumbra e receia o perigo de sofrer um mal. A guerra perfaz a mais típica das situações particulares de perigo em que a coragem é requerida e exercitada. As emoções com que lida (isto é: as afecções da parte irracional da alma que devem ser conformadas, quando se trata de tornar-se virtuoso relativamente a estas circunstâncias) são o medo e a confiança, cada uma das quais devendo resguardar-se em sua devida medida. O meio-termo desta dis-posição é chamado coragem (ou valor, como muitas vezes se traduz); o seu excesso, condenável, chama-se audácia (temeridade) e o seu defeito, covardia. Ser corajoso é haver-se com o medo e a confiança nos limites do humano e do razoável; tanto é condenável a ação do que se lança irresponsavelmente como a ação do que a todo custo se esconde em uma situação de perigo: a coragem é o meio-termo entre o ex-cesso de confiança e o medo.
O fim (ou o princípio, no sentido do que impulsiona à ação) caracterizador deste horizonte é a nobreza e a glória. A coação não pode ser o princípio da ação corajosa87 nem qualquer paixão, como a ira ou a dor (“os animais selvagens, por sua
85 Como anota G. Reale, que continua “como, por exemplo, no caso da descrição da mag-nanimidade, que devia ser uma espécie de ornamento das virtudes, mas resulta, ao invés, uma pesada hipoteca que o gosto do tempo impõe à doutrina aristotélica” (REALE, Gio-vanni. Idem, p. 417).
86 EN, IV, 2, 1123 a 1-4. Aristóteles segue a análise das virtudes tal como se definem pelas “atividades particulares que se praticam e pelos objetos a respeito dos quais se atua”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 90.
87 EN, III, 8, 1116 b 1-2.
Sensatez como modelo e desafio.indd 36 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 37
vez, agem sob o efeito do sofrimento”88). O que distingue um fato qualquer do ho-mem como uma ação é o fim, é o ser feito em face de um fim. Sem fim não há de-cisão. Mesmo que o homem irado ou ofendido aja tal como age o corajoso, o que ele faz não é ato de coragem se o que o move é a paixão e não a nobreza, como fim: “(…) e não são corajosos, porque não agem pela glória nem como o sentido orien-tador indica. Quer dizer, embora se comportem de modo muito idêntico ao do co-rajoso, apenas agem por paixão”.89
Mais uma vez se destaca que as paixões e emoções são importantes, mas não são decisivas; o que faz um ato louvável ou reprovável é a decisão que lhe está na origem, a canalizar o desejo. A decisão não é, porém, apenas a repetição do desejar habitual: é um desejar atual, predisposto pelo caráter/hábito antes adquirido, mas “decidido” sempre agora, ali, a cada vez, em diálogo com a razão (guiado pelo sen-tido orientador).
A delimitação da situação-horizonte da coragem presta-se a mais uma vez es-clarecer o caráter humano das virtudes éticas, que não são pensadas para um he-rói sobre-humano, mas para o homem,90 de quem se espera (exige) que se mante-nha em sua humanidade, ao acertar o meio-termo. Fazendo-o, realiza a sua melhor possibilidade enquanto humano, e se confirma como uma pessoa de bem.
Passemos à análise da virtude da temperança.91 O horizonte que lhe dá sen-tido é o da manifestação do tipo de prazer que o homem experimenta enquanto é animal (por isso o vicioso deste tipo parece bestial e escravo), sob a presidência dos sentidos do paladar e especialmente do tato (e concentrado em certas partes
88 EN, III, 8, 1116 b 30-33.89 EN, III, 8, 1117 a 5-10. Porque não têm o verdadeiro fim em vista (a glória, neste caso).
A virtude reclama que o agir se dê conforme o princípio orientador da reta razão. A ira apenas colabora com a glória. EN, III, 8, 1116 b 31.
90 EN, III, 7; “(...) o que é terrível não é o mesmo para todos; mas pode ir além do limite do que é suportável pelo Humano. O que vai para além do limite suportável pelo Humano é medonho para todos. (…) O corajoso é imperturbável enquanto Humano. Terá medo das situações terríveis, mas terá medo como se deve ter medo e oferecerá resistência de acordo com o princípio orientador em vista do que é nobre, porque é este o fim da excelência”.
91 Caeiro anota: “o termo sofrosyne é traduzido habitualmente por temperança, tradução que mantemos. Contudo, o seu étimo fica muito distante com essa tradução. Como o próprio Aristóteles indica a sofrosyne é a ação que conserva a sensatez a salvo (1140 b 13). A tradução temperança aponta para a noção de moderação e contenção a respeito do gozo de determinados prazeres, designadamente os da lascívia”. ARISTÓTELES. Éti-ca a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 263.
Sensatez como modelo e desafio.indd 37 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles38
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
do corpo). A oportunidade de o homem ser temperado (ou não) aparece com seu contato com a bebida, a comida e o sexo. Neste tipo de situação é que o homem tem de haver-se com e domar os prazeres do corpo. Referindo-se esta disposição à mais comum das sensações, parece por isso mesmo a mais reprovável, quando é vício. Seu excesso (a devassidão) está no homem não enquanto humano, mas enquanto animal. Sua escassez (de tão rara) não tem nome, é como que uma insensibilidade desumana dos que se regozijam com os prazeres menos do que é devido.92 O fim que orienta esta virtude é a beleza, em virtude da qual o homem temperado deseja o que deve e como deve (tal como comanda o sentido orientador).
O exame da temperança remarca as relações entre a parte racional da alma e o desejo. Trata-se de uma virtude de certa forma paradigmática no contexto das vir-tudes éticas, pois ela diz algo que vale para todas as demais. A temperança como virtude deixa explícita como a tarefa da constituição do caráter é um trabalho de domesticação da parte animal da alma do humano, e como todo esforço ético en-volve a submissão dos instintos os quais o homem comunga com os demais ani-mais, em favor do governo da alma que tem a razão. Ela revela como o esforço pela conquista do autodomínio – que é um dos pontos nevrálgicos da ética grega – é en-tendido como parte essencial da constituição do homem livre. O homem começa por ser livre – outra noção basilar da ética da política – na medida em que se des-cobre capaz de dominar a si mesmo enquanto desejo e apetite, ou, em outras pa-lavras, na medida em que descobre que, no agir, é capaz de submeter a fera que o habita a algo mais sublime que ele também encontra em si, que partilha com deus. O esforço do homem sério é um progressivo e crescente domínio sobre si mesmo, mediante a outorga do comando à parte superior da alma, fazendo com que a cada vez o homem se afaste da fera e se aproxime do deus. Isto, que fica especialmente claro quando se trata de dominar o apetite cuja desmedida torna o homem devas-
92 EN, III, 11, 1119 a 11-21. “O temperado mantém-se a respeito destas coisas numa po-sição intermédia: não sente prazer naquilo em que o devasso sente um gozo extremo, e tolera, com dificuldade esse tipo de gozo. Por um lado, não deriva, em geral, prazer daquelas coisas de que não se deve derivar prazer, nem sente de uma forma veemente prazer em nada deste gênero; não sofre com a inexistência destes prazeres, nem os dese-ja, ou então, deseja-os mas moderadamente, isto é, nem mais do que deve, nem quando não deve etc. O temperado faz, assim, tenção de obter moderadamente e como deve ser tudo aquilo que é agradável a respeito da saúde e da boa forma física, bem como procura obter todas as outras restantes coisas agradáveis que não se constituam em impedimento, excedam as suas possibilidades, ou destruam os limites da decência”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 82.
Sensatez como modelo e desafio.indd 38 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 39
so, é a marca de toda virtude: o desafio de conformar o desejo e submeter a paixão, de conformá-los em atenção ao ditame da razão, adequando-os, a cada situação, ao que o sentido orientador a cada vez aponta.
Mas a conformação adequada do apetite, do sentimento e da paixão não é apenas o resultado do processo de autorrecuperação ética, mas é também a sua condição de possibilidade. A desproporcional enormidade e veemência do dese-jo pode levar o homem a perder a razão.93 Isto tem a ver com a possibilidade de a alma apetitiva ser incapacitante da razão, a que aludimos em outra parte do livro.94
Passemos ao exame da generosidade, meio-termo no horizonte da riqueza, nas situações do dar e receber tudo aquilo que pode ser avaliado em dinheiro. Seus extremos são a avareza e o esbanjamento (ou prodigalidade).
A generosidade também tem uma nota paradigmática relativamente às de-mais virtudes éticas, à medida que todas as virtudes são, assim como o é por defini-ção a generosidade, um esmerar-se em dar, em voltar-se em direção ao outro.95 Por isso a prodigalidade é um mal menor do que a avareza, embora sejam ambos extre-mos em face da generosidade, e como tais devem ser evitados.
Várias das formas de virtude parecem ostentar este favorecimento do outro expresso na priorização do dar como elemento da virtude em geral. Mas esta nota permite e exige outro esclarecimento, o qual tem a qualidade (se estivermos certos) de ilustrar ainda por outra perspectiva o sentido de “meio-termo” assumido por toda virtude. Mais adiante consignamos algumas outras notas sobre o outro na éti-
93 EN, III, 12, 1119 b 11-15. “É por isso que os desejos têm de ser moderados e pequenos e nada pode contrariar o sentido orientador. Um tal estado é obediente se está dominado – tal como a criança deve viver sob o comando do educador, assim também deve ser a dimensão do desejo de acordo com o sentido orientador. Por isso, a dimensão do desejo do temperado deve soar em uníssono com o sentido orientador”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 83.
94 Tratamos disto no parágrafo dedicado ao problema da descoberta dos fins e dos meios como objeto da racionalidade (decisão) prática.
95 “É mais próprio da excelência” (e esse comentário de Aristóteles dirige-se a todas as excelências do caráter, segundo cremos) “o beneficiar alguém do que ser beneficiado por alguém, isto é, é mais próprio da excelência realizar ações nobres do que evitar realizar ações vergonhosas. Não deixa de ser claro que o beneficiar alguém e o realizar ações no-bres vai a par com o dar. Ser beneficiado ou evitar agir vergonhosamente vai a par com o receber. Tem prazer quem dá. Não quem recebe. É mais para quem dá que vai o louvor”. EN, IV, 1, 1120 a 12-17. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 84-85.
Sensatez como modelo e desafio.indd 39 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles40
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ca aristotélica, mas para já queremos refletir sobre esta hipótese interpretativa se-gundo a qual reside no voltar-se para o outro a nota originária e essencial da vir-tude ética, sob o paradigma da generosidade; é próprio do homem excelente certa disponibilidade para o outro, até mesmo certa renúncia, em favor do outro. Iden-tificamos em Aristóteles uma nota primordial da excelência em geral, como uma espécie de nobreza do homem, que/quando se volta para o outro. Disto decorre a descoberta de um inadvertido papel da ética, que é vista também como institui-dora dos limites a esta renúncia do homem sério em favor do outro. Olhada deste ponto de vista, a ética procura delimitar, em favor do ego, o campo que lhe é pró-prio, em face da sua própria bondade. A ética assim pode ser vista como estabele-cendo os limites a partir dos quais é reprovável a renúncia do ego em desfavor de si mesmo, ao lado de, ao mesmo tempo, estabelecer também o campo do outro, cuja dignidade é respeitada e cujos direitos são afirmados. Isto esclarece a outra face da virtude como um meio-termo: a excelência não consiste numa renúncia desmedi-da em favor do outro – isso seria considerado um extremo a evitar, como no caso do pródigo – mas num equilíbrio em que a cada um dos envolvidos na situação (o homem que age e o outro) devem ser garantidos os seus direitos, muito embo-ra persista a indicação geral de que é melhor dar do que receber, e que a nobreza é antes um esmerar-se em dar (assim como a equidade será uma capacidade infini-ta de perdoar).96
Quer dizer: todas as virtudes éticas são, de alguma forma, generosidade, acen-tuando-se quão mais elogiável é o dar do que receber – mas mesmo quanto a dar e receber é preciso objetivar a justa medida.
Em continuação à generosidade, a Ética a Nicômaco segue com a exposição da magnificência, que também é uma virtude atinente à riqueza, mas no horizonte das despesas de grande vulto (é uma disposição-hábito de gastar apropriadamen-te à grandeza) cujo fim é a nobreza. Seguem então a magnanimidade (“grandeza de alma”97 – “magnânimo é quem julga ter um grande valor e tem-no de fato”98), de-pois a virtude anônima daquele que é louvado pela sua disposição relativamente à
96 Em tensão, entanto, com esta nossa interpretação de que a virtude é um meio-termo na afirmação do que cabe a mim e ao outro em toda situação ética (como uma vedação do extremo em que deixo de conceder a mim o que me cabe – ou como uma proteção do homem que age contra sua excessiva generosidade) há a afirmação de que não é possível cometer injustiça contra si mesmo. EN, V, 9, 1136 b 11-13.
97 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 264.98 Idem, ibidem, p. 92. EN, IV, 3, 1124 b.
Sensatez como modelo e desafio.indd 40 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Si mesmo como desafio no horizonte do desejo 41
fama e à honra, pela adequada consideração de si mesmo no que respeita a honras (o homem que exige nem mais nem menos honras do que efetivamente merece99), depois a gentileza (disposição do meio relativamente à ira100) e então as virtudes atinentes à sociabilidade, às formas de diversão ou à gentileza social (“nas formas de relacionamento social, no convívio, nas conversas, nas empresas conjuntas”101).
99 EN, IV, 4.100 EN, IV, 5.101 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 100. EN, IV, 6.
Sensatez como modelo e desafio.indd 41 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 45
3.1 O horizonte da justiça
O Livro V é dedicado à virtude da justiça, reunindo as páginas de Aristóte-les mais conhecidas entre juristas. Sobre este Livro há inúmeros comentários e são muito ricos os seus temas. Nosso objetivo não consiste em reconstruir integral-mente a doutrina da justiça de Aristóteles, e por isso a exposição deste Livro (como ademais tem sido esta exposição da ética) é apenas parcial,102 com ênfase nos as-pectos particularmente interessantes em face do que pretendemos finalmente te-matizar, que é o sentido do direito como pensamento e a sensatez como seu mode-lo e desafio.
A aproximação sistemática da virtude ética da justiça (dikaiosunê) exige a de-limitação do seu âmbito de ação e de seu fim e a investigação de que tipo de dispo-sição intermédia se trata, que se ilumina em face dos seus extremos. Também aqui Aristóteles segue o mesmo método de procurar, entre a faticidade do que fenome-nologicamente se lhe apresenta, o ponto de partida para o aprofundamento filosó-fico do seu objeto.103 Trata-se, então, de tomar em consideração o que comumente se entende por justiça, descrita como disposição do caráter que funda o agir com justiça, fazendo desejar o que é justo.104 Mais uma vez a atividade do homem (o seu agir) revela e ao mesmo tempo constitui o seu modo de ser (o seu caráter), na ex-plicitação da circularidade constitutiva entre ser (estar constituído com um deter-
102 Especialmente, não discutiremos a concepção aristotélica do direito natural.103 Sobre o método que parte dos phainómena, vide: NUSSBAUM, Martha Craven. La fragi-
lidad... cit., p. 318 e ss.: “Quando Aristóteles declara que, tanto na ciência e na metafísica como na ética, seu propósito é salvar as aparências e sua verdade, não faz uma afirmação intelectualmente fácil ou aceitável. Vistas no marco da filosofia eleática e platônica, suas observações adquirem um tom desafiador. Aristóteles promete reabilitar a medida desa-creditada do antropocentrismo trágico e protagórico. Promete edificar sua obra filosófi-ca no lugar de que Platão e Parmênides dedicaram suas vidas para tentar sair. Insiste em que encontrará sua verdade no interior do que dizemos, vemos e cremos, e não ‘distantes do caminho dos seres humanos (…)’” (grifos no original). Sobre o antropocentrismo aristotélico, é essencial ainda esta sua advertência: “importa ter em conta que o antropo-centrismo não implica necessariamente relativismo. Como indicamos em seu momento, o Protágoras de Platão não é relativista (…); provavelmente, o mesmo caberia dizer do personagem histórico. Assim, Aristóteles promete uma volta desde a busca de uma justi-ficação externa a uma interioridade profundamente enraizada na tradição grega, embora oposta a determinada concepção filosófica”.
104 EN, V, 1, 1129 a 5-8: “Everybody means by Justice that moral disposition which renders men apt to do just things, and which causes them to act justly and to wish what is just”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 45 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles46
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
minado caráter) e agir. Mas aqui Aristóteles quer chamar a atenção para o fato de que é o caráter que determina o agir,105 procurando enfatizar a justiça não como uma qualidade dos atos do homem, mas como seu próprio modo de ser enquanto homem sério, de caráter.
Aristóteles encontra diferentes usos da palavra “justiça” na língua grega.106 A palavra “injusto” é usada para referir quem transgride a lei, quem quer mais do que é devido, e quem é iníquo. Analogamente, diz-se justo quem observa a lei e quem respeita a igualdade. A disposição justa, assim, comparece como observância da lei e como respeito pela igualdade, e a disposição injusta, como transgressão da lei e desrespeito pela igualdade. Não são idênticos os sentidos com que se usa a palavra “justiça” como respeito à lei e como respeito à igualdade – isso deve ficar claro sem-pre quando se tratar das relações entre a lei e a justiça – mas é importante assinalar como são, declaradamente e desde o início, muito ligadas.
O justo e o injusto se definem no horizonte da mediação da relação entre os homens pelos bens exteriores; trata-se especialmente dos bens de que depende o êxito e o fracasso.107 A justiça como virtude do desejar adequadamente é excelência do homem que não deseja, destes bens, nem mais nem menos do que a parte que lhe cabe, enquanto o iníquo quer demais do que é bom e de menos do que é mau.
3.2 Lei e justiça
Explorando as acepções da palavra justiça, Aristóteles dirige sua atenção para o problema da lei, que é um dos temas mais importantes no contexto do que que-remos discutir aqui.
À medida que a tradição atribui à palavra “injusto” o sentido de transgres-sor da lei, e admite-se que o justo mantém-se dentro dos seus limites, deve-se con-
105 EN, V, 1.106 EN, V, 1.107 Ferraz Junior esclarece tratar-se de “um campo da ação humana em que justiça e injus-
tiça são aplicadas particularmente, que corresponde à esfera da honra, do dinheiro, da segurança, onde a injustiça tem em vista o prazer proveniente do ganho ilícito e a justiça, o ganho equitativo. Essa esfera corresponde ao que Aristóteles denomina de ‘bens exte-riores’, que são aqueles que interessam à prosperidade e à adversidade” (EN, V, 2, 1129 b 3), e segue chamando atenção para o “significado primordial na vida humana” que assume, lembrando a sua participação na realização da felicidade, supremo bem ético. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia... cit., p. 180-181.
Sensatez como modelo e desafio.indd 46 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 47
cluir que toda legalidade é de alguma forma justa.108 Mas esta afirmação não im-plica uma assimilação pura e simples da justiça à legalidade. Toda lei é “de certa forma”109 justa, diz o texto, e é preciso sublinhar e compreender bem o sentido des-ta afirmação. A felicidade apenas pode ser encontrada na vida ética e esta apenas pode desenvolver-se sob a égide de uma comunidade (ética e política), que se esta-belece como associação no marco de um determinado regime político (constitui-ção, lei) que a institui; não há vida ética sem política e sem lei, e assim a lei é a con-dição de possibilidade da vida ética, de todo e qualquer esforço de conformação do caráter; por consequência, qualquer lei, sendo melhor do que lei nenhuma, é, “de alguma maneira”, justa.
Não há ética (e, portanto, não há justiça) senão nos quadrantes da lei, e aqui se encontra um dos pontos de justificação de uma das acepções da justiça (que afir-ma o justo como o que respeita a lei). Isso está evidentemente relacionado com a ideia de que o justo e o injusto se apuram em referência à ordem política vigente, mas não implica que, na visão de Aristóteles, lei e justiça se identifiquem, ou que toda lei seja, ipso facto, justa, pois esta interpretação tornaria sem sentido inúmeras outras passagens em que Aristóteles se dedica a criticar a lei.110 Tornaria sem senti-do a quase totalidade da Política, que se consagra a investigar e reafirmar o melhor regime político, girando em torno de saber qual a melhor lei. Se toda lei fosse jus-ta simplesmente por ser lei, que sentido teria pensar e criticar as diversas constitui-ções históricas e conceber um regime ideal?
A observação empírica mostra que as leis se baseiam ora no interesse comum ora no interesse de alguns.111 Aqui está uma chave para a crítica da justiça da lei na Política (permitindo distinguir os regimes sãos dos regimes corrompidos). De qualquer forma, Aristóteles observa que são as leis o que, nos quadrantes de uma comunidade política concreta (e a vida ética, repetimos mil vezes, só é concebível nos horizontes da vida comum) produzem e resguardam a felicidade, seja a felici-
108 EN, V, 1, 1129 b 11-14.109 EN, V, 1, 1129 b 12, pos dikaia, “de certa maneira justo”.110 No parágrafo em que discutimos sobre o phronimos, tentamos aprofundar a compre-
ensão sobre como o agir certo é sempre referido a uma ordem ética concreta, mas não simplesmente uma sua repetição, já que todo agir (todo exercício da sensatez) envolve sempre um pensar que é um afirmar um princípio do agir que é novo. Isto é, como o phronimos deve a sua qualidade de phronimos à ordem em que sua sensatez foi forjada, e ao mesmo tempo é ele mesmo o fundamento desta ordem ética (na medida em que o que se considera sensatez deve-se ao modo como ele – o phronimos – pensa).
111 EN, V, 1, 1129 b 13-16.
Sensatez como modelo e desafio.indd 47 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles48
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
dade de cada membro da associação, seja a felicidade de toda a comunidade.112 Mas isso não implica que toda lei seja a princípio e absolutamente justa, ou não se po-deria conceber como Aristóteles pode afirmar, logo em seguida, que a lei será justa se tiver sido corretamente disposta pelo legislador, e, caso seja “extemporânea”, po-derá não ser justa.113 Ele não abre mão de um ponto de vista a partir do qual o pró-prio legislador pode ser criticado, e está falando de um ponto de vista “de justiça”, o que impede a simples equiparação entre justiça e lei.
É preciso insistir nas relações entre a lei e a justiça, e continuamos a acompa-nhar o fio argumentativo de Aristóteles, no Livro V da Ética a Nicômaco. A lei não apenas relaciona-se com a virtude da justiça, mas prescreve ações a realizar no to-cante a todas as excelências e perversões do caráter. O objeto da lei é evidentemen-te muito diferente hoje, quando o legislador não tem em mira os mesmos fins vi-sados pelo legislador de que fala Aristóteles. O sentido aristotélico de “legislador” é muito diferente do sentido que esta palavra recebe no atual vocabulário jurídico e político. O grego pensa no fundador da associação política, ou em um dos seus grandes reformadores, que imprime à polis a direção matricial capaz de orientar o viver público em larga perspectiva. Isso tem pouco a ver com as normas que regu-lam hoje as coisas do Estado no seu dia a dia (a que se atribui o sentido de adminis-tração) ou com o que compete à atual legislação ordinária. A lei assume na cultura grega natureza sagrada, e não são admitidas à discussão senão com muita gravida-de quaisquer propostas de reformulação.114 A leitura da Política revela que o senti-do aristotélico de “legislador” aproxima-se mais do que hoje se chama de “consti-tuinte”, persistindo, porém, ainda a diferença respeitante ao tipo de matéria sobre
112 EN, V, 1, 1120 b 17-19. Rackham traduz: “So that in one of its senses the term ‘just’ is ap-plied to anything that produces and preserves the happiness, or the component parts of the happiness, of the political community”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. Aristóteles assinala na Política, IV, 1294 a 1-6: “Parece do domínio do im-possível que a cidade que não sendo governada pelos melhores, mas sim, ao contrário, governada por maus elementos, tenha uma boa legislação; igualmente, que a cidade go-vernada aristocraticamente não tenha uma boa legislação. Ora, uma boa legislação (eu-nomia), não é ter boas leis, mas às quais não se obedece. É, portanto, preciso conceber a eunomia antes de mais como a obediência às leis estabelecidas e, depois, como a excelên-cia das leis estabelecidas que se respeitam fielmente”. Apud MOSSÉ, Claude. O cidadão na Grécia antiga, p. 109.
113 EN,V, 1, 1129b, 19-30; “rightly if the law has been rightly enacted, not so well if it has been made at random”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
114 Vide: FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia... cit., p. 161 e ss. Vide tam-bém: COULANGES, Fustel de. A cidade antiga.
Sensatez como modelo e desafio.indd 48 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 49
que dispõem. O legislador grego coincide parcialmente com o constituinte moder-no no sentido em que a ambos é reservado o poder “arquitetônico” de determinar a estrutura do poder político. Assim, entre nós, ao constituinte reserva-se a determi-nação dos poderes de Estado, dos órgãos de soberania, de suas competências etc., assim como ao legislador de Aristóteles atribui-se a determinação de quais são as magistraturas, seu número, os requisitos de seu exercício etc.
Mas a analogia não pode ser levada muito mais longe. Apesar de, no marco do constitucionalismo contemporâneo, a matéria constitucional não se limitar à delimi-tação dos poderes do Estado (limitação esta que não pôde ser observada sequer sob o paradigma do constitucionalismo liberal), ainda assim é de admitir grandes diferen-ças com respeito ao quanto Aristóteles atribui ao legislador, a quem reserva, na quali-dade de fundador ou reformador da vida comum, o papel honorabilíssimo de grande educador. A lei preside, em articulação com a literatura e outras formas de socializa-ção, os processos de formação (paideia) do homem grego, e assim da constituição éti-ca do homem no interior da comunidade. A lei dispõe sobre todos os temas sobre os quais versa a ética, e por isso os problemas da aplicação da lei (e da equidade) assu-mem tão grave importância no pensamento ético aristotélico. A lei diz sobre o modo como o homem deve agir nas diferentes situações da vida em que há de dominar o seu desejo, orientando o humano no seu esforço por tornar-se virtuoso (no proces-so de autorrecuperação do homem sério empenhado na construção de seu caráter). Nesse sentido, a lei se vincula à conquista da eudaimonia como felicidade, conduzin-do o homem sério a uma vida de sucesso no contexto de sua comunidade concreta. É claro que tudo isto já não tem relação com as preocupações do constituinte contem-porâneo, ao menos aos olhos das teorias políticas e das filosofias do direito predomi-nantes, que entendem, a partir de uma diferente perspectivação das esferas do públi-co e do privado, que os problemas da felicidade não atinem ao direito.
A visão de Aristóteles distingue-se muito fortemente das concepções contem-porâneas; se para “o individualismo liberal, a comunidade é apenas o terreno onde cada indivíduo persegue o conceito de viver bem que elegeu para si mesmo”,115 para
115 MACINTYRE, Alasdair. Tras la virtud, p. 242. Duvidamos, como ele, que cada um possa escolher apenas para si seu conceito de viver bem. MacIntyre, na mesma página, continua o seu diagnóstico do lugar comum da ética moderna: “As instituições políticas existem apenas para garantir a ordem que torna possível essa atividade autônoma. O governo e a lei são, ou devem ser, neutras relativamente às concepções rivais do viver bem, e por isso, embora o governo tenha o dever de promover a obediência à lei, segundo a opinião liberal não é parte da função legítima do governo incutir nenhuma perspectiva moral”.
Sensatez como modelo e desafio.indd 49 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles50
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Aristóteles a felicidade não é um problema apenas individual, mas o principal es-copo da lei e de tudo que é eticamente relevante,116 e não são dissociáveis em seu pensamento.117
A lei atine aos horizontes de todas as virtudes éticas.118 Por via de sua relação com a lei, a justiça é afirmada como a excelência completa. Na medida em que ser justo é respeitar a lei, não é possível ser justo sem realizar também todas as demais virtudes do caráter, sobre as quais a lei dispõe: ser justo no sentido de ser respeita-dor da lei implica ser corajoso, generoso, comedido nas palavras, espirituoso e to-das as demais virtudes que tornam o homem excelente em cada situação concre-ta da vida.
Por isso a justiça é a mais poderosa das excelências. “A justiça concentra em si toda virtude”; “na justiça se dão, juntas, todas as virtudes”.119
3.3 A justiça como rainha de todas as virtudes e a alteridade na ética aristotélica
A afirmação da prioridade da justiça entre as virtudes encontra ainda outra via de explicitação. Aristóteles remarca que a justiça é a rainha das virtudes “não absolutamente, mas na relação com outrem”, “é a justiça perfeita porque é a prática da justiça perfeita, perfeita porque quem a possui pode usá-la para com outro”.120
116 EN, V, 1, 1129 b 14-19.117 Chegamos a um tema central da filosofia moral e política contemporânea: a discussão em
torno do comunitarismo. Não seria possível evitá-lo se nos dedicamos tão extensamente à interpretação de Aristóteles. O sentido daquela discussão é simples: “os bens são inter-nos às práticas” (MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, p. 237). Desde um ponto de vista ontológico, construído fenomenologicamente, é impossível ne-gar que todo saber sobre o que é bom ou mau depende do contexto tradicional em que o homem veio a ser quem é. Ao mesmo tempo, é do interior desta tradição que ele parte para o futuro. É evidente que de algum modo o futuro deve-se à tradição, na medida em que é possibilitado pela tradição – mas o futuro não é a repetição da tradição. A tradição está sempre em jogo, e é neste colocar em discussão sempre a tradição (a situação) que reside a afirmação do bom e do mau. De onde o homem vem dá-lhe alguma experiência para enfrentar situações deste tipo, mas o problema do bem se decide na prática. O futu-ro está sempre por decidir. A tradição não oferece todo o critério do bem e do mal.
118 EN, V, 1, 1129 b 21-25.119 EN, V, 1, 1129 b 29-30.120 EN, V, 1, 1129 b 31-32. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit.,
p. 109.
Sensatez como modelo e desafio.indd 50 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 51
A justiça é a virtude completa, pois um homem não a usa só para si, mas tam-bém com os outros. Muitos são capazes de usar a excelência em assuntos próprios, mas são impotentes para fazê-lo na sua relação com outrem.121 A justiça compare-ce como uma virtude que, presente no homem, é um bem também para o outro.122
Aristóteles procura chamar a atenção para a transitividade social123 da virtude da justiça, a qual, dizendo respeito à distribuição das coisas exteriores necessárias ao sucesso (honras, riquezas e cargos públicos), é necessariamente uma mediania a atingir na relação do homem com o outro.
Contudo, devemos assinalar que a transitividade – como a necessária referên-cia ao outro no agir – não é uma característica exclusiva da justiça, mas é antes uma característica atribuível a todas as virtudes éticas.124 Não é a primeira vez que um fenômeno como este acontece na linha argumentativa da Ética a Nicômaco – já an-tes atentamos para como, de certa maneira, todas as virtudes são formas de gene-rosidade, e, também, como todas são formas de temperança. Igualmente, é possível afirmar que, pelo traço da comum referência e implicação do outro, presente em todas as virtudes éticas, todas as virtudes são uma forma de justiça.
A confirmação disto está em que em todas as situações a que Aristóteles se re-fere com o fito de exemplificar o agir impulsionado por cada uma das demais virtu-des éticas, o homem não se encontra só, mas está para agir diante de outro homem,
121 É o ditado de Bias: o poder descobrirá o homem – o governante está desde o princípio em relação com o outro e a comunidade. EN, V, 1, 1130 a 1-4. “Bias, ‘Office will show a man’; for in office one is brought into relation with others and becomes a member of a community”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham
122 O pior de todos é o que é mau para si mesmo e também para outrem, e o melhor de todos é o que aciona a excelência para si e para outrem: tarefa difícil. EN, V, 1, 1130 a 5-8. A referência aqui ao injusto como mau para si reforça a leitura da ética como instituidora dos limites da generosidade.
123 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant, p. 29 e ss.124 É a opinião também de Nussbaum: “Ao investigar a natureza da justiça, a dikaiosýne,
assinala que, em certo sentido, é a ‘mais perfeita’ das excelências e que nela se dão juntas todas as demais, pois toda excelência possui um aspecto de relação com o outro, é dizer, uma faceta social. Enquanto se relaciona com os outros, toda excelência merece o nome de justiça. Aristóteles parece estar afirmando que, consagrada a ocupações e interesses solitários, sem a excelência que consiste em considerar devidamente o bem dos demais, a pessoa humana não apenas priva-se de um bem importante, como de todas as excelên-cias, pois todas e cada uma são ‘com relação aos outros’ (pros heterón), assim como ‘com relação a um mesmo’” (pros hautón)”. NUSSBAUM, Martha Craven. La fragilidad... cit., p. 441.
Sensatez como modelo e desafio.indd 51 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles52
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
a quem a sua ação sempre se refere. A ética não tem por objeto a relação do homem consigo mesmo, mas a sua relação com o outro.
A alteridade caracteriza todas as virtudes éticas fazendo delas sempre espécies de justiça (nesse sentido a justiça é o denominador comum de todas as virtudes, ou a síntese total delas: a rainha das virtudes). Toda virtude ética é uma excelência re-lativamente a outrem. É isto que a marca como uma virtude ética: há outras virtu-des do humano que não implicam essencialmente o outro. O vigor do corpo, por exemplo, adquirido pela dieta e pela ginástica, é decerto uma virtude humana, mas não tem natureza ética. A implicação do outro distingue o campo da ética. O tipo de situação em que o caráter do homem se forma envolve-o sempre na relação com o outro, em comunidade. Não há lugar para o solipsismo na ética aristotélica. O ou-tro está ali implicado constitutivamente.
O outro que necessariamente comparece nas situações éticas que a cada vez se constituem não é um tipo, não é um modelo abstrato, não é outro “em geral”: é sempre um homem concreto, absolutamente específico, único.125 Em razão da sin-gularidade do homem com quem nos deparamos, faz-se singular a situação, a qual é sempre irrepetível, nova. A novidade de cada situação, que renova e eterniza (en-quanto o homem dura) a tarefa de agir bem como um desafio, deve-se à singulari-dade dos elementos constitutivos da situação, as quais Aristóteles descreve como suas categorias.126 Cada situação é irrepetível em razão da especificidade de suas circunstâncias, e por isso o correto a fazer apenas surge na concreta (o que impõe o limite de “rigor” da ética e da política como ciências: que não podem dizer ao ho-mem de antemão o que é agir/viver bem, mas apenas oferecer-lhe indicações ge-rais). Tudo quanto está em jogo em cada situação é o que faz dela aquela situação, em vista de que o homem deverá ser sensato e decidir da melhor forma possível. As categorias da ação ou da situação, a que o homem consciente (lúcido) deve atender
125 Vale aqui a observação que Douzinas e Warrington consignam para esclarecer a ética da alteridade sobre a qual pretendem refundar uma filosofia do direito pós-moderno, “o outro não é o alter ego do self, ou uma extensão do self. Nem é o outro a negação do self numa relação dialética possível de ser totalizada numa síntese futura. Heidegger enfatiza corretamente a natureza histórica e social do self. Mas o outro não é similar ao self; o self e o outro não são parceiros iguais num ‘nós heideggeriano em que dividimos nosso mundo; nem é a externalidade ameaçadora e radical ausência do existencialismo sartria-no que transforma o self num objeto. O outro vem primeiro. Ela (ele) é a condição da existência da linguagem, do si e da lei”. DOUZINAS, Costas, WARRINGTON, Ronnie. Postmodern jurisprudence: the law of text in the texts of law, p. 163-4.
126 EN, I, 6, 1096 a 19-23.
Sensatez como modelo e desafio.indd 52 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 53
adequadamente a cada vez, dizem respeito ao lugar, ao tempo (duração e oportu-nidade), aos motivos, à maneira do agir assim como especialmente à pessoa com quem se lida. É muito mais vergonhoso bater na própria mãe que num irmão. Há situações que recomendam que se mate a pessoa com que se lida (o que será mes-mo louvado, como na guerra). O que é agir espirituosamente e com bom tom varia conforme alguém conversa com velhos amigos ou com uma autoridade: não são as mesmas as piadas as quais se podem contar para diferentes pessoas. A conduta ape-nas pode ser decidida a partir das circunstâncias concretas, o que significa também: a partir do outro que está também envolvido no agir.
A importância do outro no processo de constituição ética realça-se também quando se considera a voluntariedade do agir em Aristóteles, remetida do momen-to concreto do agir para o inteiro processo de constituição do caráter. O caráter é o princípio (causa) do agir. O homem é constituído por uma espécie de conjunto de inclinações (hábitos) as quais, mobilizadas conforme o tipo de situação correspec-tiva, são capazes de levá-lo a agir desta ou daquela maneira. É claro que existe um espaço de manobra do homem com respeito a suas próprias inclinações; dentro de certos limites (além dos quais o homem está irremediavelmente perdido) o homem a cada ação se decide, e essa decisão tem efeito sobre seu caráter, predispondo-o a agir daquela forma em outras situações do mesmo tipo (ao mesmo tempo, tal mar-gem de manobra impede que se considere o homem como para sempre bom: há sempre o risco da degeneração). Mas a disposição do caráter tem um lugar decisivo naquelas situações em que o homem não tem tempo para pensar antes de agir, situ-ações que exigem ou provocam uma reação imediata, não refletida: nesta oportuni-dade a sua reação será a expressão direta de suas inclinações éticas. O corajoso não foge se lhe aparece inesperadamente uma situação de perigo que é justo afrontar, e sua reação será virtuosa (corajosa) por força de sua predisposição para o justo meio nestas situações. Costuma-se dizer que nada mostra melhor o que um homem é do que este tipo de situação, em que ele não tem tempo para pensar, em que não há lu-gar para o cálculo. Diz-se que um homem se descortina nessas situações, revelan-do sua efetiva maneira de ser. O que ele é, portanto: suas predisposições éticas, suas inclinações, seu caráter. O lugar do outro é muito claro aqui. O outro é a condição de possibilidade de qualquer inclinação autêntica no homem. A reação irrefletida e descortinada que ele terá (será) aqui e agora não se dá senão como o resultado de suas ações em situações anteriores que envolveram outros.
Vimos que não é apropriado reduzir o homem aristotélico ao conjunto de in-clinações (hábitos) que o predispõem a agir (desejar) de uma maneira (adequada
Sensatez como modelo e desafio.indd 53 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles54
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ou não). É claro que o caráter (conjunto de inclinações, hábitos éticos) é aspecto inolvidável do que o homem é, mas a análise deve ainda apreender o ser do homem na sua atividade mais própria, o que para Aristóteles é sem dúvida o pensar. Sobre isto detemo-nos em outra parte deste trabalho, mas agora é muito importante con-vocar este problema para focalizar a questão do outro e do pensar prático. O pensar envolvido nas situações éticas – como deliberação (bouleusis) e como decisão (pro-airesis) e cujo desafio é a sensatez – somente é mobilizado diante do outro, em ra-zão do desafio colocado pelo outro, cuja presença institui a situação ética e enseja ou requer o exercício da sua razão prática. Ou seja, a sensatez, como excelência do pensar ético-prático, depende sempre da provocação, da presença do outro. Sem o outro não há ação, não há escolha e deliberação, não há ensejo para que o homem pense no horizonte da vida prática e exercite, assim, sua mais radicalmente huma-na possibilidade.
Se o processo de construção de si dá-se na situação, no agir que é sempre dian-te de alguém, não se compreende como o homem possa ter se tornado quem é se-não por força de sua convivência com o outro. O que ele é resulta de sua própria autoconstituição ética, a qual se dá ao ensejo do encontro com o outro, pois é uma marca de toda disposição ética (seja virtude, seja vício) o ser uma disposição rela-tivamente a outrem.
Focalizando a relação do humano com o outro, tendo em vista os processos de educação e socialização, percebe-se como o caráter é fruto do agir de outros ho-mens, que intervêm nestes processos. O caráter do homem forma-se por seu agir, mas o homem começa a agir muito antes de ser capaz de decidir-se por si mesmo, muito antes de ser “maior” ética e juridicamente. O processo de conformação do desejo começa na mais tenra idade por meio da educação, que consiste na domesti-cação do desejo da criança pela adequada aplicação de prêmios e castigos, pela ad-ministração do prazer e da dor consequentemente ao seu agir de modo a habituá-la ao justo meio nos diferentes tipos de situação. Quando a criança bem educada al-cança a maioridade e passa a responder por seu próprio agir (passando a escolher e deliberar a cada vez, assumindo a responsabilidade por sua própria autoconstitui-ção), ela já encontra em si a virtude que a predispõe para o bem, tornando-se-lhe mais fácil encontrar o meio-termo a cada situação.
O homem, quando entra na titularidade de sua vida prática (quando lhe ad-vém a maioridade política e ética: civil) já percorreu uma significativa etapa de seu processo de formação ética, fase essa indispensável para o sua futura realização pessoal (felicidade). Toda aquela primeira etapa, em que é educado, é realizada sob
Sensatez como modelo e desafio.indd 54 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 55
a direção do outro, cuja decisão substitui a decisão do jovem ainda não emancipa-do. O outro é absolutamente requerido para a constituição do homem como sujei-to ético porque sem o outro (sem a sua colaboração como reitor do processo peda-gógico que vai conformar o desejo do agente ético na preparação para sua estreia como responsável), o processo circular característico da ética aristotélica (a dispo-sição que causa a ação que causa a disposição… num círculo virtuoso ou vicioso) não tem como iniciar-se. O processo começa como formação da disposição: o ho-mem já chega para as suas primeiras decisões adultas com certo caráter, com cer-tas inclinações que já não são aquelas com que nasceu, mas que deve a outro que lhe a impingiu, cuidando dele e orientando-o (habituando-o) em situações práti-cas anteriores.
3.4 O sentido particular da justiça, a especial consideração do outro e a instituição da convivência como uma ordem política
A justiça afim, mas não identificada ou reduzida à lei, revela-se como uma es-pécie de denominador comum de todas as virtudes, na medida em que todas elas, envolvendo essencialmente o outro, são formas de justiça. Isto permite compreen-der a afirmação de que a justiça é a virtude/excelência total, e não parte da excelên-cia (ao mesmo tempo em que a injustiça será a perversão total, e não parte dela).
Esta passagem127 introduz outra distinção quanto aos usos da palavra justi-ça: a que aparta a justiça especial (justiça em sentido específico) e a justiça absolu-ta. Trata-se aí da distinção entre a justiça como a totalidade ou a suma das virtudes (em que se aproxima da lei) e a justiça como uma entre as demais virtudes (virtude em sentido específico: uma entre as outras no catálogo das virtudes). É na distinção entre essas duas acepções de justiça que se compreende o sentido forte com que a justiça é socialmente transitiva para Aristóteles, que pergunta como se distinguem a excelência em geral e a própria justiça.128 A interrogação problematiza a distinção entre a justiça em sentido específico e em sentido absoluto, e prossegue na afirma-ção de que “são disposições do mesmo gênero, como tais idênticas, mas [que] dife-rem no modo de manifestarem-se”. Enquanto a justiça manifesta-se relativamente a outrem, a excelência em geral manifesta-se de forma “absoluta”. Não cremos que
127 EN, V, 1, 1130 a 23-25.128 EN, V, 1, 1130 a 6-14.
Sensatez como modelo e desafio.indd 55 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles56
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
esta passagem129 deponha definitivamente (embora instaure alguma tensão) con-tra minha interpretação de que todas as virtudes (e não apenas a justiça em sentido estrito) são transitivas na sua implicação do outro. Aristóteles mesmo afirma um pouco mais adiante130 que tanto a justiça geral como a justiça particular são relati-vas a outrem (e assim, como a justiça em sentido absoluto implica o conjunto das virtudes, logo todas as virtudes implicam o outro).
O que especifica a injustiça particular é a sua origem no gozo obtido com o lu-cro, enquanto a injustiça em sentido absoluto (injustiça como resumo de todas as perversidades) atina a tudo o que diz respeito às paixões e desejos. O que enfim dis-tingue a justiça, em sentido estrito da justiça em sentido geral, é o mesmo que dis-tingue a justiça específica das demais virtudes éticas: todas elas implicam o outro, mas na justiça dá-se de modo peculiar a relação com o outro;131 no caso da justiça particular, a relação com o outro é mediada pelos bens exteriores. Seu horizonte é o encontro do homem com o outro ao ensejo da repartição destes bens, em que a vir-tude consiste em encontrar o ponto de equilíbrio em que cada um dos envolvidos naquela situação prática recebe o que lhe cabe (a cada um os bens que lhe cabem).
De toda sorte, Aristóteles esclarece que o Livro V da Ética a Nicômaco trata da justiça em sentido específico, considerada assim como uma virtude ao lado das outras (a justiça como parte da virtude total). Neste contexto, a injustiça será a per-versão ou a maldade em razão da qual o homem quer ter mais do que é devido (in-justiça em sentido específico).
A afinidade entre a justiça e as demais virtudes agudiza o problema da sua dis-tinção recíproca. Na medida em todas as perversões são formas da injustiça, como
129 EN, V, 1, 1130 a 12-14. Na tradução de Maria Araujo e Julian Marias, diz-se que “é com efeito a mesma, mas sua essência não é a mesma, senão que enquanto se refere ao outro é justiça. E enquanto disposição de tal índole, sem mais ou absolutamente, é virtude”. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 72.
130 EN, V, 2, 1130 b 2-3: “ambas têm nisso o seu poder, que são disposições do compor-tamento relativamente a outrem”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, p. 111.
131 Atine à distribuição do que é vantajoso e prejudicial. “Also, Justice is that quality in vir-tue of which a man is said to be disposed to do by deliberate choice that which is just, and, when distributing things between himself and another, or between two others, not to give too much to himself and too little to his neighbor of what is desirable, and too little to himself and too much to his neighbor of what is harmful, but to each what is proportionately equal; and similarly when he is distributing between two other persons”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 56 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 57
distinguir a injustiça e o injusto em sentido estrito? Isto é, como distinguir uma ação injusta de uma ação covarde, ou luxuriosa? Cada uma das virtudes é uma for-ma de justiça (e, assim, todo vício é uma forma de injustiça); a questão que se co-loca é como saber se está diante de uma ação elogiável ou reprovável por ser espe-cificamente justa ou injusta?
O critério distintivo será encontrado no motivo fundamental do ato,132 que se confunde com o seu fim. O motivo é que define a espécie de virtude que está em jogo no agir; por exemplo, se uma determinada ação reprovável o é enquanto um ato luxurioso ou um injusto. Toda ação reprovável pode ser reconduzida a uma dis-posição perversa, àquilo que faz com que a ação seja considerada perversa. No caso da justiça, o motivo fundamental do agir injusto é o lucro,133 e não qualquer outro fim reprovável (como a luxúria ou a paixão, por exemplo).
Um homem pode praticar uma injustiça e não ser considerado injusto. Que tipo de ato torna o homem injusto, no sentido específico de injustiça?134
Como anotamos, a qualidade da ação a ser louvada ou reprovada depende es-sencialmente do motivo do agir. Assim, o adúltero ao se deitar por paixão (e não por eleição135), não se torna injusto, mas devasso. O mesmo vale para as demais manifes-tações de injustiça.136 A escolha deliberada tem em vista ali não a satisfação da libido, mas outra vantagem que lhe satisfaça a ganância. O que determina o caráter especi-ficamente justo ou injusto (ou enfim, de que virtude ou vício se trata) não é o resul-tado ou a qualidade do ato, mas o motivo da ação deliberada. Isto é, o seu princípio.
O homem injusto tem o mau hábito de querer mais do que lhe cabe nas situa-ções de repartição das coisas exteriores. A injustiça que comete determina-se como tal não em razão de quaisquer outras perversões, mas em razão da sua própria dis-posição para a injustiça, isto é, por sua própria ânsia por ter mais do que lhe cabe: a ganância.137 O injusto é o ganancioso. O esforço de Aristóteles em distinguir o ca-
132 EN,V, 6.133 EN, V, 2, 1130 a 25-29.134 EN, V, 6, 1134 a 17.135 EN, V, 5, 1134 a 20-21.136 EN, 1134 a 24-25137 EN, V, 2, 1130 a 29-33. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia... cit.,
p. 180: “Todos os ditos injustos (…) correspondem a um vício particular (o adultério à concupiscência, o abandono de um amigo à covardia etc.), mas ao amor ao ganho inde-vido somente corresponde a palavra injustiça, tomada, então, num sentido específico e particular”.
Sensatez como modelo e desafio.indd 57 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles58
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ráter injusto ou o ato injusto das demais perversões ou atos reprováveis revela niti-damente a razão de ser a injustiça a pior das perversões, pois revela como o injusto é capaz de cometer atos próprios de qualquer outra perversão, movido no entanto pelo seu simples desejo de ter mais do que lhe cabe. O homem ganancioso é capaz de se deitar com a mulher do outro em troca de dinheiro, e sua ação é ali conside-rada injusta e não luxuriosa, pois o desejo que o move é o lucro e não o prazer se-xual. Igualmente, será capaz de abandonar seu concidadão sozinho numa batalha se isto lhe trouxer qualquer vantagem econômica: também esta ação será conside-rada injusta, pois lhe move o lucro, e não a covardia.138
A ganância – a injustiça em sentido específico – é o pior dos vícios exatamente porque ela leva o homem a cometer atos reprováveis próprios de todas as perversi-dades sem que ele esteja, a cada vez, premido pelas afecções, sentimentos e paixões próprias de cada uma delas (a ganância faz cometer o adultério sem que seu dese-jo sexual o arraste a tanto, ou faz-lhe fugir do perigo que deve arrostar sem que seu medo o subjugue). Ele não tem sequer a possível atenuante de estar, a cada caso, dominado pelas paixões que dominam o homem não temperado… Ao contrário, o injusto parece o pior dos humanos por ser capaz de controlar em geral seu desejo, curvando-se para o mal, no entanto, movido por sua cupidez.
Este é um ponto importante: o injusto em sentido específico é aquele cujo ca-ráter o predispõe a tomar mais do que lhe é devido (do que é bom, ou menos do que é mau), pelo simples hábito de desejar mais do que lhe cabe. É uma forma de per-versidade radical que atinge o homem todo, tornando-o vil em todas as suas tran-sações com outrem.139
Isto enfim ilumina o modo como o outro é especialmente considerado nesta virtude específica: a perversão do injusto é tomar para si o que cabe ao outro, in-dependentemente de quem seja o outro com quem lida. Inversamente, a virtude da
138 EN, V, 2, 1130 b 1-5.139 É grave constatar que este vício (a injustiça) alastre-se hoje: é muito difundida a dispo-
sição por ter mais do que nos cabe, se for possível. A relação do humano com as coisas tende mais a um “obter tanto quanto for possível”, independentemente do quanto caiba a cada um. Isto tem algo a ver com a lei ter se tornado apenas um limite externo à possi-bilidade de obtenção de ganho na relação com o outro. O canalha vê a lei como o único obstáculo à sua obtenção da coisa, na relação com o outro. Não lhe passa pela cabeça qualquer consideração de justiça. A lei até pode ser o meio de alcançar tudo quanto seja possível mesmo que para além do que lhe caiba. Já não há mais qualquer relação entre a lei e o caráter do humano, ou entre o que a lei determina e o que o humano deseja; o resultado é a erosão da efetividade da lei, ou a oportunista deturpação de sua teleologia.
Sensatez como modelo e desafio.indd 58 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 59
justiça é o hábito louvável de dar ao outro o que lhe cabe, independentemente de quem seja o outro de quem se trate. Na virtude da justiça, há uma especial forma de considerar o outro como outro simplesmente, que a torna singular.
Isto não implica que a qualidade particular do outro envolvido na situação seja desconsiderada, e que assim o outro perca sua face e seja despido de sua con-creta singularidade, pois estas não podem nunca ser desconsideradas se a ação toma na devida conta as circunstâncias concretas da ação (assim, por exemplo, é diferente o ato – se é justo ou injusto – de um açoite se ele foi praticado por uma pessoa qualquer ou se pela autoridade pública140). Enfim a face peculiar do outro com quem se lida, mesmo na justiça, não pode ser ignorada sob pena de não se en-contrar o justo meio, ou, em outras palavras, de não se poder determinar o que cabe a cada um. A peculiar forma da consideração do outro está na predisposição que a justiça é de conceder sempre ao outro o quanto lhe caiba, e de estabelecer assim uma igualdade como proporcionalidade entre aqueles entre os quais a justiça vige. Sem comprometer a singularidade do outro (sempre implicada em qualquer situ-ação) a justiça em sentido específico inaugura uma instância de igualdade a partir da qual todos são considerados como iguais, com o direito de receberem cada qual o que lhe cabe, conforme um critério de proporcionalidade.
Está bem que a justiça permanece uma noção vazia, como adverte Ferraz Ju-nior.141 Isto é ínsito ao seu sentido como igualdade proporcional, mas não significa que uma teoria da justiça deva deter-se neste ponto. Parece-nos que o reconheci-mento do caráter abstrato da igualdade apenas se presta a expor o problema que é,
140 EN, V, 5, 1132 b 26-31.141 Ferraz Junior sublinha e tira consequências importantes deste caráter abstrato da justiça,
anotando que “se a igualdade é uma abstração, pois os homens são, na realidade, pro-fundamente desiguais, é fato também que da exposição de Aristóteles só se pode deduzir a relação entre as pessoas, mas não o modo de tratá-las concretamente. A justiça não é, nesse sentido, um princípio exaustivo, capaz de resolver um problema tipicamente hu-mano, qual seja, o da convivência. E Aristóteles tem um sentimento desse inacabamento e da consequente necessidade de outros preceitos quando (…) estabelece as relações entre a justiça e a equidade (EN, V, 14, 1137 a 31)”. Ferraz Junior raciocina ainda: “Se é unânime o reconhecimento de que a justiça é uma espécie de igualdade (EN, V, 6, 1131 a 12; Pol., III, 12, 1282 b 18), é inevitável que se pergunte, porém, sobre o que versa a igualdade, isto é, igualdade de que realiza a justiça? A resposta a esta pergunta pertence à ciência política”, como afirma Aristóteles. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia... cit., p. 183.
Sensatez como modelo e desafio.indd 59 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles60
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ele mesmo, o centro da teoria da justiça como uma teoria política da justiça: a defi-nição do conteúdo da igualdade.
A determinação do critério ou do conteúdo da igualdade não pode a ética como teoria da justiça oferecer, pois apenas a integração do agir numa ordem po-lítica concreta, num regime político histórico, pode indicar o que vale como crité-rio acerca do que cabe a cada um naquela ordem concreta. A ética só pode fazê-lo tornando-se política.142
Mas qual o valor da doutrina da justiça como uma virtude na relação com o outro, como respeito à pertença do outro como outro? Ferraz Junior tem razão ao afirmar que a justiça não resolve o problema “tipicamente humano da convivência”. Mas o seu sentido próprio não é o de ser uma forma de resolver este problema, mas sim o de instituí-lo. A justiça apenas institui como um problema a questão do cri-tério da determinação proporcional do que cabe a cada um, ciente de que este pro-blema apenas pode ser resolvido pela política.
A ética (a justiça), ao fazê-lo, não se torna refém da política, mas antes a justi-ça institui a política como um modo de coexistência em que a questão sobre o que cabe a cada um é um problema a ser resolvido segundo um critério proporcional.
3.5 Justiça distributiva e justiça comutativa
A justiça em sentido particular pode ser ainda subdividida em duas formas fundamentais: a justiça distributiva (em que se trata do justo meio quanto ao meu e o seu na repartição de honras e riquezas e tudo mais que pode ser distribuído em partes entre os membros da comunidade) e a justiça corretiva ou comutativa (em que se trata do justo meio quanto ao meu e o seu na transação entre os indivíduos). A justiça corretiva, por sua vez, divide-se em voluntária (quando o princípio que preside as transações é livre) e involuntária.143
142 Vista por este ângulo, toda a Ética a Nicómaco parece uma preparação do terreno para A Política, em que Aristóteles afirma o mérito como o critério eticamente relevante para determinar a medida dos homens e assim a justiça em cada troca, assim como para fun-dar uma associação política perfeita. Aristóteles tem isto em mente quando distingue a justiça como lei da justiça em sentido absoluto. Toda lei é “de alguma forma justa” por-que impõe uma mediania apurada em conformidade com a igualdade vigente naquela ordem política concreta, seja aristocrática ou democrática. Mas permanece o tom crítico ou o direito do ético de aquilatar o valor ou a justiça da própria ordem, por via da crítica ao critério adotado pela lei para afirmar a igualdade entre os homens (e o seu direito de acesso às magistraturas, ao poder político).
143 EN, V, 1131b, 26-27.
Sensatez como modelo e desafio.indd 60 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 61
Aristóteles explora os diferentes horizontes em que a repartição das coisas há de determinar-se pela justiça como predisposição para dar a cada um o seu, e avan-ça com a explicitação da igualdade como a sua ideia angular.144 A igualdade é meio entre os extremos iníquos. O meio procurado pela justiça é o igual entre o mais e o menos.145
Toda igualdade implica dois termos. A mediania, no caso da justiça particu-lar, implicará sempre a igualdade em relação a algo e a alguém. Como meio, é en-tre extremos; como igual, é entre duas partes; como justo, é relativo a certas pes-soas.146 Torna-se explícito o conjunto de elementos configuradores da situação no horizonte da justiça.
No caso da justiça distributiva, trata-se de dar a cada um o que lhe cabe de bens considerados “públicos”: seu horizonte é a distribuição de lucros obtidos com a guerra – ou em geral de riquezas obtidas em empreitadas comuns – assim como a distribuição de honras e cargos públicos (as “magistraturas” eram consideradas bens do gênero das honrarias). Trata-se da justiça na relação de cada um com todos os outros porque atinente à relação de cada um com a comunidade inteira. Disto distingue-se a justiça comutativa, em que a relação se dá de homem a homem, no horizonte da repartição das coisas nas situações de troca e intercâmbio ou lesão in-terindividual, como num contrato ou num crime.
Toda forma de justiça, comutativa ou distributiva, enquanto virtude instituido-ra do meio-termo na partição de bens, envolve quatro termos: duas pessoas (entre as quais se dá a repartição dos bens) e duas coisas (partilhadas). A igualdade consis-te na proporção adequada entre as coisas e as pessoas.147 Aristóteles é muito lúcido acerca da origem dos conflitos capazes de desestabilizar o governo da polis e assim ameaçar a continuidade da associação política, com a qual tem preocupação priori-tária. É do fato de pessoas não iguais não receberem partes iguais148 (uma consequ-ência importantíssima da sua concepção fundamental de justiça como igualdade)
144 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça... cit., p. 29 e ss.145 EN, V, 1132a, 14-19.146 EN, V, 1131b, 2-5.147 EN, V, 3, 1131 a 31 - 1131 b 2.148 EN, V, 3, 1131 b 28-33. Na justiça distributiva, a repartição deve dar-se em atenção à
participação ou valor de cada um relativamente ao todo. Disputa-se, no entanto, o crité-rio do valor: para o democrata é a liberdade, para o oligarca a riqueza ou o berço. Para o aristocrata é a excelência. EN, V, 3, 1131 a 26-29. ARISTÓTELES. As disputas na polis têm por objeto a determinação do conteúdo da igualdade.
Sensatez como modelo e desafio.indd 61 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles62
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
que decorrem os conflitos.149 Dizer a justiça como igualdade não resolve o problema da concreta definição do meio-termo e assim do acesso de cada um aos bens repar-tidos: ao contrário, isto pode e é causador de tensões e conflitos decorrentes do fato de os homens, por serem desiguais, não receberem coisas em partes iguais.
O justo na distribuição dá-se em uma proporção150 que envolve os referidos quatro termos e em que a mesma deve ser a razão entre os termos de cada par (é uma equação entre relações).151 Isto é: a fração dos bens comuns que cabe ao ho-mem A e a que cabe ao homem B devem ser proporcionais entre si, assim como o são as contribuições de cada um deles em favor da comunidade. Neste contexto o injusto é o desproporcional, de que resulta um ter demais e o outro a menos relati-vamente ao bem em causa.152
Se a justiça distributiva reparte os bens comuns proporcionalmente aos apor-tes de cada um, a justiça comutativa153 (ou corretiva, que encontra lugar nas transa-ções particulares, voluntárias ou involuntárias) é também uma igualdade (portanto uma proporção), mas não segundo a razão geométrica, típica da justiça distributiva como uma equação entre relações, mas segundo uma razão aritmética. A igualda-de na justiça aritmética aparece como uma proporção em que apenas o par de coi-sas sofre uma variação, pois os homens envolvidos são tomados como iguais. Aqui a lei não olha para a qualidade da pessoa envolvida na situação concreta, mas ape-nas para a especificidade do dano, e restitui a igualdade tentando fazer voltar a re-lação ao estado anterior.154 Desta maneira o juiz tenta restabelecer o equilíbrio entre as partes e a justiça corretiva é o meio-termo entre o ganho (ganância) e a perda. O juiz, como mediador, restabelece a igualdade.155
149 Por isso a justiça é cimento da associação e o problema da definição do conteúdo da igualdade (igualdade em quê?) é a primeira decisão política em importância. Isso é que define o regime político, e o que faz da política uma ciência mais arquitetônica.
150 EN, V, 3, 1131 a 29.151 EN, V, 3, 1131 b 5-9.152 EN, V, 3, 1131 b 18-23.153 EN, V, 3, 1131 b 26-27.154 Embora a ênfase no fato de a justiça corretiva tomar os homens envolvidos como iguais,
continuamos insistindo em que isto não implica que a sua singularidade não deva ser considerada, para fins da determinação da ação justa a cursar. A própria ideia da equi-dade corrobora a interpretação de que a aplicação da lei não é nunca um processo que ignora as peculiares circunstâncias de cada caso, entre as quais se arrola, privilegiada-mente, a qualidade do outro com quem se lida.
155 EN, V, 4, 1132 a 19-28.
Sensatez como modelo e desafio.indd 62 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A virtude da justiça 63
É claro que numa transação voluntária156 a lei não elide (ou não o faz sempre) a possibilidade do lucro (lucrar é ter mais do que a sua parte devida) ou do prejuízo (ter prejuízo é ficar com menos do que se tinha a princípio) nas relações comerciais marcadas pela voluntariedade.157 O justo também nas transações involuntárias é o meio entre lucro e prejuízo: é ter antes e depois uma parte igual.158
156 Fala-se em voluntariedade aqui para distinguir formas da justiça corretiva ou comutati-va, em sentido diferente daquele que está em jogo a propósito de todo agir. Aqui volun-tário atina à comum participação e concordância com o fato e os efeitos da “transação” ou “relação” por ambas as partes. Lá, voluntariedade respeita apenas à decisão de quem age, e não de quem padece a ação.
157 EN, V, 4, 1132 b 12-18. Mas é verdade também que a lei regula amiúde os limites do lu-cro e do prejuízo nas transações voluntárias. Aristóteles inaugura uma longa tradição de condenação do lucro e da usura. Vide: DOUZINAS, Costas, WARRINGTON, Ronnie. Op. cit., p 113.
158 EN, V, 4, 1132 b 18-20.
Sensatez como modelo e desafio.indd 63 10/07/12 16:05
CAPÍTULO 4JUSTIÇA COMO EqUIDADE E A AUTOCONSTRUÇÃO COMO
TAREFA INFINITA
Sensatez como modelo e desafio.indd 65 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita 67
4.1 Lei e equidade
A par da apresentação da injustiça em sentido estrito como um modo particu-lar da injustiça em geral, e do injusto em geral como transgressor da lei, coloca-se o problema das relações entre a observância da lei e a equidade.
A transgressão da lei não se confunde com iniquidade. Todo ato iníquo transgride a lei, mas nem toda transgressão à lei é iníqua. Aristóteles afirma que “o desigual (anisos) é contrário à lei (paranomos), mas nem todo contrário à lei é desigual”,159 o que parece paradoxal. O iníquo de certo modo é contrário à lei (na medida em que a iniquidade é uma desigualdade, e assim, uma injustiça), mas o iníquo será conforme à lei na hipótese em que o homem sério, sendo equitativo, deve transgredir a lei (hipótese em que iníquo seria obedecer a lei).
A justiça como equidade liga-se à ideia da justiça como igualdade.160 A equi-dade é a virtude que torna o homem (o justo) capaz de salvaguardar a igualdade em toda situação em que está em jogo a aplicação de uma lei. A equidade é a virtude que garante a igualdade em toda situação ética regulada pela lei (sendo de lembrar a natureza e o conteúdo da lei ateniense, que tem por objeto tudo o que diz respei-to a viver bem). O aparente paradoxo instituído pelo jogo entre lei, igualdade e jus-tiça como equidade apenas se desfaz com o acréscimo da ideia de que o desigual é contrário à lei “em princípio”, isto é, apenas sob a pressuposição de que a lei seja (ali, naquela situação concreta) instituidora da igualdade. O problema da equidade se coloca no deficit da lei em sua capacidade de regular, com justiça (respeitando a igualdade), cada caso concreto que venha a reclamar sua invocação.
É sumamente importante anotar os horizontes da equidade como virtude do caráter. Como virtude ligada à justiça em sentido universal (isto é, à justiça como lei), a equidade encontra aplicação não apenas nas situações próprias da justiça particular (em que se dá a relação com o outro mediada pela troca de bens exterio-res), mas em todas as circunstâncias em que o homem deve haver-se com o seu de-sejo, ou em outras palavras: o horizonte da equidade, assim como o da lei, açambar-ca os horizontes de todas as demais virtudes éticas. Sempre que uma lei comparece numa dada situação apontando (orientando) o meio-termo a ser obedecido pelo desejo, o homem encontrará o ensejo e o desafio de portar-se com equidade, pois – e esta é uma afirmação muito importante – a equidade não é requisitada “na even-
159 EN, V, 2, 1130 b 12-13.160 EN, V, 2, 1130 b 14-16.
Sensatez como modelo e desafio.indd 67 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles68
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
tualidade de” a lei ser extemporânea. A inadequação da lei a um caso não é eventu-al, pois a lei é por natureza incapaz de regular inteiramente e com justiça qualquer caso concreto em que seja requisitada. Em razão de sua generalidade, ela é gene-ticamente incapaz de regular qualquer caso sem a ativação da equidade como vir-tude que torna o homem capaz de adequá-la a cada vez. Vista assim, a equidade não tanto “corrige” a lei, mas antes é mais correto dizer que a completa, que a ulti-ma, fazendo com que apareça, na situação concreta, como capaz de orientar o agir do humano. Retomaremos o problema da equidade quando tratar do exercício da sensatez.
Exatamente por força da insuficiência da lei, a lei não pode substituir o exercí-cio da sensatez: mesmo que uma lei seja “invocada” pela milésima vez, em uma si-tuação que se “repete”, o homem não pode deixar de ativar a sensatez porque ape-nas ela permite ao homem perceber que se trata de uma situação do mesmo tipo:161 e será uma ativação da equidade perceber que se trata de uma situação que merece uma solução do mesmo tipo: apenas isso garante a igualdade, e continua a fundar a igualdade, como fruto da equidade, na aplicação da lei…
4.2 Necessidade, troca e igualdade e o fundamento da associação política
Aristóteles ressalta que a justiça como igualdade comutativa (sinalagmática) não se confunde com a ideia, muito difundida em seu tempo (e também no pre-sente) da justiça como retaliação, que se resume a submeter o agente de um mal ao mesmo sofrimento que causou.162 Ele afirma que a simples retaliação não se con-funde com a justiça nem distributiva nem corretiva, e na verdade está em desacor-do com a justiça em muitas coisas. A simples retaliação ignora, por exemplo, a qua-lidade própria do agente causador do dano, assim como o caráter voluntário ou involuntário da ação.163
Apesar deste esclarecimento, Aristóteles chama a atenção para que a retribui-ção é um importante ingrediente possibilitador da vida em sociedade (e nesse sen-tido sublinha como ela não deixa de ter lugar numa teoria da justiça como a sua, que assume a justiça como o fundamento da associação política), pois é a recipro-
161 É melhor falar em situação “do mesmo tipo” e evitar falar em “mesma” situação ou em situação “repetida”, pois a situação é sempre nova e irrepetível.
162 EN, V, 4, 1132 b 21-30.163 EN, V, 4, 1132 b 30-33.
Sensatez como modelo e desafio.indd 68 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita 69
cidade que mantém a existência conjunta com outrem:164 não poder devolver o mal com o mal faz o homem sentir-se um escravo; e se não se pode também devolver o bem com bem, não há intercâmbio, e é o intercâmbio que mantém os homens uni-dos. Nas associações que têm o intercâmbio como fim, esta classe de justiça man-tém os homens unidos: nas associações que têm por fim a troca, é a justiça como retribuição que mantém os homens unidos – a reciprocidade proporcional, e não igual.165 A polis se mantém unida pela retribuição proporcional. É um dever retri-buir com o bem a quem nos favoreceu, e leva também a agir bem em face de outro em outra situação. A justiça é condição de possibilidade de uma sociedade como associação de homens livres e iguais, e a sua observância é que possibilita que eles se mantenham livres e iguais em toda troca em que a necessidade os envolve (a tro-ca dá-se por necessidade). Por outro lado, Aristóteles parece acrescentar que a jus-tiça é também um fundamento da associação como solidariedade, fazendo sur-gir o dever de restituir o bem com o bem, em favor de seu benfeitor ou de outro qualquer.166
Aristóteles chama a atenção167 para o caráter proporcional da retribuição afir-mando que “a retribuição proporcional produz o cruzamento das relações”.168
A reciprocidade figura como condição de possibilidade de toda troca, colo-cando o problema da justiça como o problema da proporcionalidade. A reciproci-dade é expressão da não indiferença entre os homens, relativamente às suas ações, e pode ser entendida como uma força reativa que provoca o homem a agir em res-posta à ação do outro. O homem (não se reduzindo a um escravo) tende a recipro-camente exigir e aplicar uma pena contra quem o ofende, ou tende a agradecer e
164 EN, V, 5, 1132 b 34 - 1133 a 1-5. “(...) but in the interchange of services Justice in the form of Reciprocity is the bond that maintains the association: reciprocity, that is, on the basis of proportion, not on the basis of equality. The very existence of the state depends on proportionate reciprocity”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
165 EN, V, 5, 1133 a 1-3. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Ma-rias, p. 77.
166 EN, V, 5, 1133 a 4-6. 167 EN, V, 5, 1133 a 7.168 Afirmação que Rackham esclarece anotando que: “The relative value of the units of the
two products must be ascertained, say one house must be taken as worth n. Then the four terms are and cross-conjunction gives totals A+nD, B+C, which are in ‘arithmetical proportion’ (...) with the two first terms, i.e. the differentce between each pair is the same; the builder and the shoemaker after the transaction are by an equal amount richer than they were before they began to make the articles”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 69 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles70
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
agir bem para com seu benfeitor, ou a devolver o bem que recebe em favor de qual-quer outro. Ali a reciprocidade comparece como vingança: não poder defender o seu próprio valor desta forma decerto faria um grego (e mesmo a alguém hoje) sen-tir-se um escravo. E é motivo de vergonha um homem não ter força bastante para sua defesa própria, seja esta força física, seja oratória.169 Já na segunda hipótese – é importante anotar – a reciprocidade comparece como o fundamento solidário da associação política: ela leva o homem a agir bem, por ter recebido o bem.170
Ferraz Junior afirma que Aristóteles mantém a reciprocidade apenas como re-gulador da vida econômica da sociedade, uma vez que se encontra no cerne de toda troca.171 É verdade que o seu conceito é detalhado ao ensejo da reconstrução feno-menológica de uma transação comercial,172 e que a sua pertinência à justiça comu-tativa situa-a no horizonte das transações econômicas (mas não apenas, haja vis-ta as transações involuntárias de natureza penal, em que também a reciprocidade comparece). Mas, para além da economia, é preciso acentuar que a reciprocidade tem uma face política; afinal de contas é a troca (que responde e vence a necessida-de) que mantém unida a associação, e é a reciprocidade que sustém a troca. A re-ciprocidade é flagrada na raiz da constituição da intersubjetividade, pois ela faz o homem voltar-se para o outro, seja para vingar-se, agradecer ou pagar, e possibili-ta toda troca como um cruzamento de relações. Esse raciocínio também conduz à conclusão de que o humano age em face do outro na medida em que é tocado, em que é afetado, reagindo em cada situação concreta.
Cada um entra no comércio com aquilo que produz. A cada um é devida a retribuição pelo seu trabalho, sob pena de não haver igualdade – o que resultaria na ruptura do sistema de trocas, pois sem reciprocidade, a troca não se mantém.173 Isto mostra como a justiça, enquanto retribuição, possibilita a associação política na medida em que possibilita a troca: se as partes não podem equilibrar-se, não há troca, e assim não há associação (polis).174
169 ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho, p. 33.170 EN, V, 5, 1133 a 4-5.171 FERRAZ JUNIOR, Trcio Sampaio. Estudos de filosofia... cit., p. 196.172 EN, V, 5, 1133 a-b.173 EN, V, 5, 1133 a 5- 12.174 EN, V, 5, 1133 a 12-14. A troca se dá entre associados que produzem coisas diferentes, e
o equilíbrio entre eles deve ser procurado. O dinheiro possibilita a troca e a associação: sendo medida das coisas, ele é mediador que permite que as coisas sejam comparadas numa mesma base de igualdade.
Sensatez como modelo e desafio.indd 70 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita 71
A reciprocidade provoca a troca, mas não a mantém: a consumação e a conti-nuidade da troca dependem já agora do modo como os homens envolvidos na si-tuação se medem e se relacionam. O homem premido pela necessidade e reagin-do à oferta do outro não ultimará a troca se não a considerar razoável. A justiça é uma espécie de medida a envolver a reciprocidade, impondo a igualdade como o marco de toda troca no contexto de uma associação política. Na associação políti-ca os homens se encontram como iguais para trocar (isto pelo menos vale para os que são iguais: mulheres, escravos, estrangeiros não eram “iguais” em Atenas), e a observância desta igualdade é condição da manutenção de qualquer ordem polí-tica. Assinale-se o papel essencial da igualdade na ética aristotélica (mesmo man-tendo-se um conceito “vazio”): ao manter a troca, permite a satisfação das neces-sidades do humano no âmbito da polis, e assim garante a permanência da própria polis. Seja lá qual for o seu conteúdo, toda igualdade permite a manutenção da or-dem política, contribuindo para com a realização da autossuficiência do homem, por sua integração comunitária. Isto esclarece mais a passagem já antes comenta-da175 de que toda lei é uma forma de justiça, na medida em que possibilita a felici-dade do homem. Qualquer forma de igualdade já é uma forma de justiça, e exata-mente por isto toda lei será para Aristóteles “de alguma maneira” justa – isto, no entanto, não elimina da ética o dever de descobrir e afirmar o que é justo em sen-tido absoluto (que é o mesmo que dizer qual o conteúdo ideal da igualdade e o re-gime político perfeito).
4.3 Determinação do preço e equidade
Tudo aquilo que integra o comércio humano (e que assim comparece no hori-zonte da justiça particular) é avaliado conforme um único padrão, a necessidade.176
Aristóteles afirma que a regra da proporcionalidade a ser observada na troca deve ser anterior à troca,177 determinando-se pela proporção entre (o trabalho de) os homens produtores das coisas a trocar. Se não houvesse essa regra prévia, não poderia haver justiça (igualdade proporcional) na troca.
A necessidade dos homens por bens que eles mesmos não produzem impõe a troca (vencendo a indiferença entre os homens, própria de quando não precisam
175 Vide supra o parágrafo 32 (“Lei e equidade”).176 EN, V, 5, 1133 b 16-30. O dinheiro é o representante da necessidade, fruto de convenção
humana (nomos) e não por natureza.177 EN, V, 5, 1133 b 1-5.
Sensatez como modelo e desafio.indd 71 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles72
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
uns dos outros) e requer que uma igualdade se estabeleça na reciprocidade. A ne-cessidade e a troca que permite satisfazer o desejo de supri-la impõem o problema da igualdade entre os homens que se encontram em situações deste tipo, e o can-dente problema da comensurabilidade entre os bens em jogo. A questão que Aris-tóteles enfrenta nestas passagens atine ao problema da constituição da medida da-quilo que entrará em jogo na situação de troca, na qual a justiça bilateral como igualdade deve ser exercitada (isto é, cada um dos homens que integra aquela re-lação de troca não pode sair dela nem com mais nem com menos do quanto com que ingressou). Trata-se de estabelecer o que vale cada um dos quatro termos das equações que haverão de equalizar-se: os homens que trocam e os bens trocados (os quais podemos chamar de termos subjetivos – atinentes aos homens que com-parecem na troca – e termos objetivos – atinentes às coisas – da relação de troca). A invenção do dinheiro (para cujo caráter convencional ele chama muito a atenção), que permite estimar o valor de cada coisa, não subtrai a dificuldade de determinar o valor de cada coisa: para a troca ser justa é preciso que o valor do bem que cada um recebe seja o mesmo valor do bem que deu. É preciso que se estabeleça uma equivalência econômica entre os bens trocados.
Além de ressaltar que as coisas têm que ter um preço prévio, Aristóteles afir-ma que este valor é apurado em razão do valor do trabalho de quem o produziu. A equalização da troca de pães por casas obedece à proporção entre o trabalho do padeiro e o do arquiteto. Este valor tem que ser prévio à troca, ou nunca a igualda-de pode estabelecer-se.178 Assim, o valor dos elementos objetivos das equações de
178 EN, V, 5, 1133 a 19-29. Bywater traduz: “As therefore a builder is to a shoemaker, so must such and such a number of shoes be to a house, [or to a given quantity of food]; for with-out this reciprocal proportion, there can be no exchange and no association; and it can-not be secured unless the commodities in question be equal in a sense”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. É interessante como aqui está em jogo o ser do próprio homem por intermédio do seu produto: as coisas (casa, sapatos, comida) são ex-pressão do trabalho do homem. A equalização do valor das coisas observa o fato de serem fruto do trabalho de dados homens, e remete a uma equalização entre os próprios ho-mens. O que vale uma casa diante do sapato depende do que vale um construtor em face de um sapateiro. Parece que para Aristóteles o valor do homem predetermina o valor da coisa que ele produz, e assim a equalização dos homens produz a equalização das coisas que trocam. Mas isso, no contexto de uma releitura da relação constitutiva (de pertença mútua) entre homem e ordem, presta ainda para esclarecer como o ser do homem não mantém sob todas as perspectivas sua prioridade lógica em face do ser (valer) das coisas que produz, já que o ser do homem vai estar em jogo quando da avaliação do que ele produz, ao ensejo da troca, já que o valor de um sapateiro está em jogo quando se discute
Sensatez como modelo e desafio.indd 72 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita 73
troca (pães, casa) determina-se em função do valor dos elementos subjetivos (pa-deiro, arquiteto). Em outras palavras, o valor do pão e da casa depende do valor do padeiro e do arquiteto: a proporção entre os homens determina a proporção entre as coisas.
Por outro lado, porém, Aristóteles adverte que o valor da moeda flutua, as-sim como flutua o valor de qualquer mercadoria.179 Essa afirmação tem uma con-sequência insuspeitada para nosso raciocínio aqui, pois redefine parcialmente o momento da constituição do valor das coisas em intercâmbio. Se a princípio o va-lor de cada coisa é função do homem que a produz, já a afirmação da flutuação do valor das mercadorias sugere o momento da troca como o momento de definição do valor da mercadoria (e assim da moeda). Uma vez que o valor da coisa é deter-minado no momento da troca (sob a pressão da necessidade, no contexto das cir-cunstâncias concretas em que a troca se dá), ele deixa de ser função exclusiva do valor do homem produtor e passa, em contrapartida, a também determinar o valor do homem (do padeiro, do arquiteto), uma vez que a relação de proporção entre os termos subjetivos e objetivos da troca nunca se supera. A coisa passa-se mais ou menos assim: ao entrar em uma troca, cada homem traz consigo os bens que entre-gará, cujo valor em princípio determina-se pelo valor do homem que o fez (o que vale um pão depende do que vale o trabalho do padeiro, e uma casa, o trabalho do arquiteto). Mas na troca não necessariamente estes valores a princípio estabeleci-dos deverão manter-se – se fosse assim, nunca haveria alteração do valor de qual-quer coisa. Ao efetivar-se a troca é que o valor de cada coisa (pão e casa) será efeti-vamente determinado, sem deixar de reconhecer o preço “a princípio” válido, mas sem deixar também de levar em consideração outros aspectos determinantes da-quela situação concreta.180 Assim, o valor de pão e casa apenas poderá efetivamente
o valor de um sapato. Apesar da advertência de Rackham de que, naquela passagem: “It is uncertain whether this merely refers to the difference in value (or perhaps in labor used in production) between the unit products of different trades, or whether it introduces the further conception that different kinds of producers have different social values and de-serve different rates of reward” (ARISTÓTLES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham) é Aristóteles mesmo quem escreve, na tradução do mesmo Rackham: “There will therefore be reciprocal proportion when the products have been equated, so that as farmer is to shoemaker, so may the shoemaker’s product be to the farmer’s product”.
179 EN, V, 5, 1133 b 16.180 É preciso lembrar que toda troca se dá no rico contexto da circunstância concreta e que
o meio-termo ético (de que é exemplo também o justo preço de uma coisa, no horizonte da justiça comutativa) é sempre determinado em face da circunstância.
Sensatez como modelo e desafio.indd 73 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles74
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
determinar-se na situação, que poderá apontar outra relação de valor entre pães e casas. O resultado disto é que, por força daquela situação, acaba por estabelecer-se um novo valor para o padeiro e para o arquiteto, novo valor esse que será determi-nante do (novo) preço “a princípio” válido para uma futura troca entre pães e ca-sas. Isto é, estabelece-se uma dinâmica de interação constitutiva entre o valor dos termos subjetivos e objetivos das relações de troca apenas possível de compreen-der-se levando em consideração o lugar de cada situação concreta (em que a tro-ca se dá) como determinante do valor das coisas (única explicação possível para a afirmação de que o valor das coisas flutua), em sua sucessão (a flutuação do preço se deve às diferentes valorações que o bem sofre nas diversas vezes em que é troca-do), sem perder, no entanto, de vista a dependência do valor da coisa ao valor do homem que a produziu, mas reconhecendo enfim que o valor da coisa, tal como é determinado na situação concreta da troca, acaba por também determinar o valor do próprio homem.
Este modelo traz problemas para a consideração da justiça como igualdade no dar e receber em situações deste tipo. Afinal de contas, se é possível uma variação no valor das coisas trocadas por força da própria troca, torna-se mais difícil sim-plesmente afirmar que a igualdade se dá quando o valor do que alguém recebe é depois da troca igual ao valor do que deu, pois as coisas já não têm o mesmo valor antes e depois da troca. Aqui mais uma vez intervém um elemento “retificador” do valor ou do sentido prévios à situação, que hão de ser reconfigurados por força da própria situação para que haja justiça – trata-se da equidade, constitutivo da igual-dade na situação concreta, justificando que tal alteração se dê sem quebra da isono-mia entre os homens envolvidos na troca.
A “adequação” dos preços preestabelecidos das coisas à situação presente tem a mesma estrutura da “adequação” da lei aos casos concretos, tal como Aristóteles a descreve e tentamos reconstruir há pouco.181 Também aqui, como lá, podemos afir-mar que o valor da coisa não se encontra determinado senão pela situação presen-te, assim como a orientação que a lei impõe ao agir não se determina senão no in-terior da circunstância em que é invocada. É claro que uma reconstituição historial da série de eventos nos quais a lei (ou o preço) foi sucessiva e diferentemente apli-cada sugere que ela tenha sido ali progressivamente ajustada (assim como o preço tenha sido progressivamente alterado – flutuado), mas é forçoso admitir também que a lei, como sentido orientador (e o preço, como valor da coisa) não existe se-
181 Vide supra o parágrafo 32 (“Lei e equidade”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 74 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita 75
não nas situações concretas em que foi determinada, e que, assim, depende cons-titutivamente (ontologicamente) da sua aplicação equitativa para vir a ser lei (para determinar-se como preço).
Perspectivar a flutuação do preço ao longo dos diferentes eventos de troca que o determinam progressivamente enseja a observação de que, normalmente, a flutu-ação dos preços se dá em atenção a tendências mais ou menos verificáveis, isto por-que o valor de uma mercadoria numa situação de troca B se vincula decisivamente (mas não se determina inteiramente) ao seu valor na situação A. De que modo o va-lor na situação A se liga ao valor na situação B? A partir da vinculação que Aristóte-les faz do valor da coisa ao valor do trabalho de quem a fez. Tal ligação estabelece-se pelo fato de que a situação A, ao determinar o valor do pão, determina o valor do padeiro, valor esse que, a princípio, será determinante do valor do pão na situação B.
4.4 Equidade, determinação do preço e antropocentrismo ético
Esta tentativa de apreender a flutuação do preço de uma coisa por força da decisão sempre contemporânea à situação de troca, mas sem ignorar o preço que a coisa tem a princípio o seu ponto de partida que é (que é o ponto de partida da determinação situacional do preço) desvenda um dos modos de manifestação da equidade. De certa maneira, também a lei, em sua historial aplicação, por força de sua invocação em casos concretos, apresenta-se como uma progressiva alteração de sentido, que tem sido descrita como uma história de sucessivas “correições” ou ade-quações ao (no) tempo, mas que na verdade são mais do que simples emendas cor-retivas, pois integram constitutivamente a lei. Não há lei sem equidade, pois a lei, vista por Aristóteles como a razão a orientar o homem no seu agir, não existe senão na situação concreta (pois o homem só age na situação concreta, e não há lei se-não como orientação para o agir). A justiça (assim como o preço de cada coisa, por exemplo), como meio-termo, apenas se encontra em cada situação concreta, mas nunca sem partir daquilo que a tradição entrega: ou seja, o que é justo aqui e agora se vincula ao que foi justo em outras situações passadas, e assim determinará (ine-vitavelmente, mas não inteiramente) o justo nas próximas situações.
Na medida em que a justiça atine à repartição de coisas que têm preço (este é o caso da justiça comutativa voluntária: Aristóteles vinha de falar de transações deste tipo182), e que o preço, vinculado embora ao trabalho dos homens, flutua em razão
182 EN, V, 5, 1133 b 17-21.
Sensatez como modelo e desafio.indd 75 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles76
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
de sua determinação a cada caso, fica claro como o que é justo depende do homem, mas de uma dupla maneira. A uma, depende do homem na medida em que o va-lor da coisa prende-se ao valor do homem; assim, analogamente, pode-se afirmar com segurança (pois aqui não se faz mais do que renovar a afirmação muitas vezes repetida por Aristóteles de que o caráter determina o agir) que a ação justa depen-de da justiça do caráter do homem: então, assim como o valor do padeiro “determi-na” (a princípio) o valor do pão, o caráter do justo “determina” (a princípio) a ação justa. Há, porém, outra maneira como a justiça depende do homem. Assim como o preço não depende apenas do valor que se lhe atribui a princípio em razão do va-lor atribuído ao homem que o produziu, também a ação justa não depende apenas do que vem legado pela tradição (como lei) ou pelo caráter do homem, mas depen-de de uma nova determinação sempre contemporânea ao agir. E, assim como a (a cada vez nova) determinação do preço modifica o valor do homem que produz este tipo de bem, também cada situação modifica o caráter do homem, reinstituindo o que é ser justo.
Essa determinação do justo a cada vez implica a redeterminação de todos os termos das relações da troca: estão em jogo, a cada troca, o valor tanto dos termos objetivos (pães e casas) quanto dos termos subjetivos (padeiro e arquiteto). Na me-dida em que tal determinação é essencial para a determinação da igualdade (a ser apurada antes e depois da troca) é que se diz que a justiça constitui o meio.183 Inter-pretamos essa frase com o sentido de “constitui a cada vez”, isto é, sempre na situa-ção concreta, nos horizontes problemáticos do agir em que se coloca sempre o pro-blema de encontrar o justo meio.
Esta característica, que Aristóteles aponta como distintiva da justiça em face das demais excelências, não é propriamente algo que ela tem de exclusivo, mas é também uma característica própria a todas as virtudes éticas, e que encontra na justiça o ensejo de sua explicitação. Como já apontei a propósito da generosidade, da temperança e da própria justiça,184 também aqui há um elemento paradigmáti-
183 EN, V, 5, 1133 b 33 – 1134 a 1. Justiça é o termo médio entre cometer injustiça e sofrê-la, entre ter mais e menos do que é devido. Aristóteles sublinha, no entanto, que é posição intermédia mas diferente das demais excelências. Exatamente por força de sua determi-nação sempre equitativa, tal diferença reside no fato de a justiça, como excelência, ser “constitutiva do próprio meio”, isto é, o meio determina-se por força da própria situação, por força dos humanos que se encontram naquela situação.
184 Vide supra parágrafo 26 (“As virtudes éticas: seu elenco e seus horizontes”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 76 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Justiça como equidade e a autoconstrução como tarefa infinita 77
co na virtude da justiça que faz dela uma espécie de modelo para todas as demais. Trata-se do modo como o outro está implicado em toda decisão ética, em todo agir.
A ideia de que todo agir implica uma relação com o outro já foi consignada.185 Cumpre agora verificar se o esquema da justiça como uma correta proporção entre as equações que relacionam coisas e pessoas também pode ser transposto para as demais virtudes. Decerto que, não se tratando, nas demais excelências, de troca de coisas, não é possível descrevê-las com recurso ao esquema das duas equações in-tercruzadas (pela qual na troca justa a coisa que o homem A entrega ao homem B deve ter o mesmo valor da coisa que A recebe de B), mas também no agir nos ou-tros horizontes da ética (isto é, quando se mobiliza qualquer das outras virtudes do caráter) está requerida uma determinação do valor (do ser) da pessoa com quem se lida naquela situação.
Em nenhuma situação ética descrita na Ética a Nicômaco (com a ressalva, mas que não é uma exceção, da justiça comutativa) é indiferente a qualidade da pessoa com que se lida. Agir bem implica considerar adequadamente os elementos consti-tutivos da situação concreta em que o agir se dá, e isso implica especialmente a con-sideração do outro junto a quem ou em face de quem o homem age. Assim, a bon-dade ou a correição do desejo em uma situação dependerá da pessoa com quem o homem se encontra. De certa maneira, portanto, o modo como devemos agir de-pende, a cada vez, da medida do outro e da nossa própria medida; depende do va-lor de quem age e do outro em face de quem a ação transcorre.
185 Vide o parágrafo 30 (“O outro na ética aristotélica), o parágrafo 31 (“O sentido particular da justiça, a especial consideração do outro e a instituição da convivência como uma ordem política”), e o parágrafo 34 (“Necessidade, troca e igualdade e o fundamento da associação política”), todos supra.
Sensatez como modelo e desafio.indd 77 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Voluntariedade 81
5.1 Voluntariedade e agir (e a constituição do caráter)
Aristóteles enfrenta também o problema das relações entre praticar e sofrer in-justiça, chamando a atenção para que sofrer injustiça é melhor do que praticá-la.186 Este raciocínio remete à importante questão da voluntariedade do agir ético.
Só pratica injustiça quem age voluntariamente (isto é, quem age “conforme o motivo”187). Fora desta hipótese, apenas age justa ou injustamente por acidente. Só se praticado voluntariamente (quando o motivo específico é atinente ao injusto) é que o ato pode ser repreendido como injusto.
A voluntariedade requer que o homem tenha em si a causa da ação, assim como a consciência suficiente de todas as circunstâncias que a envolvem, isto é, o domínio dos elementos estruturais da situação. Quem não tem total ciência da situ-ação age involuntariamente, valendo o mesmo para aquele em cujo poder não está agir de outro modo.188
A voluntariedade do agir liga-se à alvorada da ética grega, como autodesco-berta do homem em sua capacidade de influir, de dispor sobre o mundo, ou sobre uma parcela dele. Liga-se à descoberta do homem como capaz de levantar-se por sobre a faticidade em que se encontra para instaurar o mundo prático – e inovar sobre a natureza – a partir de seu próprio agir. No horizonte mais amplo da práti-ca – em que a ética comparte com a técnica esta descoberta de si do humano como constituidor do mundo – a ética se distingue como a descoberta pelo humano do seu poder de dispor de si mesmo: enquanto a excelência técnica (tekhnê) tem por objeto a atividade que resulta em uma obra que é exterior ao homem e que é o fim desta mesma atividade, a ética descobre no agir bem um fim em si com um resul-tado, no entanto, também nítido em sede de constituição do mundo: sua “obra” é a constituição de si mesmo, do próprio humano, do caráter do homem que não se encontra dado antes do agir, mas apenas mediante o próprio agir.
Quanto ao que se passa naturalmente, como envelhecer ou caminhar para a morte, não cabe perguntar pelo voluntário ou involuntário. Apenas tem sentido fa-lar em voluntariedade e em responsabilidade moral a propósito daqueles fatos que
186 EN, V, 6, 1134 a 33-36. 187 EN, V, 6, 1135 a 15-18.188 EN, V, 6, 1135 a 20-31. Um dos limites da ciência ética também se encontra na determi-
nação dos limites da voluntariedade, que é impossível estabelecer antes e independente-mente da situação concreta em que o agir se consuma.
Sensatez como modelo e desafio.indd 81 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles82
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
podem encontrar no humano a sua causa ou explicação, daquilo que recai em sua alçada.189
A partir da introdução da noção de voluntariedade, pode-se compreender como uma justiça difere de uma ação justa, pois uma justiça pode ocorrer involun-tariamente (à semelhança de um fato natural), caso em que não será um fato justo senão por acidente.190
Aristóteles distingue duas espécies entre os atos voluntários, que encontram no humano sua causa eficiente: o ato praticado por decisão e o ato praticado sem decisão prévia.191 Os atos decididos de antemão admitem prévia deliberação, en-quanto os não decididos de antemão não admitem. Isto é, há os atos que o homem perpetra elegendo-os, sendo objeto de uma deliberação prévia, e há os atos que perpetra sem elegê-los, quando não foram objeto dessa deliberação.192 Essa distin-ção é útil para a reflexão sobre a importância da habituação ética.
Há três modos de prejudicar o outro, causando-lhe dano:193 a) por ignorân-cia (o erro consiste no desconhecimento de algum dos elementos da situação); b) quando o ato tem resultado diverso do pretendido (tratando-se aí de um acaso in-feliz, simples infortúnio) ou tem o efeito pretendido, mas sem maldade (trata-se então do erro culposo); c) quando a causa é voluntária, mas sem deliberação pré-via (por exemplo sob o influxo irresistível da paixão, como quando se está submeti-do à necessidade ou à sua própria natureza). Em todos esses casos prejudica-se ou-trem, há injustiça, mas o agente não pode ser considerado injusto, pois o dano não foi motivado pela maldade. Isto é, trata-se de um ato (ou fato) que implica uma in-justiça, mas que não pode ser considerada uma ação injusta, pois o caráter especi-ficamente justo ou injusto de uma ação depende de ele ser movido pela ganância. É importante assinalar que Aristóteles está reunindo duas diferentes distinções que apresentara. Está em jogo ali tanto o problema da voluntariedade (que cobre as hi-póteses do item a além de algumas outras do item b – impossíveis de definir a prin-
189 Aristóteles contrapõe o que ocorre por força do humano a tudo o que ocorre naturalmen-te, seja o que é regular na natureza como o que nela é acaso. EN, V, 8, 1135 a 33-1135 b 4.
190 EN, V, 8, 1135 a 18.191 EN, V, 8, 1135 b 9-11.192 Na tradução de Rackham: “Again voluntary acts are divided into acts done by choice and
those done not by choice, the former being those done after deliberation and the latter those done without previous deliberation”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
193 EN, V, 8, 1135 b 10-20.
Sensatez como modelo e desafio.indd 82 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Voluntariedade 83
cípio independentemente da situação194) e o problema do que define decisivamen-te a excelência que está em jogo a cada vez (em que, para se tratar de justiça, é pre-ciso que se trate de uma conduta impulsionada pelo hábito de dar a cada um o seu no horizonte da distribuição de bens exteriores). O que esta tripartição dá a notar – para além do que diz diretamente sobre o que se deve entender por um ato vo-luntário – é que o ato injusto, para poder ser assim considerado, precisa ao mesmo tempo ser um ato voluntário – que encontra no homem sua causa, mediante uma decisão deliberada – assim como precisa vincular-se ao caráter perverso com res-peito ao dar e receber nas situações de troca (isto é, precisa ser fundado na ganân-cia). No final das contas, ambas estas distinções se confundem, o que fica muito cla-ro mediante o aprofundamento da noção de voluntariedade.
A voluntariedade de um ato não se liga apenas, portanto, ao raciocínio envol-vido na decisão concreta que o move, mas radica também e especialmente na dis-posição do caráter que o faz tender para aquela decisão. Assim é que mesmo nas situações em que o homem não tem oportunidade de deliberar (deliberar leva sem-pre tempo, e muitas vezes o agir é requisitado em situações urgentes em que o ho-mem é surpreendido e simplesmente reage, sem pensar) ainda assim ele pode ser considerado responsável, na medida em que reage em conformidade com seu há-bito (já que ele é responsável pela constituição de seu próprio hábito – caráter). Eis porque o homem que perdeu o autodomínio e que se tornou um escravo de seu apetite é ainda responsável (e a ele se pode ligar a censura moral): ele age volunta-riamente embora sua ação não seja fruto de uma deliberação racional. De toda sor-te, porém, a responsabilidade e a voluntariedade continuam vinculadas à decisão, deslocando-se embora para o momento em que a disposição do caráter reprovável (que torna o ato presente também reprovável) foi constituída.
O problema de saber se é melhor sofrer ou praticar uma injustiça se resolve pelo esclarecimento da relação entre a voluntariedade do agir e a constituição do caráter. Há uma relação genética entre ambos: apenas a decisão deliberada tem por resultado tornar o homem “assim”, isto é, apenas o agir voluntariamente numa cer-ta direção faz o homem disposto/inclinado a tender a agir nessa direção em outras situações do mesmo tipo. Apenas a decisão deliberada habitua. Como apenas prati-car a injustiça pode ser considerado um ato voluntário (pois sofrer ou não a injusti-ça não está na mão do homem e, portanto, não há falar em ser tratado injustamente
194 Sobre a dificuldade de estabelecer os limites entre o que pode ou não ser considerado involuntário: EN, V, 8, 1135 b 12-17.
Sensatez como modelo e desafio.indd 83 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles84
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
de modo voluntário), é pior cometer do que praticar a injustiça: a prática voluntá-ria da injustiça faz o homem se perder, tornando-se injusto.195
5.2 Voluntariedade e decisão
A argumentação no final do Livro V em torno da voluntariedade aproxima o problema da decisão, ponto central da ética aristotélica. Para Aristóteles, o agente só é julgado injusto e perverso quando o dano decorre de decisão.196 O injusto é o que pratica atos injustos, o que implica a decisão prévia. Agir com injustiça volun-tariamente implica agir deliberadamente com violação da igualdade como propor-cionalidade (o mesmo quanto ao justo, inversamente).197
Há uma especial ênfase na ligação entre a decisão deliberada e a justiça. No caso da justiça, a capacidade de calcular parece mais ativa e responsável pelo agir (justa ou injustamente), mas trata-se de algo que é comum a todas as virtudes éti-cas e que a virtude da justiça, como suma de todas as virtudes, é capaz de fazer apa-recer mais claramente.
Aristóteles discute se é possível alguém sofrer a injustiça voluntariamente. En-quanto agir justa ou injustamente é sempre voluntário, o que dizer com relação ao modo como se é tratado, justa ou injustamente?198 Uma vez sendo tratado injus-tamente, o homem passa a sê-lo sempre? Na verdade, isto é como no agir: não se torna injusto quem pratica um ato isolado de injustiça, não se tornará um “injus-tiçado” quem sofrer um ato isolado de injustiça.199 E especialmente: lembrando da distinção de ato de injustiça e o ato injusto (e de que apenas este último tem como princípio o vício200), não é possível ser tratado injustamente de modo voluntário
195 “E repetindo a sentença comum a Sócrates, Platão e a Demócrito – que é pior cometer que sofrer injustiça – Aristóteles explica: porque o cometê-la é maldade, ao passo que o recebê-la fica isento desta mancha espiritual”. MONDOLFO, Rodolfo. O homem na cultura antiga.... cit.,.p. 365.
196 EN, V, 8, 1136 a 2: “Se, contudo, o dano é causado por uma decisão prévia, então prati-ca-se uma injustiça”.
197 EN, V, 8, 1136 a 5-6.198 EN, V, 8, 1135 b 30 - 1136 a 1.199 EN, V, 8, 1136 a 10-17.200 EN, V, 5, 1133 a 3-9. Vide supra o parágrafo 37 (“Voluntariedade e agir (e a constituição
do caráter)”). Aristóteles argumenta que nem sempre quem recebe uma parte maior do que a devida é injusto, pois nem sempre o ato injusto é praticado por um homem injusto, nem sempre é praticado voluntariamente, o que envolve o caráter e a deliberação. Isto tem a ver com a ideia de que o caráter reprovável ou louvável da ação, assim como a
Sensatez como modelo e desafio.indd 84 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Voluntariedade 85
porque o princípio da ação em causa (injustiça) não está em quem sofre a injusti-ça, mas em quem a pratica.
Não é possível que isto seja considerado voluntário se nem sequer o princípio causal de tal estado está no homem que sofre a injustiça. Parece evidente que, se a voluntariedade consiste em ser o homem o princípio causal do fato ou ato em cau-sa, não faz sentido falar em voluntariedade no ser tratado justa ou injustamente, pois não está no poder de quem sofre a injustiça sofrê-la ou não, tem de haver outro que a pratique.201 Se sofrer injustiça não é um ato voluntário, não tem o condão de constituir o caráter do homem – tal como assinalamos no parágrafo anterior deste capítulo, a constituição do caráter se dá a partir de atos voluntários.202
Mas a argumentação de Aristóteles parece pretender chegar a outro ponto ainda. Ele esclarece que sofrer voluntariamente uma injustiça é tão possível quanto ser injusto consigo mesmo,203 com que apresenta outra discussão interessante. Afi-nal, quem dá, ao outro, mais do que lhe deve, comete injustiça? E quem recebe me-nos do se lhe deve? É possível praticar injustiça contra si próprio?204 Dar mais ao outro e tomar menos para si do que a si mesmo cabe parece configurar a prática de uma injustiça contra si,205 mas Aristóteles repele esta conclusão ao afirmar que isso é próprio do homem de caráter moderado:206 é próprio da excelência ficar com me-nos do que lhe cabe.207
O final do Livro V adverte que não é fácil ser justo, tal como parece a muitos pelo fato de que cometer a injustiça está na mão do homem. Cometer a injustiça, ao contrário, é fácil.208 Aristóteles em várias passagens sublinha a dificuldade dos
definição da qualidade específica da ação (se se trata, por exemplo, de um ato covarde ou injusto em sentido estrito) depende do seu princípio, da disposição do caráter que impele o homem a agir daquele modo (será injusta a ação se for motivada pela ganân-cia). Para concluir sobre a natureza da conduta é preciso olhar para o motivo da ação, e o motivo está em quem dá e não em quem recebe. Assim por exemplo também a injustiça da sentença dependerá de o juiz ter agido por ganância, como por favores ou vingança.
201 EN, V, 9, 1136 a 23-27.202 Vide supra o parágrafo 37 (“Voluntariedade e agir (e a constituição do caráter)”).203 EN, V, 9, 1136 a 31-1136 b 1.204 EN, V, 9, 1136 b 1-9.205 EN, V, 9, 1136 b 9-14.206 EN, V, 9, 1136 b 15-17.207 Isto corrobora a afirmação de que toda forma de excelência é uma forma de generosida-
de. Vide supra o parágrafo 26 (“As virtudes éticas: seu elenco e seus horizontes”).208 EN, V, 9, 1137 a 4-16.
Sensatez como modelo e desafio.indd 85 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles86
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
assuntos éticos, sobre a qual se funda todo o louvor de que é merecedor o homem sério, titular do agir bem.
A dificuldade própria da justiça, e que é na verdade a dificuldade assinalável a todas as virtudes éticas, reside em que, pelo fato de o agir bem requerer sempre a voluntariedade – e a voluntariedade, como anotamos também, requer sempre tan-to a disposição do caráter conquistada ao longo da vida como a deliberação na si-tuação concreta – todo agir bem requer um bom caráter, acompanhado de uma boa deliberação. Aristóteles afirma que fazer a ação conforme a uma disposição de caráter não é fácil nem está no poder do homem,209 numa afirmação cuja parte fi-nal é paradoxal no contexto da sua exposição do processo ético como esforço de autoconstituição do homem e dos poderes do homem sobre a constituição de seu próprio caráter, por meio de suas ações. O paradoxo se desfaz com a rememoração da ideia de que a constituição do caráter dá-se progressivamente ao longo da vida, pelo círculo em que ações boas constituem um bom caráter, que, por sua vez, pos-sibilita novas boas ações que o consolidam (ou ainda: ações reprováveis constituem o caráter perverso que leva a novas más ações) até o ponto em que já é muito difícil e improvável que o homem bom deixe de sê-lo – ou, ainda mais acentuadamente, até o ponto em que o homem mau dificilmente deixe de sê-lo. Nesta última hipó-tese, já não se encontra nas mãos do homem perverso a possibilidade de agir justa-mente, seja porque um fato justo a ele ligado não poderia ser considerado voluntá-rio, pois não se vincularia a um caráter justo como princípio, seja porque ele já não é capaz de decidir com justiça pelo fato de a sua capacidade de julgar as coisas prá-ticas já se encontrar destruída por sua própria intemperança.210
209 EN, V, 9, 1137 a 4-5.210 Rackham traduz: “This also accounts for the word Temperance, which signifies ‘preserv-
ing prudence.’ And Temperance does in fact preserve our belief as to our own good; for pleasure and pain do not destroy or pervert all beliefs, for instance, the belief that the three angles of a triangle are, or are not, together equal to two right angles, but only beliefs concerning action. The first principles of action are the end to which our acts are means; but a man corrupted by a love of pleasure or fear of pain, entirely fails to discern any first principle, (4) and cannot see that he ought to choose and do everything as a means to this end, and for its sake; for vice tends to destroythe sense of principle. (5)” – e anota: “4) Or ‘to one corrupted by pleasure or pain this end does not seem to be a first principle at all’”; e “5) i.e., to destroy our perception of the true end of life, which consti-tutes the major premise of the practical syllogism”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. A temperança (sophrosyne) significa a preservação da prudência. Ai-nda a este propósito, Rackham anota: “sôphrosunê, the quality of the sôphrôn (sôs-phrên) or ‘sound-minded’ man, Aristotle derives from sôzein and sensatez)”. É interessante
Sensatez como modelo e desafio.indd 86 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Voluntariedade 87
Neste sentido é que agir justamente é algo muito difícil, pois exige um caráter que apenas com esforço e ao longo de toda uma vida pode-se construir.
Mas a dificuldade (e a possibilidade de ser justo) não reside apenas na posse de um estado conquistado (hábito como hexis) marcado pela perenidade e estabi-lidade. Reside ainda no desafio que a cada vez é posto, de agir e julgar com justiça em cada troca. Aristóteles adverte que saber o que é justo parece não exigir gran-de sabedoria, pois não é difícil conhecer a lei.211 Esta aparência, porém, é enganosa. Ocorre que a lei não é a justiça salvo por acidente,212 o que exige do homem sério uma capacidade de discernir a adequação da lei a cada vez em que for aplicá-la, de-mandando inevitavelmente o empenhamento em uma decisão ética.213 Por isso, sa-ber praticar atos justos é tão ou mais difícil que saber curar. A técnica ou arte médi-ca, assim como a sensatez, exige o conhecimento de elementos adquiridos antes de a situação concreta configurar-se, os quais serão exatamente requeridos por esta si-tuação. Mas o agir bem na situação, para além destes elementos prévios, requer es-pecialmente a adequação ao quando, ao como e ao quem,214 dados próprios de cada situação em causa, que apenas podem ser sopesados dentro da própria situação, e cuja apropriada consideração e adequação é imprescindível para o caráter bom do agir (assim como para o sucesso do médico, na sua tarefa de curar).
a nota de Caeiro: “Aristóteles estabelece uma relação entre sophrosýne, temperança, e phrónesis, sensatez, com o étimo grego que perdemos completamente em português: he phrén, o diafragma, enquanto a sede da alma, da capacidade perceptiva, do poder da compreensão, o campo de acção das paixões. O que poderá corresponder ao nosso ‘coração’, ‘ter bem/mau coração’ etc.” ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, p. 266. Só o temperado poderá ser phronimos, pois no pervertido, o princípio não aparecerá, ou não aparecerá como princípio (o bem em geral não será bem para ele). O perverso não apenas não será capaz de obedecer/acompanhar o que lhe diz a razão, mas a perderá mesmo. Isso coloca em outros termos a relação entre as partes da alma em jogo: a parte apetitiva (o desejo, ao qual atine a temperança como virtude) e a parte racional. A parte irracional pode inutilizar uma parte (a calculativa) da racional.
211 EN, V, 9, 1137 a 9-11.212 EN, V, 9, 1137 a 12. Esta é uma importante passagem a corroborar a interpretação de ser
a equidade não uma virtude requerida para “corrigir” a lei “na eventualidade” apenas de ela ser inadequada ao caso concreto, mas que é a princípio e geralmente incapaz de orientar o agir sem se fazer mediar pela equidade a cada vez. Vide supra o parágrafo 32 (“Lei e equidade”).
213 Vide supra o parágrafo 32 (“Lei e equidade”).214 EN, V, 9, 1137 a 13-17.
Sensatez como modelo e desafio.indd 87 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles88
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O ato de covardia só o é se resultar de uma disposição de caráter,215 assim como o ato de coragem: mas o agir corajosamente não prescinde de que o homem corajoso reafirme-se como tal numa decisão pela qual determina, naquele caso concreto, qual o justo meio, isto é, o que é agir corajosamente ali, naquele momen-to. Ao mesmo tempo, a técnica médica depende, sobretudo, de como é aplicada, em atenção às circunstâncias do caso, mas não prescindirá de um saber e de uma habi-lidade previamente adquiridas, a serem mobilizadas naquela situação.
Toda a vida ética inquina na decisão prática, que define a qualidade de todo agir (se se trata de uma ação eticamente relevante, se é louvável ou reprovável). Muito embora a teoria aristotélica da justiça seja uma teoria da virtude, toda ela se baseia na decisão a tomar concretamente a cada situação, em que o homem há de afirmar o bem tendo em consideração toda a riqueza e a problematicidade do con-texto que a cada vez o envolve e que exige seu agir. A descrição fenomenológica das virtudes mostra como o estado disposicional em que o homem se encontra (seu ca-ráter, seus hábitos, suas inclinações, ou a conformação do seu desejo) é essencial na determinação de seu agir a cada vez, mas não é tudo: sua doutrina revela também como está envolvido o exercício de um pensar que apenas encontra o seu ensejo ante a própria situação e seus elementos singulares. A decisão é fruto da disposi-ção do desejo (hábito ético, caráter), mas também de uma atividade da razão com a qual dialoga, e cuja confluência faz reunir as condições da decisão ética a cada vez. No próximo capítulo, examinaremos a atividade da outra parte da alma que é então mobilizada, como requisito para tentar enfim compreender como razão e desejo se abraçam na deliberação prática e assim na constituição do que o homem é, por for-ça do que decide ser ao agir.
A lição ética de Aristóteles, que é uma doutrina das virtudes, que dá conta de explicar como o humano se constrói e se realiza nas ações pelas quais é responsá-vel, não pode ser compreendida sem atentar para o conceito fundamental de sensa-tez, que deve ser ativada a cada situação, orientando e decidindo o agir. A apresen-tação do papel da sensatez na ética aristotélica ocupa a segunda parte deste livro, em relação à qual tudo o que foi dito até agora se concebe como uma introdução e uma contextualização.
215 EN, V, 9, 1137 a 22-25.
Sensatez como modelo e desafio.indd 88 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
CAPÍTULO 6A EXCELêNCIA DA RAZÃO
PRáTICA ENTRE AS VIRTUDES DO PENSAR: O LIVRO VI DA
éTICA A NICôMACO
Sensatez como modelo e desafio.indd 89 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
91A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
6.1 O agir como encontro entre o desejar e o pensarO problema do agir e do agir bem no contexto da situação concreta coloca o
problema do decidir que, além de ser requerido para que a ação possa ser conside-rada voluntária (a voluntariedade tem como requisito a deliberação), é essencial na causação do próprio estado ético-disposicional do homem, construído ao longo da vida (a decisão, tomada sempre a cada situação, é que conforma o desejo – o caráter). O problema do agir, e do decidir no coração do agir, localiza-se no cerne das preo-cupações da ética. A doutrina das virtudes éticas, atinente à excelência da dimensão desejante da alma, a par de ter revelado a inelutável participação desta parte inferior da alma humana no agir, solicita também o esclarecimento do papel da dimensão ra-cional, da alma: a virtude como o hábito de desejar adequadamente não é suficiente para agir bem a cada vez, embora seja necessária. Agir bem requer também a parti-cipação da reta razão, do pensar que é a atividade da outra parte (superior) da alma.
A relação ou o jogo entre o desejar do homem e o princípio da ação, que apare-ce no pensar e é descoberto a cada situação concreta, sugere a ideia de um constante acerto,216 um permanente ajuste entre o que o homem está habituado a desejar e aquilo que lhe aparece como bom em cada situação. Ao homem que tem autodomínio, cujo desejo já vem de longa data sendo eficientemente moldado pela correta (e esforçada: séria) afirmação do fim da ação (escolha do justo meio) (o que consigna o sentido de homem sério como aquele que se empenha neste autoajuste permanente), a tensão entre aquilo que lhe aponta o desejo e aquilo que lhe aponta o sentido orientador não será muito grande. Por isto, diz-se que, no homem temperado, o desejo está propen-so a deixar-se convencer pela razão. A diminuição dessa tensão, ou diferença, entre o desejar e o pensar prático como descoberta do fim na situação, é o grande escopo de todo o processo de autorrecuperação que é a construção de si mesmo como caráter.217
216 EN, VI, 1, 1138b 20-25. Sobre a relação entre o desejo e o princípio (apontado pelo senti-do orientador: a reta razão), eis a tradução de Rackham: “In the case of each of the moral qualities or dispositions that have been discussed, as with all the other virtues also, there is a certain mark to aim at, on which the man who knows the principle involved fixes his gaze, and increases or relaxes the tension accordingly; there is a certain standard deter-mining those modes of observing the mean which we define as liying between excess and defect, being in conformity with the right principle”. E ainda o comentário: “The words denote tightening and loosening a bowstring, and also tuning a lyre. The former image is suggested by the preceding words, but the latter perhaps is a better metaphor for that avoidance of the too much and the too little which, according to Aristotle, constitutes right conduct. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
217 Mas esta diferença nunca será ultrapassada inteiramente, enquanto o homem se manti-ver humano, embora deva sempre tender a diminuir por força do processo de conforma-ção racional do desejo.
Sensatez como modelo e desafio.indd 91 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles92
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O Livro VI da Ética a Nicômaco se liga aos Livros anteriores ao dar conta de como o meio-termo do desejar deve ser descoberto a cada vez e na medida em que trata exatamente de descrever fenomenologicamente a atividade da alma pela qual o homem se realiza como humano na sua melhor possibilidade, cumprindo-se e alcançando a felicidade. Liga-se especialmente à discussão sobre os limites de um tratamento científico na ética, deixando claro em que sentido um livro ou uma li-ção sobre ética não pode ultrapassar indicações mais ou menos gerais: o Livro VI mostra exatamente como a verdade ética apenas se dá na situação concreta, e faz perceber como uma espécie de usurpação (instituidora de falsidade, por consequ-ência) qualquer tentativa de afirmação da verdade do agir indiferente às circuns-tâncias peculiares de cada situação concreta. Traça, com tudo isto, os contornos do exercício do pensar que o homem ativa (que o homem é) na realização do bem para ele (ele, que é humano) mostrando a feição multifacetada do bem envolvido no agir, sensível e dependente das condições do tempo e oportunidade, do lugar, dos sujeitos envolvidos etc.
Há um juízo de adequação a cada vez requerido que orienta o homem em seu agir, elucidada pela exposição da sensatez ao lado das demais virtudes intelectuais (dianoéticas) a que se dedica o Livro VI da Ética a Nicômaco. Tentaremos uma ex-posição muito próxima ao texto, assim como tentamos com respeito à virtude da justiça, mas apenas com referência aos aspectos que diretamente interessam à ar-gumentação desenvolvida aqui.
6.2 O sentido geral da investigação sobre a excelência do pensar e os horizontes da sensatez
Trata-se, no Livro VI, de examinar a reta razão (orthos logos) como o sentido orientador que mostra o justo meio a cada ação.218 O justo meio é um espaço entre os extremos, e o problema que se põe é: que é o sentido orientador capaz de desco-bri-lo e a qual horizonte se aplica?219
Já estava esclarecido haver diferentes espécies de virtudes da alma:220 as dispo-sições do caráter, ditas éticas, acabadas de discutir até o Livro V, e as disposições do intelecto, ditas dianoéticas, a discutir agora.221 As diferentes espécies de virtude ati-
218 EN, VI, 1, 1138 b 19-20.219 EN, VI, 1, 1138 b 35.220 EN, VI, 1, 1138 b 35.221 EN, VI, 1, 1139 a 1-2.
Sensatez como modelo e desafio.indd 92 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
93A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
nem às diferentes dimensões da alma, uma capaz de razão (lógon échon)222 e outra incapacitante de razão (alogon).223 A dimensão racional divide-se ainda em duas: aquela que considera entes cujos princípios não podem ser de outra maneira, e ou-tra que pensa entes que têm essa possibilidade. Trata-se da célebre repartição da alma racional em teorética (epistemonikón),224 que é contemplativa225 dos entes que não podem ser de outra maneira; e a calculativa (logistikón),226 que tem por objeto os entes que podem ser de outra maneira.227
222 EN, VI, 1, 1139 a 4.223 Maria Araujo e Julian Marias traduzem simplesmente: parte racional e irracional da
alma. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, p. 89. É in-teressante reproduzir a nota que Caeiro consigna: “Há uma grande dificuldade em verter para português toda a riqueza da oposição álogon/lógon échon. A tradução habitual é irracional/racional. Preferimos, contudo, a tradução ser capaz de razão/ser incapacitan-te ou incapaz de razão. O Humano enquanto tò zoon lógon échon é o animal rationale. Contudo, o que está em causa é a própria relação do Humano com o sentido. Na verda-de, a existência humana encontra-se entre esses dois extremos. Desse modo, o Humano vive na possibilidade de estabelecer uma relação com a razão ou de se desconectar dela. À letra, άλογον seria não ter qualquer relação com o sentido, neutra, por conseguinte, relativamente à possibilidade incapacitante de razão e à possibilidade capaz de razão, vide EN, 1102b 13-14. ‘Parece, por outro lado, haver uma certa outra natureza da alma que não é racional, mas que, ainda assim, toma, de algum modo, parte na sua dimensão racional’. Mas há um sentido ativo para álogon que exprime tanto a possibilidade de não fazer sentido, mas de, ativamente, produzir o não sentido. Lógon echón exprimirá, portanto, a nossa possibilidade de activarmos uma relação com o sentido, de podermos encontrar sentido no que fazemos, exprimi-lo. Portanto, de sermos capazes de razão. Cf. A Política A 2, 1253 a 9 e ss.: apenas o Humano de entre os animais tem a possibilidade de se exprimir [de dizer como é consigo]”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, p. 260.
224 EN, VI, 1, 1139 a 12.225 EN, VI, 1, 1139 a 6.226 EN, VI, 1, 1139 a 12. Maria Araujo e Julian Marias traduzem: calculativa. ARISTÓTELES.
Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 89. Caeiro: gênero corres-pondente à possibilidade do cálculo. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 134. Rackham traduz: “These two rational faculties may be designated the scientific faculty and the calculative faculty respectively; since calculation is the same as deliberation, and deliberation is never exercised about things that are invariable, so that the Calculative Faculty is a separate part of the rational half of the soul”. ARIS-TÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. (grifos no original)
227 Na tradução de Rackham: “Let us now similarly divide the rational part, and let it be assumed that there are two rational faculties, one whereby we contemplate those things whose first principles are invariable, and one whereby we contemplate those things which admit of variation”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. Na
Sensatez como modelo e desafio.indd 93 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles94
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A parte calculativa da alma delibera, e evidentemente a deliberação não pode recair sobre aquilo que não pode ser diferente do que é. Isto é, ninguém delibera sobre aquilo que não está disponível a encontrar na própria deliberação o seu prin-cípio.228 Seu horizonte é o daquilo que pode encontrar no humano seu princípio. Tampouco o que já aconteceu pode ser objeto de decisão, mas apenas o que está no futuro e no campo do possível, e não no horizonte do necessário.229
O conjunto da investigação se volta para a descoberta da melhor disposi-ção (hexis)230 de cada uma dessas partes da alma racional, perguntando pela sua excelência.231
tradução de Caeiro, mais rigorosa: “Uma é aquela que com a qual consideramos teori-camente todos aqueles entes com princípios que não podem ser de outra maneira. A outra é aquela com a qual consideramos aqueles entes com princípios que podem ser de outra maneira”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 134. Caeiro ainda anota: “As coisas que admitem ser de maneira diferente/as coisas que não admitem ser de maneira diferente. Esta distinção é fulcral para o isolamento do sentido do horizonte do Ético e da dimensão prática do Humano enquanto tais”. (ARISTÓTE-LES. Idem, p. 266). A tradução de Caeiro aqui é melhor porque: 1) a tradução não deve dar a entender que a palavra contemplar se aplica à atividade de ambas as partes da alma que têm a razão, pois apenas a epistêmica contempla. A calculativa calcula e escolhe; 2) a tradução não deve trair o leitor dando a entender que os entes objeto da contemplação teórica sejam sempre imutáveis, pois a mudança também caracteriza os entes da nature-za cujos princípios, esses sim, são imutáveis, mas não as coisas mesmas (que se marcam pelo movimento). A diferença reside nos princípios: o que é objeto da razão calculativa é marcado pela possibilidade de variação dos princípios. Isso é essencial para demarcar o horizonte da ética, pois ali o próprio homem, com sua decisão, pode comparecer como o princípio dos objetos (das ações), o que não seria possível senão num horizonte em que o princípio explicativo (causal) não está de uma vez por todas determinado. Esse aspecto – que aponta para o inacabamento do universo, como uma abertura do mundo à ação do homem que o ultima – é o ponto de partida e a condição de possibilidade da liberdade e da voluntariedade, aspectos centrais da ética aristotélica.
228 EN, VI, 1, 1139 a 14-16. Com isto demarcam-se também os limites da retórica, cuja “tarefa consiste em versar as questões sobre as quais deliberamos, e das quais ainda não possuímos artes; e isto perante um auditório incapaz de ver claro através de numerosas proposições e de raciocinar sobre noções deduzidas de longe. Ora, deliberamos sobre as questões suscetíveis de comportarem duas soluções opostas; pelo contrário, ninguém delibera sobre as coisas que não podem ter acontecido, nem vir a acontecer, nem ser de maneira diferente. Tais coisas são admitidas, pura e simplesmente”. Retórica, II, 4. ARIS-TÓTELES. Arte retórica e arte poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho, cit., p. 37.
229 EN, VI, 7, 1141 b 10.230 EN, VI, 7, 1141 b 16.231 EN, VI, 7, 1141 b 17.
Sensatez como modelo e desafio.indd 94 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
95A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
Aristóteles tenta a descrição da atividade própria da alma racional, para po-
der concluir sobre a sua excelência, já que a virtude de cada parte racional da alma
define-se pelo seu trabalho específico, por sua função própria.232
Há três atividades da alma que definem a ação e a verdade (kuria praxeos kai
aletheias): sensação, entendimento e desejo (aisthêsis nous orexis).233
A sensação não é princípio de nenhuma ação, pois os animais, incapazes para
a ação, possuem a sensação.234 Mas isso não implica que a sensação (que não tem
sua sede na parte racional da alma, mas sim na parte irracional – assim como o de-
sejo), não tenha lugar no descobrimento da verdade, mas apenas que ela não é o
seu princípio. A sensação não deixa de participar ali, ou não seria enunciada como
algo da alma que define a ação e a descoberta da verdade. Esta afirmação igualmen-
te vale para o desejo.235
Nas passagens em que se põem em relação o agir e o descobrir a verdade radi-
cam argumentos essenciais para a compreensão da relação entre as partes da alma e
do envolvimento de cada uma delas no decidir. Neste contexto, estabelece-se o pa-
232 EN, VI, 5, 1140 b 17-30. ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Siqueira Chaves, cit., p. 15: “Todas as coisas se definem pela sua função”.
233 EN, VI, 2, 1139 a 17-18. Na tradução de Caeiro: percepção, poder de compreensão e intenção. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 134. Eis a tradução de Rackham: “Now there are three elements in the soul which control ac-tion and the attainment of truth: namely, Sensation, Intellect, and Desire”, e ainda a sua anotação: “nous here bears its usual philosophic sense of the intellect, or rational part of the ‘soul,’ as a whole, whose function is dianoia, thought in general. In chap. 6 it is given a special and restricted meaning, and this in chap. 9 is related to the popular use of the word to denote ‘good sense’ or practical intelligence)”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trab. H. Rackham.
234 EN, VI, 2, 1139 a 19-20. Tal como Rackham anota: “Praxis means rational action, conduct. The movements of animals, Aristotle appears to think, are mere reactions to the stimuli of sensation”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. Vide supra o parágrafo 21 (“Os horizontes da ética: o humano entre o animal e o deus”).
235 Destaco ao ensejo do tema da imaginação uma das importantes formas de participação da percepção sensível (aisthêsis) na descoberta da verdade no agir. Vide infra o parágrafo 48, “Phantasia e a compreensão do universal e do particular na racionalidade prática: a implicação recíproca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequação do ‘silogismo prático’ como modelo explicativo do agir”.
Sensatez como modelo e desafio.indd 95 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles96
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ralelo entre o pensamento e o desejo (orexis236), declarando que o que é afirmação e negação no pensamento é perseguição e fuga no desejo.237
Não está claro se Aristóteles estabelece aqui uma hierarquia entre estas ativi-dades da alma e entre aquilo que aparece por sua força. É possível interpretar, com respaldo na afirmação constante na Política de que a parte da alma racional é se-nhora perante a parte apetitiva da alma,238 que há uma relação determinante entre o que aparece na alma racional como verdadeiro e o que persegue o desejo. Mas tal relação, porém, não se dá simplesmente assim, pois nem sempre o desejo acompa-nha a razão: este é, a rigor, um dos pontos de partida que a psicologia aristotélica lega à ética e que é responsável pela singularidade do pensamento de Aristóteles, que não admite uma simples assimilação do apetite à razão. A relação entre estas partes da alma comparece sempre como um problema, o que contribui decisiva-mente para a demarcação na natureza humana da ética.
236 “Orexis: desire, appetite”: “orexis (...) general word for all kinds of . A. appetency, conation (...); longing or yearning after a thing, desire for it (...); propension, appetency”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
237 EN, VI, 1139a 20-22. De Anima, III, 431 b 1-13: “A faculdade do intelecto pode inteligir as formas por meio de imagens mentais e, tal como no âmbito do sentido tudo aquilo que se deve afirmar ou negar é por causa disso mesmo definido, do mesmo modo a sensação exterior, ao ocupar-se com as imagens mentais, a isso será movida. Tomemos o seguinte exemplo: ao nos apercebermos de um archote como sendo o fogo, o senti-do comum ditar-nos-á, então, a presença de um inimigo ao revelar-nos que aquele se move. Em certas circunstâncias, porém, devido às imagens ou pensamentos da alma (encontrando-se eles, por assim dizer, ‘a ver’), é-nos, por conseguinte, possível calcular ou planear em relação ao futuro em função do presente. Quando se diz que aí se encon-tra o agradável ou o penoso, origina-se um movimento ora de fuga ora de aproximação, isso apenas sucedendo sempre que se trate da ação. Quando ao verdadeiro e ao falso, que realmente nada têm a haver com a ação, poderão eles ser incluídos no mesmo gênero que o bom e o mau, mas, com a seguinte diferença: enquanto os primeiros podem ser isso absolutamente, os segundos só o são enquanto em relação a um determinado ser”. ARISTÓTELES. Da alma (De Anima). Trad Carlos Humberto Gomes, cit., p. 108.
238 “(...) deve-se reconhecer no animal vivo um duplo comando: o do amo e o do magis-trado. A alma dirige o corpo, como o senhor ao escravo. O entendimento governa o instinto, como um juiz aos cidadãos e um monarca aos seus súditos. É claro, pois, que a obediência do corpo ao espírito, da parte afeta à inteligência e à razão, é coisa útil e conforme com a natureza. A igualdade ou direito de governar cada um por sua vez seria funesta a ambos”. ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Siqueira Chaves, cit., p. 19. Em muitos outros lugares Aristóteles fala da “autoridade” da alma racional sobre a alma apetitiva.
Sensatez como modelo e desafio.indd 96 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
97A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
Todo o problema radica exatamente na relação entre o desejar e o pensar no momento concreto da decisão. A virtude moral é uma disposição relativa à escolha/eleição (hexis proairetikê).239 A proairesis (escolha, eleição) é um desejo deliberado (orexis bouleutikê).240 Logo o pensamento tem que ser correto e o desejo reto para que a proairesis seja boa.241 Tem que haver coincidência entre o que a razão diz e o que o desejo persegue para que a proairesis seja séria.242
Isto revela que, no agir, dá-se a mobilização de toda a alma.243 As diferentes di-mensões da alma (seja a racional, seja a irracional, cada qual também com suas di-ferentes dimensões) mobilizam-se no agir do homem sério, até porque apenas as-sim é que ele, enquanto sério, constitui o seu próprio caráter. No homem sério, o
239 EN, VI, 2, 1139 b 5. Rackham traduz: “Moral virtue is a disposition of the mind in regard to choice”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
240 “Como a tragédia é a imitação de uma ação, realizada pela atuação dos personagens, os quais se diferenciam pelo caráter e pelas ideias (porque qualificamos as ações com base nas diferenças de caráter e ideias), segue-se que são duas as causas naturais das ações: ideias e caráter. E dessas ações se origina a boa ou má fortuna das pessoas. A fábula é imitação da ação. Chamo fábula a reunião das ações; por caráter entendo aquilo que nos leva a dizer que as personagens possuem tais ou tais qualidades; por ideias, refiro-me a tudo o que os personagens dizem para manifestar seu pensamento”. ARISTÓTELES. Poética. Trad. Baby Abrão, p. 43.
241 EN, VI, 1, 1139a 24-25. Ele diz: eiper hê proairesis spoudaia, em que “bom” aparece no sentido de sério. Esta palavra, como já anotamos (vide parágrafo 25 supra: “A virtude éti-ca como o meio termo entre o excesso e a escassez do desejo no horizonte das paixões”), guarda o sentido de “correto”, mas especialmente também de “esforçado”: o sério é o homem empenhado na realização de si mesmo em direção à sua melhor possibilidade.
242 EN, VI, 2, 1139a, 20-25. Rackham traduz: “desire must pursue the same things as prin-ciple affirms”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
243 “O princípio da ação – aquilo de que parte o movimento, não o fim que persegue – é a eleição, e o princípio da eleição é o desejo e a eleição orientada para um fim. Por isso nem sem entendimento e reflexão (nous e dianoia) nem sem disposição moral há eleição (ethikês e hexos) (proairesis)”. EN, VI, 2, 1139 a 30-33. Caeiro traduz nou kai dianoias por “pensamento teórico” (ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 135), mas talvez se equivoque. Aristóteles ali não está referindo a epistêmê como uma das operações ou virtudes da alma racional (aquela “científica”, que demonstra no horizonte dos objetos cujos princípios escapam ao poder conformador do humano). Ele quer antes chamar a atenção para o nous como princípio racional que está no humano (a sua parte divina – vide supra o parágrafo 21: “Os horizontes da ética: o humano entre o animal e o deus”) e a dianoia como atividade sua. Nous aqui se refere à sede da atividade (capacidade) racional em geral, sem distinguir ainda entre razão teórica e razão prática, como faz logo a seguir (mas apenas a partir do terceiro parágrafo do Livro VI).
Sensatez como modelo e desafio.indd 97 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles98
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
desejo e a razão são uníssonos, convergindo o que a razão aponta como verdadei-ro e o que o apetite persegue.
Tal harmonia é governada pela razão, pois a retidão do desejo funda-se na verdade do entendimento.244 A hierarquia entre as partes da alma sugere a hierar-quia entre as suas funções, e por isto o desejo deve acompanhar a razão, na realiza-ção da possibilidade mais própria do humano. A importância decisiva outorgada à razão desloca o centro da vida ética para o momento da decisão prática, pois é ali que o pensamento prático será exercitado e prestará o seu conselho ao desejo, disto resultando a decisão deliberada.
A especial relação, no agir, entre o desejar e o pensar, instaura a especificida-de do pensamento e da verdade prática,245 cuja singularidade demarca-se em face do pensamento teórico e à sua verdade. O pensamento teórico, que não diz respei-to à produção ou à ação, é correto ou incorreto conforme detecta a verdade ou en-volve-se em falsidade, a qual é função básica de todo pensamento. Mas a função do pensamento prático é especificamente obter a verdade que corresponde à intenção correta, ou ao desejo reto.246
A função própria (o trabalho específico, ou especificador) de todo pensar é a obtenção da verdade: nisso são comuns o pensar epistêmico (contemplativo) e o pensar calculativo (que inclui prática e arte, isto é, tudo quanto pode encontrar no homem o seu princípio). Mas o pensar epistêmico limita-se à revelação da ver-dade, e será bom ou mau conforme alcance essa finalidade. Já para o pensar prá-tico, a obtenção da verdade (e o seu sucesso enquanto pensar, isto é, seu ser bom ou mau) depende ainda de que à verdade encontrada ligue-se um desejar correto, isto é, de que o pensar seja fundador de uma intenção boa, pois o pensar apenas pode ligar-se a qualquer ação (e portanto, apenas pode tornar-se “prático”) por in-
244 EN, VI, 2, 1139 a 20-25.245 EN, VI, 2, 1139 a 23-30. Caeiro traduz: esse pensamento é prático e a verdade em ques-
tão diz respeito à ação. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 135. Rackham traduz: “We are here speaking of practical thinking, and of the attainment of truth in regard to action”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
246 EN, VI, 2, 1139 a 23-30. Rackham traduz: “The attainment of truth is indeed the func-tion of every part of the intellect, but that of the practical intelligence is the attainment of truth corresponding to right desire” – e anota: “i.e., truth about the means to the attainment of the rightly desired end”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 98 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
99A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
termédio de seu diálogo com o desejo (pois é nesta parte da alma que radica todo movimento).
Não se trata, nesta passagem, de afirmar que o pensamento teórico seja supe-rior ou que embase o pensamento prático, mas apenas de mostrar o que há de co-mum entre ambos: sendo formas do pensamento, têm ambos a comum finalidade de descoberta da verdade. Mas a busca da verdade singulariza-se nas questões da vida ética. É com o aprofundamento dos traços singulares deste tipo de pensamen-to que o Livro VI se preocupa.
A partir da consideração de que a descoberta da verdade é função de ambas as partes da alma capaz de razão, e de que as suas virtudes são disposições atinen-tes ao modo como se descobre a verdade da melhor maneira possível em cada caso (ou, como sublinha a tradução de Maria Araujo e Julian Marias,247 de que a virtude de cada uma será a disposição que mais favorecer a realização da respectiva verda-de), Aristóteles passa à investigação dos diferentes modos ou operações pelas quais a alma experimenta a verdade: a arte (tekhnê), a ciência (epistêmê), a sensatez (pru-dência: phronesis), a sabedoria (sophia) e o intelecto (nous).248 Na medida em que a sensatez é cotejada com cada uma destas outras virtudes intelectuais, ela resta me-lhor esclarecida em sua autonomia e em seus contornos específicos.
6.3 Sensatez e epistêmê (o pensamento prático em face do pensamento teórico)
As referidas operações ou atividades da alma pela qual a verdade é descoberta ou afirmada distinguem-se por seus objetos e por seus procedimentos. Aquela que mais sensivelmente se diferencia da sensatez é a epistêmê, que corresponde à racio-nalidade científica concebida sob o paradigma da matemática, e cujo procedimen-to é exclusivamente lógico-dedutivo, encontrando no silogismo o caminho para o cumprimento de seu fim: a revelação da verdade por meio da demonstração.
247 ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 91.248 EN, VI, 3, 1139, b 17-18. Caeiro traduz: perícia, conhecimento científico, sensatez, sa-
bedoria e o poder de compreensão (intuitiva). ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 135. Rackham traduz: “Let it be assumed that there are five qualities through which the mind achieves truth in affirmation or denial, namely Art or technical skill, Scientific Knowledge, Prudence, Wisdom, and Intelligence. Conception and Opinion are capable of error”. E anota: “tekhnê, Art, as appears below, stands for eutechnia and means here craftsmanship of any kind; it includes skill in fine art, but is not limited to it”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 99 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles100
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O conhecimento científico (epistêmê) exige a expressão rigorosa (com exa-tidão) dos fenômenos, não se contentando com semelhanças. Já isto faz apartar a epistêmê do pensamento prático, cujas exigências de exatidão e rigor são mitigadas necessariamente em razão da especificidade do seu objeto. Rigor desproporcional (excessivo, no caso da ética) ao objeto da investigação pode apenas obscurecer e impedir o aparecimento da verdade.249
O conhecimento epistêmico tem por objeto aquilo que não pode ser de outra maneira, no horizonte do necessário e eterno. O pensar que está em jogo, no hori-zonte desta virtude, é um saber das coisas capaz de reconduzi-las aos seus princí-pios. Apenas pode ser demonstrado o que é conforme a princípio imutáveis250 que, como tais, são independentes do humano. O universo da ética, que é o mesmo da sensatez, aparta-se nitidamente dos objetos do conhecimento científico; no hori-zonte da prática, trata-se do que pode variar exatamente em razão de encontrar no humano o seu princípio.
O conhecimento epistêmico pode ser ensinado e aprendido, pois o ensino de-pende da aquisição prévia de conhecimentos. Aqui reside uma importante distin-ção entre o pensar epistêmico e o pensar prático. No horizonte da ciência, o sabi-do pode ser ensinado porque ele é independente, em seu princípio e assim em sua existência, do poder performativo do humano, ao passo que a verdade no pensa-mento prático é ontologicamente dependente do poder constituidor do homem: “(...) enquanto, em suma, a filosofia teorética deixa, por assim dizer, as coisas como estão, aspirando apenas conhecer o porquê de estarem de certo modo, a filosofia prática, ao contrário, procura instaurar um novo estado de coisas, e procura conhe-cer o porquê do seu modo de ser apenas para transformá-lo”.251 A dependência re-lativamente ao humano, no desvendamento da verdade prática, estabelece-se em face do homem que deve agir: o que ele deve saber para agir não lhe pode ser ensi-nado, pois apenas pode surgir por força de seu próprio pensar. É o pensar na situ-ação concreta do agir que faz surgir a verdade prática, que não pode ser ensinada: o professor de ética ou o moralista nunca podem substituir o homem na ação, pois o conhecimento que está em jogo ali não é prévio à situação (ou não é totalmente prévio à situação).
249 EN, I, 1, 1094 a 11-13.250 EN, VI, 4, 1140 a.251 BERTI, Enrico. As razões de Aristóteles, cit., p. 116.
Sensatez como modelo e desafio.indd 100 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
101A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
A ciência (epistêmê) é descrita como uma disposição com caráter demonstra-tivo, ou apodíctica (hexis apodeiktikê).252 Aristóteles enfatiza que o conhecimento científico repousa sobre a posse segura dos princípios, mas enfatiza especialmente o seu aspecto metodológico, como pensamento que se desenvolve e descobre a ver-dade a partir da posse dos princípios.253
Nem sempre os leitores de Aristóteles têm muito claro que as virtudes inte-lectuais (dianoéticas), como virtudes, são disposições, ou hábitos, e como tais ex-pressivas do espaço de incompletude que caracteriza o humano, determinando-se/conformando-se por força de sua própria atividade. Falar de virtudes intelectuais é tratar da conformação do pensamento (do modo ou hábito do pensar), por for-ça do pensar. Esta característica também marca o conhecimento científico, que é uma disposição demonstrativa, isto é, é uma competência para fazer decorrerem conclusões verdadeiras a partir de princípios verdadeiros. É certo que as diferentes virtudes do pensar ostentam diferentes modos de constituição, ou de serem “con-quistadas”: mas todas têm de ser conquistadas, envolvendo um esforço do homem que apenas se pode tornar excelente naquela seara se se empenha na atividade pró-pria a que atine. Aristóteles lembra que o que marca a disposição científica é o fato de poder ser conquistada pelo ensino-aprendizagem.254 Mesmo aprender nunca é uma simples apropriação de algo que alguém dá ao homem, mas uma reconstru-ção compreensiva capaz de outorgar “segurança sobre algo”,255 tornando o titular de uma disposição demonstrativa bem constituída capaz de outros raciocínios deste tipo em outras oportunidades. Se a excelência epistêmica é uma disposição (hexis), também para ela vale dizer que o seu exercício atual é que capacita o homem para
252 EN, VI, 3, 1139 b 32. Tal como Rackham traduz: “Scientific Knowledge, therefore, is the quality whereby we demonstrate”, anotando que “Demonstration in Aristotle means proof by deduction”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. Sobre o caráter apodíctico do conhecimento científico há muito em outros textos de Aristóteles, vide BERTI, Enrico. As razões de Aristóteles, p. 43 e ss.
253 EN, VI, 3, 1139b 30-37. Adquire-se o conhecimento científico quando se alcançam os princípios e uma certa convicção” Na tradução de Rackham: “That a man knows a thing scientifically when he possesses a conviction arrived at in a certain way, and when the first principles on which that conviction rests are known to him with certainty – for un-less he is more certain of his first principles than of the conclusion drawn from them he will only possess the knowledge in question accidentally”. E a propósito anota: “i.e., the conviction may happen to be true, but he will not hold it as Scientific Knowledge in the proper sense of the term”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
254 EN, VI, 3, 1139b 26.255 EN, VI, 3, 1139 b 34.
Sensatez como modelo e desafio.indd 101 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles102
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
fazê-lo bem no futuro – também vale para as virtudes intelectuais o esquema des-critivo da constituição da excelência como um círculo virtuoso que caracteriza as virtudes éticas.
Ao tentar demarcar os contornos da sensatez, Aristóteles distingue a decisão (proairesis), que é a decisão em que culmina o pensar prático desvelador da verdade neste horizonte, de outras atividades com que confina. Esta análise mostra como a sensatez distancia-se da epistêmê ao evidenciar o caráter de procura ou indagação256 da proairesis. É verdade que procurar e deliberar são diferentes, mas quem delibe-ra procura algo.257 Se quem delibera procura, e se só se procura algo que ainda não se sabe, fica muito claro como o pensar prático – eminentemente zetético258 – apar-ta-se do pensamento epistêmico, pois a ciência para Aristóteles sempre já parte da posse dos princípios. O pensar prático não dispõe desde o início dos princípios que deve afirmar, mas deve, ao contrário, dar conta deles a cada vez.
Também a distinção entre a deliberação e a opinião (doxa) esclarece a distin-ção entre a sensatez e a excelência teórica (epistêmê), pois no campo da opinião, tudo aquilo de que se tem conceito já está determinado,259 ao passo que, quando se trata de agir, a verdade (prática) ainda está por ser construída.260
É muito importante compreender a diferença entre o pensamento prático – de que a sensatez é a excelência – e o pensamento teórico, que Aristóteles descre-ve por meio da epistêmê. Disto depende o entendimento do erro em que incorrem as concepções de ética e de direito que ignoram a especificidade do modo de pen-sar prático que está em jogo nestes seus horizontes e acabam por impor-lhes o pa-radigma epistêmico – lógico-dedutivo – em detrimento de sua específica natureza prático-normativa e retórico-argumentativa.
256 “Zêteô: to seek, to seek for”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.257 EN, VI, 4, 1140 a 1-23.258 Para uma reflexão sobre o direito “zeteticamente” orientada, vide FERRAZ JUNIOR,
Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação.259 EN, VI, 9, 1142 1-15.260 Esta distinção entre sensatez e doxa, mostrando o que esta tem em comum com a epistê-
mê, dá muito a pensar acerca da natureza da verdade prática, permitindo especialmente a ilação de que a correição da deliberação não se pode medir em face de qualquer outra coisa (instância) que não a retidão do próprio deliberar, ao passo que a opinião comparte com a ciência serem um certo saber de algo que é independente do humano. Isto chama a atenção para o característico inacabamento do mundo no horizonte da ética. O mundo sobre o qual se tem ciência ou opinião já está ultimado; o mundo prático aguarda pelo poder conformador da sensatez.
Sensatez como modelo e desafio.indd 102 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
103A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
Esta assimilação da ética e do direito ao paradigma epistêmico é o que procu-ramos denunciar como o fundamento de várias formas de cognitivismo. As con-cepções ético-jurídicas que assumem o paradigma epistêmico são cognitivistas na medida em que aceitam o postulado inicial e o programa simplesmente demonstra-tivo da epistêmê: isto é, na medida em que se autocompreendem como um pensa-mento que parte de princípios já disponíveis, cuja posse segura é o ponto de partida para operações dedutivas das quais é possível concluir a ação a cursar.
O paradigma epistêmico, imposto ao universo ético e jurídico, tem por con-sequência a ocultação de que o homem, quando pensa as coisas da ética e do di-reito, não pode esperar encontrar princípios de que partir, pois é ele mesmo o res-ponsável pela afirmação do princípio. A epistêmê é cognitivista na medida em que seu ponto de partida lhe é dado – e ela se cumpre como um simples pensar a partir destes postulados. Já na sensatez – paradigma do pensamento prático – é o próprio pensar o responsável pela afirmação do princípio.
Na excelência teórica, a posse segura dos princípios é o ponto de partida de todo raciocínio, e por isso o raciocínio que marca a epistêmê é a dedução – que é uma simples, porém rigorosíssima derivação de conclusões a partir de premissas dadas. O pensamento dedutivo é inteiramente tributário da posse de princípios a funcionar como premissas, de cuja verdade depende – a verdade da conclusão é consequência da verdade das premissas do silogismo.
Já para o pensamento prático, a posse segura dos princípios não é o pon-to de partida, mas é o objetivo do pensar: é o seu fim, juntamente com a desco-berta dos meios capazes de dar-lhe realidade. Não contando com o princípio a partir dos quais pensar, o pensamento prático tampouco pode conceber-se como uma dedução. Seu modo não é o demonstrativo, mas é a procura. Como Aristóte-les assinala, quem delibera indaga e calcula261 – toda deliberação é uma forma de aconselhamento,262 e a boa deliberação é uma espécie de retidão no processo de pensamento, relativamente à fase em que ainda não se chegou a uma declaração final.263
261 “Logizomai – to count, reckon, calculate, compute”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
262 EN, VI, 9, 1142 b 1. “Bouleuô: to take counsel, deliberate, concert measures”; “euboulia: good counsel, prudence”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
263 EN, VI, 9, 1142 b 1-10: a deliberação exige raciocínio, e a boa deliberação consiste na retidão do discurso. A opinião é uma forma de afirmação enquanto a deliberação é uma busca.
Sensatez como modelo e desafio.indd 103 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles104
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
6.4 Sensatez e habilidade técnica (o pensamento prático em face do pensamento técnico)
Assim como a sensatez, a excelência técnica e artística (tekhnê) atine ao pen-sar as coisas que encontram no humano o seu princípio.
A tekhnê, perícia ou excelência técnica, é a excelência da poiesis, traduzível como arte ou técnica, distinguindo-se da sensatez e da atividade a que atine, a ação (praxis). Neste horizonte do que pode ser de outra maneira, Aristóteles aparta o que é produtível daquilo que é realizável pela ação.264 Embora sejam ambas disposi-ções racionais, uma volta-se para a ação enquanto a outra para a produção.265
Na medida em que são atividades da alma racional (são dianoia), tanto a sen-satez quanto a excelência técnica são conformadas por um princípio racional. O resultado da conjugação do princípio racional (saber o que fazer) com a correta disposição produtora (saber como fazer) é a perícia técnica (tekhnê), a virtude do poder de produzir, disposição produtora conformada por um princípio verdadei-ro.266 A falta de perícia decorre da disposição produtora orientada por um princí-pio falso.267
Também aqui cabe assinalar que a excelência técnica (a tekhnê) é uma dispo-sição (hexis); uma virtude (ou hábito) intelectual e não ética. Não é um modo ou uma predisposição do desejar, mas uma disposição (predisposição) do modo de pensar as coisas da sua alçada. Mais uma vez, remarca-se como também a dimen-são da alma capaz de razão é susceptível de ser conformada pela atividade do ho-mem, em cujas mãos está a possibilidade de constituir a si não apenas como sensi-bilidade e desejo, como já registramos,268 mas também como pensamento. Aquilo que o homem é, enquanto pensamento, não se encontra de uma vez por todas dado, mas deve ser conquistado. No horizonte da técnica e da arte (poiesis), como se dá a conformação do pensar? Assim como a conformação do desejo é fruto da expe-riência do desejar em cada situação, e a conformação do pensar epistêmico é fruto da aprendizagem (que também é uma forma especial da experiência) como ativi-dade (aprende-se a demonstrar demonstrando), também a conformação do pensar
264 EN, VI, 4, 1140 a 2.265 EN, VI, 4, 1140 a 4-5.266 EN, VI, 4, 1140 a 10.267 EN, VI, 4, 1140 a 20-21.268 Foi este o escopo do capítulo 4 supra (“O poder e a responsabilidade do humano pela
determinação de si mesmo”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 104 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
105A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
como produzir resulta da própria atividade da produção. É por produzir bem em uma série de empreitadas que o homem se torna exímio naquela técnica.
Vale, novamente, o esquema que fenomenologicamente apreende a disposi-ção (hexis) e o exercício atual da razão em sua conjunção na atividade. Também para produzir bem é requisitado um hábito de produzir (hexis poiêikê), que se mol-da como resultado de suas experiências de produção. Pensemos na importância da experiência para o sucesso de um marceneiro. Mas isto não basta para produ-zir bem: para tanto, é requerido sempre, a cada vez, o exercício da razão como apa-recimento da verdade atinente à produção, que orientará o desempenho desta ati-vidade produtiva (aqui e agora), com a consequência também de reconformar a disposição ou hábito produtivo daquele homem. Embora a disposição produtiva (construída pelas experiências anteriores da produção) seja requerida em todo pro-duzir, apenas o exercício atual do pensar pode revelar, na situação concreta, a ver-dade envolvida na produção desta obra; tal produção será excelente apenas se a dis-posição produtiva se fizer acompanhar do princípio (arkhê) verdadeiro.269 Neste caso, trata-se de um produzir bom ou correto, e a disposição constituída por força do poder “habituador” (constitutivo) da própria atividade será uma disposição ex-celente, uma virtude do pensar no horizonte da produção: tekhnê.
O campo de aplicação da excelência técnica é a geração de alguma coisa. Toda perícia visa a trazer algo à existência.270 É claro que não se compreendem em seu horizonte os entes que são intrinsecamente necessários ou por natureza, que são objeto antes do conhecimento científico, que pensa entes que encontram seu prin-cípio fora do humano, ao passo que, no horizonte da técnica, assim como no da éti-ca, o princípio está no homem.
269 Voltamos a tratar do modo como produzir envolve sempre a cada vez a visão de um prin-cípio verdadeiro, quando discutimos a phantasia como atividade do nous que faz apa-recer o princípio (do produzir, na produção, do agir, na praxis). Vide infra o parágrafo 48 (“Phantasia e a compreensão do universal e do particular na racionalidade prática: a implicação recíproca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequação do ‘silogismo prático’ como modelo explicativo do agir”).
270 EN, VI, 4, 1140 a 21-23. Na tradução de Rackham: “And to pursue an art means to study how to bring into existence a thing which may either exist or not, and the efficient cause of which lies in the maker and not in the thing made; for Art does not deal with things that exist or come into existence of necessity, or according to nature, since these have their efficient cause in themselves”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 105 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles106
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Na tentativa de esclarecer os pontos de contato e as diferenças entre a exce-lência técnica e a sensatez (que é o mesmo que distinguir a poiesis da práxis, o pro-duzir/fazer e o agir271) há dois elementos a desafiar a atenção do intérprete. Além da comum atinência ao acaso (tukhê)272 (o acaso também compõe o horizonte da perícia assim como integra constitutivamente o horizonte da ética), sugere-se uma interessante analogia entre a perícia técnica e a sensatez. A tekhnê é a excelente disposição que soma à capacidade para a produção (habilidade técnica) a correta percepção do fim do produzir, no produzir: neste caso, será correta e exímia a pe-rícia. Analogamente, e relativamente à sensatez, a proairesis, para ser louvável, de-manda um hábito do desejar que se faça acompanhar da correta percepção do fim em cada situação concreta. Aristóteles está sugerindo uma analogia entre a capaci-dade ou habilidade do técnico e o caráter do homem? A corroborar esta sugestão está a ideia de que ambas são disposições obtidas pelo exercício, ligando-se a cada produzir ou agir concretos.
A diferença entre a ação e a produção é que a ação é ela mesma o fim do agir, enquanto no produzir o fim não está nele mesmo como atividade, mas na obra que dela resulta.273 Tal como a tradução de Caeiro capta,274 na verdade o próprio agir bem é o objetivo final do agir, enquanto a produção boa visa à obra, que lhe é exterior.275
271 Salgado desenvolve uma interessante reflexão sobre o direito e o Estado a partir destas diferentes matrizes. Vide SALGADO, Joaquim Carlos. Estado ético e Estado poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vol. 27, n. 2, p. 37-68.
272 EN, VI, 4, 1140 a 19: tukhê.273 Rackham traduz: “Doing and making are generically different, since making aims at an
end distinct from the act of making, whereas in doing the end cannot be other than the act itself: doing well is in itself the end”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
274 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 137.275 Esta é uma das vias de demonstração da superioridade da sensatez sobre a tekhnê, ou do
agir sobre o produzir. Tal como Aristóteles remarca no início da Ética a Nicômaco, há “uma diferença entre os fins: uns são, por um lado, as atividade puras; outros, por outro lado, certos produtos que delas resultam para além delas: o produto do seu trabalho. Há, pois, fins que existem para além de suas produções. Neste caso, os produtos do trabalho são naturalmente melhores do que as meras atividades que as originam” (EN, I, 1, 1094 a 5-10) (…) “Se, por conseguinte, entre os fins das ações a serem levadas a cabo há um pelo qual ansiamos por causa de si próprio, e os outros fins são fins, mas apenas em vista desse; se, por outro lado, nem tudo é escolhido em vista de qualquer outra coisa (…) é evidente, então, que esse fim será o bem, e, na verdade, o bem supremo”. EN, I, 2, 1094 a 18-22.
Sensatez como modelo e desafio.indd 106 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
107A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
À medida que a produção (poiesis) sempre objetiva uma obra (que é distinta e exterior à atividade que a enseja), o pensar que ela é pode se conceber como um meio relativamente a esta obra, a que tende. O pensar como produzir é sempre um pensar mobilizador de meios em favor da realização do fim (a obra) e por isto mui-tos reduzem a poiesis a uma habilidade na gestão de meios. Esta redução da tekhnê a uma competência na gestão de meios tem paralelo numa interpretação recorren-te da sensatez que também a reduz a uma competência na gestão de meios, levan-do a uma assimilação da sensatez à tekhnê, vistas ambas sob esta perspectiva. Mas este enfoque, no entanto, compreende mal tanto a sensatez como a tekhnê. A recor-rente interpretação que afirma que a tekhnê é mera mobilização de meios convida à assimilação da sensatez à tekhnê em propostas como a de Aubenque,276 que tam-bém reduz o pensamento prático à gestão de meios sem que envolva a determina-ção do fim do agir. Além de ser uma má interpretação da sensatez e da proairesis, esta é da mesma forma uma má interpretação da tekhnê, pois ignora que também a tekhnê é uma disposição constituída mediante uma atividade orientada por um princípio verdadeiro. A tekhnê (assim como a sensatez) não envolve apenas a ad-ministração de meios. A leitura da Ética a Nicômaco deve resgatar o parentesco da poiesis com a praxis (por seu comum pertencimento ao horizonte dos objetos que encontram no humano seu princípio) e tentar reinterpretar a produção técnica sob o influxo da ética, no sentido de tentar fazer compreender que também na tekhnê, como pensar marcado pela excelência, não se pode prescindir de uma correta apre-ensão do fim do produzir. Isso pode revelar como o fim da técnica é desvelado tam-bém a cada vez, e como seus valores e modelos são construídos historicamente, no contexto compartilhado de uma comunidade concreta dentro da qual um homem pode tornar-se exímio tecnicamente. O “ideal” na arte ou na arquitetura não está definido de uma vez por todas e independentemente do artista: a verdade da arte é a cada vez desvelado, a cada vez aparece por força e esforço do artista e do outro (que aprecia a obra) posto em relação com ele por meio da obra de arte.
Subsiste de todo modo a diferença respeitante à imanência do fim no agir e à transcendência do fim no produzir: a ação é ela mesma o fim na praxis, enquanto na produção o fim, que é a obra, não se confunde com o produzir.
Isto é assim se se considera a produção e a ação tendo em vista os seus fins imediatos (a obra e a ação). Mediatamente considerados, tanto a produção como a ação (assim como a demonstração, na epistêmê), têm como resultado também o
276 AUBENQUE, Pierre. A prudência em Aristóteles.
Sensatez como modelo e desafio.indd 107 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles108
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
homem – têm o homem como obra de sua própria atividade, na medida em que este se autoconstitui, como disposição/inclinação (hexis), ao produzir, agir ou de-monstrar. Neste sentido, a produção, a ação e a demonstração têm em comum o fato de encontrarem no homem seu mais perene fruto. Destas atividades resultam, respectivamente, o perito técnico, o homem de caráter (e sensato: phronimos) e o cientista.
6.5 Nous e sensatez
A excelência epistêmica (epistêmê), como busca demonstrativa da verdade, é um saber raciocinar partindo de princípios fundamentais de cuja posse ela não pode prescindir, embora não sejam ministrados pela própria ciência. A epistêmê, como tal, não dá conta do desvelamento dos primeiros princípios dos quais parte. O problema que então surge é: como se alcança o saber sobre os primeiros princí-pios, dos quais parte a ciência?
Para Aristóteles, a apreensão dos primeiros princípios é a função do nous.277 Rackham adverte que esta palavra encontra diferentes usos no discurso aristotélico, e cumpre assinalar o seu sentido específico na passagem em exame, em que figura como uma das virtudes da alma racional:278 trata-se aqui da excelência da específi-ca capacidade ou atividade de afirmação dos primeiros princípios.
Esta descrição do nous como atividade ou poder de revelação dos primeiros princípios do pensar mostra que há algo importante em comum entre sensatez e nous, pois também a sensatez abre para um limite extremo do pensar. Enquanto o nous abre para os princípios axiomáticos (que não requerem esclarecimento de qualquer tipo), a sensatez abre para o limite extremo de cada situação particular, sobre a qual não há conhecimento científico, mas uma espécie de percepção, ponto em que também “é preciso parar”.279
Tanto a sensatez como o nous tem por objeto a revelação de algo que é extre-mo ou limite. O limite (horos) que é objeto do nous consiste nos princípios primei-
277 EN, VI, 6, 1141 a 7.278 Rackham anota: “Nous now receives its special sense of a particular virtue of the intellect,
viz. that faculty of rational intuition whereby it correctly apprehends undemonstrable first principles. It is thus a part of sophia”. ARISTÓTELES.. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
279 Caeiro usa aqui (EN, VI, 8, 1142 a 28) também “intuição”, para traduzir aisthêsis. ARIS-TÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 143.
Sensatez como modelo e desafio.indd 108 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
109A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
ros sobre os quais não há raciocínio (os princípios da ciência não são alcançáveis por demonstração, pois todo raciocínio demonstrativo deve partir já da posse dos princípios). Trata-se de um extremo “universal”. Já a sensatez refere-se ao outro ex-tremo do pensar, pois envolve um saber-limite sobre o particular, sobre o qual tam-pouco há ciência, mas percepção sensível.280
Este saber-limite envolvido na sensatez não é uma percepção das “proprieda-des” de um objeto, mas sim aquela do mesmo tipo que está em jogo quando se per-cebe ser o triângulo a menor figura plana concebível, no exemplo que dá o texto.281 A sensatez abre para o extremo do caso particular.282 A percepção do extremamente particular de que a sensatez dá conta é a percepção das circunstâncias particulares da situação e envolve especialmente a percepção da situação como uma situação, na realização assim da síntese da unidade intencional da situação ética, compreen-dendo a sua própria presença em uma situação que requisita a ação e na qual o ho-mem há de constituir-se, como caráter e como inteligência.283
A possibilidade da ação atine às situações que a cada vez se constituem em particular e nos seus limites extremos. O sensato (phronimos) também deve reco-nhecer a particularidade e o limite das situações que a cada vez se constituem.284
280 EN, VI, 7, 1141 b 1-15.281 EN, VI, 5, 1140 b 12-15. Também em De Anima, II, 414 b 20: “Implica o mesmo tipo de
unidade que aquela respeitante à noção de figura em geometria; neste último caso, não poderá existir figura alguma para além da do triângulo e seus respectivos derivados”. ARISTÓTELES. Da alma (De Anima). Trad. Carlos Humberto Gomes, cit., p. 58.
282 A ação é ela mesma um extremo e requer um poder de compreensão extremo (aisthê-sis como intuição). Caeiro anota que “o termo aisthêsis tem várias acepções: percepção, sensação, impressão e, como aqui, intuição”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 266.
283 De Anima, III, 434 a 17-20: “Assim sendo, três espécies de movimento podem ser ao ani-mal imprimidas. Naquilo que à faculdade intelectual diz respeito, coisa alguma poderá ela mover, permanecendo ela, pelo contrário, em repouso. Ora, aquilo que, por um lado, a distingue será o julgamento ou a proposição que visa o universal, e aquilo que, por outro, é relativo ao singular (no primeiro caso enuncia-se a necessidade de se realizar a acção; no segundo, a situação de ser a mesma acção aquela cujo sujeito qualificado sou seu). Sendo assim, é próprio da opinião da segunda espécie imprimir o movimento (…)”. ARISTÓTELES. Da alma (De Anima). Trad. Carlos Humberto Gomes, cit., p. 116. Vide infra o parágrafo 48 (“Phantasia e a compreensão do universal e do particular na racio-nalidade prática: a implicação recíproca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequação do ‘silogismo prático’ como modelo explicativo do agir”).
284 EN, VI, 9, 1142b 20-21. Ter entendimento e poder de compreensão atinem às situações particulares da ação, pois tais situações são limite. EN, VI, 7, 1141b 15.
Sensatez como modelo e desafio.indd 109 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles110
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O saber envolvido na sensatez é um saber atinente às situações da vida; nas passagens em exame, Aristóteles atenta para este importante aspecto da sensatez; mas isto não significa que a sensatez seja apenas um saber sobre o peculiar, o par-ticular, e que não compreenda também a descoberta de um elemento universal.285
6.6 Sabedoria teórica (sophia) e sensatez
A aproximação do tema da sabedoria (sophia) dá-se com recurso ao que Aris-tóteles encontra na tradição e na opinião comum, que emprega a palavra sábio (so-phos) para qualificar os melhores em cada arte, como sinônimo de especialista, ou perito.286 No contexto porém das virtudes do pensar, a sophia interessa especial-mente como um saber que distingue aquele que é sabedor em geral, e não em de-terminada seara.
A sabedoria é o mais perfeito (rigoroso) entre todos os modos de saber.287 Ela compreende, ao mesmo tempo, o poder do raciocínio demonstrativo (que faz de-correrem conclusões dos primeiros princípios) e o poder de descobri-los. O sophia assim não se resume na epistêmê, pois também envolve o poder de revelar os pri-meiros princípios do saber. O sábio é capaz de os revelar, ou desocultar, enquanto o pensar epistêmico envolve apenas a demonstração a partir de princípios de cuja gênese não dá conta.
A sophia é, portanto, uma combinação entre a epistêmê e o nous,288 pois envol-ve tanto a capacidade de demonstrar a partir de princípios (raciocínio próprio da ciência) como a capacidade de descobrir estes mesmos princípios axiomáticos, ati-vidade própria do nous.
É possível estabelecer certa analogia entre a sophia e a sensatez relativamente a este ponto: ambas são virtudes que envolvem o raciocínio, mas não se limitam a
285 Voltaremos a este ponto. Vide infra o parágrafo 48 (“Phantasia e a compreensão do uni-versal e do particular na racionalidade prática: a implicação recíproca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequação do ‘silogismo prático’ como modelo explicativo do agir”).
286 Uma das palavras importantes para compreender o sentido da ética como ciência e como um saber voltado para a vida é akribês (“exact, accurate, precise, made or done to a ni-cety”: LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.) A ética tem seu rigor próprio. Como todo saber, deve adequar suas exigências de precisão às possibilidades e exigên-cias do objeto.
287 EN, VI, 6, 1141 a 8-11.288 EN, VI, 6, 1141a 17-18.
Sensatez como modelo e desafio.indd 110 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
111A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
ele, pois implicam também a descoberta ou a afirmação dos princípios do raciocí-nio. Enquanto o raciocínio ativado pelo sophos (sábio) é a demonstração, o raciocí-nio do sensato (phronimos) é a deliberação.
A sophia é o conhecimento principal,289 porque pensa o que há de mais nobre entre todas as coisas. Para Aristóteles, a dignidade dos objetos sobre que versa o pensar determina a dignidade do próprio pensar,290 e é por este motivo que ele afir-ma que nem a política e nem a sensatez são o mais elevado saber, pois o seu objeto, o homem, não é o que há de mais elevado no universo.291
Apenas a sabedoria teórica (sophia) (como ciência mais inteligência: epistêmê e nous) atine aos objetos mais exaltados, e há qualquer coisa de sobre-humano (e portanto, de inumano) nela. Pode acontecer de o sábio não ter sabedoria prática, não ser phronimos, como se diz de Tales e de Anaxágoras, na medida em que sinali-zam desprezo por seus próprios interesses enquanto humanos.292 Embora detento-res de um conhecimento raro e maravilhoso (além do humano), esse conhecimen-to é inútil para a ordem da vida, pois eles não procuram saber das coisas boas para o ser humano,293 que é próprio da sensatez.
A sensatez aparta-se da sabedoria teórica (sophia) porque atine aos assuntos do humano, a tudo quanto pode ser objeto de deliberação. O homem sensato (phro-nimos) demarca-se por deliberar bem, e apenas se delibera sobre o que varia e so-bre o que pode ser meio relativamente a algum fim (um bem possível de ser obtido
289 A palavra usada para adjetivar este saber na passagem em questão é kephalê, que tem re-cebido traduções muito diferentes. Kephalê resulta na língua portuguesa palavras como “cefálico”, relativo à cabeça, que é ainda esclarecedor do seu sentido ali: principal, primei-ro, superior, nobre. Os autores traduzem como “consolidado”, “total”. Creio que pode ain-da significar “extremo”, sentido mais apropriado para seu aparecimento neste contexto.
290 A possibilidade de conhecer (gnosis) da alma funda-se numa semelhança ou parentesco (omoiotetá tina kai oikeioteta: EN, VI, 1, 1139 a 10) entre o ente a conhecer e a alma que conhece. Para entes de distinto gênero, partes da alma de distinto gênero. Rackham tra-duz: “Knowledge is based on a likeness or affinity of some sort between subjet and objet”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
291 EN, VI, 7, 1141 a 18-22: “It must be a consummated knowledge of the most exalted objets. For it is absurd to think that Political Science or Prudence is the loftiest kind of knowledge, inasmuch as man is not the highest thing in the world”. ARISTÓTELES.. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham.
292 EN, VI, 7, 1141 b 1-9.293 EN, VI, 1141 b 3-8: “They yet declare this knowledge to be useless, because these sages
do not seek to know the things that are good for human beings”. ARISTÓTELES. Nico-machean Ethics. Trad. H. Rackham.
Sensatez como modelo e desafio.indd 111 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles112
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
por meio da ação). Delibera bem quem é capaz de chegar, pela deliberação, ao me-lhor bem alcançável pelo humano.294 Já o horizonte da sophia é o daquilo que inde-pende do humano. Seus objetos mais exaltados exatamente por serem autossubsis-tentes em si mesmos.
A sensatez distingue-se ainda da sophia por não ser apenas o conhecimen-to de princípios gerais, ou dos primeiros princípios, pois o agir, em que o homem sensato é expert, lida com fatos particulares, dos quais a sensatez também deve dar conta.295 No exemplo de Aristóteles, não basta saber que carnes leves são mais sau-dáveis (exemplo de conhecimento geral), é ainda preciso saber quais carnes são le-ves – é imprescindível saber se esta carne, aqui, é leve (exemplo de conhecimento do particular). Por isto aquele que não conhece os princípios gerais pode eventual-mente ser mais phronimos que aquele que os tem.296 Aristóteles não pretende aqui afirmar que a sensatez não envolve ou não requer o conhecimento geral, mas pro-cura atentar para o que a distingue da sophia.297 A sophia nunca é um conhecimen-to do particular, horizonte este ontologicamente menos nobre (porque mais huma-no) a que atine a sensatez.
294 EN, VI, 5, 1141 b 13-15.295 Isto aumenta a dificuldade envolvida no seu exercício: na deliberação (atividade racioci-
nadora no agir, de que o phronimos é especialista) corre-se duplo risco de errar: quanto ao universal e quanto ao particular.
296 Por esta razão, a sabedoria teórica (sophia) não se confunde com a ciência política: se o conhecimento do bem peculiar e próprio do ser vivo fosse a sabedoria, haveria diversas formas de sabedoria, uma para cada espécie. Não pode haver uma única sabedoria para tratar do bem de todas as espécies como não pode haver uma única medicina para todos os tipos de seres vivos (e nem sequer é o homem o mais divino dos entes). EN, VI, 7, 1141 b 16-17.
297 Além do conhecimento do que é geral, a sensatez é também um conhecimento do que é particular. Rackham traduz: “And Prudence is concerned with action, so one requires both forms of it, or indeed knowledge of particular facts even more than knowledge of general principles”. O homem excelente no pensar as coisas práticas deve possuir ambas as formas de saber (o universal e o particular), mas mais do particular do que do univer-sal. EN, VI, 1141 b 20-21. Ainda com Rackham: “Though here too there must be some supreme directing faculty”. O tradutor também anota: “i.e., politikê, Political Science or Statesmanship, the relation of which to Prudence is next considered”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. Caeiro: “Também aqui deve haver uma perícia orientadora que lança as bases a partir de princípios fundamentais” (eiê d’ an tis kai en-tautha architektonikê)”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 141). Araujo e Marias: “Mas também ao que a ela se refere deve haver uma fundamen-tação”. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 95.
Sensatez como modelo e desafio.indd 112 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
113A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
6.7 Sunesis e gnômê no horizonte da sensatez
Ainda para esclarecer os contornos da sensatez, Aristóteles aparta-a de duas outras capacidades ou disposições intelectuais (sunesis e gnômê) as quais atinam aos mesmos objetos que a sensatez, habitando o seu mesmo horizonte: a sensatez tem algo em comum com a sunesis, mas não se confunde com ela.
A sunesis, que pode traduzir-se por entendimento, não se confunde com a ci-ência nem com a opinião, pois seu horizonte não é o das coisas eternas e imutáveis e nem das coisas que sucedem o mais das vezes, mas daquilo sobre que se delibe-ra: o mesmo da sensatez. Mas a sensatez tem função de comando (ou, como tradu-zem Maria Araujo e Julian Marias, a sensatez é normativa298): seu fim é determinar o que se deve fazer. Já o entendimento tem uma função apenas de discernimento (kritikos299) acerca do que se passa na praxis.
O entendimento (sunesis) não é o mesmo que ter ou adquirir sensatez. O en-tendimento é o que se exercita na opinião para julgar sobre as coisas no horizonte da prudência tal como nos fala o outro, para julgar retamente. É o poder de enten-der a situação mesmo que não nos encontremos nela, fazendo com que sejamos ca-pazes de opinar sobre ela.
A sunesis está compreendida na sensatez: ela é uma capacidade de discernir no horizonte da prática, e assim é um poder de apreender uma situação como uma con-dição que desafia o agir e que, portanto, coloca o ser do humano em jogo. Mas à sune-sis escapa o poder de determinar o agir, na medida em que não é normativa, como o é a sensatez. E a sunesis é muito importante para compreender a vida ética do ponto de vista da comunidade, pois por ela é que um terceiro, que não está envolvido numa si-tuação ética, torna-se capaz de compreendê-la e avaliá-la. A sunesis compreende uma parte da sensatez (eis que em todo decidir, é mobilizado um discernir); quando des-provida da sua função normativa (isto é, quando retirada do horizonte do agir con-creto), ela de certa forma comparece como o pensamento prático do ponto de vista do terceiro, que não é diretamente afetado pela situação, mas que é capaz de julgá-la, emitindo um juízo de valor sobre a ação dos humanos empenhados naquela situação.
Integrante também do seu horizonte, o poder de ser compreensivo (gnômê) é da mesma forma essencial para compreender a sensatez – com a qual, no entanto,
298 EN, VI, 10, 1143 a 8-9.299 EN, VI, 10, 1143 a 10. Sobre esta palavra, vide a nota que consignei no parágrafo 49 (“A
razão prática como a mobilização de meios e a afirmação de fins do humano”), infra.
Sensatez como modelo e desafio.indd 113 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles114
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
tampouco se confunde. Ser compreensivo (ter gnômê300) significa ser capaz de com-preender a dimensão humana – contingente e precária – do estar diante de uma si-tuação ética, e é uma especial capacidade de compreender a peculiar dificuldade que sempre está envolvida nisto (no agir a cada vez).
A gnômê é descrita assim como o discernimento reto do equitativo, ou como a própria capacidade de ser equitativo. É, portanto, certa capacidade de perdoar, pois do homem equitativo diz-se que tem infinita capacidade de perdoar.301
A gnômê é uma faceta da sensatez que revela como o pensamento prático, quando é correto, é sempre uma forma de justiça, ou é instituidor da justiça (da jus-tiça da ação e por consequência da justiça do caráter do homem que age). Trata-se aqui da justiça em sua mais radical acepção: todo pensamento prático é um pensa-mento que discerne o equitativo, o justo adequado ao caso.302 Estas passagens do Li-
300 EN, VI, 10, 1143 a 08: este “normativo” é epitaktikê, cuja entrada no Liddell-Scott de-nuncia seu caráter autoritativo, decisivo: “epitak-tikos (...) A. commanding, authoritative, Arist. EN1143a8; hê e. tekhnê the art or faculty of command, Pl.Plt.260c sq.; so to e. meros ib.b. Adv. -kôs D.S.15.40”. Já a sunesis é simplesmente kritikê (EN, VI, 10, 1143 a 10): “Kri-tikos: able to discern, critical”. “krit-ikos (...) A. able to discern, critical, dunamis sumphu-tos k. Arist. APo.99b35 ; ouk ekhei rhina kritikên pros toupson Posidipp.1.4 ; aisthêseis k. Phld.Mus.p.8 K.; to k. the power of discerning, Arist.de An.432a16; hê kritikê (sc. tekh-nê) Pl.Plt.260c, etc.: c. gen., hê geusis tôn skhêmatôn kritikôtatê Arist.Sens.442b17 , cf. Thphr.Sens.43, Ocell.2.7; of persons, [ton holôs pepaideumenon] peri pantôn hôs eipein k. tina nomizomen einai Arist.PA639a9 : esp. in language, grammarian, scholar, literary critic, Pl.Ax.366e, Phld.Po.5.24, Str.9.1.10, etc.; of Crates, Ath. 11.490e, who distd. k. and grammatikos, S.E.M.1.79; ei dunatai tis einai k. kai grammatikos, title of work by Galen (Libr.Propr.17); but tôn husteron grammatikôn klêthentôn proteron de k. D.Chr.53.1 , cf. Apollod. ap. Clem.Al.Strom.1.16.79; hoi k. tôn logôn Philostr.VS 2.1.14 ; pros tous k., title of work by Chrysippus, Stoic.2.9; hê k., opp. hê grammatikê, Taurisc. ap. S.E.M.1.248, cf. Sch.DTp.3 H. Adv. -kôs, ekhein tinos Artem.4 Praef., cf. Erot.Praef.p.7 N., Men.Rh. p.391 S. 2. of or for judging, arkhê k. the office of judges, opp. arkhê bouleutikê, Arist.Pol.1275b19. II. = krisimos, hebdomas Ph.1.45 (Sup.), cf. Plu.2.134f, Gal.9.93, al. Adv. -kôs Id.UP17.2 , al”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
301 EN, VI, 11, 1143 a 19-21. É ter capacidade de perdoar certas coisas. Perdão é capacidade de ser compreensivo.
302 EN, 11, 1143 a 30-35. As disposições de ser compreensivo, ter entendimento, sensatez e compreensão, tendem todas para o mesmo fim. Tudo são poderes de chegar ao extremo de cada situação que a cada vez se constitui na sua peculiaridade. Quem tem discerni-mento das coisas que atinem ao sensato, mostra ter entendimento e ser compreensivo ou ter capacidade de perdoar: as ações equitativas são comuns aos homens de bem nas suas relações com outrem. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 146.
Sensatez como modelo e desafio.indd 114 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
115A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
vro VI são essenciais para compreender como a sensatez se liga à virtude da justiça, permitindo perceber como ser justo não pode prescindir de uma competência no pensar as coisas da prática, pois é esta capacidade de pensar cada situação em sua especificidade que dá condições ao justo de ser justo a cada vez, sendo capaz de en-contrar o meio-termo que a ação boa deve realizar ali, a partir das circunstâncias concretas em que se encontra. Ter gnômê no sentido de ser compreensivo diz do po-der de compreender cada situação em sua absoluta singularidade, e da capacidade de julgar a ação do humano sempre tendo em vista as exigências da situação em que se encontra e de suas possibilidades concretas. Saber fazê-lo é de certa forma saber perdoar porque é compreender a premência com que o agir se deu ali, e reconhecer a pressão que a paixão imprime ao desejo. Mas não é, evidentemente, ignorar a res-ponsabilidade pelo agir, Ser compreensivo é saber perdoar no sentido de compreen-der que agir bem não é cumprir a lei em todo o seu rigor com sacrifício do que surge como belo, bom e justo no contexto da circunstância real. É ao contrário reconhecer que o agir transcende a regra preexistente ao agir, exatamente porque apenas no agir é que surge a imagem do justo, em favor do qual pode ser necessário agir de modo diverso daquele que prescreve a lei (só então surge a regra). Já tratamos deste assun-to quando falamos da equidade.303 O que gostaríamos de ressaltar agora é que a pre-sença da gnômê no Livro VI, como algo que se dirige ao mesmo fim que a sensatez, corrobora a leitura de que o pensamento prático envolve sempre a descoberta de um universal (afirmando o que é bom, belo e justo para o humano, no agir) – e que este universal não é algo que preexiste ao pensar a situação, mas sim algo que se perfaz apenas ao ensejo da situação. Enfim, assinalar que a sensatez, como gnômê, é um pensar que dá conta do desafio de ser equitativo sempre e a cada vez – e que o pen-sar prático não se basta com um sentido preexistente a ser simplesmente aplicado, como via de regra a lei vem sendo pensada na tradição ética e da ciência do direito.
6.8 Sensatez e sophia e a realização da felicidade como fim do humano
Para que servem as virtudes intelectuais? Qual a sua relação com a autorrea-lização humana, com a conquista da felicidade? Não é fácil concluir sobre o lugar de cada uma das virtudes intelectuais e o cumprimento do fim do humano, pois em distintas passagens da Ética a Nicômaco Aristóteles faz afirmações diferentes relati-vas ao compromisso das diversas virtudes para com a felicidade.
303 Vide supra o parágrafo 32 (“Lei e equidade”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 115 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles116
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Assim, no parágrafo 12 do Livro VI,304 ele afirma que a sabedoria não atine a nada daquilo que faz o humano feliz (ela não tem nada a ver com a possibilidade de algo se gerar). Já a sensatez tem essa possibilidade. Em outra passagem, porém, ele afirma que a sensatez é inferior à sabedoria, e que seria absurdo se aquela tives-se mais autoridade do que esta305 – afirmação que se deve à maior dignidade que a sophia ostenta em razão da maior dignidade dos seus objetos.
Uma leitura de conjunto mostra que tanto a sophia como a sensatez atinem ao cumprimento do fim do humano. Aristóteles afirma que a sabedoria e a sensa-tez são possibilidades preferenciais: cada uma delas sendo a possibilidade extrema da parte da alma a que inere. Assim como a sensatez, também a sophia cria a felici-dade: sendo parte da excelência total, torna feliz quem a possui, o seu acionamen-to é causa da felicidade.
Mas é a sensatez a virtude que se identifica como cumprimento do humano enquanto humano: o trabalho específico do humano cumpre-se na medida em que é feito de acordo com a sensatez e a excelência do caráter.
A afirmação da sophia como o paradigma da boa vida, que soa como um eco do platonismo, é no entanto coerente com a concepção aristotélica do humano como tendo na sua parte racional – e na parte superior de sua razão – a sua parte mais divina, por ter por objeto as coisas mais divinas: e viver de acordo com esta sua parte mais divina é a melhor possibilidade do humano. Ser feliz é realizar a sua melhor possibilidade, e é, portanto, viver como atividade contemplativa.
Mas esta conclusão ao mesmo tempo estabelece uma tensão com o caráter hí-brido do humano: embora a razão contemplativa seja o mais divino que há no hu-mano, ela não resume o humano, cuja realização ou cumprimento se dá antes na atividade pela qual se mostra como especificamente humano – como ser híbri-do, portanto, deus e animal, razão e desejo. Tal atividade é a vida ética, a um tem-po fundada na excelência no pensar como sensatez e no desejar como virtude éti-ca, como caráter – ou como justiça, sua mais radical síntese. Se a felicidade é o bem do humano, e o bem é plenitude do ser como cumprimento de sua função específi-ca, resta mais bem descrita a felicidade, em termos aristotélicos, como uma ativida-de segundo a virtude (ética, e sensatez), o que faz do homem sensato (phronimos) – que é ao mesmo tempo também sério e justo – o paradigma do homem feliz, do homem que alcança enfim um bom destino para si.
304 EN, VI, 12, 1137 a 2-4.305 EN, VI, 7, 1141 a 30-35.
Sensatez como modelo e desafio.indd 116 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
117A excelência da razão prática entre as virtudes do pensar: o Livro VI da ética a Nicômaco
A felicidade como contemplação (sob o paradigma da sophia) é o melhor que um homem pode pretender alcançar, mas este fim na verdade transcende as suas forças como humano: como atividade permanente e ininterrupta (tal como Aris-tóteles descreve a felicidade quando enfim conquistada), esta não é a atividade de um humano, mas a de um deus. A contemplação como paradigma da vida boa não pode ser cumprida pelo humano senão fragmentariamente, pois o homem é sem-pre convocado para as situações concretas da vida, devendo agir em situações coti-dianas em que o pensar requisitado é o prático e não o teórico; cuja excelência exer-citada é a sensatez e não a sophia.
Esta questão levanta as maiores disputas na interpretação da ética aristotélica. De toda sorte, mesmo admitindo a vida contemplativa como a felicidade em Aris-tóteles, não se deve ignorar a importância que a sensatez tem relativamente à felici-dade, pois a sensatez será capaz de outorgar condições para que o homem se pos-sa retirar com o sossego suficiente e necessário para a atividade contemplativa, pela qual o homem se realiza como sábio.306
6.9 Sensatez e esperteza (deinotês)
No horizonte da sensatez encontra-se ainda a deinotês, traduzível como es-perteza, que é a habilidade em realizar ações capazes de atingir um fim qualquer. Esta capacidade pode existir no humano independentemente da bondade dos fins em favor dos quais é mobilizada. Se o fim é magnífico, esta capacidade é louvável, mas se o fim é mau, tal capacidade aparece como pura malícia. Tanto os sensatos como os maldosos são espertos. A sensatez não existe sem a esperteza.307 deixan-do claro como ela está compreendida na sensatez, sem se confundir com ela, no entanto.308
306 Está em jogo aqui a ideia de que a felicidade, como atividade da parte teórica da alma, não pode ter lugar senão após a autoconquista do humano como temperado/virtuoso: esta conquista é essencial como uma libertação da escravidão em face da parte inferior do homem… por um lado. Por outro lado, ser phronimos é a felicidade que o homem pode almejar como humano: o homem não pode retirar-se senão temporariamente para a contemplação. Enquanto está vivo, é requisitado pelas situações da vida que reclamam a sua ação; e o mais perto de deus a que pode chegar, nesse horizonte, é pelo exercício da sensatez, mantendo o domínio da parte pela alma que tem a razão sobre o apetite.
307 EN, VI, 12, 1144 a 25-30.308 Este, aliás, parece ser o sentido do aparecimento da sunesis, da gnômê e da deinotês nos
parágrafos 10 a 12 do Livro VI: todas elas são parte da sensatez e prestam-se assim a esclarecê-la, mas nenhuma delas a resume.
Sensatez como modelo e desafio.indd 117 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles118
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A esperteza é uma capacidade moralmente neutra, vindo a assumir relevância moral em razão da qualidade dos fins que a mobilizam.309
Não há dúvida de que não é possível ser um homem sensato (phronimos) sem ser ao mesmo tempo esperto, pois não há excelência no pensar prático sem uma exímia habilidade de concretizar, pela adequada e eficiente gestão de meios, os fins éticos entrevistos a cada vez. Mas a sensatez não se limita à esperteza exatamente porque não se limita a ser um pensar meios em face de fins que lhe são estranhos, mas é também um pensar os fins e, em conjunção com o desejo (com a virtude éti-ca) é um afirmar o fim correto que torna corretos os meios necessários à sua reali-zação. O fim supremamente bom só aparecerá ao homem de bem. A maldade per-verte e faz errar acerca dos princípios fundamentais da ação humana. É impossível ser sensato sem ser um homem de bem.
309 Quando ela é posta a serviço de um fim perverso, ela revela o pior tipo de humano: aque-le extremamente inteligente para realizar seus fins perversos. Esta ideia é importante para compreender o homem cuja perversão é a injustiça como o pior dos perversos. No Liddell-Scott, deinotês significa “terribleness”: “deinotês (...). A. terribleness (...); harsh-ness, severity (...) II. cleverness, shrewdness (...) III. Rhet., intensity, forcefulness (...)”. LID-DELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit..
Sensatez como modelo e desafio.indd 118 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
FENOMENOLOgIA DO AgIR
CAPÍTULO 7
Sensatez como modelo e desafio.indd 119 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 121
7.1 O decidir em questão
A recuperação de Aristóteles que tentamos esboçar contribui de duas manei-ras para o esclarecimento do direito como (um) modo de viver (desejar-pensar) do homem.
Por um lado, ela mostra como se desenvolve o pensamento prático, pela re-construção fenomenológica do exercício da razão no enfrentamento dos proble-mas com que o homem lida a todo o momento na sua vida, a cada situação concre-ta em que uma saída (justa) é requerida em face de circunstâncias que tornam esta ação ético-juridicamente relevante.
Por outro lado, ela mostra como este decidir a cada vez constitui o homem de um determinado modo, sendo o seu caráter e a sua inteligência prática resultados de seu próprio agir (querer e pensar), demonstrando como o homem se torna o que é a partir daquilo que ele faz, por força do seu próprio agir. Ela permite aprofundar o ponto de vista fenomenológico de início assumido, de que o ser do homem está em jogo no seu existir, permitindo vislumbrar mais nitidamente como esta consti-tuição de si dá-se ao agir.
Esta última perspectiva pôde ser vislumbrada pela análise da ética como dou-trina das virtudes do desejar e do pensar do humano, que revisitamos nos capítu-los anteriores, rememorando como, segundo Aristóteles, o querer e o pensar do homem são forjados por ele, por como ele quer e pensa ao longo da vida. Isto é im-portante para nossos objetivos aqui, relativamente à demonstração do lugar do di-reito na ultimação ontológica do homem – permitindo concluir sobre o sentido do direito no processo de constituição do humano. Ao tentar argumentar sobre ser o direito decisivo na determinação do homem, retoma-se a linha de raciocínio ini-cialmente proposta segundo a qual, ao contrário do que habitualmente defende a filosofia do direito (que afirma que o ser do homem define o que o direito é, e, as-sim, que o que o homem é tem prioridade ontológica sobre o que o direito é), o di-reito é mesmo um modo de ser do humano, e que assim ele não apenas dispensa como repele toda afirmação de uma essência do humano da qual ele, direito, seja uma mera expressão.
Cumpre agora reconstruir os argumentos de Aristóteles em torno do deci-dir, e assim da mobilização do pensamento prático de que a sensatez é a virtude, e da mobilização do querer premido pela paixão, de que a virtude ética é a excelên-cia. Sobre isto muito já foi adiantado nas páginas anteriores, sem que, no entanto, tenhamos avançado com uma completa definição da sensatez. Trata-se de tomar
Sensatez como modelo e desafio.indd 121 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles122
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
em consideração a ação do homem sensato (phronimos), desvelando o que está em jogo no querer-pensar as coisas que encontram no humano seu princípio, e por quais o humano decide seu caráter e sua inteligência.
É aqui que Aristóteles poderá prestar sua maior contribuição à considera-ção do direito na perspectiva do princípio da historicidade radical que marca a experiên cia do direito: disto resulta a compreensão do direito como modo de ser do humano, modo de ser que é modo de pensar à medida que é um modo de estar no mundo e de constituir o mundo ao compreendê-lo. Tratemos agora de focalizar a proairesis, a decisão prática.
A discussão sobre o que está envolvido na decisão (proairesis) é a discussão sobre a natureza da sensatez, pois esta é a excelência no pensar que, juntamen-te com o desejar, decide as coisas práticas. Trata-se de uma discussão muito anti-ga, com importantes divergências acerca do que está implicado no agir/decidir no campo da ética.
O exame da proairesis revela como todas as dimensões do ser humano são mobilizadas no decidir prático, e não apenas uma dimensão sua, a racional. Esta circunstância, nem sempre bem compreendida, tem levado a dificuldades para per-ceber o que está realmente implicado na proairesis, que não é uma atividade exclu-sivamente racional no sentido de empreendida apenas pela parte da alma que tem a razão (não é uma atividade meramente intelectual). Aristóteles é muito explícito ao dizer que na proairesis aparece um fim em favor do qual o homem sensato (phro-nimos) haverá de mobilizar os meios necessários à sua consecução. Em várias pas-sagens, afirma-se que este fim é constituído pelo desejo, atividade da parte superior da alma irracional (que não tem o logos), embora seja capaz (passivamente) da ra-zão. Isto revela a participação incontornável do desejo no exercício da razão práti-ca, e assim da parte “animal” do humano no decidir. Mas é ainda maior a magnitu-de do empenhamento do homem inteiro pelo pensar prático. Também a percepção e a sensibilidade, igualmente atividades da parte “irracional” da alma, participam da proairesis, uma vez que não é possível agir sem uma lúcida percepção dos ele-mentos circunstanciais da situação que desafia o agir.
Especialmente, é preciso compreender: a) o pertencimento do decidir à situa-ção concreta, com a dependência da bondade ou da correição do agir aos elemen-tos circunstanciais da ação: o agir bem é agir no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas, com o instrumento certo etc., o que tem ligação com a revisão da noção platônica do bem e com a crítica aristotélica de sua idealidade e unicidade;
Sensatez como modelo e desafio.indd 122 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 123
b) como resposta a uma situação, a proairesis requer uma especial capacidade de percepção da situação e de seus contornos específicos e irrepetíveis; é importante perceber como se faz possível este saber do particular extremo, e como este saber é adquirido pela experiência em lidar com situações assim (o que tem a ver com a sensatez não poder ser ensinado e não poder ser esquecido); c) que faculdade da alma possibilita este saber do particular? É uma pergunta que desafia a considera-ção da phantasia, e o estabelecimento de um novo ponto de contato com a psicolo-gia aristotélica; d) agir bem envolve sempre uma percepção do bem que é a expres-são do elevar-se do homem por sobre a situação e da sua capacidade de instituir a crítica sobre seu próprio agir. Há um sentido orientador do agir na situação que su-gere a existência de um sentido para além da circunstância e que será mobilizado na situação. Trata-se do elemento universal para que aponta a razão e que se põe em relação decisiva com os elementos concretos do agir: é o problema do bem a re-alizar, do fim do agir, e que é essencial para toda a ética: que tipo de fim ou de bem está envolvido na decisão ética? No contexto da investigação ética como processo de realização do humano, está aqui o ponto em que esta decisão é tomada: ao agir o homem se torna o que é; o fim da ação diz do ser do homem.
As perguntas atinam ao modo como este elemento, que aponta para além da situação (pois na situação o homem sabe que define o que se tornará por força dela, depois dela) e é posto antes da situação (mas apenas como problema; como per-gunta pelo que o humano é, ela institui a situação como situação) – este elemento que é o fim do agir, que a tradição tem chamado de dimensão ou elemento “univer-sal” do pensamento prático – relaciona-se com os elementos concretos, a dimensão “particular”, que lhe subministra a situação. Estes dois elementos são independen-tes em sua constituição? O universal que a proairesis sabe (pensa/quer) é prévio à situação? Trata-se de uma “aplicação”? Tem lugar explicar o pensar/decidir pelo es-quema do silogismo prático, atribuído a Aristóteles?
Mas ainda cabem outras perguntas; e) há o problema do objeto da proaire-sis, da relação entre fins e meios: o pensamento prático apenas decide os meios en-tre aqueles mais ou menos aptos a realizar o fim que lhe é dado, ou ele atine antes e principalmente ao problema dos fins?310 Qual a melhor interpretação para o pro-blema da relação entre fins e meios no agir?
310 Trata-se da discussão travada entre Aubenque (com Jaeger e os neokantianos) e Gauthier (e os neoaristotélicos), a que dedica a tese de: SILVA, Roger Michael Miller. Fins e meios: uma discussão sobre a sensatez na Ética Nicomaquéia.
Sensatez como modelo e desafio.indd 123 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles124
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
7.2 Universal e particular na racionalidade prática: a implicação recíproca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequação do “silogismo prático” como modelo explicativo do agir
A proairesis não é possível sem que o pensar compreenda (“realize”) que se encontra diante de uma situação de importância ética. Tal compreensão se dá por uma atividade que Aristóteles chama de phantasia (imaginação), “aquilo em razão de que dizemos que um phantasmata ocorre para nós”.311
Na sua acepção mais conhecida, a phantasia se relaciona com a criação da imagem como reconstrução de uma experiência sensorial anterior. Esta é, no en-tanto, apenas uma das dimensões de tudo quanto compreende. Neste primeiro sentido é que a considera Brentano: “A imaginação tem suas bases em sensações anteriores”; “o que quer que ocorra na imaginação foi previamente obtido pela per-cepção sensorial”,312 esclarecendo como a imaginação depende de dados sensoriais anteriores. Esta dimensão é importante para aquilatar o valor da experiência na aquisição da sensatez, na medida em que a capacidade de reconhecer as situações éticas como tais depende de uma competência no imaginar, que se liga por sua vez a anteriores experiências sensoriais que o homem tenha vivido.
Mas a phantasia – sendo sempre a imaginação uma reconstrução – aponta es-pecialmente, ainda, para uma capacidade criativa: não se trata apenas de uma mera disposição ou capacidade passiva, mas de uma atividade constitutiva de novas ima-gens, a partir, no entanto, do que o homem “viu” ao longo da vida. Para além de uma capacidade para criar e reconhecer imagens, a phantasia é relacionada, em in-teressantes interpretações contemporâneas, com o “aparecer” destas imagens, ou o “fazê-las aparecer”.313 A phantasia relaciona-se com o surgimento do que aparece, para além do simples estar já ali que o termo imagem sugere. Nussbaum atenta es-pecialmente para esta outra dimensão de phantasia, para o “aparecer”.314 Trata-se
311 Vide De Anima, III, 428 a-b. ARISTÓTELES. Da alma (De Anima). Trad. Carlos Hum-berto Gomes, cit., p. 97 e ss.
312 BRENTANO, Franz. The psycology of Aristotle, Trad. Rolf George, p. 68.313 “The root verb, phantazo, is translated to mean ‘to cause to appear’”. NOEL, Jana. Inter-
preting Aristotle’s phantasia and claiming its role within phronesis, p. 4. Vide especial-mente: NUSSBAUM, Martha. Aristotle´s de Motu Animalium; e SCHOFIELD, Malcolm. Aristotle on the imaginatio, In: BARNES, Jonathan. Articles on Aristotle, p. 103-132.
314 “Phantasia is the capacity that we have not only to perceive an appearance, but to say that we see it as an appearance of a particular type. Nussbaum extends the definition:
Sensatez como modelo e desafio.indd 124 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 125
de um ato mental interpretativo conectado com a sensação, permitindo compre-ender quão intimamente a atividade do pensar está associada às atividades das ou-tras partes da alma, como tentamos chamar a atenção em diversas oportunidades neste texto.
A phantasia é a atividade do nous responsável, na sensatez, pela percepção dos elementos particulares da situação, e assim pela constituição intencional da situa-ção como uma situação ética, em sua unidade noético-noemática.
Para além disto, Noel315 sugere que este poder interpretativo está envolvido na decisão (proairesis) não apenas na percepção da situação como situação, mas tam-bém na percepção do fim do agir. Funciona, assim, tanto na seleção do fim “bom” como na percepção dos elementos particulares da situação.
O bem a ser realizado em cada situação (a coisa certa a fazer, em face das circunstâncias) pode ser concebido como uma imagem (phantasmata) que surge/ocorre/aparece a cada situação como o bem a ser realizado “ali”, sendo enfim as-sumido pela vontade/desejo no agir. Tal imagem do bem é fruto da atividade do nous. Isto tanto vale para a praxis como para a poeisis. A diferença é que, enquanto na produção (de uma casa, por exemplo) a atividade (poiesis) é orientada pela ima-gem da própria obra (a casa), na ação a imagem reguladora é a imagem do huma-no que o homem se torna ao agir (assume para si; afirmamo-lo em concordância com a ideia geral de que é o homem a obra resultante do seu próprio agir316). In-teressa assinalar aqui é que esta “imagem” e esta atividade que a persegue na pro-dução ou na ação vinculam-se essencialmente à percepção, tal como Brentano ad-verte. A imagem imaginada é sempre vinculada às percepções anteriores, e assim o
‘phantasia is the faculty in virtue of which the animal sees his objet as an objet of a certain sort’. Thus phantasia goes beyond just the perception of an image, to the inter-pretative power of the individual to see that objet as something. Indeed, Aristotle lists phantasia as one of the items that fall under the category of kritika, of being involved in Aristotle in the beginning of DA III.3, before 428a 1, as ‘an interpretative mental act in connection with perception’. Thus, this final sense of the term phantasia relates to the interpretative power to interpret perceptions, to make judgments or distinctions (…)”. NOEL, Jana. Op. cit., p. 3.
315 Idem, ibidem.316 E com a ideia de que o fim mediato da ação é a construção de si mesmo como caráter
e inteligência prática. Também aqui se percebe como o fim do agir se confunde com o próprio agir, ao passo que, no produzir, o fim é extrínseco ao produzir, pois está na obra. O fim da atividade no agir é o próprio agir, pois o agir é o cumprimento da imagem do humano que é produzida pela phantasia.
Sensatez como modelo e desafio.indd 125 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles126
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ideal de homem que será buscado na situação concreta não será nunca desvincu-lado da experiência relativa ao humano que o homem carrega. Há sempre, assim, uma vinculação irrecusável ao passado em toda imagem construída pela phantasia como atividade do nous. Isto é importante também para assinalar a participação da sensação (aisthêsis) em todo agir, na medida em que indiretamente ela está envol-vida até mesmo na descoberta do fim do agir. Não há, em Aristóteles, uma ativida-de do nous que seja uma intuição direta e não mediada pelos sentidos (e, portan-to, pela experiência, ou seja, pela história) aos primeiros princípios do saber. Pelo menos não, seguramente, no horizonte das coisas que encontram no humano seu princípio.317
Ao mesmo tempo, a phantasia não é apenas uma lembrança do que já foi per-cebido, mas é atividade criadora a partir do percebido. Este é o ponto em que Nus-sbaum (acompanhada por outros comentadores contemporâneos da psicologia de Aristóteles) ultrapassa Brentano. Ela não é só uma (reprodução da) imagem do passado, mas é (criação da) imagem do futuro, que faz aparecer.318
No horizonte da ação o homem é orientado pela imagem de si mesmo que ele constrói (imagina) no exercício da phantasia.
Cremos que assim se esclarece como o nous “abre” para os princípios primei-ros, que aparecem para orientar o agir na situação concreta. Por meio da constru-ção desta imagem, que conta com o suporte de tudo aquilo que a alma já percebeu e assim mobiliza a experiência (individual e comunitária) anterior, constitui-se um ideal do humano que deve ser realizado e que, na medida em que é assumido pelo desejo, constitui-se como fim daquele agir concreto, na proairesis.
Torna-se também claro como este fim, divisado no agir, é sempre o bem “do humano”. A imagem que a phantasia (como atividade do nous) constrói na situa-
317 Mas isto também valerá para a sophia? Não é nosso objetivo responder a esta pergunta aqui, em que não nos dedicamos à interpretação da metafísica de Aristóteles. Tendemos a responder que sim, mas deixamos para outro momento esta investigação. Contenta-mo-nos agora em reunir argumentos em favor de que isto é assim no horizonte da ética e da técnica…
318 “Todas as atividades pressupões que eu divise algo como bom ou mau para mim, a ser perseguido ou evitado. A condição necessária do meu pensar algo como bom ou mau, de acordo com Aristóteles, é que a alma tenha certo phantasmata (DA 431a 14-17): I have to have the image of a future good or bad (DA 433b 12-28)”. FREDE, Dorothea. The cogni-tive role of phantasmata in Aristotle, In: NUSSBAUM, Martha Craven; RORTY, Amelie O. Essays on Aristotle’s De Anima, p. 288-89.
Sensatez como modelo e desafio.indd 126 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 127
ção, sempre se vincula às possibilidades concretas daquele homem situado (à sua experiência pessoal e comunitária). Ao mesmo tempo, esclarece-se como este fim – visado naquele agir concreto – não se reduz a um simples meio relativamente a um fim absoluto divisado em outro lugar. O fim que é ali “visto” se confunde com o bem do humano em geral, pois se trata de, pela phantasia, imaginar (construir, a partir da experiência, mas sempre a transcendendo, a partir das exigências da situ-ação concreta) o ideal para o humano. A imaginação divisa e propõe, na situação, o que é o viver bem, e sua realização, constitui a felicidade do humano naquela si-tuação, por força de como age naquela situação. O agir em cumprimento à imagem de homem constituída na situação é o próprio cumprimento do humano tal como é possível cumprir-se (como humano, sempre cercado de limites) – e esta atividade, bem-sucedida, pela qual o humano se cumpre, é a própria felicidade.
A afirmação de que o fim a realizar no agir é resultante da phantasia como ati-vidade imaginativa (produtora de imagens) é corroborada pelos verbos que Aristó-teles usa para expressar o “aparecimento” do fim em cada situação concreta. O fim “verdadeiro” aparece (phainô) e é “visto” pelo homem. O uso do verbo theôrô, que significa “ver”, corrobora a ideia de que se trata da descoberta de uma imagem cuja percepção orienta o agir, como um alvo a que se dirige o arqueiro (na figura usa-da por Aristóteles). Mas esta imagem não preexiste à situação da ação, e esta é a di-ferença essencial do Aristóteles maduro em face do platonismo. Para além de não acreditar, como acreditava Sócrates, que para agir bem basta saber (o que é o) bem, Aristóteles também se distingue por imputar ao próprio homem, ao seu próprio es-forço e a cada vez, a tarefa de construir (imaginar) a imagem do (homem de) bem que haverá de orientar o seu agir. O bem não é uma ideia preexistente e indepen-dente do humano: ao contrário, exatamente aqui fica claro como as coisas da ética dependem do humano, no sentido de que encontram seu princípio no homem: o humano é o autor e o artífice da imagem que o orienta, ele não simplesmente a en-contra. O theôrô como olhar o princípio na ação ética tem para Aristóteles um sen-tido não contemplativo, ele não é um olhar teorético, do tipo cognitivista, de algo que já existe. Seu sentido se vincula ao sentido radical de alêthês, que diz do poder do humano de fazer aparecer, e não apenas de encontrar algo aí.
Em outros termos, é o mesmo que perguntar: qual a atividade da alma segun-do a qual o homem “sabe” o que é certo fazer? A imaginação (phantasia), e não a contemplação, como pensava Platão. Isto é, o “certo a fazer”, que se confunde com o modelo de homem a ser afirmado e assumido na situação concreta, não é fruto de uma rememoração ou de qualquer tipo de descoberta de um sentido que preexis-
Sensatez como modelo e desafio.indd 127 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles128
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
te à atividade do pensar, mas é constituído pelo próprio pensar, é marcado pelo fu-turo embora deva-se à experiência que o passado (a tradição) lega. Mas não é algo que já está lá.
O modo como este saber transcende a dimensão individual e passa a ser com-partilhado pela comunidade (e como ao mesmo tempo é possibilitado por ela) es-clarece-se pelo papel do phronimos.319 A discussão sobre o phronimos e a radical pertença comunitária da verdade que ele possui (funda), demanda esta relação en-tre a phantasia e a aisthêsis como uma forma de esclarecer a verdade ou a correição do fim que ele afirma.
Por enquanto, devemos insistir no esclarecimento do papel do nous no pen-sar a situação prática, remarcando que é por meio da phantasia que se dá a percep-ção da situação como situação. Como já assinalamos muitas vezes, todo agir sem-pre se dá no contexto de uma situação concreta. Isto fica sempre muito claro no texto de Aristóteles, que chama a atenção para o “a cada vez” (hekastos) caracte-rizador da decisão ética. Ao focalizar a sensatez, ele atenta para que o saber práti-co envolve o conhecimento do que é particular. A atividade segundo a qual o nous o realiza é também a phantasia, não agora na sua característica de conceber uma imagem para o futuro, mas de divisar aquilo que a percepção apreende no presen-te como uma unidade de sentido. Assim, esta mesma capacidade que possibilita compreender o triângulo como a menor figura plana possível é capaz de fazer con-cluir que uma série de elementos que a visão, o tato, a audição etc., e o sentimen-to, apontam, constituem circunstâncias integradoras de uma única situação etica-mente relevante. Está em exercício aqui um poder de fazer aparecer “algo como algo”. Da phantasia resulta a compreensão de que o homem se encontra em uma situação, a qual desafia o seu agir e assim a realização de um ideal ético; ao fazê-lo, a phantasia participa essencialmente da constituição do caráter, e é condição do empenhamento do homem sério em favor de tornar-se um homem de bem. Sem esta capacidade, o homem jamais se tornaria um homem de bem; sem a capacida-de de perceber estar numa situação em que sua decisão deve atender a certas exi-gências de valor, o homem “trocará os pés pelas mãos” e agirá mal sem ter sequer a noção de que está agindo. É claro que uma incompreensão total deste tipo che-ga a ser inumana, e Aristóteles mesmo adverte que alguma consciência sobre a si-tuação o homem não pode deixar de ter. Estão, a propósito, nesta região algumas importantes referências ao problema da voluntariedade do agir, dos seus limites e
319 Vide infra o capítulo 8 (“O fundamento da justiça, da bondade e da beleza da ação”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 128 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 129
do rigor próprio da ética: tampouco se pode determinar, prévia e independente-mente da situação, o ponto a partir do qual uma incompreensão da situação pode eximir a responsabilidade.320
Mas o que queremos assinalar é a importância do nous ao instituir este saber da situação que coloca o homem diante do problema de agir (de decidir-se). Esta é a dimensão do limite particular do agir; aquela outra, anteriormente referida, em que a phantasia comparece como imaginação do bem, funcionando então na afir-mação do fim do agir) é descrita como a dimensão do universal. Estes dois elemen-tos são em geral postos em relação e assim mutuamente explicados/justificados no/pelo esquema do silogismo prático. Há, porém, dúvidas de que este esquema esteja mesmo nos textos de Aristóteles,321 e a sua formulação enseja muitos problemas de coerência com o conjunto da argumentação aristotélica. Via de regra, descreve-se o bem ou o fim do agir, elemento universal envolvido na praxis, como a premissa maior do silogismo prático, a situação concreta como a premissa menor e a própria ação (ou uma decisão de agir322) como a conclusão do silogismo prático.
O problema reside na impossibilidade de estabelecer-se uma prioridade, seja temporal, seja lógica, da imaginação do bem (premissa maior) sobre a imagina-ção da situação como situação (premissa menor). A questão é: a interpretação de uma situação como uma situação pode prescindir da imaginação de uma imagem do humano que desafia o agir? Se não se pode conceber que um conjunto de cir-cunstâncias fáticas imponha um problema de valor se não se conta já com um sen-
320 EN, III, 1, 1111 a 15-35.321 Noel afirma simplesmente que não. “Many writers on practical reasoning discuss the
concept as if it were strictly a practical syllogism, with the syllogistic form. Writers have focused on this formal construct and have called it ‘practical syllogism’ or ‘practical ar-gument’. The term ‘practical syllogism’ itself, however, actually is not used by Aristo-tle”. NOEL, Jana. Op. cit., p. 2. Ela o assinala com MacIntyre, que de fato afirma que Aristóteles “nunca usa esta expressão”. MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, cit., p. 144. Para MacIntyre, no entanto, o silogismo prático integra es-sencialmente a racionalidade prática. O autor que mais cerradamente o repele em sua interpretação do exercício da razão prática em Aristóteles, segundo MacIntyre (p. 150), é John M. Cooper, em Reason and human good in Aristotle, para quem “tais silogismos não devem ser considerados de modo algum como parte do raciocínio prático”. COOPER, John. Reason and human good in Aristotle, p. 51. Apud MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, cit., p. 153.
322 Para Kenny, a conclusão não pode ser a ação, mas a decisão para a ação, KENNY, An-thony. Aristotle’s theory of the will, p. 142-143. Apud MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, cit., p. 154.
Sensatez como modelo e desafio.indd 129 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles130
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
tido orientador que disponha sobre o que vale para o humano, tampouco é possível conceber como a imagem (de homem, do agir bem) possa ser vislumbrada senão no contexto de uma situação concreta em que qualquer agir pode ser desafiado (em que qualquer valor pode ser pensado). As duas “premissas” são contemporâneas, implicam-se e constituem-se reciprocamente, de tal sorte que toda situação é esta situação em razão de ser este o bem que aparece, ao mesmo tempo que o fim que aparece é bom por força de ser esta a situação. O agir não resulta melhor explicado pelo recurso ao silogismo prático, pois não funciona ali um expediente de aplicação de um saber prévio à situação, ao qual se submete a realidade que lhe seria ontolo-gicamente independente e de que resultaria ser esta ou aquela a decisão a tomar.323
A ligação entre estes elementos (universal e particular) no pensamento práti-co torna-se explícita pela afirmação de que ambos resultam da atividade do mes-mo nous – é a phantasia (uma mesma atividade, portanto) a responsável pela aposi-ção (imaginação) de ambos os sentidos em jogo ali, e por isso não é possível sequer divorciar, intencionalmente, a visão do fim e da situação em que este fim aparece.
A compreensão da racionalidade prática deve procurar superar o silogismo como modelo explicativo do pensamento prático, que é muito mais complexo e multifacetado, lançando mão de variados recursos no rico contexto da experiência prática, sob a pressão da paixão e da necessidade, tendo diante de si a presença do outro, e visando a realizar um ideal do humano construído exatamente em razão de estar o homem mergulhado em toda esta riqueza situacional. O conselho que a ra-zão dá ao desejo e o modo como este diálogo entre o pensar e o desejar finalmente se resolve no agir não pode ser descrito como um simples silogismo. Não que a ra-zão prática deixe de utilizar saberes demonstrativamente construídos, os quais são também mobilizados na complexa cadeia do pensar que constitui e prepara uma decisão ética. Mas isto é apenas o sinal de como o homem sensato (phronimos) é ca-paz de mobilizar também o conhecimento epistêmico em favor do sucesso de sua reflexão e decisão moral. O que importa assinalar é que a tentativa de identificar o pensamento prático ao silogismo não subsiste a uma reconstrução fenomenológica intencional que denuncia a sua impossibilidade na medida em que evidencia o per-tencimento constitutivo recíproco entre a percepção do fim e a da situação.
323 Há evidentemente um saber prévio que é mobilizado em toda deliberação e decisão. Este saber prévio é essencial para chegar ao bem, à descoberta do fim: mas este saber prévio não é um saber já o fim que moverá o humano sério no agir, pois este fim só pode apare-cer (ser imaginado, pela phantasia como atividade do nous) na situação concreta.
Sensatez como modelo e desafio.indd 130 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 131
Aquele reducionismo é conatural a interpretações que assimilam o pensa-mento prático à epistêmê, e decerto conclui pelo oposto de tudo quanto Aristóteles concebeu quando autonomizou a ética ao descobrir o modo específico do pensar as coisas que encontram no humano o seu princípio (a sensatez).
A redução do raciocínio prático ao silogismo é próprio de um pensar cogni-tivista que não pode prescindir da preexistência de um princípio (norma, modelo ou valor) subsistente em si e independente relativamente à situação. Assim como a epistêmê, e exatamente por assumir a epistêmê como seu paradigma, este cogniti-vismo não prescinde de algo dado de que possa partir para pensar.
Todo o esforço por compreender a ética – e o direito – em perspectiva não cognitivista reside em procurar uma via da razão que prescinda de partir sempre de uma mera apreensão de algo constitutivamente alheio à própria razão, e preci-sa realizar o projeto aristotélico na sua mais peculiar pretensão: a de explicar como se dá um pensar (no horizonte da praxis) que põe, e não simplesmente encontra, os seus próprios princípios, sem deixar de ser ainda assim razão, sem deixar por-tanto de ser um pensar do humano e assim a prova de que há algo de divino no humano – sendo exatamente a prova de que isto atine à realização de sua melhor possibilidade.
7.3 A razão prática como a mobilização de meios e a afirmação de fins do humano
É preciso buscar outro caminho para compreender o exercício da sensatez como atividade do pensar/decidir na situação concreta, tendo em vista o bem do humano. Aristóteles efetivamente o oferece na Ética a Nicômaco, ao descrever o que está envolvido no agir. Focalizamos agora outro par de conceitos (e a sua relação) muito discutidos na tradição de comentários a Aristóteles: o problema dos fins e dos meios como objeto da razão prática, essencial para a compreensão da sensatez.
A ética aristotélica tem o grande mérito de chamar a atenção para o problema da correição do agir também como um problema de efetividade; muito embora o homem venha a ser louvado ou censurado em atenção aos fins que persegue, a éti-ca preocupa-se sumamente com o sucesso efetivo de sua decisão em favor do bem – afinal, a ética é a realização do humano, e se a ciência ética não é um simples conhe-cimento do que é bom, mas visa a tornar bons os homens, ela deve preocupar-se com os resultados concretos da intenção (desejo) bem orientada e constituída. Para usar uma expressão popular, diríamos que, de boas intenções, o inferno está cheio.
Sensatez como modelo e desafio.indd 131 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles132
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Assim é que o problema dos meios, de tudo aquilo que é mobilizado como instrumento para a realização/possibilitação dos fins divisados como bons, tem im-portante lugar na fenomenologia da praxis. Pensar, no horizonte da ética, é resolver como alcançar certos fins e não apenas descobrir estes fins. A passagem segundo a qual a afirmação do fim pertence ao desejo e não à razão (não cabendo, preten-samente, entre os poderes da sensatez), levou muitos intérpretes a reduzir a razão prática a uma simples gestão de meios, de escassa relevância moral. Este é o pon-to de vista de neokantianos como Kuno Fischer e J. Walter, que inauguraram uma tradição hermenêutica anti-intelectualista da sensatez aristotélica (a que se liga a leitura de Jaeger324) em sua pugna contra a leitura intelectualista tradicional325 de neo-aristotélicos como F. Trendelenburg, que no fim do século XIX acreditavam encontrar na sensatez uma antecipação do essencial da doutrina kantiana da ra-zão prática.
Este debate326 renasceu no início da segunda metade do século XX, protago-nizado pelos franceses Pierre Aubenque e René-Antoine Gauthier. Em suma, Au-benque, neste ponto com Jaeger,327 afirma que a racionalidade prática envolve, ape-nas ou principalmente, a reflexão sobre a aptidão e a mobilização de meios tendo em vista os fins éticos que não são dados pela razão, mas sempre e apenas pelo de-sejo, e que, assim, não são decididos na proairesis. Para Aubenque a proairesis não atine aos fins, mas aos meios. De outro lado, Gauthier afirma que a proairesis atine principalmente aos fins, sem, no entanto, ignorar ser também atinente aos meios, eis que se trata de uma decisão eficaz.328
As interpretações contemporâneas procuram superar esta dicotomia, pela afirmação do copertencimento entre meios e fins no exercício da proairesis.
324 JAEGER, Werner. Aristotle. Fundamentals of the history of his development. Vide tam-bém, especialmente: JAEGER, Werner. Sobre el origem y la evolución del ideal filosófico de la vida.
325 Vide AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. Volume V, II seção da II parte – questões 1-56,.
326 Para um retrato deste debate, que o acompanha até a descrição das tentativas contempo-râneas de sua superação, vide: SILVA, Roger Michael Miller. Op. cit., p. 71 e ss.
327 O ponto de afastamento de Aubenque relativamente a Jaeger não reside na questão do objeto da sensatez, mas atine à importância e especialmente aos resultados da herme-nêutica genética proposta pelo historiador autor do clássico Paideia. Aubenque propõe uma renovação do esforço de compreensão sistemática da obra de Aristóteles, vulgar até Jaeger, e cujos limites fora o grande mérito deste último apontar.
328 GAUTHIER, René-Antoine. Introdução à moral de Aristóteles, p. 31.
Sensatez como modelo e desafio.indd 132 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 133
A melhor interpretação afirma ser a sensatez a excelência não apenas na ges-tão dos meios, mas também na percepção do fim capaz de tornar a ação boa (e sé-rio, o homem). Isto é corroborado pelas diversas passagens em que Aristóteles in-voca o sentido orientador como reta razão, orthos logos, implicado em todo agir. Para Aristóteles a decisão do humano não tem apenas natureza racional, mas en-volve a inteireza de sua alma (como salientamos ao longo deste texto). A descri-ção do decidir envolve muito especialmente o desejo, atividade da parte superior da alma irracional, e o pensamento prático, atividade da parte racional da alma que tem por objeto as coisas humanamente contingentes, e os conjuga num diálogo do qual finalmente surge a decisão deliberada, que é a um tempo um desejo delibera-do e uma deliberação desejada.329 Trata-se de uma amálgama em que já não é pos-sível dissociar o desejar do pensar, no lugar do encontro entre as duas dimensões da alma (que constituem o humano como um ser composto) em que se dá a passa-gem e a interação entre o animal e o deus que o homem sempre é ao mesmo tem-po. Ambos contribuem decisivamente em toda decisão ética, concorrendo para de-finir a ação do animal racional.
Segundo Aristóteles, o desejo afirma o princípio final do agir, dando a enten-der que é ele quem indica o bem do humano na situação. Não é possível deixar de entender a verdade disto, e a sua ligação a importantes outros argumentos da éti-ca; só é fim o que é querido, o que o humano deseja, e, portanto, o saber do fim é mais do que um saber indiferente, mas é um saber que quer, que solicita o movi-mento, mas ainda um saber – em associação necessária com o desejo, que move o humano.330
329 EN, VI, 2, 1139 b 3-6; “dio ê orektikos nous hê proairesis ê orexis dianoêtikê”: talvez o melhor sentido seja: é a razão acompanhada do desejo, ou o desejo acompanhado da razão. Por isso a decisão é um pensar desejante ou um desejar pensante. Caeiro traduz: “É uma compreensão intencional ou uma intenção compreensiva”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 135). Araujo e Marias traduzem: “A eleição é ou inteligência desejosa ou desejo inteligente”. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 90. Na tradução de Rackham: “Hence Choice may be called either thought related to desire or desire related to thought; and man, as an originator of action, is a union of desire and intellect”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham cit. Assim: “Nesse sentido, o principio (da ação) é o Humano”, conforme a tradução de Caeiro. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 135. Maria Araujo e Julian Marias: “Essa classe de princípio é o homem”. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 90.
330 A propósito da controversa passagem em que Aristóteles afirma que a sensatez não é simplesmente uma virtude intelectual, pelo fato de não poder ser esquecida, assim como
Sensatez como modelo e desafio.indd 133 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles134
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Apenas o homem de caráter é capaz de decidir-se pelo fim bom, não porque seja o seu caráter (o modo como está habituado, e assim, inclinado, a desejar) quem lhe aponta o fim, mas porque apenas nele o desejo já se encontra predisposto a dar ouvidos ao conselho que a razão lhe ministra, assumindo-o como o fim em direção ao qual se move – e porque apenas nele a inteligência moral encontra condições de desenvolver-se e pode assim apontar o que é certo fazer a cada vez.331 Ser um ho-mem de caráter não significa outra coisa senão tender ao meio-termo em todas as situações em que, diante do outro, deve-se agir sob a pressão da paixão e da neces-sidade. Mas como cada situação é, em alguma medida, sempre nova, o meio-termo que deve ser encontrado nunca pode consistir numa simples repetição do modo de desejar passado: isto ignoraria as circunstâncias atuais envolventes do agir e torna-ria extemporâneo e inadequado agir daquele modo. Todo pensar prático é situado, e por isto é sempre realizador da equidade; o meio-termo é sempre atinente à situ-ação. Sua obtenção a cada vez exige a atividade do nous na percepção do fim, sen-sível ao que acontece naquela situação. A virtude ética como hábito não pode sig-nificar, no homem de caráter, um simples automatismo do desejo; ele precisa estar ligado ao que se exige dele agora. Ter um bom caráter implica uma flexibilidade e uma especial sensibilidade para agir a cada vez como o momento exige, sempre tendo em atenção o bem e realizando-o na medida em que, por convencimento e associação do desejo, este fim é assumido como bom (ou: o bem é assumido como fim). Ser um homem de caráter é tender sempre a desejar o meio-termo, e implica essencialmente estar o desejo inclinado a deixar-se convencer a abraçar o que suge-re a razão, pois é a razão que indica o meio-termo a cada vez. A retidão do desejo funda-se na verdade do entendimento.
a sua falta não é apenas esquecimento, mas um erro moral, Rackham anota: “A loss of Prudence is felt to involve a moral lapse, which shows that it is not a purely intellectual quality”. ARISTÓTELES. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham cit. Compare-se com a tradução de Maria Araujo e Julian Marias: “Não é exclusivamente uma disposição ra-cional, prova-o o fato de que uma disposição assim pode ser esquecida, a sensatez não” (ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araujo, Julian Marias, cit., p. 93) e com a de Caeiro (ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 139): “A sensatez não é apenas uma disposição de acordo com um princípio racional (uma disposição racional pode ser esquecida, não a sensatez)”. O texto quer atentar para o fato de que esta disposição intelectual não existe desacompanhada da disposição ética, ou que ela não se realiza desacompanhada, sozinha, em si, mas apenas na sua relação com a disposição ética, com quem comparte seu horizonte.
331 EN, VI, 3, 1140 b 20-22. “A perversão é intrinsecamente destruidora do princípio da ação”. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 138.
Sensatez como modelo e desafio.indd 134 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 135
O homem de caráter está inclinado a dar ouvidos à razão, e por isto não é pos-sível ser virtuoso sem ter domínio de si. A virtude implica a sujeição do desejo à razão, que é descrita como uma forma de adesão de que resulta a vontade do ho-mem racional. Se o homem não tem domínio de si, ele até pode ser capaz de saber o que deveria fazer (qual o bem do humano a realizar ali), mas este saber não é o saber prático de que a sensatez é a excelência. Ele antes se parece com um saber te-órico, epistêmico, de alguém que sabe de algo que não tem em si o seu princípio. O homem sem autodomínio, mas ainda capaz de perceber o bem, não encontra em si mesmo a causa eficiente da realização deste bem, pois este saber não é capaz de associar-se ao desejo para mover o humano em sua direção. Este saber lembra o que está descrito no capítulo 10 do Livro VI, como sunesis,332 que é um discer-nir bem no horizonte das coisas que podem encontrar no humano o seu princípio, mas sem o poder de efetivamente dirigir a ação, que está envolvido na sensatez, que é normativa. A função “crítica” ou de discernimento que o nous realiza pela sune-sis (acreditamos estar em jogo aqui exatamente a phantasia como produção ima-ginativa do fim do agir) é a contribuição da razão à decisão. Mas ela simplesmen-te não basta, e não compreende tudo aquilo de que a sensatez é excelência, embora esta função crítica seja imprescindível e também esteja compreendida na sensatez.
O homem sem autodomínio não tem um bom caráter, pois seu desejo está distante de tender para o meio-termo que a razão lhe aponta a cada vez, pois é muito grande a distância entre o modo como tende a realizar-se como humano (o modo como deseja, decidindo-se) e o modelo de humano que a sua razão (sensatez como sunesis, desprovida assim de seu poder normativo) aponta. Por ser tão gran-de esta distância é invencível a tensão que se estabelece entre o desejar e o pensar no agir. A razão não dá conta de convencer o desejo, fracassando em sua pretensão de orientá-lo pelo diálogo que os envolve.
Aristóteles aprofunda ainda mais as relações entre o desejar e o pensar, adu-zindo que não apenas o pensar é capaz de influir sobre o modo como o homem de-seja, mas também que o contrário é possível: o modo como o humano deseja pode determinar sua capacidade de pensar. Isto fica evidente pela afirmação de que, a partir de certo estádio do desenvolvimento de seu círculo vicioso, a verdade do agir (o fim bom) já nem sequer aparece para o homem pervertido, que não apenas tor-na-se incapaz de submeter seu desejo ao que a razão lhe sugere, mas perde mesmo a capacidade de perceber o que é o bem do humano no agir. Nesta hipótese, o agir
332 EN, VI, 10, 1142 b 35.
Sensatez como modelo e desafio.indd 135 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles136
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
mal decorre não mais de um fracasso do diálogo entre o desejo e a razão, mas do rompimento mesmo deste diálogo. O homem se torna cego para o bem, pois o que lhe parece bom já não tem qualquer participação da sua parte superior racional. Tal homem encontra-se entregue ao animal que o habita, resolvendo-se pela sua pior possibilidade e constituindo-se na antítese do modelo de humano em honra do qual toda a ética é concebida. Trata-se aí do fracasso do projeto ético de eleva-ção do humano, desde o animal em direção ao deus, que é a realização do homem na sua melhor possibilidade.333
Com tudo isto, esclarece-se como a percepção do fim está sempre em jogo na proairesis, mas um último argumento ainda pode ser acrescentado, antes de passar ao exame do pensar prático como gestão de meios.
Considerar o processo de constituição ética no horizonte da vida inteira do homem mostra a vida como um processo de constantes acertos e rearranjos do que o homem é, por força provocado pelas diversas decisões que toma no progressivo e constante esforço de construção de si como um homem de bem. Neste caminho – pelo qual o sério realiza-se, enquanto age sempre assim – o homem vai se confor-mando em resultado à sua própria experiência pessoal (que é especialmente uma experiência da sua relação com o outro, em que está envolvido o louvor e o despre-zo, o prêmio e o castigo, desde a infância até a morte). Ao longo deste processo o homem nunca é o mesmo, no modo como deseja, pois está envolvido num círculo constitutivo do caráter, seja um círculo virtuoso (em que a cada ação boa que pra-tica, por estar a tanto inclinado por sua virtude, leva-o a tender ainda mais a no-vas boas ações), seja, inversamente, um círculo vicioso (o seu vício predispondo-o a agir mal, o que o torna ainda mais pervertido) – de tal sorte que “o que o homem é” é resultado de seu agir, e ele nunca é o mesmo homem.
Lembramos isto para dizer que, se a sensatez envolvesse apenas uma ges-tão de meios e não a afirmação do fim do agir, não faria qualquer sentido pensar a vida do humano como um processo de constituição ética por qual ele, sempre se transformando, torna-se a cada vez o que é, a partir de suas ações. Se não hou-vesse nada que interviesse em cada decisão prática indicando um fim diverso da-quele para o qual o desejo tende, a vida do humano não poderia ser descrita como
333 É o que de pior lhe pode acontecer, pois ele está então irremediavelmente incapacitado para a felicidade. Não por outro motivo Aristóteles adverte que, em suas preces, um ho-mem deve rogar pela coincidência entre o que ele vê como bom e o que é absolutamente bom, em passagem que não tem qualquer sentido cognitivista.
Sensatez como modelo e desafio.indd 136 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 137
uma caminhada progressiva em direção ao bem na conquista de si, e nem a felici-dade poderia ser concebida como uma atividade do homem virtuoso por seu pró-prio esforço. A ética não poderia ser o lugar do louvor que se pode e deve atribuir ao homem sério, que dá conta de tomar a si mesmo e elevar-se em direção à sua melhor possibilidade. A ideia de esforço, e da dificuldade própria das coisas práti-cas (que funda todo aplauso e é sinal do valor), apenas pode conceber-se se admi-te-se que a cada decisão existe um espaço (uma argumentação) a vencer em favor do bem, uma conquista a realizar. Este espaço é expressivo da tensão que sempre se estabelece, porque o humano é híbrido, entre o que ele deseja (animal) e o que ele pensa (deus); toda boa decisão é um esforço em direção ao deus no homem. O esforço ético é sempre um esforço em direção ao bem, de conformação do de-sejo ao fim, cuja determinação não pode ser atribuída apenas ao desejo, se o hu-mano é racional.
Já tendo argumentado o suficiente em favor de que a sensatez envolve também um saber dos fins do agir, que são postos pela própria decisão a partir da conjunção entre pensar e desejar, atentemos agora para o problema dos meios, tentando per-ceber a relação entre fins e meios no pensar e no querer, e avançando na compre-ensão fenomenológica de como se dá o decidir (bem) as coisas práticas, no exercí-cio assim da sensatez.
Assinala-se ser um grande mérito da ética aristotélica chamar a atenção para a importância ética dos meios. Toda decisão prática envolve a procura também dos meios aptos a tornar efetivo o fim que o desejo abraçou, para realizar assim o bem. Por isto os comentadores sublinham que o que o desejo abraça não é apenas o fim, mas também os meios tendentes a este fim. O saber, que é um querer, envolvido na sensatez, é um real compromisso do humano em direção àquilo que afirma ser bom para si, e como tal é sempre um empenho na descoberta dos meios necessários para tanto. É um saber que é um querer o fim e os meios.
A questão dos meios no agir aprofunda a compreensão de como o humano comparece como princípio das coisas no horizonte da ética. Se pela sensatez, ao afirmar o bem a realizar a cada situação, o humano se assume como princípio tele-ológico do agir (ele põe o fim), também por ela o humano se põe como princípio causal, na medida em que dá conta de dispor acerca do que seja necessário e sufi-ciente para provocar o estado de coisas divisado (imaginado) como bom. Tanto o fim como a causa da ação estão no humano.
Sensatez como modelo e desafio.indd 137 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles138
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A proairesis é o princípio da ação, entendido como causa eficiente, que dá ori-gem à movimentação,334 e não como fim, que seria a causa final da ação. A proaire-sis, por sua vez, funda-se no desejo e na razão, que envolve a visão do fim (encer-rando, assim, a causa final do agir) e o cálculo dos meios necessários a alcançá-lo.335
334 Caeiro anota: “O grego diz: onde tem origem a movimentação, mas não aquilo em vista do qual. A decisão é a causa eficiente da ação e não a final”. ARISTÓTELES. Ética a Nicó-maco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 266.
335 EN, VI, 2, 1139a 30-35. Na tradução de Rackham: “Now the cause of action (the efficient, not the final cause) is choice, and the cause of choice is desire and reasoning directed to some end. Hence choice necessarily involves both intellect or thought and a certain dis-position of character [for doing well and the reverse in the sphere of action necessarily involve thought and character]”. ARISTÓTELESARISTOTLE. Nicomachean Ethics. Trad. H. Rackham. Na medida em que ele anota, a propósito da primeira frase, que: “Here again proairesis seems to mean choice of means, not of ends”, apresenta uma interpretação diver-sa da que defendemos, relativamente à relação entre meios e fins, vinculando-se à tradição de que Aubenque foi o grande defensor. Mas sobre isto já dissemos o bastante. Importa ainda, no entanto, chamar a atenção para a anotação que ele faz com respeito à parte do texto que ele mesmo pôs entre colchetes. Ele diz: “This clause must be rejected as super-fluous and logically unsound: the nature of action is explained by that of ‘choice,’ not vice versa“. Nesta observação, que desconsidera a última frase, tampouco creio que Rackham esteja certo: razão e caráter também estão mobilizados e estão em jogo quando se trata de agir mal. Pode talvez significar duas coisas: se se trata da mobilização dos meios, pode ser que aí Aristóteles esteja colocando em cena, para a final apuração do caráter bom ou mau da ação, os seus resultados – ou seja: apenas a eficácia do ato como causa eficiente, tal como se comprovar na ordem dos fatos, é que dará a palavra final de sua adequação para a consecução dos fins propostos. Este é um caminho que salva a autenticidade da passagem. Outro seria interpretar essa passagem no contexto do significado da ação em termos de voluntariedade (quando uma ação pode ser imputada a um agente como uma “ação”?) e assim no contexto mais amplo da formação do caráter. Para que um fato do homem possa ser considerado sua ação, é preciso que encontre nele seu princípio, e assim que se ligue ao seu caráter, o que implica ligar-se, direta ou indiretamente, à sua escolha. Por isso creio ser melhor a tradução de Caeiro: “Na verdade, agir bem e o seu contrário não existem na ação sem o pensamento teórico nem sem a disposição ética” (ARISTÓTELES. Ética a Ni-cómaco. Trad. António C. Caeiro, cit., p. 135). Aqui (EN, VI, 2, 1139a 35: eupraxia gar kai to enantion en praxei aneu dianoias kai êthous ouk estin), aparece dianoia, sem distinguir ainda, segundo creio, entre demonstração e cálculo: o que Aristóteles diz é que tanto a dis-posição ética (enquanto modo de desejar) como a disposição dianoética (enquanto modo de pensar) estão envolvidas (empenham-se) em todo agir. Ou não se tratará de agir, mas será um mero acaso ou o nome que se possa dar ao fato do humano que não encontra nele o seu princípio. Por isso mesmo, sem entendimento-reflexão e sem disposição moral não há decisão. Também se pode perguntar porque aparecem as palavras nous e dianoia, lado a lado. Creio que para indicar que o que está em jogo é a razão como divisão do fim (causa final, que como extremo é função do nous divisá-lo, ou determiná-lo) e como pensamento calculativo (dianoia, neste sentido especificando-se como raciocínio).
Sensatez como modelo e desafio.indd 138 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 139
Para Aristóteles, no pensamento prático dá-se a obtenção de uma verdade prática, que, como tal, liga-se a um desejar correto, mas também à descoberta dos meios necessários para alcançá-lo. A verdade do agir implica a sua possibilidade (o estar eficientemente vinculado a uma decisão do humano, que é o seu princípio), e assim a verdade do agir aparece por força de um pensar os fins sempre relacionados aos meios que o possam efetivar.
A implicação recíproca, na ética, entre fins e meios não diz respeito apenas ao modo como o fim leva à determinação dos meios, mas também como o pensar os meios condiciona a determinação do fim. Na medida em que o bem procura-do na ética não é um bem ideal subsistente em si e independente do humano, mas, ao contrário, é o bem para o humano no sentido de o melhor que o homem é ca-paz de alcançar em cada situação concreta, por força de sua própria decisão, o que é o bem – isto é, qual o fim a alcançar a cada vez: o que faz depender dos meios à disposição do homem que deve agir e de sua competência em encontrá-los. O que aparece como o fim a perseguir (o melhor a fazer) depende dos meios de que dispõe o agente, pois nunca um fim prático pode ser um fim bom se é impossí-vel.336 Assim é que a descoberta ou a afirmação do fim dependerá sempre das cir-cunstâncias (o que mais uma vez esclarece como o que o homem deve fazer ape-nas pode ser descoberto no contexto da situação) em meio às quais este ou aquele instrumento pode ser mobilizado. Há uma limitação fática ao agir que constran-ge a afirmação do fim do agir, que será diferente para cada um em conformidade com as suas possibilidades concretas (conforme os meios de que dispõe). O que é exigível varia de homem para homem, e é fácil imaginar exemplos desta diferen-ça na vida cotidiana: o que se exige de um homem relativamente aos seus deveres enquanto encarregado pela educação dos filhos varia conforme as suas posses, o lugar onde mora, seu próprio grau de instrução etc. Um homem morador de rua pode ser louvado por ter conseguido levar seus filhos a concluir os primeiros anos de educação escolar. Outro, rico, será censurado se não der conta de levar seus fi-lhos pelo menos até a universidade. Também no plano jurídico, o que se conside-ra um dever de alguém não é indiferente às suas próprias possibilidades concretas, o que revela como a disponibilidade dos meios sempre condiciona a afirmação do fim em cada situação. No horizonte das gerações, o que se pode exigir como fim varia muito nitidamente, em resposta à cada vez maior disponibilidade de meios que o desenvolvimento técnico permite.
336 EN, VI, 7, 1141 b 1-15.
Sensatez como modelo e desafio.indd 139 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles140
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Mas isto não enclausura o fim em um determinismo imposto pela disponibi-lização fática de meios. Ao contrário, é exatamente aqui o horizonte em que pode-rá brilhar a inteligência prática do homem sensato (phronimos), cuja competência compreende a excelência em descobrir os meios capazes de possibilitar os fins di-visados como bons. A sensatez é um pensar que inova criativamente na adminis-tração dos meios, de sorte a permitir a realização dos sempre audaciosos projetos de autorrealização do humano. O seu desafio é viabilizar o cumprimento do mo-delo que o homem acalenta para si, a partir do contexto em que se encontra. Não é difícil concordar que este modelo implica sempre uma tensão em face do con-texto a partir do qual é proposto: por isto ele é um fim, expressando exatamente o transcender do humano, da situação em que se encontra em direção ao novo. Exis-te sempre alguma diferença entre o que o homem divisa como bom e o que ele en-contra aqui e agora, impondo-se destarte a questão da descoberta dos meios sem-pre como um problema a ser enfrentado.
A compreensão de que a habilidade em encontrar os meios aptos a realizar fins éticos condiciona a afirmação destes últimos permite entender também como estão em permanente deslocamento as fronteiras do universo das coisas que encon-tram no humano o seu princípio. O horizonte da ética e da sensatez não guarda li-mites determinados de uma vez por todas, pois a própria competência de desco-brir novos meios aptos a realizar fins permite ao humano a aposição de novos fins, cada vez mais audaciosos; referimo-nos aqui ao campo da ética, mas isto é igual e evidentemente válido no campo da técnica, que também é no horizonte das coisas que encontram no humano o seu princípio.
Retornemos àquela que consideramos a maior contribuição de Aubenque337 aos estudos sobre a ética aristotélica: o humano encontra-se num universo parcial-mente inacabado, à espera de que o próprio humano o ultime, por sua atividade. Não apenas o ser humano é incompleto e deve tomar a si mesmo como obra sua (como caráter e como inteligência), mas sua incompletude estende-se também a esta região do mundo que espera pela sua ação (e produção) para que venha a ser o que quer que venha a ser. Abre-se para o humano este horizonte das coisas contin-gentes (no sentido de não necessárias, pois não contam com princípios imutáveis) exatamente porque seu princípio é o humano, que as determinará por sua praxis e sua poiesis (ação e produção).
337 AUBENQUE, Pierre. A prudência em Aristóteles.
Sensatez como modelo e desafio.indd 140 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 141
Gostaríamos de assinalar, finalmente, com respeito a pensar como calcular meios, que por sua própria força, por sua cada vez maior (ou menor) capacidade de encontrar os meios aptos a realizar os fins que deseja, o homem é capaz de fazer es-tender ou encolher a extensão desta região do universo de que é autor. A excelên-cia nesta atividade é que determina quais objetos finalmente encontram no huma-no seu princípio, o que não está predeterminado, mas está por ser decidido por ele, dependendo de como se desincumbe de sua tarefa ética a cada vez. Neste sentido, a sensatez como administração de meios é imprescindível para compreender como o homem finalmente cumpre o seu maior anseio e pretensão ética, que é o tomar em suas mãos o seu próprio destino. Os direitos do destino (tão importante elemento do pensamento grego, concebido como aquilo que acontece ao homem e de que ele não pode escapar, por se tratar de algo que escapa à sua decisão) não estão determi-nados de uma vez por todas. Mesmo admitindo que a fragilidade do humano seja no limite insuperável, e que assim nunca ele possa superar totalmente as surpresas que o destino lhe reserva, é ainda possível compreender a vida ética do homem e da comunidade como um constante ajuste dos limites dos poderes do homem so-bre a determinação de si mesmo e os direitos do destino como força capaz de, sem que o humano o possa evitar, tomá-lo e determinar a sua vida.
7.4 A racionalidade prática sob o paradigma do debate político (a alma como agora)
Tudo quanto foi dito sobre a relação entre fins e meios, e antes sobre o uni-versal e o particular no exercício da razão prática, consigna a complexidade pró-pria deste tipo de pensar, que está muito longe de poder ser descrito como um sim-ples silogismo.
Mesmo outras propostas que concebem o pensar no agir para além do silogis-mo, mas admitindo-o ainda embora lhe acrescentando outras “fases”, como propõe MacIntyre,338 falham exatamente por submetê-lo a uma estrutura ou forma a que este tipo de pensar não corresponde.
A elucidação disto pode começar pelo esclarecimento do sentido do elemen-to universal que aparece como o fim do agir. Não há dúvida de que se trata de algo que comanda a alma, mas num sentido fraco, apenas normativo: o desejo não se
338 MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, cit., p. 154 e ss.
Sensatez como modelo e desafio.indd 141 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles142
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
submete irresistivelmente à razão, mas apenas se e na medida em que ele é convi-dado e convencido a obedecer-lhe.
O comando que a razão dirige ao desejo, na sugestão do fim, envolve a se-dução do desejo pela beleza da imagem do humano que está sendo proposta ali. Quando a razão aponta para algo como bom, como algo bom em si e não em ra-zão de qualquer outro fim (e é isto o que caracteriza a ética339), a razão sugere que o desejo assuma este fim como o bem do humano, e para tanto não conta senão com seu próprio argumento. A força deste argumento não reside na autoridade de uma lei ou em qualquer outra autoridade que venha do passado, pois se trata sempre de encontrar o meio-termo em uma situação que é a cada vez nova (e assim sempre re-quer o exercício da equidade). Sua força é a sua própria beleza, é a potência da im-pressão que o modelo proposto pode exercer sobre o desejo, de sorte a fazê-lo dei-xar-se conduzir naquela direção.
Como aparece este modelo de humano, a cada ação? Em cada situação, o agir do homem é entrevisto como a realização de um modo de ser homem, e é exata-mente por este caminho que o fim do agir surge como um modelo do humano. O homem, ao pensar as coisas da prática, vê-se (imagina-se – phantasia: trabalho do nous associado à percepção) agindo e sendo de uma determinada forma, e assume esta imagem como a que quer de si mesmo: ao resolver agir em conformidade com esta imagem, ele resolve ser (agindo) assim. Ele decide fazê-lo porque se convence de que aquilo é o bem do humano no sentido de que ser um ser humano na verda-de é ser daquele modo: a noção do bem, assim como a noção da virtude, guarda o sentido da realização plena do ser de que se trata. O bem do humano, que é divisa-do pelo pensar, é perseguido pelo desejo exatamente porque ele conduz à sua pró-pria realização como humano.
O que é ser um humano não está predeterminado, sendo isto o que marca a diferença do humano em face de todos os outros entes, inclusive (e especialmente) deus. Isto anda a par com a incompletude do humano. Por isto o bem do humano, sua autorrealização como humano – e assim a imagem que a razão propõe ao de-sejo, no diálogo em que a alma enfim se resolve a agir, determinando o seu próprio ser – não está dado de antemão, e o homem não encontra esta imagem em algum lugar. A imagem do humano realizado não está à espera de ser capturada e realiza-da. Como ela se forma então? Esta é a primeira pergunta que a fenomenologia da ação deve tentar responder. A outra pergunta é: o que dá validade a esta imagem de
339 EN, I, 7, 1097 a 15-1097 b 1.
Sensatez como modelo e desafio.indd 142 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 143
si que o homem constrói como seu bem/seu fim a cada situação? Já esta pergunta demanda a reunião de algumas outras considerações.
A questão agora atine ao problema da decisão: como ela se constrói? Esta ima-gem do homem realizado (que se mostra como fim da ação, em resposta à pergun-ta: o que devo fazer agora?) que o desejo assume, é resultado de que atividade?
Não parece uma boa leitura do texto de Aristóteles afirmar que a percepção do fim seja primeiramente assumida pelo desejo para, a partir disto, proceder-se à seleção dos meios. O desejo ético, que não é nunca um querer vazio, e que tampou-co pode ser o desejo de algo impossível, somente pode abraçar um fim factível, um fim que exatamente é fim na medida em que pode figurar como princípio de uma ação eficaz. Para tanto, a consideração sobre os meios deve ter lugar em momento anterior à amálgama entre o desejo e a razão, pois o bem que esta propõe já deve ser um bem deliberado, e apenas na medida em que a deliberação já tenha concluído pela sua possibilidade ante os recursos de que dispõe o agente é que o bem pode ser afirmado como um fim. Esta final afirmação do bem ou do fim confunde-se com a proairesis, decisão em que pensar e desejar se conjugam para imprimir o movimen-to ao humano. Por isto a proairesis é uma deliberação acompanhada do desejo, ou o desejo deliberado.
Mas, como os meios determinam também o fim, pode ocorrer que certo fim inicialmente proposto no processo de deliberação seja descoberto como não fac-tível, ou ainda que implique, para realizar-se, o recurso a certos meios que o ho-mem não esteja disposto a usar, exatamente em homenagem à imagem do huma-no que acalenta – isto é, por razões também éticas, o uso de certos meios pode ser descartado. Nestas hipóteses, em que a deliberação mostra que o bem divisado não pode ser alcançado, e permanecendo o homem na situação em que urge agir, ele deve persistir no seu raciocínio em busca de um novo bem a ser proposto, para o qual também deve ser considerado se os meios de dispõe são bastantes para viabi-lizá-lo. Tudo isto sugere um constante ir e vir do pensamento, que marca a delibe-ração como o raciocínio que antecede e prepara a tomada de decisão, e em que fica clara a complexidade e a riqueza das perspectivas com que cada problema (em cada situação da vida) é considerado.
A ideia de que o bem, que a ação realizará, é “somente” o bem do humano tem importante relação com a questão dos meios. O bem a alcançar é o bem do humano na medida em que se trata do bem humanamente possível naquela situação, isto é, do melhor que aquele agente, naquele contexto, pode alcançar. Como fim, tal ação
Sensatez como modelo e desafio.indd 143 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles144
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
realiza uma imagem ou um modelo do humano, do melhor humano que cada um, envolvendo esforço, pode ser, tendo em vista todos os seus limites: não é a imagem de um deus.
Tudo isto sugere que a alma, quando se trata de agir, torna-se o cenário de um grande debate ou diálogo ao longo do qual se desfiam argumentos de diferentes na-turezas, em favor de certas imagens de homem, dos meios aptos a realizá-las. Estão em jogo ali argumentos de custo e benefício na escolha entre meios, pensa-se nos resultados deste ou daquele passo, mobilizam-se conhecimentos de outras searas, como a técnica e a ciência, na antecipação mental de fatos a partir do que o huma-no sabe por experiência não só prática, mas também técnica e científica, e não só própria, mas a partir do que lhe diz a experiência dos outros. Também no agir são mobilizados conhecimentos sobre as coisas cujos princípios são imutáveis (objeto da epistêmê e da sophia), assim como são utilizados, acessoriamente, os seus pró-prios raciocínios silogístico-dedutivos (demonstrativos). São mobilizadas regras da experiência e da opinião, tudo concorrendo para, sem retirar ou substituir o modo específico de pensar que é a sensatez, mas exatamente sendo tudo eficientemente mobilizado por ela, conduzir a uma conclusão acerca de qual é a melhor imagem do humano que é possível realizar naquela situação concreta, a melhor forma de agir em face das condições apresentadas.
Este pensar não se enquadra num silogismo, e nem admite uma forma ou uma estrutura que o descreva: é possível até mesmo que cada pessoa tenha, neste horizonte, o seu próprio modo de pensar e de chegar às suas conclusões práticas.
No desenvolvimento desta discussão descobrem-se os contornos da situação ética, a qual, tal como já assinalamos, apenas constitui-se como tal juntamente com o fim. Na medida em que o pensar a relação entre fins e meios pode levar a novas posições relativamente ao fim, isto pode levar a uma reformulação da interpretação do elemento particular do agir, relativo à situação como situação, fazendo com que ela seja surpreendida como uma circunstância de outro tipo, a partir de que novas exigências podem ser colocadas.
A melhor forma de representar este multifacetado e dinâmico processo é o ar-tifício de debate político, em que os assuntos são discutidos não sem alguma con-fusão (afinal, tanto na agora como na alma, toda esta discussão é desenvolvida sob o impulso da paixão e a urgência da necessidade), com muitas retomadas e pers-pectivas sendo encetadas, e sempre sob a pressão do tempo, mas levando tempo, necessariamente.
Sensatez como modelo e desafio.indd 144 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 145
Todo este debate deve conduzir a uma decisão cuja relação com o tempo tam-bém revela a sua natureza humana contingente, limitada: assim como na política, a deliberação ética não pode estender-se infinitamente.340 O próprio tempo que o ho-mem demora a agir diante de uma situação já é um elemento essencialmente carac-terizador da qualidade da ação. A deliberação não pode estender-se infinitamente, pois em algum instante é preciso dar-lhe um termo e agir, mesmo às vezes sabendo que se poderia ainda pensar melhor sobre o assunto.
Não é inusitado que o pensar prático, no palco da alma do humano, faça lem-brar uma discussão política.341 O homem, quando pensa as coisas da vida prática, com vistas a decidir o que fazer em uma situação, transforma-se ele mesmo numa arena em que tem lugar o debate público-comunitário acerca da imagem do huma-no louvado naquela polis. A descrição do pensamento prático como um processo deliberativo nos moldes com que se dão os debates políticos no seio da comunida-de é uma pista para a compreensão de como a determinação do desejo, e assim a conformação do caráter e da inteligência do homem por força de sua atividade éti-ca, dá-se em integração com a determinação política da própria comunidade. Ins-taura-se uma linha de continuidade entre os processos pessoais de reflexão e deci-são ética (com a consequente formação do caráter no contexto de uma comunidade concreta) e os processos comunitários de determinação do modelo político vigen-te (politeia342).
340 EN, VI, 9, 1142 b 3-4.341 A analogia ou o paralelismo entre o homem (a alma) e a ordem (a polis) encontra muitas
oportunidades de expressão no pensamento grego. Assim que, na Política, a harmonia da alma (no equilíbrio devido quando a parte da alma superior, que deve comandar, efetivamente comanda a parte inferior) é análoga à harmonia da polis (quando man-dam os homens que devem mandar), o que torna a disputa pela cidade uma disputa pela alma – e, ao mesmo tempo, torna a disputa pela alma uma disputa pela cidade. Em MacIntyre há uma interessante reflexão, dirigida ao tempo presente, que mostra como a fragmentação das concepções de justiça tal que marca a contemporaneidade se espelha na fragmentação das concepções de justiça e de racionalidade no interior do homem que se forma neste contexto: de tal sorte que a disputa entre estas concepções de justiça na sociedade se transfere para dentro de cada um. Vide MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, cit., p. 12 e ss.
342 A palavra politeia tem diferentes acepções no discurso ético-político aristotélico. Sig-nifica tanto a cidadania como um status pessoal, o regime político vigente ou o melhor regime político, a constituição ou o próprio governo. Aqui usamos o termo para expres-sar mais abrangentemente a ordem ético-política em cujo interior se dá todo processo de constituição ética e que é ao mesmo tempo resultante dos processos de constituição ética que têm lugar em seu interior. No Liddell-Scott: “polit-eia (...) A. condition and
Sensatez como modelo e desafio.indd 145 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles146
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Vislumbrar a racionalidade prática, ou o concreto exercício da consciência moral, como uma continuação (ou o início) do debate público sobre a imagem do humano naquela ordem política concreta, permite compreender como a de-terminação do caráter do homem funda-se na normatividade em que ele vive, e ao mesmo tempo como toda normatividade, toda ordem sociopolítica, é por sua vez dependente do caráter dos homens que a vivem; como, enfim, toda ordem éti-co-política funda-se também no próprio homem e nas suas decisões acerca de si mesmo.
Mas não é a única questão deixada em aberto pela proposta de reconsidera-ção do que é o pensar prático, que tentamos surpreender para além de esquemas silogísticos, que apenas pretendem reduzi-lo ao paradigma do pensar epistêmico.
A consideração do problema do pensamento prático sobre novas bases, a par-tir da leitura de Aristóteles, recoloca a pergunta pela validade do fim que é a cada vez afirmado pelo acordo entre o desejo e a razão no agir. O abandono do para-digma cognitivista (epistemicamente orientado, que identifica o fim como algo a ser apreendido) em favor de um fim sempre dependente do humano e que é fruto do próprio pensar e desejar contemporâneos ao agir, exige uma explicação que dê conta de sua legitimidade enquanto fim numa acepção racional. Enfim o problema que surge é: o que legitima a imagem de humano que a razão propõe a cada vez no agir? O que a torna válida? O que é o mesmo que perguntar: como apurar a beleza da imagem do humano que cada homem propõe a cada ação contingentemente si-tuada, se os padrões discriminativos do que é ser um ser humano bom (e assim da beleza do humano) não são determinados senão no contexto do próprio agir, por força do pensar em cada situação concreta?
A estas duas questões podemos enfim responder nos próximos capítulos.
Aristóteles mesmo informa qual é afinal de contas o critério da verdade do agir, da legitimidade do fim que é proposto a cada vez (e assim dá o critério da be-leza do humano no horizonte da ética): este critério é o próprio homem, em sua excelência no pensar as coisas na ordem da vida. O critério da verdade prática é o phronimos. Agir bem é agir como age ou agiria o phronimos, diz Aristóteles. A com-
rights of a citizen, citizenship (...); grants of citizenship (...); 2. the daily life of a citizen (...); life, living (...) 3. concrete, body of citizen,(...) 4. = Lat. civitas in geographical sense (...) II. government, administration (...); course of policy (...) 2. tenure of public office (...) III. civil polity, constitution of a state (...); form of gouernment (...) 2. esp. republican government, free common-wealth (...)”. LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. Op. cit.
Sensatez como modelo e desafio.indd 146 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Fenomenologia do agir 147
preensão disto é fundamental. Mas a mesma pergunta, embora deslocada, continua a desafiar a resposta sobre o fundamento de validade: o que torna um homem um phronimos? Como reconhecer o phronimos?
A outra questão, que também mobiliza os conceitos e argumentos desfiados até aqui, diz respeito ao copertencimento entre o homem e a comunidade, ou entre o caráter individual e a ordem política, tal como se revela pelos processos de cons-tituição do caráter os quais descrevemos com especial ênfase no papel que exerce a racionalidade prática, com seus direitos específicos em face da racionalidade epis-têmica. Tudo quanto oferece condições para afirmar que, pela razão prática e pelo seu envolvimento com o desejo não apenas o humano se torna o que ele é como homem, mas determina também por este mesmo processo o ser da ordem em que vive, definindo também, ao constituir a si mesmo, a ordem a partir da qual sua pró-pria constituição é possível.
Sensatez como modelo e desafio.indd 147 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 151
8.1 O homem sensato (phronimos) como fundamento do agir
A resposta que Aristóteles oferece para a pergunta sobre o fundamento de va-lidade dos fins das ações boas é simples: seu fundamento é o próprio homem. Não qualquer homem, mas o homem sensato (phronimos), que se distingue pela exce-lência do pensar prático, o homem titular da sensatez.
Ao fazê-lo, mais uma vez Aristóteles afasta-se, e num ponto essencial, de Pla-tão (para quem o fundamento do agir bem apenas pode ser a correspondência à ideia do bem, cujo conhecimento orienta o agir). Aristóteles assinala o fundamen-to especificamente humano da excelência e do bem que a decisão ética descobre e afirma.
Assim é que o Livro II, quando esclarece que a excelência ética reside na afir-mação do meio-termo (mesotês) no horizonte das paixões,343 impõe a pergunta es-sencial para toda a ética, sobre como encontrar o meio-termo a cada vez. Trata-se da pergunta pelo fundamento do agir, ou pelo critério da verdade do pensar práti-co, ou pela beleza da imagem do humano que o homem se propõe quando age. En-contrar o meio-termo a cada vez é o trabalho da razão, que faz surgir em cada situ-ação o sentido orientador que aponta o alvo, e este sentido orientador é aquele que norteia também o homem sensato, a que finalmente acaba referida a correição do pensar capaz de encontrar o meio-termo.
O phronimos é descrito como modelo no exercício da inteligência prática, a um tempo sendo capaz de descobrir os fins corretos do agir e de gerir os meios ap-tos a realizar aqueles fins. Esta última competência mostra o phronimos como um tipo de esperto ou especialista, no sentido de altamente eficiente na consecução de fins por sua grande capacidade logística, por sua grande habilidade em pensar como alcançar os fins que se propõe nas situações práticas da vida. Mas ele não é simplesmente ou apenas esperto, pois o phronimos não é o homem competente em realizar quaisquer fins, mas sim o homem capaz de alcançar os fins bons e louvá-veis (assim como a esperteza não é toda a sensatez, mas está compreendida na sen-
343 Já que estas coisas que ocorrem ao humano, como “sentir medo, ser audaz, estar de de-sejos, ficar irritado, ter compaixão, e em geral, ter prazer ou sentir sofrimento, admitem um mais e um menos”. Pois o melhor, tendo em vista as circunstâncias da ação “é o meio e o melhor de tudo” e o “meio e o melhor de tudo é a medida da excelência”. EN, II, 2, 1106 b 10-23.
Sensatez como modelo e desafio.indd 151 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles152
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
satez344), e assim ser phronimos implica ter a capacidade de descobrir o que é o bem em cada situação ética.
Como a afirmação do fim não é um trabalho apenas da razão, mas sempre da razão “em cooperação” com a excelência do caráter,345 isto é, do desejo bem consti-tuído, o homem sensato (phronimos) sempre será ao mesmo tempo um homem de caráter, pois é o caráter que, em sua indispensável participação na determinação do fim na decisão ética, faz do fim um fim bom. Não é possível ser um homem etica-mente inteligente sem ser, também, sério, virtuoso Assim, tanto vale dizer que pen-sar bem as coisas da prática é pensar como pensa o phronimos como dizer que de-sejar adequadamente é desejar como deseja o homem de caráter: é dizer que agir seriamente é agir como age o sério, ou o justo.
Agir bem é agir como agiria um homem de bem, um homem de caráter, e pensar bem a prática é pensar como pensaria um homem inteligente acerca das coi-sas que encontram no humano seu fundamento. Mas a questão que surge a partir daí é que também a identificação do phronimos é problemática, em razão da con-tingência e da instabilidade das coisas neste horizonte, que não se encontram de-terminadas antes do próprio agir, mas, ao contrário, esperam determinação huma-na (serão decididas com a decisão ética do homem).
Aquilo que o homem sensato (phronimos) sabe tem assim uma diferente natu-reza do que o sophos, possuidor da sophia, sabe. Assim, tal como Aristóteles adver-te quando procura distinguir a sophia da phronesis (sensatez)346 (ao afirmar a supe-rioridade, por seu caráter divino, da sophia como a mais alta virtude do humano), as coisas objeto da sophia são sempre as mesmas e não variam conforme o tipo de vida de que se trata – afinal, trata-se de coisas cujos princípios são imutáveis, do campo do que é necessário. Já no horizonte da sensatez, que é o da ciência ética, os objetos são contingentes e o bem variará conforme o tipo de vida em questão (de-pendendo assim do tipo de animal de que se trata).347 Variará também conforme os homens de que se trata, pois o bem em questão é o bem do humano, e o meio-ter-mo em que consiste varia em atenção ao humano que está envolvido na situação.
344 EN, VI, 12, 1141 a 20-35. Vide o parágrafo 47, supra (“Sensatez e deinotês”).345 EN, VI, 13, 1144 b 25-30.346 EN, VI, 7, 1141 a 20 - 1141 b 1. Vide supra o parágrafo 46 (“Sensatez e sophia e a realiza-
ção da felicidade como fim do humano”).347 EN, VI, 7, 1141 a 21-35.
Sensatez como modelo e desafio.indd 152 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 153
O phronimos é perito nas coisas que encontram no humano o seu fundamen-to, coisas que são causadas, final e eficientemente, pelo humano, e seria um con-trassenso conceber o phronimos como o detentor de um conhecimento simples-mente teórico acerca destas coisas. Ao contrário, o phronimos é descrito como o fundamento do bem do humano em estrita coerência com a ideia de que é o huma-no o fundamento da ética, de que o bem de que trata a ética é o do humano, que ele perfaz naquela parcela do universo cuja ultimação constitui tarefa do próprio ser humano formar. O phronimos é o homem excelente no trabalho de ultimação do mundo, no horizonte da prática, e todo o louvor que se lhe dirige é fruto do reco-nhecimento, pelos outros, desta sua competência.
É coerente com isto a exemplificação que Aristóteles oferece do homem sen-sato (phronimos), que sempre é identificado com alguém a quem os gregos atri-buem grande glória pela participação na constituição da sua comunidade. O para-digma do phronimos é Péricles, o maior estadista ateniense.348
O que isto revela é um novo deslocamento do problema, tal como se pode fa-cilmente perceber. Comecei por perguntar pelo fundamento da justiça, da beleza ou da bondade do agir do humano, a que diz respeito a sensatez,349 procurando seu fundamento de validade. Como o fim é o que resulta da cooperação do desejo com a razão, o problema do fundamento se torna um problema da verdade do conselho que a razão dá ao desejo, ou da correição do pensar que desvenda o princípio e des-cobre os meios necessários para alcançá-lo. Mas o problema do fundamento deste pensar, ou da verdade desta orientação que a razão oferece ao desejo, é reconduzido por Aristóteles ao seu exercício concreto. Com este passo afasta-se o cognitivismo. Na medida em que Aristóteles afirma que o critério da verdade do pensar práti-co (e assim da justiça, da beleza e da bondade do agir) é o phronimos, ele está sim-plesmente afirmando que não há outro critério para apurar a correição deste pen-sar prático fora dele mesmo. Não adianta procurar um critério para o agir fora do próprio homem, é a conclusão a que ele finalmente chega, em total coerência com os postulados imanentistas de que parte e com que desenvolve a sua ética da matu-ridade. Não faria sentido ele finalmente oferecer um fundamento transcendente, e como tal independente do humano, para aquilatar a verdade do pensar prático e as-sim do agir, pois equivaleria a retornar a uma concepção ética cognitivista, da qual tentou muito consistentemente se apartar ao distanciar-se da identificação platôni-
348 EN, VI, 5, 1140 b 7-11.349 EN, VI, 12, 1137a 23.
Sensatez como modelo e desafio.indd 153 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles154
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
ca entre ética e ontologia, e da teoria das ideias que resulta na admissão da existên-cia de um bem independente do humano a orientar, por sobre toda decisão do hu-mano na situação concreta, o que seja agir bem.
Embora esclareça o caráter não cognitivista da ética, a identificação do agir bem com o modo como age o phronimos não oferece a resposta à pergunta sobre como é agir bem, especialmente porque Aristóteles não oferece mais do que indica-ções gerais acerca da identificação do phronimos. A ética, enfim, não diz o que seja o fim verdadeiro do humano, e isto também é radicalmente coerente com o modo como Aristóteles a concebe, com consciência dos seus limites. A ética demarca-se em face do pensamento epistêmico por sua “menor” exatidão, e isto também quer significar que há perguntas às quais ela não pode responder, sob pena de sacrificar o essencial de sua lição. O essencial da lição ética de Aristóteles é que o fim do hu-mano atine ao humano num sentido muito radical: o fim do humano, seu bem – o que é um humano realizado, feliz – é ele que determina. Aristóteles não deixa de indicar que o bem do humano, como o bem de todo ente, está na sua própria re-alização. O bem de um ente é ser (tornar-se) exatamente aquilo que é. No caso do humano, a ética pode avançar com a afirmação de que o bem do humano está no cumprimento de si como ser animal e racional, e que, portanto, é o viver segundo esta que é a sua melhor possibilidade a realização de seu fim.
Nisto consiste também a felicidade, que, como lembra Fiasse,350 é entrevista como o fim natural do humano (que, como tal, nem sequer está para ser decidido por ele no agir): o fim do humano é a eudaimonia, e este fim está dado por nature-za. Mas gostaríamos de ressalvar que a felicidade é o fim do humano enquanto um ser aberto. A abertura é a marca ontológica distintiva do ser humano, e isto faz da eudaimonia uma palavra parcialmente vazia à espera de ser preenchida pelo pró-prio ser humano, que haverá de determinar o seu conteúdo por meio das decisões éticas que deve tomar ao longo da vida e a cada vez.
A palavra eudaimonia é apenas “parcialmente” vazia porque a própria nature-za racional do humano já a preenche em parte, permitindo à ciência ética afirmar a priori, como Aristóteles faz, que a realização do humano é a realização da sua me-lhor parte segundo a natureza,351 e que o humano se cumpre enquanto humano na
350 FIASSE, Gaëlle. Aristotle‘s phronesis: a true grasp of ends as well as means?, The Review of Metaphysics, vol. 55, p. 323-337.
351 Este é o mesmo argumento de que Kant parte para afirmar a supremacia da razão na ética: não são poucos os motivos e argumentos que Kant busca em Aristóteles. O que
Sensatez como modelo e desafio.indd 154 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 155
medida em que dá conta de impor, sobre o seu desejo, a orientação da razão. Isto, combinado com o postulado ontológico-metafísico que Aristóteles comparte com o seu tempo (de que a perfeição de qualquer ente dá-se como autossuficiência), conduz à afirmação da vida segundo a virtude como a vida feliz, e à conclusão de que o homem se cumpre tornando-se sério, virtuoso, excelente no modo como de-seja – um homem de caráter, portanto: justo – e também phronimos, pois não é pos-sível ter um bom caráter sem ter inteligência prática (phronesis).
Mas estas afirmações não preenchem completamente de sentido a palavra eu-daimonia. Não resulta decidido, disto tudo, o que significa ser feliz, o que é ser um humano realizado na vida, pois não determina o que exatamente implica, ou é, ser virtuoso e phronimos. A indicação de que ser feliz é agir bem alcançando o meio-termo não diz ao homem o que é o meio-termo a cada vez.
Dizer que a felicidade é uma atividade própria do homem de caráter e inteli-gente nas coisas práticas não faz mais do que abrir como um problema a questão da determinação do que significa afinal ser feliz (realizado), pois coloca para o homem decidir o que é ser sério e phronimos. A conclusão de que o phronimos é o critério da verdade prática apenas reafirma que está diante do homem a responsabilidade e a tarefa de determinar a si mesmo, de afirmar e decidir o que é ser um ser humano, dizendo como o homem pode e deve completar-se a cada vez que age. A afirmação da felicidade como atividade segundo a virtude, sob o paradigma do phronimos, es-clarece enfim como no horizonte da ética vale o princípio da historicidade radical relativamente ao seu próprio ser. Quando Aristóteles afirma que o padrão do bem humano é o homem sensato (phronimos), ele está dizendo que o padrão do que é ser humano é tarefa do próprio ser humano afirmar.
8.2 Não cognitivismo e historicidade radical e a constituição do humano como ser racional
Tudo isto até aqui conduz a alguma perplexidade. A argumentação procu-ra uma via racional para pensar o direito e a ética em alternativa ao irracionalismo
gostaria de deixar claro, sobre o nosso ponto de vista, é que o sentido de ser racional em Aristóteles, ao contrário do de Kant, deixa muito em aberto ao homem, inaugurando a possibilidade da construção de si mesmo a partir da experiência do pensar e do querer. A incompletude do humano em Aristóteles está intimamente relacionada com o não cognitivismo de sua ética, e é isto que permite a sua retomada no esforço de pensar o direito e a ética numa perspectiva pós-essencialista, como a que exige o presente.
Sensatez como modelo e desafio.indd 155 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles156
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
que marca a maior parte das concepções pós-modernas, ao mesmo tempo em que quer evitar os esquemas limitadores da racionalidade moderna, que impõem um modelo matematizante acusado como insuficiente para dar conta da específica ra-cionalidade envolvida no pensar e decidir as coisas da prática.
Esta tentativa de procurar uma teoria que dê conta da racionalidade do direi-to sob este novo ponto de vista recorre a Aristóteles e à sua descoberta da sensatez (phronesis) como modo específico de pensar e de estar o homem diante das situa-ções práticas. Mas a que conclusão chega? Alcançamos, a partir da leitura de Aris-tóteles, descobrir alguma racionalidade no pensar a prática?
Os resultados parciais até aqui podem não parecer animadores. Do ponto de vista de como a racionalidade prática opera, ou de como ela se dá como atividade da alma racional, conseguimos (se é que parecemos convincentes) apenas afastar a repisada maneira de conceber o pensamento prático como um silogismo prático, ou sob a forma de um silogismo prático acompanhado de outras considerações ati-nentes à administração dos meios,352 tal como tradicionalmente se descreve a razão prática, na história das leituras de Aristóteles. Em substituição a isto, propusemos que o modo de pensar as coisas práticas é um tanto menos organizado, assumindo que o pensar que antecede a decisão ética é algo como um debate político em que razões são lançadas, argumentos são testados, propostas são incentivadas ou repeli-das sob a influência de fortes emoções e paixões, tudo impulsionado por necessida-des muito humanas (como sobreviver, obter riquezas ou poder político, manter-se livre ou vivo etc.) e de olho no relógio, pois a deliberação não pode demorar para sempre. Não há nenhuma parte deste processo deliberativo que não se dê como lo-gos no sentido de linguagem. Por todo este processo, de muitas idas e vindas, os fins são afirmados em coerência com os meios efetivamente encontrados à disposição, e os próprios contornos da situação são traçados também com dependência do que é então ali afirmado universalmente como o bem do humano, fazendo aparecer um modelo de humano que a razão propõe ao desejo e que este, ao abraçá-lo, trans-forma num fim, no fim da decisão ética: mas tudo isto, que racionalidade guarda?
É claro que é muito mais confortável, do ponto de vista de uma teoria que ten-te justificar a decisão ética e a decisão jurídica como uma decisão racional, conti-
352 Parece-nos, como já escrevemos, ser esta a perspectiva de MacIntyre. Vide supra o pa-rágrafo 48 (“Phantasia e a compreensão do universal e do particular na racionalidade prática: a implicação recíproca entre a visão do fim e a percepção da situação – ou da inadequação do ‘silogismo prático’ como modelo explicativo do agir”).
Sensatez como modelo e desafio.indd 156 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 157
nuar descrevendo-a como uma decisão que resulta de uma imperturbável aplica-ção silogística. Mas este modelo, que vale para as coisas cujo princípio não estão no humano, apenas dá conta de explicar os fenômenos no horizonte da epistêmê e da sophia. No horizonte da phronesis (sensatez), de que a ética – e o direito – parti-cipam, as coisas são pensadas de um modo diferente, e pode causar alguma estra-nheza defender que toda esta balbúrdia da alma que acabamos de tentar descrever como sendo o modo do funcionamento da razão prática, seja ainda considerado um modo racional de pensar.
Esta estranheza fica ainda maior quando a leitura de Aristóteles acaba por apontar que não existe, para além deste pensar mesmo, qualquer critério que per-mita apontar a sua verdade ou a sua correição. Isto é, que o critério da validade des-te tipo de pensamento é dado por ele mesmo, pensamento: não é outra coisa o que Aristóteles diz quando afirma que o critério do bem para o humano é o phronimos.
A suspeita de não termos conseguido sequer descrever a decisão prática como uma forma de racionalidade pode fundar-se na pressuposição de que, ausentes cri-térios exteriores ao pensar para apurar a verdade do próprio pensar, resulta uma total indeterminação com respeito aos fins do agir humano, e de que assim toda a determinação do que seja o justo, o belo e o bom para o humano seja simplesmen-te uma questão de opinião, ou de gosto, ou que esteja de qualquer forma remetido ao capricho e ao arbítrio individual de cada um, impossível de apurar e insusceptí-vel de ser criticado ou avaliado segundo critérios racionais.
Não é esta, no entanto, a conclusão a que a leitura de Aristóteles conduz. Este pensar multifacetado, de feição retórica, que marca a decisão ética, somente não pode ser considerado racional para quem apenas admite a matemática como para-digma de todo saber, resumindo todo pensar em um rígido extrair consequências de premissas determinadas, tal como opera a demonstração, na epistêmê. O que Aristóteles anuncia é exatamente a legitimidade de um pensar cujo modelo é de todo diverso da demonstração, mas ainda assim racional, em que o conhecimento não decorre da simples aplicação das regras lógicas do silogismo, mas de uma de-liberação que pensa as coisas que têm no humano o seu princípio, e que, por isto mesmo, não dispõe destes princípios desde o início. Por ser o humano quem põe, ao pensar, os princípios, é que no pensamento prático está em jogo não apenas o que decorre ou o que pode levar à realização destes princípios, mas também (e es-pecialmente) a descoberta destes mesmos princípios. Os defensores de uma racio-nalidade exclusivamente epistêmica ressentem-se – e para evitá-lo é que pretendem impor o paradigma da epistêmê às coisas da prática – da ausência de um fundamen-
Sensatez como modelo e desafio.indd 157 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles158
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
to seguro do qual partir ao pensar no agir, fundamento este de que a demonstração dispõe sempre, já que demonstrar é partir de princípios que encontra e que axio-maticamente assume.
A racionalidade prática, por sua vez, distingue-se exatamente por não po-der partir de princípios senão aqueles que o próprio pensar possa afirmar e fundar. Nesta medida, é cristalino como a razão prática não encontra seu fundamento para além de si mesma, para além de sua própria atividade. Não encontrando um princí-pio externo, independente dela própria, do qual partir, a razão prática deve ela pró-pria afirmá-lo. A afirmação do princípio (do fim do agir) é também tarefa sua, ca-bendo-lhe, assim, dar, a si mesma, o seu fundamento.
Esta é uma formulação muito clara da perspectiva não cognitivista, que en-contra em Aristóteles seu descobridor, representando uma total revisão das rela-ções entre ética e ontologia tal como a concebia Platão, não apenas porque Aris-tóteles tenha imposto um corte à continuidade ou à unidade entre ambas (de que resultaria o nascimento da ética como disciplina filosófica autônoma), mas espe-cialmente porque há, em Aristóteles, uma ontologia imanentista que possibilita a descoberta de um universo parcialmente inacabado em que o humano comparece como artífice do mundo. Isto que está para ser construído pelo humano (os hori-zontes da praxis e da poiesis, de tudo enfim que encontra no humano o seu princí-pio) está ontologicamente aberto ao seu poder conformador, sem que exista qual-quer modelo ou forma em qualquer lugar onde o homem possa buscar o princípio da atividade: o princípio da ação, pela qual o homem plasma o mundo ético, não está em nenhum lugar. Ele não existe antes de o homem pensar.
A afirmação de que tal fundamento encontra o humano em si mesmo, na me-dida em que realoja o princípio da ação racional na própria atividade racional do humano, pode sugerir alguma semelhança com Kant, que também procurou no próprio homem – ou, melhor dizendo, em sua natureza racional, ou ainda: na na-tureza racional em geral – o princípio de todo agir. Mas o que Aristóteles pensava quando fundou a verdade no homem sensato (phronimos) era algo muito diferente do modo como Kant faz decorrer o bem da racionalidade no humano.
A compreensão do sentido não cognitivista da ética aristotélica depende de um nítido apartamento da ética kantiana porque Kant, muito embora tenha deslo-cado o fundamento da moral para o interior do humano, continua cognitivista; em-bora num sentido diferente de Platão, os seus resultados acabam sendo os mesmos. O cognitivismo platônico funda-se na disponibilidade, por parte do humano, de
Sensatez como modelo e desafio.indd 158 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 159
um fim cuja determinação é transcendente ao humano. Trata-se de uma ideia que, como tal, está fora do humano, autossubsistente em si. A verdade, no horizonte da prática, depende apenas de uma correta “apreensão” do fim ou do princípio, como contemplação da ideia cuja gênese é totalmente estranha ao humano. Kant, cien-te dos poderes constitutivos da subjetividade, não pode ser lido como pretendendo encontrar o princípio (a lei) fora ou independentemente do humano; ao contrário, a sua afirmação ou descoberta apenas se pode alcançar por força da própria ativi-dade racional do humano, de um pensar que não é nunca um simples contemplar ou um apreender, mas é um construir.
Mas, neste ponto, os resultados a que o platonismo e o kantismo chegam são os mesmos. Para ambos, o princípio do agir (o fim, ou a lei) são tais que indepen-dem, em seu conteúdo, do próprio humano. A lei é a mesma seja lá qual for o hu-mano que se esforce em pensá-la. O resultado do processo de investigação do bem em Kant sempre levará a uma mesma resposta, se o raciocínio não se tiver obstru-ído: a sua verdade é independente do humano concreto na medida em que é uma consequência inelutável de uma natureza (racional) do humano que não deixa es-paço à sua própria autoconformação. A concepção kantiana do humano como fe-chado e completo (ao contrário de Aristóteles, que o concebe aberto e incompleto) não abre espaço para a historicidade radical na descoberta do princípio, tal como figura em Aristóteles. Embora Kant atribua à atividade do pensar a afirmação do fim (da lei), impõe ao pensar certo modo de ser que é, este sim, independente do humano e de sua experiência pessoal e comunitária, e cujo exercício fatalmente conduz a determinados conteúdos como seus resultados inexoráveis.
O que parece distinguir Aristóteles é a radicalidade com que ele pensa o per-tencimento do princípio do agir ao humano, que tem o poder de determiná-lo para além e independentemente de uma sua própria (suposta) natureza racional imu-tável. Aristóteles não enclausura o princípio no humano como se o humano fos-se uma fôrma de que apenas pudessem resultar os mesmos princípios. A nature-za especificamente racional do humano, para Aristóteles, ao contrário de encerrar o problema do que é o agir bem, abre-o: a sua incompletude enquanto ser racional possibilita a conformação do agir bem por seu próprio esforço do pensar, sem que tudo esteja decidido de antemão por força da própria natureza do homem.
Isto deixa entrever a radicalidade com que Aristóteles concebe a incompletu-de do humano e a dimensão de seus poderes constitutivos sobre si mesmo. O poder do humano de plasmar a si mesmo não compreende apenas a capacidade de for-jar o seu desejo, mas também e especialmente o poder de determinar o seu próprio
Sensatez como modelo e desafio.indd 159 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles160
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
modo de pensar. O humano é incompleto no modo como pensa no sentido de que o seu modo de pensar é construído por ele mesmo, ao passo que, para Kant, a na-tureza racional do homem já o determina inteiramente enquanto razão; sua razão já está desde sempre tão pronta que ele pode descrever as formas e condições que possibilitam transcendentalmente toda sensação e todo saber, seja teórico seja prá-tico. O modo como o humano sente e pensa – experimenta – é dado independen-temente de toda experiência do sentir e do pensar.
Na medida em que Aristóteles funda a verdade prática na razão prática, sem oferecer qualquer outra instância a que recorrer contemplativamente (instaurando a verdade prática sobre um pensar que o homem não simplesmente é ou tem desde sempre, mas que aprende e conquista por seu próprio esforço do pensar) ele desco-bre não apenas como a revelação do princípio da ação faz-se por força de como o homem pensa, mas indica também como o modo de pensar conquista-se por força de como descobre o princípio da ação. Isto é, o homem constitui a si mesmo como ser racional na medida em que cresce na experiência da descoberta do princípio do agir, ou seja: sua racionalidade é forjada por seu próprio exercício, e ele mesmo se torna o que é na medida em que pensa.
O pensar prático, como espaço de autoconstituição do humano, revela o lu-gar em que se dá a conformação do pensar, que é ao mesmo tempo o lugar ou a oportunidade em que o phronimos se torna phronimos. Este lugar é o próprio ato de pensar as coisas práticas, portanto é o próprio agir, como decidir acompanha-do do deliberar.
Para um homem de hoje, já não é difícil perceber como o pensar de cada pes-soa ou de cada comunidade – tal como sinaliza a maneira peculiar como cada um usa a língua e a existência de várias línguas, dialetos e sotaques diferenciando as di-versas comunidades – é conquistado e reconquistado a cada geração, por força da tradição e do pertencimento de cada um à tradição. Cada homem aprende a pensar no horizonte de sua comunidade, e é ensinado a pensar (enquanto aprende a falar e a agir). Tal aprendizado, no entanto, sempre envolve um esforço pessoal, que re-vela como, a cada geração, tudo aquilo que está implicado em ser um ser humano no horizonte daquela comunidade (pensar, falar, andar, agir, produzir, vestir, co-mer, comportar-se etc. – tudo que marca o que um ser humano é) está em jogo e deve ser recriado, reconquistado. O que um ser humano é, como pensar, não lhe dá a natureza. Esta foi a grande lição de Aristóteles em sua ética. Para o horizonte da ética, podemos ler em Aristóteles a descoberta do princípio da historicidade radi-cal, que aponta o pertencimento radical da verdade do agir ao pensar, mas ao mes-
Sensatez como modelo e desafio.indd 160 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 161
mo tempo o pertencimento radical do que o humano é, como pensar, à descoberta, a cada vez, da verdade do agir.
Já em Kant a razão, embora aponte necessariamente para o pertencimento do homem que pensa a prática a uma ordem de fins – em que o homem se encontra diante dos outros os quais deve respeitar como fins em si mesmos – não tem a di-mensão pública como decisiva relativamente ao seu exercício. Isto é, a racionalida-de prática é ativada a cada vez pelo indivíduo, que deve pressupor a comunidade de fins a que pertence, independentemente da sua concreta vinculação a uma comu-nidade ético-política histórica. A sua inserção comunitária não é decisiva do seu pensar prático, pois o homem racional encontra já em si tudo o que precisa para concluir. Já para Aristóteles, as coisas se passam de modo muito diferente. A des-coberta da verdade prática sempre se dá pelo diálogo com o outro, com quem se encontra em cada situação concreta. A posse do logos não se resume num poder individual, mas pressupõe o pertencimento do humano que pensa e age a uma co-munidade em que este pensar se plasma ao longo da história. O exercício do logos não prescinde assim de um envolvimento na ordem comunitária em que o homem desenvolve o seu poder de pensar.
Ter o logos é ser capaz de falar. A racionalidade do pensar prático não vai além da possibilidade de uma decisão ser reconduzida ou reconstruída por meio de pa-lavras que deem conta de justificá-la no diálogo por qual os humanos se encon-tram. A racionalidade prática não tem por fundamento um sentido posto qualquer de que parte para demonstrar, mas é fundada sobre a decisão de manter-se humano como ser racional pela manutenção do propósito de continuar a resolver as coisas por meio do logos, do falar, com exclusão da violência, quando se está entre iguais e livres, isto é, no horizonte da polis.
Tratando-se de um exercício da razão sempre aberto, em que os próprios mo-dos de pensar se plasmam, que se ultima apenas publicamente pelo empenhamen-to de quem pensa os assuntos de sua comunidade concreta, todo humano deve o modo como pensa os processos por que veio a constituir-se humano no contexto daquela comunidade concreta. Não é possível dissociar o modo como uma pessoa pensa da experiência histórica do pensar vivida no interior de sua comunidade.
A referência de Aristóteles ao homem sensato (phronimos) como fundamento da verdade prática revela como o fundamento do pensar é sempre construído his-tórica e comunitariamente. Revela duas coisas ao mesmo tempo: mostra que o que o homem é, como pensamento, ele deve a como se pensa em seu tempo, e mostra
Sensatez como modelo e desafio.indd 161 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles162
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
como o modo de pensar de um tempo é fundado sobre a concreta experiência do pensar dos homens que vivem e viveram.
A radicalidade desta descoberta está exatamente em descortinar como a razão prática se constrói a partir da própria vida, de tal sorte que se compreende como não é possível ser phronimos sem uma significativa experiência de vida. O homem forja a sua inteligência, assim como forja seu caráter, a partir de capacidades natu-rais que comparecem evidentemente como condições de possibilidade desta cons-trução, mas das quais não se pode esperar a determinação do que o homem é, como desejo e como pensamento. A natureza do humano, para além e a partir destas ca-pacidades naturais, está exatamente em sua incompletude: o modo como deseja e como pensa não estão definidos antes e independentemente do seu efetivo desejar e pensar: o homem se ultima e se cumpre, tornando-se quem é, ao desejar e pen-sar – isto é, ao agir.
Isto, que muitas vezes é descrito como uma segunda natureza, é o que marca e especifica o humano. Diferente do deus e da fera, o homem dá a si mesmo a sua própria natureza, existindo.
Do ponto de vista da investigação de como a busca do princípio do agir, e a sua “descoberta” como verdade, fundam-se na natureza racional do humano, é pos-sível inverter o raciocínio para chegar a uma inusitada conclusão: a tentativa de fundar o princípio na razão acaba por revelar como a razão está fundada na procu-ra e na afirmação do princípio. A racionalidade pode ser descrita como esta ativida-de de buscar o princípio para o agir, e os diferentes modos de pensar pelos quais o humano se torna o que é (sendo como pensa) forjam-se pelas diferentes experiên-cias pelas quais cada pessoa, e/em cada comunidade, realizam e legitimam a busca e a afirmação de seus princípios ou fins. Ao mesmo tempo em que é o logos que dá o princípio, o logos se forma na procura do princípio.
8.3 O louvor e a constituição pública do phronimos como phronimos
O exercício do pensar constrói a excelência em pensar, assim como a excelên-cia do desejar se plasma a partir da experiência do desejar. Apenas pensando e de-sejando o humano aprende a pensar e a desejar, tornando-se excelente, ou péssi-mo, nisto.
Não cremos que seja ainda necessário remarcar quão intensamente a experi-ência do pensar no horizonte da ética, e a experiência do desejar se relacionem, o
Sensatez como modelo e desafio.indd 162 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 163
que se liga às relações entre a razão e o desejo353 – e sobre que se funda a afirmação de Aristóteles de que não é possível ser sensato (phronimos) sem ser um homem de caráter – assim como não é possível ser virtuoso sem ser phronimos.
Neste parágrafo atentamos para a dimensão comunitária de todo exercício da sensatez e da virtude ética, e assim para a dimensão comunitária do processo pelo qual alguém pode tornar-se phronimos. Para isto, contamos com os argumentos já desenvolvidos em favor da ideia de que a virtude ética apenas se adquire/conquista no contexto de uma comunidade.
A pergunta sobre o que torna um homem um phronimos não pode ser respon-dida apenas examinando o que se passa em sua alma, como atividade do pensar, mas depende fundamentalmente da sua inserção na comunidade.
Ser phronimos é uma dignidade atribuída pela comunidade. O homem sensa-to (phronimos) não pode ser identificado como tal senão em razão do louvor que ele merece de seus pares. Isto não significa que o louvor seja o fundamento da exce-lência dianoética (intelectual) no horizonte na prática: isto seria o mesmo que afir-mar que o louvor funda a excelência ética e que, assim, ele é superior à felicidade. O louvor não é o fundamento da verdade prática, mas é a expressão do compartilha-mento comunitário da convicção sobre a correição do agir segundo o que se con-sidera, ou se passa a considerar, naquela comunidade, como pensar e desejar (agir) corretamente.
Admira-se o phronimos porque ele age bem (pensa bem as coisas práticas), as-sim como admira-se quem age (pensa) bem porque age (pensa) como faria um ho-mem sensato.
O phronimos é alguém reconhecidamente capaz de resolver bem os problemas no horizonte da prática, seja nos negócios, seja especialmente na política.354 A qua-lidade de phronimos está intimamente ligada ao reconhecimento de seu sucesso no seio de uma comunidade, de que decorre ele ser alguém em que os outros efetiva-mente confiam, pela retidão de seus julgamentos e ações.
Tornar-se um phronimos depende assim de uma história de sucesso pessoal no horizonte comunitário, e não por outra razão o phronimos é o homem feliz – o phronimos tem bom caráter e age bem; como tal, é sério e feliz.
353 Vide supra o parágrafo 39 (“O agir como encontro entre o desejar e o pensar”).354 EN, VI, 7, 1141 b 25- 29.
Sensatez como modelo e desafio.indd 163 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles164
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
A qualidade de phronimos, ligando-se assim à felicidade como sucesso na au-torrealização do humano numa comunidade, depende sempre da adequação do modo como este homem se cumpre (realiza-se) em uma comunidade e o que esta própria comunidade entende por sucesso na autorrealização pessoal. Depende do que nesta comunidade se entende por cumprimento do humano (eudaimonia), e, assim, do que ali se entende por fim do humano.
A partir desta perspectiva, o homem apenas pode tornar-se phronimos na me-dida em que dá conta de cumprir o ideal do humano vigente na sua comunidade – especialmente: é condição que tenha passado pelo processo de conformação do desejo e do pensamento que resume a paideia. O modo de pensar e desejar do phro-nimos/sério sempre estará ligado ao que na comunidade se considera bom.355
Isto é o que apontam as passagens que indicam como o louvor afirma e ins-titui o phronimos. Mas agora é preciso compreender como o phronimos é ao mes-mo tempo o fundamento do pensar (agir) bem em sua comunidade, o que permite também vislumbrar em que medida o louvor se liga à excelência ética.
O phronimos – e é o mesmo dizer: o sério, ou o justo – apenas é considerado excelente por sua exemplar realização do fim do humano tal como se o vê na co-munidade. O phronimos parte de ser perfeitamente integrado na maneira de ser um ser humano na sua comunidade.356 Mas o phronimos, ao mesmo tempo, sempre ins-titui alguma tensão entre o modelo de humano que propõe/realiza ao agir (o prin-cípio/fim que afirma) e o modelo comunitariamente vigente no momento da ação.
O phronimos, sério e justo, não simplesmente repete o fim do humano que en-contra vigente na sua comunidade, via de regra expressa na lei. Sendo toda situa-ção ética singular, e como tal, nova, ela sempre exigirá o exercício presente da razão prática, requisitando um pensar a situação e instituindo um fim adequado àquela situação específica. Ser phronimos é ser capaz de encontrar o melhor a cada situa-ção nova, o que não é o mesmo que simplesmente realizar um fim que tenha vali-do para outras situações passadas, pois o bem, no agir, é o adequado às circunstân-cias que o desafiam.
355 Primeiro porque para que ele seja considerado phronimos é necessário que possa ser reconhecido como um bom representante da comunidade – e é esta autoridade que lhe outorga o poder de instituir o novo princípio, em transcendência à ordem, ao status quo, que ultrapassa e reconforma a cada vez que age (lembrando que todo agir mobiliza a virtude da justiça como equidade).
356 Isto está ligado à afirmação de que, para poder comandar a polis, é preciso ter aprendido a obedecer.
Sensatez como modelo e desafio.indd 164 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 165
Da mesma maneira, sério é o homem que se empenha em encontrar o meio-termo a cada vez, na instituição em si de um bom caráter (ou de si como um homem de bom caráter) – consciente sempre de que a decisão sobre si mesmo atine a cada situação concreta, e de que nada elide a necessidade de sempre pensar cada situação como aquilo por que virá a tornar-se o homem que será.
Assim, tampouco a justiça é simplesmente a virtude de obedecer à lei, mas de a adequar sempre, a cada vez, às exigências da situação concreta, presente. A jus-tiça – não apenas em sentido específico (como virtude de dar a cada um o que lhe cabe das coisas exteriores objeto de repartição), mas especialmente em seu senti-do universal (como rainha, e paradigma, de todas as virtudes) – apenas realiza-se como equidade, o que implica sempre um pensar a situação atual em todas as suas dimensões e aquilatar os poderes da própria lei que a tradição lega para orientar o homem naquele contexto concreto.
Assim como o justo apenas será considerado assim na medida em que seja capaz de a cada vez – partindo da lei – transcender a lei em direção a um princí-pio mais adequado a orientar o agir na situação, também o phronimos apenas é tal na medida em que transcende a ordem de finalidades no horizonte da ética, trans-formando-a parcialmente em razão das especificidades que descobre na situação concreta.
Isto permite vislumbrar bem o lugar do louvor que o phronimos merece de sua comunidade. Ninguém é admirado como extremamente inteligente, no campo da prática, por ser capaz de reproduzir soluções já antes encontradas, impondo-as agora às novas situações. É claro que isto é uma parte do que o grego considerava decidir bem – até porque, agir conforme a lei, sendo a própria lei fruto da atividade do phronimos, é agir conforme ao phronimos. Mas ser phronimos não se reduz a agir conforme à lei. Isto seria o mesmo que reduzir a justiça à observância da lei sem ad-mitir a equidade como virtude de adequar a lei aos casos específicos, de que pode resultar grande injustiça. Fazer isto, simplesmente, não seria cumprir tudo o que Aristóteles considera como o desafio do pensamento prático, que é desvelar a ver-dade atinente à ação, e a ação é a cada vez. Se fosse assim, toda vida ética seria uma simples repetição, e não haveria sequer falar na construção do caráter do humano orientado por sua própria inteligência, por esforço próprio em direção ao melhor. O desafio e a dificuldade própria destes assuntos, que impede tratar “em geral” de-les e de que decorrem os limites da ciência ética e da própria lei, são impostos exa-tamente pela peculiaridade constitutiva de cada situação: pensar eticamente é pen-
Sensatez como modelo e desafio.indd 165 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles166
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
sar cada situação específica e ali divisar o princípio que se lhe adapte. O princípio é novo como é nova cada situação; exatamente porque ele é com a situação.
A inteligência prática do phronimos é louvada exatamente na medida em que ele é capaz de propor novas saídas para problemas urgentes que exigem decisões adequadas. Por ser capaz de encontrar boas saídas para problemas novos é que o phronimos é phronimos. Ele é admirado exatamente pela excelência com que trans-cende a ordem de fins comunitariamente vigente. Ele revela sua excelência do pen-sar prático ao afirmar um modelo de humano e os modos de cumpri-lo (meios) a cada situação nova, e é este novo modelo de humano que é o objeto do aplauso e do louvor da comunidade. O phronimos é phronimos porque institui o princípio do agir. A comunidade o acompanha e o confirma como phronimos ao louvar a sua conduta. Ao fazê-lo, recepciona o novo modelo de humano proposto naquela ação (pois toda ação é afirmadora de um fim que aparece como uma proposta de ima-gem do humano a cumprir) e institui este modelo como novo paradigma no seio da comunidade: esclarece-se como, por força do decidir do phronimos e de sua inser-ção na comunidade, tanto a comunidade constitui o phronimos como o phronimos institui o valor (o bem, o fim, a verdade prática) na comunidade.
A correição do pensar – que envolve a percepção do fim e a administração dos meios – é fruto da atividade do homem que pensa bem a partir de sua inserção na ordem ética, afirmando-a – ao mesmo tempo em que a transcende, na instituição, a partir de cada situação, de uma nova ordem, fundada sobre uma nova imagem do humano (eis que a cada situação o phronimos deve divisar o fim adequado, que é também de alguma maneira novo).
Enfim, o aplauso que a comunidade dirige ao phronimos ao instituí-lo como phronimos é expressão de adesão ao projeto de humano que ele sugere, e não mera recompensa pela sua obediência à ordem. Ele é louvado por sua criatividade ética. Seu sucesso como phronimos requer o exercício sempre da phantasia como imagi-nação no sentido produtivo.
A comunidade expressa o seu louvor com os olhos postos no futuro – é aplau-so para a nova humanidade que o phronimos/virtuoso/justo, a cada vez, inaugura ao confirmar-se como o mais legítimo representante da comunidade que transcende.
Ao aplaudir o phronimos, a comunidade está admitindo como seu o projeto de humano que ele exterioriza com seu agir, e está, ao torná-lo phronimos, decidindo o tipo de comunidade que é.
Sensatez como modelo e desafio.indd 166 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 167
8.4 Caráter e ordem política
Há algumas perguntas que devemos tentar responder após ter reunido alguns destes temas e problemas da ética aristotélica. É sempre legítimo dirigir tais per-guntas a quem se dedica a estudar o pensamento prático de Aristóteles.
Em primeiro lugar, é justo esperar de quem crê ter compreendido Aristóteles que dê conta da finalidade com que a sua ética foi escrita: para quem Aristóteles es-creveu a ética e com que objetivo?
Aristóteles se encontra, de certa maneira, com a ética aristocrática quando pensa no homem sério/phronimos como o fundamento da verdade prática. É evi-dente que ele não considera estar ao alcance de qualquer um a transcendência/re-formulação da lei/ordem que está implicada no exercício da sensatez a cada caso: isto está reservado para os melhores. Para a generalidade (polus), a descoberta do fim se dá pela simples observância da lei; para a generalidade, a lei pública – exte-rior – é o orthos logos a que o desejo do homem virtuoso obedece, sem que este-ja ao seu alcance o poder de reconformar a lei por meio da sua racional aplicação equitativa. Talvez este seja mais um ponto de contato com a ética platônica (ou tal-vez sejam simples sintomas da comum inquinação em seu tempo, no contexto da ética aristocrática). Mas, mesmo que a ética aristotélica tenha sido pensada como uma justificação da existência de uma sociedade em que a uns cabe determinar a ordem e a outros recebê-la, como Aristóteles em vários lugares expressamente afir-ma, o modo como descreve fenomenologicamente o processo de constituição do humano e da ordem realça o papel do homem concreto, e a rigor de qualquer ho-mem, no processo de construção ontológica do mundo como eticidade (como ca-ráter e como costumes).357
357 De todo modo, o que nos interessa é esta radical diferença com relação a Platão: para Aristóteles não está de antemão decidido quem é capaz de dispor sobre a ordem, pondo (vendo) o bem. A capacidade de divisar o bem na situação concreta (aquele para quem “o bem para ele”, o bem tal como lhe parece, é “o bem em si”) é em parte natural e em parte uma conquista do homem. Para Platão, tal poder é inato, o que predetermina para sempre o lugar de cada um na cidade de sua utopia. A ética aristotélica, na medida em que coloca ênfase no poder de autoconstituição do humano como inteligência, abre para pensar todo e qualquer regime político, e especialmente a democracia na sua mais alar-gada concepção. Para tanto, é preciso apenas desprezar a convicção de Aristóteles de que há pessoas (e povos) naturalmente incapazes para o exercício da razão, e assim condena-dos a serem escravos, ou a outras formas de submissão.
Sensatez como modelo e desafio.indd 167 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles168
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Mas não é este o aspecto que pretendemos focalizar. No Livro I da Ética a Ni-cômaco, como já realçamos, Aristóteles adverte que não o move ali um interesse apenas teórico. Ele não pretende simplesmente saber sobre o bem, mas cumpri-lo, pois o objetivo de qualquer lição ética é transformar o humano, é fazer bons os ho-mens. A ética tem, assim, um objetivo político, e gostaríamos de sugerir a pergunta sobre que objetivo político Aristóteles estaria a propor-se ali.
Esta reflexão acompanha-se da tentativa de pensar qual a concepção políti-ca que Aristóteles acalenta. Tornar-se um homem bom, na perspectiva de Aristó-teles, não é possível senão no contexto de uma ordem política boa. O problema da correição do caráter está vinculado ao problema da correição da ordem normati-va, em cujo interior o caráter se desenvolve. Está sempre muito claro como a Ética a Nicômaco e a Política perfazem uma unidade. A concepção de homem bom e a concepção de boa ordem política (a cuja investigação dedica a Política) são indis-sociáveis, e Aristóteles não pensava que um destes termos pudesse realizar-se de-sacompanhado do outro.
A leitura da Política sugere uma tendência aristocrática a marcar as preferên-cias políticas de Aristóteles. Há muitas passagens em que ele declara sua predileção pelo regime em que o governo é reservado aos melhores, propondo o mérito como o critério de acesso aos cargos políticos. Esta impressão é intensificada pelas dife-rentes críticas que ele dirige à democracia e pela sua admiração pelo regime monár-quico, que descarta apenas por já não haver homens tão elevadamente virtuosos a ponto de se poder atribuir-lhes individualmente o poder político.358
Aristóteles comparte esta tendência aristocrática com Platão e Sócrates, e é coerente com a sua concepção de virtude (e da felicidade em sua ligação essencial com a virtude). Sua teoria da justiça como uma teoria da virtude parece assim uma tomada de posição em favor dos partidos oligárquicos de seu tempo, e uma tenta-tiva de justificação filosófica de pretensões políticas destes, na intensa pugna pelo poder naquele agitado século ateniense. Não temos condições aqui de reconstruir as condições políticas, muito complexas e marcadas por uma grande instabilidade, que marcaram o tempo em que Aristóteles lecionava.359 É preciso, no entanto, ter em mente tratar-se de dias muito conturbados, em que a experiência democrática
358 ARISTÓTELES. A Política, Trad. Nestor Siqueira Chaves, p. 174.359 Para tanto, vide: FINLEY, Moses. Política no mundo antigo, p. 121 e ss.; MACINTYRE,
Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade?, cit., p. 21: “A visão aristotélica da justiça e da racionalidade prática emerge dos conflitos da polis antiga”.
Sensatez como modelo e desafio.indd 168 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 169
ensejava não poucas turbulências, entre as quais especialmente recorrentes tenta-tivas de reintrodução do regime aristocrático ou de tiranias. O grego tinha, então, consciência de viver tempos de crise. Tinha, especialmente, consciência da histo-ricidade da ordem política em que vivia e da responsabilidade humana sobre a sua própria existência.
Uma reconstrução da história da palavra aretê – que sintetiza a concepção éti-ca grega – mostra as raízes aristocráticas da ética como afirmação de certo modelo do humano como bom, belo e justo, e o modo como esta concepção foi desde sem-pre afirmada por uma determinada classe e imposta às demais. Nesta perspectiva, a ética filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles vincula-se à tradição homérica de uma ética classista ideologicamente comprometida com certa ordem política. Mas dizer apenas isto deixa na obscuridade o ponto decisivo do pensamento ético-po-lítico de Aristóteles.
É justa a impressão, causada pelos textos, de uma simpatia de Aristóteles para com a causa aristocrática. Mas uma leitura mais detida da Ética a Nicômaco e da Política revela que o seu ponto de vista é um pouco mais complexo do que isto. Cremos ser possível interpretar estes textos atribuindo indiferença por parte de Aristóteles com relação ao regime político vigente (se monárquico, aristocrático ou democrático), pautando a leitura antes pela tentativa de compreender como Aris-tóteles procede ao exame de todos os regimes com olhos postos no problema da es-tabilidade da associação política: esta sim seria a grande preocupação e o principal compromisso de Aristóteles na ética e na política.
Para além de tentar defender este ou aquele regime, o que preocupa Aristóte-les é a aptidão do regime político para garantir a continuidade da associação polí-tica. O problema de saber qual a melhor politeia reconduz-se ao problema da des-coberta do regime que oferece as melhores garantias de estabilidade e permanência da polis. Sem esconder sua predileção por uma constituição que reserve o direito e o dever de governar para os melhores (por exemplo, condenando, como Platão o fi-zera, sistemas de atribuição de magistraturas por sorteio), e defendendo a excelên-cia ética como critério para aceder ao poder, ele não deixa de lançar inúmeras ob-servações e advertências em favor da estabilidade das constituições instituidoras de diferentes regimes, com cuja estabilidade se preocupa.360
360 Este não é um ponto que pretendemos aprofundar aqui – a comprovação desta tese exi-giria uma exaustiva documentação. Um dos principais caminhos desta argumentação pode-se encontrar na posição de Aristóteles relativamente ao governo monárquico: para
Sensatez como modelo e desafio.indd 169 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles170
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Esta leitura pode ser acusada de impor uma submissão da ética à política, no sentido de que o agir bem deixa de ser o fim último do próprio agir para tornar-se meio relativamente à permanência e à estabilidade da polis, conflitando com a afir-mação de que o fim da ética é o mais elevado pois é fim último (não vindo a retirar sua qualidade de fim da vinculação a outro fim, como a estabilidade da polis). Mas afirmar que o fim do agir bem é a salvaguarda da polis não significa sobrepor-lhe outro fim, e não implica, portanto, impor uma instrumentalização à ética. Isto por-que a preocupação com a permanência da polis é a preocupação com a garantia das condições de possibilidade de toda ética.361
A partir do ponto de vista de que a ética está comprometida com a continui-dade da vida da polis, interessa esclarecer as relações entre o indivíduo e a ordem ético-política em que ele se forma e a partir da qual age. Interessa esclarecer as rela-ções entre as diferentes acepções da palavra ética, que tanto quer significar uma ci-ência do caráter como uma ciência dos costumes (normatividade).
A descrição da vida ética como um processo de conformação do desejar-pen-sar por meio do agir em cada situação concreta mostra a vida humana como uma progressiva assimilação da ordem ético-política em que o humano se encontra, ao mesmo tempo em que mostra como toda ordem funda-se sobre o caráter dos ho-mens que a integram.
Pela interiorização do costume, escopo do processo de constituição ética do homem (de formação do seu caráter) a ordem política plasma o homem. A ordem passa a encontrar na sua própria alma a garantia contra a instabilidade que a todo momento ameaça a permanência da polis. A afirmação da vida boa como vida feliz na virtude, como atividade estável do homem que alcançou construir a si mesmo como virtuoso, assegura a estabilidade da ordem política e a permanência da polis,
Aristóteles este é o melhor governo, se ele não é corrupto e, portanto, se o critério para a outorga do poder monárquico se funda no mérito. Aristóteles, que defende a posse da virtude como o critério para a obtenção do poder político, não pode deixar de defender que, havendo na polis um homem incomparavelmente superior aos demais, a ele deve-ria ser entregue o governo da polis. ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Siqueira Chaves, cit., p. 174. No entanto, o mesmo Aristóteles justifica e defende a imposição do ostracismo a homens extremamente superiores, em homenagem ao meio-termo e assim à estabilidade da ordem política.
361 Esta é, a propósito, uma interessante maneira de esclarecer em que sentido a política é a mais divina das ciências, tal como Aristóteles afirma no Livro I da Ética a Nicômaco. Ela é a condição de possibilidade de todo processo de construção do caráter. ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Siqueira Chaves, cit., p. 316.
Sensatez como modelo e desafio.indd 170 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 171
seja lá qual for o regime político a vigorar, pois o caráter do homem virtuoso terá sido formado em consonância com a lei instituidora daquela ordem.362
Pelo processo de conformação do caráter, o homem fica a dever à comunidade (ao costume) parte essencial do sucesso no esforço na construção de si como virtu-oso (fica a dever-lhe, assim, a sua felicidade). Embora Aristóteles atribua uma im-portante parcela das causas da felicidade à natureza (em que se inclui o acaso) ou à sorte (condicionando assim o sucesso do humano a fatores que não encontram nele o seu princípio – ponto em que mais uma vez se divisam os limites da ética), o essencial para a realização da felicidade é localizado no próprio humano, de cuja ação depende a alimentação do hábito da virtude, em consonância com a qual se dá a atividade do homem que vive bem, que é feliz. A felicidade é uma estabilida-de que o homem alcança em resultado ao modo como age ao longo da vida. Este agir dá-se sempre no horizonte da lei; em princípio, toda ação, para ser justa (justi-ça em sentido universal, valendo para todas as virtudes éticas), deve ser conforme à lei. Pelo processo de construção do caráter, a ordem política (a própria polis, ou o seu regime político) internaliza-se em todos os humanos que se socializam den-tro de uma polis.363 Todos e cada um passam a moldar o seu desejo, desde o nasci-
362 “Esta interiorização da lei constitui a unidade moral da personalidade ética; a unidade que confere ao virtuoso sua harmonia e satisfação interior, que o torna companhia de-sejável para si mesmo, enquanto o perverso se acha sempre dividido interiormente e se torna inimigo para si mesmo (EE, VII, 6, 1240 b). É evidente que nesta ideia da amizade ou inimizade do homem consigo mesmo, pela qual se torna ele companhia desejável ou indesejável para si mesmo, se acha implícita a concepção de uma espécie de colóquio interior constante de cada um consigo mesmo, que representa verdadeiro e contínuo exame de consciência”. MONDOLFO, Rodolfo. O homem na cultura antiga... cit., p. 368. Deste ponto de vista, a estabilidade da polis encontra amparo na tranquilidade da alma do homem virtuoso.
363 Aristóteles. A política, V, 1310 a 12-22: “De todos os meios identificados para assegurar a duração das constituições, o mais importante e aquele que toda gente negligencia atu-almente, é um sistema de educação adequado ao regime político. De fato, não se retirará qualquer proveito das leis mais benéficas, mesmo sancionadas pela unanimidade dos membros de uma cidade, se estes membros não tiverem hábitos que estejam de acordo com o espírito da constituição: de caráter democrático, se as leis forem democráticas, de espírito oligárquico se as leis forem oligárquicas; na verdade, um indivíduo pode não ter controle sobre si próprio, e o mesmo se pode passar com uma cidade. Mas ter recebido uma educação de acordo com a constituição, é fazer não o que agrada aos oligarcas ou aos adeptos da democracia, mas aquilo que irá permitir a uns ter um governo oligárqui-co e a outros governar democraticamente”. Apud MOSSÉ, Claude. O cidadão na Grécia antiga, p. 109.
Sensatez como modelo e desafio.indd 171 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles172
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
mento e até a morte (por meio dos processos de educação e de submissão à lei) em conformidade com a lei da polis, e assim a fundar em si mesmos o regime políti-co que institui a polis. A ética, neste sentido, encontra na política uma ciência mais “arquitetônica”, mas é ao mesmo tempo percebida como a condição de possibilida-de da política, que fica a dever à ética o seu fundamento mais radical: afinal de con-tas, onde mais se pode fundar a ordem política senão na alma dos homens que vi-vem sob suas leis?
Esta foi uma intuição de Aristóteles muito especial pelo modo como orien-tou a construção de sua ética enquanto teoria das virtudes. Virtudes são hábitos e assim disposições do desejo que constituem o homem, sendo assim capazes de o mover. Pela descoberta da radicação da ordem na alma, por meio da mediação da lei na constituição do caráter, Aristóteles estabelece um vínculo muito forte entre o agir de cada homem e a ordem política em que vive, eis que o próprio caráter do homem – isto é, o próprio tipo de ser humano que cada homem é – é forjado pela ordem política em que vive.
A afirmação de que a ordem ético-política encontra seu fundamento no ca-ráter do próprio homem é coerente com os pressupostos imanentistas do pensa-mento aristotélico, no contexto de sua ruptura com o platonismo. Desde quando se admite estar na mão do humano a determinação do que é o bem para o humano – abrindo-se assim o horizonte daquilo que encontra no próprio homem o seu prin-cípio, como aquela fração inacabada do universo que aguarda ultimação pelo hu-mano – deve-se também admitir que a ordem ético-política encontra no próprio homem o seu fundamento.
É preciso chamar a atenção para que há duas dimensões, ou faces, deste per-tencimento do homem à ordem política. Assim como a construção do caráter se deve à ordem política em cujo interior o caráter se forja, também a ordem norma-tiva é tributária dos processos de constituição ética do humano. Afirmar a funda-mentação da polis sobre o caráter do humano (colocada na base de uma ética com-prometida com a felicidade como atividade permanente e estável de acordo com a virtude) é o mesmo que afirmar a fundamentação do caráter do humano sobre a polis. São duas faces da mesma moeda.
Se pela conformação comunitária (política: na polis) de seu caráter, o homem fica a dever o seu ser ao seu tempo e à sua comunidade – à ordem sob a qual se for-ja – também pelo mesmo processo a ordem política fica a dever o seu próprio ser ao caráter dos homens em que se funda. A ordem determina-se a partir dos homens
Sensatez como modelo e desafio.indd 172 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
O fundamento da correição da ação 173
que a habitam, e vice-versa. Por isto a vida ética não se enclausura na repetição de uma tradição, esclarecendo-se como a ordem política está sempre em jogo, vez que ela está em constante processo de reconstituição, na exata mesma medida em que o caráter do humano – no horizonte das gerações que se sucedem, assim como no horizonte da vida individual do homem – está sempre sendo forjado.
O que é justo, o homem aprende com sua comunidade, e por isto a justiça encontra no respeito à lei uma de suas principais acepções. A descrição da justiça como obediência habitual à lei espelha como a ordem dá conta de internalizar-se no humano, moldando-lhe o desejo e fazendo-o querer o que deve querer, como, quando, quanto, em face de quem etc. segundo a ordem em que se insere. Mas tam-bém está muito claro – a partir do exame da virtude da justiça como equidade, da sensatez como racionalidade prática determinadora do que é justo fazer a cada vez, da reconstrução fenomenológica do agir como um decidir sempre situado e desa-fiado pela tarefa de afirmar (imaginar) para o futuro uma imagem do que é o bom, o belo e o justo para o humano, e do phronimos como o fundamento de validade do modelo de humano afirmado a cada vez – que o agir não se reduz nunca a uma simples repetição do passado e que, portanto, toda ação que forja o caráter não é nunca apenas e simplesmente uma reafirmação da ordem. Ao contrário, a ordem está sempre em jogo, a ser permanentemente reconfigurada por força da reconfi-guração do caráter dos humanos que a suportam. Se o homem é o fundamento da ordem política (que é o mesmo que dizer: se o phronimos é o fundamento da verda-de do agir), e o homem é sempre um processo aberto e incompleto no esforço pela constituição de si mesmo como um homem bom, também a ordem política é mar-cada pela contingência, pela incompletude, pela abertura e pela processualidade.
Sensatez como modelo e desafio.indd 173 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 177
A interpretação que propusemos da Ética a Nicômaco objetivou problematizar aqueles temas que mais de perto referem aos interesses da argumentação.
A pergunta desde o início colocada atine a como conceber o direito numa perspectiva pós-essencialista (com a recusa assim de todo cognitivismo ético), mas sem deixar de tentar considerá-lo como direito. Trata-se de uma investigação que tenta repensar o direito como modo de ser (de desejar-pensar) de um humano que já não alimenta crenças metafísicas no sentido tradicional, relativamente à sua pró-pria essência ou natureza, mas que está ao contrário lúcido quanto ao fato de que a sua essência, a sua própria natureza como ser humano, ele mesmo constrói, ao viver.
A partir deste ponto não mais o amparam as convicções racionalistas do ilu-minismo acerca da natureza do homem. Não mais o assiste uma concepção de ra-zão capaz de garantir-lhe, por si mesma, qualquer coisa em sede de sua própria humanidade e dignidade. Sem poder derivar quaisquer direitos de sua própria es-sência natural racional (nem sequer da sua natureza racional como ser de lingua-gem, tal como kantianamente procede a ética do discurso), torna-se urgente re-pensar o significado do humano como um ser racional, e, no campo da filosofia do direito, reexaminar a concepção segundo a qual o direito é o fruto ou a expressão da racionalidade do homem.
Embora o que se chame de pós-modernismo componha, inclusive no direito, um conjunto muito variado e contraditório de concepções, marcado por diferen-tes momentos – cujo panorama não reconstruímos aqui – o nosso ponto de partida tem em comum com uma sua primeira fase a recusa de todo essencialismo moder-no (e antigo) e de uma respectiva teoria do direito que parte das cômodas certezas modernas acerca do humano e do direito.364
Há, porém, um ponto em que nos apartamos da generalidade das concepções ditas pós-modernas, na medida em que a pergunta que dirigimos ao direito é ain-da pela sua racionalidade.
364 “One way of characterizing the first phase of postmodernism, if the periodisation that this implies can be accepted, is that part of its main initial intellectual claim was oppo-sitional. Postmodernism opposed the certainties of modernity and the “truths” of En-lightenment thinking. Above all, postmodernism questioned the possibility of a pure expression of a human “essence”. This notion was supposedly guaranteed by thought´s unmediated access to an inner authentic and whole self, and passed through self´s im-mediate manifestations, speech and its accompanying gesture”. DOUZINAS, Costas, WARRINGTON, Ronnie. Justice miscarried: ethics and aesthetics in law, p. 7.
Sensatez como modelo e desafio.indd 177 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles178
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Mas a pergunta pela racionalidade do direito – ou, melhor dizendo, a pergun-ta pela racionalidade que o direito é – não pode ser colocada nos termos com que a modernidade a enfrentou, com suas pressuposições metafísicas essencialistas.
Para refletir sobre a racionalidade que se pode atribuir ao direito, recuamos na história da filosofia para buscar em Aristóteles um paradigma do pensamento prá-tico tal que possa colaborar no esclarecimento das questões que propusemos. Fize-mo-lo interpretando, à luz de pressupostos ontológicos pós-essencialistas (e desco-brindo o quanto Aristóteles adiantou do pós-essencialismo contemporâneo, com sua ética), a sua teoria fenomenológica do agir, que revela a sensatez como a exce-lência do pensar empenhado em todo agir ético, racionalidade que governa a cons-tituição e o exercício da virtude da justiça.365
É conveniente, embora difícil, sumariar os resultados parciais da argumenta-ção desenvolvida, o que tentamos nas próximas linhas um tanto esquematicamen-te, dividimos a argumentação em duas diferentes partes. Em primeiro lugar, ex-traímos algumas conclusões acerca do estar em jogo o homem e a ordem a cada decisão no horizonte da justiça, mobilizando assim a rememoração e as interpre-tações da Ética a Nicômaco desenvolvidas até o capítulo sobre a virtude da justiça. Depois passamos às conclusões da leitura do seu Livro VI, tentando compreender, especialmente, a racionalidade própria que caracteriza o direito e a vida prática em geral.
9.1 O comprometimento do ser do humano e da ordem no agir no horizonte da justiça
a) A concepção psicológica de humano de Aristóteles – assim como a especial relação da alma como o corpo (que não é simplesmente recusado como um cárcere da alma, como em Platão) – resulta numa ética que não se preocupa apenas com a dimensão racional do homem. Ao contrário, a ética é a ciência do humano como humano, exatamente porque o apreende na sua específica com-plexidade e tensão interior: parte animal (desejo), parte deus (razão). O pro-blema ético se funda sobre esta característica do humano, como o problema da boa (da melhor) determinação do desejo, a partir da orientação da razão. Fica sempre muito claro como o corpo e a alma inteira, em todas as suas dimensões
365 Como a justiça é a rainha das virtudes, usamo-la nesta conclusão para referir o conjunto das virtudes éticas. Para referir à justiça em sentido particular, especificaremos este sen-tido, ou usaremos a palavra direito.
Sensatez como modelo e desafio.indd 178 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 179
(sensação, sentimentos e apetites – paixões – vontade e desejo, razão e lingua-gem) estão empenhados e mobilizados no agir ético. Em consequência disto, o agir ético tem efeito constituidor-conformador sobre a totalidade do homem, pois o homem inteiro está em jogo no agir.
b) Esta diferença ou tensão constitutiva mostra como a natureza do homem como um ser racional está sempre para ser conquistada; a relação entre o desejo (a parte irracional da alma) e a razão está sempre por ser decidida, do que resulta estar sempre em jogo a concreta afirmação, em cada momento de sua vida, do homem como um ser racional. A ética como doutrina das virtudes aponta para uma conquista progressiva do desejo pela razão, por meio da habituação do desejo a querer conforme a razão lhe sugere (tornando-se assim, no homem de caráter, dócil o desejo relativamente à razão): mas isto não elide a necessidade de, a cada vez, o diálogo entre a razão e o desejo ser travado: ser um ser racional (governar-se a alma pela razão) não está nunca assegurado ao humano: haver-se com sua própria paixão é seu desafio inevitável, enquanto dura.
c) O empenhamento de toda a alma e do corpo no agir, e na autoconstituição de si mesmo no agir fica claro pelo modo como o agir tem o efeito de conformar o desejo – boas ações constituem um bom caráter, que nada mais é do que uma conformação (habituação) do desejo, fazendo com que o homem passe a incli-nar-se a desejar de certa forma. Mas não só o desejo: o agir também conforma o sentir do humano, de tal sorte que o homem de bom caráter (sério e com au-todomínio) passará a encontrar prazer nas coisas em que deve (no bem): como resultado do seu esforço na autoconstituição de si como um homem virtuoso, ele sentirá prazer no meio-termo. Mas não apenas: a definição das excelências do pensar como virtudes, portanto como hábitos ou disposições, revela como também esta dimensão da alma (a razão) é construída por meio do exercício do pensar. No horizonte da prática, a excelência em resolver problemas de jus-tiça é fruto da experiência concreta nesta atividade. O phronimos só se torna phronimos em resultado a uma longa experiência adquirida em pensar as coisas da justiça. O agir tem um efeito extraordinário sobre o ser do humano: o agir conforma seu sentir, seu desejar e seu pensar, exatamente porque agir implica sempre sentir, desejar e pensar.
d) Aqui há um ponto em que o recurso a Aristóteles é útil para aprofundar o di-reito como pensar e modo de estar no mundo. O direito como pensar não quer significar um pensar num sentido simplesmente intelectivo, mas, ao contrário, quer denotar o pensar como o estar do homem diante do mundo. Esta ideia do
Sensatez como modelo e desafio.indd 179 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles180
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
direito como pensar deve compreender a integralidade do ser do humano, com todas as dimensões da alma e do corpo: sentir, desejar e raciocinar.
e) Esclarece-se também como o pensar que está em jogo no direito (este pensar que o direito é) tem efeito constituidor da integralidade do humano, plasman-do seu corpo e sua alma, seu sentir, seu desejar e seu raciocinar. Esclarece-se o quanto de si o homem fica a dever ao modo como vive o direito.
d) Esclarece-se o que distingue o humano relativamente a todos os demais entes: a sua incompletude. O humano se marca pela necessidade de determinar o seu ser: ele não vem ao mundo pronto, mas depende de uma ultimação. O próprio humano é responsável por completar a si mesmo, configurando seu caráter e sua inteligência ao agir e pensar. Isto esclarece como o modo de pensar as coisas práticas, em que se integra o direito, é responsável pela constituição ontológica do humano.
e) A incompletude do humano fica ainda esclarecida pela descrição fenomenoló-gica do encontro com o outro como uma condição imprescindível para a ulti-mação de si mesmo: o outro (e, portanto, a polis) não é necessário apenas por-que com ele se estabelece a troca que viabiliza a satisfação de necessidades, mas porque apenas pela mediação do outro (e da polis) o homem pode agir (agir é sempre atuar em face de outro) e assim encontrar a oportunidade para comple-tar a si mesmo, plasmando-se como caráter e inteligência.
f) A ética aristotélica não deixa de reconhecer os limites dos poderes do humano sobre si mesmo – o trágico esclarece os limites da ética e da política: há um elemento imponderável que pode sempre influenciar o destino do homem, tal que o exercício de sua razão não é capaz de controlar. A vida na virtude é o mais alto ponto que o humano pode alcançar no seu esforço para escapar à natureza e à sorte (tukhê) na determinação de seu destino, mas o destino (moira) guarda sempre ainda seus direitos sobre o homem.
g) O estudo das virtudes éticas, especificamente consideradas, é útil para patentear algumas características da virtude ética em geral. Assim é que algumas delas revelam-se paradigmáticas: todas as virtudes são formas de temperança, escla-recendo-se como está em jogo, em todo agir, a dominação da paixão pela razão; todas as virtudes são formas de generosidade, na medida em que em todas elas está em jogo um atender ao outro, mas com o estabelecimento ao mesmo tempo de limites ao autossacrifício do homem que age em benefício do outro (assim como a generosidade não se confunde com o vício da prodigalidade).
Sensatez como modelo e desafio.indd 180 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 181
h) A discussão da justiça começa com recurso ao uso da palavra dikaiosunê na lín-gua comum, em que aparecem três diferentes acepções, todas elas esclarecedo-ras do sentido desta virtude: justiça como lei, justiça como respeito à igualdade e justiça como equidade. Estas três acepções não se apartam, mas se implicam reciprocamente, assim como nenhuma delas dá conta de esclarecer, sozinha, o sentido de justiça como virtude.
i) A justiça, como virtude de obedecer à lei não implica uma simples assimilação da justiça à lei. Para Aristóteles, a lei não é justa pelo fato de ser lei (ao contrário, Aristóteles não abre mão de um ponto de vista de justiça, tal que possa criticar a lei), mas só é possível pensar a justiça (e a virtude em geral) nos quadrantes de uma ordem ético-política concreta.
j) A ênfase colocada no caráter social da justiça, para além de indicar a qualidade distintiva desta virtude relativamente às demais, serve para chamar a atenção para uma característica da justiça que a torna paradigmática relativamente a todas as demais: o envolvimento do outro, muito destacado nas situações do horizonte da justiça, é, na verdade, um traço característico de todas as virtudes éticas.
k) A importância da alteridade em todas as situações éticas evidencia-se pelo fato de que todo agir ético é um agir diante do outro, o que também chama a atenção para como o humano fica a dever, ao outro com quem lida, parte decisiva de seu processo de autoconstituição ética: na medida em que o caráter e a inteligência prática do humano somente se plasmam ao agir, apenas por seu encontro com o outro o humano tem a oportunidade de construir a si mesmo. Mas o outro é considerado de uma especial maneira no horizonte da justiça, pois ali ele com-parece como igual. Na medida em que a justiça institui os homens como iguais, nas situações de repartição dos bens de que depende a felicidade, ela institui a ordem da convivência como uma ordem política, e assim é responsável pela afirmação das bases da polis como associação de homens livres e iguais.
l) O outro que comparece na situação é também essencial para a determinação dos contornos da situação, e, assim, para a determinação da ação correta naque-la situação: o bem do agir é sempre e a cada vez um agir bem tendo em vista o lugar, o tempo, os meios, os fins etc., assim como é também agir bem tendo em vista a pessoa em face de quem se age. O outro que está em causa em todo agir na fenomenologia aristotélica da praxis, não é outro em geral, mas tem sempre um rosto, é sempre alguém concreto cuja singularidade é essencial para a deter-minação da correição do agir.
Sensatez como modelo e desafio.indd 181 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles182
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
m) A comum referência ao outro agudiza o problema da distinção da virtude da justiça e das demais virtudes, que é o mesmo problema que distinguir a justiça em sentido específico da justiça em sentido absoluto. O critério para tanto es-tará no fim do ato, ou, visto por outro ângulo, no seu motivo: se o que move o homem a respeitar a pertença do outro é o seu hábito de dar a cada um o seu, trata-se de justiça; se o que leva um homem a deitar-se com a mulher do outro é a paixão e não a cobiça por dinheiro, não será o ato injusto mas devasso: o crité-rio para assinalar a qualidade especificamente justa da ação é a ação ser movida pelo desejo de bens exteriores em repartição, relativamente aos quais o injusto é capaz de tudo para obter mais do que lhe cabe. O injusto é capaz de cometer atos próprios de todo tipo de perversão (sua cobiça é capaz de fazê-lo ser covarde, intemperante, mentiroso ou mesquinho) e por isto a injustiça é a pior de todas as perversidades.
n) A justiça, como disposição para dar a cada um o seu, instaura a igualdade entre os homens, que ostentam então o direito de receber cada qual o que lhe cabe dos bens exteriores de que depende a felicidade. Estando na base da igualdade, a justiça está na base na vida política, da polis como uma associação de homens livres e iguais. A mera afirmação da justiça não resolve o problema do critério da determinação do meu e do seu. Mas este é já um problema político (é político o problema dos critérios atinentes ao que pertence a cada um, resolvendo-se no âmbito de cada regime político particular), que apenas se põe como um proble-ma de critério desde quando a justiça institui os homens (mesmo que apenas alguns homens) como iguais, a partir da afirmação do seu direito ao que é seu, segundo um critério de igualdade proporcional. Os diferentes regimes se con-figuram a partir de diferentes respostas ao problema do critério (conteúdo) da igualdade como proporcionalidade que funda a vida política.
o) A concepção de justiça como equidade liga-se fundamentalmente à concepção da justiça como igualdade. A lei é geneticamente incapaz de abranger qualquer caso em sua inteireza, e por isto a equidade é inevitavelmente requerida em todo caso (e não apenas eventualmente). Cumpre-lhe ultimar a lei, dando-lhe condições de aplicar-se a cada caso.
p) A inevitabilidade da equidade em toda situação do agir (pensando a equida-de como adequação da lei à situação, e lembrando que a lei atine a todos os horizontes das disposições éticas) liga-se à conclusão de que a racionalidade prática, de que a sensatez é a excelência, é requerida em todo agir, de tal sorte que a lei não pode substituir a razão prática na determinação do agir, embora
Sensatez como modelo e desafio.indd 182 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 183
seja sempre algo de que a razão prática parta, quando delibera para decidir. Se a lei não pode ser aplicada senão pelo exercício da razão prática (mediando-se, portanto, pela equidade), ao mesmo tempo resta esclarecido que a razão prática, a sensatez, não se exerce senão nos quadrantes e a partir da lei (todo homem sensato, phronimos, é um homem de caráter: ele tem o hábito de seguir as leis sob as quais foi educado e em relativamente às quais é considerado um homem de caráter.
q) Tanto a justiça distributiva como a comutativa são formas de igualdade ins-tituída como proporcionalidade, a primeira no horizonte na partição de bens da comunidade entre seus membros, e a segunda nas relações intersubjetivas, como transações e crimes. Nunca a peculiaridade do outro que está na situação deixa de ser considerada (eis o que distingue a justiça da simples retaliação), mas, na justiça comutativa, a ênfase é posta na variação da pertença das coisas aos homens envolvidos na situação, procurando instituir um equilíbrio entre o estado anterior e o posterior à situação e à ação, como critério da igualdade. Ela parece ser, assim, uma virtude voltada para a manutenção da ordem instituída, na medida em que zela por que cada qual saia de cada situação de troca com a mesma esfera de pertença com que entrou. Mas há uma ressalva a fazer.
r) O exame do problema da determinação do preço da coisa objeto da troca no ho-rizonte da justiça oferece um esclarecimento adicional sobre o lugar da equidade na determinação do meio-termo em toda situação ética. O problema da justiça como igualdade na justiça comutativa (de que é o maior exemplo a transação de coisas mediante preços) impõe que cada um saia da transação com coisas com valor correspondente ao valor das coisas com que entrou na troca. Assim, na troca de sapatos por pães, o arquiteto deve receber do padeiro tantos pães quan-tos correspondam (proporcionalmente) a uma casa, assim como o padeiro deve receber uma casa no valor proporcional a tantos pães que deu. Mas como se determina o valor de pães e casas? Pelo valor do trabalho do padeiro e do arqui-teto, de tal sorte que, por consequência, o valor das coisas é determinado pelo valor do homem que as produziu. Mas a flutuação da moeda indica, no entanto, que o valor das coisas acaba por ser influenciado por algo para além do valor do seu produtor. Na verdade, o valor da coisa só se determina efetivamente na situ-ação concreta da troca, quando o meio-termo deverá ser enfim encontrado, isto é, quando o justo preço poderá ser afirmado. O valor da coisa, determinado pelo valor do homem que a produziu, não deixa de participar com peso importante na determinação do valor situacional da coisa (que é sempre o seu valor efetivo,
Sensatez como modelo e desafio.indd 183 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles184
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
seu preço), que sempre o tem em vista como o valor “a princípio” válido para aquela coisa. Mas o valor só se determina efetivamente ante a concreta pressão da necessidade dos homens envolvidos na troca, só se determina na situação.
s) Mas, se há diferentes preços ou valores das coisas antes e depois da troca, não há como apurar a proporcionalidade entre o valor daquilo com que alguém entrou e daquilo com que saiu da troca, a não ser que se introduza a noção de equi-dade como virtude retificadora do valor inicial das coisas (antes da situação), adequando-as ao valor situacional da coisa, que é no final dos fatos o seu valor efetivo (pois é o valor com que a coisa foi efetivamente trocada). O preço “a princípio” da coisa, determinado pelo valor do trabalho de que resulta, não é senão o ponto de partida para a determinação do efetivo valor da coisa, o qual só pode ser determinado mesmo na situação.
t) Isto esclarece o lugar da lei em toda situação no horizonte da justiça. Acontece o mesmo com a lei, que tem um sentido prévio à situação, o qual, no entanto, não é nunca exatamente o seu sentido jurídico numa situação concreta, por força da equidade. O que a lei finalmente é apenas pode ser determinado no horizonte de cada situação concreta. Retornando ao preço, este raciocínio mostra ainda como o preço da coisa numa situação futura é ligado ao preço praticado na situ-ação presente (o que é ínsito ao sentido de “flutuação”) – mas, como isto se dá? O que faz com que ao preço de uma coisa, numa situação, ligue-se o seu preço numa situação subsequente? A insistência de Aristóteles em que o preço da coi-sa varia de acordo com o valor do homem que a produziu conduz à conclusão de que a flutuação do preço das coisas (de pães, por exemplo) faz flutuar o valor do padeiro numa certa comunidade, e é o fato de o valor do padeiro acom-panhar a flutuação do preço dos pães que faz com que o valor do pão, numa transação atual, tenha ligação com o valor dele numa transação anterior: o valor do pão “a princípio” vigente na iminência de uma troca é dado pelo que vale o padeiro, cujo valor é determinado pelo valor do pão na última troca. Aplicando este pensamento à lei e à sua história de “aplicações” em casos concretos, é pos-sível também perceber como o sentido que uma lei encontra num caso concreto presente vincula-se ao sentido que ela recebeu em casos passados, embora não se trate nunca exatamente do mesmo sentido, na medida em que cada situação é nova e irrepetível e, portanto, exige a descoberta do meio-termo que é apenas sempre apurável em face da situação.
u) O exame fenomenológico do problema ético da determinação do preço e a constatação de sua flutuação permitem ainda concluir mais, relativamente à re-
Sensatez como modelo e desafio.indd 184 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 185
lação entre o valor do homem que produziu a coisa e a coisa produzida, inver-tendo a relação constitutiva do valor: se é verdade que a qualidade, o valor do padeiro determina o valor do pão, deve-se reconhecer também que este valor, que é definido no contexto da situação, determina também o valor do padeiro, mostrando como o humano está em jogo nas ações em que o meio-termo (neste horizonte, o preço justo da coisa) é procurado e afirmado.
v) Mas a consideração do tema da determinação do preço na situação da justiça comutativa presta-se ainda a esclarecer o modo como todos os termos das equa-ções cruzadas (que representam a proporcional igualdade na transação) estão em jogo a cada situação – o que vale não apenas para a virtude da justiça, mas também para todas as demais. Esclarece-se como o ser do homem e do outro perante o qual age (os elementos subjetivos das equações) estão em jogo quando se trata de agir. O ser do homem que age está envolvido na determinação do agir na medida em que um dos elementos circunstanciais determinadores da situação é a própria qualidade do homem que age: o que cada um deve fazer não é indiferente à sua própria condição. O agir é sensível sempre ao que o homem é quando parte para agir (a sua própria condição não pode ser ignorada pelo agente na determinação da ação). Da mesma forma, a qualidade do outro pe-rante o qual age também é determinante da ação, que se determina sempre em atenção à pessoa com quem lida. Analogamente à questão da determinação do preço, que parte a princípio de certa avaliação do valor dos homens que produ-ziram as coisas que entram na troca, também em qualquer situação ética, entre os elementos relevantes para a determinação da ação, encontra-se a qualidade – o caráter, a idade, a condição jurídica, a posição social e familiar etc.: enfim tudo quanto é capaz de dizer o que um homem é – de todas as pessoas envolvidas naquela ação.
w) Embora esta qualidade influa na determinação da ação, ao mesmo tempo tam-bém a ação (que finalmente tem lugar por força da decisão tomada na situação) tem o poder de reconfigurar a qualidade de cada uma das pessoas a que a ação se refere, assim como a determinação do preço, em cada situação de transação, tem o efeito de reconfigurar o valor do homem produtor da coisa cujo preço flutua. Desta forma, é possível observar que o valor, a qualidade – o ser – das pessoas envolvidas numa situação está em jogo na situação. Do ponto de vista do agente, isto é evidente na medida em que a ação é constitutiva do seu caráter (assim, o modo como ele age constitui-o com certo caráter). Mas isto vale tam-bém para o homem paciente da ação. Embora Aristóteles afirme que sofrer uma
Sensatez como modelo e desafio.indd 185 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles186
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
injustiça não constitui o caráter do homem (e que assim, segundo se pode con-cluir a partir disto, que o caráter do homem não é afetado pelo modo como ele é tratado, mas apenas pelo modo como ele trata os outros), a sua fenomenologia da ação permite entrever que o ser de ambos os homens envolvidos na situação ética está em jogo no agir. Todo agir importa na atribuição de uma medida aos homens envolvidos no agir. A maneira adequada de cumprimentar não inde-pende da pessoa que encontramos. Assim, a qualidade da pessoa com quem se lida influencia o agir. Mas do que decorre a qualidade de cada pessoa senão das situações anteriores, em que agiu ou foi o outro do agir?
x) O mesmo raciocínio pode ser desenvolvido do ponto de vista da comunida-de. Toda ação, para ser correta, deve tomar em consideração, entre as circuns-tâncias particulares da situação, o lugar de cada um dos envolvidos na ordem social, na comunidade. É diferente a reação devida em face de uma pancada recebida de qualquer um ou do próprio pai (ou de um magistrado, para usar o exemplo de Aristóteles). Todo agir deve respeitar o valor de cada pessoa envol-vida na situação, e a justiça da ação consiste em dar a cada uma delas aquilo que lhe cabe, exatamente em razão de sua qualidade. Isto é válido para todas as vir-tudes, e não apenas para a justiça: a cada pessoa que aparece como outro numa situação ética deve ser dispensado o seu quinhão devido de verdade, de urba-nidade, de coragem, de gentileza, de graça, de desejo. Encontrar o meio-termo em cada situação é dosar, inclusive e especialmente tendo em vista a pessoa com quem se trata, estes objetos conforme as exigências da situação. A cada ação, deve-se dar a cada um o seu destas coisas, em razão da qualidade que ostenta antes da situação. Ao mesmo tempo, porém, cada situação é nova, exigindo que o meio-termo seja redefinido em razão da especificidade desta nova situação: por isto, um novo meio-termo deve ser encontrado, e o que cabe a cada um vai ser reconfigurado, por ser outro o meio-termo a ser afirmado agora. À medida que aquilo que é devido a cada um só se define no interior da própria situação, a sua qualidade – seu valor, seu ser – passa a ser reconfigurado também no interior desta situação. Se é imprescindível atender, ao agir bem, ao lugar que cada envolvido ostenta na ordem comunitária, é inevitável também (se o agir é mesmo bom, pois todo bem do humano é sensível às exigências particulares do caso irrepetível) inovar sobre a ordem, instituindo um novo lugar para todos os envolvidos na ordem, resultante da afirmação do meio-termo naquela situação concreta.
Sensatez como modelo e desafio.indd 186 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 187
y) Desde o ponto de vista da justiça como igualdade proporcional, isto implica dizer que toda ação propõe certo conteúdo da igualdade, reinstituindo (recon-figurando, replasmando) a ordem política e pondo em jogo, assim, o ser da co-munidade como polis. Toda ordem é outra a cada agir, por força de serem outros os homens que resultam de cada situação ética.
z) Isto é apenas outra forma de dizer que a lei é sempre diferente a cada vez que é aplicada, e que não existe uma lei para além ou acima de todas as suas parti-culares “aplicações”, e que, portanto, a realização de uma lei não é nunca uma simples dedução silogística de um sentido prévio à situação. A equidade, como excelência que torna o homem justo capaz de encontrar o sempre novo sentido da lei (sem ignorar a sua ligação com a história dos sentidos desta lei) em cada situação, reclama um novo paradigma para explicar o pensar que está envolvido em toda situação juridicamente relevante, esclarecido com recurso à raciona-lidade prática autonomizada como sensatez (phronesis) no Livro VI da Ética a Nicômaco.
9.2 O pensar que envolve o direito, sob o paradigma da razão prática aristotélica
a) O Livro VI da Ética a Nicômaco tem por objeto as virtudes intelectuais (dianoé-ticas), refletindo sobre a excelência da parte superior da alma, que tem a razão. É importante ressaltar que se trata, também ali, de virtudes, de disposições que, como tais, não estão no homem independentemente de sua própria experiên-cia e esforço autoconstitutivo. Assim, se o pensar é uma capacidade inata ao homem (assim como o é o desejar), sua excelência (ou falta de excelência) no pensar dependerá da sua própria experiência do pensar. Isto vale para todas as virtudes dianoéticas: a epistêmê, a sophia, a tekhnê, o nous e a sensatez. Por sua própria atividade do pensar, nos diversos horizontes que atinem a cada uma destas virtudes do pensamento, é que o homem se reconstitui como ser racional, plasmando sua própria inteligência.
b) A distinção entre epistêmê e sensatez tem o objetivo de separar a ética da matriz cognitivista socrático-platônica, e é um dos grandes divisores de águas do pen-samento do Aristóteles maduro em face destes seus mestres predecessores. A excelência científica, epistêmê, cujo paradigma é a matemática, é a excelência no pensar as coisas cujos princípios são eternos e imutáveis (e como tais, indepen-dentes do humano), caracterizando-se como procedimento demonstrativo que opera dedutivamente a partir de princípios que aceita (mas de cuja gênese não
Sensatez como modelo e desafio.indd 187 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles188
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
dá conta: ele apenas os recebe e aceita) e dos quais extrai conclusões, segundo o esquema do silogismo. Já a sensatez é a excelência do homem no pensar, mar-cada exatamente por não dispor dos princípios do agir, mas é mesmo a procura por estes princípios.
c) Por tratar de objetos ontologicamente independentes do humano, o saber da epistêmê e da sophia pode ser adquirido simplesmente por aprendizagem, o que não se dá com a sensatez, pelo fato de aqui não estar em jogo simplesmente e apenas um saber prévio à situação do agir. A natureza dos princípios dos quais parte a sensatez esclarece ainda em que sentido a ética ostenta uma diferença de rigor ou exatidão (akribês) em face da ciência e da filosofia: seus objetos não se dão a conhecer da mesma forma que na epistêmê e na sophia, porque eles apenas se ultimam, apenas se dão, na situação concreta. Qualquer coisa que o moralista pretenda dizer, apenas pode fazê-lo em geral e esquematicamente, ou incorrerá, fatalmente, em erro, pois a verdade do agir (do pensar na prática) não existe “em geral”, mas apenas em cada situação concreta.
d) A distinção entre a tekhnê e a sensatez funda-se na imanência do fim ao agir: o objetivo da ação é a própria ação, ao passo que, na produção, o fim não é o próprio produzir, mas é a obra, que o transcende. Mas ambas compartem uma mesma parcela do universo: o horizonte das coisas que encontram no humano o seu princípio, horizonte este que comparte com o humano a característica do inacabamento. Os objetos, no horizonte da prática e da técnica, têm o seu ser tributário do pensar do humano (como poiesis e como praxis) – sendo esta (sua contingência) a nota que os distingue radicalmente dos objetos da epistêmê e da sophia.
e) A sophia comparte o horizonte da epistêmê, pensando também as coisas cujos princípios são imutáveis e eternos, e independentes do humano. Esta é uma das vias de explicação de sua superioridade em face da sensatez: a sophia atine a ob-jetos mais estimados366 (e o humano não é o mais elevado entre todos os entes). A sophia, na verdade, engloba a epistêmê, na medida em que ela também é um
366 “(...) permaneceu intimamente ligada à distinção grega, ainda fundamental, entre as coi-sas que são por si o que são e as coisas que devem ao homem a sua existência, entre as coisas que são physei e as coisas que são nomo. O primado da contemplação sobre a atividade [a prática] baseia-se na convicção de que nenhum trabalho de mãos humanas pode igualar em beleza e verdade o kosmos físico, que revolve em torno de si mesmo, em imutável eternidade, sem qualquer interferência ou assistência externa, seja humana seja divina”. ARENDT, Hannah. A condição humana, p. 24.
Sensatez como modelo e desafio.indd 188 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 189
saber raciocinar a partir de princípios (demonstrar), mas compreende também a capacidade de descobrir estes mesmos princípios.
f) O trabalho do nous é a descoberta dos princípios de que parte todo pensar. Na medida em que lhe compete desvelar os princípios da ciência, ele se integra na sophia (que resulta uma reunião entre epistêmê e nous). Mas ao nous também compete desvelar os primeiros princípios de que parte o pensar prático e o pen-sar poiético, comparecendo, respectivamente, como parte integrante da sensatez e da perícia técnica (teknhê). É o nous que oferece à disposição demonstrativa, à disposição prática e à disposição poiética (ponto de partida da epistêmê/sophia, da sensatez e da teknhê) o seu “princípio verdadeiro”, permitindo-lhes alcançar a sua verdade. No horizonte das demais virtudes do pensar, é o nous quem abre o homem para a percepção do elemento universal que está sempre em jogo ali.
g) Na sensatez é também o nous que abre para o extremo universal: o princípio do agir. Mas a participação do nous ainda é requerida no exercício na racionalidade prática de outra forma: é ele também o responsável pela capacidade, compreen-dida na sensatez, de acessar o extremo particular. É a phantasia a atividade do nous que está em jogo na percepção da singularidade da situação ética, e, assim, na realização da síntese intencional de cada situação como uma situação, ponto de partida para o agir. Mas esta percepção do particular não se dá independen-temente da percepção do elemento universal do pensamento prático, na medida em que a percepção de uma situação como uma situação ética não prescinde da contemporânea percepção do fim do agir. Uma situação só se apreende como uma situação ética na medida em que o homem divisa um fim que deve cum-prir ali, ao mesmo tempo em que o fim só aparece se o homem percebe que se encontra em uma situação. Por esta razão é que são ilegítimas as tentativas de tentar descrever o raciocínio ético-prático sob o paradigma epistêmico: na situação prática não existe uma preexistência do fim (do princípio) ao agir e ao pensar, mas o princípio é contemporâneo da situação em que se deve realizar. Tampouco Aristóteles, tal como MacIntyre lembra, pretendeu descrever o pen-samento prático sob o paradigma do silogismo.
h) A sunesis é uma dimensão parcial da sensatez, compreendendo o poder de dis-cernir certo contexto como uma situação que requisita o agir e também das exigências presentes ali. Escapa-lhe, porém, o poder normativo, próprio da sen-satez. Ela é esclarecedora do pensar prático que é mobilizado por qualquer ter-ceiro que avalie o agir de outrem numa situação de que não tomou parte: ele é
Sensatez como modelo e desafio.indd 189 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles190
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
capaz de compreender os contornos da situação e de imaginar o bem a cumprir ali, mas este pensamento (de terceiro) é apenas discernimento, e não comando.
i) A gnômê é outra dimensão parcial da sensatez, reveladora do seu poder de com-preender o homem como humano – contingente e limitado – mergulhado na situação ética, assim como a dificuldade própria que cada situação, sempre nova e irrepetível, impõe-lhe. Por isto, ela aparece como uma capacidade infinita de perdoar, ou de relevar certas coisas. Mas ela interessa especialmente pela liga-ção que institui entre a sensatez e a equidade, mostrando que a sensatez como o discernimento reto do equitativo ou a própria capacidade de ser equitativo. Não é difícil compreendê-lo: na medida em que o meio-termo, que cabe à razão prática encontrar a cada vez, é sempre relativo à situação, todo exercício da ra-zão prática é um esforço por encontrar o fim (o bem: o meio-termo ali), relativo à circunstância concreta do agir. Ser phronimos é ser justo (pois o phronimos é exímio num pensar que é um descobrir o que é de cada um). E ser phronimos será sempre ser equitativo, na medida em que o que, cabe a cada um, apenas a cada situação concreta pode ser determinado com justiça.
j) Sobre as relações entre sophia e sensatez, Aristóteles afirma que são estas as possibilidades preferenciais do humano São a excelência atinente a cada uma das duas partes da alma racional: a que tem por objeto coisas com princípios imutáveis e a que tem-nas com princípios mutáveis. A superioridade da sophia decorre da superioridade dos seus objetos, mas isto não basta para explicar a supremacia que Aristóteles finalmente lhe outorga, relativamente ao cumpri-mento do fim do humano (felicidade). Parece contraditória com o compromis-so teórico de Aristóteles com a especificidade do humano, a afirmação da sophia como a forma de vida em que consiste a eudaimonia: afinal, trata-se de uma atividade que não pode ser desenvolvida em caráter permanente senão por um deus, e a felicidade é uma atividade constante e estável do humano como hu-mano. Pode-se afirmar que se trata de uma reminiscência do intelectualismo socrático-platônico na concepção ética do Aristóteles maduro, ou que se trata de uma passagem interpolada. Do nosso ponto de vista, a afirmação pode de-correr de certo cognitivismo que ainda marca a visão de Aristóteles, da qual ele não pôde desvincular-se de todo. Para Aristóteles, a vida ética continua forte-mente integrada na totalidade do ser, e assim o viver bem ainda é tributário de uma apreensão da ordem vigente na totalidade do ser: a isto também se vincula a sua noção de direito natural. Mas o recurso a Aristóteles para pensar a ética e o direito em perspectiva pós-essencialista continua válido. A sua concepção
Sensatez como modelo e desafio.indd 190 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 191
da prática, como o universo daquilo que encontra no humano o seu princípio, pode ser útil a que se pense hoje – quando se admite que tudo o que há encontra no humano o seu princípio, num sentido fenomenológico – em que sentido o homem é princípio. Desvinculado de seus pressupostos ontológico-metafísicos, Aristóteles socorre a filosofia contemporânea no seu esforço por compreender o humano e a prática. É preciso lembrar que a própria destruição da metafísica tradicional perpetrada por Heidegger apenas foi possível a partir de sua leitura do Livro VI da Ética a Nicômaco.
k) Em Aristóteles, o pensar a prática, que é objeto da sensatez, desenvolve-se por meio da descrição fenomenológica da proairesis e da bouleusis como decisão e deliberação práticas, mobilizadas em todo agir. Este deliberar é uma contabili-zação (logizomai) de meios em favor da realização de certos fins divisados como bons, e ao mesmo tempo é a descoberta ou a afirmação do fim como bom. Ul-trapassada a pugna (Aubenque vs. Gauthier, para ficar no século XX) sobre se se trata, no decidir, de escolher meios ou fins, deve-se admitir que o pensamento prático envolve a ambos, até porque não é possível afirmar algo como um fim se não se sabe da sua possibilidade ou factibilidade (se não se pensa nos meios, portanto), assim como meios apenas são meios em razão dos fins a que servem. A questão da atinência a meios e a fins, e a sua recíproca implicação constituti-va, mostra o pensamento prático como um processo de muitas idas e vindas, na consideração do que é o melhor (o que significa sempre também: o possível) a fazer em cada situação.
l) A dúvida relativa a se o pensar prático também compreende a afirmação do fim, ou se só engloba considerações sobre os meios, decorre da afirmação de Aris-tóteles de que cabe ao desejo – e não à razão – a afirmação do fim do agir. Não pode haver dúvida de que cabe ao desejo a determinação de algo como um fim, pelo fato de que é o desejo, e não a razão, que move o animal (que o humano é). Mas isto não significa que o fim seja descoberto pelo desejo. A descoberta (a afirmação, a divisão) do fim cabe à razão prática, é o seu trabalho precípuo, tra-balho este que apenas é possível contemporaneamente à descoberta e afirmação dos meios necessários a cumprir aquele fim. O trabalho da razão é descobrir os fins e os meios e sugeri-los ao desejo, instaurando um diálogo entre as partes ra-cional e irracional do humano que, no homem moderado (temperado, que tem autodomínio) tende a resolver-se com o acolhimento, pelo desejo, do conselho que lhe oferece a razão. Isto permite compreender que não apenas o fim, para ser fim, depende da afirmação pelo desejo, mas que o mesmo acontece também
Sensatez como modelo e desafio.indd 191 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles192
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
com os meios pensados pela razão, que também dependem do acolhimento do desejo para se efetivarem como meios: assim, querer os fins é querer os meios tendentes a realizá-los.
m) A relação que se institui entre o desejo e a razão assume contornos retóricos, de tal sorte que todo o sucesso ético do homem depende da capacidade de sua razão de convencer seu desejo a dirigir a ação em direção ao conselho que lhe presta. Esta relação não está nunca resolvida, mantendo o desafio ético aceso durante toda a vida do homem, que sempre deverá dar conta de domesticar o animal que o habita.
n) A descrição do que se passa na alma do humano, quando deve decidir coisas da ética, com a indicação do diálogo que se instaura entre o desejo e a razão (sob influência da necessidade, solicitação da paixão e pressão do tempo) revela que a racionalidade prática é um procedimento racional muito mais próximo de uma deliberação política tal como a que se desenvolve em assembleias e parla-mentos, do que de uma fria demonstração dedutivamente controlada. O modo como a própria situação é percebida como tal – que não prescinde da contem-porânea percepção de um fim – e como os fins e os meios são também recipro-camente constituídos na afirmação do bem do humano como o melhor que é possível cumprir naquela circunstância, sugere um pensar multifacetado com constantes idas e vindas (que leva tempo, como Aristóteles lembra), nos mol-des de uma discussão político-deliberativa, bastante diferente do tipo de pen-sar epistemicamente orientado que certa filosofia do direito pretendeu assumir como o modelo da razão presidente da experiência jurídica. A racionalidade que se pode encontrar no horizonte da prática é decerto muito mais contingente e falível, porque mais humana.
o) No diálogo entre a razão e o desejo, compete à razão propor um determina-do modelo de humano que o desejo deverá (ou não) abraçar. Ao propor certa ação como a devida, a razão sugere ao desejo uma imagem do humano como boa, bela e justa, imagem esta que é fruto da phantasia como atividade criadora (imaginativa, produtora de imagens) do nous. A phantasia como produtora da imagem do humano. proposta no agir, mostra como o fim do humano divisado pela razão prática (este fim é esta imagem a ser concretizada no próprio homem cujo desejo a assume) vincula-se à história pessoal e comunitária do homem que a concebe. No De Anima está explicitado como toda phantasia, como atividade produtora de imagem, vincula-se a uma percepção sensível (aisthêsis) anterior. Trata-se da phantasia como recordação (em que a phantasia recria uma ima-
Sensatez como modelo e desafio.indd 192 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 193
gem a partir de percepção que teve no passado) e como na imaginação (em que igualmente a imagem imaginada – phantasmata – embora inventada, apenas é possível a partir de elementos retirados de anteriores experiências sensíveis). Isto esclarece como toda nova imagem de humano que é proposta pela razão prática a cada nova situação (como fim do agir naquela situação) está vinculada às imagens de humano que aquele que age já experimentou em sua história pes-soal. Esclarece-se de que maneira a experiência de vida de cada um é decisiva na sua capacidade de agir bem a cada vez: o que ele poderá conceber como agir bem (a imagem do humano que poderá imaginar para si, como inovador cum-primento e realização de si mesmo ao agir) está vinculado à experiência do agir que já tenha ele mesmo vivido ou testemunhado (a construção da imagem para si, nesta situação, depende do humano que ele mesmo tem sido e dos exemplos que pôde conhecer).
p) O problema de concluir acerca de se existe mesmo racionalidade nesta forma de viver (que é o direito) sob o paradigma do pensamento prático, liga-se ao pro-blema do fundamento da beleza, da bondade e da justiça do modelo do humano que a razão propõe ao desejo. Para falar da correição desta imagem (da correi-ção do fim perseguido pelo agir orientado por este pensamento) é preciso dar conta do fundamento desta imagem (deste fim divisado e proposto). Aqui o não cognitivismo aparece com toda sua clareza no pensamento ético de Aristóteles, apartando-se do intelectualismo socrático-platônico: o fundamento da correi-ção deste pensar é o próprio pensar. Para descobrir como é pensar corretamente no horizonte da prática, é necessário observar o modo como pensam aqueles que são considerados inteligentes nestes assuntos (os phronimoi). O phronimos, portanto o homem, é o fundamento da correição do pensar. O fundamento da verdade do pensar prático é o próprio pensar do humano.
q) Isto apenas se presta a deslocar a pergunta. A racionalidade da descoberta do fim deixa de ser um problema da legitimidade com que um fim é afirmado, para ser o problema da legitimidade com que um homem é considerado phronimos. O fim correto é aquele que um homem sensato divisaria, e o modo de alcançá-lo (os meios mobilizados) seria aquele que o phronimos escolheria. A correição do pensar é tributária do próprio pensar, na medida que o pensar prático não pode encontrar o seu princípio fora de si mesmo: se o fizesse, deixaria de ser razão prática para se identificar com a epistêmê, que encontra em algum lugar os prin-cípios a partir dos quais pensa (demonstra). A recusa de um sentido cabal de humano preexistente à situação, que o homem possa encontrar para reproduzir
Sensatez como modelo e desafio.indd 193 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles194
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
no seu agir, é coerente com a afirmação de Aristóteles de que se trata no agir de realizar o bem do humano, bem este que não é uma ideia, não podendo ser descoberto senão no contexto da própria situação. É coerente, também, com a afirmação de que as coisas objeto da ética encontram no humano o seu prin-cípio: que é o mesmo que dizer que o fim das ações (seu princípio teleológico) é posto pelo próprio humano que deve agir. A afirmação de que é o phronimos como fundamento do pensar não faz mais do que reconduzir ao próprio pensar o fundamento da correição (da beleza, da bondade e da justiça) da imagem do humano proposta a cada vez.
r) A indicação do phronimos como fundamento da verdade do pensamento prá-tico evidencia a dimensão pública deste pensar e de seu fundamento. O que vai outorgar validade à imagem do humano proposta no agir (ou: instituir a verda-de do pensar que lhe dá lugar, ou: oferecer o critério para apurar como correto o fim divisado) é o mesmo que torna o phronimos um phronimos. Um phronimos se torna um phronimos por força do louvor de que é merecedor em sua comu-nidade. Isto não empresta nenhum relativismo à verdade prática em Aristóteles (o que seria uma grande injustiça com seu pensamento: isto é tudo o que ele, no contexto da grande invenção socrático-platônica-aristotélica da ética, pretendia evitar – era esse o problema do seu tempo e para este mal ele pretendia oferecer um remédio, assim como o pretenderam Sócrates e Platão). A afirmação do phronimos como o fundamento da verdade prática não elide a diferença entre verdade e opinião no campo da ética, mas procura oferecer um fundamento racional para a descoberta do bem no agir, tal que prescinda do recurso a um sentido qualquer autossubsistente em si e independente do humano (no sentido em que Platão o pensara). A afirmação do phronimos como o fundamento revela a dimensão pública do exercício da racionalidade prática e alicerça sobre a ex-periência comunitária – sobre a vida comum numa eticidade compartilhada – o fundamento do bem; isto é, fundamenta a correição do pensar no logos como linguagem, como discussão, como encontro por meio das palavras.
s) O phronimos só se torna phronimos pelo louvor com que a sua comunidade o distingue, e só é phronimos o homem virtuoso, portanto o homem justo, habitu-ado a obedecer às leis. Mas isto não funda a verdade prática sobre o status quo. Ser phronimos é também ser um homem de caráter (caráter que é apurado tendo em vista a ordem vigente), mas isto não implica nunca uma simples repetição da ordem. Como toda razão prática exercita-se na procura do meio-termo (meso-tês) do desejo na situação nova – que, por ser nova, faz com que o meio-termo
Sensatez como modelo e desafio.indd 194 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Conclusões 195
seja também sempre outro – o phronimos é aquele que merece o louvor público exatamente pela excelência com que é capaz de transcender a ordem, por ser capaz de afirmar e realizar os fins sempre novos em que se consubstancia o bem do humano a cada situação ética. O phronimos é louvado pelo modelo de huma-no que propõe para o futuro. É claro que ele apenas pode fazê-lo por gozar do prestígio que merece por ser bem-sucedido em seu esforço de construção de si como um homem de bem – e assim por sua trajetória de homem cumpridor da lei – mas, se é phronimos, é exatamente por ser capaz de transcender a lei a cada vez que a aplica: por ser equitativo, é considerado phronimos.
t) Só o phronimos pode ser equitativo: sua justiça para além da lei não é interpre-tada pela comunidade como uma transgressão da lei, mas como sua “correção”. É a autoridade moral que lhe confere o fato de ser phronimos (isto é: ter autodo-mínio, habitualmente obedecendo à lei) que lhe autoriza decidir, num caso con-creto, em desacordo com a lei. Um homem perverso jamais agirá justamente, e, assim, jamais será equitativo. Toda mudança inserida na ordem é mediada pela sujeição à própria ordem, é da autoria dos melhores segundo a própria ordem.
u) A inteligência prática compreende a equidade. Isto é: ao mesmo tempo que o fundamento do phronimos é a comunidade, o phronimos é o fundamento da comunidade. Isto é importante para afastar uma interpretação comunitarista da ética aristotélica, fazendo justiça à afirmação de Aristóteles de que o louvor não é o fundamento da felicidade. A verdade do agir não é simplesmente encontra-da na tradição, porque a razão prática envolve sempre uma inovação para além da ordem que a possibilita. O exercício da razão prática esclarece, assim, como o pensar que está em jogo em toda situação de justiça é responsável também pela reconfiguração da ordem comunitária. Na medida em que a comunidade aplaude o phronimos – e aprova cada um que age como um phronimos – ela está aplaudindo uma imagem de humano que é nova. E, assim, está reconfigurando a ordem de fins que vige ali – está replasmando a comunidade que é.
Sensatez como modelo e desafio.indd 195 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Referências bibliográficas 199
ALLAN, D. J. A filosofia de Aristóteles. 2. ed. Trad. Rui Gonçalo Amado. Lisboa: Edi-torial Presença, [s/d].AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Trad. Aldo Vannucchi et al. São Paulo: Loyola, 2004.
vol. V, II seção da II parte – questões 1-56._____. Suma teológica. Trad. Aldo Vannucchi et al. São Paulo: Loyola, 2004. vol. VI, II se-
ção da II parte – questões 57-122.ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense Universitária, 2001.ARISTÓTELES. A ética. 2. ed. anot. Trad. Cássio M. Fonseca. Bauru: Edipro, 2003. (Tex-
tos selecionados)._____. Aristotle’s Ethica Nicomachea. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit
I. Bywater, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Oxford: Clarendon Press, 1890. Disponível em: www.perseus.tufts.edu.
_____. A política. 4. ed. Trad. Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Atena, 1955._____. Arte retórica e arte poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro: Edi-
ções de Ouro, 1969._____. Constituição de Atenas. Trad. Therezinha M. Deutsch. São Paulo: Nova Cultural,
1990. (Os Pensadores),_____. Da alma (De Anima). Trad. Carlos Humberto Gomes. Lisboa: Edições 70, 2001._____. Ética a Nicómaco. Trad. António C. Caeiro. Lisboa: Quetzal, 2004._____. Etica a Nicomaco. Trad. Maria Araújo, Julian Marias. Madrid: Instituto de Estúdios
Políticos, 1970._____. Eudemian Ethics. Trad. H. Rackham. London, Cambridge: Harvard University
Press, William Heinemann, 1934._____. Nicomachean ethics. Trad. H. Rackham. London, Cambridge: Harvard University
Press, William Heinemann, 1934._____. Nikomachische Ethik VI. Hrsg. ubers. von Hans-Georg Gadamer. Frankfurt am
Main: Klostermann, 1988._____. Poética. Trad. Baby Abrão. São Paulo: Nova Cultural, 1990. (Os Pensadores),AROSO LINHARES, José Manuel. Entre a reescrita pós-moderna da modernidade e o tra-
tamento narrativo da diferença ou a prova como um exercício de “passagem” nos limites da juridicidade. (Imagens e reflexos pré-metodológicos deste percurso). Coimbra: Coimbra Editora, 2001.
ATIENZA, Manuel. Tras la justicia. Una introducción al derecho y al razonamiento jurídi-co. Barcelona: Ariel, 2003.
AUBENQUE, Pierre. A prudência em Aristóteles. São Paulo: Discurso Editorial, 2003.BARNES, Jonathan. Aristóteles. Trad. Adail Ubirajara Sobral; Maria Stela Gonçalves. São
Paulo: Loyola, 2001._____. Life and work. In: _____. (org.). The Cambridge companion to Aristotle, Cambridge:
Cambridge University Press, 1995. p. 1-26._____. Rhetoric and poetics. In: _____. (org.). The Cambridge companion to Aristotle, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1995. p. 195-231.
Sensatez como modelo e desafio.indd 199 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles200
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
BERTI, Enrico. A relação entre as formas de amizade segundo Aristóteles. Trad. Marisa Lo-pes. Analytica. Revista de Filosofia. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Filo-sofia da UFRJ, vol. 6, n. 1, p. 23-44, 2001-2002.
_____. Aristóteles no século XX. Trad. Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1997._____. As razões de Aristóteles. Trad. Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1998._____. Gadamer and the reception of Aristotle´s intellectual virtues. Revista Portuguesa de
Filosofia. Braga: Faculdade de Filosofia de Braga, n. 56, vol. 56, n. 3-4, p. 345-360, jul.-dez. 2000.
_____. La prudenza. Disponível em: http://lgxserver.uniba.it/lei/sfi/bolletino/159_berti.htm.
BITTAR, Eduardo C. B. A justiça em Aristóteles. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.BOUTROUX, Émile. Aristóteles. 3. ed. Trad. Carlos Nougué. São Paulo, Rio de Janeiro: Re-
cord, 2002.BRENTANO, Franz. Aristóteles. 2. ed. rev. Trad. Moisés Sánchez Barrado. Barcelona: La-
bor, 1943. _____. The psycology of Aristotle. Trad. Rolf George. Berkeley: University of Califórnia
Press, 1977.CASSIN, Bárbara. Aristóteles e o logos. Contos da fenomenologia comum. Trad. Luiz Paulo
Rouanet. São Paulo: Loyola, 1999.CASTANHEIRA NEVES, António. A Crise actual da filosofia do direito no contexto da cri-
se global da filosofia. (Tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação). Coim-bra: Almedina, 2003.
_____. Metodologia jurídica. Problemas fundamentais. Coimbra: Editora Coimbra, 1993._____. O direito hoje e com que sentido? O problema actual da autonomia do direito. Lis-
boa: Instituto Piaget, 2002._____. Questão-de-fato, questão-de-direito: ou o problema metodológico da juridicidade
(ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967._____. Teoria do direito. Apontamentos complementares de teoria do direito (sumários e
textos). Coimbra: Universidade de Coimbra, [s/d].COELHO, Nuno M. M. dos Santos. O princípio ontológico da historicidade radical e o pro-
blema da autonomia do direito – ensaio de aproximação filosófica do Jurisprudencialis-mo. Revista da Faculdade de Direito da UFMG. vol. 47, p. 217-247, 2005.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.DOUZINAS, Costas. WARRINGTON, Ronnie. Justice miscarried: ethics and aesthetics in
law. London: Harvester, 1994._____. Postmodern jurisprudence: the law of text in the texts of law. Londres: Routledge,
1991.EVERSON, Stephen. Psychology. In: BARNES, Jonathan (org.). The Cambridge companion
to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p 168-194.FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980._____. Estudos de filosofia do direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o di-
reito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003._____. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2001.
Sensatez como modelo e desafio.indd 200 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Referências bibliográficas 201
FIASSE, Gaëlle. Aristotle‘s phronesis: a true grasp of ends as well as means? The Review of Metaphysics. Washington, vol. 55, p. 323-337, 2001.
FINLEY, Moses I. Política no mundo antigo. Trad. Gabinete Editorial de Edições 70. Lisboa: Edições 70, 1997.
FREDE, Dorothea. The cognitive role of phantasmata in Aristotle. In: NUSSBAUM, Mar-tha Craven; RORTY, Amelie O. Essays on Aristotle’s De Anima. Oxford: Clarendon Press, 1992.
GADAMER, Hans-Georg, FRUCHON, Pierre (org.). O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
_____. Verdade e método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3. ed. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999.
GAUTHIER, René-Antoine. Introdução à moral de Aristóteles. Lisboa: Publicações Euro-pa-América, 1992.
HARTMANN, Nicolai. Ethics. Trad. Stanton Coit. London: George Allen & Unwin, 1950.HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 9. ed. Trad. Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vo-
zes, 2000.HESPANHA, Antonio Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica europeia. Lisboa: Pu-
blicações Europa-América, 1997.HÖFFE, Otfried. Justiça política. Fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do es-
tado. Trad. Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 1991.HUSSERL, Edmund. La crisis de las ciências europeias y la fenomenologia transcendental.
Una introducción a la filosofia fenomenológica. Trad. Jacobo Muñoz; Salvador Mas. Bar-celona: Editorial Crítica, 1991.
HUTCHINSON, D. S. Ethics. In: BARNES, Jonathan (org.). The Cambridge companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 195-231.
JAEGER, Werner. Aristotle. Fundamentals of the history of his development. 2. ed. Trad. Ri-chard Robinson. Oxford: Oxford University Press, 1955.
_____. Paideia. A formação do homem grego. 4. ed. Trad. Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
JASPERS, Karl. Iniciação filosófica. 9. ed. Trad. Manuela Pinto dos Santos. Lisboa: Guima-rães Editores, 1998.
KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2003._____. Crítica da razão prática. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2001.LACERDA, Bruno Amaro. Justiça, razão prática e analogia em Aristóteles: fundamentos
para uma compreensão do processo de concretização jurídico. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Direito).Belo Horizonte: Universidade Federal de Mi-nas Gerais, 2003. 152 f.
LIDDELL, Henry George, SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1940.
LOPES, Mônica Sette. A equidade e os poderes do juiz. Belo Horizonte: Del Rey, 1993.LORAUX, Nicole. A tragédia grega e o humano. In: NOVAES, Adauto (org.). Ética. São
Paulo: Cia. das Letras, 1992. p. 17-34.LYOTARD, Jean-François. La diferencia. Trad. Alberto L. Bixio. Barcelona, 1999.
Sensatez como modelo e desafio.indd 201 10/07/12 16:05
Sensatez como modelo e desafio do pensamento jurídico em Aristóteles202
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
MACINTYRE, Alasdair. Historia de la ética. Trad. Roberto Juan Walton. Barcelona: Pai-dos, 1994.
_____. Justiça de quem? Qual racionalidade? Trad. Marcelo Pimenta Marques. São Paulo: Loyola, 1991.
_____. Tras la virtud. Trad. castelhana de Amelia Valcárcel. Barcelona: Crítica, 2001.MEYER, Susan Sauvé. Aristotle on moral responsability. Character and cause. Cambridge:
Blackwell Publischers, 1993.MILO, Ronald Dmitri. Aristotle on practical knowledge and weakness of will. The Hague:
Mouton, 1966.MONDOLFO, R. O homem na cultura antiga. A compreensão do sujeito humano na cultu-
ra antiga. Trad. Luiz Aparecido Caruso. São Paulo: Mestre Jou, 1968._____.O pensamento antigo. História da filosofia greco-romana. Trad. Lycurgo Gomes da
Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1971.MOSSÉ, Claude. O cidadão na Grécia antiga. Lisboa: Edições 70, 1999.NOEL, Jana. Interpreting Aristotle’s phantasia and claiming its role within phronesis. Dispo-
nível em: http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yaerbook/97_docs/noel.html#fn17.NUSSBAUM, Martha Craven. Aristotle´s de Motu Animalium. Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 1978._____. La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. Trad. Anto-
nio Ballesteros. Madrid: Visor, 1995.PATOČKA, Jan. Platon et l’Europe – Seminaire privé du semestre d’eté 1973. Trad. Erika
Abrams. Lagrasse: Verdier, 1997.PLATÃO. A República. 2. ed. Trad. Maria Araújo et al. Madrid: Aguilar, 1990. (Obras
completas).REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Platão e Aristóteles. Trad. Henrique Cláudio
de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. vol. 2._____. Para uma nova interpretação de Platão. Releitura da metafísica dos grandes diálogos
à luz das “doutrinas não escritas”. Trad. Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1997.REALE, Miguel. Filosofia do direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.ROBIN, Léon. La morale antique. Paris: Presses Universitaires de France, 1963.SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG,
1995._____. Estado ético e estado poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais. Belo Horizonte: TCMG, vol. 27, n. 2, p. 37-68, abr.-jun. 1998._____. Experiência da consciência jurídica em Roma – A Justitia. Revista do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: TCMG, vol. 38, n. 1, p. 33-115, jan.-mar. 2001.
_____. Globalização e justiça universal concreta. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG, vol. 89, p. 47-62, jan.-jun. 2004.
SCHOFIELD, Malcolm. Aristotle on the imaginatio. In: BARNES, Jonathan. Articles on Aristotle. London: Duckwoth, 1979. vol. 4.
Sensatez como modelo e desafio.indd 202 10/07/12 16:05
1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12 1ª PROVA – LiVRO 1– 10/07/12
Referências bibliográficas 203
SILVA, Roger Michael Miller. Fins e meios: uma discussão sobre a phronesis na Ética Nico-maquéia. Dissertação de Mestrado (Curso de Pós-Graduação em Direito). Rio de Janei-ro: PUC, 2005. 148 f.
SORGI, Giuseppe. Aristotele, Hobbes e la “riabilitazione” della filosofia pratica. A propo-sito di una recente interpretazione. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto. Milano: Giuffrè, vol. 68, p. 537-556, jul.-set. 1991.
TAYLOR, C. C. W. Politics. In: BARNES, Jonathan (org.). The Cambridge companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 233-258.
VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de filosofia II – ética e cultura. São Paulo: Loyo-la, 1993.
_____. Escritos de filosofia IV – ética filosófica 1. São Paulo: Loyola, 1999._____. Escritos de filosofia IV – introdução à ética filosófica 1. São Paulo: Loyola, 1999._____. Escritos de Filosofia V. Introdução à ética filosófica 2. São Paulo: Loyola, 2000._____. Platão revisitado. Ética e metafísica nas origens platônicas. Síntese. Belo Horizonte:
Faculdade de Filosofia da Companhia de Jesus, Centro de Estudos Superiores, vol. 20, n. 61, abr.-jun. 1993.
Sensatez como modelo e desafio.indd 203 10/07/12 16:05