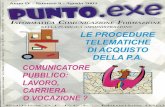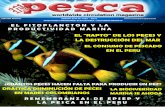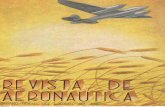Revista HCPA Vol. 19, Nº 2 Agosto de 1999 ISSN 0101 5575
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Revista HCPA Vol. 19, Nº 2 Agosto de 1999 ISSN 0101 5575
Revista HCPAVol. 19, Nº 2Agosto de 1999
ISSN 0101 5575
EDITORIAIS
A inestimável contribuição dos editores associados................................................................143
Eduardo Passos
Sinal dos tempos.....................................................................................................................145
Luiz Lavinsky, Sady Selaimen da Costa
ARTIGOS ORIGINAIS
Audição, comunicação e linguagem: um convite à reflexão.....................................................147
Hearing, communication and language: some thoughts
Sady Selaimen da Costa
Patologia ossicular na otite média crônica: implicações clínicas.............................................167
Ossicular pathology in chronic otitis media: Clinical implicationsSady S. da Costa, Maurício S. Miura, Mariana M. Smith, Cristiano Ruschel
Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio .............................................................177Fungal sinusitus: a clinical analysis
Elisabeth Araújo,Fábio Anselmi,Tiago L.L. Leiria, Vinicius T. Richter, Leonardo M. Pires
Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente:
comparação entre a administração aguda e crônica com gentamicina
e os efeitos agudos de outros antibióticos...............................................................................186Aminoglycoside ototoxicity and efferent system: Comparison between acute and chronic
gentamycin administration and the acute effects of other antibiotics
Deise M.L. da Costa
Utriculostomia: apresentação de uma nova técnica para tratamento cirúrgico da vertigem....200
Utriculustomy: presentation of a new technique for the treatment of vertigoLuiz Lavinsky, Marcos Goycoolea, Yuberi Zwetsch
Novo equipamento desenvolvido no HCPA para cirurgia otológica (microcautério).Parte I – Características técnicas.............................................................................................205
New equipment developed at HCPA for otologic surgery (microcautery).
Part I – Technical specificationsPaulo R.S. Sanches, Luiz Lavinsky, Paulo Ricardo O. Thomé,Danton P. Silva Jr., EL Ferlin, André Frotta Müller
Novo equipamento desenvolvido no HCPA para cirurgia otológica
(microcautério) – Parte II – Estudo em seres humanos........................................208
New equipment for otologic surgery developed at HCPA (microcautery) –Part II – Study in human beings
Luiz Lavinsky, Paulo R.O. Thomé, Paulo R.S. Sanches, Danton P. Silva Jr., EL Ferlin
Avaliação da qualidade vocal de crianças sem queixas vocais:
estudo prospectivo duplo-cego .............................................................................211
Vocal quality evaluation in children without voice disorders:a prospective, double-blind study
Geraldo P. Jotz, Onivaldo Cervantes, Marcio Abrahao, Elisabeth C. de Angelis,Viviane A. de Carvalho, Roberta Busch, Luciana P. do Vale
Avaliação das alterações hemodinâmicas e do sensório em pacientes
submetidos à rinoplastia estética sob anestesia local .........................................220Evaluation of the hemodynamic and sensorial alterations patients submitted
to esthetic rhinoplasty under local anesthesia
Marcus V.M. Collares, Jaime Planas, Rinaldo de A. Pinto, Roberto C. Chem
COMUNICAÇÃO
Análise preliminar da resposta clínica de pacientes com faringotonsilite
estreptocócica: comparação entre amoxicilina administrada duas vezes
ao dia com amoxicilina três vezes ao dia ............................................................226Preliminary analysis of patients with streptococcal tonsillopharyngitis:
a comparison of amoxicillin twice a day with amoxicillin three times a day
M. Beatriz Rotta Pereira, Manuel R. Pereira, Antonio Aguillar,Luis Huicho, Hugo Trujillo, Samir Cahali
ARTIGOS ESPECIAIS
Obstrução nasal – considerações cirúrgicas relevantes ......................................233
Nasal obstruction – relevant surgical aspectsRenato Roithmann
Síndrome de Ménière: diagnóstico etiológico........................................................238Ménière’s syndrome: etiologic diagnosis
Luiz Lavinsky, Cíntia D’Avila, Rafael M. Campani, Michelle Lavinsky
Papilomatose de laringe .......................................................................................251
Laryngeal papillomatosis
Carla von Mülen, Cristiane Rigol, Raquel Melchior,Rodrigo Argenta, Mariana M. Smith, Maurício S. Miura, Gabriel Kuhl
ERRATA ...............................................................................................................261
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO...........................................................................263
GUIDELINES FOR MANUSCRIPT SUBMISSION...............................................269
EDITORIAL
Nossa revista tem apresentado uma série de inovações que trouxeramcredibilidade e importância pelo elevado nível dos trabalhos e pelo aumentoda tiragem, resultante do interesse das pessoas nesta publicação, além de
sua disponibilidade na Internet. Este fato deve-se, principalmente, à qualidadedos editores associados que, incorporados desta renovada vontade dedesenvolver uma revista científica de relevância, têm emprestado a maior
qualificação à mesma.Assim, temos tido dificuldade em escolher os editores associados, pela
felicidade de contarmos, entre os envolvidos no Hospital de Clínicas, com
colegas extremamente qualificados para a função. Primeiramente,escolhemos entre os conselheiros aqueles que, ultimamente, tiverampublicações relevantes e que têm se caracterizado pela exaustiva função de
divulgação de conhecimento através do HCPA. O Professor Sady Costa, umdos editores associados deste número, tem 60 publicações internacionais,entre revistas e capítulos de livros, e mais de 100 publicações nacionais,
entre artigos e capítulos de livros, além de dois livros editados. A repercussãode seu trabalho como professor transcende a especialidade; ele serve comoum exemplo de colega que teve sua formação como especialista dentro do
Serviço de Otorrinolaringologia do HCPA e, portanto, é fruto do trabalho deoutras gerações de professores – entre eles o Professor Lavinsky, queprontamente manifestou seu interesse em participar igualmente como editor
associado. Assim temos, nesta edição, a comprovação da dinâmicauniversitária que aqui é desenvolvida sobremaneira, como demonstrado pelosdois colegas, anteriormente professor e aluno.
Espero que os senhores tenham, nas próximas páginas, a satisfaçãode comprovar o resultado deste trabalho conjunto.
The Invaluable Contribution of our Associate Editors
In the past couple of years, our journal has introduced several
innovations that resulted in increased credibility and visibility. This is dueboth to the high level of the contributions and to a growing readership thatreflects the interest in our publication, as well as the fact that certain sections
of Revista HCPA are available in the Internet. For all of this we have to thankour Associate Editors, who embody the renewed wish to build a relevantscientific publication, and therefore have made a commitment to quality.
Thus, it has been difficult to appoint Associate Editors, since there areso many talented candidates among our colleagues at HCPA. Among other
A inestimável contribuiçãodos editores associados
Revista HCPA 1999;19 (1)144
criteria, we have tried to choose editors who have published works that are
relevant to their field, and editors who make an effort to advance scientificknowledge through HCPA. Professor Sady Costa, one of the Associate Editorsin the present issue, has 60 international publications, including articles and
book chapters, and over 100 national publications in addition to having editedtwo books. The influence of his work as a professor goes beyond the field ofotorhinolaryngology; he is an example of a colleague who received his training
at the Otorhinolaryngology Service at HCPA, and as such his achievementsmirror the work of the previous generation of professors – among them,Professor Luiz Lavinsky, who gladly accepted the duties of co-editing the
present issue of Revista HCPA. Therefore, the present issue gives evidenceto the academic dynamics that are so successful in our University and in ourHospital, as these two colleagues, who once were student and master, clearly
demonstrate.I hope that our readers will find, in the following pages, the satisfaction
of tasting the result of this joint effort.
Eduardo PassosEditor
Revista HCPA 1999;19 (1) 145
A otorrinolaringologia cresceu. E com ela cresceram e amadureceramaqueles que se dedicam à sua prática como especialistas. Ao se tornar maiscientífica, refina-se pela eficiência, aprimora-se pela riqueza de recursos e
se faz mais corajosa para enfrentar desafios maiores do que aqueles exigidospela simples rotina. Processos dessa natureza, todavia, não se produzemnum dia, num único mês ou ano. Antes, demandam décadas de trabalho e
esforço, de carinho e dedicação ao saber.A época em que vivemos é nova e peculiar, especialmente pela
aceleração que se imprimiu à renovação do conhecimento científico, pelo
ímpeto de que se revestem as inovações tecnológicas, pela abertura de viasde acesso à informação e, conseqüentemente, à globalização edemocratização do conhecimento. Tamanha é a velocidade desse processo,
que, freqüentemente, nos assusta e perturba, por exigir permanente esforçode compreensão, intensa capacidade de adaptação e presteza de atitudes,envolvendo contínuo ajustamento a novas realidades. Muitas vezes, antes
mesmo que possamos assimilar adequadamente uma inovação instauradano processo evolutivo, temos já que substituí-la por outra, e passar àcompreensão de um novo processo, que com ela também se altera.
Se este é um sinal dos tempos para todos, constitui um fatosobremaneira comum em nossa profissão e, particularmente, em nossaespecialidade, na qual, dia a dia vemos e vivenciamos intensa renovação,
tanto no campo dos conceitos quanto no de recursos diagnósticos e formasde tratamento.
E tudo isso nos reduz – sejam quantos forem os anos que tenhamos
dedicado ao exercício da profissão – à permanente condição de alunos. Estanova e fascinante realidade ao mesmo tempo em que nos obriga à avidezpelo conhecimento induz à necessária humildade, que nos fará constatar
que a verdade de que dispomos talvez não seja tão sólida e, com certeza, deque nosso saber de hoje não é o único nem o definitivo. Justifica-se, comisso, a importância de publicações como esta. O nosso público, certamente,
situa-se dentro de um espectro de profissionais (do aluno principiante aoexperiente professor) que, à parte das suas diferenças e necessidades,comungam do saudável e intangível desejo de dominar o conhecimento. Esta
missão, essencialmente impossível de ser realizada, gera uma efervescênciacientítifica que se justifica no seu próprio fim: o cumprimento da tarefa médicamais básica que é a de atender com eficiência às necessidades diária dos
nossos pacientes.Nós, os Editores Associados deste suplemento da Revista do HCPA,
EDITORIAL
Sinal dos tempos
Revista HCPA 1999;19 (1)146
sentimo-nos honrados com o convite recebido. Procuramos cumprir com os
objetivos desta revista ao selecionar um material científico diversificado que,esperamos, venha ao encontro das expectativas e interesses dos nossosleitores. Para tanto, mesclamos colegas de outros serviços com a nossa
própria carga de trabalho a fim de obter um produto final de qualidade e queratifique o padrão de excelência da nossa especialidade, do nosso serviço edo nosso hospital.
Como dizíamos, a otorrinolaringologia cresceu, e é uma pequenaamostra deste crescimento o que pretendemos revelar nestas próximaspáginas.
Sady Selaimen da CostaEditor Associado
Luiz LavinskyEditor Associado
Chefe, Serviço de Otorrinolaringologia
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Revista HCPA 1999;19 (2) 147
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagemARTIGO ESPECIAL
Audição, comunicação e linguagem:um convite à reflexão
Sady Selaimen da Costa1
A comunicação oral distingue o ser humano de todos os outros seres viventes e éobtida por meio de uma corrente de aquisições, cujo elo mais importante é a audição.Já a linguagem exige, para seu pleno desenvolvimento, as funções auditiva e fonatória,ou, em outra palavras, os dois pólos de ligação entre os sujeitos da comunicação oralconfigurando o chamado circuito eletro-acústico da comunicação humana. Ainterrupção desse circuito determinará transtornos de naturezas diversas, cujasconseqüências, entretanto, se assemelham: os distúrbios da comunicação .Dentre todos os distúrbios da comunicação, a surdez é o de maior prevalência, umavez que 60% destes distúrbios (sejam eles maiores ou menores) relacionam-se diretaou indiretamente com problemas auditivos. A surdez pode ser definida como a perdaou diminuição considerável do sentido da audição. Sem a audição o homem se vêprivado de perceber os sons da vida, adquirir espontaneamente a linguagem edesenvolver o pensamento abstrato.
Unitermos: Surdez; comunicação; linguagem; fala; audição.
Hearing, communication and language: some thoughtsOral communication differentiates human beings from all other living creatures and isobtained through where hearing is the most important link. In turn, in order to consistentlydevelop language, adequate hearing and phonation are essential – in other words,the two poles connecting the subject of oral communication, and configuring what wecall the electro-acoustic circuit of oral communication. The interruption of this circuitdetermines an array of disorders among which deafness is the most prevalent, sincearound 60% of there disorders are directly or indirectly related impairment. Deafnessis defined as the total absence or significant impairment of the hearing function. Withouthearing human beings are unable to enjoy the sounds of life, to spontaneously acquirelanguage, and to develop abstract thoughs.
Key-words: Deafness; communication; language ; speech; hearing.
1 Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grandedo Sul. Correspondência: Travessa Pedro Américo 67 B, CEP 90550-100, Porto Alegre, RS, Brasil.
Comunicação, linguagem, voz e fala
A comunicação oral distingue o homemde todos os outros seres viventes e é obtidapor meio de uma corrente de aquisições, cujo
elo mais importante é a audição.Já a linguagem, a qual poderíamos definir
como um sistema de sinais empregados pelohomem para exprimir e transmitir suas idéiase pensamentos e que está intimamente ligada
Revista HCPA 1999;19(2):147-66
Revista HCPA 1999;19 (2)148
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
NASCIMENTO PRIMEIRA INFÂNCIA APÓS
chorogritos
Figura 1. Funções fundamentais para o desenvolvimento da linguagem auditivo-oral.
Figura 2. Voz humana em seus diferentes estágios.
PÓLO FONADOR↓
COMPLEXO↓
APARATO FONADOR
PÓLO ACÚSTICO↓
UNIDADE↓
APARELHO AUDITIVO
LINGUAGEM
seqüênciasímbolosadquiridos
gritosrisobalbucio
FALA
à cognição, exige, para seu plenodesenvolvimento, as funções auditiva efonatória, ou, em outra palavras, os dois pólosde ligação entre os sujeitos da comunicaçãooral (1) (figura 1).
Ocorre que, ao longo dodesenvolvimento filogenético da nossa espécie,o pólo auditivo foi brindado com um aparelhoespecífico e altamente especializado – oaparelho auditivo – para o cumprimento dassuas atribuições. Já a fonação, por sua vez,não teve a mesma sorte, vindo a necessitar dainteração de órgãos de diferentes sistemas eaparelhos para a sua existência. Na verdade,esta função somente se processa plenamentena espécie humana graças ao gênio criativodo homem que soube recrutar órgãos de outrossistemas – todos com funções primáriasdiferentes da fonatória – para compor umconjunto anatômico que tem recebidoinadequadamente o nome de aparelho fonador(1). Na verdade, não existe um aparelhofonador, que por definição demandaria apresença de uma unidade morfo-funcional. Oque a bioengenharia humana logisticamenteconcebeu foi o que poderíamos denominar deum pseudo-aparelho ou, melhor definindo, um
legítimo aparato fonador. Todo este aparato éuma adaptação funcional relativamente recentee que utiliza partes dos sistemas digestivo erespiratório, habilmente integrados pelosistema nervoso central sendo constituídopelos seguintes componentes :
• Um sistema produtor da coluna de ar,formado pela caixa torácica, pulmões etoda a musculatura envolvida,salientando-se o diafragma.
• Um sistema vibrador constituído pelaspregas vocais as quais emitem o somfundamental e seus harmônicos.
• Um sistema ressoador constituído pelotórax e pelas cavidadesnasobucofaríngeas que irão valorizar oudesvalorizar certos harmônicosconferindo à voz timbre, qualidade epersonalidade.
• Um sistema articulador onde o somfundamental é decomposto em sons defala (fonemas) através do mecanismo dearticulação no qual tomam parte oslábios, dentes, língua, palatos duro emole, mandíbula e a própria laringe.
• Feedback auditivo que permite uma
Revista HCPA 1999;19 (2) 149
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
constante re ou ratificação do queemitimos e/ou ouvimos.
• O sistema nervoso que permite acodificação (transmissão organizada) ea decodificação (tradução dos símbolosrecebidos em informação) das nossasmensagens acústicas.
Este aparato assim policonstituído,apesar de cumprir a função fonação de umaforma harmoniosa, plena e eficiente, pode serdesfalcado de vários dos seus componentese, ainda assim, achar maneiras alternativas,obviamente menos efetivas, no cumprimentodas suas atribuições.
Desta forma, enquanto a audição é umafunção essencialmente sensório-neural, afonação se processa através da coordenaçãode um conjunto de atividades intelectuaisinstintivas ou deliberadas, comandos eimpulsos nervosos e a conseqüente contraçãoseletiva de determinados grupamentosmusculares. O resultado final de todo esteprocesso é a emissão de uma mensagemacústica: a voz. A voz humana está presentedesde o nascimento sob a forma do choro, doriso e gritos. Posteriormente ela obedeceráuma seqüência de símbolos adquiridostomando a forma da fala (1) (figura 2).
A fala é tradicionalmente definida comotudo aquilo que se exprime através daspalavras, um modo de expressão ou veículode linguagem. De acordo com a teoria da falade Sausurre, é fundamental que se faça adistinção entre língua e fala: a língua existe nae para a coletividade, sendo, portanto, umainstituição social específica; já a fala sedistingue da primeira como o individual sedistingue do social. A fala, assim, seria um atoindividual de vontade e inteligência (2). ParaSausurre, a língua mostra-se como umconjunto de meios de expressão, um códigocomum ao conjunto de indivíduos quepertencem a uma mesma comunidadelingüística; a fala, ao contrário, é a maneirapessoal de utilizar o mesmo código (2).
Durante a fala, a intensidade e a alturada voz sofrem constantes variações. A palavraindividual, nestas circunstâncias, é conhecidacomo o segmento da elocução. Já a melodia ea entonação empregadas, que incluem e
mesmo ultrapassam a palavra, caracterizamas funções ditas supra-segmentais (3). Estasdefinições, juntamente com o significado e amaneira pela qual os diversos segmentosencontram-se dispostos dentro da elocução,constituem-se na espinha dorsal de uma língua,podendo ser descritas em termos do léxico(repertório de palavras), semântica (o sentidoreal e figurado de cada palavra ), sintaxe(estrutura gramatical ou a ordem das palavrasem uma sentença) e prosódia (fluxo melódicoe ritmos de uma sentença) (3).
Embora a linguagem possa sedesenvolver em qualquer modalidade, amaioria das pessoas utiliza as linguagensauditiva (percebida pelo órgão auditivo) e oral(produzida pelo aparato fonador). De acordocom Kainz, esta forma de linguagem, tambémconhecida como linguagem auditivo-oral,cumpre quatro atribuições principais na espéciehumana (4):
• forma de expressão interjeitiva(exclamação);
• apelo imperativo (solicitação);• questionamento interrogativo
(interpelação);• forma de declaração indicativa
(explanação).
Estas quatro tarefas podem serfacilmente correlacionadas com as funçõescardeais dos processos mentais: sentimento,desejo e raciocínio. Inúmeros exemplos destesníveis são facilmente notados no decurso dodesenvolvimento ontogenético da linguageminfantil. Assim, os níveis funcionais deexpressão de emoções e desejoscorrespondem às camadas biológico-genéticasmais antigas da vida mental. Já osquestionamentos e as declarações indicativascorrelacionam-se com níveis de consciênciabastante evoluídos (5).
O desenvolvimento da linguagem de umacriança normal é intimamente influenciado portendências e/ou traços herdados e estímulosambientais. Assim, o seu início dependefundamentalmente da confluência de “gatilhos”externos e aspirações próprias ou, em outraspalavras, da combinação de estímulosprocedentes do meio-ambiente e o potencial
Revista HCPA 1999;19 (2)150
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
inato próprio ao desenvolvimento intelectual.Hereditariedade e ambientalismo, ou naturezae criação, representam os dois pilares entre osquais os traços individuais da expressãolingüística são, então, formados (6) (figura 3).
O desenvolvimento pleno da linguagemauditivo-oral depende da maturação e adequadofuncionamento dos sistemas sensorial, motor ecognitivo. A perfeita integridade dessessistemas fornecerá as ferramentas necessáriasà chamada “prontidão biológica”, ou aptidãoindividual à deflagração da linguagem falada.Assim, Meumann distinguiu quatro funçõesbásicas cujo funcionamento seria imprescindívelpara o desenvolvimento normal da linguagem(7):
• desenvolvimento sensorial;• desenvolvimento motor;• maturação psico-motora;• desenvolvimento intelectual.
Quando analisamos retrospectivamente alinguagem infantil, notamos que os bebêsdesenvolvem-se aproximadamente durante 9 a12 meses antes que possam emitir as primeiraspalavras munidas de intenção e sentido lógico.Durante este tempo ocorrem uma série deeventos orgânicos e ambientais que antecedeme preparam a produção destas palavras (3).Neste sentido, as crianças crescem em um ricoambiente sonoro onde sobressai-se epredomina a linguagem que futuramenteadquirirão. O seu pequeno universo inclui umasérie de interações com o ambiente, pais,irmãos e parentes configurando bem ali, à suafrente, um legítimo caleidoscópio de sons,simbolismos e imagens. Durante estasinterações, elas percebem e identificamseqüências específicas de sons que remetem
consistentemente a uma lista de objetos ouações correspondentes. O amadurecimentofísico, por sua vez, lhes permite passar de merosreceptores passivos da estimulação ambientala participantes ativos no seu ambiente. Elas jásão capazes de se estenderem em direção aobjetos a fim de manipulá-los e, finalmente,engatinhar, explorando e ampliando as suasfronteiras e, neste trajeto, modificar o seu própriomeio. Sua tonicidade muscular melhora,permitindo-lhes controlar seus músculos faciais,sua postura e a sincronia respiratóriaindispensável às primeiras vocalizações. Alaringe e as vias aéreas crescem possibilitandomudanças de ressonância e articulação de sonsmais complexos (3).
Esses sinais de amadurecimento físicosão paralelamente acompanhados por ganhoscognitivos. Os sons, antes emitidos emcombinações e entonações aleatórias e quasemusicais (cumprindo objetivos não-verbais),evoluem pouco a pouco a protótipos delinguagem auditivo-oral. Elas principiam aefetivamente lembrar e imitar os sons e ritmosda fala dos outros. Nesta fase, os bebês estãoadquirindo novos conhecimentos e experiênciassobre seu meio, o que lhes fornece a muniçãonecessária sobre o quê, como e quando falar.Eles já lembram de pessoas, objetos e ações ecomeçam a associá-los a palavras que osdescrevem. Ao final do 1º ano de vida,habilidades motoras, sensoriais e cognitivasunem-se para a produção de sons queaproximam-se de palavras reais. Quando istoocorre na presença de outros falantes, essatentativa é efusivamente saudada pelos paiscomo um rudimento de linguagem oral. Esteforte apoio social não somente encoraja asprimeiras tentativas das crianças de secomunicarem como também é fundamental em
TENDÊNCIASE/OU
TRAÇOS HERDADOS
Figura 3. Elementos essenciais ao desenvolvimento da linguagem.
ESTÍMULOSAMBIENTAIS
LINGUAGEM INFANTIL
Revista HCPA 1999;19 (2) 151
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
Olfato Tato Visão Equilíbrio Audiçãounicelulares pluricelulares artrópodes vertebrados terrestres
Figura 4. Seqüência cronológica no denvolvimento filogenético dos sentidos.
todo um processo contínuo e metódico dedesenvolvimento adicional (3).
Esta breve sinopse ilustra quãofundamentais são as quatro funções apontadaspor Meumann como agentes catalizadoresindispensáveis no desenvolvimento dalinguagem infantil (7). Assim, quando umacriança reúne estes pré-requisitos básicos(conteúdo intrínseco) e é devidamenteestimulada (carga extrínseca), a linguagemevolui ao longo de três fases básicas:
• balbucio instintivo;• reprodução voluntária de sons;• compreensão da linguagem.
As mesmas habilidades motoras,sensoriais e cognitivas que apoiam epromovem o desenvolvimento da linguagemauditivo-oral provam-se também essenciaispara a sua manutenção ao longo da vida. Umtranstorno de funcionamento nessas áreasdevido à doença ou traumatismo pode levar auma estagnação ou mesmo um retrocessodesta forma de comunicação.
surge logo a seguir quando os artrópodes e osinsetos habilitam-se para a locomoção e o vôocomo uma função fundamental à orientação.A fim de coordenar a crescente complexidadee elaboração destes movimentos, impôs-se osurgimento do senso de equilíbrio,representado através dos canaissemicirculares extremamente bemdesenvolvidos dos primeiros vertebrados. Apósa conquista da terra, todos os animais quevagavam no continente passaram adesenvolver o sentido da audição para quepudessem perceber e se acautelar de perigosiminentes (5).
Durante esta mesma época, a laringe sedesenvolveu como um esfíncter primitivoconstritor e dilatador da via aérea. A posturaanfíbia, na qual os animais mantinham o corposubmerso e os olhos e narinas sobre asuperfície, caracterizava uma transição daágua para a terra. Os anfíbios traziam o ar paraa cavidade oral simplesmente abaixando osoalho da boca. Após, vedavam as narinas enovamente erguiam o soalho da boca,
Filogênese dos sentidos
À medida que nos propusermos aentender a importância e influência dos sonsno cotidiano e comportamento humano,parece-nos adequado recapitular aspectosbásicos relacionados à evolução filogenéticados sentidos. Dentre todos os nossos sentidos,acredita-se que provavelmente o olfato e agustação representem os mais antigos,filogeneticamente surgindo quandoprolongamentos protoplasmáticos de seresunicelulares começaram a interagir e aresponder a estímulos químicos ambientais(figura 4). O próximo sentido a se desenvolverfoi o do tato, surgindo nos organismospluricelulares como uma resposta a estímulosmecânicos, vibratórios e térmicos. A visão
literalmente empurrando o ar em direção aospulmões. Com o surgimento dos tetrápodesmóveis, que viviam no solo e nas árvores, oaumento da demanda de oxigênio deve terlevado ao surgimento do mecanismodiafragmático e de fole torácico para ainspiração do ar. Assim, com a evolução dedeglutidores de ar primitivos para criaturasinspiradoras de ar, houve o desenvolvimentoda laringe como um grupamento complexo decartilagens, membranas e fibras elásticas sobreo vestíbulo traqueal. A epiglote surgiu,posteriormente, com o objetivo de cobrir essaabertura em répteis e mais notoriamente emmamíferos. Muito tempo mais tarde a laringecomeçou a se modificar a fim de adaptar afunção superposta que era a fonação.Finalmente, surgiu o ser humano, que sehabilitou não somente à fonação, mas
Revista HCPA 1999;19 (2)152
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
principiou a articular sons, tornando-oscompreensíveis e, assim, a criar a falapropriamente dita (19). Em relação a isto, alinguagem humana é um acontecimentorelativamente recente, não ultrapassando 1milhão de anos e coincidindo com o momentoem que o Pithecanthroupos erectus diferenciou-se dos grandes primatas. Em verdade,filosoficamente, o ser humano tornou-sehumano quando iniciou a falar. Esta seqüência,estendendo-se ao longo de bilhões de anos,enfatiza quão filogeneticamente antigas são asfunções sensoriais e expressivas. É claro queeste tipo de linguagem encontra-sefundamentada no sentido da audição.
Traçando-se um paralelo ontogenético,um bebê é capaz de ouvir 1 ano antes de emitiro seu primeiro murmúrio intencional. Centenasde milhões de anos passaram-se antes que afunção fonatória da laringe se desenvolvessepara emitir sinais acústicos. Houve ainda anecessidade de mais alguns milhões de anospara que o homem conseguisse moldar afonação em uma forma de linguagem articulada.De uma forma semelhante, a criança necessitade mais de 1 ano para transformar seu balbucioinstintivo em uma linguagem já mais ou menosarticulada e compreensível. Resumindo, aaudição veio primeiro e foi seguida pelasinflexões musicais da fonação, até quefinalmente o ser humano inventasse alinguagem (5).
Ciente disto, Richard Strauss dedicou umade sua últimas obras – a maravilhosa óperaCapriccio – para ilustrar esta seqüência :
Prima la musica, dopo le parole.
O fenômeno conhecido por regressãofuncional patológica reflete estes passosevolutivos em uma seqüência inversa. Assim,as funções mais contemporaneamenteadquiridas são as primeiras a serem perdidas.No caso do afásico poliglota, por exemplo, osidiomas aprendidos mais recentemente são osprimeiros a serem prejudicados. Já umasegunda língua aprendida na infância e a línguamãe são afetadas posteriomente e sempreobedecendo esta mesma ordem inversa.Fatores emocionais também são capazes defacilmente perturbar a serenidade da
coordenação lingüística, como é bemevidenciado no tremor vocal psicogênico dopalestrante neófito ou nas disfemias (gagueira).Como discutimos anteriormente, a fonação éfilogeneticamente bem mais antiga que alinguagem e, portanto, mais resistente adesarranjos funcionais que esta. Prova disto éque a disfonia psicogênica é uma condição bemmais rara que a disfemia psicogênica. Uma vezque o sexo feminino é mais predisposto àsreações emocionais que o masculino, a afoniahistérica é uma condição quase exclusiva dasmulheres. Este fato é bem conhecido desde ostempos hipocráticos, quando cunhou-se o termohisteria a partir da origem grega hystera, ou seja,útero (5). A fonação, por sua vez, é mais recenteque o mecanismo esfincteriano da laringe; porconseguinte, a função expressiva laringeana émais suscetível a desarranjos de ordempsicogênica que os mecanismos responsáveispela sua ação reflexo-protetiva. Este conceitoé bem ilustrado nas circunstâncias cercadas detraumas emocionais violentos, como aquelesocorridos durante combates, quando há osurgimento de uma regressão marcada dapersonalidade ameaçada. Nesses casos, oindivíduo pode até dissociar-se do seu meio-ambiente assemelhando-se em todos ossentidos à vida intra-uterina, onde somenteidentificam-se as funções reflexas mais vitais.A audição é ainda mais antiga que a fonação e,portanto, menos suscetível à inibição de origempsicogênica. Com exceção do simuladorauditivo, a hipoacusia psicogênica é bastanterara principalmente nos tempos de paz. O fatodo equilíbrio ser ainda mais antigo que a audiçãoe, assim sendo, mais resistente do que esta, ébem ilustrado pela sua maior resistênciainclusive às doenças orgânicas que costumamcomprometer mais significativamente a funçãoauditiva. Por outro lado, as psiconeurosespodem mimetizar em tudo os desequilíbriosorgânicos; porém, mesmo nestes casos, asrespostas vestibulares via de regra mantêm-seintactas. Na nossa revisão da evoluçãofilogenética dos sentidos, notamos que a visãoé ainda mais resistente que as funções ditas“jovens”. Entretanto, quando um indivíduoexperimenta uma crise profunda, pode haverum comprometimento global de todas asfunções receptivas e expressivas. Nessas
Revista HCPA 1999;19 (2) 153
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
circunstâncias ele literalmente “se retira darealidade” para se enclausurar dentro de sipróprio. Isto é verificado em combatentessofrendo de neuroses de guerra, quandoapresentam-se praticamente imóveis, cegos,surdos, mudos e incapazes de emitir um únicosom. Durante a recuperação, estas funçõesretornam obedecendo exatamente esta ordemcronológica. Da mesma forma que ahipoacusia, a cegueira psicogênica é umaforma de recolhimento extremamente rara (5).Como ponto final de todas estas possibilidadesde regressão, ou nos primórdios da evoluçãofilogenética, situa-se o sentido do olfato. Aanosmia psicogênica parece não existir umavez que este sentido cumpre uma atribuiçãopouco relevante na comunicação (5).
Tal constatação poderia revelar umacerta ausência de importância nos sentidos doolfato e paladar em relação às funções maisrecentemente adquiridas. Devemos entretantolembrar que, se isto é verdade no que se refereà comunicação, carece de veracidade quandoconsideramos outras funções biológicasprimárias. Desta maneira, o conjunto de todasestas aquisições tem de ser, necessariamente,avaliado sob uma óptica evolucionista, ondeas funções mais básicas configuram-se emlegítimas pontas-de-lança ao longo doprocesso desenvolvimentista. Assim, aoanalisarmos uma forma de vida rudimentar,veremos que os sentidos do olfato e gustação(intrinsecamente relacionado com as funçõesde alimentação e procriação) talvez sejam maisrelevantes à perpetuação desta espécie do queas “nobres” funções auditivas e visuais. Emoutras palavras, a manutenção sustentada davida alicerça e deflagra um processo dequalificação individual com o surgimento,aprimoramento e sobreposição de novasfunções cada vez mais complexas eespecíficas. Estas novas funções, supérfluaspara aquele nosso modelo animal, sãoprogressivamente aperfeiçoadas eincorporadas a outros modelos, já não maiscumprindo um papel “semi-estético”, mas agoracomo uma característica que o diferencia e operpetua.
Frutificai, disse Deus, e multiplicai-vos,e enchei-vos as águas do mar, e que as aves
se multipliquem sobre a terra.Gên 1:22
Com o fechamento deste ciclo ressaltam-se e celebram-se as maravilhas advindasdestas novas características, porém o processoevolutivo prossegue preenchendo as novasbrechas abertas pela natureza. Uma visãomacro e menos cuidadosa deste universo emmutação certamente pode confundir e mesmosubverter a hierarquia destas conquistas.
Anatomia comparada da audiçãoe fonação
Para chegar a construir um vertebradoao longo dos tortuosos caminhos da história, aevolução precisa converter em carne e osso agrande metáfora do poeta William Butler Yeats:Posso ouvi-la, no cerne mais profundo do meucoração.
Stephen Jay Gold
A comunicação é fator primordial para ainter-relação de inúmeros grupos animais. Essacapacidade tornou-se possível à medida queas exigências de sobrevivência no meiolevaram ao surgimento e aperfeiçoamento deestruturas adaptadas para a produção ecaptação de energia sonora. Milhares de anosde evolução tornaram indissolúvel essa trocade informações, a princípio rudimentar, masresponsável em grande parte pela perpetuaçãodesses animais na biosfera. As estruturasresponsáveis pela produção e captação sonoraapresentam-se com ampla gama de variaçõesatravés das espécies (8).
No que tange à captação de sons doambiente, o momento crucial no refinamentodo aparelho auditivo ocorre quando as formasde vida nascidas na água passam a habitar omeio terrestre. Assim, as ondas sonoras antescaptadas através da vibração no meio aquáticodevem vencer a resistência de um meiodistinto, o aéreo, para serem percebidas. Foicom intuito de aprimorar esse processo queocorreu a evolução de estruturas puramentesensoriais àquelas com funções auditivasbastante mais elaboradas nos seres aquáticos.
Entre os peixes, o sentido da audição écomprovadamente mais evoluído no grupo dos
Revista HCPA 1999;19 (2)154
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
teleósteos, que inclui as carpas, bagres edourados, e que possui estruturas auditivas algosemelhantes às dos tetrápodes (9). Essespeixes desenvolveram a chamada bexiganatatória que funciona como um hidrofonecaptante das ondas sonoras transmitidas pelaágua (10). A partir da porção anterior desseórgão surgem pares de ossos derivados dascostelas, chamados ossículos Weberianos, quetransmitem e amplificam as vibrações até oespaço perilinfático adjacente ao epitéliosensorial do sáculo, onde poderá ocorrer umdos primeiros rudimentos de audição (11,12).Através desse engenhoso mecanismo primitivode transmissão da vibração sonora até umepitélio sensorial mediante uma verdadeiraponte óssea, pode-se estabelecer analogia coma membrana timpânica e ossículos da orelhamédia encontrados nos tetrápodes. De outrasorte, outros peixes possuem uma comunicaçãoentre a garganta e o meio externo, chamada deespiráculo, além do osso hiomandibular, queestão adjacentes à orelha interna e teriamparticipação na transmissão sonora desde omeio aquático (12). Teoricamente, durante oprocesso evolutivo, o espiráculo deu lugar aocomplexo orelha média/tuba auditiva e o ossohiomandibular modificou-se na columela,encontrados a partir dos anfíbios.
Nos anfíbios encontramos a membranatimpânica na superfície externa da cabeça e umúnico osso na cavidade da orelha média,chamado de columela (12). Já nos répteis maisprimitivos, por exemplo, o lagarto, observa-seque a columela resta isoladamente,comunicando o som até a orelha interna, nãohavendo mais participação dos ossos damandíbula. Também observa-se pequenadepressão externa, a qual seria um esboço domeato acústico externo, em comparação aoencontrado nos vertebrados mais evoluídos.
Além de uma cóclea bem desenvolvida,os mamíferos como um todo apresentamparticularidades também na orelha média.Nessa câmara encontram-se três ossículostípicos: o martelo, a bigorna e o estribo, cujafunção básica é a de conduzir e ampliar emmuitas vezes as vibrações captadas do meioaéreo. Muito se debateu acerca da origemfilogenética de tais estruturas, até que umestudo conjunto entre anatomia comparada e
paleontologia esclareceu a questão. Como jácitado em relação aos répteis primitivos, estesapresentavam dois ossos formadores daarticulação mandibular: o quadrado e o articular.Parece que os primeiros mamíferosdesenvolveram outros ossos próprios para aarticulação com o que tais elementos foramrelegados para funções exclusivas na orelhamédia. O quadrado, conservando a ligação como tímpano, tornou-se o martelo; já o articularaposto entre esse e o estribo modificou-se nabigorna (11,12). O maior estímulo para estasmudanças parece ter sido melhorar a audição,a fim de capturar presas e escapar depredadores que não estivessem na linha diretade visão. Isto foi especialmente marcante paraos primeiros mamíferos que sobreviveram naera mesozóica à tirania dos répteis, quando ocomportamento noturno deu ênfase àpercepção auditiva e olfatória (13).
Em relação à fonação, os peixes em geralnão emitem sons por meio de aparelhoespecífico. No entanto, alguns representantesmais evoluídos da ordem dos teleósteos, comoo peixe roncador e o peixe tambor, utilizam abexiga natatória na produção sonora, a qual éposta em vibração através da contração rápidade músculos em seu interior (12).Aparentemente não se pode fazer comparaçãoentre essa característica possivelmente fortuitae o desenvolvimento de órgãos e aparatoscapazes da emissão de sons em ambiente aéreoque tiveram origem a partir de outros elementos.
A laringe primitiva surge originalmente nosprimeiros anfíbios, à medida que estesrepresentam uma evolução da vida aquáticapara terrestre. Entre larvas de anfíbios típicosainda se fazem presentes brânquias e arcosbranquiais como os encontradas em peixes,porém estas estruturas involuem gradualmenteao longo da sua metamorfose vindo aprevalecer, no animal adulto, a respiraçãopulmonar (10). Diversas espécies de rãs e saposbaseiam grande parcela dos seus rituais deacasalamento na produção de um amplorepertório de sons. A emissão de voz éproduzida pela vibração de cordas vocaispresentes na câmara laringotraqueal através dapassagem de ar entre elas. Apesar demorfologia semelhante entre ambos os sexos aemissão de voz nos anuros é exclusiva aos
Revista HCPA 1999;19 (2) 155
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
machos.Diferentemente dos anfíbios, deglutidores
de ar, nos répteis a via aérea parece ter seespecializado ainda mais na respiraçãopulmonar, mantendo-se agora permanen-temente aberta à passagem de grandesquantidades de ar. Verifica-se também nestegrupo animal a separação da primitiva câmaralaringotraqueal anfíbia para laringe e traquéiaindividualizadas (10). Na laringe, além dascartilagens laterais oriundas dos anfíbios,desenvolve-se a cartilagem cricóide em formade anel e cordas vocais típicas que, em raroslagartos, podem vibrar emitindo sonsespecializados. A despeito dessas diferençasanatômicas surgidas nos répteis durante aevolução a partir de uma linhagem anfíbia, nãose verificam incrementos na produção sonora.Ao contrário, são raros os répteis dados àfonação e, quando o fazem, emitem sonsclassificados como silvos ou rugidos, tal comoobservado no crocodilo macho (10).
A origem das aves remonta aos répteisprimitivos, os chamados labirintodontes. Umramo destes, os arcossauros, deu origem aoscrocodilianos e às primeiras aves; um outroramo deu origem aos répteis sinápsicos dosquais emergiram os mamíferos. Nesse processoevolutivo, o sistema respiratório das aves tomoucaminho levemente diferente daquele dosmamíferos (11). Com efeito, a laringe de avesguarda mais analogia com a dos répteis,especialmente os mudos, pois esta também nãoé dada à fonação. O canto, assim como gritosde chamado ou alerta tão característicos dasaves, é produzido por um órgão algo comparávelà laringe, denominado de siringe. Tal estrutura,exclusiva dessa classe animal, está localizadano ponto de subdivisão da traquéia nos doisbrônquios principais e varia morfologicamenteentre as espécies, sendo mais predominanteentre patos e gansos (10,11,12).
Os mamíferos divergiram dos répteismilhões de anos antes da linha de separaçãoque originou as aves (12). Embora o sistemarespiratório de aves e mamíferos sejasemelhante, encontramos desenvolvimentosindependentes quanto ao aparato fonador. Osmamíferos empregam a laringe com função nãoexclusivamente respiratória, mas também comocaixa de voz. A despeito da variedade de sons
que esta pode produzir, a laringe de mamíferosé um despretensioso aparelho sem grandesespecializações em relação à sua filogenia.Assim como nos répteis, desenvolve-se acartilagem epiglote anteriormente à glote, quetem importante participação na deglutiçãoobstruindo a via aérea, protegendo-a contracorpos estranhos. Também analogamente aosrépteis crocodilianos, faz-se presente acartilagem tireóide. A esse modelo básicoacrescentam-se outras cartilagensrelativamente insignificantes, como ascuneiformes e corniculadas, em associação comas aritenóides em espécies como homem ecoelho (11). Esse arcabouço laringeano, tidocomo o mais complexo entre as classes animais,abriga duas pregas musculares, estendendo-se da cartilagem tireóide às aritenóides,desempenhando o papel precípuo davocalização, as chamadas pregas vocaisverdadeiras. Músculos intrínsecos da laringeorganizam a tensão necessária nestas pregasrepercutindo no grau de freqüência a quevibrarão pela ação do fluxo aéreo.
Circuito eletro-acústico dacomunicação humana
A fim de que a linguagem auditivo-oral seprocesse adequadamente, impõe-se o plenodesenvolvimento das funções auditivas efonatórias. Durante a nossa revisão de anatomiacomparada, notamos que várias espéciesanimais apresentam estruturas receptoras eprodutoras de sons até mais desenvolvidas queas do homem. Ainda assim, a capacidadehumana de se comunicar excedeflagrantemente a de qualquer outra espécieanimal. Ocorre que, apesar do aparelho auditivoe do aparato fonador serem as colunas desustentação da estrutura lingüística, uma sériede outros centros de associações cognitivasdesempenham um papel maiúsculo naviabilização do chamado circuito eletro-acústicoda comunicação humana (14). Neste sentidocabe ressaltar que de nada adiantaria aexistência de pólos auditivos e fonatóriosextremamente bem desenvolvidos se estes nãofossem habilmente integrados por uma funçãoainda maior. Dentre todas as espécies animais,é no ser humano que esta função atinge o seu
Revista HCPA 1999;19 (2)156
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
“estado da arte” particularmente graças a umcérebro extremamente bem desenvolvido. Emnenhuma outra espécie as informaçõesrecebidas ou repassadas recebem umtratamento tão especial e diferenciado como nohomem. Somente aqui este fluxo contínuo deinformações será tão minuciosamente analisadopor legítimas malhas neuronais, decomposto àssuas formas mais básicas e, a seguir, moduladopela inteligência e pelas emoções (14).
Na figura 5, encontra-se esquematizado(conceptualmente) o circuito eletroacústico dacomunicação humana que será, a seguir,resumidamente discutido em seus componentesbiológicos essenciais.
Uma mensagem acústica é recebida nascircunvoluções do pavilhão auricular,concentrada no meato acústico externo,percorrendo, a partir dali, toda a extensão doconduto auditivo externo (2,5 cm) até encontrar,no seu limite medial, a membrana timpânica.Posta em vibração, a membrana timpânicamovimenta sincronicamente toda a cadeiaossicular: martelo, bigorna e estribo. A principalfunção do sistema tímpano-ossicular é a detransmitir a onda sonora de um meio com baixaimpedância (ar) para um meio de altaimpedância (fluido), com a menor perda deenergia possível. Esta vibração é, então,transferida via platina do estribo para o interiorda cóclea (rampa vestibular) e ali, maisespecificamente nas células ciliadas do órgãode Corti, finalmente transduzida em sinaiselétricos. Dependendo da intensidade do sinal,este deflagrará um potencial de ação nas fibrasdo nervo coclear localizadas junto à base dascélulas ciliadas. A mensagem já devidamentecodificada em energia elétrica propaga-se,então, pelas vias auditivas percorrendosucessivamente as sinapses dos núcleoscocleares, complexo olivar superior (onde partedas fibras já cruzam a linha média), núcleo doleminisco lateral, colículo inferior, corpogeniculado medial e radiação auditiva atéencontrar a área auditiva primária (AAP) já nocórtex temporal. Nesta região os sinais elétricossão, pela primeira vez, conscientementepercebidos como sensações sonoras,configurando o chamado primeiro nível deaudição. Da área auditiva primária, estes sinaissão imediatamente remetidos à área auditiva
secundária (AAS), ainda no lobo temporal, ondeo som, anteriormente percebido como sensaçãosonora, é decodificado e discriminado (nochamado segundo nível de audição). Éimportante que se enfatize que, neste âmbito,os conceitos de discriminação auditiva ecompreensão da linguagem diferemsensivelmente uma vez que a capacidade dediscriminar um som não implicanecessariamente na compreensão do seuconteúdo intrínseco. Por exemplo, se nos forenviada uma mensagem sonora em português,após a sua transdução, primeiramenteperceberemos a sensação sonoracorrespondente (AAP), posteriormentediscriminaremos esta sensação (AAS) para sóentão, lastreados pela nossa sólida bagagemcultural nesta língua, compreendermosefetivamente o significado desta mensagem. Se,por outro lado, a língua chinesa for a empregada,continuaremos transduzindo, percebendo ediscriminando este som, mas infelizmente (pelomenos para o autor) a ausência de umbackground específico inviabilizacompletamente a sua compreensão.
Assim, a verdadeira compreensão eelaboração da linguagem ocorrerá em nívelcortical em um rico ambiente de associaçõespsico-intelectuais repleto de experiênciasprévias, idéias, conceitos e conhecimentos: amente humana.
Os processos mentais inicialmente sedesenvolvem no plano abstrato para então,posteriormente, ganharem formamaterializando-se através de expressões,emoções ou ações concretas. Durante o seudesenvolvimento, o indivíduo vai adquirindo eacumulando conceitos e, ao mesmo tempo,aprendendo os símbolos sonoros relacionadosa esses conceitos. Pouco a pouco, vaiacrescentando informações na esfera psico-intelectual, bem como na sua capacidade desimbolização resultando, daí, a criação de umalinguagem interior – seus pensamentos, suasidéias (15).
Para poder verbalizar estas idéias epensamentos ou, em outras palavras, secomunicar com desenvoltura através dalinguagem auditivo-oral, a criança, após formularestes conceitos, e já conhecendo os símbolossonoros que os representam, deverá associar
Revista HCPA 1999;19 (2) 157
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
NÍV
EL
PS
ICO
-INTE
LEC
TUA
L
olig
ofr
enia
auti
smo
dem
ênci
as
olig
ofr
enia
auti
smo
dem
ênci
as
Fee
db
ack
aud
itiv
o
Men
sag
em a
cúst
ica
f = c
/s
Web
er F
ech
ner
: L
PA
= l
og
10 I/
Io
Io
= 0
.000
2 dy
n/cm
2
I =
dyn
/cm
2P
ÓLO
AU
DIT
IVO
surd
ez
surd
ezve
rbal
Có
rtex
Tem
pora
l Pri
m.
afas
iare
cep
ção SENSAÇÃO
COMPREENSÃO
Có
rtex
Tem
po
ral S
ec.
(
Cir
cuit
o e
letr
o-a
cúst
ico
da
com
un
icaç
ão h
um
ana
PO
LO F
ON
ATÓ
RIO
• F
ole
pulm
onar
• V
ibra
dor
larí
ngeo
• A
rtic
ulad
ores
ora
is•
Cav
.res
sonâ
ncia
ÁR
EA
DE
BR
OC
Á
CÓ
RT
EX
MO
TO
R
VIA
S M
OTO
RA
S
EF
. PE
RIF
ÉR
ICO
S
REALIZAÇÃO LINGUAGEM
dis
lalia
sd
isfo
nia
sd
isg
loss
ias
dis
artr
ias
dis
fem
ias
afas
ia d
e re
aliz
ação
Fig
ura
5. C
ircu
ito e
letr
o-a
cúst
ico
da
co
mu
nic
açã
o h
um
an
a. N
ota
r os
po
ssív
eis
po
nto
s d
e in
terr
up
ção
.
Revista HCPA 1999;19 (2)158
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
cada idéia com um símbolo sonoro específico ecorrespondente. Esta associação ocorre emuma região do córtex frontal conhecida comoárea de Brocá.
Toda esta associação ainda se desenvolveem um plano abstrato podendo, a partir daí, serdescartada, armazenada na memória, transcritaou verbalizada. A fim de efetivar a verbalização,todo aquele processo de associaçãodesenvolvido na área de Brocá é, agora, enviadoao córtex motor analogamente a uma matrizindustrial que, após confeccionada, é remetidaa sua respectiva linha de montagem. O córtexmotor (ou área de realização da linguagem)encarrega-se de enviar impulsos elétricos queviajam através das vias motoras, a fim dedeflagrar uma reação em cadeia nos chamadosefetores periféricos.
Os pulmões, o diafragma e a caixa torácicaconstituem o fole do aparato fonador e, quandopressionados, emitem uma coluna aérea na faseexpiratória da respiração que é modificadadurante o seu trajeto ascendente. Esta colunaé entrecortada na região glótica da laringe poruma série de movimentos látero-laterais daspregas vocais, elementos vibradores queinterrompem periodicamente a passagem do arcom a conseqüente emissão de um somfundamental ou voz. Este som será modificadonas câmaras de ressonância da via aérea (hipo,oro e rinofaringe, cavidade oral, fossas nasaise seios paranasais) acrescentando oudesprezando certos harmônicos, até queadquira um timbre característico. A voz, assimenriquecida, chega aos articuladores orais(lábios, língua, dentes, palato) onde serádecomposta nos fonemas da fala que adquiremsignificados específicos quando combinados: aspalavras. O resultado de todo este processo(que por mais complexo que pareça pode serexecutado em alguns poucos milissegundos!) éa emissão no ar de uma nova mensagemacústica, fechando, dessa maneira, o circuitoentre os dois interlocutores (14).
O circuito eletroacústico da comunicaçãohumana é assim denominado por apresentar umbraço elétrico – representado pelo sistemanervoso, suas conexões e sinapses – e um braçoacústico – relacionado basicamente ao meioambiente. A interrupção desse circuito, emqualquer uma das suas várias estações,
determinará transtornos de naturezas diversas,cujas conseqüências, entretanto, seassemelham: os distúrbios da comunicação(figura 5).
Surdez
Apectos gerais
Dentre todos os distúrbios dacomunicação, a surdez é o de maior prevalência,uma vez que 60% destes distúrbios (sejam elesmaiores ou menores) relacionam-se direta ouindiretamente com problemas auditivos. Asurdez pode ser definida como a perda oudiminuição considerável do sentido da audição.Sem a audição o homem se vê privado deperceber os sons da vida, adquirirespontaneamente a linguagem e desenvolver opensamento abstrato. Vê-se, também, limitadona recepção e transmissão de conhecimentos(16,17).
Os problemas da surdez são maisprofundos e complexos, mais importantes talvez,dos que os da cegueira. A surdez é um infortúniomuito maior. Representa a perda do estímulomais vital – o som da voz – que veicula alinguagem, agita os pensamentos e nos mantémna companhia intelectual do homem.
Hellen Keller
Essas são as palavras de Hellen Keller,uma americana nascida em 1880 que, aos 19meses, ficou privada da visão e audição. Aindaassim, desenvolveu-se intelectualmente até oponto de notabilizar-se literariamente,publicando várias obras que enfatizaramespecialmente os problemas enfrentados pelosdeficientes (16). É curioso que esta personagemmaiúscula da luta contra os preconceitos aosdeficientes físicos insira a surdez à frente dacegueira na lista das limitações sensoriais maisimportantes. É claro que a deficiência visual éum problema pessoal, familiar e socialseríssimo. Também é claro que todas asrepercussões negativas advindas da cegueirasão parcialmente entendidas pela sociedade quereconhece no cego um indivíduo qualificadointelectualmente, mas que precisa de auxílio afim de desenvolver plenamente as suas
Revista HCPA 1999;19 (2) 159
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
potencialidades. Assim o deficiente visual, deuma maneira geral, desenvolve um feedbackpositivo com a sociedade despertando nos queo cerca reações de empatia e uma dispensáveldose de pena. Ele, por sua vez, pelo caráterda sua deficiência, responde aproximando-sedas outras pessoas e objetos. Interage com oseu meio ouvindo, falando, sentindo aromas esabores, discriminando texturas e percebendomovimentos. Dessa forma, apesar da suaterrível privação, mais facilmente desenvolvee difunde os seus talentos encaixando-se comos necessários ajustes à engrenagem social.Como prova disso, vários são os exemplos deindivíduos naticegos que conseguiramdesenvolver extraordinárias capacidadesprofissionais nas letras, na música ou napolítica desempenhando papéis sociais de altarelevância.
O surdo, por sua vez, enfrenta maisdificuldades uma vez que esta deficiênciaimpede, limita ou aborta as suas habilidadeslingüísticas. Como discutimos anteriormente,a audição é o elemento fundamental dacomunicação humana e é tão importante paraa educação formal e o desenvolvimento globalda criança que sua falta é devastadora. Ela énecessária para a aquisição da linguagem eda fala, para o reconhecimento dos sons,interiorização de conceitos e abstração deidéias (16).
Curiosamente estas, “qualidades”conferidas pela audição são muito poucolembradas no momento em que se discute oimpacto causado pela perda auditiva. Talvezuma das razões para a banalização daimportância da audição advenha datransferência do modelo de acumulação etransmissão do conhecimento verificada como desenvolvimento da escrita. Previamente aosurgimento das primeiras inscriçõespictográficas, a cultura, o conhecimento e astradições das comunidades primitivas eramtransferidas indivíduo a indivíduo e através dasgerações pela linguagem auditivo-oral, pormais rudimentar que esta fosse. Odesenvolvimento e aperfeiçoamento da escritaao longo das suas três fases clássicas(pictogramas, ideogramas e fonogramas)transformou esta forma de comunicação noprincipal vetor na transmissão do conhecimento
(2). Várias razões concorreram para tanto: afala se desenrola no tempo e desaparece,enquanto a escrita tem como suporte o espaçoque a conserva; ambas podem serinterpretadas, mas a escrita, pelo seu carátereminentemente documental, é bem menoscorrompível que a linguagem oral (2).
Assim, por vários séculos, a visãoassume a linha de frente no processo dedifusão cultural da grande maioria dassociedades, cabendo à função auditiva umpapel mais secundário, um coadjuvante deluxo, ao longo deste processo. Exceçõesobviamente existem, normalmente refletindocaracterísticas e habilidades individuais, comoformas de linguagem alternativas, linguagemde sinais, método Braille, etc.
Esta transferência de planos é sutil,pouco percebida e, certamente, nuncadefinitiva. Como já discutido anteriormente, avalorização de um ou outro sentido serásempre influenciada pelo momento cultural etecnológico vivido por uma determinadacomunidade.
Surdez: dados epidemiológicos
Dados atualizados e confiáveis emrelação à prevalência das perdas auditivas nãose encontram disponíveis. Segundo algumasfontes, 3% dos Estados Unidos (estimada pelocenso de 1990 em 249.632.692 pessoas)sofreria de uma “perda auditiva significativa”.Já a edição de 1996 do boletim da AmericanSpeech-Language-Hearing Association estimaque 28 milhões de americanos sofram de perdaauditiva, sendo que as causas mais prevalentesna população adulta são a presbiacusia e asperdas auditivas induzidas pelo ruído (PAIR)(18). Dados divulgados pelo National Centerfor Health Statistics (EUA) em 1996, mostramque 13,7% dos americanos com idade entre45 e 65 anos apresentam perda auditiva (19).Estes números (influenciados pelapresbiacusia) são catapultados para 22,9%entre 65 e 74 anos, chegando a 31,9 % nogrupo com idade superior aos 75 anos (19). Oboletim de 1998 da American Speech-Language-Hearing Association relata outrasinformações de interesse: na população comperda auditiva e idade inferior a 45 anos, 58,8%
Revista HCPA 1999;19 (2)160
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
são homens e 41,2 % mulheres; já no grupocom idade entre 45 e 64 anos esta proporçãosobe para 67,2 % e 32,8%; apenas 6,8% dosportadores de deficiência auditiva pertencemà raça negra; 10 milhões de indivíduos sãoafetados pela PAIR; aproximadamente 17milhões apresentam hipoacusias sensório-neurais; entre 6 e 20 % da população dosEstados Unidos refere zumbidos queinterferem na sua qualidade de vida (20).Surpreen-dentemente, segundo um estudo deBrechtesbauer em 1990, a surdez (após aartrite e a hipertensão), é a terceira maior causade preocupação em relação à saúde relatadapor indivíduos com idade superior aos 65 anos(21). Dickenson, examinando a geração baby-boomer (nascidos após a segunda grandeguerra) e seus filhos constatou que um a cada12 indivíduos na quarta década de vida referehipoacusia e um a cada oito já chega aos 50anos com esta deficiência. Curiosamente, umapessoa aos 50 anos já com hipoacusia leva,em média, 7 anos para se conscientizar danecessidade de usar um aparelho deamplificação sonora (22).
Em relação à surdez infantil, acima de50% dos casos têm origem genética/hereditária e uma parcela expressiva é devidaà otite média, suas complicações e seqüelas(23).
Gerkin e Nothern, estudando umapopulação de bebês pertencentes ao grupo derisco para surdez, encontraram umaprevalência global de indivíduos afetadosquase 20 vezes maior que a verificada napopulação em geral (24). Numa pesquisanacional referente à fala e audição de 38.568crianças em idade escolar, Boyle e Hullverificaram que 2.6% das crianças entre aprimeira série do primeiro grau e terceira dosegundo grau apresentavam perdas auditivasmaiores que 25 dB (25). A maioria destascrianças, entretanto, apresentava estas perdasem um único ouvido. As mais baixas taxas deperda auditiva encontram-se na população comidades entre os 17 e 44 anos. A surdez induzidapelo ruído e, principalmente, a presbiacusiaencarregam-se de elevar estas taxasprogressivamente até o impressionantenúmero de 30% em pacientes acima dos 75anos com perdas de tal magnitude que afetamdiretamente a sua capacidade de comunicação
(23).
Surdez: classificação
As perdas auditivas são sempre definidasem termos absolutos a partir de um limiarpreestabelecido (25 dB NPS). Quando oslimiares situam-se acima deste patamar(independentemente da freqüência testada) elesserão expressos em termos numéricos simples(35, 45, 60 dB) ou subclassificados de acordocom faixas de audibilidade (perdas leves,moderadas, severas e profundas) (26).
Quanto à origem, as perdas podem serclassificadas em condutivas (quando a causado problema está localizada no canal auditivoou na orelha média – tampão de cerume, otitesmédias, perfurações timpânicas), sensório –neurais (problemas na orelha interna – coclear– ou ao longo via auditiva – retrococlear –caxumba, meningite, tumores) e mistas (26).
As perdas auditivas sensório-neuraisdificilmente afetam todas as freqüências doespectro auditivo (125 Hz a 8 KHz) de umamaneira uniforme. Assim, dependendo daetiologia da perda auditiva, o audiogramacorrespondente poderá ter uma configuraçãopeculiar. Desta forma, são características asquedas nas freqüências agudas da presbiacusiaou ototoxicidade, nos graves na doença deMeniére, nas freqüências médias nas síndromesauto-imunes e nos entalhes em 4 ou 6 KHztípicos dos traumas acústicos (16). É óbvio que,dependendo do grau, tipo e configuração daperda auditiva o indivíduo enfrentarádificuldades crescentes na sua capacidade decomunicação. A onipresença de zumbidos, noscasos mais severos, só vem a piorar estasituação. Neste sentido, costumamos comentarque a surdez representa um infortúnio de duplaperversidade, pois ao mesmo tempo em queretira do indivíduo o contato com os sonsambientais (via de regra prazerosos), impõe-lhe o zumbido, que se trata de um ruídointrínseco, contínuo e, não raramente,desesperador. Esta situação, ao se agravar,pode fazer com que o deficiente auditivo sedesestabilize social e psicologicamente emergulhe em um processo de isolamentoprogressivo. Este isolamento, por sua vez, podedeflagrar tendências depressivas ou aprofundaruma crise de depressão preexistente
Revista HCPA 1999;19 (2) 161
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
culminando em um legítimo “auto-exílio” ouostracismo social.
Perdas auditivas x deficiênciasauditivas
Nos parágrafos anteriores pudemosobservar que a definição de perda auditiva émuito objetiva e praticamente aritmética (26). Oconceito de deficiência auditiva é mais amplo,subjetivo e complexo que o da perda, uma vezque leva em consideração uma série de critériosnão exclusivamente físicos e biológicos para asua definição. Dentre eles, o modelo de inserçãodo indivíduo na sociedade talvez seja o maisimportante. Por exemplo, uma perda auditivaisolada em 4 kH não acompanhada por acúfenostalvez não represente uma deficiência maiorpara um trabalhador braçal de uma ferrovia,mas, sem dúvida alguma, é uma deficiênciamaiúscula para um afinador de violinos. Emresumo, todas as deficiências auditivasenvolvem algum grau de perda auditiva, mas ooposto não é sempre é verdadeiro: nem toda aperda auditiva efetivamente carrega consigouma deficiência flagrante em um dado momentoprofissional e pessoal do indivíduo (26).
Em algumas situações, é muito difícil dese estabelecer os limites precisos entre osconceitos de perda e de deficiência auditiva. Naverdade, esta discussão transcende a esfera daaudiologia, podendo ser extrapolada para todasas áreas da Medicina, atingindo o seu clímaxna saúde pública, com tremendas implicaçõesmédico-legais. Em 1980, a Organização Mundialda Saúde (OMS) propôs uma classificaçãobuscando definir graus de limitação impostos poruma determinada enfermidade, empregando umsistema de quatro estágios: doença/desordem,deficiência, incapacitação e handicap (27).
Em 1997, esta classificação foireformulada e aperfeiçoada com o objetivo detransferir a ênfase anteriormente dada àmoléstia para o indivíduo ou, em outras palavras,da doença para o doente. Nesta novaabordagem, o grau de limitação é avaliadoanalisando-se o indivíduo e a situação por eleenfrentada em três frentes: a) a sua novacondição (deficiência). Neste contexto deve-seconsiderar os termos perda e deficiência comosinônimos, ao contrário do discutido no primeiro
parágrafo desta seção; b) o impacto desta novacondição nos seus afazeres pessoais (atividade)e (c) o impacto nas suas relações interpessoais(participação). O tripé deficiência, atividade eparticipação corresponde respectivamente avárias funções interrelacionadas verificadas emnível corporal, pessoal e social (28). Assim, pordeficiência entende-se a perda oucomprometimento de uma determinada funçãoe/ou de uma estrutura anatômica. No contextoaudiológico, a deficiência implicariasimplesmente em um desvio (para pior) dopadrão de normalidade dos limiares tonais.
A atividade refere-se à natureza e àextensão do dano causado por este desvio nouniverso pessoal do indivíduo, ou, partindo-seda condição normal, grau de dificuldade que eleexperimenta no cumprimento das suasatividades diárias, tais como comunicar-seapropriadamente ou manter uma performancesatisfatória no seu trabalho.
Já a participação refere-se ao impactodesta nova condição na habilidade do indivíduode executar uma tarefa coletiva. No caso daaudição, necessariamente terá de levar emconta a repercussão deste problema no seuambiente familiar e da sua comunidade. Inclui-se aqui o recolhimento social auto-imposto peloindivíduo ensurdecido mesmo dentro do seunicho (mais) familiar (28).
A doença/desordem, o grau de deficiênciae as conseqüências em termos das atividadese participação inter-relacionam-se, sendofortemente influenciadas por fatores contextuaise pessoais. Assim, a etiologia, a forma de inícioe a progressão de uma perda auditiva podemvariar significativamente e, desta maneira,modular o grau de dificuldade e/ou restriçãoimposto ao cotidiano do deficiente auditivo. Ocontexto em que este deficiente está inseridotalvez seja ainda mais importante neste sentido.Características ambientais e pessoais (comovariáveis demográficas: idade, sexo, ocupação,etc.) somam-se a outras capacidades mentaise físicas para comporem a estrutura individualque poderá ser parcial ou completamentemodificada por intercorrências positivas ounegativas. Por exemplo, uma perda auditiva pré-lingual certamente trará danos à aquisição dalinguagem (atividades), e à colocaçãoeducacional (participação). Já o impacto de uma
Revista HCPA 1999;19 (2)162
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
mesma perda pós-lingual (em termosquantitativos) pode ser qualitativamentediferente entre um jovem empresário quesubitamente perde a audição e um idosoaposentado que progressivamente desenvolveum processo de presbiacusia (29).
Surdo x ensurdecido
Como está claramente ilustrado na tabela1, a magnitude de uma perda auditiva édiretamente proporcional à conseqüenterepercussão negativa no desenvolvimento dalinguagem de um indivíduo. Por outro lado, esteimpacto correlaciona-se estreitamente com omomento em que esta perda se estabeleceu.Assim, podemos dividir as perdas auditivas empré-natais e pós-natais. As pós-natais, por suavez, subdividem-se em pré-linguais e pós-linguais (anterior ou posteriormente aodesenvolvimento da linguagem) (26).
Neste sentido, podemos reunir as perdasauditivas pré-natais e pós-natais pré-linguais emum grupo único e extremamente importante.Sabe-se que, durante o desenvolvimento dosistema nervoso, todos os sistemas sensoriais,especialmente as vias nervosas, maturam aomesmo tempo que o sistema motor e osprocessos mentais. Desta maneira, se existeuma deficiência auditiva não corrigida na fasede maturação, ocorrerão alterações quedificilmente serão corrigidas mais tarde.
Vários estudos referentes aodesenvolvimento da linguagem infantil têmdemonstrado a existência de mudanças
progressivas nas habilidades lingüísticas dascrianças entre o 1º e 8º anos de vida. Estasalterações não se limitam à pura e simplescrescente acumulação de habilidades, mas avariações nos padrões de como esta linguagemé percebida através do tempo e dos estímulosauditivos concomitantes (23-25,29).
Como bem ilustrado na tabela 2, odesenvolvimento da fala e habilidadeslingüísticas de uma criança pode sergrosseiramente dividido em quatro períodos ouestágios, cada qual com uma série decaracterísticas e aquisições próprias. Ocompleto preenchimento dos objetivos de todosestes estágios é cumulativo e estáintrinsecamente relacionado à capacidade dacriança de perceber e elaborar informaçõesacústicas cada vez mais complexas e claras.Sendo assim, qualquer distorção persistenteverificada nas aferências auditivas (mesmos nasmais brandas, decorrentes de problemas noaparato condutor do som) carrega consigo opotencial de alterar o “banco de dados“ sobre oqual se constróem os primórdios dodesenvolvimento lingüístico e, assim, modularnegativamente o desenvolvimento da linguagemoral a curto prazo. O impacto desta interferênciaobviamente será influenciada pela magnitude daperda auditiva e pelo momento da vida em queela se estabeleceu. Neste sentido a literaturasobejamente relata os efeitos deletérios sobrea linguagem causados pelas perdas auditivasque incidem no período pré-lingual (23-25,29).
Estas perdas, como referimosanteriormente, não precisam ser acentuadas,
Tabela 1. Classificação das perdas auditivas x graus de incapacitaçãoa
a Comitê de Audição e Equilíbrio da Academia Americana de Otorrinolaringologia, 1996.
Nível auditivo
em decibéis
25
4055
70
90
+ 90
Classe
A
BC
D
E
F
Grau de
incapacitação
Não significativo
LeveModerado
Intenso
Severo
Profundo
Mais de
(Db)
-
2540
55
70
90
Menos de
(Db)
25
4055
70
90
-
Habilidade lingüística
Plena
Discreta com sons baixosDificuldades com a fala normal
Dificuldades com sons altos
Entende gritos ou sons amplificados
Não ouve mesmo sons
amplificados
Revista HCPA 1999;19 (2) 163
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
uma vez que mesmo a surdez condutiva quese associa aos quadros de otite média serosa,quando sustentada, conduz a desvios de rotacontraproducentes na evolução da linguageme do aprendizado global da criança. Estesefeitos, que não parecem drásticos em umprimeiro momento (pela manutenção dacapacidade articulatória), tornam-se flagrantesquando estas crianças são objetos de testesformais. Nestas situações revelam-se atrasosno desenvolvimento das habilidadesexpressivas que repercutem tanto na extensãodo desenvolvimento do vocabulário como nacomplexidade da sintaxe (23-25,29).
A pessoa ensurdecida, por sua vez,desenvolve alterações muito importantes emarcadas na esfera psicológica, já que toda asua dinâmica de comunicação já estavaestabelecida. Ressaltem-se, neste ponto, ascrianças ensurdecidas precocemente. Se, poruma parte, tal acontecimento ocorreu antes daaquisição da linguagem (pré-linguais), ela secomportará exatamente da mesma maneira quea criança natisurda. Por outro lado, se oensurdecimento aconteceu em época na qualas aquisições lingüísticas não estavam aindacompletas, certamente haverá retrocessos e,em pouco tempo, toda a linguagem cairá noesquecimento em conseqüência da falta decontinuidade de estimulação (16). Todavia, seesse acometimento acontece na idade adulta(pós-linguais) as alterações psicológicasatingem proporções consideráveis, que sãoenfrentadas de acordo com a personalidadeindividual.
Quando os nossos ouvidos passaramquase 19 anos empenhados em trazer-nos omundo do som, a ausência abrupta dessa parteda consciência é tão espantosa, tãodesnorteante e tão apavorante que não épossível resumi-la nessa única palavra : surda.Fui dormir em um mundo sólido, cheio de some acordei num silêncio tão amortecido earrasador quanto a neve profunda do campo.
Mary H.Heiner
Dessas palavras de Mary H. Heiner, quefoi presidente do Centro de Audição e de Dicçãode Cleveland, EUA, destaca-se a importânciado primeiro nível de audição que, segundoGlorig, é o dos chamados ruídos de fundo e que,normalmente, não produzem reação noindivíduo, mas que, quando extintos, dão-lheuma sensação de ausência de vida (16).
Impacto psicossocial da surdez:enfoque histórico
Para termos uma idéia dos potenciaisproblemas a serem enfrentados pela criançaportadora de deficiência auditiva e entender aspossíveis repercussões no futuro intelectual eafetivo desta criança podemos nos reportar aArthur Boothray (30) que enumera 10 questõesprincipais:
• Problema perceptual: a criança nãoconsegue identificar objetos e eventospelos sons que produzem.
• Problemas de fala: as crianças nãoaprendem a conexão entre os
Tabela 2. Estágios no desenvolvimento e processamento da linguagem oral
Habilidade progressiva de discriminar sons da fala
Aumento da habilidade de discriminar som emcontextos mais elaborados
Aumento do vocabulárioMelhora na articulação
Habilidade de rimar palavras
Habilidade de reconstruir palavras segmentadasEstabelecimento de regras morfofonológicas
Habilidade de segmentar palavrasHabilidade de articular perfeitamente todas as
seqüências da fala
Nascimento a 1 ano
1 a 4 anos
4 a 6 anos
6 a 8 anos
Revista HCPA 1999;19 (2)164
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
movimentos, seus mecanismos de fala eos sons resultantes. Conseqüentemente,não adquirem controle da fala.
• Problemas de comunicação: nãoconseguem expressar pensamentos paraoutras pessoas, exceto por gestos ou atosconcretos; não conseguem entender o queoutras pessoas dizem e não conseguemparticipar das trocas de conversação.
• Problemas cognitivos: crianças comlinguagem têm acesso ao seu mundoatravés da mente de outras pessoas porintermédio de idéias abstratas einformações sobre tempos e lugaresdistantes. Crianças sem linguagemaprendem sobre seu mundo apenas oconcreto, o aqui e agora.
• Problemas sociais: crianças comdeficiência auditiva têm dificuldades emdesenvolver comportamentos adequadospara com as outras pessoas. Quandopequenos, não escutam a voz que indicaum estado emocional ou sinais queindiquem a presença e atitude dos pais.Mais tarde não conseguem entender asregras sociais explicadas.
• Problemas emocionais: incapazes desatisfazer suas necessidades com alinguagem falada, muitas vezes se tornamconfusas e desenvolvem uma auto-imagem pobre.
• Problemas educacionais: crianças semlinguagem obtêm um benefício mínimodas experiências educacionais.
• Problema intelectual: estas crianças serãodeficientes em conhecimentos gerais ecompetência para a linguagem, aspectosincluídos em uma ampla definição deinteligência.
• Problema vocacional: tendo falhas nahabilidade verbal, conhecimentos gerais,treino acadêmico e habilidades sociais, ascrianças com deficiência auditivaalcançarão a idade adulta compossibilidades severamente limitadas noespaço de trabalho.
Como se não bastasse, à medida que acriança cresce, podem aparecercomprometimentos de todas estas esferas,ressaltando-se aspectos psicológicos
complicados pela angústia familiar de possuirum filho surdo. Regra geral, os pais procuramdissimular frente aos circunstantes a deficiênciado filho, favorecendo, assim, o desenvolvimentode uma atitude anti-social que, certamente, maistarde levará a criança a se afastar do convíviode pessoas normo-ouvintes. Desse modo, cria-se um círculo vicioso, no qual o surdo revida oultraje tornando-se intratável, justificando, assim,uma das leis de Bergson: A insocialibilidadesomada à insensibilidade do espectador propiciao clima essencial ao ridículo. Entretanto, ocontrário é que seria de se esperar, pois, comoo próprio Bergson observa, basta que tapemosos ouvidos ao som da música, num salão ondese dança, para que os dançarinos logo nospareçam ridículo (16).
Esta mútua agressão conduz a umaatitude bilateral de segregação, pela qual o surdorejeita a sociedade e esta, por sua vez, rejeita osurdo.
As repercussões da flagrante indisposiçãosurdo/sociedade são seculares e podem serdetectadas através de uma verificação atentada história, senão vejamos:
• Os normo-ouvintes na antigüidade greco-romana consideravam que, para finslegais, tanto os surdos como os deficientesmentais não eram seres humanoscompetentes. Esta conclusão decorria dopressuposto de que o pensamento nãopodia se desenvolver sem uma linguagemestruturada e que esta dependia daexistência da fala. Uma vez que a fala nãose desenvolvia sem a audição, quem nãoouvia, não falava e não pensava, nãopodendo receber ensinamentos e,portanto, aprender (31).
• Aristóteles e, posteriormente, Plínio, oVelho, relacionaram a surdez congênitacom a mudez sem, contudo, chegarem adefini-la. O próprio Aristóteles era deopinião de que o surdo era menos capazde se instruir do que o cego.
• No século VI A.C., a lei Mosaica do Códigoda Felicidade exortava as pessoas a nãocastigarem os surdos, já que se acreditavaque a surdez era um desejo do Senhor e,por si só, já se constituía num castigo.Quatro séculos depois (II a.C.), os rabinos
Revista HCPA 1999;19 (2) 165
Selaimen da CostaAudição, comunicação e linguagem
do Talmud classificavam os surdos juntoaos deficientes mentais e crianças (3).
• Jeremias, que é considerado o maisminucioso dos profetas, nem sequerconsiderou o problema dos surdos.
• Código Justiniano (século VI d.C.) excluíao surdo e o deficiente mental dos direitose obrigações dos cidadãos, emborafizessem a distinção entre os surdos prée pós-linguais. Não proibia o casamentodos surdos, mas negava-lhes o direito daprimogenitura.
• Também a Igreja Cristã olhava comdesdém as capacidades intelectuais dossurdos, embora permitisse o casamentoem cerimônia realizada na linguagem dossinais (16).
Como se observa, desde temposimemoriais o surdo é tomado erroneamentecomo um ser de intelectualidade inferior e, porisso, via alterados os seus direitos de cidadão.
O primeiro sinal de mudança dessaconceituação foi dado pelo bispo John, de York,no século VII d.C., que conseguiu ensinar umjovem surdo a falar inteligivelmente, conquantoo fato tivesse sido tomado como milagre. A partirda segunda metade da idade média é que,realmente, esta situação começou a setransformar, graças ao trabalho de GirolamoCardamo, que propunha um ensino especialpara os surdos. Estas idéias ganharam impulso,em parte, em virtude da liberação das forçashumanísticas da Renascença (16).
Em 1555, Ponce de Leon (apoiado pelosinteresses das famílias nobres de que seusdescendentes surdos pudessem ter acesso aodireito de herança) iniciou a educação oral acrianças surdas em um convento em Valladolid,na Espanha, ensinando-as a falar, ler e escrever.Em 1620, Juan Pablo Bonet aproveitou-se datestemunha viva de alguns nobres surdos (dafamília Velasco) que haviam sido alunos dePonce de León para tentar reproduzir o seumétodo. Publica um livro neste mesmo ano, noqual se apresenta como o inventor da arte deensinar o surdo a falar (31).
A partir de então, a discriminação sofridapelos deficientes auditivos foi sendoprogressivamente substituída pelacompreensão e o respeito graças aos esforços
e às conquistas de educadores, familiares e,principalmente, da própria comunidade surda.Neste sentido, o magnífico trabalhodesenvolvido por alguns deficientes auditivoscolaboraram decisivamente no resgate dadignidade pessoal e profissional do surdo.Inscrevem-se nesta relação personagens dagrandeza de Thomas Alva Edison, FranciscoJosé Goya e Lucientes, Vincent Van Gogh,Jonathan Swift, Camilo Castelo Branco, GabrielUrbain Fauré, Bedrich Smetana e, talvez o maiorde todos, Ludwig van Beethoven. Estes gêniosda ciência, das artes plásticas, das letras e damúsica aliam-se a outros deficientes para provarque o esforço, a obstinação e, principalmente,o talento são valores que habitam patamaresmuito mais elevados do que o preconceito.
A batalha travada pelos deficientes físicoscontra a discriminação e o preconceito temacumulado uma série de vitórias, porém estálonge de estar completamente ganha.Resquícios de uma lógica subvertida e perversaainda hoje atormentam a vida destes sereshumanos, criando-lhes dificuldades e negando-lhes direitos fundamentais:
Revoltado e perplexo, li nas instruçõespara preenchimento da declaração de ajuste doimposto de renda, pessoa física 1993, naspáginas 6 e 17, que os surdos-mudos sãoconsiderados incapazes para fazer a declaraçãodo imposto, ao lado dos menores, loucos e ospródigos, assim declarados por sentença judicial(Código Civil Brasileiro, artigo quinto, incisodois).
Rio Grande Reclama - Jornal Zero Hora, 18/11/1993.
É, a luta continua...
Agradecimentos. Este trabalho é dedicado aosmeus Mestres: Ivo Adolpho Kuhl, IsraelSchermann, Aziz Lasmar, Nicanor Letti, ArnaldoLinden e Osvaldo Bruno Müller (in memoriam).
Referências
1. Pontes P, Behlau M. Disfonias Funcionais. In:
Costa SS, Cruz OLM, Oliveira JAA, editores.
Otorrinolaringologia Princípios e Prática. 1a. ed.
Porto Alegre: Artes Médicas; 1994.
2. Dubois J, Mathee G, Guespin L, Marchese C,
Revista HCPA 1999;19 (2)166
Selaimen da Costa Audição, comunicação e linguagem
Marchese JB, Melvel JP. Dicionário de lingüística.
2a. ed. Rio de Janeiro: Cultrix; 1983.
3. Boone DR, Plante E. Comunicação humana e
seus distúrbios. 2a. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas;1994.
4. Kainz F. Psychologie der sprache. 2nd ed.
Stuttgart: Enke; 1956.
5. Luchsinger R, Arnold GE. Voice, speech and
language. 2nd ed. Belmont: Wadsworth
Publishing Company; 1965.
6. Sheldon WH. The Varieties of Human Physique.
1st ed. New York: Harper; 1940.
7. Meumann E. Die Entstehung der ersten
wortbedeutungen beim kinde. Leipzig:
Engelmann; 1908.
8. Costa SS, Souza M, Silva DB. Anatomia
comparada dos órgãos da audição e sua
filogenia. RBM-ORL 1996;3(3):135-43.
9. Webster D, Webster M. Comparative Vertebrate
Morphology. New York: Academic Press Inc;
1984.
10. Walker WF. Functional Anatomy of The
Vertebrates. 2nd ed. Philadelphia: WB
Saunders;1987.
11. Kent GC. Comparative Anatomy of the Vertebrate.
1st ed. Saint Louis: CV Mosby Co.;1974.
12. Romer AS, Parsons TS. Anatomia Comparada
dos Vertebrados. 1a. ed. São Paulo: Ed.
Atheneu;1985.
13. Strickberger MW. Evolution. St. Louis: Jones and
Bartlett Publishers; 1989.
14. Oliveira JAA, Oliveira MFO. Circuito eletro-
acústico da comunicação humana. In: Costa SS,
Cruz OLM, Oliveira JAA, editores.
Otorrinolaringologia Princípios e Prática. 1a. ed.
Porto Alegre: Artes Médicas; 1994
15. Frai TJ. Avaliação da audição. Clin Otorrinol Norte
Am 1981;28(4):787-92.
16. Lazmar A, Cruz AC, Návega RAB. Temas de
Audiologia I . São Paulo: Pfizer SA; 1983.
17. Sousa LCA, Piza MRT, Costa SS, Andrade MJ,
Jaeger WL. Surdez Infantil: Diagnóstico Precoce
e Casuística da Fundação Paparella. Rev Bras
Otorrinol 1996;62(1):9-14.
18. ASHA (American Speech-Language-Hearing
Association) Scope of practice in audiology. ASHA
1996;38(suppl 16): 12-5.
19. National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders. In: Communication
facts. Rockville: American Speech-Language-
Hearing Association, 1996).
20. ASHA (American Speech-Language-Hearing
Association). Hearing loss: terminology and
classification. ASHA 1998; Suppl 40:22-3.
21. Brechtelsbauer DA. Adult hearing loss. Prim Care
1990;17:249-66.
22. Dickenson B. Listen up-while you still can. Hear
Rev 1998;5:67.
23. Alpiner JG, McCarthy PA, editors. Rehabilitative
Audiology: children and adults. 3rd edition.
Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins;
2000.
24. Gerkin JP, Nothern JL. New technology in infant
hearing acreening. Otolaryngol Clin North Am
1989;22:75-87.
25. Boyle JP, Hull RH. Eletromyographic responses
in infants after auditory stimulation. Percept Mot
Skills 1976;42:721-2.
26. Cruz OLM, Alvarenga EHL, Costa SS. Doenças
infecciosas da orelha interna 1999. In: Cruz OLM,
Costa SS, editores. Otologia: princípios e prática.
1a. ed. Rio de Janeiro: Revinter; 1999.
27. World Health Organization. International
classification of impairments, disabilities and
handicaps: a manual of classification relating to
the consequence of disease. Geneva: World
Health Organization, 1980.
28. World Health Organization. International
classification of impairments, disabilities and
handicaps-2: a manual of d imensions of
disablement and functioning (beta 1 draft for field
trials). Geneva: World Health Organization; 1997.
29. Garstecki DC, Erler SF. Hearing care providers
and individuals with impaired hearing: continuing
and new relationships in the new millennium. In:
Alpiner JG, McCarthy PA, editors. Reabilitative
audiology children and adults. 3rd edition.
Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins;
2000.
30. Boothray A. Hearing impairment in young
children. 1st ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Inc; 1982.
31. Moura MC, Lodi ACB, Harrison KMP. História e
educação: o surdo, a oralidade e o uso dos sinais.
In: Lopes Filho O, editor. Tratado de
Fonoaudiologia. 1a. ed. São Paulo: Roca; 1997.
Revista HCPA 1999;19 (2) 167
Selaimen da Costa et al.Patologia ossicular na otite média crônicaARTIGO ORIGINAL
Patologia ossicular na otite média crônica:implicações clínicas
Sady S. da Costa1, Maurício S. Miura2
Mariana M. Smith2, Cristiano Ruschel2
OBJETIVO: Comparar a presença de alterações ossiculares na otite média crônicaem pacientes com membrana timpânica íntegra e com tímpano perfurado.MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo foi baseado em uma análise histológica atravésde microscopia ótica. De um grupo de 1.382 ossos temporais humanos, 144 foramescolhidos por apresentarem alterações teciduais compatíveis com otite média crônica.Estes ossos foram retirados de 96 indivíduos, 55 do sexo masculino e 41 do sexofeminino, com idades que variavam de 10 meses a 88 anos. Apenas 28 apresentavama membrana timpânica perfurada, enquanto 116 ossos temporais humanos a tinhamíntegra.RESULTADOS: A análise dos ossos temporais humanos apontou como os achadosmais comuns o tecido de granulação, as alterações ossiculares, a timpanosclerose, aperfuração timpânica, o granuloma de colesterol e o colesteatoma. O perfil dasalterações encontradas neste estudo mostram a bigorna como o ossículo mais atingido,seguido pelo estribo e pelo martelo.CONCLUSÕES: A análise comparativa dos ossos temporais com e sem perfuraçõesda membrana timpânica indicaram que os grupos eram similares em relação à patologiaossicular.
Unitermos: Otite média crônica; patologia ossicular; timpanotomia exploradora.
Ossicular pathology in chronic otitis media: Clinical implicationsOBJECTIVE: To compare the presence of ossicular pathologies in chronic otitis mediain patients with perforated and those with and without tympanic membranes.MATERIALS AND METHODS: This study was based on histological analysis throughoptic microscopy. Out of 1.382 human temporal bones, we selected 144 that presentedwith tissue alterations compatible with chronic otitis media. These bones were collectedfrom 96 individuals, 55 male and 41 female, aged from 10 to 88 years. Only 28 hadperforated tympanic membranes.RESULTS: The analysis of the temporal bones indicated as the most common findingsgranulation tissue, ossicular alterations, tympanosclerosis, tympanic perforation, andcholesterol granuloma and cholesteatoma. The alterations found in this study revealed
1 Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grandedo Sul; Divisão de Otologia, Universidade Luterana do Brasil; Pesquisador Afiliado, International HearingFoundation, EUA.
2 Doutorando, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correspondência: MaurícioSchreiner Miura, Rua Anita Garibaldi 217/802, CEP 91450-001, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail:[email protected]
Revista HCPA 1999;19 (2)168
Selaimen da Costa et al. Patologia ossicular na otite média crônica
that the anvil is the most commonly affected ossicle, followed by the stapes and themalleus.CONCLUSIONS: The comparative analysis of perforated and non-perforated humantemporal bones indicated that the two groups were similar regarding ossicular pathology.
Key-words: Chronic otitis media; ossicular pathology; exploratory tympanotomy.
Revista HCPA 1999;19(2):167-76
Introdução
A otite média crônica (OMC) é definidahistopatologicamente como um processoinflamatório da orelha média associado aalterações teciduais irreversíveis. Estasalterações, que podem variar quantitativamente(focais ou generalizadas, isoladas ou emassociações) e qualitativamente (graus deatividade e agressividade), são pontualmenteresumidas em seis grandes grupos:
• perfuração da membrana timpânica (MT)• tecido de granulação• alterações ossiculares• colesteatoma• granuloma de colesterol• timpanosclerose (1)
Os subprodutos clínicos mais relevantesda OMC não-complicada são a otorréia(purulenta, muco-purulenta ou pio-sangüinolenta) e a perda auditiva funcional,reversível ou não, que este processo quasesempre carrega consigo (2).
Analisando de forma mais minuciosa esteúltimo aspecto, a perda auditiva associada àotite média pode surgir precoce ou tardiamentedurante o processo, variandoconsideravelmente em relação ao tipo e aograu. Quanto ao tipo, as perdas podem sercondutivas, sensório-neurais ou mistas. Quantoao grau, dependendo da agressividade eextensão do processo patológico, elas podemvariar desde perdas leves, moderadas(normalmente associadas ao tipo condutivo)até graus extremos com perdas severas eprofundas (sensório-neurais).
Os mecanismos envolvidos nas perdasauditivas sensório-neurais têm sido explicadoscom base no comportamento biológico das
janelas redonda – principalmente – e ovaldurante os processos inflamatórios da fendaauditiva. Neste sentido, elas poderiam secomportar como verdadeiras portas de entradapara que toxinas procedentes da orelha médiacheguem à orelha interna, configurando umalegítima interação entre estes doiscompartimentos (3). Vários estudosdemonstram a associação da otite médiacrônica a danos cocleares, novamenteapontando para a janela redonda como aestrutura responsável pela transmissão doprocesso patológico ao labirinto (4).
Já as perdas condutivas relacionadas àOMC incluem uma série de alterações dosistema timpanossicular (tabela 1). Em relaçãoà membrana timpânica, as perdas desubstância (perfurações), a atrofia (e aconseqüente retração) e o aumento da suarigidez (por placas de timpanosclerose)concorrem como as maiores causas para aperda auditiva. A cadeia ossicular, por sua vez,pode ser comprometida por erosão ossicular(com a conseqüente interrupção da cadeia) efixação ossicular devida à timpanosclerose,osteoneogênese e/ou fibrose. Finalmente, osefeitos de massa na luz da fenda auditiva(líquido, granuloma de colesterol, colesteatomae tecido de granulação) podem, além depotencialmente lesar os ossículos,comprometer a capacidade vibratória dosistema timpanossicular gerando, assim,perdas auditivas condutivas.
Tendo em vista o caráter eminentementedinâmico da OMC, todas estas alteraçõespodem apresentar-se isoladamente ou emdiversas combinações na orelha média. Comoexemplo, os processos de atrofia e retraçãodo quadrante póstero-superior da membranatimpânica, via de regra, acompanham-se deerosões grosseiras da longa apófise da
Revista HCPA 1999;19 (2) 169
Selaimen da Costa et al.Patologia ossicular na otite média crônica
bigorna. As grandes perfurações, oscolesteatomas e o tecido de granulação podemcausar destruições ossiculares e, porconseguinte, danos auditivos significativos. Jáos processos inflamatórios de longo prazo epouco ativos da fenda auditiva não raramenteevoluem como placas de timpanosclerose e/ou fibrose periossicular (1).
Apesar da perfuração da membranatimpânica ser tradicionalmente referida comoa marca registrada da OMC, vários estudosretrospectivos em ossos temporais humanos(OTH) e prospectivos em animais, têmdemonstrado tecido patológico com alteraçõesinflamatórias irreversíveis na orelha médiaindependentemente deste achado (1, 2, 5-7).Apoiados em evidências como esta, Paparellaet al. (4) cunharam o termo otite média crônicasilenciosa, referindo-se a patologias da orelhamédia com progressão velada e mascaradaparadoxalmente pela transparência de umamembrana timpânica intacta. Clinicamente, emuma análise retrospectiva de 250timpanotomias exploradoras, executadas comoparte do processo de investigação e tratamentode pacientes com hipoacusias condutivas aesclarecer, Paparella & Koutroupas (4)revelaram que alterações teciduais irreversíveiscompatíveis com otite média crônica ou suasseqüelas aparentemente quiescentes einsuspeitas contabilizavam a causa maiscomum deste sintoma.
Assim, parece claro que a integridadetimpânica intacta não exclui a presença de umasérie de outras alterações patológicas na orelhamédia com o potencial de deturpar a harmoniaem que o sistema timpanossicular opera.
O objetivo deste trabalho é estudar apatologia ossicular em ossos temporaishumanos com otite média crônica e confrontaros achados verificados em ossos temporais
com tímpanos íntegros e perfurados.
Materiais e métodos
Este estudo foi baseado em uma análisehistológica através de microscopia óptica deossos temporais humanos pertencentes aoLaboratório de Otopatologia da Universidadede Minnesota (E.U.A.). A comparação ecorrelação de achados histopatológicos emossos temporais requer consistência euniformidade na técnica de remoção,processamento, tratamento, corte e análise dostecidos.
Os OTH são obtidos no momento daautópsia, após o pré-consentimento do próprioindivíduo ou guardião legal. O osso temporal éremovido após craniotomia e retirado doencéfalo para que não haja nenhum sinalexterno de desfiguramento do cadáver após aremoção. Rotineiramente, uma serra oscilatóriacom extremidade cortante cilíndrica (Strikers)é posicionada sobre a eminência arcuada eacionada em direção ao assoalho da fossamédia com movimentos alternados, a fim deque se remova o OTH em bloco único, comuma forma cilíndrica (rolha de osso temporal).A artéria carótida interna é, então, identificadae ligada.
Após serem removidos, os ossostemporais são submetidos a um processo queenvolve 11 etapas até que os cortes estejamprontos para serem examinados através damicroscopia óptica.
Inicialmente, eles são preparadosexcisando-se qualquer tecido redundante queesteja aderido ao espécime. Posteriormente,eles são fixados em formalina tamponada a10%; lavados em água corrente;desengordurados em uma série gradual deálcool; descalcificados em ácido tricloro-acéticoa 5%; neutralizados em sulfato de sódio a 5%;
Membrana timpânica Cadeia ossicular Fenda auditiva
Perfuração Erosão Líquido
Atrofia Fixação Granuloma de colesterolEnrijecimento Colesteatoma
Tecido de granulação
Tabela 1. Mecanismos de lesão timpanoossicular
Revista HCPA 1999;19 (2)170
Selaimen da Costa et al. Patologia ossicular na otite média crônica
desidratados em soluções de álcool absolutoe éter; embebidos em celoidina; endurecidospela evaporação do éter e do álcool; e, por fim,seccionados com auxílio de um micrótomo acada 20 microns. Uma a cada 10 seções éseparada para ser corada em hematoxilina eeosina e montada sobre lâmina e lamínula. Asdemais são armazenadas em álcool a 80%.
O trabalho foi desenvolvido em trêsetapas:
• Em um primeiro momento, de um grupode 1.382 OTH, 144 foram selecionadospor apresentarem alterações teciduaisirreversíveis compatíveis com OMC.Foram excluídos ossos temporais queeram procedentes de pacientesportadores de doenças sistêmicascomprometendo o osso temporal(linfomas, leucemias, etc.), assim comoàqueles que haviam sofridoprocedimentos cirúrgicos otológicosmaiores.
• A seguir, todos os OTH incluídos nesteestudo foram analisados,especificamente, quanto à patologiaossicular. As alterações ossicularesincluíram processos inflamatórios dacortical óssea (osteítes), da medulaossicular (osteomielite dos ossículos),erosões parciais, destruições ossicularesgrosseiras e neoformação óssea (6).
• Em uma última etapa, os 144 OTH foramdivididos em dois grupos: OMC commembrana timpânica íntegra e OMC commembrana timpânica perfurada.
A influência da integridade da membranatimpânica sobre a patologia ossicular nestetrabalho foi estatisticamente controlada peloteste do χ2, com um nível de significânciaestabelecido de 5%.
Resultados
Foram selecionados 144 OTH porapresentarem alterações histopatológicascompatíveis com o diagnóstico de otite médiacrônica segundo as definição de Schuknecht(5). Estes OTH foram retirados de 96 indivíduos
com idades que variavam entre 10 meses e 88anos. Destes, 55 eram do sexo masculino e41, do sexo feminino.
Quando realizamos a análisemicroscópica de seções seriadas horizontaisdestes OTH, foi possível observar que osachados mais comuns, em ordem decrescentede freqüência, eram o tecido de granulação,as alterações ossiculares, a timpanosclerose,a perfuração timpânica, o granuloma decolesterol e o colesteatoma (tabela 2). Alémdas alterações irreversíveis visualizadas,também foram registradas a presença de fluido,labirintite, hidropsia coclear, otosclerose edeiscências do nervo facial (tabela 3).
É importante salientar que, dos 144 OTHestudados, apenas 28 demonstravammembranas timpânicas com solução decontinuidade (perfuradas) e, por conseguinte,116 OTH apresentavam alterações teciduaisconcomitantes a membranas timpânicasíntegras. Em outras palavras, para cada OTHcom otite média crônica e perfuração timpânica,havia cinco outros com tímpanos íntegros.
Conforme é possível observar na tabela2, as alterações ossiculares foram encontradasem 91,6% dos ossos temporais. Estasalterações variavam desde simples erosões dacortical ossicular até destruições completas dosossículos (figura 1).
Em relação aos ossículos atingidos peloprocesso patológico em questão, a bigorna foia mais envolvida por patologia (91% dos OTH),seguida pelo estribo (69,4%) e o martelo(54,2%) (tabela 4).
Do grupo de 132 OTH que mostravamalterações ossiculares, 105 pertenciam aogrupo de ossos com tímpanos íntegros (105/116) e 27 estavam associados a OTH commembranas timpânicas perfuradas (27/28),respectivamente 90,5% e 96,4 % dos OTH(tabela 4).
Observando a distribuição da patologiaossicular, encontramos diversas combinações.Entre os 105 OTH com membrana timpânicaíntegra, em 43 casos observou-se alteração emtodos os três ossículos; em 33 casos a bigornae o estribo foram atingidos; observou-sealteração somente da bigorna em 16 orelhas; ealteração do martelo e da bigorna juntos em 12orelhas. Entre os 27 OTH com membrana
Revista HCPA 1999;19 (2) 171
Selaimen da Costa et al.Patologia ossicular na otite média crônica
timpânica perfurada, encontrou-se alteração detodos os ossículos juntos em 21 casos, alteraçãoda bigorna e do estribo juntos em duas orelhas;o martelo e a bigorna foram atingidos em doiscasos, e alteração apenas da bigorna foiencontrada em dois casos (tabela 5).
Surpreendentemente, a análisecomparativa dos ossos temporais com e sem
perfurações da membrana timpânica indicaramque os grupos eram similares em relação àpatologia ossicular, uma vez que estasalterações foram encontradas em ambos osgrupos, não sendo as diferenças em freqüênciaestatisticamente significativas.Discussão
Alteração tecidual
Tecido de granulaçãoColesteatoma
Granuloma de colesterol
TimpanoscleroseAlterações ósseas
a 14 casos de labirintite serosa; cinco purulenta; trêsossificante; duas fúngica.
Fluido
Labirintitea
Hidropsia coclearOtosclerose
Deiscência do facial
Displasia de MondiniHemorragia labiríntica
Absoluto Freqüência
Figura 1. Corte axial de osso temporal humano mostrandopatologia gosseira do mesotímpano com destruição da cadeiaossicular. NF (nervo facial), PE (platina do estribo), C (cóclea).
Tabela 3. Outros achados
NF CPE
Ossos temporais
humanos (144)
141 (97,9%)
15 (10,4%)20 (13,8%)
35 (24,3%)
132 (91,6%)
85,6%
16,7%
14,6%15,3%
27,8%
4,9%0,7%
129
24
2122
40
71
Tabela 2. Alterações teciduais encontradasem 144 ossos temporais humanos
Revista HCPA 1999;19 (2)172
Selaimen da Costa et al. Patologia ossicular na otite média crônica
O momento crucial no refinamento doaparelho auditivo ocorre quando as formas devida nascidas na água passam a habitar o meioterrestre. Assim, as ondas sonoras antescaptadas exclusivamente através da vibraçãono meio aquático devem vencer a resistênciade um meio distinto, o aéreo, para serempercebidas. Em outras palavras, a existênciade dois meios – aéreo e líquido – com duasimpedâncias diferentes à propagação da ondasonora, remetia a um problema: a conseqüenteperda auditiva inerente a todo este processo.Com o objetivo de resgatar esta perda (quesitua-se em torno dos 30 dB) a orelha evolui,acrescentando à estrutura puramente sensório-neural dos seres aquáticos dois novoscomponentes mecânicos. Estes componentesestão representados na orelha média sob aforma de um sistema hidráulico (captação deenergia acústica na ampla superfície damembrana timpânica e a sua subseqüenteconcentração na platina do estribo 17 vezesmenor) e de um sistema de alavancas entre ocabo do martelo e a longa apófise da bigorna.O ganho acústico total deste sistema foicalculado por Békésy em 22 vezes (ou 26 dBem limiares psico-acústicos), sendo o produtodo efeito hidráulico (17:1) e o efeito de alavanca
ossicular (1.3) (8).Na orelha afetada por doença supurativa,
ambos os mecanismos podem estarseveramente comprometidos advindo, destecomprometimento, danos auditivos variáveis.Assim, uma perfuração total da pars tensatimpânica trará consigo uma perda condutivaplana ao redor dos 30 dB pelo cancelamentodo efeito hidráulico e pela eliminação daproteção acústica à janela redonda. Já nasperfurações menores, o grau da hipoacusiaserá diretamente proporcional ao seu tamanhoe localização. Por exemplo, uma mesmaperfuração de poucos milímetros quadradostrará maiores danos auditivos se situada noquadrante póstero-inferior do que nosquadrantes anteriores uma vez que, naprimeira hipótese, interfere na fisiologia dajanela redonda. Curiosamente, a perdacondutiva máxima (na ordem de 60dB ou umaperda de energia de 1 milhão de vezes)ocorrerá na presença de uma membranatimpânica íntegra porém associada àdescontinuidade da cadeia ossicular. Estasituação extrema é devida à anulação deambos os mecanismos – hidráulicos emecânicos – e pelo fato de o som alcançar asjanelas oval e redonda em uma mesma fase.
Tabela 4. Alterações ossiculares
Martelo isoladamenteBigorna isoladamente
Estribo isoladamente
Martelo + bigornaBigorna + estribo
Martelo + estribo
Martelo + bigorna + estribo
Ossículo Perfurado (27)
0
2
02
2
021
Não-perfurado (105)
0
16
112
33
043
Ossos temporais
humanos (144)
0 (0%)
18 (12,5%)
1 (0,7%)14 (9,7%)
35 (24,3%)
0 (0%)64 (44,4%)
Tabela 5. Distribuição das alterações ossiculares
Membrana timpânicaperfurada (28)
27 (96,4%)23 (82,1%)
27 (96,4%)
23 (82,1%)
Membrana timpânicaíntegra (116)
105 (90,5%)55 (47,4%)
104 (89,6%)
77 (66,3%)
Total
MarteloBigorna
Estribo
Revista HCPA 1999;19 (2) 173
Selaimen da Costa et al.Patologia ossicular na otite média crônica
(8)No presente estudo, as alterações
ossiculares foram encontradas em 91,6% dosOTH estudados. Estas ocorreramexclusivamente no mesotímpano e noepitímpano, sendo a bigorna o ossículo maisatingido por patologia, seguida do estribo e domartelo. Este fato talvez seja devido à massaincudal, a sua medula óssea proeminente e,principalmente, a exposição e fragilidade dalonga apófise e do seu processo lenticular(figura 2). Estes fatores atuandosinergicamente tornariam este ossículo maisvulnerável a agressões extrínsecas e aprocessos de osteomielite. Tós (9), revisandoa patologia ossicular em 1.150 orelhas comotite média crônica, apontou a seqüênciabigorna, estribo e martelo como a maisfreqüentemente ofendida pelo processoinflamatório. Estes achados foram semelhantesaos relatados por Sade & Berco (10).
Neste trabalho, foram computadasalterações ossiculares maiores e menores;desde pequenas erosões da cortical ossicularaté a completa destruição dos ossículos. Asáreas de reabsorção óssea foram encontradasna periferia ossicular, a qual se apresentavadentada, e no interior do ossículo, sob formade canais vasculares aberrantementeaumentados. Os defeitos da superfície ósseaamiúde eram preenchidos por tecido degranulação. Quando comparamos nossosachados com estudos clínicos referentes àsalterações ossiculares, os números ainda são
semelhantes. Austin (11) notou a interrupçãoda cadeia ossicular em 50% dos seus pacientessubmetidos a timpanoplastias por otite médiacrônica. Tós (12) encontrou interrupção dacadeia ossicular em 50% das orelhas queforam à cirurgia secos e em 80% dos operadosem presença de otorréia. Sadé & Halevy (13),revisando seus casos de timpanoplastias etímpano-mastoidectomias, observaram lesõesda cadeia ossicular em 84% das orelhas comotite média crônica colesteatomatosa e em83% das orelhas portadoras de otites médiascrônicas não-colesteatomatosas. Devemosenfatizar que estes estudos, sendoeminentemente clínicos, classificaram aspatologias ossiculares funcionalmente.Pequenas erosões na superfície ossicularprovavelmente não eram contabilizadas. Sendoassim, só consideraram patológicos aquelesossículos em descontinuidade, destruídos ouamputados.
Hoje acredita-se que os defeitosossiculares sejam decorrentes de processosativos de reabsorção óssea e não de necroseossicular. Esta teoria pressupõe a presença ea participação de células vivas nosmecanismos de desmineralização, erosão edestruição do osso (9). Um osso simplesmentenecrótico pode permanecer in situ por váriosanos sem sofrer processos de reabsorção. Estapossibilidade é bem ilustrada nas técnicas dereconstrução de cadeia ossicular com uso deimplantes de ossículos homólogos. Nestassituações, os ossículos mantêm-se intactos por
Figura 2. Corte axial de osso temporal humano mostrandoretração da membrana timpânica (MT) (setas finas) comerosão do processo longo da bigorna (seta maior) etímpano-estapedopexia. CAI (conduto auditivo interno).
MT
CAI
Revista HCPA 1999;19 (2)174
Selaimen da Costa et al. Patologia ossicular na otite média crônica
longo prazo viabilizando a propagação doestímulo sonoro através da orelha média. Omecanismo através do qual ocorre reabsorçãoóssea na otite média crônica não écompletamente entendido. Ruedi e Tumarkin(14) sugeriram que a reabsorção óssea seriadevida à pressão exercida pelos colesteatomassobre a superfície ossicular. Thomsen et al. (15)e Sadé & Berco (10) notaram que os ossículoserosados estavam invariavelmente cercados poruma reação inflamatória e sugeriram que ainflamação fosse a causa da reabsorçãoossicular. Tem sido demonstrado que o tecidode granulação adjacente aos ossículos é capazde produzir uma variedade de enzimas emediadores que aceleram a reabsorçãoossicular. Estas incluem enzimas lisossômicas,colagenases e prostaglandinas (15,16).Entretanto, a célula dominante no processo dareabsorção óssea ainda guarda controvérsias.Enquanto alguns estudos revelam a presençade osteoclastos nas áreas de destruição óssea(17-19), outros apontam para as célulasmononucleares como responsáveis pelo quadro(15). Existem evidências de que os mastócitosteriam função nos mecanismos de reabsorçãoóssea, pois estas células aumentam emdiversas patologias como, por exemplo,osteoporose, osteopenia generalizada e doençaperiodontal destrutiva crônica. É provável queatravés da heparina contida nos seus grânulos,esta potencialize os efeitos do hormônio daparatireóide, estimule a liberação decolagenases e a liberação de enzimaslisossômicas (15).
Na otite média crônica colesteatomatosa,a erosão óssea é muito mais severa do que averificada na otite média crônica não-colesteatomatosa. A destruição parcial ou totaldos ossículos é observada em cerca de 80%dos pacientes com colesteatoma, ao passo quena otite média crônica não colesteatomatosa háerosão da cadeia ossicular em 10 a 20% doscasos. A perda auditiva é diretamenteproporcional à destruição óssea (8, 20).Surpreendentemente, algumas vezes, grandescolesteatomas envolvendo destruiçõesossiculares extensas não acarretam danosauditivos significativos. Nessas situações, aprópria massa colesteatomosa pode servir deelo de ligação entre o meio externo e os líquidosendococleares, sendo este fenômeno conhecido
como efeito columelar (figura 3). Osmecanismos que levam ao aumento nadegradação óssea e invasão ainda estão eminvestigação (21). A partir da observação decélulas de colesteatoma aderidas ao tecidoósseo em reabsorção, Ruedi (22) propôs que areabsorção óssea fosse causada por forçasmecânicas da lesão em expansão. Estudoshistopatológicos sugerem que a erosão ósseadesenvolve-se independente da atividade dososteoclastos, indicando o envolvimento deoutros mecanismos (23). Alguns estudospatológicos (15,24), demonstraram que osqueratinócitos produziam enzimas comocolagenases e hidrolases, com ação nadegradação do tecido ósseo. Na hipótese dereabsorção óssea por ação bioquímica foramincorporados, posteriormente, outros agentes,como o fator de necrose tumoral (TNF),interleucinas (IL-1) e prostaglandinas (PGE2),entre outros (23,25). Sudhoff et al. (26)investigaram a distribuição e expressão nomecanismo de reabsorção celular do fator decrescimento tumoral (TGF-alfa), fator decrescimento epitelial (EGF-R), e do oncogenec-myc em células epiteliais normais da orelhamédia e em colesteatomas. Estes fatores foramencontrados na matriz de colesteatomas, porémnão em células normais. Estudos em epitéliode colesteatoma demonstraram níveis elevadosde fator de necrose tumoral (TNF-alfa), enzimasnão-lisossômicas calpaína I e II, fosfatase ácida,catepsina B e a lisozima leucil aminopeptidase,quando comparados com epitélio normal, demodo que todas participam de alguma formado processo de reabsorção óssea associado aocolesteatoma (27). Sabe-se que a reabsorçãoóssea leva à liberação de Ca+2, havendo umaumento na migração e adesão dosqueratinócitos, ampliando a superfície docolesteatoma em contato com tecido ósseo,potencializando a sua reabsorção, criando-seum ciclo vicioso que culmina em uma grandedestruição óssea (25). Os nossos achadosindicam que a freqüência e a extensão docomprometimento ossicular estiveram muitomais relacionados a massas de tecido degranulação do que ao efeito osteolítico dematrizes colesteatomatosas.
Ao compararmos as orelhas em que amembrana timpânica encontrava-se íntegra(grupo I) com aqueles em que a membrana
Revista HCPA 1999;19 (2) 175
Selaimen da Costa et al.Patologia ossicular na otite média crônica
timpânica estava perfurada (grupo II), ficamossurpresos com os resultados encontrados,porque a incidência de alterações ossicularesnos dois grupos foi semelhante em relação àfreqüência, aos locais de ocorrência e aosossículos mais atingidos. Dos 144 OTHexaminados, 132 mostravam alteraçõesossiculares e, destes, apenas 27 apresentavammembrana timpânica perfurada, ao passo que105 encontravam-se intactas, alertando para ogrande número de casos de otite média crônicaque podem estar sendo sub-diagnosticados.Neste contexto, o diagnóstico correto somentepoderá ser confirmado através de umatimpanotomia exploradora (28,29). Esteprocedimento mostra-se como uma ferramentainsubstituível na abordagem destes pacientes,uma vez que, como está claro neste trabalho,nem todas as alterações irreversíveis da orelhamédia apresentam-se de forma evidente. Assima timpanotomia exploradora insere-se noarsenal propedêutico e terapêutico do otologistacomo um procedimento cirúrgico de pequenoporte, seguro e extremamente útil, pois permitea visualização direta da orelha média,revelando, confirmando e, freqüentemente,tratando as condições patológicas ali existentes.O conhecimento preciso da natureza e daextensão das lesões determinará, destamaneira, os passos cirúrgicos subseqüentes(28).
Nosso estudo indica claramente que apatologia ossicular pode ser subestimadaquando usamos a definição convencional de
otite média crônica. Além disso, o clínico deveter em mente que uma membrana timpânicaintacta não exclui de modo algum a presençade alterações patológicas macroscópicas naorelha médio, com ou sem repercussões naorelha interna. Talvez de posse destesconhecimentos passemos a investigar,compreender e trabalhar mais adequadamentealguns sintomas otológicos que pareçam, àprimeira vista, obscuros e inexplicáveis. Emnossa opinião, negligenciar estes conceitosconsistiria em um grande erro médico,sugerindo que estamos muito mais interessadosem provocar ou selar perfurações sobre amembrana timpânica do que propriamente emdiagnosticar e tratar condições patológicas daorelha média e/ou interna.
Conclusões
O perfil das alterações ossicularesencontradas neste estudo mostra a bigornacomo o ossículo mais atingido, seguido peloestribo e pelo martelo. A comparação dos perfishistopatológicos do grupo de ossos temporaiscom otite média crônica e tímpanos íntegros edo grupo de ossos temporais com otite médiacrônica e tímpanos perfurados mostrou que asalterações ossiculares incidiram em ambos osgrupos com uma diferença estatisticamentenão-significativa. A presença de alteraçõesirreversíveis em orelhas com tímpano íntegroindica a necessidade de timpanotomiaexploradora para sua avaliação.
Figura 3. Efeito columelar do colesteatoma (C) agindo como elo deligação entre a membrana timpânica (MT) remanescente e a platina doestribo (seta).
Revista HCPA 1999;19 (2)176
Selaimen da Costa et al. Patologia ossicular na otite média crônica
Referências
1. Costa SS, Paparella MM, Schachern PA, Yoon TH.
A clinical-pathological study: a preliminary report.
Rev Bras ORL 1990;57:81-4.
2. Costa SS. Contribuição ao estudo da otite média
crônica [dissertação]. Ribeirão Preto (SP): USP;
1991.
3. Goycoolea MV, Paparella MM, Carpenter AM. Oval
and round window changes in otitis media. An
experimental study in the cat. Surg Forum
1978;29:598-80.
4. Paparella MM. Current concepts in otitis media.
Henry Ford Hosp Med 1983;31(1)30-6.
5. Schuknecht HF. The pathology of the ear.
Cambridge: Harvard University; 1974.
6. Meyerhoff WL, Kim CG, Paparella MM. Pathology
of chronic otitis media. Ann Otol Rhinol Laryngol
1978;87(6):749-61.
7. Meyerhoff WL. Pathology of chronic suppurative
otit is media. Ann Otol Rhinol Laryngol
1988;97(131):21-4.
8. Costa SS, Cruz OLM, Kluwe LHS, Smith MM.
Timpanoplastias. In: Cruz OLM, Costa, SS,
editores. Otologia Clínica e Cirúrgica. Revinter: Rio
de Janeiro; 1999. P.245-70.
9. Tos M. Pathology of the ossicular chain in various
chronic middle ear diseases. J Laryngol Otol
1979;93:769-80.
10. Sade J, Berco E. Bone destruction in chronic otitis
media. A histopathological study. J Laryngol Otol
1974;88(5):413-22.
11. Austin DF. Ossicular reconstruction. J Laryngol
Otol 1974;88(2):139-43.
12. Tos M, et al. The outset of chronic secretory otitis
media: a histopathological study of the earliest
stage. Arch Otolaryngol 1975;101(2):123-8.
13. Sade J, Halevy A. The aetiology of bone
destruction in chronic otitis media. J Laryngol Otol
1974;88(2):139-43.
14. Ruedi L. Cholesteatosis of the attic. J Laryng Otol
1958;72:593.
15. Thompsen J, et al. Bone resorption in chronic otitis
media. In: McCabe BF, Sade J, Abramson M,
editors. Cholesteatoma: f irst international
conference. Birmigham: Aescupulus Publishing
Co.; 1977. p.136.
16. Abramson M, Huang CC. Localization of
collagenase in human middle ear cholesteatoma.
Laryngoscope 1977;87(5 Pt 1):771-91.
17. Schechter G. A review of cholesteatoma pathology.
Laryngoscopy 1969;79:1907-20.
18. Chole RA. Cellular and subcellular events of bone
resorption in human and experimental
cholesteatoma: the role of osteoclasts.
Laryngoscope 1984;94(1):76-95.
19. Lannigan FJ, O’Higgins P, Mcphie P. The cellular
mechanism of ossicular erosion in chronic
suppurative otit is media. J Laryngol Otol
1993;107(1):12-6.
20. Costa SS, Paparella MM, Schachern PA, et al.
Temporal bone histophatology in chronically
infected ears with intact and perforated tympanic
membranes. Laryngoscope 1992;102:1229-36.
21. Costa SS, Paparella MM, Schachern PA, Yoon TH.
Histopathology of chronic otitis media with
perforated and non-perforated tympanic
membrane. Apresentado no Midwinter Meeting of
the Association for Research in Otolaryngology;
Clearwater, Florida; 1989.
22. Ruedi L. Pathogenesis and surgical treatment of
middle ear cholesteatoma. Acta Otolaryngol
1976;361:1-11.
23. Kurihara A, Toshima M, Yuasa R, Takasaka T. Bone
destruction mechanisms in chronic otitis media with
cholesteatoma: specif ic production by
cholesteatoma tissue in culture of bone- resorbing
activity attributable to interleukin-1 alpha. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1991;100(12):989-98.
24. Abramson M, Asarch RG, Litton WB. Experimental
aural cholesteatoma causing bone resorption. Ann
Otol Rhinol Laryngol 1975;84:425-32.
25. Minotti AM, Kountakis SE, Leighton WR, Cabral
FR. Effects of extracellular calcium on
cholesteatoma migration and adhesion in vitro.
Otolaryngol Head Neck Surg 1996;115(5):458-63.
26. Sudhoff H, Borkowski G, Bujia J, Hildmann H.
Immunhistochemische untersuchungen von
mittelohrschleimhautresten im cholesteatom. HNO
1995;45(8):630-5.
27. Amar MS, Wishahi HF, Zakhary MM. Clinical and
biochemical studies of bone destruction in
cholesteatoma. J Laryngol Otol 1996;110(6):534-9.
28. Costa SS, Cruz OLM. Exploratory tympanotomy.
Oper Techn in Otolaryngol Head and Neck Surg
1996;7:20-5.
29. Costa SS, Colli BO, Fonseca N, et al. Anatomia
cirúrgica da artéria carótida intrapetrosa. J Bras
Neurocir 1996;7:30-43.
Revista HCPA 1999;19 (2) 177
Araújo et al.Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meioARTIGO ORIGINAL
Sinusite fúngica: uma análise clínicaem nosso meio
Elisabeth Araújo1,Fábio Anselmi2,Tiago L.L. Leiria3,Vinicius T. Richter3, Leonardo M. Pires3
OBJETIVO: Relatar os achados microbiológicos, histopatológicos, radiológicos eendoscópicos associados às observações clínicas de pacientes portadores de sinusitefúngica.MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma análise prospectiva de 829 casoscompatíveis com sinusopatia crônica. De acordo com os achados obtidos nos examesde tomografia computadorizada e endoscopia nasal, juntamente com as análisesclínicas, laboratoriais, microbiológicas e histopatológicas, atentou-se para o diagnósticode sinusite fúngica em 33 pacientes da série, os quais foram enquadrados dentro deuma das seguintes classificações: bola fúngica, sinusite fúngica alérgica , sinusiteinvasiva aguda (fulminante) ou sinusite indolente ou lentamente invasiva.RESULTADOS: 18 pacientes apresentaram-se com bola fúngica, 13 com critériospara sinusite fúngica alérgica. Sinusite lentamente invasiva foi identificada em doiscasos e não houve nenhuma ocorrência de sinusite fúngica fulminante. Cura clínicafoi obtida em 24 pacientes. Houve recidiva da sinusite fúngica alérgica em quatrocasos.CONCLUSÕES: As várias formas de apresentação e de abordagem terapêutica dasinusite fúngica exigem, além do diagnóstico etiológico fúngico, a identificação dotipo de sinusite fúngica através da associação de endoscopia nasal, tomografiacomputadorizada, exame macroscópico da secreção, exame direto e cultura em meioadequado.
Unitermos: Sinusite crônica; sinusite fúngica; cirurgia endoscópica.
Fungal sinusitus: a clinical analysisOBJECTIVE: To report the microbiological, histopathological, radiological, andendoscopic findings associated with clinical observations in patients with fungalsinusitis.MATERIALS AND METHODS: A prospective analysis of 829 cases compatible withchronic sinusitis was carried out. Diagnosis of fungal sinusitis was cofirmed in 33patients through computed tomography and nasal endoscopy associated with clinical,laboratorial, microbiological and histopathological findings. These patients wereclassified as having one of the following: fungus ball sinusitis, alergic fungal sinusitis ,
1 Presidente, Sociedade Brasileira de Rinologia; Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande doSul. Correspondência: Rua Ramiro Barcelos 910/403, CEP 90035-001, Porto Alegre, RS, Brasil. Fone: +55-51-311-6743.
2 Acadêmico, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.3 Acadêmico, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.
Revista HCPA 1999;19 (2)178
Araújo et al. Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
acute invasive sinusitus or indolent or slowly invasive sinusitus.RESULTS: 18 patients presented with fungus ball sinusitis, 13 matched the criteria forAFS and two for slowly invasive fungus sinusitis. There were no occurences of fulminantfungal sinusitis. Clinical cure was obtained in 24 patients. Recidivation took place infour alergic fungal sinusitis patients.CONCLUSIONS: Fungal sinusitis presents itself in many different ways and can betreated with a large variety of therapeutical techniques. Therefore it demands not onlya diagnosis of the etiology of the fungus, but also the identification of the sort of sinusitis,through an association of nasal endoscopy, computed tomography, macroscopicexamination of the secretion, direct exam, and culture in appropriate medium.
Key-words: Chronic sinusitis; fungal sinusitis; endoscopic surgery.
Revista HCPA 1999;19(2):177-85
Introdução
A sinusite encontra-se entre uma dasmais freqüentes afecções do trato respiratório,sendo sua prevalência de aproximadamente14% da população geral (1). Esta, quando deetiologia fúngica, é considerada rara.Entretanto, essa forma vem ganhando espaço,principalmente devido ao aumento do númerode pacientes imunossuprimidos (aidéticos,transplantados, corticodependentes), assimcomo pela utilização indiscriminada deantibioticoterapias de amplo espectro.
A sinusite fúngica é uma doençacomplexa, possuindo diversos esquemas declassificação propostos. Fazemos mençãoàquele proposto por Saeed et al. (2) (tabela 1)que divide a sinusite fúngica em alérgica, bolafúngica ou micetoma, sinusite fúngica indolentee sinusite fúngica invasiva fulminante. Cadauma possui formas distintas de apresentaçãoclínica, histopatologia e terapêutica. Osprincipais patógenos responsáveis pela sinusitefúngica são Aspergillus sp., Fusarium sp.,Candida sp., e Alternatia sp., entre outros (3).
No presente estudo são relatados osachados clínico-patológicos, radiológicos,endoscópicos e microbiológicos de 33pacientes com diagnóstico de sinusite fúngica.
Pacientes e métodos
Foi realizada uma análise prospectiva de829 casos com achados clínicos,endoscópicos, radiológicos e tomográficos
compatíveis com sinusopatia crônica, os quaisforam submetidos a cirurgia endoscópica dosseios paranasais, no período entre maio de1989 e julho de 1999. Baseado nos seguintesmétodos de avaliação, atentou-se para odiagnóstico de sinusite fúngica em 33 pacientesda série:
• clínico. História clínica com pesquisa deatopia, principalmente na história familiar;anamnese dirigida paraotorrinolaringologia, com pesquisa dedados como obstrução nasal, rinorréia,alteração no olfato, irritação na garganta,cefaléia, epistaxe e astenia;
• endoscopia nasal. Realizada pelo mesmoespecialista por meio de endoscópiorígido de fibra óptica Storz de 4,0 mm 0ºe 30º, sob anestesia local comneotutocaína a 2% juntamente comvasoconstritor oximetazolina. Atentou-separa achados como secreção muco-purulenta, concha bolhosa, poliposenasal, degeneração polipóide, bulaetmoidal proeminente e cornetosparadoxais. Fez-se, também, duranteesse procedimento, análisemacroscópica da secreção e mucosa dosseios afetados;
• tomografia computadorizada. Estudo dosseios paranasais (TCSPN), semutilização de contraste endovenoso, nosplanos axial e coronal em decúbito dorsal;
• exames laboratoriais. Dosagem sérica deIgE total e específica para Aspergillus
Revista HCPA 1999;19 (2) 179
Araújo et al.Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
fumigatus por fluorometria simples;• microbiológico. Análise da secreção da
mucosa dos seios paranasais com examebacterioscópico direto, bacteriológico emicológico, utilizando-se para cultura defungos meio de Saboraud com glicose a2%;
• histopatológico. De acordo com osachados, foram classificados comoinflamação crônica inespecífica(presença de edema com espessamentoda lâmina própria da mucosa sinusal,infiltrado linfoplasmocitário e fibroseperivascular); inflamação crônicasupurativa (soma-se às característicasanteriores o infiltrado neutrocitário);inflamação crônica alérgica (infiltradoeosinofílico juntamente com os achadosde inflamação crônica); ou inflamaçãocrônica com invasão fúngica(visualização de hifas filamentosas esegmentadas pelos métodos de PAS eGROCOT, Grocot methamine silver).
Conforme os resultados dos examesacima citados, os pacientes portadores desinusite fúngica foram enquadrados dentro dasseguintes classificações: bola fúngica, sinusitefúngica alérgica (SFA), sinusite invasiva aguda(fulminante) e sinusite indolente ou lentamenteinvasiva.
Resultados
A amostra constituiu-se de 33 pacientes,sendo 15 do sexo masculino e 18 do sexofeminino, com média de idade de 39,1 anos(idade mínima de 13 e máxima de 62 anos),nos quais a cirurgia endoscópica foi o
procedimento terapêutico de escolha por teremrinossinusite crônica não-responsiva aotratamento medicamentoso convencional.Dentre os sinais e sintomas clínicosencontramos: obstrução nasal em 32 casos,secreção nasal em 30 casos, gotejamento pós-nasal em 25 casos, tosse em 17 casos, dorfacial e febre em seis casos cada, e anorexiaem um caso. Em relação à comorbidade, osprincipais achados foram: imunossupressão(transplante pulmonar e leucemia), aspergilosebroncopulmonar alérgica (ABPA), drogadiçãocom cocaína inalatória, pneumonias derepetição, tuberculose, diabete melito,polimiosite, infecção urinária e asma, sendoreferidos também a utilização deantibioticoterapia de largo espectro, dapsonae o uso de corticosteróides orais. Oito pacientestinham história de cirurgias paranasais préviaspelo método convencional (uma sinusostomiamaxilar bilateral, três unilaterais e quadro nasquais a natureza do procedimento foi ignoradapelos pacientes) sem resultados clínicossatisfatórios, um tendo como complicaçãofístula liqüórica.
Os principais achados da endoscopianasal foram secreção nasal mucóide em quatrocasos e purulenta em 26 casos, conchabolhosa em sete casos, polipose nasal em 12casos, bula etmoidal proeminente em seiscasos e degeneração polipóide em um caso.
Na TCSPN foram observados osseguintes achados: opacificação maxilarunilateral em 18 pacientes e bilateral em seispacientes, opacificação etmoidal unilateral emsete casos e bilateral em cinco casos, além depansinusite em seis casos. Imagem metálicafoi encontrada em 14 dos pacientes, destruiçãoda parede óssea em nove e imagem em casca
Prognóstico
Bom
Bom
Variável
Alta
mortalidade
Tabela 1. Classificação da sinusite fúngica
Tipo
Bola fúngica ou
micetoma
Sinusite alérgica
Indolente
Fulminante
Hospedeiro
Saudável
Atópico
Saudável
Imuno-
comprometido
Sítio
Antral
Pansinusal
Pansinusal
Pansinusal
Resposta imune
Ausente ou
tipo 4
Tipo 1
Tipo 3
Tipo 4
Ausente ou
tipo 4
Cirurgia
Sim
Sim
Sim
Sim
Medicação
Nenhuma
+/- Corticóides
Antifúngicos
Antifúngicos
Revista HCPA 1999;19 (2)180
Araújo et al. Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
de cebola em seis casos.Todos os pacientes foram submetidos à
cirurgia endoscópica nasossinusal, sendo queos procedimentos foram de etmoidectomiaunilateral em 14 casos e bilateral em quatro,sinusoscopia unilateral em 14 casos e bilateralem seis, esfenoetmoidectomia em seis casose Caldwell-Luc modificado em três pacientes.
A IgE sérica total demonstrou-se dentroda normalidade em 18 pacientes e alterada em14 (em um caso não foi realizado este exame).Nos pacientes com IgE positiva houve variaçãode 1/89 até valores superiores a 1/2000 UI. AIgE específica para Aspergillus fumigatus foipositiva em sete pacientes e negativa em 16,sendo que em 10 pacientes não foi realizada adosagem.
O aspecto macroscópico da secreçãolembrava muco espesso tipo queijo em quatropacientes. Havia concreções fúngicas pretasem 25 pacientes e secreção purulentaassociada em 18 pacientes. Ainda foiobservado muco marrom em quatro pacientes.
O exame microbiológico de secreções,na visualização direta, demonstrou hifasseptadas, ramificadas, sugestivas dehialohifomicose em 15 casos. Nos examesculturais foram observados Candida sp. em trêscasos, Alternaria sp. em dois casos, Fusariumsp. em um caso, Scedospirium apiodermumemem um caso, Pseudallescheria boydii em umcaso, Penicillinum sp. em um caso, Tricodermasp. em um caso, Schizofilium comuni em um
caso e Aspergillus sp. em 15 pacientes. Osexames culturais foram negativos em setepacientes (tabela 2). Infecção bacterianaassociada foi vista com Haemiphillus em 2pacientes, Pseudomonas em seis, S. aureusem três, Actinomices em três, Bacterioides sp.em três e Streptococus do grupo B em umpaciente.
O exame histopatológico demonstrouinflamação crônica alérgica em 13 casos,crônica supurativa em 11, crônica inespecíficaem sete e invasão fúngica em dois casos.
Quanto à classificação da sinusitefúngica, podemos separar os pacientes como18 apresentando bola fúngica e 13 com critériospara sinusite fúngica alérgica. Sinusitelentamente invasiva foi constatada em doiscasos. Não houve nenhum caso de sinusitefúngica fulminante.
Cura clínica foi obtida em 24 pacientes,sendo que um paciente foi ao óbito por causanão relacionada. Houve recidiva da SFA emquatro pacientes.
Discussão
A maioria das infecções fúngicas dosseios paranasais é causada pelo Aspergillussp., principalmente as espécies Aspergillusfumigatus, Aspergillus flavus e Aspergillusniger, as quais encontram-se comumente nosolo ou no material de putrefação com funçãocomensal ou saprofítica. Outros fungos
Fungo encontrado na cultura
Aspergillus sp.
Candida sp.Alternaria sp.
Fusarium sp.
Scedospirium apiodermumemPseudallescheria boydii
Penicillinum sp.
Schizofilium comuniTricoderma sp.
Exame cultural negativo
TOTAL
Tabela 2. Resultados dos exames culturais realizadosnos pacientes da série
Número de pacientes
15
32
1
11
1
11
7
33
Revista HCPA 1999;19 (2) 181
Araújo et al.Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
comuns na sinusite fúngica são a Candida sp.,Mucor sp., Alternaria sp., Cladosporium sp.,Pinicillium sp., Fusarium sp., Scedosporium sp.,Paecilomyces sp., Curvularia sp., Sporothrixsp., Schizophylum sp., Bipolaris sp.,Exserohilum sp., Rhinosporidium sp.,Cunninghamella sp., Conidiobolus sp.,Basidiobolus sp., Rhizopus sp., Malbranchiasp., Absidia sp., Pseudoallescharia sp. (quadro1).
Pela similaridade do quadro clínico e dosachados da endoscopia nasal, torna-se difícila distinção entre a sinusite fúngica e arinossinusite bacteriana crônica. Sabemos quealguns sinais radiológicos característicospodem ser importantes nesta discriminação. No
exame de TCSPN, a bola fúngica aparececomo opacificação isodensa, cercada pormaterial com densidade de tecidos moles(figura 1). Quando aparecem áreas de radio-opacidade semelhantes à densidade de osso,a lesão pode aparecer sob aspecto de cascade cebola, com perda de homogeneidade. Esteachado é muito característico de sinusite porAspergillus sp., sendo atribuídas estasdensidades metálicas no interior do seioparanasal velado à presença de sulfato oufosfato de cálcio e sais de metais pesados,como o cádmio, depositados nas áreasnecróticas da bola fúngica (4).
Outro achado característico de sinusitefúngica é a destruição óssea, sendo estaconseqüência do processo inflamatório crônicocom remodelamento e absorção ósseas, aoinvés de invasão direta dos ossos por fungos(5).
O teste padrão para diagnóstico decerteza de sinusite fúngica é a cultura em meioSabouraud – glicose – agar de secreçãoproveniente do seio paranasal afetado (quadro2). O diagnóstico é firmado pela associaçãodos achados do exame direto de hifas, doaspecto macroscópico da secreção e dosachados radiológicos. A infecção bacterianaassociada pode tornar a cultura negativa.Nestes casos, pode-se então proceder abiópsia do seio paranasal, com análisesteciduais após utilização das coloraçõesespecíficas (GROCOT, Gridley, PAS, hidróxidode potássio), que confirmam o diagnóstico deinvasão tecidual (6, 7).
Em nosso estudo, 18 pacientes (60%)apresentaram bola fúngica maxilar, sendo esteo seio paranasal mais acometido pela entidade.O perfil de paciente afetado pela bola fúngica
Figura 1. Tomografia Computadorizada - incidênciaaxial: seio maxilar esquerdo com imagem dedensidade metálica. Cultura: Aspergillus sp.
Quadro 1. Principais fungos responsáveis por sinusite a
Aspergillus Alternaria Pseudoallescharia
Scedosporium Penicillinum FusariumPaecilomyces Schizophylum Bipolaris
Curvularia Sporothrix Exserohilum
Cladosporium Candida RhinosporidiumCunninghamella Basidiobolus Rhizopus
Conidiobolus Absidia Malbranchia
a Adaptado de Donald PJ (3).
Revista HCPA 1999;19 (2)182
Araújo et al. Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
é o que apresenta rinossinusite crônica, históriade cirurgia otorrinolaringológica prévia outraumatismo nasal com a presença ou não decorpo estranho dentro do seio paranasalacometido. Tem como característica afetarapenas um seio paranasal, ser amplamentepassível de tratamento e possuir baixamorbidade em relação aos outros tipos desinusite fúngica.
A infecção por fungos em pacientes sobantibioticoterapia crônica é facilitada pelaalteração e desequilíbrio da flora bacteriananormalmente encontrada na via aérea superiordo paciente. O aumento da bola fúngica égradual, podendo crescer a ponto de erosaras paredes ósseas dos seios paranasais. Comotoda secreção produzida no seio paranasal édrenada pelo seu óstio, a obstrução deste pelabola fúngica pode produzir infecção bacterianasecundária, o que dificulta o diagnóstico.
O tratamento é basicamente cirúrgicoatravés de cirurgia funcional endoscópica dosseios paranasais, que tem como objetivo aretirada completa da bola fúngica, além daaeração e manutenção da drenagem adequadado seio, através de um óstio permeável e defunção ciliar preservada.
Em nossa casuística, aqueles pacientesque apresentaram bola fúngica foram tratadosatravés de cirurgia funcional endoscópica. Emtrês desses pacientes foi necessária a aberturados seios acometidos via fossa canina (técnicade Caldwell-Luc modificada).
Outro tipo de afecção dos seiosparanasais é a SFA, tendo como característicaa concomitância com atopia, póliposnasossinusais inflamatórios e secreçãomucóide de origem alérgica. Em nossa sérieobservamos 13 pacientes portadores destaentidade. O muco tem características macro e
microscópicas sugestivas de infecção fúngicaassociada com processo alérgico. Tem aspectoviscoso e amarronado, com preenchimento demais de um seio paranasal. Ao microscópio, omuco contém hifas, cristais de Charcot-Leyden,eosinófilos e epitélio respiratório, sendo entãochamado de “mucina alérgica”. SegundoKatzenstein (8), material semelhante éencontrado na ABPA. Sabe-se que, na SFA,as lesões decorrem de hipersensibilidade tipoI e III ao fungo, resultando em alteraçõesvasculares e necrose subseqüente.
As características do paciente com SFAsão história de rinite alérgica, polipose nasale/ou asma de longa duração, idade entre 30 e50 anos e avaliação radiológica mostrandoopacidade de múltiplos seios paranasais domesmo lado (9). Esta opacidade pode estarpresente devido à presença do muco viscosoou de pólipos sinusais (figuras 2A e 2B). Oprincipal fungo encontrado é o Aspergillusfumigatus. Outros patógenos envolvidos coma SFA são o Curvularia sp., Altenaria sp. eBipolaris sp.
Muitos autores (8-12) propuseramcritérios diagnósticos clínico-radiológico-laboratoriais para a SFA, resultando então emum consenso de cinco critérios diagnósticos:hipersensibilidade tipo 1, polipose nasal,tomografia computadorizada com opacificaçãoheterogênea e/ou erosão de parede óssea,evidência histológica de eosinofilia no muco eculturas ou colorações positivas para fungos,os quais não invadem a mucosa sinusal.
Da mesma forma que na bola fúngica, otratamento é eminentemente cirúrgico, comdebridamento da mucosa dos seios paranasaisacometidos, remoção das massas polipóidese correção de qualquer obstáculo à drenagemfisiológica das secreções, como a obstrução
Hipersensibilidade tipo 1Polipose nasal
Tomografia computadorizada com opacificação heterogênea e/ou erosão de parede óssea
Evidência histológica de eosinofilia no mucoCulturas ou colorações positivas para fungos, os quais não invadem a mucosa sinusal
a Adaptado de Katzenstein et al. (8), Peterson et al. (9), Deschazo et al. (10), Deschazo e Swain(11) e Hartwick e Batsakis (12).
Quadro 2. Critérios diagnósticos para sinusite fúngica alérgica a
Revista HCPA 1999;19 (2) 183
Araújo et al.Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
septal. Além da abordagem cirúrgica, devemser associadas medidas que evitem ou pelomenos diminuam a taxa de recorrência (13).Os corticóides tópicos intranasais na forma despray são muito utilizados após a cirurgiafuncional endoscópica para retirada de póliposda mucosa como forma de diminuir arecorrência, mas são pouco efetivos quandoos pólipos têm como comorbidade a SFA.Nestas situações, prefere-se o uso decorticóides sistêmicos pela via oral, poisreduzem a produção de muco e a respostainflamatória. Recomenda-se o uso deprednisona 0,5 mg/kg/dia nas primeiras 2semanas, seguindo-se doses em diasalternados por 3 a 6 meses e, após, diminuiçãogradual para evitar qualquer alteração do eixohipotálamo-hipófise-adrenal. Os corticóidessistêmicos devem ser reintroduzidos caso hajaqualquer sintoma ou sinal radiológico derecidiva. Os antifúngicos sistêmicos nãomostram-se efetivos devido à etiologiabasicamente inflamatória e alérgica da doença.
Essa forma de sinusite fúngica foiidentificada em 13 pacientes do grupo, nosquais foi utilizada corticoterapia por via oral comduração de no mínimo 3 meses. Um caso foitratado com itraconazol via oral, devido à
extensão da lesão. O paciente que não recebeucorticóide apresentou recidiva da sinusitefúngica e da polipose nasal. Realizou-se, então,novo procedimento cirúrgico e utilização decorticoterapia associada a itraconazol por viaoral, com posterior desaparecimento dossintomas.
Dos 33 pacientes da série, apenas doisapresentaram características de inflamaçãocrônica com invasão por fungos, a qualcaracteriza a sinusite fúngica indolente oulentamente invasiva. Esta ocorre geralmenteem indivíduos com rinossinusite crônica que,por apresentarem alterações dos mecanismosde proteção da mucosa, como a funçãomucociliar, permitem a colonização e posteriorinvasão da mucosa sinusal. Seu curso ébenigno na grande maioria dos casos, tendocomo principal achado clínico a rinorréiapurulenta crônica. Caracteriza-se por ser umareação de hipersensibilidade tipo IV ao fungo,com a formação de granulomas que, se nãotratados de forma adequada, podem destruirestruturas adjacentes aos seios paranasais porinvasão óssea (figura 3). O exame radiológicopode confundir a entidade com neoplasiasmalignas, sendo o diagnóstico diferencialdificultado ainda mais pelas escassas hifas
Figura 2A. Tomografia computadorizada: incidênciacoronal. Opacificação dos seios maxilar e etmoidalesquerdos. Cultura: Tricoderma sp.
Figura 2B. Tomografia computadorizada: 1 ano depós-operatório.
Revista HCPA 1999;19 (2)184
Araújo et al. Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
fúngicas encontradas na cultura. Deve-seentão submeter o paciente à biópsia da mucosado seio paranasal, com posterior exametecidual com coloração por prata, o qualpermite a identificação das hifas com maiorfacilidade (3).
No caso de sinusite fúngica indolente, otratamento consiste, além do debridamentocirúrgico da mucosa com fungos e restauraçãoda drenagem e ventilação do seio, do uso deagentes antifúngicos, principalmente oitraconazol (13). É um medicamento eficaz nasinfecções fúngicas invasivas, especialmentepor Aspergillus sp., além de ter boabiodisponibilidade oral e ser bem tolerado emdose diária de até 400 mg. Recomenda-se ouso de 100 mg/dia, após as refeições, até aremissão dos sintomas e a negativação dosexames micológicos.
A sinusite fúngica invasiva aguda oufulminante tem como principais agentesetiológicos os fungos Mucor sp., Rhizopus sp.e Absidia sp., os quais são encontrados no soloe são importantes para a decomposição domaterial orgânico. É comum em pacientesdiabéticos e imunodeprimidos. A forma maiscomum é a mucormicose rinocerebral, decaráter altamente invasivo, podendo levar opaciente à morte em poucas horas ou dias, se
o tratamento adequado não for instituído. Otratamento consiste no debridamento cirúrgicoe no uso de antifúngico intravenoso, como aanfotericina B. Essa forma não ocorreu emnenhum dos pacientes da casuística.
Conclusões
A sinusite fúngica é uma doença comvárias formas de apresentação e, além dodiagnóstico etiológico fúngico, é fundamentala identificação do tipo de sinusite fúngicaencontrado, pois a abordagem terapêuticavaria conforme a forma apresentada.
Para esta identificação, necessitamos daassociação de diferentes métodosdiagnósticos, que são a endoscopia nasal, atomografia computadorizada, o examemacroscópico da secreção, o exame direto ea cultura em meio adequado.
Referências
1. Kaliner MA, Osguthorpe JD, Fireman P, Anon J,
Georgitis J, Davis ML, et al. Sinusitis: bench to
beside. Current findings, future directions.
Otolaryngol Head Neck Surg 1997;116 (6 pt 2):
S1-S20.
2. Saeed SR, Brookes GB. Aspergillosis of the
paranasal sinuses. Rhinology 1995;33:4-51.
3. Donald PJ. Fungal infection of the sinuses. In:
Donald PJ, Gluckman JL, Rice DH. The sinuses,
New York: Raven Press; 1994:271-85.
4. Stammberger H. Endoscopic surgery for mycotic
and chronic recurring sinusitis. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1993;10:1-11.
5. Neves-Pinto RM, Saraiva MS, Torres RRG,
Santos SG. Destruições ósseas e sinusite
fúngica. A Folha Médica 1990;101:327-31.
6. Pereira EA, Stolz DP, Palombini BC, Severo LC.
Atualização em sinusite fúngica: relato de 15
casos. Rev Bras Otorrinolaringol 1997;63:48-54.
7. Pereira EA, Palombini BC. Sinusobronquite:
estudo com ênfase no componente
otorrinolaringológico. Rev Bras Otorrinolaringol
1993;59:166-75.
8. Katzenstein AL, Sale SR, Greenberger PA. A
newly recognized form of sinusitis. J Allergy Clin
Immunol 1983;72:89-93.
9. Peterson KP, Wang M, Canalis RF, Abemayor E.
Figura 3. Tomografia computadorizada: axial.Opacificação do seio maxilar direito com destruição deparede óssea. Cultura: Aspergillus sp.
Revista HCPA 1999;19 (2) 185
Araújo et al.Sinusite fúngica: uma análise clínica em nosso meio
Rhinocerebral mucormicosis: evolution of the
disease and treatment options. Laryngoscope
1997;107:855-62.
10. Deschazo RD, Chapin K, Swain, RE. Fungal
sinusitis. NEJM 1997;337:254-59.
11. Deshazo RD, Swain RE. Diagnostic criteria for
allergic fungal sinusitis. J Allergy Clin Immunol
1995;96:24-35.
12. Hartwick RW, Batsakis JG. Sinus Aspergillosis
and allergic fungal sinusitis. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1991;100:427-30.
13. Rowe-Jones JM, Freedman AR. Adjuvant
itraconazole in the treatment of destructive
sphenoid aspergillosis. Rhinology 1994;32:203-7.
Revista HCPA 1999;19 (2)186
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferenteARTIGO ORIGINAL
Ototoxicidade dos antibióticosaminoglicosídeos e sistema eferente:
comparação entre a administração aguda ecrônica com gentamicina e os efeitos agudos
de outros antibióticos1
Deise M.L. da Costa2
OBJETIVOS: 1) Revisar a atividade de base global do nervo auditivo, sistemaolivococlear eferente medial e efeito dos aminosídeos; 2) investigar o efeito bloqueadorda gentamicina à supressão eferente contralateral da atividade coclear ipsilateralutilizando doses inferiores à 150 mg/kg; 3) verificar se este efeito poderia constituirum sinal antecipatório de ototoxicidade durante um tratamento crônico com gentamicina(60 mg/kg i.m. durante 10 dias); e 4) determinar se outros aminosídeos teriam osmesmos efeitos agudos que a gentamicina e se haveria uma correlação entre suasespecificidades e graus de ototoxicidade e suas potências de bloqueio do sistemaeferente medial.MATERIAIS E MÉTODOS: A função do sistema eferente olivococlear medial foi testadaem cobaias pelo registro da atividade elétrica de base do nervo auditivo, antes edurante uma estimulação acústica contralateral de baixa intensidade (55 dB SPL).RESULTADOS: Os resultados mostram um efeito dose-dependente da gentamicinana supressão contralateral, uma vez que uma dose de 120 mg/kg de gentamicinainduziu um menor bloqueio do sistema eferente medial comparado a 150 mg/kg, enenhum bloqueio foi observado com doses inferiores. Durante o tratamento crônico,nenhuma alteração da atividade de base do nervo auditivo sem estimulação acústicaou da supressão eferente contralateral foi verificada. As cobaias monitoradas durantevárias semanas após o tratamento crônico apresentaram uma redução progressivada atividade de base do nervo auditivo sem estimulação contralateral, além de umaredução dos coeficientes de supressão da atividade de base e elevação dos limiaresauditivos, denotando uma função coclear injuriada.CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que um tratamento crônico com 60 mg/kg degentamicina, apesar de ototóxico, não afeta a supressão eferente contralateral, pelomenos antes do desenvolvimento da ototoxicidade.
Unitermos: Ototoxicidade; sistema eferente; gentamicina; nervo auditivo.
Aminoglycoside ototoxicity and efferent system: Comparison between acuteand chronic gentamycin administration and the acute effects of other antibioticsOBJECTIVES: 1) To review the global base activity of the auditory nerve, the medial
1 Este trabalho é uma compilação de dois artigos publicados em Audiology 1998;37(3):151-61 e 162-73 e queintegraram a tese de Doutoramento defendida pela autora, na Universidade de Bordeaux, França, em 1997.
2 Médica. Correspondência: Rua Lucas de Oliveira 2786/402, CEP 90460-000, Porto Alegre, RS, Brasil.
Revista HCPA 1999;19 (2) 187
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
efferent olivocochlear system and the effect of aminosydes; 2) to investigate theblocking effect of gentamicin against the contralateral efferent supression of theipsilateral cochlear activity using doses below 150 mg/kg; 3) to verify if this effectcould constitute an early sign of ototoxicity during a chronic treatment with gentamicin(60 mg/kg i.m. for 10 days); and 4) to determine if others aminosydes would have thesame acute effects of gentamicin and if there would be a correlation between itsspecificities and ototoxicity degree and its potential to block the medial efferent system.MATERIALS AND METHODS: To test the function of the medial efferent olivocochlearsystem, the base electrical activity of the auditory nerve was tested in guinea pigsbefore and during a low contralateral acoustic stimulation intensity (55 dB SPL).RESULTS: Results show a dose-dependent effect of gentamicin on contralateralsupression.The 120 mg/kg dose of gentamicin induced a smaller block of the medialefferent system compared to the 150 mg/kg, and no block was observed in smallerdoses. During chronic treatment, no alteration either in the base activity of the auditorynerve without acoustic stimulation or in contralateral efferent supression was verified.The guinea pigs, monitored for several weeks after chronic treatment, presented aprogressive reduction of the base activity of the auditory nerve without contralateralstimulation, in addition to a reduction in the coefficient of base activity suppressionand an increase in auditory limits, suggesting impairment of the cochlear function.CONCLUSION: Our results suggest that chronic gentamicin treatment (60 mg/kg),although ototoxic, does not affect contralateral efferent suppression, at least beforethe development of ototoxicity.
Key-words: Ototoxicity; efferent system; gentamicin; auditory nerve.
Revista HCPA 1999;19(2):186-99
Introdução
A cóclea e o sistema eferente medial:anatomofisiologia da audição
As vibrações sonoras provocam ummovimento da membrana timpânica e dacadeia ossicular e são, assim, transmitidasamplificadas à janela oval. Os movimentos doestribo conduzem a variações de pressãodentro da rampa vestibular da cóclea (figura1). A diferença de pressão dos dois lados damembrana basilar leva a um deslocamento damesma e do Órgão de Corti que ela sustenta.As freqüências baixas mobilizam o conjunto dacóclea, enquanto que as freqüências altasmobilizam apenas a base da cóclea, o quepermite a discriminação da freqüência dossons. As variações de intensidade, por sua vez,traduzem-se por diferenças de amplitude oude movimentação da membrana basilar.
Os mecanismos pelos quais as vibraçõesestimulam as células sensoriais são aindahipotéticos. Os movimentos das ondas nointerior do canal coclear seriam transmitidosàs células ciliadas por intermédio da membranabasilar. Esta levaria a um movimento radialatravés de toda a cóclea e produziria flexõesdos estereocílios das células ciliadas externas(CCEs), entre a cutícula e a membranatectorial, provocando a penetração dos íons K+e Na+ e a aparição de um potencial demembrana: a deflexão do tufo ciliar em direçãoao corpúsculo basal produz umadespolarização excitatória da célula, enquantoque o deslocamento dos cílios no sentidocontrário produz uma hiperpolarização inibitória(1). O deslocamento de um único estereocíliodesencadeia a abertura de canais iônicosgraças à ligação dos estereocílios através defilamentos extracelulares laterais. As CCEsexcitadas podem então alongar-se e encolher-
Revista HCPA 1999;19 (2)188
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
se de acordo com a freqüência de estimulação,em resposta a alterações do potencial demembrana plasmática (2,3). Este mecanismo,dependente de voltagem, seria conduzido poralterações conformacionais de proteínastransmembranares situadas em nível damembrana plasmática lateral. Estas proteínasassociam-se ao citoesqueleto por intermédiode proteínas pilares, permitindo assim às forçasproduzidas modificar o comprimento da célula(4). Este mecanismo intrínseco da CCE nãoconsome ATP e independe da inervaçãoeferente. Estas contrações rápidas parecemser o suporte das otoemissões acústicas. Umoutro tipo de movimento, as contrações lentas(fenômeno equivalente a uma contraçãomuscular), poderia ser atribuído à presença deproteínas contráteis no interior das CCEs.Estas contrações são da ordem domilissegundo, podendo ser induzidas pelapresença de K+ ou pelo aumento da
permeabilidade celular ao cálcio em presençade ATP (5,6). O sistema nervoso eferentemedial estaria relacionado com a contraçãolenta; seu papel seria o de modular osmecanismos ativos (7-11).
Uma vez que as células ciliadas internas(CCIs) não estão ligadas à membrana tectorial,os deslocamentos de seus estereocíliosdependem das vibrações dos líquidostransmitidas pela membrana basilar. Os cíliosdas CCIs, por sua vez, são mecanicamentedeslocados e a abertura dos canais iônicos,situados provavelmente na extremidade apical,um por estereocílio (12), despolariza a CCI;estes canais são pouco específicos, masdevido a sua forte concentração na endolinfa,o K+ é considerado como o transportadorfisiológico de cargas e responsável peladespolarização das célula ciliadas. A regulaçãoiônica que segue à despolarização envolveesquemática e sucessivamente os canais de
Figura 1. Corte transversal da cóclea (67).
Lâmina de contorno
Membrana deReissner
Rampa vestibular
Lâmina espiralóssea
Gânglio espiralde Corti
Estriavascular
Canal coclearMembranatectorial
Membrana basilar
Ligamentoespiral Rampa timpânica
Revista HCPA 1999;19 (2) 189
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
Ca2+ dependentes de voltagem e os canais deK+ ativados pelo cálcio (permitindo a saída deK+): estes canais situam-se sobre a membranabasolateral das células ciliadas (13,14).
As CCIs constituem, no senso estrito dotermo, as verdadeiras células sensoriais dacóclea, uma vez que elas asseguram atransdução da excitação mecânica em códigosnervosos interpretáveis nos centros auditivoscerebrais. As CCEs asseguram, assim, aamplificação seletiva das vibrações, quepermite estimular mecanicamente as CCIs.
Inervações da Cóclea
Inervação aferente
Os neurônios do gânglio espiral contatamas células ciliadas da cóclea através de seusprolongamentos periféricos (dendritos) eenviam seus axônios ao tronco cerebral. Oconjunto destes axônios (cerca de 40 mil nacobaia) (15) constituem o nervo auditivo.Existem dois tipos de fibras nervosas: as fibrasde tipo I constituem 85-90% da populaçãoaferente, estabelecendo conexões diretas detipo radial com as CCIs (cada CCI é conectadaa 10-20 fibras radiais – caráter divergente)(16,17); as fibras de tipo II constituem 10-15%da população aferente (15), ramificando-se nacóclea para inervar, cada fibra, 10 a 20 CCEs(caráter convergente) (18).
Na ausência de qualquer estimulaçãoacústica, as fibras do tipo I sãoespontaneamente ativas (19,20), comresultado da liberação aleatória doneurotransmissor pelas CCIs. A taxa dedescarga espontânea em uma determinadafibra é relativamente estável, ainda que seuritmo seja irregular. Na cobaia, o ritmo médiode descargas espontâneas é de 50 impulsões/segundo (21,22).
Vários estudos demonstraram que aatividade elétrica registrada a partir de umeletrodo implantado em nível do canal auditivointerno, da janela redonda, ou diretamentesobre a membrana timpânica, reflete aatividade espontânea das fibras do nervoauditivo, na ausência de qualquer estimulaçãosonora (23-26).
Guinan & Guiford (27) sugeriram que aatividade espontânea era formada em parte
pela verdadeira descarga espontânea e emparte pela atividade evocada pelo ruído deinterno do animal (background sound).
Segundo Dolan (24), os sinais elétricosregistrados a partir de uma cóclea semnenhuma estimulação acústica representamuma soma de todos os geradores biológicos.A Transformação de Fourier do sinal elétricoregistrado em nível da janela redonda mostraum espectro de atividade dentro da banda defreqüências 500-2000 Hz, com um pico aoredor de 0,8-1 KHz (que corresponderia à somados espectros de ondas elementares de umapopulação de fibras nervosasespontaneamente ativas). A análise dos sinaiselétricos evocados por uma estimulação sonoraem vários níveis de intensidade (ruído de bandaestreita a freqüências elevadas), mostrou umaelevação dos componentes do espectro entre0,6 e 1,2 kHz. Um aumento do número de fibrasauditivas excitadas ou do número de descargaspor fibra unitária seria a origem desta resposta.Os autores sugeriram que, se a atividaderegistrada em nível da janela redonda eraproduzida por um som, a fonte deste somestaria no interior do animal.
Assim, após uma filtragem defreqüências na banda 500-2500 Hz, o sinalelétrico, registrado a partir de um eletrodoimplantado na janela redonda de uma cobaia,na ausência de qualquer estimulação acústica,pareceria traduzir a atividade de base globaldo nervo auditivo (28), proveniente da atividadeespontânea das fibras auditivas e da atividadeevocada pelo ruído interno do animal.
Inervação eferente
As fibras eferentes – uma componentecruzada e uma direta – são originárias do feixeolivococlear de Rassmussen (29,30).Atualmente, o sistema eferente é classificadocomo sistema eferente lateral (SEL) e sistemaeferente medial (SEM).
O SEL, numericamente mais importante(50-65% do contingente total na cobaia), éoriginário da oliva lateral superior e articula-seessencialmente com as terminaçõesdendríticas das fibras aferentes em nível dasCCIs (31,32). Vários neurotransmissoresforam localizados nas sinapses axodendríticasdo SEL: acetilcolina, dopamina e GABA, assim
Revista HCPA 1999;19 (2)190
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
como neuropeptídeos como a dinorfina, aencefalina e o CGRP (calcitonin generatedpeptide) (33). Todas estas substâncias podemser sintetizadas no interior dos neurônios doSEL e descarregadas de acordo com asdiferentes condições fisiológicas oupatológicas. Assim, poderia haver uma açãoexcitatória sobre as fibras aferentes do tipo I,por vezes colinérgica (34) ou, por outro lado,uma ação dopaminérgica inibitória queexerceria uma proteção da fibra aferente contracertos eventos traumáticos tais como asuperestimulação sonora ou isquêmica (35-37).
O SEM é originário de núcleos mediaisem relação à oliva medial superior. As fibrasolivococleares mediais seguem pelo tratovestibular, nervo coclear e terminam na basedas CCEs. Elas fazem sinapsespreferencialmente com as CCEs contralaterais(60-65%) na cobaia (38-42). As fibras eferentesapresentam um duplo gradiente: seguindo oeixo longitudinal da cóclea (contatam sobretudoas CCEs do primeiro giro e da metade basaldo segundo giro da cóclea) e seu eixotransversal (contatam principalmente as CCEsda primeira fileira) (43-45).
O SEM é conhecido por ter uma açãoinibitória sobre as respostas cocleares. Aacetilcolina é considerada como oneurotransmissor do SEM (46). O tipo dereceptor presente nestas sinapses é motivo decontrovérsia, ainda que receptores nicotínicos(47,48) e muscarínicos (49-51) tenham sidodemonstrados em várias experiências.
Devido ao fato de as fibras do feixeolivococlear serem pouco numerosas – 1.650na cobaia, segundo Warr (52), problemastécnicos tornam difícil o estudo destas fibras.Entretanto, sabe-se que elas apresentam umaatividade espontânea fraca (0 a 2/s). Elasrespondem preferencialmente a umaestimulação acústica ipsilateral (49,4%) oucontralateral (43,3%), enquanto que umpequeno número (7,5%) responde às duasestimulações (53).
Liberman (54) mostrou uma supressãoda diminuição da amplitude dos potenciais deação compostos induzidos por umaestimulação sonora contralateral quando ofeixe olivococlear medial é seccionado. Adiminuição do potencial de ação composto, sob
influência de uma estimulação sonoracontralateral constitui, assim, um método deestudo do sistema eferente olivococlear (54-56).
Pesquisadores do laboratório deaudiologia experimental de Bordeaux (28)recentemente demonstraram que a atividadede base global do nervo auditivo poderia serparcialmente suprimida por um ruído brancoapresentado ao ouvido contralateral, efeito quesupostamente é atribuído ao SEM.
Wiederhold & Kiang (57) haviamdemonstrado que o tempo necessário para queo efeito supressor (obtido por estimulaçãoelétrica) do feixe olivococlear cruzado se instaleera de cerca de 60 ms (efeito rápido).Recentemente, efeitos lentos (constante detempo de 25 a 50 ms) do sistema eferenteforam descritos: durante umasuperestimulação acústica, a proteção coclearassociada à ativação do sistema eferente seriadevida a estes efeitos lentos (58-60). Estesefeitos lentos são, nos demais aspectos,semelhantes aos efeitos rápidos clássicos: 1)ambos comportam uma supressão do potencialde ação composto, 2) a magnitude dasupressão diminui em função do aumento deintensidade da estimulação acústica ipsilateral,3) os dois efeitos dividem a mesmadependência à intensidade da estimulaçãoelétrica, 4) os dois efeitos são eliminados apósa secção do feixe olivococlear, e 5) ambos sãobloqueados por concentrações similares devários antagonistas colinérgicos, como aestricnina e a bicuculina. Aparentementeambos efeitos estariam ligados ao mesmoreceptor.
Quanto ao papel do SEM, a hipótesemais aceita é a de que ele inicie ou regule acontração lenta das CCEs, por intermédio dereceptores colinérgicos e de segundosmensageiros como os fosfoinositídios (61).Esta contração lenta e sustentada das CCEsdeterminaria o aumento de rigidez dasestruturas mecânicas cocleares e diminuiria opapel de amplificador das CCEs sobre aexcitação das CCIs. Embora várias hipótesespermaneçam em discussão, o SEM teria umpapel na proteção do ouvido interno contra ostraumatismos sonoros (62,63), nadiscriminação dos sinais (64) e na atenção
Revista HCPA 1999;19 (2) 191
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
seletiva periférica (65,66).A maior parte das informações
disponíveis sobre o papel do sistema eferenteprovém de estudos realizados em condiçõespouco fisiológicas, com animais anestesiados,traqueostomizados, ventilados artificialmentee curarizados, o que torna difícil a interpretaçãodos resultados.
Há vários anos sugere-se que o sistemaolivococlear poderia desempenhar um papelna ototoxicidade dos antibióticosaminoglicosídeos (AAs). Isto deve-se a umaestreita semelhança entre o gradiente delesões das células ciliadas externas (CCEs)após uma intoxicação por aminosídeos (maisevidente na base da cóclea e na primeira fileirade CCEs) (67) e à distribuição das fibras doSEM sob as CCEs (68). Quando CCEs normaissão expostas, in vitro, a AAs, o antibiótico nãopenetra imediatamente nas CCEs, onde elebloqueia os canais cálcicos (69). Neste estudoin vitro, os AAs acumularam-se essencialmenteno nível sináptico das CCEs (onde háfundamentalmente terminações eferentes) e,num grau menos importante, ao redor daporção ciliada. Esta última localização poderiacorresponder ao bloqueio dos canais detransdução (70,71) situados em nível dos cíliosdas células sensoriais. Mais tarde foidemonstrado por imunohistoquímica (72,73) epor radioautografia (74) que, após umtratamento in vivo, em diferentes condições, agentamicina (GM) penetrava no interior dascélulas ciliadas e das células de sustentação.Sua presença era mais importante em nível dasCCEs, seguindo o mesmo padrão que adistribuição das fibras eferentes sob as CCEse as lesões celulares que se desenvolvem maistarde (principalmente na base da cóclea e nasprimeira fileira de CCEs).
A fim de aprofundar o estudo dopresumido elo entre os AAs e o sistemaeferente medial, vários estudos foramrecentemente realizados no laboratório deaudiologia experimental da Universidade deBordeaux. Foi demonstrado que uma injeçãointramuscular de GM (150 mg/kg), em cobaias,reduzia reversivelmente a supressão induzidapor um ruído contralateral sobre os potenciaisde ação compostos evocados ipsilateralmente(75). Foi sugerido que tal efeito poderia ser
atribuído ao bloqueio de canais cálcicos pré-sinápticos, no nível das sinapses eferentes.Uma vez que esta dose de GM não provocaalterações em nível dos limiares auditivos, esterevelou-se um modelo reversível e não invasivopara o estudo do sistema eferente medial. Estebloqueio também foi verificado com asotoemissões acústicas (76). Após uma injeçãode GM, foram observadas alteraçõesreversíveis na redução das otoemissõesacústicas ocasionadas pela ativação dosistema eferente, mas sem alteração do seunível de base. Isto indica um bloqueiotransitório, não da função das CCEs, mas doseu controle pelo sistema eferente medial.
Um outro estudo realizado com cobaiasacordadas (77) mostrou que a atividade debase global (ABG) do nervo auditivo reduzia-se durante a estimulação do ouvidocontralateral por um ruído branco (55 dB SPL).Esta redução também foi reversivelmentebloqueada por uma injeção de GM, semmodificar a atividade de base global do nervoauditivo durante o silêncio.
Assim, medidas sobre o potencial deação composto, otoemissões acústicas ouatividade de base global do nervo auditivobuscam resultados semelhantes no que dizrespeito à quantidade de supressão induzidapor um mesmo ruído branco contralateral e acinética de alterações após uma injeção de GM.
Em nossa experiência, a análise daatividade de base global do nervo auditivomostrou ser a técnica mais fácil a ser realizadacom cobaias acordadas. Estimamos que aatividade de base global antes e durante umaestimulação acústica contralateral forneçainformações importantes sobre uma eventualtoxicidade das drogas testadas sobre aatividade ipsilateral e sobre o sistema eferentemedial. A atividade de base global apresenta,além disto, outras vantagens: primeiro, estaabordagem é mais fisiológica, uma vez quepode ser medida em cobaias acordadas ou sobligeira sedação com controle da temperaturacorporal (78) ; e, segundo, uma estimulaçãoipsilateral não é necessária e, assim, não ativao sistema eferente medial nem o lateral,ipsilateralmente.
Na primeira parte deste estudo quisemosverificar se um tal efeito sobre o sistema
Revista HCPA 1999;19 (2)192
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
Figura 2. a) Registro da estimulação acústica comruído branco (55 dB SPL) com um segundo deduração; b) sinal registrado em nível da janelaredonda; c) espectro de energia correspondente,durante o silêncio (1o segundo) e durante aestimulação acústica contralateral.
eferente medial poderia desenvolver-sedurante um tratamento crônico com dosesinferiores de GM e sobretudo antes doaparecimento da ototoxicidade, como foiverificado quanto à penetração das moléculasde GM no interior das células (72). Este fatopoderia constituir um sinal preliminar deototoxicidade. Numa primeira experiência,examinamos os efeitos agudos de várias dosesúnicas de GM (de 60 a 150 mg/kg). Numasegunda experiência, monitoramos a funçãodo sistema eferente medial durante e após umtratamento crônico com GM (60 mg/kg/dia,durante 10 dias). Com tal protocolo, a GMmostra-se presente dentro das CCEs desde asegunda injeção, sem alteração dos limiaresauditivos até o 10o ou 14o dia de tratamento(79,80). Desta forma, um tal tratamento durante10 dias é limítrofe para a alteração da funçãoauditiva.
Outros AAs da mesma famíliaapresentam graus diferentes de ototoxicidadecoclear e vestibular. Por exemplo, aestreptomicina e a netilmicina sãoprincipalmente vestibulotóxicas, ainda que anetilmicina seja muito pouco tóxica. Por outrolado, a amicacina e a neomicina são forte eexclusivamente cocleotóxicas. A GM e atobramicina são vestíbulo e cocleotóxicas,embora a última seja menos tóxica (81-83). Foidemonstrado in vivo que a neomicina, a GM ea estreptomicina (nesta ordem) bloqueavamreversivelmente a corrente induzida pelaacetilcolina no interior das CCEs, talvezbloqueando a entrada de cálcio necessáriapara disparar a resposta colinérgica. Istoreforça a hipótese da natureza ionotrópica dosreceptores de acetilcolina ao nível das CCEs(84). Entretanto, foi sugerido que os efeitosagudos dos AAs podem ter mecanismosdiferentes em relação a sua toxicidade crônica(85).
Assim, o objetivo da segunda parte desteestudo foi verificar se outros AAs apresentavamos mesmos efeitos agudos sobre o SEM que aGM apresentava, e se haveria uma correlaçãoentre o seu grau de ototoxicidade, suaespecificidade coclear e vestibular e suacapacidade de bloquear as sinapses eferentes.Antibióticos da mesma família, mas comdiferentes graus e especificidades ototóxicas
(amicacina, neomicina, netilmicina,estreptomicina e tobramicina) foramcomparados com a GM. A fim de realizarmosoutras comparações, algumas cobaias foramtratadas com estricnina, um antagonistaconhecido da acetilcolina em nível coclear (86).Por fim, outras cobaias receberam uma injeçãode cisplatina, um agente antineoplásico compropriedades ototóxicas que provocamalterações morfológicas e fisiológicas similaresaos AAs (preferencialmente cocleotóxico) (87),além de bloquear reversivelmente os canaisde cálcio (88) e os canais de transdução(69,71), como a GM.
Materiais e métodos
Resumidamente, os animaisexperimentais eram cobaias (porcos-da-índia)do sexo feminino. Elas eram anestesiadas eequipadas com um eletrodo de platina colocadosobre a membrana da janela redonda e
a)
b)
1s
c)
1s
3kHz0
Revista HCPA 1999;19 (2) 193
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
eletrodos de referência no crânio. Uma semanamais tarde, uma eletrococleografia erarealizada a fim de comprovar a audição normaldos animais.
O registro da atividade de base do nervoauditivo era obtido através da amplificação dosinal entre os eletrodos da janela redonda edo crânio. Eram feitos registros sucessivos comduração de 2s: 1s em silêncio (os animais,acordados, eram colocados num recipiente queimpedia os movimentos corporais na sua quasetotalidade, dentro de uma cabine à prova desom) e 1s em estimulação contralateral (ruídobranco, 55 dBSPL) (figura 2).
Os animais foram divididos nos diversosgrupos de tratamento: GM efeito agudo (150/120/90/60 mg/kg, injeções únicas) e crônico(60mg/lg/dia); outros aminosídeos (amicacina,
Figura 3. Evolução da supressão contralateral da atividade de base global (ABG) do nervoauditivo, analisada entre 500 e 2500 Hz, após uma única injeção de gentamicina (tempo 0) adiferentes doses, em quatro cobaias representativas. Os círculos abertos representam a ABGsem estimulação acústica. Os círculos pretos representam a ABG durante a apresentação daestimulação acústica contralateral (ruído branco, 55 dB SPL). Os triângulos representam aporcentagem da supressão obtida com a estimulação contralateral. a, b) Após injeções de 60 e90 mg/kg, respectivamente (nenhum efeito); c) Após 120 mg/kg: efeito parcial; d) Após umainjeção de 150 mg/kg: a magnitude da supressão contralateral começa a declinarprogressivamente, sendo inteiramente abolida cerca de 2 h após a injeção, e retorna ao normal48 h após.
neomicina, netilmicina, estreptomicina,tobramicina - efeitos agudos), além decisplatina e estricnina; e, grupo controle (NaCl).
Resultados e conclusões
Administração aguda e crônica comgentamicina
Os resultados indicam que existe umefeito dose-dependente da GM sobre asupressão contralateral, uma vez que umadose de 120 mg/kg produziu um bloqueiomenos importante do sistema eferente medial(figura 3), comparado a uma dose de 150 mg/kg. Por outro lado, nenhum bloqueio foiconstatado com doses inferiores (90 e 60 mg/
GP868 (60 mg/kg) GP868 (90 mg/kg)
GP868 (120 mg/kg) GP868 (150 mg/kg)
Po
tê
nc
ia
EA
B:
µµV
2
Su
pre
ssão
Su
pre
ssão
Po
tê
nc
ia
EA
B:
µµV
2
Tempo pós-injeção (min) Tempo pós-injeção (min)
Revista HCPA 1999;19 (2)194
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
kg). Durante um tratamento crônico com 60 mg/kg/dia de GM (10 dias), nenhuma modificaçãosignificativa da atividade de base do nervoauditivo em ausência de estimulação acústica,nem de sua supressão contralateral por umruído branco (55 dB SPL) foi observada.Cobaias monitoradas durante várias semanasapós o término do tratamento apresentaramuma redução progressiva tanto da atividade debase do nervo auditivo durante o silêncio,quanto dos coeficientes de supressãocontralateral. Entretanto, observou-se aomesmo tempo uma elevação dos limiaresauditivos, o que demonstra uma alteração dafunção auditiva (figura 4). Assim, esta primeiraparte da experiência demonstrou que umtratamento crônico com 60 mg/kg/dia de GM,ainda que ototóxico, não afeta a supressãoeferente contralateral, pelo menos antes doestabelecimento da ototoxicidade.
Efeitos agudos de outros aminosídeos
A tabela 1 resume os resultados obtidos.Constatamos que a netilmicina bloqueia o SEM(figura 5), embora de maneira menospronunciada que a GM. Por outro lado, aamicacina e a neomicina não apresentamnenhum efeito sobre o sistema eferente medial.
A tobramicina e a estreptomicina provocaramuma redução da supressão, emborafreqüentemente associada a uma redução daatividade de base (sem estimulação acústica).Entretanto, com a cisplatina, a supressãomanteve-se sempre presente, mesmo quandoa atividade de base global do nervo auditivosem estimulação contralateral encontrava-seseveramente reduzida. Não observamosefeitos específicos da estricnina sobre a funçãoeferente. Concluindo, nenhuma correlaçãoentre a especificidade e o grau de ototoxicidadedos AAs e sua ação sobre o sistema eferentemedial foi encontrada.
Referências
1. Russel IJ, Sellick PM. Intracellular studies of hair
cells in the mammalian cochlea. J Physiol
1978;284:261-90.
2. Brownell WE, Bader CR, Bertrand D, de
Ribeaupierre Y. Evoqued mechanical responses of
isolated outer hair cells. Science 1985;227:194-6.
3. Kachar B, Brownell WE, Altschuler R, Fex J.
Electrokinetic changes of cochlear hair cells.
Nature 1986;322:365-7.
4. Kalinec F, Holley MC, Iwasa KH, Lim DJ, Kachar
B. A membrane-based force generation
mechanism in auditory sensory cells. Proc Natl
Tabela 1. Média e desvio-padrão (DP) da atividade de base global (ABG) do nervo auditivo durante osilêncio (µV²) e sua supressão (%) durante a estimulação contralateral com um ruído branco (55 dBSPL), em função do tempo após a injeção (número de cobaias dentro dos parênteses)
Antes 1 h ~ 2 h 24/48 h
Tratamento
NaCl (n=6)
Gentamicina(n=60)
Amicacina (n=3)
Neomicina (n=5)
Netilmicina (n=6)
Estreptomicina (n=5)
Tobramicina (n=5)
Cisplatina (n=3)
ABG silêncio
(µV²)
60.1 ± 16.1
50.4 ± 38.6
53.5 ± 28.9
56.2 ± 29.0
53.5 ± 22.7
82.9 ± 22.6
72.4 ± 25.1
44.0 ± 11.0
Supressão
(%)
37.9 ± 5.4
38.5 ± 14.4
42.9 ± 4.2
35.3 ± 11.0
32.9 ± 7.5
42.1 ± 4.7
30.4 ± 3.4
29.4 ± 4.0
ABG silêncio
(µV²)
70.7 ± 15.9a
54.8 ± 41.0a
50.3 ± 25.2
66.9 ± 35.9
41.7 ± 16.7
73.8 ± 22.1
78.1 ± 20.0
33.8 ± 17.0
Supressão
(%)
37.3 ± 4.3
23.2 ± 15.0a
35.4 ± 2.9
35.3 ± 10.1
14.9 ± 7.2a
29.1 ± 7.3a
25.6 ± 6.0
30.1 ± 7.4
ABG silêncio
(µV²)
71.4 ± 17.4a
52.1 ± 38.8
53.0 ± 28.5
70.3 ± 37.6
41.2 ± 18.5
63.8 ± 31.3
74.6 ± 19.4
22.5 ± 3.1a
Supressão
(%)
38.2 ± 6.8
3.0 ± 10.3a
38.7 ± 0.2
35.7 ± 7.7
7.2 ± 7.5a
21.2 ± 5.2a
23.8 ± 8.5
31.1 ± 13.8
ABG silêncio
(µV²)
-
48.7 ± 31.2
53.3 ± 27.0
69.1 ± 45.8
53.6 ± 16.2
84.7 ± 21.9
74.3 ± 23.9
40.8 ± 17.3
Supressão
(%)
-
35.2 ± 10.1
39.9 ± 4.0
43.8 ± 20.1
28.0 ± 7.2
25.7 ± 4.4 a
32.8 ± 6.4
37.3 ± 3.8
aDiferença estatisticamente significativa quando comparado aos valores prévios ao tratamento (P < 0.05).
Revista HCPA 1999;19 (2) 195
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
Figura 4. a, b, c) Alterações da atividade de base global do nervo auditivo sem(círculos abertos) e com (círculos pretos) estimulação acústica contralateral (ostriângulos representam a porcentagem de supressão obtida pela estimulação acústicacontralateral), durante e após um tratamento crônico com gentamicina (60mg/kg/dia,durante 10 dias); d, e, f) Audiogramas correspondentes de cobaias avaliadas durantesemanas após o tratamento.
Figura 5. Efeitos da netilmicina (150 mg/kg) na atividade de base global do nervoauditivo sem (círculos abertos) e com (círculos pretos) estimulação acústicacontralateral numa cobaia representativa. Os triângulos correspondem à porcentagemde supressão.
GP 756
Dias Freqüência (kHz)
Po
tê
nc
ia
EA
B:
µµV
2GP 686
GP 718
Po
tê
nc
ia
EA
B:
µµV
2P
ot
ên
ci
a
EA
B:
µµV
2
Po
we
r:
µV
2
GP 234 (150 mg/kg i.m.)
Minutos
Su
pr
es
sã
o
:
%
Su
pre
ssão
%
Lim
iar:
dB
SP
L
Su
pre
ssão
%
Lim
iar:
dB
SP
L
Su
pre
ssão
%
Lim
iar:
dB
SP
L
AntesDepois de 10 injeções5 dias pós-Rx25 dias pós-Rx91 dias pós-Rx
AntesDepois de 10 injeções5 dias pós-Rx25 dias pós-Rx91 dias pós-Rx
AntesDepois de 10 injeções5 dias pós-Rx25 dias pós-Rx91 dias pós-Rx
Revista HCPA 1999;19 (2)196
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
Acad Sci USA 1992;89:8671-5.
5. Zenner HP. Motile responses in outer hair cells.
Hear Res 1986;22:83-90.
6. Flock A, Flock B, Ulfendahl M. Mechanisms of
movement in outer hair cells and a possible
structural basis. Arch Otorhinolaryngol
1986;243:83-90.
7. Brownell WE. Observations on a motile response
in isolated outer hair cells. In: Webster WR, Aitken
LM, editors. Mechanics of Hearing. Melbourne:
Monash University Press;1983;5-10.
8. Brownell WE. Microscopic observation of cochlear
hair cell motility. Scanning Electron Microscopy
1984(III):1401-6.
9. Brownell WE, Bader CR, Bertrand D, de
Ribeaupierre Y. Evoqued mechanical responses
of isolated outer hair cells. Science 1985;227:194-
6.
10. Slepecky N, Ulfendahl M, Flock A. Shortening and
elongation of isolated hair cells in response to
application of potassium gluconate, acetylcholine
and cationized ferritin. Hear Res 1988;34:119-26.
11. Plinkert PK, Gitter AH, Zenner HP. On the function
of the acetylcholine receptor in outer hair cells.
II. Vasalva 1989;54(Suppl 1):17-9.
12. Howard J, Hudspeth AJ. Compliance of the hair
bundle associated with gat ing of
mechanoelectrical transduction channels in the
bullfrog’s saccular hair cell. Neuron 1988;1:189-
99.
13. Hudspeth AJ. The ionic channels of a vertebrate
hair cell. Hear Res 1986:22:21-7.
14. Ashmore JF, Housley GD. Graded ionic properties
of isolated outer hair cells from the guinea pig
cochlea. J Physiol 1989;417:83.
15. Morrison D, Schindler RA, Wersall J. Quantitative
analysis of the afferent innervation of the organ
of Corti in the guinea pig. Acta Otolaryngol
1975;79:11-23.
16. Spoendlin H. Innervation patterns in the organ of
Corti of the cat. Acta Otolaryngol 1969;67:239-
47.
17. Spoendlin H. Neural anatomy of the inner Ear. In:
Jahn AF et Santos-Sacchi J, editors. Physiology
of the Ear. New York: Raven Press; 1988. P.201-
20.
18. Brown MC. Morphology of labelled afferent fibers
in the guinea pig cochlea. J Comp Neurol
1987;260:591-604.
19. Tasaki I. Nerve impulses in individual and auditory
nerve fibers of guinea pig. J Neurophysiol
1954;17:97-122.
20. Kiang NYS, Watanabe T, Thomas EC, Clark LF.
Discharge patterns of single fibres in the cat’s
auditory nerve. Res Monogr 35. Cambridge: MIT
Press; 1965.
21. Manley GA, Robertson D. Analysis of
spontaneous activity of auditory neurones in the
spiral gangl ia of guinea pig. J Physiol
1976;218:323-37.
22. Cooper NP. On the peripheral coding of complex
auditory stimuli: temporal discharge patterns in
the guinea pig cochlear nerve fibres [tese].
University of Keele; 1989.
23. Schreiner CE, Snyder RL. A physiological animal
model of peripheral tinnitus. Proceedings of the
III International Tinnitus Seminar; 1987; Munster.
p.100-6.
24. Dolan DF, Nuttall AL, Avinash G. Asynchronous
neural activity recorded from the round window. J
Acoust Soc Am 1990;87(6):2621-7.
25. Sininger YS, Eggermont JJ, King AJ.
Spontaneous activity from the peripheral auditory
system in tinnitus. In: Aran JM, Dauman R, editors.
Tinnitus; 1991.
26. Cazals Y, Huang Z. Average spectrum of
spontaneous activity at the round window modified
by sedation, anesthesia and salicylate. J Physique
IV 1994;(Suppl C5):415-8.
27. Guinan JJ Jr. Effect of efferent neural activity on
cochlear mechanics. Scand Audiol 1986;(Suppl
25):53-62.
28. Popelar J, Lima da Costa D, Erre JP, Avan P, Aran
JM. Contralateral suppression of the ensemble
background activity of the auditory nerve in awake
guinea pigs: effects of gentamicin. Auditory
Neuroscience 1996;3(4):425-33.
29. Rasmussen GL. The olivary peduncle and other
fiber projections of the superior olivary complex.
J Comp Neurol 1946;84:141-219.
30. Rasmussen GL. Efferent fibers of the cochlear
nerve and cochlear nucleus. In: Rasmussen GL,
Windle WF, editors. Neural mechanisms of the
auditory and vestibular systems. Springfield:
Charles C Thomas;1960. p.105-15.
31. Brown MC. Peripheral projections of labelled
efferent nerve fibres in the guinea pig cochlea:
an anatomical study. In: Abstract of the VIIth
Midwinter ARO Meet; 1985.p.9-10.
32. Guinan JJ Jr, Warr WB, Norris BE. Differencial
olivocochlear projections from lateral versus
medial zones of the superior olivary complex. J
Revista HCPA 1999;19 (2) 197
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
Comp Neurol 1983;221:358-73.
33. Pujol R, Puel J-L, Gervais d’Aldin C, Eybalin M.
Pathophysiology of the glutamatergic synapses
in the cochlea. Acta Otolaryngol 1993;113:330-
4.
34. Felix D, Ambühl P, Ehrenberger K. The efferent
modulat ion of inner hair cel l afferents.
Proceedings of the 28th Workshop on Inner Ear
Biology; 1991; Tübingen. p.42.
35. Puel JL. Rôle des systèmes efférents
olivocochléaires en conditions normales et
physiopathologiques. Le système efférent
cochléaire. Brochure Janssen 1994;26-30.
36. D’Aldin C, Eybalin M, Puel JL, Charachon G,
Ladrech S, Renard N, Pujol R. Synaptic
connections and putative functions of the
dopaminergic innervation of the guinea pig
cochlea. Eur Arch Otorhinolaryngol 1995;252:270-
4.
37. D’Aldin C, Puel JL, Leducq R, Crambes O, Eybalin
M, Pujol R. Effects of dopaminergic agonist in the
guinea pig cochlea. Hear Res 1995;90:202-11.
38. Aschoff A, Ostwald J. Different origins of cochlear
efferents in some bat species, rats and guinea
pigs. J Comp Neurol 1987;264:56-72.
39. Aschoff A, Ostwald J. Distribution of efferents and
olivo-cochlear neurons in the brainstem of rat and
guinea pig. Exp Brain Res 1988;71:241-51.
40. Robertson D. Brainstem localization of efferent
neurones projecting to the guinea pig cochlea.
Hear Res 1985;20:79-84.
41. Robertson D, Anderson CJ, Cole KS. Segregation
of efferent projections to different turns of guinea
pig cochlea. Hear Res 1987;25:69-76.
42. Stopp PE. The problem of obtaining reproducible
quantitative data of the olivocochlear pathway as
exemplified in the guinea pig. Eur Arch Oto-rhino-
laryngol 1990;247:29-32.
43. Engstrom H, Ades HW, Andersson A. Structural
pattern of the organ of Corti. Stockholm: Almqvist
and Wiksell: Sweden; 1966.
44. Ishii D, Balogh K. Distribution of efferent nerve
endings in the organ of Corti. Acta Otolaryngol
1968;66:262-8.
45. Nakai Y, Igarashi M. Distribution of the crossed
olivo-cochlear bundle terminals in the squirrel
monkey cochlea. Acta Otolaryngol 1974;77:393-
404.
46. Eybalin M. Neurotransmitters and
neuromodulators of the mammalian cochlea.
Physiol Rev 1993;73:309-73.
47. Housley GD, Ashmore JF. Direct measurement
of the action of acetylcholine on isolated outer
hair cells of the guinea pig cochlea. Proc R Soc
Lond Ser B Biol Sci 1991;244:161-7.
48. Plinkert PK, Zenner HP, Heilbronn E. A nicotinic
acetylcholine receptor-like alpha-bungarotoxin-
binding site on outer hair cells. Hear Res
1991;53:123-30.
49. Kakehata S, Nakagawa T, Akaike N. Cellular
mechanism of acetylcholine-induced response in
dissociated outer hair cells of guinea pig cochlea.
J Physiol Lond 1993;463:227-34.
50. Bartolami S, Planche M, Pujol R. Characterization
of muscarinic binding sites in the adult and
developing rat cochlea. Neurochem Int
1993;23:419-25.
51. Bartolami S, Ripol C, Planche M, Pujol R.
Localization of functional muscarinic receptors in
the rat cochlea: evidence for efferent presynaptic
autoreceptors. Brain Res 1993;626:200-9.
52. Warr WB. Efferent components of the auditory
system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980;89(Suppl
74):114-20.
53. Robertson D, Gummer M. Physiological and
morphological characterization of efferent
neurones in the guinea pig cochlea. Hear Res
1985;20:63-77.
54. Liberman MC. Rapid assessment of sound-
evoked olivocochlear feedback: suppression of
compound action potentials by contralateral
sound. Hear Res 1989;39:47-56.
55. Warren EH III, Liberman MC. Effects of
contralateral sound on auditory-nerve response.
I. Contributions of cochlear efferents. Hear Res
1989;37:89-104.
56. Warren EH III, Liberman MC. Effects of
contralateral sound on auditory-nerve response.
II. Dependence on stimulus variables. Hear Res
1989;37:105-22.
57. Wiederhold ML, Kiang NYS. Effects of electric
stimulation of the crossed olivocochlear bundle
on single auditory nerve fibers in the cat. J Acoust
Soc Am 1970;48:950-65.
58. Sridhar TS, Brown MC, Liberman MC. A novel -
slow effect - of olivocochlear stimulation on the
compound action potential of the auditory nerve.
17th Proc Annu Meet Assoc Res Otolaryngol;
1994; St Petersburg Beach. Abstract 400. p. 100.
59. Sridhar TS, Liberman MC, Brown MC, Sewell WF.
A novel cholinergic - slow effect - of efferent
stimulation on cochlear potentials in the guinea
Revista HCPA 1999;19 (2)198
Costa Ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
pig. J Neurosc 1995;15(5):3667-8.
60. Reiter ER, Liberman MC. Efferent mediated
protection from acoustic overexposure: relation
to - slow - effects of olivocochear stimulation. J
Neurophysiol 1995;73:506-14.
61. Schacht J, Zenner HP. Evidence that
phosphoinositides mediate motility in cochlear
outer hair cells. Hear Res 1987;31-55.
62. Rajan R, Johnstone BM. Binaural acoustic
stimulation exercises protective effects at the
cochlea that mimic the effects of electrical
stimulation of an auditory efferent pathway. Brain
Res 1988;459:241-55.
63. Rajan R. Protective functions of the efferent
pathways to the mammalian cochlea: a review.
In: Dancer AL, Henderson D, Salvi RJ, Hamernik
RP, editors. Noise induced hearing loss. St Louis:
Mosby year book; 199. p.429-44.
64. Kawase T, Delgutte B, Liberman MC. Antimasking
effects of olivocochlear reflex. II: Enhancement
of auditory nerve response to masked tones. J
Neurophysiol 1993;70:2533-49.
65. Puel JL, Bonfils P, Pujol R. Selective attention
modifies the active micromechanical properties
of the cochlea. Brain Res 1988;447:380-3.
66. Giard MH, Collet L, Bouchet P, Pernier J. Auditory
selective attention in the human cochlea. Brain
Res 1994;633:353-6.
67. Kohonen A. Effect of some ototoxic drugs upon
the pattern and innervation of cochlear sensory
cells in the guinea pig. Acta Oto-Laryngol
1965;(Suppl 208):1-70.
68. Rasmussen GL. Efferent fibers of the cochlear
nerve and cochlear nucleus. In: Rassmussen GL
& Windle WF, editors. Neural mechanisms of
auditory and vestibular systems. Springfield:
Charles C Thomas;1960. p.105-15.
69. Dulon D, Zajic G, Aran J-M, Schacht J.
Aminoglycoside antibiotics impair calcium entry
but not viability and motility in isolated cochlear
outer hair cells. J Neurosci Res 1989;10:1388-
97.
70. Hudspeth AJ, Kroese ABA. Voltage-dependent
interaction of dihydrostreptomycin with the
transduction channels in bullfrog hair cells
(Abstract). J Physiol 1983;345:66.
71. Kroese ABA, Das A, Hudspeth AJ. Blockage of
transduction channels of hair cells in bullfrog’s
sacculus by aminoglycoside antibiotics. Hear Res
1989;37:203-18.
72. Hiel H, Bennani H, Erre J-P, Aurousseau A, Aran
J-M. Kinetics of gentamicin in cochlear hair cells
after chronic treatment. Acta Oto-Laryngol
1992;112:272-7.
73. Hiel H, Erre J-P, Aurousseau C, Bouali R, Dulon
D, Aran J-M. Gentamicin uptake by cochlear hair
cells precedes hearing impairment during chronic
treatment. Audiology 1993;32:78-87.
74. Hiel H, Schamel A, Erre JP, Dulon D, Aran JM.
Cellular and subcellular localization of triated
gentamicin in the guinea pig cochlea following
combined treatment with ethacrynic acid. Hear
Res 1992;57:157-65.
75. Smith DW, Erre J-P, Aran J-M. Rapid, reversible
elimination of the medial olivocochlear function
following single injection of gentamicin in the
guinea pig. Brain Res 1994;652:243-8.
76. Avan P, Erre J-P, Lima da Costa D, Aran J-M,
Popelar J. The efferent-mediated suppression of
otoacoustic emissions in awake guinea pigs and
its reversible blockage by gentamicin. Exp Brain
Res 1996;109:9-16.
77. Popelar J, Lima da Costa D, Erre J-P, Avan P,
Aran J-M. Contralateral suppression of the
ensemble background activity of the auditory
nerve in awake guinea pigs: effects of gentamicin.
Auditory Neuroscience 1996;3(4):425-33.
78. Lima da Costa D, Erre J-P, Charlet de Sauvage
R, Popelar J, Aran J-M. Bioelectrical cochlear
noise and its contralateral suppression: relation
to background activity of the eighth nerve and
effects of sedation and anesthesia. Exp Brain Res
1997;116:259-69.
79. Hiel H. Distribuitions cellularaire et subcellulaire
de la gentamicine dans l ’oreil le interne et
développement de l’ototoxicité chez le cobaye
[tese]. Bordeaux: Université de Bordeaux II; 1991.
80. Hiel H, Erre J-P, Aurousseau C, Bouali R, Dulon
D, Aran J-M. Gentamicin uptake by cochlear hair
cells precedes hearing impairment during chronic
treatment. Audiology 1993;32:78-87.
81. Aran JM. Cibles cochléaires et vestibulaires des
aminoglycosides. In: Filastre, ed. Néphrotoxicité,
Ototoxicité médicamenteuses. Paris: INSERM;
1982:377-86.
82. Aran JM, Erre JP, Guilhaume A, Aurosseau C.
The comparative ototoxicities of gentamicin,
tobramycin and dibekacin in the guinea pig. A
functional and morphological cochlear and
vestibular study. Acta Otolaryngol 1982;(suppl
390):1-30.
83. Aran JM, Chappert C, Dulon D, Erre JP,
Revista HCPA 1999;19 (2) 199
CostaOtotoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos e sistema eferente
Aurousseau C. Uptake of amikacin by hair cells
of the guinea pig cochlea and vestibule and
ototoxicity: Comparison with gentamicin. Hear
Res 1995;82:179-83.
84. Eróstegui C, Sugasawa M, Dulon D.
Aminoglycosides antibiotics reversibly block
acetylcholine induced currents in guinea outer hair
cells. In: Popelka G, editor. Abstracts of 18th ARO
Midwinter Meeting; 1995. p.323-81.
85. Schacht J. Biochemical basis of aminoglycoside
ototoxicity. Otolaryngol Clin N Am 1993;26(5):845-
56.
86. Desmedt JE, Lagrutta V. Function of the
uncrossed efferent olivo-cochlear fibres in the cat.
Nature Lond 1963;200:472-3.
87. Laurell G. Ototoxicity of the anticancer drug
cisplatin. Scand Audiol 1991;(Suppl 3):1-48.
88. Saito T, Moataz R, Dulon D. Cisplatin blocks
depolarization induced calcium entry in isolated
cochlear outer hair cells. Hear Res 1991;56:143-
7.
Revista HCPA 1999;19 (2)200
Lavinsky et al. Utriculostomia: apresentação de uma nova técnica
Revista HCPA 1999;19(2):200-4
ARTIGO ORIGINAL
Utriculostomia: apresentação de uma novatécnica para tratamento cirúrgico da vertigem
Luiz Lavinsky1, Marcos Goycoolea2, Yuberi Zwetsch3
OBJETIVO: Apresentar uma nova técnica alternativa para o tratamento cirúrgico devertigem causada pela Doença de Ménière, a utriculostomia, desenvolvida no HCPA.MATERIAIS E MÉTODOS: A utriculostomia, que tem por base a obtenção de umafístula permanente no labirinto membranoso, através da aplicação de calor localizado,comunicando os espaços endo e perilinfático em nível do utrículo, foi testada em 12ovelhas, utilizando um microcautério por radiofreqüência com tempo de exposição etemperatura programáveis.RESULTADOS: Os resultados da utriculostomia foram verificados através dacomparação de padrões histológicos de ossos temporais de animais normais eoperados. Ao buscarem identificar a presença de neomembrana ou descontinuidadedo utrículo, os autores constataram a existência de neomembrana em 3 dos 5 animaisoperados, não havendo registro de nenhum caso de descontinuidade do utrículo.CONCLUSÃO: Foi viável a realização da cirurgia conservadora e seletiva do utrículopor via da janela oval no vestíbulo em ovelhas. Ficou demonstrada, ainda, a viabilidadedesta técnica cirúrgica mediante o uso do microcautério desenvolvido para este fim.
Unitermos: Utrículo; vertigem; janela oval; otocirurgia.
Utriculustomy: presentation of a new technique for the treatment of vertigoOBJECTIVE: To describe a new technique for the surgical treatment of vertigo causedby Ménière's disease, the utriculostomy, developed at HCPA.MATERIALS AND METHODS: The utriculostomy is based on the obtainment of apermanent fistule in the membranous labirynth, through the application of local heat toenable the endo and perilymphatic spaces to communicate in the utricule level. Thetechnique was tested in 12 sheep, using a microcautery by radiofrequency withprogrammable time and temperature.RESULTS: A histologic study of the temporal bones was performed to assess theoutcome of the utriculostomy. A neomembrane was observed in three out of fiveoperated sheep. There were no cases of utricule discontinuity.CONCLUSIONS: The results attest to the feasibility of performing the utriculostomythrough the oval window in sheep, especially with the microcautery that was especiallyfor this procedure
Key-words: Utricle; vertigo; oval window; otosurgery.
1 Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Departamento de Oftalmologia eOtorrinolaringologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correspondência:Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Serviço de Otorrinolaringologia, Ramiro Barcelos 2350, CEP 90035-003,Porto Alegre, RS, Brasil.
2 Clínica Las Condes, Chile.3 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Revista HCPA 1999;19 (2) 201
Lavinsky et al.Utriculostomia: apresentação de uma nova técnica
Introdução
A vertigem incapacitante é causada,principalmente, por doenças que destroemparcial ou totalmente as estruturas do labirintomembranoso (por exemplo, labirintites, lesõespós-traumáticas ou lesões vasculares) e pordoenças que provocam modificações nascaracterísticas químicas ou na quantidade doslíquidos (endolinfa e perilinfa) que estão nointerior do labirinto (Doença de Ménière). Emalguns casos, o labirinto periférico sofre lesõese passa a gerar informações anormais aoscentros cerebrais responsáveis pelo equilíbrio.Estes centros cerebrais, por sua vez,manifestam as alterações homeostáticasatravés da vertigem. Quando tais lesões sãoirreversíveis e incapacitantes, o tratamento deescolha é a cirurgia.
As técnicas existentes para tratamentocirúrgico de vertigem não são ideais, poisimplicam, muitas vezes, na destruição doouvido interno, inclusive da audição. Nasúltimas décadas, as tentativas de desenvolverlabirintectomias seletivas (ou seja, que atuamem setores específicos do labirinto posterior,preservando a audição) não obtiveramresultados satisfatórios. Atualmente, astécnicas mais empregadas para o tratamentoda vertigem são as quimiocirurgias,descompressão do saco linfático, neurectomiaretrolabiríntica, seção do nervo vestibular porfossa média, cocleosaculotomia,labirintectomia por via da janela oval e por viatranslabiríntica (1-6). A variedade decorre danecessidade de identificar uma técnica eficaz,conservadora e simples.
Assim, o objetivo do presente trabalho édescrever uma nova alternativa paratratamento cirúrgico de vertigem causada porDoença de Ménière, a utriculostomia,desenvolvida no Hospital de Clínicas de PortoAlegre.
Materiais e métodos
A utriculostomia tem por base a obtençãode uma fístula permanente no labirintomembranoso, comunicando os espaços endoe perilinfático em nível do utrículo. Estacomunicação permanente é obtida através da
aplicação de calor localizado. O calor localizadoprovocaria uma perfuração exígua, diferenteda perfuração obtida por punção. A punçãotende a um fechamento muito breve, já queprovoca uma ruptura linear do labirintomembranoso. Ao contrário, a abertura obtidacom o calor localizado permitiria o fechamentoda comunicação em momentos de intercrise ea reabertura em momentos de hidropsia. Autriculostomia foi testada em ovelhas, atravésda janela oval, utilizando um microcautério porradiofreqüência com programação de tempode exposição e temperatura. O estudopreliminar da ovelha como animal deexperimentação e o microcautério otológicodesenvolvido para o projeto já foram descritosanteriormente (7,8).
Antes da realização da utriculostomia, atécnica foi testada em um modelo experimentalem ovo de codorna. Um segmento deaproximadamente 1 cm de diâmetro foiremovido na extremidade do ovo, deixandoexposta a membrana amniótica, simulando aespessura da parede do utrículo. O ovo decodorna foi colocado em um suporte comumpara ovo. A seguir, a membrana foi puncionadacom uma agulha. Outras membranas foramcauterizadas com calor localizado, utilizando omicrotermocautério.
As ovelhas foram operadas em blococirúrgico no hospital veterinário da Faculdadede Veterinária da Universidade Federal do RioGrande do Sul. Foram utilizados mesa desustentação, equipamento de anestesia, brocapara cirurgia otológica (Electric Hand PieceSystem XL-030, Osada Electric Co. Ltd.), componteiras cortantes de diamante e peça de mãoreta e angulada, microscópio cirúrgico(Vasconcelos), equipado com luz fria e controlede foco motorizado, sistema de filmagem comcâmera (Sony Hyper Hand, CCd-Iris/RGB) egravador de vídeo (Sharp World Multi-TV).Foram empregadas ainda uma caixa deinstrumental cirúrgico completo deestapedectomia e outra detimpanomastoidectomia (estiletes, espéculos,pinças otológicas, curetas, retratores). Tambémutilizou-se material de cirurgia geral, comopinças, bisturi, termocautério (DeltronixEquipment Mod B 1001), sistema de aspiração(Dia-pump mod AM) e equipamento de
Revista HCPA 1999;19 (2)202
Lavinsky et al. Utriculostomia: apresentação de uma nova técnica
monitorização de nervo facial (Ati).A rotina anestesiológica foi padronizada
conforme descrição anterior (9). Os 12 animaismachos (28-32kg) submetidos à utriculostomiaforam adequadamente preparados para acirurgia (9).
Uma vez anestesiado o animal emonitorizado o nervo facial, procedeu-se aoacesso endopreauricular. As superfíciessuperior e anterior da parede óssea do condutoauditivo externo foram expostas. Com umabroca elétrica e brocas cortantes, ampliou-seo conduto externo e removeu-se suatortuosidade. A seguir foi feita umatimpanotomia, seguindo a rotina empregadanas estapedectomias.
Levando em conta as característicasanatômicas do ouvido médio da ovelha (10)procedeu-se à exposição do promontório,janela oval e região da janela redonda, nervofacial, nervo corda do tímpano, apófisepiramidal e ligamento tensor do estribo.
A seguir, procedeu-se à secção doligamento tensor do estribo, disjunçãoincudoestapediana, fratura da supraestruturado estribo e remoção de toda a platina. Umabroca de diamante foi utilizada para remoçãode aproximadamente 2 cm de rebordo posteriorda janela oval, em direção ao nervo facial,ampliando a janela oval e facilitando oprocedimento de cauterização no utrículo.
Utilizando o microtermocautério, componteira de 2mm, tempo de 0,5 s e intensidadede 3,5 W, procedemos à cauterização da
parede anterior do utrículo, parcialmente visíveldurante a otomicroscopia. Repetiu-se acauterização em três locais próximos entre si.A janela oval foi fechada com tecido adiposoretirado da região próxima à incisãoendopreauricular. O tecido adiposo foi cobertocom Gelfoam ®. A seguir, o retalhotimpanomeatal foi reposto e o conduto foitamponado com Gelfoam®; finalmente, foi feitoum curativo compressivo. Uma profilaxiaantibiótica foi realizada com ampicilina sódica(40mg/kg/dia), por 4 dias (1 dia antes e 3 apósa cirurgia).
Três meses depois da cirurgia, osanimais foram sacrificados. Os ossostemporais foram removidos com serra elétricapara realização do estudo histológico. O tempoentre o abate do animal e a colocação domaterial em solução não foi superior a 3minutos. Cortes coronais foram feitos em cincoossos temporais (escolhendo entre os ossostemporais de animais que se submeteram acirurgia, e que foi possível aplicar todos ospreceitos metodológicos antes referidos). Aspeças foram fixadas em solução de águadestilada (900 ml); formaldeído 37-40% (100ml); fosfato de sódio dibásico (anidro) (6,5 g);fosfato de sódio monobásico (4 g). Oprocessamento ocorreu conforme ametodologia modificada do método deSchucknecht (4). O estudo histológico foirealizado no laboratório de histopatologia daUniversity of Minnesota Otitis Media ResearchCenter. Procurou-se verificar a existência de
Figura 1. A) Perfuração de membrana em modelo com ovo de codorna utilizando agulha. B) Perfuraçãoproduzida com a utilização do microtermocautério.
Revista HCPA 1999;19 (2) 203
Lavinsky et al.Utriculostomia: apresentação de uma nova técnica
comunicação entre os espaços endo eperilinfático, ou de uma neomembrana, emnível do local cauterizado.
Resultados
Três modelos experimentais com ovos decodorna foram estudados. As figuras 1A e Bmostram o resultado de perfuração com agulhae com o uso do microtermocautério.
O cumprimento dos objetivos dautriculostomia experimental em ovelhas foiverificado através da análise histológica dosossos temporais. Foram analisados os corteshistológicos do vestíbulo de oito animais, trêsnormais e cinco operados. Nos ossos normais,foram identificados padrões histológicos quepudessem ser utilizados para comparação como grupo de estudo. Nos ossos cirúrgicos, emcortes de 10m, procurou-se identificar aexistência de neomembrana oudescontinuidade do utrículo.
Todos os casos não cirúrgicosapresentavam parede do utrículo semanomalias. Entre os cinco casos cirúrgicos, trêsapresentavam neomembrana na zona damácula utricular.
A figura 2 mostra um corte de utrículonormal. A figura 3 mostra o que consideramosser uma neomembrana em um caso cirúrgico.Nenhum caso de descontinuidade do utrículofoi registrado, sugerindo uma perfuraçãopermanente. Em um caso do grupo de normaisobtivemos uma imagem de perfuração;contudo, esta imagem foi considerada um
artefato.
Discussão
São conhecidos os riscos relativos àmanipulação no interior do vestíbulo,principalmente no caso das estapedectomias.Em conseqüência, as tentativas de realizarlabirintectomias parciais estiveram semprerelacionadas com atuações nos canaissemicirculares (10).
Foram encontradas apenas duasmenções, na literatura (11,12), a intervençõessobre o utrículo por via da janela oval. Naquelesartigos, os autores procederam à destruiçãodo utrículo utilizando laser argônio em cobaiase humanos, demonstrando a viabilidade deatuar nesta área. Utilizando sensores térmicos,Okuno et al. e Numura et al. (11,12) avaliaramo aumento de temperatura no local, aplicandouma cauterização de 1,5 W durante 0,5 s. Atemperatura na região a 1 mm do local deestimulação aumentou em 6 ºC. Com isto, todoo neuroepitélio do utrículo foi destruído. Estenão é o objetivo da utriculostomia, que pretenderealizar perfurações transitórias no vestíbulo,com reabertura durante hidropsias pelafragilidade do local onde houve a reabilitação.Especula-se que o calor localizado sobre outrículo pode reduzir também as células negrasdo labirinto, produtoras de endolinfa, trazendobenefícios com a redução da hipertensãoendolinfática.
Acreditamos que a utriculostomia sejaconservadora para com a audição, pois atua
Figura 3. Corte histológico de um caso cirúrgico. Outrículo apresenta uma parede frágil e irregular (seta),compatível com formação de neomembrana.
Figura 2. Corte histológico de utrículo normal (nãocirúrgico). Os números indicam 1) estribo; 2) paredeutricular integral; 3) sáculo; e 4) vestíbulo.
Revista HCPA 1999;19 (2)204
Lavinsky et al. Utriculostomia: apresentação de uma nova técnica
no utrículo, que não tem unidade anatômica efuncional com a cóclea, como é o caso dosáculo. Porém, estudos adicionais devemverificar especificamente este aspecto.
A ausência de perfurações bemidentificáveis na parede do utrículo e aexistência de áreas com aparente característicade neomembrana em 60% dos cinco ossostemporais operados sugerem que esteprocedimento é promissor para a Doença deMénière, devido à formação de um sistemavalvular que, em momentos de hidropsia,romperia mais precocemente as zonas deneomembrana. Isto determinaria menos danoao ouvido interno, que permaneceria menostempo hidrópico; o fechamento daneomembrana poderia evitar uma prolongadamistura iônica de sódio e potássio,determinante da degeneração cócleo-vestibular e da sintomatologia do paciente.Além disso, a resultante destruição das célulascinzentas também poderia reduzir a hidropsia.
Consideramos promissor este métodopara a destruição de setores específicos dolabirinto, como é o caso da ampola do canalsemicircular posterior em pacientes comvertigem posicional incapacitante. À medidaque adquirimos experiência, a utriculostomiase tornou uma cirurgia harmônica, commicrocauterização da parede do vestíbulo egrande precisão e viabilidade no que concernea detalhes da técnica. Assim, pode-se concluirque foi viável a realização de cirurgiaconservadora e seletiva do utrículo por via dajanela oval no vestíbulo, em ovelhas. Ficoudemonstrada, ainda, a viabilidade desta técnicacirúrgica mediante o uso de microtermocautériodesenvolvido para esse fim.
Referências
1. Hellström S, Odkvist L. Pharmacologic
labyrintectomy. Otolaryngol Clin North Am
1994;27(2):307-15.
2. Paparella MM, Schachern PA, Goycoolea MV.
Perilymphatic hypertension. Otolaryngol Head
Neck Surg 1988;99(4):408-13.
3. Silverstein H, Norrel H, Smouha EE. Natural
history versus surgery for Ménière’s disease.
Otolaryngol Head Neck Surg 1989;100(1):6-16.
4. Schuknecht HF. Cochleosacculotomy for
Ménière’s disease: theory, technique and results.
Laryngoscope 1982;92:853-8.
5. Schuknecht HF, Pillsbury H. Ablation therapy for
the relief of Ménière’s disease. Laryngoscope
1956;66:859-70.
6. Pulec JL. The surgical treatment of vertigo.
Laryngoscope 1969;79(10):1783-822.
7. Lavinsky L, Goycoolea M. In search of a teaching,
training and experimental model for otological
surgery: A study of sheep ear anatomy. In: Tos
M, Thomsen J, Balle V, editors. Otitis Media Today.
Proceedings of the Third Extraordinary
Symposium on Recent Advances in Otitis Media.
The Hague:Kugler Publications;1999. p.341-8.
8. Lavinsky L, Sanches PRS, Cunha UM, Thomé
PRO, Müller AF, Pereira Jr D, Guimarães Filho
UL, Fraga R, Silva DB, Souza M. Avaliação da
funcional idade em seres humanos de
microcautério otológico com dispositivo de
aspiração e descolamento. Rev Bras
Otorrinolaringologia 1998;64(6 Parte 1):571-6.
9. Lavinsky L, Goycoolea M, Ganança MM, Zwetsch
Y. Surgical treatment of vertigo by utriculostomy:
An experimental study in sheep. Acta Otolaryngol
(Stockh) 1999;119:522-7.
10. Parnes L. Posterior semicircular canal occlusion
for benign paroxysmal positional vertigo. In:
Otologic Surgery. Philadelphia: W. Saunders
Company;1994. p.545-53.
11. Okuno T, Nomura Y, Young Y. Ablation of otolithic
organs with argon laser. Acta Otolaryngol
1991;481:(suppl):607-9.
12. Nomura Y, Okuno T, Young Y, Hara M. Laser
labyrinthectomy in humans. Acta Otolaryngol
1991;111:319-26.
Revista HCPA 1999;19 (2) 205
Sanches et al.Microcautério I: Características técnicasARTIGO ORIGINAL
Novo equipamento desenvolvido no HCPA paracirurgia otológica (microcautério).Parte I – Características técnicas
Paulo Roberto S. Sanches1, Luiz Lavinsky2, Paulo Ricardo O. Thomé 1
Este artigo apresenta a descrição de um microcautério otológico com dispositivos deaspiração e descolamento para utilização em cirurgia otológica. O microcautério foidesenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pelos setores de EngenhariaBiomédica e Otorrinolaringologia.
Unitermos: Otocirurgia; termocauterização.
New equipment developed at HCPA for otologic surgery(microcautery). Part I - technical specificationsThis article presents the description of an otologic microcautery with aspiration anddetachment devices to be used in otologic surgery. The microcautery was developedat Hospital de Clínicas de Porto Alegre, by the Biomedical Engineering andOtorhinolarygology departments.
Key-words: Otosurgery; thermocauterization.
1 Setor de Engenharia Biomédica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre.2 Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Departamento de Oftalmo e
Otorrinolaringologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correspondência:Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Serviço de Otorrinolaringologia, Ramiro Barcelos 2350, CEP 90035-003,Porto Alegre, RS, Brasil.
Revista HCPA 1999;19(2):205-7
Introdução
Os microcautérios são utilizados paracirurgia em diversas especialidades médicas(1-4). Em 1994, com base na concepção dosegundo autor, o serviço de engenhariabiomédica do Hospital de Clínicas de PortoAlegre (HCPA) desenvolveu um equipamentoeletrocirúrgico capaz de realizarmicrocauterizações com elevado grau decontrole e precisão, em baixas potências desaída. O equipamento foi desenvolvido comoparte de um projeto maior, para testagem deuma nova modalidade de cirurgia otológica, a
utriculostomia (5). O microcautério otológico,que foi denominado Microcautério Lavinsky/HCPA possibilita a execução de procedimentosde corte e/ou cauterização, sendo o calorgerado no próprio tecido biológico, através daaplicação de uma corrente elétrica de altafreqüência.
Posteriormente, o microcautério foiaperfeiçoado com a inclusão de um mecanismode aspiração e descolamento, que abriudiversas novas possibilidades para a execuçãode novas tarefas cirúrgicas, inclusive arealização dos procedimentos de cauterização,aspiração e descolamento com um único
Revista HCPA 1999;19 (2)206
Sanches et al. Microcautério I: Características técnicas
instrumento, dando maior efetividade àexecução de cirurgias otológicas.
Descrição do equipamento
O microcautério utiliza ponteirasconfeccionadas a partir de finos tubos de açoinox, revestidos com material isolante(Capanyl®). As extremidades, cujos diâmetrosvariam de 0,2 a 1,0 mm, não têm revestimento,e seu formato varia conforme o tipo de emprego(corte, aspiração ou descolamento) (figuras 1e 2).
A caneta eletrocirúrgica, à qual seconectam as ponteiras, por encaixe tipobaioneta, consiste de um corpo oco de formatoanatômico, usinado em Technyl®. A caneta éligada ao equipamento eletrônico através deum cabo flexível e ao dispositivo de aspiraçãoatravés de um tubo flexível com diâmetro de 3a 4 mm. As peças podem ser facilmenteremovidas para esterilização. As ponteiras ecanetas foram projetadas para se adaptaremao uso nos procedimentos de ouvido médio viaconduto auditivo externo.
Um circuito temporizador automático,
comandado por pedal, garante ajuste precisodo tempo de fornecimento da potência deradiofreqüência (RF) ao tecido. A potênciamáxima é de 35 Watts RMS, ajustável de 5 a100%. A decisão de utilizar a corrente de RFdeveu-se ao fato de que esta não causaqualquer estímulo nervoso ou muscular eapresenta uma excelente distribuiçãosuperficial sobre o corpo do paciente. Alémdisso, a corrente de RF permite um elevadograu de localidade e controle de atuação. Ascaracterísticas técnicas do microcautérioLavinsky/HCPA aparecem no quadro 1.
A densidade de corrente na extremidadeque está em contato com o paciente é o fatordeterminante dos efeitos que podem serobtidos com o microcautério. Quanto maior fora densidade da corrente, mais intenso é o efeitoobtido, pois toda a corrente concentra-se emuma minúscula área, a ponta do eletrobisturi.A corrente elétrica concentrada pode explodiras células do tecido, vaporizandoinstantaneamente os líquidos em seu interior(efeito de corte) ou apenas aquecer localmenteo tecido, com maior ou menor grau deressecamento (efeito coagulante ou
Figura 2. Caneta eletrocirúrgica. A) corpo dacaneta; B) conector para cabo de saída doequipamento; C) tubo flexível para sucção; D)ponteiras intercambiáveis.
Figura 1. Microcautério e ponteiras para corte, aspiraçãoou descolamento.
Revista HCPA 1999;19 (2) 207
Sanches et al.Microcautério I: Características técnicas
ressecante). Isto permite a execução deprocedimentos de corte, cauterização edescolamento em regiões de difícil acesso,com apenas um instrumento.
Discussão e conclusões
A viabilidade do microcautério já foitestada, conforme artigo publicado nesteexemplar e em publicações anteriores (5, 6).O microcautério apresenta diversas vantagensem relação a outros métodos de cirurgiaotológica. Em relação ao laser de argônio, ocusto de utilização do microcautério oscila entre5 e 10% do valor pago ao laser e o calorconcentrado na extremidade da ponteira emcontato com o tecido garante maior precisão.Além disso, a ponteira pode ser conformada efazer angulações de acordo com anecessidade. A atuação do laser, por sua vez,muitas vezes se restringe em função daangulação do raio incidente. O microcautériotambém apresenta vantagens em relação amétodos que exigem o uso de drogas como aadrenalina ou outros vasoconstritores paracontrolar o sangramento. O uso destas drogasrepresenta risco para o paciente e para oouvido interno, já que a droga pode serabsorvida pela janela redonda. Em suma, é
Características Técnicas
Potência máxima
Freqüência de operação
VoltagemModo de operação
Microponteiras
Especificações
grande o potencial de utilização domicrocautério. Este equipamento, que estáatualmente sendo testado em outros projetos,traz, comprovadamente, benefícios objetivosao cirurgião e ao paciente.
Referências
1. Malis LI. Electrosurgery. Technical note. J
Neurosurg 1996;85:970-5.
2. Edell ES. Future therapeutic procedures. Chest
Surg Clin N Am 1996;6:381-95.
3. Odell RC. Electrosurgery: principles and safety
issues. Clin Obstet Gynecol 1995;38:610-21.
4. Gahankari DR. Technique for experimental
surgery: simple cautery for experimental
microvascular surgery. Microsurgery
1994;15:211-2.
5. Lavinsky L, Goycoolea M, Ganança MM, Zwetsch
Y. Surgical treatment of vertigo by utriculostomy:
An experimental study in sheep. Acta Otolaryngol
1999;119:522-7.
6. Lavinsky L, Sanches PRS, Cunha UM, Thomé
PRO, Müller AF, Pereira Jr D, et al. Avaliação da
funcional idade em seres humanos de
microcautério otológico com dispositivo de
aspiração e descolamento. Rev Bras
Otorrinolaringologia 1998;64(6):571-6.
35 W RMS
1,2 MHz110/220 V
Contínuo ou temporizado (0.05 s -2.0 s)
0,2 a 1 mml Microcautério monopolar por radiofreqüência, com controle de
potência e temporização
l Ciclo ativo de trabalho ajustávell Alarmes e proteções
l Ponteiras adaptadas ao descolamento e corte, com integração de
um sistema de aspiração e cauterização na mesma unidadel Controle por pedal
Quadro 1. Características técnicas do dispositivo de microcauterização com aspiração edescolamento Lavinsky/HCPA
Revista HCPA 1999;19 (2)208
Lavinsky et al. Microcautério II: estudo em seres humanosARTIGO ORIGINAL
Novo equipamento desenvolvido no HCPA paracirurgia otológica (microcautério).
Parte II – Estudo em seres humanos
Luiz Lavinsky1, Paulo R.O. Thomé 2,Paulo R.S. Sanches2, Danton P. Silva Jr.2, EL Ferlin2
OBJETIVO: Descrever a avaliação, em cirurgias de ouvido médio em seres humanos,do microcautério otológico Lavinsky/HCPA.MATERIAIS E MÉTODOS: Vinte e quatro pacientes com indicação paraestapedectomias e timpanoplastias unilaterais ou bilaterais foram selecionados. Foramexcluídos pacientes com doenças sistêmicas, como hipertensão arterial sistêmicanão controlada e discrasia sangüíneas. Os pacientes foram divididos em dois grupos:12 foram operados com o microcautério e 12, sem. As cirurgias foram gravadas emvídeo e avaliadas por dois cirurgiões otológicos, cegos para o tipo de procedimentoutilizado. Os resultados foram qualificados como ótimo, bom, regular ou ruim. Oparâmetro utilizado na avaliação foi hemostasia.RESULTADOS: Os avaliadores qualificaram como ótimo o resultado global de todasas cirurgias realizadas com o microcautério. No grupo controle, um avaliador qualificou42% das cirurgias como ruim e 58% como regular.CONCLUSÕES: O uso do microcautério demonstrou benefícios concretos emcomparação com métodos convencionais.
Unitermos: Otocirurgia; hemostase; termocauterização.
New equipment for otologic surgery developed at HCPA (microcautery).Part II - Study in human beingsOBJECTIVE: To describe the evaluation, in middle ear surgeries in human beings, ofthe Lavinsky/HCPA otologic microcautery .MATERIALS AND METHODS: Twenty-four patients with indication for unilateral orbilateral stapedoctomies and tympanoplasties were selected. Patients presentingsystemic diseases, non controlled systemic arterial hypertension and blood dyscrasiawere excluded. Patients were divideded into two groups: 12 were operated with themicrocautery and 12 without it. Surgeries were videotaped and evaluated by two otologicsurgeries, blind to the kind of procedure used. Surgeries were classified as excellent,good, regular and poor. Hemostasis was the parameter considered in the evaluation.RESULTS: The evaluators considered as excellent the overall outcome of all surgeriesperformed with the microcautery. In the control group, one evaluator qualified 42% of
1 Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Departamento de Oftalmo eOtorrinolaringologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correspondência:Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Serviço de Otorrinolaringologia, Rua Ramiro Barcelos 2350, CEP 90035-003, Porto Alegre, RS.
2 Setor de Engenharia Biomédica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Revista HCPA 1999;19 (2) 209
Lavinsky et al.Microcautério II: estudo em seres humanos
surgeries as poor and 58% as regular.CONCLUSIONS: The utilization of the microcautery had concrete benefits incomparison with conventional methods.
Key-words: Otosurgery; hermostasis; thermocauterization.
Revista HCPA 1999;19(2):208-10
Introdução
O microcautério Lavinsky HCPA, descritona presente Revista e em outras publicações(1), foi desenvolvido em 1994 e utilizado, pelaprimeira vez, em um projeto de pesquisaexperimental com ovelhas (2,3). A partir destaexperiência bem-sucedida, o Comitê de Éticado Hospital de Clínicas de Porto Alegre aprovoua utilização do equipamento para protocolo depesquisa envolvendo seres humanos.
O presente trabalho descreve osresultados da realização de cirurgias de ouvidomédio utilizando ou não o microcautério.
Pacientes e métodos
Vinte e quatro pacientes com indicaçãopara estapedectomias e timpanoplastiasunilaterais e bilaterais foram incluídos noestudo. Na seleção, foram excluídos pacientescom doenças sistêmicas concomitantes quepudessem interferir na avaliação dosangramento transoperatório (por exemplo,hipertensão arterial sistêmica não-controladae discrasias sangüíneas). Os pacientes foramdivididos aleatoriamente em dois grupos: 12pacientes foram operados com o microcautério(grupo de estudo) e 12 foram operados comequipamento convencional (grupo controle). Ospacientes do grupo de estudo assinaram umformulário de consentimento informado.
Os 24 procedimentos foram gravados emvídeo. Para tanto, utilizou-se uma câmera (KarlStorz) acoplada ao microscópio. Todos osprocedimentos foram realizados pelo mesmocirurgião. As fitas foram editadas de forma aeliminar as imagens que evidenciavam quaiscirurgias haviam sido realizadas com omicrocautério, de forma a garantir umaavaliação cega.
Dois cirurgiões otológicos, nãopertencentes ao grupo de pesquisadores,
assistiram às gravações das cirurgias,qualificando os procedimentos, conforme ahemostasia, como ótimo (ausência desangramento); bom (sangramento mínimo,sem interferência na rotina cirúrgica); regular(sangramento que interferiu na rotina cirúrgica);ou ruim (sangramento profuso, exigindocondutas adicionais para o prosseguimento dacirurgia).
Resultados
Os resultados das avaliações aparecemna Tabela 1. Todas as cirurgias realizadas como microcautério foram qualificadas como ótimo.O microcautério mostrou-se superior aométodo cirúrgico convencional em relação àhemostasia. A cauterização dos vasosprovocou um sangramento menor e possibilitoumelhor visualização do campo cirúrgico.
Discussão
Nossa experiência demonstra que omicrocautério Lavinsky/HCPA pode serutilizado com vantagens em meringotomias emeringoplastias, para incisões, descolamentode retalho tímpano-meatal, reavivamento debordos de perfuração, secção de aderências ehemostasia; nas estapedectomias, além destesitens, o microcautério pode sem empregadona secção do tensor do estribo, disjunçãoíncudo-estapediana, remoção e hemostasia damucosa do nicho da janela oval; e nastimpanomastoidectomias, o microcautérioserve também para remoção em segundotempo de aderência de tecidos de granulação.Finalmente, o microcautério pode serempregado para microcauterização emlabirintectomias seletivas. Em geral, omicrocautério proporciona maior comodidadeno procedimento cirúrgico, o que, sem dúvida,contribui para o sucesso destas cirurgias.
Revista HCPA 1999;19 (2)210
Lavinsky et al. Microcautério II: estudo em seres humanos
Paciente Cirurgia
Caso 1 Timpanoplastia bilateral ouvido direito Ótimo Ótimo
Caso 2 Timpanoplastia bilateral ouvido esquerdo Ótimo ÓtimoCaso 3 Estapedectomia unilateral ouvido direito Ótimo Ótimo
Caso 4 Timpanoplastia unilateral ouvido esquerdo (técnica de House) Ótimo Ótimo
Caso 5 Estapedectomia unilateral ouvido direito Ótimo ÓtimoCaso 6 Tímpano-exploradora unilateral ouvido esquerdo Ótimo Ótimo
Caso 7 Timpanoplastia simples ouvido esquerdo Ótimo Ótimo
Caso 8 Timpanoplastia ouvido esquerdo Ótimo ÓtimoCaso 9 Timpanoplastia ouvido esquerdo Ótimo Ótimo
Caso 10 Timpanomastoidectomia ouvido esquerdo Ótimo Ótimo
Caso 11 Estapedectomia unilateral ouvido esquerdo Ótimo ÓtimoCaso 12 Timpanoplastia com mastoidectomia Ótimo Ótimo
Controle 1 Timpanoplastia bilateral Ruim Ruim
Controle 2 Timpanoplastia bilateral Ruim RegularControle 3 Timpanoplastia unilateral ouvido direito Regular Regular
Controle 4 Timpanoplastia unilateral ouvido esquerdo Regular Regular
Controle 5 Timpanomastoidectomia ouvido direito Regular RegularControle 6 Tímpano-exploradora ouvido esquerdo Ruim Ruim
Controle 7 Tímpano-exploradora ouvido esquerdo Regular Regular
Controle 8 Mastoidectomia ouvido direito Ruim RegularControle 9 Timpanoplastia ouvido esquerdo Regular Regular
Controle 10 Estapedectomia ouvido esquerdo Ruim Ruim
Controle 11 Timpanoplastia ouvido esquerdo Regular RegularControle 12 Estapedectomia ouvido esquerdo Regular Regular
Agradecimentos. Agradecemos o apoio daFundação de Amparo à Pesquisa do Estadodo Rio Grande do Sul (FAPERGS), queconcedeu bolsas de iniciação científica a RafaelFraga, Daniela B. da Silva e Marcelo de Souza.
Referências
1. Lavinsky L, Sanches PRS, Cunha UM, Thomé
PRO, Müller AF, Pereira Jr D, Guimarães Filho
UL, Fraga R, Silva DB, Souza M. Avaliação da
funcional idade em seres humanos de
microcautério otológico com dispositivo de
Tabela 1. Avaliação dos procedimentos cirúrgicos com (casos) ou sem (controles) utilização do
microcautério
aspiração e descolamento. Rev Bras
Otorrinolaringologia 1998;64(6 Parte 1):571-6.
2. Lavinsky L, Goycoolea M, Ganança MM, Zwetsch
Y. Surgical treatment of vertigo by utriculostomy:
An experimental study in sheep. Acta Otolaryngol
(Stockh) 1999;119:522-7.
3. Lavinsky L, Goycoolea M. In search of a teaching,
training and experimental model for otological
surgery: A study of sheep ear anatomy. In: Tos
M, Thomsen J, Balle V, editors. Otitis Media
Today. Proceedings of the Third Extraordinary
Symposium on Recent Advances in Otitis Media.
The Hague: Kugler Publications; 1999. p. 341-8.
Avaliação 1 Avaliação 2
Revista HCPA 1999;19 (2) 211
Jotz et al.Qualidade vocal de crianças sem queixas vocaisARTIGO ORIGINAL
Avaliação da qualidade vocal de criançassem queixas vocais: estudo prospectivo
duplo-cego1
Geraldo P. Jotz2, Onivaldo Cervantes3, Marcio Abrahao4,Elisabeth C. de Angelis5, Viviane A. de Carvalho6,
Roberta Busch6, Luciana P. do Vale6
OBJETIVO: Avaliar a qualidade vocal de crianças que não apresentam queixas dedistúrbios na voz. As crianças foram analisadas quanto à possível presença e tipo delesão, quanto ao tipo de coaptação das pregas vocais, e quanto à rouquidão, asperezae soprosidade da voz.MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avalidas 50 crianças do sexo masculino, escolhidasaleatoriamente, na faixa etária de 3 a 10 anos, que não apresentavam queixasotorrinolaringológicas. To das as crianças passaram por exame otorrinolaringológico,seguido de videofibrolaringoscopia e avaliação fonoaudiolóigica.RESULTADOS: Das 50 crianças, 25 foram classificadas como normais. Oito eramportadoras de cisto e 17, portadoras de nódulo vocal, todas sem queixas vocais.Observamos que a qualidade vocal normal esteve presente de maneira significativano grupo normal, enquanto a rouquidão e a soprosidade estiveram associadas demaneira significativa ao grupo patológico. Nós não observamos diferença significativaquanto a qualidade vocal ao analisarmos a coaptação glótica e a constrição laríngea.CONCLUSÕES: A qualidade vocal do tipo rouca e soprosa está associada de maneirasignificativa às com lesão estrutural das pregas vocais e a qualidade vocal normal, àscrianças sem lesão estrutural. Assim, deve-se atentar para a presença de rouquidãoem crianças de forma a permitir o diagnóstico precoce de alterações laríngeas e,conseqüentemente, a terapêutica.
Unitermos: Crianças; voz; distúrbios vocais; avaliação fonoaudiológica.
Vocal quality evaluation in children without voice disorders: a prospective anddouble-blind studyOBJECTIVE: To evaluate the vocal quality of children without voice disorders, analyzing
1 Trabalho realizado na Disciplina de Otorrinolaringologia, Setor de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Escola Paulistade Medicina, Universidade Federal de São Paulo.
2 Faculdade de Medicina, Universidade Luterana do Brasil. Correspondência: Rua Dom Pedro II 891/604, CEP90550-142, Porto Alegre, RS, Brasil.
3 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; Faculdade de Fonoaudiologia, UniversidadeBandeirantes de São Paulo; Setor de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Escola Paulista de Medicina, UniversidadeFederal de São Paulo.
4 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo.5 Faculdade de Fonoaudiologia, Centro Universitário São Camilo e CEFAC; Departamento de Fonoaudiologia,
Hospital A. C. Camargo.6 Fonoaudiólogas clínicas.
Revista HCPA 1999;19 (2)212
Jotz et al. Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
the possible presence and type of lesion, glottic coaptation and laryngeal constriction,roughness and breathiness vocal quality.MATERIALS AND METHODS: We evaluated 50 male children, aged 3 to 10, randomlyselected, who did not present otorhinolaryngological disorders. All children went throughan otorhinolaryngological exam, followed by videofibrolaryngoscopy and speechpathology evaluation.RESULTS: Out of the 50 children, 25 were classified as normal. Eight presented withcysts, and 17 had vocal nodules. We observed that normal vocal quality was significantin the normal group, while roughness and breathness were associated with thepathological group. We did not find a significant difference in vocal quality when weanalyzed glottic coaptation and laryngeal constriction.CONCLUSIONS: Roughness and breathness were significantly associated withstructural lesions of the vocal fold, while a normal vocal quality was associated withabsence of structural lesions. The authors concluded that all signs of roughness orbreathness should be considered in order to allow an early diagnosis of laryngealalterations and, consequently, early treatment.
Keywords: Children; voice; voice disorders; speech pathology evaluation.
Revista HCPA 1999;19(2):211-9
Introdução
Freqüentemente, constatamos quemuitas crianças consideradas normais por paise professores apresentam distúrbios vocais dosmais diversos, que podem ocasionarproblemas futuros no seu desenvolvimentoeducacional e social.
A percepção da qualidade vocal éimportante, pois nos faz suspeitar de afecçõesdas pregas vocais passíveis de tratamentoclínico ou cirúrgico. Os parâmetros subjetivosde avaliação vocal, como a análise perceptivaauditiva, apesar de amplamente usados,necessitam de dados mais concretos parainterpretação das disfonias.
Silverman e Zimmer (1) realizaramtriagem da voz de crianças do jardim dainfância à oitava série do primeiro grau em umaescola do estado de Wisconsin (E.U.A), ondea avaliação foi realizada de forma subjetiva porfonoaudiólogos, isto é, através da análiseperceptiva auditiva da voz de cada uma dascrianças. Observaram que 38 (23,4%) das 162crianças da escola apresentavam-se roucas,que a incidência maior foi nas primeiras séries
e que o número de meninos (28,9%) queapresentavam esta desordem foi maior emrelação ao número de meninas (17,7%). Naterceira série do curso primário, os meninosapresentaram pico de disfonia, sendo relatadoque 50% das crianças avaliadasapresentavam-se disfônicas. Das 38 criançasdiagnosticadas portadoras de rouquidãocrônica, 10 foram encaminhadas para exameotorrinolaringológico. Em sete (77,7%) foramdiagnosticados nódulos vocais bilaterais, sendoque cinco eram meninos e duas, meninas.
Em relação às influências psíquicas navoz, Carlin e Saniga (2) avaliaram o efeito dasala de aula (educação especial e regular)sobre a incidência de crianças e professorescom abuso vocal. A análise mostrou que oscritérios de julgamento de abuso vocal diferemnos dois grupos de professores, enquanto queo ambiente infantil não teve diferençasignificativa na qualidade vocal. Os professoresde escola especial observaram que seusalunos apresentavam-se com ação vocal maisabusiva, possivelmente pelo próprio ambientede convivência, em virtude da interação socialafetiva destas crianças. Apesar deste fator, os
Revista HCPA 1999;19 (2) 213
Jotz et al.Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
autores relataram que os professores deeducação especial são melhor treinados paradetectar crianças com alterações vocais eencaminhá-las mais precocemente à terapia,quando comparados com professores de sériesregulares.
Andrews (3), ao estudar a emissãosustentada de determinadas vogais paraavaliar os distúrbios da voz, relatou que osvalores médios do tempo máximo fonatóriopara as três vogais /Y /, /i/ e /u/ nãoapresentaram diferença significativa.
Fex (4) revisou os conceitos de avaliaçãoperceptiva auditiva, onde observou a existênciade uma enormidade de termos subjetivos paraque fosse avaliada a voz de uma pessoa.Relatou que por muitos anos a AssociaçãoInternacional de Logopedia e Foniatria teve umcomitê para adequar uma terminologia quefosse aceitável para a maioria de seusmembros, não sendo esta tarefa bem sucedida.Em 1981, o comitê de testes da funçãofonatória da Sociedade Japonesa deLogopedia e Foniatria propôs uma escala deavaliação da rouquidão distribuída em quatroníveis: voz rouca, soprosa, astênica e tensa.
Andrews (5) descreveu fatores quepoderiam influenciar a voz dos jovens, como oestágio da vida em que se encontravam, osobjetivos por eles traçados, bem como osfatores pertinentes ao estilo de vida. Referiutambém que o físico, o ambiente, o estadocognitivo e a questão psicossocial seriamrelevantes. A autora relatou que o tipo dedesordem vocal estaria relacionada ao grupoetário da população jovem: os pré-adolescentes, em seu desenvolvimentohabitual, usam a voz de modo exagerado; jáos adolescentes estariam mais na fase de ouvirsons em volume muito alto e falar em demasiano telefone, mecanismos estes inerentes àprópria maturação do jovem.
Mcallister et al. (6) avaliaram a relaçãoentre o perfil vocal e fisiológico e ascaracterísticas perceptivas da voz em criançascom 10 anos de idade, provenientes de trêsescolas públicas de Estocolmo, Suécia.Realizaram a fibrolaringoscopia e a gravaçãoda voz de 60 crianças, sendo 36 (60%) meninose 24 (40%) meninas. Quanto à qualidade vocal,14 (23,3%) crianças apresentavam-se roucas
e duas (3,3%), ásperas. Dentre as alteraçõesanatômicas e funcionais, só foi possível arealização da fibrolaringoscopia em 51crianças. Destas, observaram que seis (11,7%)meninos apresentavam nódulos vocais e que14 (27,4%) crianças (nove meninos e cincomeninas) apresentavam algum tipo de fendaglótica.
Rabinov et al. (7) realizaram a análiseperceptiva auditiva da aspereza vocal e amedida acústica do jitter de 50 amostras vocais,sendo 29 homens e 21 mulheres, todos adultos.Foram colhidos os dados através da análiseacústica do laboratório de voz CSL (KayElemetrics) com a emissão sustentada da vogal/Y/. Observaram que a medida acústica do jittertem vantagens sobre a análise perceptivaauditiva, discriminando pequenas variações emvozes normais. Entretanto, para discriminarvozes disfônicas, relataram que a análiseperceptiva auditiva foi tão boa quanto ou melhorque a análise acústica.
Bodt et al. (8) relataram que a avaliaçãoperceptiva é um método fundamental deanálise da qualidade vocal, apesar de serobjeto de muita controvérsia pela falta decorrelação objetiva. Referem que aterminologia de avaliação da qualidade vocalnão é universalmente aceita, apesar da escalada Sociedade Japonesa de Logopedia eFoniatria (overall grade of hoarseness,roughness, breathiness, asthenic, strainedquality, GRBAS) estar sendo amplamenteusada como método de avaliação. O GRBASé dividido em cinco parâmetros bem definidos:rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia etensão. Esta escala apresenta diversos grausdivididos de 0 a 3 para cada tipo de voz: 0 énormal, 1 é leve, 2 é moderado e 3 é severo.Realizaram um estudo com nove indivíduosportadores de afecção vocal (três homens eseis mulheres), na faixa etária entre 22 e 65anos. As vozes foram gravadas e avaliadas por23 juízes, sendo que treze eramotorrinolaringologistas e 10 fonoaudiólogos.Entre os 13 otorrinolaringologistas, cinco eramexperientes e todos os fonoaudiólogosapresentavam mais de 2 anos de experiênciana área. Os autores concluíram que não houvediferença significativa evidente entre os juízes,independente da experiência profissional.
Revista HCPA 1999;19 (2)214
Jotz et al. Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
Ocorreram pequenas diferenças dejulgamento, pois dependia do conhecimento decada um, apesar da praticidade do uso daescala GRBAS por qualquer profissional,independente da experiência.
Portanto, objetivamos neste estudoavaliar a qualidade vocal de crianças que vivemem orfanato, que não apresentam queixas dedistúrbios na voz e correlacioná-la com osdados obtidos na avaliação laringológica.
Pacientes e métodos
No setor de cirurgia de cabeça e pescoçoda disciplina de otorrinolaringologia daUniversidade Federal de São Paulo, EscolaPaulista de Medicina, foram examinados 50meninos, na faixa etária entre 3 e 10 anos.Estes não apresentavam queixasotorrinolaringológicas, escolhidasaleatoriamente, dividindo-se em dois grupos,com base na presença ou não de lesãoestrutural das pregas vocais, identificadaatravés da videofibrolaringoscopia. Todosforam provenientes do Lar da Criança Feliz doMunicípio de Taboão da Serra, São Paulo,entidade que alberga crianças do sexomasculino. Este estudo foi avaliado e aprovadopela Comissão de Ética da UNIFESP – EPM edo Hospital São Paulo.
Após o exame otorrinolaringológico,foram realizadas a videofibrolaringoscopia e aavaliação fonoaudiológica da voz das crianças,em ambientes distintos, no mesmo dia, semque um examinador conhecesse os resultadosdo outro.
Neste estudo, os equipamentos deendoscopia utilizados foram umfibrolaringoscópio flexível de 3,1 mm dediâmetro (MACHIDA, ENT- 30 S-III) acopladoa uma microcâmera filmadora (TOSHIBA CCDIK-M41A) e a um monitor de vídeo (SONY KV-1311 CR), sendo os exames gravados emaparelho de videocassete (JVC HR-J 726M, HiFi Stereo) em velocidade SP.
Quanto à presença e ao tipo de lesãoestrutural nas pregas vocais, foram observadastrês situações: crianças normais, isto é, semalterações na estrutura das pregas vocais;crianças portadoras de nódulo vocal ou de cistovocal.
Quanto ao tipo de coaptação das pregasvocais, observamos crianças sem fenda glótica(normais), portadoras de fenda triangularposterior (FTP) ou de fenda triangular médio-posterior (FTMP).
Quanto à constrição do vestíbulolaríngeo, foram constatadas, quandopresentes, constrição mediana, ântero-posterior ou mista (ambas).
A avaliação fonoaudiológica baseou-sena análise perceptiva auditiva.
A análise perceptiva auditiva foi realizadapor quatro fonoaudiólogas treinadas emavaliação de voz, onde foi considerada aqualidade vocal, seguindo critériosselecionados quanto à rouquidão, aspereza esoprosidade. Utilizamos uma adaptação daclassificação estabelecida pela SociedadeJaponesa de Logopedia e Foniatria em 1981(4), como se segue:
• voz normal: quando a criança apresentauma qualidade vocal sem alterações;
• voz rouca: qualidade vocal relacionada àimpressão de pulsos irregulares;
• voz áspera: o que chama a atenção é acaracterística rude e desagradável. Nota-se um esforço do indivíduo ao falar, sendoos ataques vocais predominantementebruscos. É popularmente conhecidacomo “voz de taquara rachada”;
• voz soprosa: qualidade vocal relacionadaa um ruído de turbulência audível geradona glote;
• voz rouca e soprosa: qualidade vocalrelacionada à presença dos dois tipos devoz.
Para análise estatística dos resultados foiaplicado o seguinte teste do quiquadrado (9)para tabelas de contingência, com a finalidadede comparar a qualidade vocal das criançassem ou com lesão estrutural das pregas vocais;
Fixou-se em 0,05 ou 5% (∝ ≤ 0,05) onível de rejeição da hipótese de nulidade.
Resultados
Em relação à avaliação perceptivaauditiva, nas tabelas 1, 2 e 3 observamos adistribuição de freqüência da qualidade vocal
Revista HCPA 1999;19 (2) 215
Jotz et al.Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
dos grupos portadores ou não de lesãoestrutural nas pregas vocais, bem como defendas glóticas ou de constrição laríngea àfonação, respectivamente.
Discussão
desenvolvimento biopsicosocial, ondehabitando em instituições, na maioria dasvezes, necessitam “ganhar espaço no grito”,acarretando alterações estruturais das pregasvocais decorrentes do abuso vocal. Danoy etal. (10) já haviam relatado que numerosos
Normal
RoucaSoprosa
Áspera
Rouca e soprosa
Total
Lesão
N
183
5
915
50
%
366
10
1830
100
N
33
0
613
25
%
1212
0
2452
100
N
150
5
32
25
%
600
20
128
100
Sem Com Total
Tabela 1. Distribuição de freqüência da qualidade vocal dos gruposportadores ou não de lesão estrutural nas pregas vocais
Normal
Rouca
SoprosaÁspera
Rouca e soprosa
Total
Lesão
N
18
35
9
15
50
%
36
6
1018
30
100
N
14
32
7
13
39
%
35,9
7,7
5,217,8
33,4
100
N
4
03
2
2
11
%
36,3
0
27,318,2
18,2
100
Sem Com Total
Tabela 2. Distribuição de freqüência da qualidade vocal dos gruposportadores ou não de fendas glóticas
Qualidade vocal
Qualidade vocal
O estudo vocal de criançasinstitucionalizadas vem ao encontro da suspeitade alto índice de alterações estruturais daspregas vocais e da possível influência socialnessa população. Estas crianças passam aapresentar problemas que influenciam seu
casos de disfonia na infância eram decorrentesde lesões congênitas das pregas vocais e queo desenvolvimento da personalidade era umdos fatores que teriam influência na voz.
A rouquidão pode influenciarnegativamente a criança, pelas diferenças que
Revista HCPA 1999;19 (2)216
Jotz et al. Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
ela sofre com relação aos colegas de escola,perdendo muitas vezes o interesse emdeterminada profissão que dependa muito davoz. Em virtude disto, vários autores têm-seinteressado cada vez mais pela alteração vocalna infância (1,2,5,10-13).
Outros autores já destacaram aimportância que a voz tem na vida das pessoas.Cada vez mais a atividade industrial tem-sebaseado na comunicação, linguagem einformação, acarretando no uso profissional davoz. Com isto, têm aumentado as desordensda fala, da linguagem e da voz. Para muitosautores a prevenção é o principal método paradiminuir a incidência destas alterações. Dentreos fatores de prevenção se destacam osambientais, epidemiológicos, a vacinação, aimunização e os programas deaconselhamento genético.
Em 1968, Senturia & Wilson estimaramque as alterações vocais comprometiam até1.500 mil crianças, ou seja, 6% da populaçãonorte-americana em idade escolar. A incidênciaestimada desta população tem aumentado,chegando a cifras de 23,4% (1).
O tipo de qualidade vocal mais comumassociada a desordens laríngeas foi a vozrouca (14,15), muitas vezes como resultado deabuso vocal, apesar de serem descritos comofatores causais, os físicos e psicológicos, aestrutura da personalidade, a inadaptaçãofônica e os fatores alérgicos (16). Nas classes
de educação especial, as alterações de voz,fala e linguagem são comuns, sendo estimadano Reino Unido, uma prevalência de até 50%dentre os deficientes mentais em idade escolar(17). O fato de as crianças de nosso estudoviverem em uma instituição para menorestorna-as com maior predisposição a apresentaralterações estruturais nas pregas vocais, poisa “luta” por um espaço é muitas vezesdisputada na base do “grito”, fato este tambémobservado por Carlin & Saniga (2), Andrews(5), Jotz (18) e Jotz et al. (16).
Baynes (19) e Shearer (20) relataram emseus estudos que um grande número decrianças em idade escolar, particularmente doprimário, apresentavam-se com tipo vocalrouco de caráter crônico, sem contudo relataro meio social a que pertenciam estas crianças.Senturia & Wilson (11) e Hersan (21) relataramque até 70% das crianças em idade escolarque apresentavam qualidade vocal tipo roucaeram portadoras de nódulos vocais.
Ao comparar os grupos sem e com lesãoestrutural em relação ao tipo de voz (tabela 1),o teste do quiquadrado mostrou diferençasignificativa entre os dois grupos, ressaltandoque a voz normal foi significativamente maisfreqüente no grupo sem lesão, enquanto a vozrouca e soprosa foi mais freqüente no grupocom lesão, o que foi igualmente observado porSenturia & Wilson (11). Estes relataram apresença da voz rouca como o sintoma mais
Qualidade vocal
NormalRouca
Soprosa
ÁsperaRouca e soprosa
Total
Lesão
N
18
35
9
15
50
%
36
610
18
30
100
N
8
12
3
7
21
%
38,1
4,89,6
14,2
33,3
100
N
10
23
6
8
29
%
34,5
6,910,3
20,7
27,6
100
Sem Com Total
Tabela 3. Distribuição de freqüência da qualidade vocal dos gruposportadores ou não de constrição laríngea
Revista HCPA 1999;19 (2) 217
Jotz et al.Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
freqüente (61,9%) no grupo com lesãoestrutural das pregas vocais, sendo igualmenterelatado por Silverman e Zimmer (1) quedescreveram a voz rouca como a qualidadevocal mais freqüentemente (50%) associadaa nódulo vocal em meninos. Neste estudo, aavaliação fonoaudiológica foi realizada semque os examinadores soubessem o resultadoda avaliação otorrinolaringológica e vice-versa,onde podemos observar que em 88% doscasos as crianças portadoras de lesãoapresentaram a descrição de qualidade vocaldiferente do normal.
No grupo de crianças com qualidadevocal normal, constatamos que quatro das 15apresentavam fenda triangular médio-posteriorque, por sua vez, muitas vezes está relacionadaa qualidade vocal do tipo soprosa. Entretanto,em virtude da laringe da criança apresentaruma abundância de tecido conjuntivo frouxo eestar em constante transformação, é mais difícilfazer este tipo de analogia, sendo este achadotambém descrito por Crespo (22).
O mesmo não ocorreu quandocomparamos os grupos sem e com fendasglóticas em relação ao tipo de voz (tabela 2),pois pelo tamanho e distribuição da amostraos dados não se mostraram analisáveis,discordando do que foi relatado por Söderstene Lindestad (23) e Söderstenet al. (24), quemostraram a íntima relação entre a presençade fendas e a soprosidade, apesar do estudodas autoras ter sido realizado com indivíduosadultos. Entretanto, a própria autora (25)relatou que a presença de fenda triangularposterior não corresponderia necessariamentea qualidade vocal tipo soprosa. Quanto àcomparação entre as crianças sem e comconstrição laríngea, em relação ao tipo dequalidade vocal (tabela 3), não houve diferençasignificativa entre os tipos de voz, sendoconstatada a presença de constrição em 32(64%) crianças, independente do tipo.Entretanto, o resultado diferiu dos achados deMorrison et al. (26), que relataram que 20%dos indivíduos adultos apresentavam disfoniapor constrição laríngea, estando ou nãoassociada a lesões estruturais.
Kreiman et al. (27) relataram que aspadronizações das medidas perceptivasauditivas, através de protocolos, dariam maior
confiabilidade ao correlacionamento destescom os dados acústicos, transformando umaavaliação subjetiva em objetiva (28). Bodt etal. (8) reafirmaram que o uso da escala GRBASseria uma boa maneira de se classificar aqualidade vocal, independente da experiênciaprofissional do fonoaudiólogo.
Em nossa cultura, observamos umatendência ao desconhecimento da rouquidãoenquanto manifestação de uma alteraçãolaríngea e, além disso, uma valorização darouquidão enquanto uma característica“charmosa” na comunicação das crianças (18).
Baseado na confiança e na validade dojulgamento perceptivo, Fex (4) recomendouque os fonoaudiólogos se esforçassem parapadronizar uma terminologia e definirparâmetros mais rígidos para avaliação vocal,através da gravação da voz em aparelhos dealta fidelidade para que pudessem ouvirquantas vezes fossem necessárias. Valeressaltar que em nosso estudo a avaliaçãoperceptiva auditiva foi realizada sem que osavaliadores conhecessem o diagnósticolaringológico.
Conclusões
Face a estes dados, este estudo ressaltaa importância do treinamento auditivo depessoal ser o mais abrangente possível, paradetecção precoce de distúrbios vocais. Destaforma é possível às pessoas que estão emcontato com crianças suspeitar e encaminhá-las precocemente para avaliaçãoespecializada. Concluímos que a qualidadevocal do tipo rouca e soprosa está associadade maneira significativa ao grupo de criançascom lesão estrutural das pregas vocais e aqualidade vocal normal, ao grupo de criançassem lesão estrutural.
Assim, a presença de rouquidão emcrianças deve ser valorizada para permitir odiagnóstico precoce de alterações laríngeas e,conseqüentemente, a terapêutica.
Agradecimentos. Gostaríamos de deixarregistrado nosso agradecimento aosProfessores Neil Novo e Yara Juliano doDepartamento de Medicina Preventiva daUNIFESP – EPM, pela análise e orientação
Revista HCPA 1999;19 (2)218
Jotz et al. Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
estatística, bem como à Coordenadoria deAperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES) pelo financiamento imprescindívelpara este estudo.
Referências
1. Silverman EM, Zimmer CH. Incidence of chronic
hoarseness among school-age children. J Speech
Hear Disord 1975;40(2):211-5.
2. Carlin MF, Saniga RD. Relationship between
academic placement and perception of abuse of
the voice. Percept Mot Skills 1990;71:299-304.
3. Andrews ML. Voice therapy for children. Editora
Singular: Califórnia;1991. p.327.
4. Fex S. Perceptual evaluation. J Voice
1992;6(2):155-8.
5. Andrews ML. Intervention with young voice users:
a clinical perspective. J Voice 1993;7(2):160-4.
6. McAllister A, Sederholm E, Sundberg J,
Gramming P. Relations between voice range
profiles and physiological and perceptual voice
characteristics in ten-year-old children. J Voice
1994;8(3):230-9.
7. Rabinov CR, Kreiman J, Bielamowicz S.
Comparing reliability of perceptual ratings of
roughness and acoustic measures of jitter. J
Speech Hear Res 1995;38:26-32.
8. Bodt MS, Wuyts FL, Van De Heyning PH, Croux
C. Test-retest study of the GRBAS scale: influence
of experience and professional background on
perceptual rating of voice quality. J Voice
1997;11(1):74-80.
9. Siegel S, Castellan NJ Jr. Nonparametric
statistics. 2º ed. New York: McGraw Hill; 1988.
p.399.
10. Danoy MC, Heuillet-Martin G, Thomassin JM. Les
dysphonies de l’enfant. Rev Laryngol Otol Rhinol
1990;111(4):341-5.
11. Senturia BH, Wilson FB. Otorhinolaryngic findings
in children with voice deviations. Anais LXXXIV
American Triological Society 1968;1027-41.
12. Lotz WK, D’Antônio LL, Chait DH, Netsell RW.
Successful nasoendoscopic and aerodynamic
examinations of children with speech / voice
disorders. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
1993;26:165-72.
13. McAllister A, Sederholm E, Ternström S,
Sundberg J. Perturbation and hoarseness: a pilot
study of six children’s voices. J Voice
1996;10(3):252-61.
14. Anders LC, Hollien H, Hurme P, Soninnen A,
Wendler J. Perception of hoarseness by several
classes of listeners. Folia Phoniatr 1988;40:91-
100.
15. Jotz GP, Cervantes O, Abrahão M, Carvalho VA,
Carrara-Angelis E. The perceptual auditive and
acoustic analysis: Jitter and Shimmer in sustained
phonation in orphan children. Apresentado no
Care of the Professional Voice and
Phonomicrosurgery; 1997. Athens: Greece; p.61.
16. Albino SBS. Disfonia infantil – Um estudo clínico
abrangente [dissertação de mestrado]. São
Paulo: PUC; 1992. p.108.
17. Wilson DK. Voice problems of children. Baltimore:
Williams & Wilkins;1987. p.377.
18. Jotz GP. Configuração laríngea, análise
perceptiva auditiva e computadorizada da voz de
crianças institucionalizadas do sexo masculino.
São Paulo [tese de doutorado]. São Paulo:
UNIFESP, EPM; 1997. p.129
19. Baynes RA. An incident study of chronic
hoarseness among children. J Speech Hear
Disord 1966;31:172-6.
20. Shearer WH. Diagnosis and treatment of voice
disorders in school children. J Speech Hear
Disord 1972;37:215-21.
21. Hersan RCGP. Terapia de voz para crianças. In:
Fereira LP, editor. Um pouco de nós sobre voz.
São Paulo: Pró-Fono Depart. Editorial; 1995. p.
39-50.
22. Crespo AN. Coaptação glótica, proporção glótica
e ângulo de abertura das pregas vocais em
crianças [tese de doutorado]. São Paulo:
UNIFESP -EPM;1995. p.77.
23. Södersten M, Lindestad PA. Glottal closure and
perceived breathiness during phonation in
normally speaking subjects. J Speech Hear Res
1990;33:601-11.
24. Södersten M, Lindestad PA. Hammarberg - Vocal
fold closure, perceived breathiness, and acoustic
characteristics in normal adult speakers. In:
Gauffin J, Hammarberg B, editors. Vocal fold
physiology. Acoustic, perceptual and
physiological aspects of voice mechanisms. San
Diego: Singular; 1991. p. 217-24.
25. Södersten M. Vocal fold closure during phonation.
Physiological, perceptual and acoustic sutdies
[tese de doutorado]. Sockholm: Instituto
Karolinska;1994. p. 36.
26. Morrison MD, Rammage LA, Belisle GM, Pullan
CB, Nichol H. Muscular tension dysphonia. J
Revista HCPA 1999;19 (2) 219
Jotz et al.Qualidade vocal de crianças sem queixas vocais
Otolaryngol 1983;12(5):302-6.
27. Kreiman J, Gerratt BR, Kempster GB, Erman A,
Berke GS. Perceptual evaluation of voice quality:
review, tutorial, and a framework for future
research. J Speech Hear Res 1993;36:21-40.
28. Yanagihara N. Significance of harmonic changes
and noise components in hoarseness. J Speech
Hear Res 1967;10:531-41.
Revista HCPA 1999;19 (2)220
Collares et al. Avaliação das alterações hemodinâmicasARTIGO ORIGINAL
Avaliação das alterações hemodinâmicas e dosensório em pacientes submetidos à
rinoplastia estética sob anestesia local1
Marcus V.M. Collares2, Jaime Planas3,Rinaldo de A. Pinto4, Roberto C. Chem5
OBJETIVO: Determinar as alterações hemodinâmicas em pacientes submetidos àrinoplastia estética sob anestesia local.MÉTODO: Foram investigados 100 pacientes consecutivos submetidos à rinoplastiaestética sob anestesia local e sedação, no período de setembro de 1988 a fevereirode 1989, na Clínica Planas, Barcelona, Espanha. A avaliação foi feita pelamonitorização da freqüência cardíaca, pressão arterial sistêmica, saturação dooxigênio, ritmo cardíaco e nível de consciência do paciente, continuamente, do inícioao término da intervenção.RESULTADOS: A curva de variação da pressão arterial esteve de acordo com o picode ação da adrenalina, quando injetada subcutaneamente (mais lento), demonstrandoa importância de esperar ao redor de 20 minutos após a injeção local para a obtençãode um efeito vasoconstritor ótimo. A taquicardia sinusal é a alteração de ritmo maismarcante neste estudo, aparecendo no pico de ação da adrenalina em quase todosos pacientes. As alterações hemodinâmicas, notadamente a hipertensão arterial,devem merecer cuidados, principalmente em pacientes predispostos.CONCLUSÃO: Quando o paciente está adequadamente assistido e monitorizado, arinoplastia sob anestesia local é um procedimento seguro.
Unitermos: Rinoplastia; anestesia local; efeitos hemodinâmicos; sedação
Evaluation of the hemodynamic and sensorial alterations in patientssubmitted to esthetic rhinoplasty under local anestheticsOBJECTIVE: To determine the extension of hemodynamic changes in patientssubmitted to rhinoplasty under local anesthesia.MATERIALS AND METHODS: One hundred consecutive patients were investigated.They were operated between September 1988 and February 1989 at Clinica Planas,Barcelona, Spain. The evaluation included continuous monitoring of patients’ heart
1 Trabalho realizado na Clínica Planas de Cirugia Plástica, Estética y Reconstructiva, Barcelona, Espanha e noHospital de Clínicas de Porto Alegre.
2 Serviço de Cirurgia Plástica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Faculdade de Medicina, Universidade Federaldo Rio Grande do Sul. Correspondência: Rua Hilário Ribeiro 202/406. CEP 90510-040, Porto Alegre, RS, Brasil.Fone/Fax: +55-51-346-3696.
3 Universidad Autònoma de Barcelona, Espanha.4 Serviço de Cirurgia Plástica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Departamento de Cirurgia, Faculdade de
Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.5 Serviço de Cirurgia Plástica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Departamento de Cirurgia, Faculdade de
Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Revista HCPA 1999;19 (2) 221
Collares et al.Avaliação das alterações hemodinâmicas
rate, arterial pressure, oxygen saturation, cardiac rhythm, and consciousness levelthroughout the procedure.RESULTS: The curve of arterial pressure variation was in accordance with theadrenaline peak, when injected subcutaneously (slower). This underscores theimportance of waiting at least 20 minutes before starting the procedure, in order tohave the best vasoconstrictive effect. Sinus tachycardia is the most remarkable rhythmalteration observed in this study. It is present in almost all patients at the adrenalinepeak. Hemodynamic alterations, mainly arterial hypertension, must be carefullyobserved, especially on predisposed patients.CONCLUSION: When the patient receives adequate preoperative care andintraoperative monitoring, rhinoplasty under local anesthesia is a safe procedure.
Key-words: Rhinoplasty; local anesthetics; hemodynamic effects; sedation.
Revista HCPA 1999;19(2):220-5
Introdução
A rinoplastia é uma das cirurgiasestéticas mais realizadas em todo o mundo.Este procedimento pode ser efetuado sobanestesia local e/ou geral. Há controvérsiaquanto ao método mais eficaz. O sangramento,o conforto e a segurança do paciente e docirurgião no trans e no pós-operatório, são asvariáveis mais consideradas.
A principal vantagem apregoada pelosdefensores da anestesia local é a diminuiçãodo sangramento transoperatório, conseguidaatravés da utilização de drogasvasoconstritoras em concentrações elevadas,livre da interação com os anestésicos gerais(1).
Os efeitos das drogas vasopressorassobre o sistema cardiovascular, quandoadministradas via subcutânea, são conhecidos:aumento da freqüência e alteração do ritmocardíaco, por estimulação dos receptores beta-1 do miocárdio e por atuação direta sobre ascélulas do marca-passo e do tecido condutor;aumento da pressão sangüínea (PA),alcançando um pico proporcional à dose, sendoo aumento da PA sistólica maior que o dadiastólica (2-5).
Na prática médica da Clínica Planas, aanestesia local é o procedimento de escolha,sendo usada na quase totalidade dos casos.
Este estudo visa determinar a magnitude
das alterações hemodinâmicas e do sensórioem pacientes submetidos à rinoplastia estéticasob anestesia local.
Pacientes e métodos
Foram investigados 100 pacientesconsecutivos submetidos à rinoplastia estéticasob anestesia local e sedação, no período desetembro de 1988 a fevereiro de 1989, naClínica Planas, Barcelona, Espanha.
Os dados de história e exame físicoforam coletados em protocolo preenchido naconsulta clínica pré-operatória.
Em todos os pacientes a conduta foi aseguinte:
• internação no dia anterior à cirurgia;• medicação pré-anestésica: flunitrazepam
1mg e diazepan 5mg, VO às 23h;cloracetato dipotássico 50mg, IM 1hantes da cirurgia; meperidina, 100mg eprometazina, 50mg IM 30minutos antesda cirurgia.
• monitorização eletrônica da PA,freqüência cardíaca (FC), saturação dooxigênio (SaO2) e do ritmo cardíaco (RC).Monitorização clínica do nível deconsciência (NC) do paciente a partir dachegada ao bloco cirúrgico,continuamente, até o término daintervenção.
Revista HCPA 1999;19 (2)222
Collares et al. Avaliação das alterações hemodinâmicas
• Cateterização de acesso venosoperiférico.
• Após o preparo do campo cirúrgico demaneira usual, o bloqueio anestésiconasal foi realizado utilizando-se aseguinte solução: lidocaína 2% comadrenalina 1:20.000, num total de 10-12ml, (dose total: lidocaína - 200-240mg; eadrenalina - 0,5-0,6mg).
• A técnica cirúrgica seguiu os passosbásicos conforme a conduta usada naClínica Planas com as modificaçõespertinentes a cada caso.
Para a coleta dos dados hemodinâmicos,os seguintes momentos foram previamenteselecionados: 0) basal (FC, PA, RC), medidoem 3 dias distintos; 1) pré-cirúrgico (FC, PA,SaO2, RC, NC), medido na sala operatóriaantes de qualquer procedimento invasivo; 2)6º minuto (todos), 6 minutos após o início dainfiltração; 3) 12º minuto (todos), infiltração játerminada; 4) 18º minuto (todos), controle,espera da ação vasoconstritora; 5) 30º minuto(todos), pré-incisão, tempo mínimo para o efeitovasoconstritor adequado; 6) incisão (todos),logo após a incisão; 7) trans I (todos), controlepré-osteotomia; 8) osteotomia (todos), durantea osteotomia; 9) trans II (todos), controle 6minutos pós-osteotomia; 10) final (todos),término da cirurgia.
Para fins de avaliação, foramconsiderados níveis de anormalidade osseguintes valores: hipertensão> 140/100mmHg; hipotensão< 60/40mmHg;taquicardia>100 bpm; saturação de O2< 85%.
O tempo cirúrgico foi considerado desdeo momento da incisão até o final do curativo.O nível de consciência foi classificado em trêsgrupos: agitado, tranqüilo, muito sonolento.
Cinco pacientes foram excluídos daanálise. Um necessitou anestesia geral e osdemais, medicação sedativa complementar,por agitação excessiva no transoperatório.
Dezesseis pacientes receberammedicação sedativa complementar momentosantes de iniciar o procedimento cirúrgico. Estescasos foram mantidos na amostra.
Foram utilizadas provas de estatísticadescritiva pertinentes segundo o tipo devariáveis (freqüências, médias e medianas).
Também foram utilizados métodos deestatística inferencial: teste t ou o χ ² paraverificar diferenças, em função do tipo dasvariáveis.
O nível de significância estatísticaestabelecido foi de 5% (P<0,05).
Resultados
A idade média dos pacientes foi de 26,81anos, variando entre 15 e 60 anos. A moda foi22 anos, com oito pacientes. Oitenta e trêspacientes eram do sexo feminino (87,4%) e 12do sexo masculino (12,6%).
Entre os dados clínicos relevantesencontravam-se três pacientes comhipertensão arterial sistêmica leve. Nenhumaalteração eletrocardiográfica significativa foidemonstrada no exame realizado no pré-operatório.
Não houve diferença significativa entreo grupo de 16 pacientes que necessitou ter asedação complementada antes do início daintervenção e os 79 pacientes restantes, emnenhuma das variáveis deste estudo.
Os pacientes mostraram-se muitosonolentos em 13 casos, tranqüilos em 72casos, e agitados em 10 casos. Deve-seconsiderar que cinco pacientes foram excluídosda amostra por agitação intensa e conseqüentenecessidade de complementar a sedação ouentubar (um caso) no período intra-operatório.
A duração média do procedimentocirúrgico foi de 40,72 minutos, variando entre20 e 90 minutos.
A variação da média da PA e FC nosdiversos momentos de tomada de dadosproporcionou as curvas apresentadas na figura1. A variação da média da saturação do O2 semanteve acima de 94%.
Quatro pacientes apresentaramalterações no ritmo cardíaco, outras que ataquicardia sinusal. Todas as arritmias foramextrassístoles ventriculares (ES), deintensidade e duração variáveis. Uma pacientedo sexo feminino, de 19 anos, mostrou 4 ES/min durante toda a intervenção; outra paciente,feminina, de 31 anos, teve ES em salva durante5 minutos (do minuto 13 ao 18 do início dainfiltração); o terceiro caso, feminina, 16 anos,teve 10-15 ES/min durante 20 minutos (do 12
Revista HCPA 1999;19 (2) 223
Collares et al.Avaliação das alterações hemodinâmicas
Figura 1. Variação dos parâmetros hemodinâmicos ao longo do ato operatório. 0. basal; 1. pré-cirúrgico; 2. 6 minutos após o início da infiltração; 3. 12 minutos, infiltração játerminada; 4. 18 minutos, espera da ação vasoconstritora; 5. 30 minutos, pré-incisão; 6. incisão; 7.controle pré-osteotomia; 8. osteotomia; 9. pós-osteotomia; 10. final.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAs (mmHg)PAd (mmHg)FC (bpm)
ao 32); e por último, paciente feminina, 25 anos,apresentou 8 ES/min durante 8 minutos (do 8ao 16). Todas esta pacientes foramclassificadas como nível de consciênciatranqüilo.
A análise dos chamados níveis deanormalidade mostrou 74 pacientes (77,89%)com taquicardia. Em dois casos a saturaçãodo oxigênio caiu abaixo de 85%, numa únicatomada. Setenta e quatro pacientes (77,89%)tiveram sua PAs elevada acima de 140mmHg(oito casos acima de180mmHg), mas apenasseis pacientes (6,3%) tiveram sua PAd elevadaacima de 100mmHg (dois casos acima de120mmHg). Em nenhum caso a PAs baixoude 60mmHg, e em quatro pacientes a PAdesteve abaixo de 40mmHg (31mmHg o maisbaixo), todos em uma única tomada.
Discussão
A rinoplastia é uma cirurgia bastantecomum, onde questões como a ansiedade dopaciente (6), o sangramento transoperatório,edema pós-operatório, tempo cirúrgico,conforto do paciente e tipo de anestesia mais
conveniente permanecem em constantediscussão.
A Clínica Planas tem por conduta realizartodas as rinoplastia sob anestesia local, tendoem sua casuística atual mais de 7 mil pacientesintervindos. O modelo anestésico utilizado edescrito na metodologia deste estudo varioupouco nos últimos anos.
Como fatores que contribuem para estadecisão podem ser citados: que a maior partedos pacientes são jovens, do sexo feminino;que a diminuição do sangramentotransoperatório é realmente importante,facilitando o procedimento; e que não foramdetectadas complicações importantesdecorrentes do método.
Considerando que todos os pacientesintegrantes deste estudo foram submetidos àanestesia local com sedação, sempossibilidade de escolha do método por partedo paciente e/ou do cirurgião, a necessidadede utilizar a anestesia geral em apenas umpaciente é bastante aceitável.
Embora a maioria dos pacientes tenhapermanecido tranqüila durante a cirurgia (72casos), 13 foram considerados muito sedados
Revista HCPA 1999;19 (2)224
Collares et al. Avaliação das alterações hemodinâmicas
e 15, agitados.A utilização de drogas sedativas mais
modernas, com meia-vida menor, injetadasatravés de bomba de infusão e, portanto, commelhor controle dose/paciente, devem tornaro procedimento ainda mais seguro. O estadode consciência e a parcela das variaçõeshemodinâmicas decorrente do sensóriopoderiam ter resultados mais lineares.
A ação vasopressora, diminuindo osangramento, em muito contribuiu para que otempo cirúrgico médio (sem o período deanestesia local, mas incluindo o tempo docurativo) fosse de 40 minutos.
A curva de variação da PA esteve deacordo com o pico de ação da adrenalinaquando injetada subcutaneamente (mais lento),demonstrando a importância de esperar aoredor de 20 minutos após a injeção local paraobtermos um efeito vasoconstritor ótimo.
São claros os picos da variação de PA e,principalmente, de FC quando o paciente éestimulado (notadamente ao início da cirurgiae no momento das osteotomias).
A taquicardia sinusal é a alteração deritmo mais marcante neste estudo, aparecendono pico de ação da adrenalina em quase todosos pacientes. Além da ação vasopressora, aadrenalina atua como estimulador dosreceptores beta-1 no miocárdio, nas células domarca-passo e no tecido condutor, alterando afreqüência e o ritmo cardíaco. Estão descritasarritmias ventriculares nas doses de 0,2 a1,0mg (4,7-11).
Outras arritmias mais significativas foramencontradas em quatro pacientes, apesar deque as 4 ES/min demonstradas em umapaciente de 19 anos possam ser consideradasnormais. Nos outros três casos, as alteraçõesforam mais importantes, mas limitadas,ocorrendo sempre durante o pico de ação daadrenalina.
Um fator a ressaltar é a elevação da PAsistólica, sempre maior que a da diastólica, eque em cinco pacientes estevemomentaneamente (uma tomada, no pico daação adrenérgica) acima de 180mmHg,incluindo os três pacientes detectados comohipertensos no pré-operatório.
Os dois casos onde a SaO2 caiu abaixode 85% aconteceram nos períodos refratários
(após o início da cirurgia, antes dasosteotomias), em pacientes muito sonolentase com pouca estimulação. As pacientes forammobilizadas e prontamente retornaram a níveisnormais.
Conclusões
• A rinoplastia sob anestesia local esedação não é isenta de riscos.
• As alterações hemodinâmicas,notadamente a hipertensão arterial,devem merecer cuidados, principalmenteem pacientes predispostos.
• A dosagem do agente vasoconstritordeve ser melhor avaliada em pacientescom história de hipertensão arterialsistêmica.
• Fica caracterizada e reforçada aimportância da monitorização intensivadestes pacientes.
• O paciente necessitará atenção médicaespecializada (anestesista), mesmo nasrinoplastias com anestesia local.
• Medicamentos sedativos mais eficazes emaior precisão na relação dose/paciente/momento da cirurgia podem tornar oprocedimento mais seguro.
• Quando o cirurgião segue estes passosprimordiais, a rinoplastia sob anestesialocal é um procedimento seguro.
Referências
1. Selkim, S.G. Rhinoplasty and general anesthesia
- halothane vs enflurane as agent of choice. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 1989;115:802-3.
2. Barber WB, et al. Hemodynamic and plasma
cathecolamine responses to epinephrine-
containing perianal lidocaine anesthesia. Anesth
Analg 1985;64:924-8.
3. Knoll-Kohler E, Becker FJ, Ohlendorf D. Changes
in plasma epinephrine concentration after dental
infiltration anesthesia with different doses of
epinephrine. J Dent Res 1989;68:1098-101.
4. Vanderheyden PJ, Williams RA, Sims DN.
Assessment of ST segment depression in patients
with cardiac disease after local anesthesia. JADA
1989;119:407-12.
5. Weiner N. Norepinephrine, epinephrine, and the
sympathomimetic amines. In: Gilman AG,
Revista HCPA 1999;19 (2) 225
Collares et al.Avaliação das alterações hemodinâmicas
Goodman LS, Rall TW, Murad F, editors.
Goodman and Gilman’s - The Pharmacological
basis of therapeutics. New York: MacMillan
Publishing Company;1985. p. 145-80.
6. Dionne RA, Goldstein DS, Wirdzek PR. Effects
of diazepan premedication and epinephrine-
containing local anesthetic on cardiovascular and
plasma cathecolamine responses to oral surgery.
Anesth Anal 1984;63:640-6.
7. Chernow B, et al. Local dental anesthesia with
epinephrine - minimal effects on the sympathetic
nervous system or on hemodynamic variables.
Arch Intern Med 1983;143:2141-43.
8. Rafel SS. Eletrocardiographic changes during
outpatient oral surgery. J Oral Surg 1972;30: 898-
9.
9. Salonen M, Forsell H, Scheinin M. Local dental
anesthesia with lidocaine and adrenaline - effects
on plasma catecholamines, heart rate and blood
pressure. Int J Oral Maxillofac Surg 1988;17:392-
4.
10. Tolas AG, Pflug AE, Halter JB. Arterial plasma
epinephrine concentrations and hemodynamic
responses after dental injection of local anesthetic
with epinephrine. JADA 1982;104:41-3.
11. Verrill PJ. Adverse reactions to local anaesthetics
and vasoconstrictor drugs. The Practioner 1975;
214:380-7.
Revista HCPA 1999;19 (2)226
Rotta Pereira et al. Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilinaCOMUNICAÇÃO
Análise preliminar da resposta clínica depacientes com faringotonsilite estreptocócica:
comparação entre amoxicilina administradaduas vezes ao dia com amoxicilina três
vezes ao dia
M. Beatriz Rotta Pereira1, Manuel R. Pereira2, Antonio Aguillar3,Luis Huicho4, Hugo Trujillo5, Samir Cahali6
OBJETIVO: Comparar a eficácia e a tolerabilidade de dois esquemas posológicos deamoxicilina: 45 mg/kg/dia divididos em duas doses (bd) e 40 mg/kg/dia divididos emtrês doses (tid) no tratamento de crianças com faringotonsilite bacteriana aguda.MÉTODOS: Estudo multicêntrico, observador-cego, randomizado, comparativo degrupos paralelos. Cento e setenta e um pacientes ambulatoriais com idade entre 2 e12 anos apresentando quadro de faringotonsilite bacteriana aguda foram admitidosno estudo. Além da visita de seleção, os pacientes foram avaliados com 3 dias detratamento, no final do tratamento e com 28 dias após a admissão no estudo paraverificar a resposta clínica, ocorrência de efeitos adversos, resposta bacteriológica etolerabilidade da medicação.RESULTADOS: A análise preliminar dos 171 pacientes, 86 randomizados para o grupo“tratamento A” e 85 para grupo “tratamento B”, indica que na visita de final detratamento, 83 pacientes (96,5%) do grupo “tratamento A” e 82 pacientes (96,5%) dogrupo “tratamento B” apresentaram critérios clínicos de cura.CONCLUSÃO: Os dados apresentados sugerem que o regime terapêutico deamoxicilina administrada duas vezes ao dia (bd) é tão eficaz quanto o regime deamoxicilina administrada três vezes por dia (tid) para o tratamento destes pacientes,com a vantagem de poder determinar maior adesão dos doentes ao tratamento.
Unitermos: Faringotonsilite estreptocócica; amoxicilina; Streptococus pyogenes.
Preliminar analysis of patients with streptococcal tonsillopharyngitis:a comparison of amoxicillin twice a day with amoxicillin three timesa dayOBJECTIVES: To compare the efficacy and tolerance of two posologic amoxicillinschemes in children with tonsillopharyngitis: 45 mg/kg/day in two doses (bid) and 40mg/kg/day in three doses (tid).
1 Fellow, Otorrinolaringologia Pediátrica, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Canadá; vice-presidente,Departamento de Otorrinolaringologia Pediátrica, Sociedade Brasileira de Pediatria.Correspondência: Rua Pe. Chagas 415/902, CEP 90570-060, Porto Alegre, RS, Brasil.
2 Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Faculdade de Medicina, PontifíciaUniversidade Católica do Rio Grande do Sul.
3 Hospital Infantil, Guayaquil, Equador.4 Instituto de Salud del Nino, Lima, Perú.5 Corporacion para Investigaciones Biológicas, Medellin, Colômbia.6 Hospital do Servidor Público, São Paulo, SP, Brasil.
Revista HCPA 1999;19 (2) 227
Rotta Pereira et al.Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilina
MATERIALS AND METHODS: We conducted a multicentric, randomized, single-blindedstudy, comparing two parallel groups. One hundred and seventy-one ambulatrialpatients with ages between 2 and 12 years presenting acute bacterial tonsillopharyngitiswere admitted in this study. Patients were evaluated in the selection visit, within threedays of treatment, at the end of treatment and within 28 days after entering the studyin order to verify clinical response, possible adverse effects, bacteriological response,and tolerabilty of the medication.RESULTS: The preliminary analysis of the 171 patients, 86 randomized to “treatmentA” group and 85 to “treatment B”, indicates that in the final visit, 83 “treatment A”patients (96.5%) and 82 patients (96.5%) ”treatament B” patients presented clinicalcriteria of cure.CONCLUSION: The present data suggest that the therapeutic scheme of amoxicillinadministrated twice daily (bd) is as efficient as the three times per day scheme (tid) forthe treatament of these patients, with the possible advantage of a greater adherenceof patients to the treatment.
Key-words: Streptococcal tonsillopharyngitis; amoxicillin; Streptococus pyogenes.
Revista HCPA 1999;19(2):226-32
Introdução
A faringotonsilite estreptocócica estáentre as infecções bacterianas mais comunsda infância, com o pico de incidência ocorrendodurante os primeiros anos de vida escolar (1,2).O patógeno envolvido é o Streptococcuspyogenes (b-hemolítico do grupo A) e estequadro infeccioso pode acarretar sériascomplicações, tais como abcesso faríngeo,febre reumática, glomerulonefrite e síndromessépticas (3-5). A erradicação deste agentepatogênico é necessária para a prevenção dafebre reumática (6). É, portanto, importantediferenciar etiologias virais das bacterianas nospacientes com faringotonsilite, de tal maneiraque o tratamento antibiótico adequado sejautilizado quando houver indicação, evitando aocorrência das complicações decorrentesdesta infecção.
O tratamento da faringotonsilite é, então,dirigido para a erradicação da infecção, paraque sejam evitadas as complicaçõessupurativas e não supurativas, assim comopara promover alívio sintomático máximodurante a fase aguda da doença (7-10). Aprescrição de penicilina foi estabelecida comoo tratamento da faringotonsilite porStreptococcus pyogenes há aproximadamente
50 anos (11). Nos pacientes alérgicos àpenicilina, a eritromicina é o tratamento deescolha (12,13). Entretanto, devido aodesconforto da via intramuscular deadministração de algumas penicilinas, e comoconseqüência da alta ocorrência de efeitoscolaterais gastrointestinais acarretada pelaadministração de eritromicina, grande númerode pacientes abandona o tratamento,aumentando as chances de recorrência edesenvolvimento de resistência bacteriana.Assim, há justificativas para buscar tratamentosalternativos eficazes e seguros para estainfecção. A amoxicilina é uma penicilina semi-sintética de espectro amplo. Em 1974 foidemonstrado que ela era tão eficaz quanto apenicilina V para o tratamento da faringiteestreptocócica (14,15). Desde então, grandenúmero de estudos demonstraram sua eficáciano tratamento desta doença, usando diferentesperíodos de tratamento (por exemplo, 1 a 8dias) (16-18). Muito da eficácia da amoxicilinase deve à sua farmacocinética favorável (19-21). A absorção da amoxicilina é pelo menosduas vezes maior e mais eficaz que a deantibióticos como a ampicilina e a penicilina,com pico na circulação sangüínea duas vezesmaior, o que contribui para um efeito bactericidamais rápido. Em comparação à ampicilina, a
Revista HCPA 1999;19 (2)228
Rotta Pereira et al. Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilina
absorção da amoxicilina não é comprometidapela presença de alimento e é associada comum decréscimo na incidência de diarréia. Alémdisso, a penetração da amoxicilina nassecreções é mais eficiente que a da ampicilina,e este nível de penetração é mantido mesmoquando a infecção começa a ser controlada.Assim, a amoxicilina continua a ser eficaz contrao patógeno mesmo quando outros agentesantibacterianos podem ter dificuldade depenetração na mucosa em regeneração. Combase nestes dados, a amoxicilina tem sido umdos tratamentos preferidos para este tipo deinfecção.
A dose de amoxicilina habitualmenterecomendada para o tratamento dafaringotonsilite bacteriana em crianças foibaseada no regime terapêutico de 20-50 mg/kg/dia, administrado por via oral em trêstomadas diárias. Há evidências demonstrandoque a redução da freqüência diária das doses émais conveniente e pode melhorar a adersãodos doentes ao tratamento (22,23). A remoçãoda dose habitualmente administrada no horáriodo almoço, principalmente em crianças em idadeescolar, é uma clara vantagem quanto à adesãoao tratamento, além de poder determinar umaredução na freqüência de efeitos colaterais (24).Estudo recente, realizado com pacientespediátricos, demonstrou equivalência quanto àeficácia e segurança do regime terapêutico deamoxicilina administrada duas vezes ao diadurante 6 dias em comparação ao regime depenicilina V administrada durante 10 dias (25).
Este estudo, cujos resultados preliminaresestamos agora apresentando, foi elaborado paraexaminar se a administração de amoxicilina nadose de 45 mg/kg/dia, dividida em duas dosesdiárias (bd), apresenta eficácia clínica nãoinferior a 10% em comparação ao regime padrãode administração de amoxicilina baseado naposologia de 40 mg/kg/dia, dividida em trêsdoses diárias (tid), no tratamento dafaringotonsilite estreptocócica em crianças.
Este regime alternativo proposto para aamoxicilina é baseado nos dados da literaturamédica sobre a associação amoxicilina/clavulanato bd (do latim bis in die = duas vezesao dia). Estudos clínicos e farmacodinâmicostêm mostrado que a associação amoxicilina/clavulanato bd determina a mesma erradicaçãobacteriológica e a mesma eficácia clínica que a
formulação tradicional para administração trêsvezes ao dia (tid) em várias doenças, incluindoinfecções do trato respiratório inferior, tonsilitesrecorrentes, otite média aguda e sinusites (26-30). Nestes estudos, a concentração declavulanato nas formulações bd e tid era mantidanos adultos e reduzida nas crianças. O aumentoda concentração de amoxicilina de 500 mg naformulação tid para 875 mg na formulação bdem adultos, ou o aumento de 5 a 10 mg/kg/diapara o regime bd em crianças, determinouerradicação bacteriológica e sucesso clínicoequivalentes entre as formulações. O melhorindicador para a erradicação bacteriológica e,conseqüentemente, para a cura clínica, é otempo durante o qual a concentração deamoxicilina permanece acima da concentraçãoinibitória mínima (MIC) necessária para inibir ocrescimento de um organismo particular. Esteaspecto foi evidenciado como equivalente entreas formulações bd e tid da amoxicilina/clavulanato assim como entre as formulaçõesbd e tid da amoxicilina.
Este estudo teve, por objetivo, comparara eficácia e tolerabilidade de dois esquemasposológicos de amoxicilina: 45 mg/kg/diadivididos em duas doses (bd), e 40 mg/kg/diadivididos em três doses (tid) no tratamento decrianças com faringotonsilite estreptocócicaaguda.
Pacientes e métodos
Este foi um estudo multicêntrico,observador-cego, randomizado, comparativo degrupos paralelos. Pacientes ambulatoriais comidade entre 2 e 12 anos, apresentando quadrode faringotonsilite bacteriana aguda,preenchendo critérios de seleção e tendoconsentimento legal por escrito de pais e/ouresponsáveis legais foram admitidos no estudoe submetidos, sem o conhecimento do médicoresponsável pelo atendimento, a um dos doisesquemas terapêuticos: amoxicilina 45 mg/kg/dia, por via oral dividida em duas doses diárias,ou amoxicilina 40 mg/kg/dia, por via oral em trêsdoses diárias, de acordo com esquema derandomização (relação 1:1 de randomização).
Na visita de seleção (visita 1, dia 0, visitade seleção), swabs de orofaringe foram obtidosde todos os pacientes com suspeita clínica defaringotonsilite bacteriana aguda para cultura e
Revista HCPA 1999;19 (2) 229
Rotta Pereira et al.Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilina
teste imunoenzimático, para confirmar aetiologia bacteriana da infecção. Somente ospacientes com infecção pelo estreptococo betahemolítico do grupo A (pelo testeimunoenzimático) foram incluídos no estudo erandomizados.
Os pacientes incluídos no estudo foramtratados por 7 dias. Após 3 a 4 dias detratamento, os pacientes retornaram paraavaliação clínica e verificação da possibilidadede ocorrência de efeitos adversos (visita 2, dia3-4, visita per tratamento). Nesta visita, todosos pacientes sem melhora ou com piora clínicapoderiam ser retirados do estudo e tratamentoalternativo poderia ser iniciado.
Após o período de 7 dias de tratamento(visita 3, dia 8-14, visita de final de tratamento)e no seguimento do doente (visita 4, dia 28, visitade seguimento), todos os pacientes eramavaliados para determinar a resposta clínica, aresposta bacteriológica quando possível e aocorrência de efeitos adversos.
Como mencionado, para serem arrolados,os pacientes deveriam ter testeimunoenzimático sugestivo de faringotonsiliteestreptocócica, além do diagnóstico clínicobaseado na identificação dos critérios abaixo:
• presença de um ou mais dos seguintessinais e sintomas locais: dor na faringe,eritema faríngeo, hipertrofia de tonsilas,tonsilas com exudato purulento e adenitecervical dolorosa.
• presença de um ou mais dos seguintessinais e sintomas não-específicos: febre,mal-estar, náusea e/ou vômitos, anorexia,dor abdominal e cefaléia.
Pacientes não foram incluídos no estudoquando apresentaram alguma das seguintescondições:
• história de hipersensibilidade aos agentesbetalactâmicos ou à cefalosporina, comrisco de qualquer reação à medicação doestudo (segundo a informação descritanas bulas dos produtos quanto arecomendações, precauções e contra-indicações);
• uso de qualquer antibiótico nos 7 dias queantecedessem o ingresso no estudo (casoo antibiótico fosse a penicilina G benzatina,
este prazo era aumentado para 30 dias);• história de qualquer condição que pudesse
afetar a avaliação do paciente durante oestudo;
• presença de processo infecciosoconcomitante;
• história de disfunção renal (creatininasérica maior que 1,5 vezes o limite superiorda normalidade);
• diagnóstico de faringite complicada (otitemédia aguda, sinusite aguda, abcessofaríngeo) ou qualquer infecção grave osuficiente para requerer tratamentocirúrgico e/ou hospitalização para otratamento das complicações associadas(crianças submetidas à tonsilectomiaprévia poderiam ser incluídas no estudo);
• uso de qualquer medicação de estudo nosúltimos 30 dias ou no prazo de 5 meiasvidas (o que for mais longo) antecedendoo recrutamento e/ou início da medicaçãodo estudo;
• história de imunodeficiência;• história de gravidez ou amamentação ou,
ainda, pacientes que na opinião doinvestigador, estivessem sob risco deengravidar;
• história de fenilcetonúria.
Avaliações do estado clínico do pacientee da gravidade da infecção foram realizadas noingresso do estudo (visita de seleção). A mesmaavaliação clínica era repetida na visita pertratamento, na visita de final de tratamento ena visita de seguimento.
A segurança e a tolerabilidade damedicação foram avaliadas e os efeitosadversos registrados tanto a partir de relatosespontâneos dos pacientes como em respostaa questões específicas ou, ainda, a partir daobservação do médico assistente.
A variável primária de eficácia foi aresposta clínica na visita de final de tratamento.Caso o paciente fosse retirado do estudo,sempre que possível uma resposta clínica geraldeveria ser obtida. A resposta clínica no finaldo tratamento é uma variável binária, derivadada evolução clínica registrada nesta visita definal de tratamento.
Comparando as avaliações do estadoclínico na visita de seleção com as avaliaçõesda visita de final de tratamento, o investigador
Revista HCPA 1999;19 (2)230
Rotta Pereira et al. Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilina
Tratamento A Tratamento B
Cura 83 pacientes 82 pacientes
Resolução parcial 2 pacientes 1 pacienteFalência 1 paciente 2 paciente
Total 86 pacientes 85 pacientes
Tabela 1. Resposta clínica ao final do tratamento, pacientes tratadoscom amoxicilina bd ou tid
era capaz de classificar a resposta clínica.A resposta clínica foi caracterizada da
seguinte maneira:
• cura: resolução completa dos sinais esintomas de forma que nenhumtratamento antibiótico adicional fossenecessário.
• resolução parcial: melhora dos sinais esintomas de forma que nenhumtratamento antibiótico adicional fossenecessário.
• falência: falta de resolução de sinais esintomas de forma que pacientes fossemretirados na visita per tratamento ou navisita de final de tratamento e amedicação do estudo fosse interrompidae um antibiótico alternativo administrado.
• indeterminada: resposta impossível deser avaliada.
Resultados
Este relato se refere a uma análisepreliminar de natureza descritiva de 171pacientes nos quais o referido estudo já foiconcluído. Considerando-se que este é umestudo cego e que este é um relatório inicial, ainformação quanto aos grupos de tratamento(amoxicilina bd ou tid) ainda está sendoapresentada sob a forma de “tratamento A” ou“tratamento B”. De acordo com estacodificação, 86 pacientes foram randomizadospara o grupo “tratamento A” e 85 pacientesforam randomizados para o grupo “tratamentoB”.
Na visita de final de tratamento (visita 3),83 pacientes (96,5%) do grupo “tratamento A”e 82 pacientes (96,5%) do grupo “tratamento
B” apresentaram critérios clínicos para cura, oque significa que uma resposta clínica bemsucedida foi observada em ambos os grupos,independente do regime terapêutico ao qualcorrespondem, bd ou tid, como estáapresentado na tabela 1.
O insucesso clínico foi observado emapenas um paciente no grupo “tratamento A”e em dois pacientes no grupo “tratamento B”(tabela 1).
Quanto ao perfil de segurança, 27pacientes (15,8%) do total de 171 pacientesestudados (12 no grupo A e 15 no grupo B)apresentaram efeitos adversos. A maioria dosepisódios não foram considerados sérios e,provavelmente, não foram relacionados àmedicação do estudo. Um episódio de rashcutâneo (um paciente, grupo A) foi relatadocomo suspeito e o episódio gosto amargo daamoxicilina (um paciente, grupo A) foiconsiderado como possivelmente relacionadoà medicação do estudo. Doze dos 86 pacientesno grupo “tratamento A” apresentaram efeitosadversos. Neste grupo, dos efeitos adversosocorrendo mais de uma vez, os maisfreqüentes foram vômitos (3 pacientes) ecefaléia (3 pacientes). Quinze dos 85 pacientesno grupo “tratamento B” apresentaram efeitosadversos. O único efeito adverso ocorrendomais de uma vez foi cefaléia (3 pacientes).Outros efeitos adversos que ocorreram apenasuma vez nos grupos estudados foram anorexia,úlceras em mucosa oral, otalgia, dor à micção,sede, gosto amargo da amoxicilina, rashescarlatiniforme, dor na garganta, rashcutâneo, asma brônquica, faringite viral, coriza,obstrução nasal, febre baixa e dor torácica.
Discussão
Revista HCPA 1999;19 (2) 231
Rotta Pereira et al.Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilina
Como já mencionado, este é um relatóriopreliminar de natureza descritiva, sobre umestudo observador-cego comparando a eficáciaterapêutica de duas formulações de um mesmoproduto farmacêutico. Assim, para manter osigilo dos dados, a informação quanto a qualregime terapêutico da amoxicilina (bd ou tid) sereferem os grupos “A” e “B” ainda está sendomantida em confidencialidade. Entretanto, éfundamental destacar que tal procedimento nãointerfere com os dados aqui apresentados jáque o principal objetivo deste estudo édemonstrar que não há diferenças quanto àresposta terapêutica quando se compara aeficácia clínica de uma nova formulação deamoxicilina (bd) com outra formulação (tid) domesmo produto, cuja eficácia terapêutica já foiamplamente documentada na literatura médicanas últimas décadas, assim como consagradapelo sucesso de sua utilização na prática médicadiária.
Este estudo demonstrou que ambos osregimes terapêuticos foram igual e altamenteeficazes em pacientes com faringotonsiliteestreptocócica aguda. Percentuais elevados e,principalmente, idênticos de cura clínica foramverificados em ambos os grupos na visita definal de tratamento, a saber, 96,5% para o grupoA e 96,5% para o grupo B.
A eficácia de um regime posológicoantibiótico administrado duas vezes ao dia éconfirmada por dados farmacocinéticos emicrobiológicos que correlacionam a eficáciabacteriológica e a extensão de tempo duranteo qual o nível sérico do antibiótico é observadono plasma. Estudos prévios demonstraram que,quando o nível plasmático do antibióticopermanece acima da concentração inibitóriamínima por pelo menos 40% do tempocorrespondente ao intervalo entre as doses (30),obtém-se uma eficácia bacteriológica maior que80% (31).
Estes dados correspondem a dadosgerados por estudos farmacocinéticosrealizados previamente com voluntários normaise que estudaram a biodisponibilidade ecomprovaram a bioequivalência da suspensãooral de amoxicilina nas formulações 400 mg e200 mg quando administradas duas vezes aodia (bd) com as formulações 250 mg e 125 mg
quando administradas três vezes ao dia (tid),respectivamente (De Nucci et al. Dados nãopublicados).
Os efeitos adversos foram raramenteobservados neste estudo, em ambos os grupos,e consistentes com o que seria esperado pelaadministração da amoxicilina. Além disso, namaioria das vezes, tais ocorrências foramconsideradas pelos médicos assistentes comonão sendo sérias, além de serem interpretadascomo não estando relacionadas à administraçãoda medicação do estudo.
Este estudo permite concluir que, deacordo com os dados apresentados, aadministração de amoxicilina duas vezes ao dia(bd) parece ser tão eficaz quanto aadministração de amoxicilina três vezes ao dia(tid) no tratamento da faringotonsiliteestreptocócica. Índices elevados e idênticos decura clínica foram observados em ambos osgrupos de pacientes, com a vantagem adicionaldo regime de administração da amoxicilina duasvezes ao dia (bd) poder determinar melhoraderência dos pacientes ao tratamento.
Referências
1. Hable KA, Washington JA, Hermann Jr E. Bacterial
and viral throat flora. Clin Pediatr 1971;10:199-403.
2. McMillan JA, Sanstrom C, Weiner Lb, et al. Viral
and bacterial organisms associated with acute
pharyngitis in a school-aged population. J Pediatr
1986;109:747-52.
3. Shulman ST. Complications of streptococcal
pharyngitis. Pediatr Infect Dis J 1994;13:S70-4.
4. Congeni BL. The resurgence of acute rheumatic
fever in the United States. Pediatr Ann
1992;21:816-40.
5. Chapnick EK, Gradon JD, Lutwick LI, et al.
Streptococcal shock syndrome due to non-invasive
pharyngitis. Clin Infect Dis 1992;14:1074-7.
6. Dajani AS, Bisno AL, Chung KJ, et al. Prevention
of rheumatic fever: A statement for health
professionals by the Committee on Rheumatic
Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease of the
Council on Cardiovascular Disease in the Young.
The American Heart Association. Circulation
1988;78:1082-6.
7. Denny FW. Current management of streptococcal
pharyngitis. J Fam Pract 1992;35:619-40.
8. Nelson JD. The effect of penicilin therapy on the
Revista HCPA 1999;19 (2)232
Rotta Pereira et al. Tratamento da faringotonsilite estreptocócica com amoxicilina
symptoms and signs of streptococcal pharyngitis.
Pediatr Infect Dis 1984;3:10.
9. Krober MS, Bass JW, Michels GN. Streptococcal
pharyngitis. Placebo-controlled double-blind
evaluation of clinical response to penicilin therapy.
JAMA 1985;435:1271.
10. Randolph MF, Gerber MA, DeMeo KK, et al. The
effect of antibiotic therapy on the clinical course
of streptococcal pharyngit is. J Pediatr
1985;106:870.
11. Statements of The American Heart Association
Council on Rheumatic Fever and Congenital
Heart Disease. Protection of rheumatic fever
patients. JAMA 151:141-3.
12. Peter G. Streptococcal pharyngitis: Current
therapy and criteria for evaluation of new agents.
Clin Inf Dis 1992;14:S218-223;S231-232.
13. Denny FW. Current management of pharyngitis
and pharyngotonsillitis in children. A current
review. Ann Otol Rhino Laryngol 1992;155:51-7.
14. Stil lerman M, Isenberg HD, Facklam RP.
Treatment of pharyngitis associated with group A
streptococcus: comparison of amoxicillin and
potassium phennoxymethylpenicillin. Infect Dis
1974;129:1691-771.
15. Breese BB, Disney FA, Talpey WB, Green JL.
Treatment of streptococcal pharyngitis with
amoxicillin. J Infect Dis 1974;129:178-88.
16. Peyramoud D, Portier H, Geslin P, Cohen R. 6-
day amoxicillin versus 10-day penicillin V for group
A beta-haemolytic streptococcal acute tonsillitis in
adults: a french multicentre, open-label,
randomised study. Scan J Infect Dis 1996;28:497-
501.
17. Nyffenegger R, Riebenfeld D, Bandau KH, et al.
A multicentre comparative study of brodimoprim
and amoxicillin therapy in the treatment of
tonsillopharyngitis in adults. J Chemother
1993;5(6):512-6.
18. Schvartzman P, Tabenkin H, Dolginov F.
Treatment of streptococcal pharyngitis with
amoxicillin once a day. Br Med J 1993;306:1170-
2.
19. New HC. Aminopenicillins: Clinical pharmacology
and use in disease states. Int J Clin Pharmacol
Biopharm 1975;11:132.
20. New HC. Antimicrobial activity and human
pharmacology of amoxicil l in. J Infect Dis
1974;129:123.
21. Gilquin G, Gutmann L. Classification and place
of penicillins among beta-lactam antibiotics:
structure, mode of action, pharmacokinetics. Rev
Prat 1988;38(3):138-9.
22. Grob PR. Antibiotic prescribing practices and
patient compliance in the community. Scand J
Infect Dis 1992;83:7-14.
23. Urquhart J. Ascertaining how much compliance
is enough with out-patient antibiotic regimens.
Postgrad Med J 1992;68(Suppl. 3):S49-58.
24. Pichichero ME, Gooch WM, Rodriguez W, et al.
Effective short course treatment of acute group A
beta-hemolytic streptococcal pharyngitis. Ten
days of penicillin V vs 5 days or 10 days of
cefpodoxime therapy in children. Arch Pediatr
Adolesc Med 1994;148(10):1053-60.
25. Cohen R, Levy C, Doit C, et al. Six-day amoxicillin
vs. ten-day penicillin V therapy for group A
streptococcal tonsillopharyngitis. Pediatr Infect
Dis J 1996;15:678-82.
26. Hoberman A, Paradise J, Burch DJ. Equivalent
efficacy and reduced ocurrence of diarrhea from
a new formulation of amoxicillin/clavulanate
potassium (Augmentin) for treatment of acute
otit is media in children. Ped J Infect Dis
1997;16(5):463-70.
27. Cook RC, Zachariah J, Cree F, Harrison HE.
Efficacy of twice daily amoxicillin/clavulanate
(Augmentin-duo 400/57) in mild to moderate lower
resoiratory tract infection in children. Br J Clin
Pract 1996;50(3):125-8.
28. Behre U, Burow HM, Quinn P, Cree F, Harrison
HE. Efficacy of dosing with twice daily amoxicillin/
clavulanate in acute otitis media. Infection
1997;25:163-6.
29. Calver AD, Walsh NS, Quinn PF, et al. Dosing of
amoxicillin/clavulanate every 12 hours is as
effective as dosing every 8 hours for treatment of
lower respiratory tract infection. Clin Infect Dis
1997;24:570-4.
30. Vogelman B, Gudmundsson S, Legget J, et al.
Correlation of antimicrobial pharmacokinetic
parameters with therapeutic efficacy in an animal
model. J Infect Dis 1988;158:831-47.
31. Craig WA. Antimicrobial resistance issues of the
future. Diag Microbiol Infect Dis 1996;24:213-7.
Revista HCPA 1999;19 (2) 233
RoithmannObstrução nasalARTIGO ESPECIAL
Obstrução nasal – consideraçõescirúrgicas relevantes1
Renato Roithmann, MD, PhD2
Este artigo revisa conceitos relevantes relacionados às três áreas anatômicas quemais comumente geram o sintoma obstrução nasal: a área da válvula nasal, o meatomédio e a coana/rinofaringe.
Unitermos: Obstrução nasal; válvula nasal; conchas nasais; cirurgia.
Nasal obstruction - relevant surgical aspectsThis paper reviews essential concepts related to the main anatomical areas associatedwith the genesis of the nasal obstruction symptom: the nasal valve area, the middlemeatus and the choana/rhynopharynx space.
Key-words: Nasal obstruction; nasal valve; nasal turbinates; surgery.
O sucesso do tratamento cirúrgico dopaciente portador de obstrução nasal dependeem muito da habilidade cirúrgica dootorrinolaringologista. Contudo, uma cirurgiaadequada do ponto de vista técnico nemsempre vem acompanhada de um resultadoadequado do ponto de vista do paciente. Istose explica parcialmente pelo fato de ser osintoma obstrução nasal muito complexo etambém pela constatação da existência de umafraca correlação entre o mesmo e os achadosrinoscópicos, por imagem ou por testesespecíficos da permeabilidade nasal (aferiçõesde área transversal e resistência nasal) (1).Pacientes com importantes desvios de septoou mesmo edema de mucosa, muitas vezes,não se queixam de obstrução nasal e, aomesmo tempo, pacientes com examerinoscópico totalmente normal se queixam deentupimento nasal. Mais ainda, pacientes que
foram submetidos a turbinectomias radicais deambas conchas inferiores e médias nasaispodem persistir ou mesmo piorar o sintomaobstrução nasal (2). Portanto, respirar bempelo nariz depende de espaço intranasaladequado, mas outros fatores tambémparticipam desta importante e vital função,como exemplos, a função mucociliar e apercepção de respiração (3). Indivíduos comqueixa de obstrução nasal e exame rinoscópiconormal podem apresentar diminuída a funçãodos receptores nasais responsáveis peladetecção de fluxo aéreo (o mesmo se aplicaao limiar de percepção dolorosa que pode sermaior ou menor, variando entre os indivíduos).Quando um indivíduo normal inala, porexemplo, mentol, ocorre estímulo destesreceptores comprovadamente presentes novestíbulo nasal e uma sensação de alíviorespiratório secundário, mesmo na ausênciade aumento de fluxo aéreo real (4). Efeito
Introdução
Revista HCPA 1999;19(2):233-7
1 Trabalho apresentado no I Curso de Rinoplastia da Clínica Dr. Wilson Dewes, Lajeado, Abril, 1998.2 Faculdade de Medicina, Universidade Luterana do Brasil. Correspondência: Rua Mostardeiro 157/604, CEP 90430-
001, Porto Alegre, RS, Brasil. Fone/fax: +55-51-222-0058; e-mail: [email protected]
Revista HCPA 1999;19 (2)234
Roithmann Obstrução nasal
contrário ocorre quando o vestíbulo nasal ou amucosa nasal é anestesiada com xilocaínatópica (5).
Este artigo não esgota o assuntoobstrução nasal; contudo, consideraçõesrelevantes para principalmente evitar otratamento cirúrgico inapropriado sãorevisadas.
O primeiro passo é procurar definir o queo paciente realmente quer dizer quando sequeixa de obstrução nasal. Uma anamnesecuidadosa, ou seja, questionar e ouvir opaciente, diferencia, por exemplo, obstruçãonasal (nariz entupido) da sensação de pressãointranasal (sinus pressure). É difícil traduzirsinus pressure. O conceito quer dizer que opaciente não sente o nariz entupido (apesarde assim se expressar), mas sim umasensação de pressão alta no nariz, entre osolhos, na região dos meatos médios.
Outro aspecto importante é que oexaminador nunca deve esquecer que o nariz,ou melhor, que toda a árvore respiratória éaltamente dinâmica, e que flutuações cíclicasda mucosa nasossinusal podem gerarsintomas passageiros de entupimento nasal.Este fenômeno, chamado de ciclo nasal (hojetambém definido como “alterações recíprocasnão-cíclicas da mucosa nasal”) (6), passa a serrelevante em muitos indivíduos, por exemplo,portadores de desvios de septo, mas muitofreqüentemente, oculta depressão, ansiedade,neuroses e outros transtornos do dia a dia.Portanto, devemos sempre lembrar que aavaliação e conduta diante de um paciente comqueixa de obstrução nasal, deve levar em contaque o nariz (entenda-se mucosa nasossinusal)é um órgão dinâmico! Mais ainda, lembrar queestas características se transferem para osexames por imagem ou para os testesespecíficos da permeabilidade nasal (figuras1 A e 1 B).
Os comentários expostos nos primeirosparágrafos deste artigo reforçam que oentendimento do sintoma obstrução nasal vaimuito além da simples impressão visualproporcionada pela rinoscopia do septo nasale das conchas nasais e das septoplastiasassociadas ou não às turbinectomias.
A experiência clínica (anamnese erinoscopia com e sem endoscópio) e
laboratorial (medidas da permeabilidade nasale imagem) indicam que o médico assistentedeve concentrar sua atenção a três áreaschaves na gênese do sintoma obstrução nasalquando pensa em cirurgia: área da válvulanasal; meato médio; coana.
Área da válvula nasal
Este é o sítio mais comum de obstruçãonasal em humanos (7). O ângulo formado pelobordo caudal do septo nasal e pelo bordoinferior da cartilagem lateral superior é a válvulanasal classicamente descrita por Mink há 100anos (8). Prefere-se hoje o conceito funcionalde área da válvula nasal, incluindo-se oassoalho da cavidade nasal no orifíciopiriforme, onde, em condições normais, está acabeça do corneto inferior (9,10).Conseqüentemente, o exame e o tratamentodas estruturas desta região deve incluir ascartilagens laterais superior e inferior e seusrevestimentos muco-cutâneos, o bordo caudale anterior do septo nasal e a cabeça do cornetoinferior no orifício piriforme. Esta área temcomportamento altamente dinâmico e é muitosensível às pressões intramurais e transmuraisdo nariz e às alterações dos vasos decapacitância dos cornetos nasais inferiores. Ocirurgião deve estar atento ao fato de mais de50% da resistência nasal ser gerada nestenível com o objetivo de quebrar o fluxo laminare transformá-lo em turbulento – o resultado finalé o adequado condicionamento edirecionamento do ar no interior da cavidadenasal. O cirurgião deve reconhecer que ascartilagens, músculos e revestimentosmucocutâneos que compõem a área da válvulanasal impedem o colapso da mesma emsituações normais de demanda respiratória.Defeitos nestas estruturas podem sercongênitos ou adquiridos. Dentre os defeitos,adquiridos e de relevância para o cirurgião estaa insuficiência valvular pós-rinoplastia estética(dano ao sistema anticolapso das cartilagense estruturas de sustentação). Estudosempregando a rinometria acústica mostramque a rinoplastia estética reduz em até 25% aárea de secção transversal mínima da cavidadenasal (11). Considerando-se a relaçãoexponencial e inversa entre a área de secção
Revista HCPA 1999;19 (2) 235
RoithmannObstrução nasal
transversal mínima e o fluxo aéreo transnasal,não é de se estranhar que muitos pacientespassam a apresentar obstrução nasal pós-rinoplastia estética. Em recente tese dedoutoramento, Roithmann mostrou que a áreada válvula nasal em pacientes com queixa deobstrução nasal e teste de Cottle positivo pós-rinoplastia estética é um terço daquelaapresentada por indivíduos normais (12).
Portanto, é recomendável a reduçãoparcial da cabeça do corneto inferior emrinoplastias que trabalham muito a região daárea da válvula nasal no sentido de preveniruma redução acentuada da área transversaldesta região (11). Associado a isto, técnicacirúrgica precisa e atraumática é essencial, nosentido de preservar harmônicas as relaçõesanatômicas que sustentam o arcabouçocartilaginoso da região e seu sistemaanticolapso. O mesmo princípio se aplica àsosteotomias laterais que tendem a reduzir
significativamente a via aérea nasal anterior emalguns casos (13).
Contra-indicamos, no momento atual, aturbinectomia radical da concha inferior comoforma de tratamento da obstrução nasalresistente ao tratamento clínico, por ser anti-fisiológica e também pela morbidade queacompanha indefinidamente muitos pacientes(2,14). Recomendamos cautela nasturbinectomias inferiores quando o cirurgião foragressivo na concha média. No atual estágiode conhecimento da rinossinusologia, apreservação da mucosa nasossinusal,incluindo a que recobre as conchas nasais, éessencial para o adequado funcionamento donariz e, assim sendo, para o adequadotratamento da obstrução nasal.
A correção de desvios de septo (muitasvezes não corrigidos no ângulo superior daentrada da válvula nasal e também no bordocaudal) são também imperativos para a
Figura 1 B. Vista coronal do mesmo paciente dafigura 1 A 2 horas mais tarde. Observe que o ciclonasal agora descongestiona a concha inferior direita econgestiona a concha inferior esquerda. Mais ainda, omeato médio direito esta agora permeável apesar daconcha média ser bolhosa. Este é um exemploclássico de como a mucosa nasossinusal é dinâmicae de como uma avaliação em um determinadomomento pode ser enganosa ao radiologista e aoclínico.
Figura 1 A. Tomografia computadorizada dosseios paranasais: corte coronal ao nível dosmeatos médios. Observe a congestão da mucosada concha inferior direita e imagem sugestiva deobstrução do meato médio direito (oposto à Figura1 B). Observe também que a concha inferioresquerda está bem retraída nesta figura (oposto àfigura 1 B).
Revista HCPA 1999;19 (2)236
Roithmann Obstrução nasal
melhora da função nasal. Em pacientessubmetidos a septoplastias isoladas, deve-seestar atento para a possibilidade de hipertrofiacompensatória da concha inferior contralateral,devendo o mesmo ser tratado cirurgicamenteem muitos casos.
Métodos de avaliação da área da válvulanasal
Subjetivo
Inspeção visual em inspiração eexpiração normal e forçadas; teste de Cottle;rinoscopia com e sem espéculo nasal (antes eapós vasoconstrictor tópico). Estas manobrasfornecem o diagnóstico porém não quantificamo sintoma! Sugere-se vídeo-documentar casosevidentes de mau funcionamento da área daválvula nasal no pré-operatório!
Objetivos
Testes específicos da permeabilidadenasal: rinomanometria computadorizada (comsistema que não deforme a área da válvulanasal) e rinometria acústica (ecografia nasal).Ambos os testes devem ser realizados antes eapós vasoconstricção tópica da mucosa nasalpara quantificar o componente de mucosapresente; e antes a após a dilatação forçadada área da válvula nasal para quantificar acontribuição das cartilagens laterais (15). Estestestes substanciam os achados clínicosfornecendo representação gráfica e magnitudedo sintoma obstrução nasal (16,17).
Meato médio
O exame minucioso dos meatos médios(conchas médias, processos uncinados,infundíbulos e bolha etmoidal)preferencialmente através da endoscopiaflexível ou rígida, é essencial para a avaliaçãocompleta de qualquer paciente com queixa deobstrução nasal. O fluxo aéreo normal percorrenão só as porções inferiores da cavidade nasal,mas também os terços médio e superior.Pacientes com obstruções de meato médio porproblemas estruturais, ou mesmo inflamaçãocrônica, freqüentemente se queixam de
obstrução nasal. Na verdade o sintoma é maisde pressão na região alta do nariz (sinuspressure) e deve ser diferenciado naanamnese. O tratamento destes pacientesvisando apenas o terço inferior do nariz, leia-se conchas inferiores, poderá não ser bemsucedido no que se refere ao alívio do sintoma.O tratamento medicamentoso ou mesmocirúrgico destes casos deve visar a concha emeato médio correspondente.
A ressecção rotineira e radical da conchamédia não parece ser uma boa opção por sera mesma uma das mais importantesreferências anatômicas da região (18). Namaioria das vezes o cirurgião deve direcionarsua atenção para o terço lateral (face meatal enão septal) e inferior da concha média,cuidando para manter a estabilidade e assimevitando o colapso do terço remanescente emdireção à parede lateral do nariz.
Recomendação prática: realizarendoscopia nasal em todo paciente com queixade obstrução nasal resistente a tratamentoclínico, complementada com tomografiacomputadorizada (TC) de seios paranasais, nosentido de avaliar as relações anatômicas daregião dos meatos médios. Observaçõespertinentes quanto ao TC: a tomografiacomputadorizada é um exame estático e quenão quantifica a permeabilidade nasal.Portanto a indicação cirúrgica não deve serbaseada apenas nos achados da imagem,sendo mais importante para esta finalidade ahistória clínica e o exame físico. A imagemtem maior relevância para o planejamento eato cirúrgico. O exame deve ser realizado, namedida do possível, fora de crises agudas(infeciosas ou alérgicas) (19).
Coana e rinofaringe
Por último, mas não menos importante,vem o exame detalhado da coana e darinofaringe. Muitas vezes a cauda da conchainferior hipertrofia-se, ou por degeneraçãopolipóide, ou por outros processos inflamatórioscrônicos e obstrui a coana. Nossa experiênciacirúrgica atual indica que em relação aotratamento cirúrgico da concha inferior, atençãoespecial deve ser dada em primeiro lugar àcabeça da concha na área da válvula nasal e
Revista HCPA 1999;19 (2) 237
RoithmannObstrução nasal
em segundo lugar à cauda da concha em nívelda coana (chamado por alguns colegas de“válvula posterior”).
Atenção às hipertrofias de tecidoslinfóides da rinofaringe (adenóides) que, apesarde serem bem mais prevalentes em crianças,podem gerar obstrução severa também emadolescentes e adultos.
Referências
1. Roithmann R, Cole P, Chapnik J, et al. Acoustic
rhinometry, rhinomanometry and the sensation of
nasal patency: a correlative study. J
Otolaryngology 1994;23:454-8.
2. Roithmann R. Turbinectomy: what should not be
done. European Rhinologic Society &
International Symposium of Infection and Allergy
of the Nose Meeting ’98 Proceedings Book.
Stammberger H, Wolf G, editors. Bologna, Itália:
Monduzzi Editore;1998. p.487-93.
3. Eccles R. Nasal airway resistance and nasal
sensation of airflow. Rhinology 1992;14:86-90.
4. Burrow A, Eccles R, Jones AS. The effects of
camphor, eucalyptus and menthol vapour on
nasal resistance to airflow and nasal sensation.
Acta Otlaryngol 1983;96:157-61.
5. Eccles R, Morris S, Tolley NS. The effects of nasal
anaesthesia upon nasal sensation of ariflow. Acta
Otolaryngol 1988;106:152-5.
6. Flonagen P, Eccles R. Spontaneous changes of
unilateral nasal airflow in man: a re-examination
of the ‘nasal cycle’. Acta Otolaryngol
1997;117:590-5.
7. Cole P. The respiratory role of the upper airways:
a selective clinical and pathophysiological review.
St. Louis: Mosby-Year Book;1993. p.1-164.
8. Mink PJ. Le nez comme voie respiratorie. Presse
Otolaryngol 1903;481-96.
9. Haight JSJ, Cole P. The site and function of the
nasal valve. Laryngoscope 1983;93:49-55.
10. Roithmann R, Chapnik J, Cole P, et al. Acoustic
rhinometric assessment of the nasal valve area.
Am J Rhinol 1997;11:379-85.
11. Grymer LF. Reduction rhinoplasty and nasal
patency: change in the cross-sectional area of
the nose evaluated by acoustic rhinometry.
Laryngoscope 1995;105:429-31.
12. Roithmann R. Estudos de estrutura e função da
área da válvula nasal: contribuição da rinometria
acúst ica e da r inomanometr ia [ tese de
doutorado]. Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul;1997.
13. Guyuron B. Nasal osteotomy and airway changes.
Plast Reconstr Surg 1998;102:856-60.
14. Moore GF, Freeman TJ, Ogren FP, et al. Extended
follow-up of total inferior turbinate resection for
relief of chronic nasal obstruction. Laryngoscope
1985;95:1095-9.
15. Roithmann R, Chapnik J, Cole P, et al. The role
of the external dilator on the management of nasal
obstruction. Laryngoscope 1998;108:712-5.
16. Roithmann R, Cole P, Chapnik J, et al. Acoustic
rhinometry in the evaluation of nasal obstruction.
Laryngoscope 1995;105:275-81.
17. Roithmann R. Avaliação objetiva da patência
nasal: rinomanometria e rinometria acústica. F
Med (BR) 1999;118(supl 1):29-30.
18. Kennedy D. Middle turbinate resection – should
we resect normal middle turbinates? Arch
Otolaryngol H N Surg 1998;124:107-8.
19. Roithmann R, Shankar L, Hawke M, et al. CT
imaging in the diagnosis and treatment of sinus
disease: a partnership between the radiologist
and the otolaryngologist. J Otolaryngol
1993;22:253-60.
Revista HCPA 1999;19 (2)238
Lavinsky et al. Síndrome de MénièreARTIGO ESPECIAL
Síndrome de Ménière: diagnóstico etiológico
Luiz Lavinsky1, Cíntia D’Avila2, Rafael M. Campani3,Michelle Lavinsky4
A correta identificação da etiologia da síndrome de Ménière, alcançada em até 50%dos casos, permite, via de regra, uma melhora significativa do quadro, através domanejo da doença de base. O presente estudo objetiva discutir as principais doençaspossivelmente associadas à gênese da síndrome de Ménière, enfocando prevalência,mecanismo etiopatogênico, implicação prognóstica. Além disso, apresentamos umfluxograma que serve como guia de busca etiológica para a síndrome de Ménière.
Unitermos: Síndrome de Ménière; etiologia; patologia de base.
Ménière’s syndrome: etiologic diagnosisThe correct identification of the etiology of Ménière’s syndrome is possible in up to50% of all cases; once the underlying cause is identified, it can be managed, and thatusually results in significant improvement in the set of symptoms. The objective of thepresent paper is to discuss the main diseases associated to the genesis of Ménière’sin terms of prevalence, etiopathogenic mechanisms, and prognostic implications. Inaddition, the paper presents a flow chart that can serve as a guide for etiologic researchin Ménière’s syndrome.
Key-words: Ménière’s syndrome; etiology; underlying pathology.
Revista HCPA 1999;19(2):238-50
Introdução
A doença de Ménière, descrita porProsper Ménière, em 1861, é consideradacomo o protótipo das patologias labirínticasperiféricas. Sua real incidência é aindadesconhecida, o que se deve, principalmente,à falta de uniformidade na utilização doscritérios diagnósticos. Some-se a isso o fatode a doença, não raro, passar despercebida
em sua fase inicial, em virtude da possibilidadede ocorrência isolada de achados cocleares.Mesmo quando o componente vestibular torna-se evidente, os longos períodos de remissão,característicos da doença, podem levar adiagnósticos errôneos de patologiasautolimitadas (1).
A American Academy of Ophthalmologyand Otolaryngology (AAOO) definiu Ménière,em 1972, como uma patologia do labirinto
1 Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Faculdade de Medicina, UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul. Correspondência: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Serviço deOtorrinolaringologia, Ramiro Barcelos 2350, CEP 90035-003, Porto Alegre, RS, Brasil.
2 Residente, Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre.3 Residente, Serviço de Radiologia, Hospital Mãe de Deus.4 Acadêmica, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Revista HCPA 1999;19 (2) 239
Lavinsky et al.Síndrome de Ménière
membranoso, caracterizada por surdez,vertigem e, geralmente, zumbidos, e que temna distensão hidrópica do sistema endolinfáticoseu substrato patológico. O quadro clínicocaracterístico dessa condição consiste em umatríade de sintomas, vestibulares, auditivos esensação de pressão aural, os quais, via deregra, ocorrem conjuntamente. Os sintomasvestibulares consistem de crises paroxísticasde vertigem e os sintomas auditivos incluemdisacusia neurossensorial e zumbidos. Ahipoacusia é, caracteristicamente, flutuante eprogressiva, acometendo inicialmente asbaixas freqüências. Muitos pacientesexperimentam sintomas vestibulares ouauditivos isolados por vários meses ou atémesmo por anos, depois do que desenvolvemos demais sintomas. O comprometimento daaudição e os zumbidos podem, não raro,apresentar melhora no momento de início davertigem, o que é explicado pela atenuação dahidropsia endolinfática que ocorre em funçãoda ruptura da membrana labiríntica,constituindo a chamada síndrome de Lemoyez.Além disso, quadros clínicos incompletospodem ocorrer e têm sido denominados doençade Ménière atípica (1).
A doença de Ménière ocorre maiscomumente em adultos, manifestando-se,geralmente, em torno da 4ª década de vida.Pode, ocasionalmente, comprometer tambémcrianças. Acredita-se que homens e mulheressejam igualmente afetados (com levepredominância do sexo feminino) e que nãohaja predileção quanto ao lado comprometido.Estimativas quanto à bilateralidade doacometimento labiríntico têm variado de 30%a 78% (1,2).
O conjunto de sintomas característico deMénière tem sido chamado, por autoresconsagrados, de doença de Ménière quandoidiopático, e de síndrome de Ménière quandosecundário a alguma doença de base (1).Seguiremos essa terminologia no presenteartigo, a despeito de não concordarmosintegralmente com tal nomenclatura. Dessaforma, ao discutir as doenças associadas,passaremos a utilizar o termo síndrome deMénière.
A hidropsia endolinfática, demonstradaem estudos histopatológicos de ossos
temporais, constitui o achado fisiopatológicocaracterístico da doença de Ménière, podendolevar, na sua progressão, à ruptura damembrana labiríntica, com conseqüentemistura iônica da perilinfa com a endolinfa (3,4).Isto resultaria em comprometimento vestibularagudo, cuja duração é limitada pelareconstituição dessa membrana e doconseqüente restabelecimento do equilíbrioeletrolítico. Embora seja indubitável aassociação entre hidropsia endolinfática eMénière, uma relação causal entre essas duasentidades não se encontra ainda definida. Comefeito, sabe-se que, embora a totalidade dospacientes com síndrome ou doença de Ménièreclinicamente manifesta apresente hidropsiaendolinfática, o contrário não é verdadeiro.Acredita-se que outros fatores estejamenvolvidos, direta ou indiretamente, nessaassociação, de forma que a hidropsiaendolinfática não parece responder, por si só,pela gênese dessa doença (3,5,6).
As principais alterações estruturaisreportadas nos exames de imagem dospacientes com doença de Ménière são:mastóide hipocelular, diminuição dapneumatização periaquedutal, fibroseperissacular, atrofia sacular, estreitamento doducto endolinfático e redução do triângulo deTrautmann com deslocamento medial eanterior do seio lateral.
A relevância do presente estudo resideem enfocar a ampla gama de doençaspossivelmente causadoras da síndrome deMénière, as quais podem estar presentes emcerca de 40 a 50% dos casos. A revisãobibliográfica realizada não nos permite afirmar,contudo, em virtude da inexistência de ensaiosclínicos controlados, qual o real significadoprognóstico-terapêutico da identificação deuma possível etiologia (7-10). De qualquerforma, já é bem reconhecido que muitos casospodem ser adequadamente controladosatravés do manejo da doença de base. Opresente trabalho objetiva, assim, apresentaras diferentes etiologias possíveis para asíndrome de Ménière, enfocando prevalência,mecanismo fisiopatológico e implicaçãoprognóstica, bem como sugerir uma seqüênciaracional de busca etiológica .
Revista HCPA 1999;19 (2)240
Lavinsky et al. Síndrome de Ménière
Desenvolvimento
Os agentes causadores de síndrome deMénière, podem ser agrupados em novegrandes grupos, que serão maisdetalhadamente discutidos a seguir.
Alergia
A primeira referência à função dasalergias no desenvolvimento da síndrome deMénière foi feita em 1923 por Duke (11). Aalergia parece responder por aproximadamente14% dos casos de Ménière (7). Representa,assim, a causa potencialmente mais freqüentede síndrome de Ménière. Tal diagnósticoetiológico deve ser suspeitado em pacientescujos sintomas da doença parecem serprecipitados por irritantes inalatórios oualimentares, bem como pela ocorrência devariação sazonal dos sintomas ou presença deoutras manifestações alérgicas, tais comoasma, rinite ou polipose nasal. Outrasindicações para a avaliação de alergia empacientes com Ménière incluem: bilateralidade(a qual tem sido descrita mais comumentenesses pacientes), história familiar de alergia,resposta clínica aos corticosteróides ou falênciaao tratamento clínico ou cirúrgico (12). Ostestes recomendados pela American Academyof Otolaryngologic Allergy (AAOA) e AmericanAcademy of Otolaryngology – Head and NeckSurgery (AAO-HNS) para diagnóstico dealergia inalatória mediada pela IgE são o SET-test (skin end-point titration) e o RAST-test(radioallergosorbent), os quais forneceminformações qualitativas e quantitativas sobrealergenos inalatórios específicos. Já a alergiaa antígenos alimentares é mais fortementesugerida por uma história de eczema, cólicaou retenção líquida, entre outrasmanifestações, surgidas em resposta adeterminados antígenos alimentares. Podemauxiliar nesse diagnóstico os testesprovocativos de inoculação intradérmica ousubcutânea de antígenos alimentares. Tambémforam descritas alterações àeletronistagmografia e à eletrococleografia empacientes nos quais injetaram-se extratosalimentares (13).
Não é conhecido, ainda, o mecanismo
pelo qual uma reação alérgica a antígenosalimentares ou inalatórios possa produzirsíndrome de Ménière. Estudos morfológicos dolabirinto têm levantado algumas proposições.A maioria das células imunocompetentes doouvido interno estão localizadas na áreainteróssea do saco endolinfático, cujos vasossão fenestrados. Os mediadores liberadospelos mastócitos e basófilos podem aumentara permeabilidade dessas fenestrações,permitindo a deposição de complexosantígeno-anticorpo nessa área,comprometendo, assim, sua capacidade dereabsorção. Alternativamente, mediadoresalérgicos, liberados distalmente emdecorrência de um processo alérgico sistêmico,poderiam ter acesso ao saco endolinfático,podendo exercer, assim, seus efeitosfarmacológicos de forma direta. Alguns autoresacreditam que os efeitos vasodilatadores dahistamina ou de outros mediadores possamafetar a capacidade de reabsorção do sacoendolinfático (14).
Apesar da base imunológica para umacausa alérgica da síndrome de Ménièrepermanecer não bem entendida, vários autorestêm documentado melhora na vertigem, nozumbido e na audição através dadessensibilização a alergenos inalatórios e daeliminação, na dieta, de alimentospossivelmente relacionados à alergia. Issosugere que a imunomodulação possa ser parteimportante do tratamento da síndrome deMénière em alguns pacientes (1,12). De fato,Dereby e cols. (12) demonstraram umadiminuição tanto na freqüência quanto naseveridade dos ataques vertiginosos em 62%dos pacientes tratados por imunoterapia, bemcomo uma melhora do zumbido em 50% deles.Outro recente estudo desse mesmo autor,envolvendo 113 pacientes e considerado omaior em termos de análise das característicase da resposta ao tratamento de pacientes comMénière possivelmente causada ouinfluenciada por um processo alérgico, teveresultados semelhantes (15).
Sífilis
A hidropsia luética pode ocorrer tanto nasífilis congênita quanto na sífilis adquirida (16),
Revista HCPA 1999;19 (2) 241
Lavinsky et al.Síndrome de Ménière
sendo que a primeira forma parece ser a maisimportante. O comprometimento labiríntico nasífilis adquirida é uma manifestação possívelno terceiro estágio da doença, o qual só éalcançado por cerca de um terço dos pacientesnão tratados. Pulec estimou, em 1973, em 7%os casos de síndrome de Ménière de prováveletiologia luética (7). Acredita-se, contudo, quetal porcentagem tenha decaído em decorrênciados avanços no controle da sífilis e do seudiagnóstico mais precoce, reduzindo, assim, onúmero de casos que evoluem ao terciarismo.
Postula-se que a placenta sejapermeável ao Treponema pallidum a partir doquinto mês de idade gestacional. Karmody &Schuknecht (17) descreveram um percentualde 38% de perda auditiva, geralmenteassociada a sintomas vestibulares e arespostas calóricas diminuídas, em portadoresde sífilis congênita. A infecção congênita podedar origem a uma forma precoce de doença,que aparece em torno da segunda à décimasemana de vida e que apresenta-se com lesõessimilares ao secundarismo da sífilis adquirida.A forma congênita tardia, por sua vez, iniciaapós a segunda década de vida e evolui comouma doença aparentemente não infecciosa. Écaracterística dessa forma de sífilis congênitaa chamada tríade de Hutchinson, constituídade perda auditiva, ceratite intersticial epresença de chanfraduras nos dentes incisivos.Nem sempre, contudo, esses achados ocorremconjuntamente, dificultando o diagnóstico daforma de contágio da infecção. De fato, a perdaauditiva neurossensorial progressiva e bilateralpode ser, não raro, a única manifestação dasífilis congênita tardia, não podendo, muitasvezes, ser feito o diagnóstico diferencial coma perda auditiva induzida pela sífilis adquirida.Indesteege & Verstraete (18) descreveramcinco casos de sífilis congênita deaparecimento tardio com manifestaçõescompatíveis com Ménière, em nenhum dosquais a tríade completa de Hutchinson estavapresente, tendo os pacientes apresentado,além da perda auditiva, apenas ceratiteintersticial. A confirmação diagnóstica foi feitaatravés de testes sorológicos específicos (18).
A perda auditiva na sífilis, embora possaser de início abrupto, normalmente apresenta-se de forma insidiosa e é, geralmente, bilateral.
O comprometimento vestibular pode não serclinicamente aparente, sendo comum o achadode hiporreflexia vestibular bilateral (19).
A patologia da otolues congênita podeser vista sob dois aspectos: comprometimentoósseo e comprometimento vascular. O primeirodeles manifesta-se por lesões inflamatóriaslocalizadas na porção petrosa do ossotemporal, o que é descrito como uma “osteítede rarefação” (20). O comprometimento dosistema vascular local, por sua vez, dá-se soba forma de endarterite obliterante. Tais lesõespodem acometer a estria vascular, levando àhidropsia endolinfática. Esta parece ser maisimportante em nível de ducto coclear e desáculo. Esses achados parecem ser osresponsáveis pelo desenvolvimento docomplexo sintomático característico de Ménièremesmo na ausência de doença sifilítica ativa(1).
Outra questão intensamente discutida noque tange à otolues diz respeito ao valor dostestes sorológicos específicos para otreponema, em pacientes com quadro clínicocompatível com Ménière, para a determinaçãode uma origem sifilítica para a síndrome deMénière. Galen estimou que o valor preditivopositivo do FTA-ABS para diagnóstico desíndrome de Ménière de origem sifilítica, emuma população com doença do ouvido interno,é de 22%, o que significa que em apenas umpaciente em cinco com FTA-ABS positivo ossintomas de Ménière poderão ser atribuídos àsífilis. Esses resultados provavelmente sedevem ao fato de as provas treponêmicas,entre as quais o FTA-ABS, não negativaremem pacientes com sífilis com mais de um anode evolução, mesmo que adequadamentetratados. Assim, os testes sorológicos parecemter maior validade na confirmação diagnósticade otolues na presença de outrasmanifestações de sífilis congênita, devendo-se, pois, na ausência delas, questionar aaplicabilidade dos mesmos (21).
Causas genéticas
Malformações ou alterações nodesenvolvimento do ducto ou do sacoendolinfáticos, geneticamente determinadas,podem responder por um percentual
Revista HCPA 1999;19 (2)242
Lavinsky et al. Síndrome de Ménière
significativo dos casos de síndrome de Ménière(1). Paparella demonstrou uma freqüênciaacima de 20% de história familiar positivasugestiva de Ménière em pacientes portadoresdessa patologia, sugerindo, com isso, haveruma predisposição genética para essa doençaem alguns pacientes (5). Alguns autores têmlevantado a possibilidade de que a síndromede Ménière seja uma condição herdada deforma recessiva ou, então, de forma dominantecom penetração incompleta. Arweiler e cols.(22) descreveram a presença do HLA A2 em90% dos pacientes com história familiarsugestiva de Ménière, bem como em 75%daqueles sem história familiar, percentuaisesses muito superiores à média da populaçãoeuropéia (25%). O HLA B44 também foisignificativamente mais freqüente em pacientescom Ménière, sobretudo aqueles com históriafamiliar positiva. Esses resultados sugeremuma etiologia multifatorial para a síndrome deMénière, com inegável participação de fatoresgenéticos (predisposição) e não genéticos(ambientais) na gênese dessa patologia (6,22).
Otite média crônica
Hidropsia endolinfática induzida por otitemédia foi observada por Kimura (23) emmodelos animais e tem sido observada emcasos humanos de labirintite serosa ousupurativa, otogênica ou meningogênica. Adespeito da carência no que tange às medidasde prevalência e incidência das diferentesetiologias, alguns autores têm demonstradouma associação entre otite média crônica(OMC) e Ménière de pouco mais do que 13%dos casos disponíveis (1). De fato, Paparella,em um estudo de 560 ossos temporais,demonstrou, em 75 deles, a coexistência deachados histopatológicos compatíveis comotite média e com hidropsia endolinfática,sugerindo, com isso, a real possibilidade denexo causal entre essas duas entidades (24).Da mesma forma, Hallpike & Cairns, em 1938,na primeira descrição clássica de uma possívelassociação entre otite média crônica esíndrome de Ménière, demonstraram achadospatológicos de otite média crônica empacientes com Ménière em uma freqüênciaacima daquela que se poderia esperar tão
somente por casualidade. Com efeito, sabe-se que a hipocelularidade mastóidea é umachado freqüentemente associado a otitemédia crônica, tendo estudos planimétricos damastóide em pacientes com Ménière revelado,igualmente, diminuição do espaço celular aéreo(25).
A patogênese da hidropsia endolinfáticana otite média crônica permanece mal definida.Postula-se que as toxinas produzidas emdecorrência da infecção do ouvido médiodifundam-se através da membrana da janelaredonda, atingindo o espaço perilinfático. Apartir daí, essas toxinas poderiam atingir oespaço endolinfático através de perfurações namembrana basilar ou, o que é mais provável,através da membrana de Reissner.Agudamente, o desenvolvimento de hidropsiaendolinfática poderia ser explicado por umdesequilíbrio na pressão osmótica emdecorrência da ação dessas toxinas.Cronicamente, todavia, o desenvolvimento deuma labirintite serosa poderia, via membranade Reissner, alterar a composição química(eletrolítica) da endolinfa, ou, mesmo, perturbara função da estria vascular, contribuindo,assim, para a hidropsia endolinfática (1,24,25).
A otite média pode, ainda, sobretudoquando acomete crianças pequenas, levar auma síndrome de Ménière mais posteriormentena vida por comprometer o desenvolvimentodo ducto e do saco endolinfáticos. Acredita-seque tal comprometimento envolva aperturbação do suprimento sangüíneo ealterações na formação do triângulo deTrautmann. Tais alterações podem, não raro,decorrer de uma osteíte subjacente, a qual éuma das possíveis complicações de processosinfecciosos do ouvido médio (25).
Identificar e reconhecer a associaçãoentre OMC e síndrome de Ménière trazimplicações terapêuticas significativas, umavez que o tratamento cirúrgico isolado da otitemédia crônica pode ser efetivo também nocontrole dos sintomas de Ménière.Pacientes com otite média crônica simplesagudizada, ou com otite média crônicacolesteatomatosa, mais freqüentementeexibem síndrome de Ménière coclear do quesíndrome de Ménière típica. Estes pacientescom otite média crônica ativa apresentam,
Revista HCPA 1999;19 (2) 243
Lavinsky et al.Síndrome de Ménière
muitas vezes, uma melhora clínica significativaapós a timpanomastoidectomia (26).
Otosclerose
Pacientes com otosclerose podemdesenvolver sintomas vestibulares, sensaçãode pressão aural e perda auditivaneurossensorial em adição à perda condutivatípica dessa condição. Embora a coexistênciade otosclerose e hidropsia endolinfática tenhasido descrita em estudos com ossos temporaishumanos (27,28), a prevalência dessaassociação e o mecanismo patogênico dahidropsia endolinfática na otosclerose são,ainda, incertos. Uma explicação possível, comrelação à etiopatogenia, é a decomprometimento otosclerótico do aquedutovestibular, levando a uma disfunção dareabsorção endolinfática.
Postula-se que o envolvimentootosclerótico do aqueduto vestibular possaproduzir hidropsia endolinfática e, porconseqüência, síndrome de Ménière, por trêsmecanismos. O primeiro deles diz respeito àindução, pela otosclerose, de mudançasimunológicas no ouvido interno. Yoon e cols.(29), contudo, não observaram achadospatológicos imunomediados no estudo de 128ossos temporais com otosclerose, dos quais10 apresentavam severa hidropsiaendolinfática (29). A segunda das proposiçõesé a de alterações na composição enzimáticados fluidos do labirinto na otosclerose, o quealteraria o transporte iônico para dentro daescala média. Esse distúrbio no balanço iônicopoderia, por sua vez, alterar a relação entre aprodução e a reabsorção de endolinfa, comnítido prejuízo da segunda. Por fim, é possívelque a obstrução otosclerótica do aquedutovestibular cause mudanças histopatológicas doducto e do saco endolinfáticos ou da áreaperiaquedutal. Tais alterações podem perturbardiretamente o fluxo e a absorção da endolinfaem nível de ducto ou de saco endolinfáticosou, indiretamente, através da perturbação dadrenagem do sistema venoso da área peri-aquedutal (30). Yoon e cols. observarammudanças histopatológicas obstrutivas,incluindo marcado estreitamento do lúmen doducto e do saco endolinfáticos por fibrose, nos
ossos temporais com otosclerose,comprometendo aqueduto vestibular eapresentando indícios de hidropsiaendolinfática. O comprometimento do aquedutovestibular parece ser, contudo, relativamenteincomum, de forma que é possível encontrar,em ossos temporais humanos com evidênciasde otosclerose e de hidropsia, inexistência deindícios de comprometimento do aquedutovestibular (29). É possível, ainda, que ocorra oenvolvimento do endósteo, alterando ascaracterísticas químicas da perilinfa e daendolinfa, com conseqüente repercussão sobreo fluxo longitudinal e radial da endolinfa (28).
Distúrbio do metabolismo doscarboidratos
Demonstrou-se, experimentalmente, queas estruturas labirínticas, em especial a estriavascular, são sensíveis a mudanças nos níveisde glicose e de oxigênio nessa área, ambasas quais estão diretamente relacionadas aometabolismo da insulina (31). De fato, umdistúrbio na regulação dos níveis insulinêmicose/ou glicêmicos tem sido implicado como umaetiologia possível de síndrome de Ménière. Talsuposição surgiu a partir da constatação de que90% dos pacientes com vertigem de etiologiaindefinida apresentavam alteração dos níveisinsulinêmico e/ou glicêmico, além do que umaproporção significativa deles apresentavamelhora clínica significativa com a associaçãode dieta e exercícios físicos (32). Dadossimilares foram descritos por Proctor (33).Demonstrou-se, ainda, que pacientes maisvelhos com perda auditiva flutuante tendiam ater níveis glicêmicos significativamente maisaltos quando comparados a pacientes comperda não flutuante (7), e que pacientes comperda auditiva flutuante e uma curva alteradade tolerância à glicose apresentavam,concomitantemente, uma hiperinsulinemiatardia típica dos pacientes diabéticos (34).Estudos envolvendo pacientes com Ménièreavaliados através do teste de tolerância àglicose demonstraram que uma porcentagemsignificativa deles apresentava resultadosalterados, não apenas com níveishiperglicêmicos, mas, também, com níveisdefinidamente hipoglicêmicos. De fato,
Revista HCPA 1999;19 (2)244
Lavinsky et al. Síndrome de Ménière
Gladney (35) estudou 17 pacientes comhidropsia endolinfática através de testes detolerância à glicose, tendo encontradohipoglicemia reativa em uma porcentagemsignificativa deles. Da mesma forma, relatou-se, em outro estudo, que a hipoglicemiaocorreu em algum dos pontos do teste detolerância à glicose em 42% dos pacientes comMénière, comparativamente a uma incidênciade 15% em pacientes com outras doenças (36).
Tanto a hipoglicemia quanto ahiperglicemia podem, pois, comprometer ofuncionamento normal do ouvido interno. Ahipoglicemia é definida pela ocorrência de umou mais valores inferiores a 55 mg/dl à curvaglicêmica de cinco horas e associa-se, via deregra, à hiperinsulinemia. Esta, segundo oscritérios de Kraft, ocorre sempre que a somados valores insulinêmicos obtidos aos 120 e180 minutos da curva insulinêmica de cincohoras for superior a 60 U/ml (37). Hiperglicemiaé definida pela ocorrência de um ou maisvalores > 200 mg/dl à curva glicêmica de cincohoras. Pacientes com glicemias entre 145 e200 mg/dl são definidos como tendointolerância à glicose (37).
Vários mecanismos etiopatogênicos têmsido aventados para explicar essasassociações (34). Sabe-se que catabolismooxidativo da glicose constitui uma fonteenergética essencial à cóclea, sendo a elevadarazão potássio/sódio, característica daendolinfa, mantida através de um mecanismode transporte ativo (bomba sódio/potássio). Aperilinfa, por sua vez, é similar aos líquidosextra-celulares na sua composição eletrolítica,apresentando, pois, baixos níveis de potássioe altos níveis de sódio. A hiperinsulinemia e,secundariamente, a hipo ou hiperglicemia,sabidamente comprometem a atividade dabomba Na+-K+- ATPase responsável peloequilíbrio endolinfa-perilinfa, resultando emdiminuição da remoção de sódio da endolinfae, conseqüentemente, na hidropsiaendolinfática.
Trauma
O trauma, físico ou acústico, podedesempenhar uma função causal em até 3%dos casos de síndrome de Ménière, o que já
foi descrito por Clark & Ress (38), Rivzi &Gibbin (39) e Healy (40) & Shea (41), entreoutros.
O mecanismo envolvido nodesenvolvimento de hidropsia endolinfáticarelacionada ao trauma físico parece envolveruma disfunção bioquímica das células queparticipam da produção de endolinfa ou, maisprovavelmente, daquelas envolvidas nareabsorção da mesma. De fato, diversosautores têm sugerido que o trauma sobre olabirinto membranoso possa resultar emdescolamento do epitélio dos órgãos sensoriaise de outros elementos celulares, incluindoaqueles do sáculo e do utrículo. Assumemparticular importância as fraturas de ossotemporal, sobretudo aquelas envolvendo oaqueduto vestibular. Os restos celularesdecorrentes desta agressão poderiam, por suavez, afetar, mecânica ou bioquimicamente, areabsorção de endolinfa pelo ductoendolinfático, resultando em hidropsiaendolinfática e, portanto, em síndrome deMénière (1,42). O trauma mecânico semevidência de fratura do osso temporaldetermina sintomas posicionais, que podem serexplicados pela cupulolitíase. Em outros casosde trauma mecânico, o quadro pode sersecundário à concussão coclear ou vestibular,podendo persistir por anos após o eventotraumático.
As principais evidências de que ahidropsia endolinfática pode ser causada pelotrauma acústico foram dadas por Kemink &Graham (42) e por McGill & Schuknecht (43).Estes demonstraram a possibilidade de quesons de alta intensidade (> 150 dB) possamproduzir dano aos sistemas coclear evestibular.
É importante lembrar que a fístulaperilinfática pode simular Ménière, estandoindicada timpanotomia exploradora quando dasua suspeição. No diagnóstico diferencial davertigem pós-traumática, a relação temporalassume valor particular, uma vez que, noscasos de hidropsia endolinfática pós-traumática, os sintomas desenvolvem-sedecorridos meses a anos da injúria,contrastando com o desenvolvimento dossintomas logo após o trauma, o que écaracterístico da fístula perilinfática.
Revista HCPA 1999;19 (2) 245
Lavinsky et al.Síndrome de Ménière
Auto-imunidade
McCabe foi o primeiro a descrever aexistência de doença auto-imune do ouvidointerno, em 1979. Desde então, diversosestudos experimentais têm demostrado que aauto-imunidade pode ser uma causa possívelde Ménière (44,45). Tal suposição écorroborada pela demonstração, por Shea, deque aproximadamente 10% dos pacientes comMénière apresentam melhora significativa como uso de corticosteróides, sugerindo, com isso,uma fisiopatogenia auto-imune (43). Outrosautores, contudo, falharam em demonstrar taisevidências.
Um dos mecanismos propostos paraexplicar a associação entre Ménière e auto-imunidade é o de deposição de complexosauto-imunes nos vasos do saco endolinfático,com conseqüente reação inflamatória, levandoa um aumento da permeabilidade vascular esubseqüente desenvolvimento de hidropsia.Outra possibilidade é a de que os complexosimunes circulantes não sejam por si sópatológicos, podendo, contudo, induzir outrasagressões no ouvido interno.O diagnóstico baseia-se em um tripé: históriaclínica, resposta ao tratamentoimunossupressor e exames laboratoriais. Arealização destes últimos não é imprescindívelao diagnóstico, de forma que, em havendo umahistória compatível de doença auto-imune eboa resposta ao tratamento com corticóide,pode-se assumir o diagnóstico presuntivo desíndrome de Ménière auto-imune. Recomenda-se, contudo, a realização de algum testelaboratorial comprobatório antes que se iniciemterapêuticas mais agressivas.
A doença auto-imune apresenta-se,quase sempre, bilateralmente. Vertigem típicaparece ocorrer em pacientes com doençaunilateral ou bilateral assimétrica. Assim,quando o comprometimento torna-se bilaterale simétrico, a redução da resposta vestibularem ambos os lados faz com que as vertigenssejam substituídas por instabilidade, ataxia edificuldade de deambulação no escuro (46).Outros achados clínicos compatíveis comdoença auto-imune incluem falha terapêuticaao tratamento convencional e doenças auto-imunes associadas.
Os exames de laboratório podem serclassificados em antígeno-específicos ouinespecíficos. Estes últimos incluem avelocidade de sedimentação eritrocitária(VSG), pesquisa de auto-anticorpos (fatorreumatóide, fator anti-nuclear e anticorposantitireoglobulina), medida dos complexosimunes circulantes (IgG, IgM, IgA) e dos níveisde complemento (CH50, C3, C4, C1q). Tem-se descrito uma alta prevalência de complexoscirculantes elevados em pacientes comMénière. Tal prevalência pode chegar a 96%.A monitorização dos níveis de complexosimunes circulantes parece servir comomarcador de atividade da doença e da respostaao tratamento (47).
Os testes antígeno-específicos incluemo teste de transformação linfocitária, teste deinibição da migração dos linfócitos e análisedos antígenos cocleares porimunofluorescência indireta, ou Western blot.Estes dois últimos exames, emborapromissores, ainda são de significadoprognóstico-terapêutico incerto. Quanto aostestes que avaliam a imunidade celular, o testede transformação dos linfócitos parece ser maisespecífico do que o de inibição da migraçãodos linfócitos, tendo demostrado um valorpreditivo positivo de 79% para uma boaresposta terapêutica (46).
Deve-se salientar que testes negativospara auto-imunidade não excluem apossibilidade de boa resposta ao tratamentoimunossupressor.
Outras causas
Hipotireoidismo
Tem-se descrito a ocorrência de hidropsiaendolinfática em pacientes com hipofunçãotireóidea, seja ela primária ou secundária.Estima-se que até 3% dos casos de Ménièrepossam ter no hipotireoidismo a sua causa.Esse diagnóstico etiológico é sugerido pelaconcomitância dos achados de Ménière esintomas sugestivos de hipotireoidismo, taiscomo letargia, intolerância ao frio e ganhoponderal a despeito do pouco apetite. Aconfirmação diagnóstica é laboratorial,baseando-se no achado de T4 livre diminuído
Revista HCPA 1999;19 (2)246
Lavinsky et al. Síndrome de Ménière
e TSH aumentado. O mecanismoetiopatogênico envolvido é, ainda,desconhecido. É bem reconhecida, contudo, aefetividade da reposição dos hormôniostireóideos na indução de remissão empacientes com Ménière (7).
Arterite de células gigantes
A arterite de células gigantes é umavasculite obliterativa das artérias extra-cranianas da cabeça e pescoço, podendocomprometer o suprimento sangüíneo para osistema nervoso central. O prontoreconhecimento dessa entidade é essencialpara a preservação da visão e prevenção deoutras complicações cerebrais. Os achadosaudiológicos e vestibulares sãofreqüentemente negligenciados na literaturareferente a essa patologia. Igualmente, aliteratura otorrinolaringológica tem falhado emreconhecer essa possibilidade diagnósticacomo causa de sintomas audiovestibulares empacientes idosos.
A dependência do suprimento sangüíneovertebral e as altas necessidades metabólicasdas funções audiológicas e vestibulares tornamos sintomas audiovestibulares particularmentepropensos a ocorrer na arterite de célulasgigantes.
McKennam e cols. descreveram trêscasos de pacientes com arterite de célulasgigantes, comprovada por biópsia, queapresentavam sintomas auditivos evestibulares compatíveis com o diagnósticosindrômico de Ménière (48). Esses achados,embora não conclusivos, sugerem apossibilidade desse diagnóstico em pacientesde mais idade que se apresentam com umquadro clínico compatível com síndrome deMénière.
Enxaqueca
Existem semelhanças entre a síndromede Ménière e a enxaqueca: ambas sãoparoxísticas e recorrentes; a freqüência, aintensidade e a duração são variáveis; aremissão é possível e o início da doença podese dar em uma ampla faixa de idade. Oestresse pode agravar tanto a enxaqueca
quanto a síndrome de Ménière.Assim como alterações da artéria
oftálmica podem causar sintomas em órgãoperiférico, também é possível que a artériaauditiva interna esteja envolvida no processopatofisiológico vascular da enxaqueca,causando sintomas audiológicos e vestibulares.De fato, em uma série de casos, 60% dospacientes com enxaqueca basilar e sintomasneurológicos tinham respostas calóricasreduzidas unilateralmente, o que sugere oenvolvimento de órgão periférico (49). Épossível, portanto, que a síndrome de Ménièretenha uma patogênese similar à da enxaquecaem alguns casos.
Alguns autores acreditam que a vertigemparoxística episódica sem perda auditiva e semcefaléia concomitante possa ser uma forma deenxaqueca (equivalente de enxaqueca) emalguns casos, assim como a vertigem episódicacom flutuação auditiva.
Parker, em um estudo retrospectivoenvolvendo 85 pacientes com diagnósticosindrômico de Ménière, demonstrou que 34.1%deles tinham também enxaqueca, prevalênciaesta considerada mais alta do que napopulação geral. A maioria dos pacientes comMénière e enxaqueca apresentavam estaúltima à época do diagnóstico sindrômico deMénière. Os ataques de cada uma dessasdoenças não ocorriam necessariamente juntos.Esses resultados sugerem uma origempossivelmente comum para Ménière eenxaqueca em alguns pacientes, explicando,com isso, a alta prevalência de sobreposiçãodessas doenças. Tal suposição é ratificada pelaconstatação de que o tratamento da enxaquecacom maleato de metisergida ou prednisonapode também melhorar os sintomas dasíndrome de Ménière (50).
Leucemia
A leucemia foi também relacionada àhidropsia endolinfática (51). Sando & Egami(52), os quais descreveram a presença dehidropsia endolinfática em um pacienteleucêmico, demonstraram haver umestreitamento do aqueduto vestibular e do sacoendolinfático nesse paciente. Tal estreitamentofoi atribuído à infiltração leucêmica. Embora
Revista HCPA 1999;19 (2) 247
Lavinsky et al.Síndrome de Ménière
Roteiro de investigação etiológica de pacientes com clínica de Ménière
DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO DE MÉNIÈRE
↓
TRATAR CRISE
↓
↓NORMAL
↓PESQUISAR AUTO-
IMUNIDADE/AVALIAR RESPOSTAAOS CORTICÓIDES
↓ALTERADO
↓TRATAMENTOORIENTADO ÀPATOLOGIA DE
BASE
TRATAMENTO DEMANUTENÇÃO
↓
SOLICITAR EXAME DE IMAGEM(Excluir anormalidades grosseiras do osso
temporal, sobretudo sinais compatíveis comotite média crônica ou mastoidite subclínica;avaliar a pneumatização mastóidea; excluirpatologias expansivas intracranianas ou do
osso temporal)
↓
CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA/TRATAMENTO ORIENTADO À PATOLOGIA
DE BASE
↓
EXAMES NORMAIS
↓
ALTERAÇÃO LABORATORIAL
↓
AVALIAR DADOS DA HISTÓRIA SUGESTIVOS DE UMA PATOLOGIA DE BASE(História de trauma acústico ou mecânico sobre a região mastóidea, de otite média crônica,
de hipoacusia condutiva inicial da otosclerose ou história familiar da mesma, demanifestações luéticas, de atopia, de patologias auto-imunes associadas, de enxaqueca...)
↓
EXAMES COMPLEMENTARES(LABORATORIAIS OU DE IMAGEM)
↓
SOLICITAR SOROLOGIA PARA LUES, CURVA GLICÊMICA, INSULINEMIA DE 5 HORAS,TSH, T4, COLESTEROL, E TRIGLICERÍDEOS
ESTUDO AUDIOVESTIBULAR ECONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA
↓
Revista HCPA 1999;19 (2)248
Lavinsky et al. Síndrome de Ménière
esses dados não sejam definitivos, sugerem areal possibilidade de que uma infiltraçãoleucêmica seja um mecanismo etiopatogênciopossível para a síndrome de Ménière (1).
Estresse
Alguns autores têm considerado a síndromede Ménière como uma reação psicofisiológica,de forma que os fatores emocionaisfuncionariam como os elementos necessáriosao desenvolvimento da doença. Com efeito,tem-se demonstrado que os pacientes comMénière apresentam, mais freqüentemente,ansiedade, depressão ou outros transtornos depersonalidade. Embora essa associação jáesteja bem demonstrada, falta suporte paracreditar a esses fatores uma importânciaetiológica. Um estudo comparado entrepacientes com Ménière e controles comvertigem de etiologia conhecida não encontrouevidências de uma possível influênciapsicofisiológica no desencadeamento dadoença (53). Tal estudo demonstrou não haveruma incidência aumentada de sintomaspsicossomáticos ou de transtornos depersonalidade quando os pacientes comMénière são comparados a outros pacientesvertiginosos de etiologia orgânica reconhecida.Porém, quando pacientes vertiginosos, comMénière ou não, são comparados a pacientesotológicos sem vertigem, os primeirosdemonstram, mais freqüentemente, um perfilde personalidade psicofisiológico. Parece,assim, haver uma associação verdadeira entreestresse e Ménière (bem como qualquer outrotranstorno vertiginoso), mais provavelmentesecundária do que causal (54). De fato, asíndrome de Ménière tem um impactoimportante sobre o comportamento dospacientes, uma vez que o caráter debilitantedas crises e a evolução incerta da doençaacabam por torná-los ansiosos ou, mesmo,deprimidos. Por vezes, esta síndrome gera umainstabilidade tal que acaba por impedir umaocupação regular. Some-se a isso o fato deque normalmente os pacientes são vistos pelosmédicos após a ocorrência de uma ou maiscrises, geralmente severas, de forma que ocaráter de instabilidade emocional já seencontra operante, dificultando, assim, um
julgamento adequado do estado psicológicousual do paciente.
Em resumo, são estas as possíveisetiologias para a síndrome de Ménière. Tendoem vista que são muitas as possibilidades, ofluxograma a seguir sugere uma seqüênciaracional de busca etiológica.
Referências
1. Paparella MM. Pathogenesis and
pathophysiology of Ménière’s disease. Acta
Otolaryngol 1991;485:26-35.
2. Paparella MM, Griebie M. Bilaterality of Ménière’s
disease. Acta Otolaryngol 1984;9:223-37.
3. Rauch SD, Merchant SN, et al. Ménière’s
syndrome and endolymphatic hydrops - double-
bind temporal bone study. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1989;98:873-83.
4. Lee FP, Ho TH, Huang TS. Endolymphatic
hydrops in animal experiments. Acta Otolaryngol
1991;485:18-25.
5. Paparella MM. Pathogenesis of Ménière’s disease
and Ménière’s syndrome. Acta Otolaryngol
1985;406:10-25.
6. Paparella MM. The cause (multifactorial
inheritance) and pathogenesis (endolymphatic
malabsorption) of Ménière’s disease and its
symptoms (mechanical and chemical). Acta
Otolaryngol 1985;99:445-51.
7. Pulec JL. Ménière’s disease - etiology, natural
history, and results of treatment. Otolaryngol Clin
North Am 1973;6(1):25-39.
8. Silverstein H, Smouha E, Jones R. Natural history
versus surgery for Ménière’s disease. Otolaryngol
Head Neck Surg 1989;100(1):6-16.
9. Stahle J, Friberg U, Svedberg A. Long-term
progression of Ménière’s disease. Am J Otol
1989;10(3):170-3.
10. Arenberg IK, Balkany TJ, Goldman G, Pillsbury
HC. The incidence and prevalence of Ménière’s
disease - a stat ist ical analysis of l imits.
Otolaryngolog Clin North Am 1980;4(13):597-601.
11. Duke WW. Ménière’s syndrome caused by
allergy. JAMA 1923;81:2179.
12. Derebery MJ, Valenzuela S. Ménière’s syndrome
and allergy. Otolaryngolog Clin North Am
1992;25(1):213-24.
13. Viscomi GJ, Bojrab DI. Use of
electrocochleography to monitor antigenic
challenge in Ménière’s disease. Otolaryngol Head
Revista HCPA 1999;19 (2) 249
Lavinsky et al.Síndrome de Ménière
Neck Surg 1992;107:733.
14. Harris JP, Ryan AF. Fundamental immune
mechanisms of the brain and inner ear.
Otolaryngol Head Neck Surg 1995;112:639.
15. Dereby MJ. The role of allergy in Ménière’s
disease. Otolaryngol Head Neck Surg
1997;30(6):1007-16.
16. Belal AJ, Antunez JC. Pathology of endolymphatic
hydrops. J Laryngol Otology 1980;94:1231-40.
17. Karmody CS, Schuknecht HF. Deafness in
congenital syphilis . Arch Otolaryngol 1966;83:18-
27.
18. Indesteege F, Verstraete WL. Ménière’s disease
as a late manifestation of congenital syphilis. Acta
Otol Rhinol Laryngol Belgica 1989;43(4):327-33.
19. Belal AJ, Linthicum FH. Pathologic correlates of
electronystagmographic tracings. Amer J
Otolaryngol 1980;1:213-23.
20. Belal AJ, Linthicum FH. Pathology of congenital
syphil i t ic labyrinthit is. Amer J Otolaryng
1980;1:109-18.
21. Hughes GB, Rutherford I. Predictive value of
serologic tests for syphilis in otology. Ann Otol
Rhin Laryng 1986;95:250-9.
22. Arweiler DJ, Jahnke K, Grosse-Wilde H. Ménière
disease as an autosome dominant hereditary
disease. Laryngoscope 1983;93:410-7.
23. Kimura RS. Animal models of endolymphatic
hydrops. Am J Otol 1982;3(6):447-51.
24. Paparella MM, Souza LC, Mancini F. Ménière’s
syndrome and otitis media. Laryngoscope
1983;93:1408-15.
25. Paparella MM, Goycoolea MV, et al.
Endolymphatic hydrops and ot i t is media.
Laryngoscope 1979;81:43-54.
26. Huang TS, Lin CC. Surgical treatment of chronic
ot i t is media and Ménière’s syndrome.
Laryngoscope 1991;101:900-4.
27. Igarashi M, Jerger S, et al. Fluctuating hearing
loss and recurrent vertigo in otosclerosis: an
audiologic and temporal bone study. Arch
Otorhinolaryngol 1982;236:161-71.
28. Liston SL, Paparella MM, Mancini F, et al.
Otosclerosis and endolymphatic hydrops.
Laryngoscope 1984;94:1003-7.
29. Yoon TH, Paparella MM, Schachern PA.
Otosclerosis involving the vestibular aqueduct
and Ménière’s disease. Otolaryngol Head Neck
Surg 1990;103(1):103-7.
30. Gussen R. Vascular mechanism in Ménière’s
disease. Acta Otolaryngol 1982;108:544-9.
31. Fukuda Y. Insulinemia e Patologia da Orelha
Interna [tese de doutorado]. São Paulo: Escola
Paulista de Medicina; 1982.
32. Updegraft WR. Vertigo in Diabetic Patients. Sixth
Scientif ic Meeting Neurootological and
Equilibriometric Society;1979. Turku: Finland.
p.14-6.
33. Proctor CA, et al. Abnormal insulin levels and
vertigo. Laryngoscope 1981;91:1657-62.
34. Kitabchi AE, Shea JJ. Diabetes mellitus in
fluctuant hearing loss. Otolaryngol Clin North Am
1975;8(2):357-68.
35. Gladney JH, Shepherd DC. Labyrinthine
dysfunction in latent and early manifest diabetes.
A preliminary report. Ann Otol Rhinol Laryngol
1970;79(5):984-91.
36. Alford BR. Ménière disease: criteria for diagnosis
and evaluation of therapy for reporting. Trans Am
Acad Ophthalmol Otolaryngol 1972;76:1462.
37. Kraft JR. Detection of diabetes mellitus in situ
(occult diabetes). Lab Med 1975;6:1-22.
38. Mangabeira-Albernaz PL, Fukuda Y. Glucose,
insulin and inner ear-pathology. Acta Otolaryngol
1984;97:496-501.
39. Lavinsky L. Study of hypoglycemic patients –
otologic repercussions. Fourth International
Symposium and Workshops on Inner Ear
Medicine and Surgery;1994. Snowmass: Aspen.
p.16-23.
40. Lavinsky L. Estudio de 100 enfermos com sintoma
de hipogl icemia y manifestaciones de
comprometimento de la oreja interna. ORL
(Buenos Aires) 1999. No prelo.
38. Clark SK, Rees TS. Post-traumatic endolymphatic
hydrops. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1977;103:725-6.
39. Rizvi SS, Gibbin KP. Effect of transverse temporal
bone fracture on the fluid compartment of the
inner ear. Ann Otol Rhinol Laryngol 88: 741-8.
40. Healy GB. Hearing loss and vertigo secondary to
head injury. N Engl J Med 1982;306:1029-31.
41. Shea JJ, Ge X, Orchik DJ. Traumatic
endolymphatic hydrops. Am J Otol 1995;16:235-
40.
42. Kemink JL, Graham MD. Hearing loss with
delayed onset vertigo. Am J Otol 1985;6:344-8.
43. McGill TGI, Schuknecht HF. Human cochlear
changes in noise induced hear ing loss.
Laryngoscope 1976;86:1293-1302.
44. Yoon TJ, Stuart JM, Kang AH, et al. Type II
collagen autoimmunity in otosclerosis and
Revista HCPA 1999;19 (2)250
Lavinsky et al. Síndrome de Ménière
Ménière’s disease. Science 1982;217:1153-5.
45. Gottschlich S, Billings PB, Keithley EM, et al.
Assessment of serum antibodies in patients with
rapidly progressive sensorineural hearing loss
and Ménière’s disease. Laryngoscope
1995;105:1347-52.
46. Hughes GB, Kinney SE, Barna BP, et al.
Autoimmune reactivity in Ménière’s disease: a
preliminary report. Laryngoscope 1983;93:410-7.
47. Dereby MJ, Rao VS, Siglock TJ, Linthicum FH,
Nelson RA. Ménière’s disease: An immune
complex-mediated i l lness? Laryngoscope
1991;101:225-9.
48. Lejeune, J.M. & CHARACHON, R. Intérêt des
examens immuno-biologiques dans les maladies
de Ménière et les surdités neuro-sensorielles
rapidement progressives. Revue de Laryngologie1991; 112(2):127-131.
49. Sismanis A, Wise CM, Johnson GD. Methotrexate
management of immune-mediated
cochleovestibular disorders. Otolaryngol Head
Neck Surg 1997;116(2):146-51.
50. McKennam KX, Nielsen SL, Watson C, Wiesner
K. Ménière’s syndrome: An atypical presentation
of giant cell arterit is (temporal arterit is).
Laryngoscope 1993;103: 1103-7.
51. Olsson JE. Neurotologic findings in basilar
migraine. Laryngoscope 1991;101:1-41.
52. Parker W. Ménière’s disease - et iologic
considerations. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1995;121:377-82.
53. Paparella MM, Berlinger NT, Oda M, El Fiky F.
Otological manifestat ions of leukemia.
Laryngoscope 1973;83(9):1510-26.
54. Sando I, Egami T. Inner ear hemorrhage and
endolymphatic hydrops in a leukemic patient with
sudden hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol
1977;86(4):518-24.
Revista HCPA 1999;19 (2) 251
Mülen et al.Papilomatose de laringeARTIGO ESPECIAL
Papilomatose de laringe
Carla von Mülen1; Cristiane Rigol1; Raquel Melchior1;Rodrigo Argenta1; Mariana M. Smith2; Maurício S. Miura2; Gabriel Kuhl3
A papilomatose de laringe é a neoplasia benigna que mais freqüentemente acometea laringe, tanto em crianças quanto em adultos. É causada pelo papiloma vírushumano, em especial pelos tipos 6 e 11. A apresentação clínica é variável e a evoluçãopraticamente imprevisível, devido especialmente ao alto grau de recorrência típicodesta entidade. Existem diversos relatos que demonstram associação entre estadoença e o carcinoma de células escamosas de laringe e de árvore traqueobrônquica.Acredita-se que a papilomatose seja um dos fatores que predisponham o pacienteao câncer, assim como o são o álcool, o fumo e a exposição à radiação ionizante. Oobjetivo do tratamento é a manutenção da via aérea e da função vocal. Para tanto, amicrocirurgia com laser tem demonstrado os melhores resultados, apesar de nãoimpedir as recorrências. Assim, os pobres índices de cura cirúrgica têm estimulado odesenvolvimento de estudos com quimioterápicos. A proposta do uso destes é reduzira extensão da doença e a freqüência das recidivas, lentificando o crescimento dopapiloma. Essas terapias adjuvantes, entretanto, ainda apresentam pouco sucessoa longo prazo. Realizamos aqui uma revisão da literatura a respeito do assunto, comênfase nos aspectos de fisiopatologia, apresentação clínica e tratamento.
Unitermos: Papilomatose laríngea; papiloma vírus humano (HPV); laser CO 2;tratamento adjuvante.
Laryngeal papillomatosisLaryngeal papillomatosis is the most frequent benign neoplasm of the larynx, occurringin children and adults. It is caused by the human papilloma virus, especially types 6and 11. The clinical course is unpredictable and recurrence is frequent in children.There have been reports of association between this disease and tracheobronchialtree and squamous cell carcinoma of the larynx. Papillomatosis is probably one of thefactors that can predispose a patient to the development of cancer, similarly to alcohol,tobacco, and radiation exposure.Treatment aims at maintaining airway patency andspeech. Surgery with carbon dioxide laser is able to achieve this objective, however,without preventing recidivation. The low rates of surgical cure have been stimulatingnew research with chemotherapics. Unfortunately these have not been successful.Their main purpose is to reduce the extension of the disease and rates of recidivation,
1 Doutorandos, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.2 Monitores, Disciplina de Otorrinolaringologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Correspondência: Mariana M. Smith, Rua Artur Rocha 825, CEP 90450-171, Porto Alegre, RS, Brasil. Fone:+55-51-332-6002. E-mail: [email protected]
3 Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Revista HCPA 1999;19 (2)252
Mülen et al. Papilomatose de laringe
slowing down papilloma growth.The present study reviews pathophysiology, the clinicalpresentation and treatment aspects .
Key -words: Laryngeal papillomatosis; human papilloma virus (HPV); carbon dioxidelaser; adjuvant treatment.
Introdução
A papilomatose de laringe foi inicialmentedescrita no século XVII como “verrugas nagarganta”(1). Esta definição, um tantogrosseira, cumpriu o importante papel dediferenciar estas lesões das demais massasque acometem a laringe. Em 1871 a entidadefoi pela primeira vez denominada depapilomatose (2).
A evolução clínica das crianças afetadastende a ser pior que a dos adultos, devidoprincipalmente ao alto grau de recidivas. Alémdisso, em alguns casos as lesões neste grupode pacientes podem causar obstruçãorespiratória importante, aumentandosignificativamente a morbi-mortalidade dadoença entre os pacientes pediátricos (3).
Vários tratamentos – clínicos e/oucirúrgicos – têm sido propostos desde asprimeiras descrições da patologia. Entretanto,todas as abordagens ainda apresentam falhasquanto à erradicação da doença. Isto,associado a elevada morbidade e eventualmortalidade da afecção, fazem da mesma alvode inúmeros estudos.
Fisiopatologia e manifestaçõesclínicas
Papiloma vírus
A papilomatose de laringe é a neoplasiabenigna que mais comumente acomete o órgãoem questão, tanto em crianças como emadultos (2). É causada pelo papiloma vírushumano (HPV), um vírus DNA que já conta comaproximadamente 77 genótipos identificadosaté o momento (3). Além da papilomatose delaringe, este vírus também pode ser encontrado
em verrugas de pele, condiloma acuminadogenital, cistos epiteliais, neoplasia uterinaintracervical, ceratoacantomas, neoplasiasanogenitais e em neoplasias de pele do tiponão-melanoma (1-3). Nos papilomas de laringe,os agentes mais freqüentemente encontradossão o HPV 6 e o HPV 11 (4-6). Em alguns casossão identificados os tipos 16, 18, 31, 33 e 35,sendo que estes apresentam maior relaçãocom o desenvolvimento de carcinoma decélulas escamosas (7,8).
Apresentação clínica
A infecção pelo HPV pode serassintomática, mesmo quando hádesenvolvimento de papilomas. Os sintomasvão depender da localização e do tamanho dalesão, sendo os sintomas de obstruçãorespiratória os mais graves (2). Os pacientespodem se apresentar com rouquidão, alteraçãodo padrão da voz, estridor, crupe e dispnéia(2). Cabe lembrar que pacientes com sibilânciarecorrente pouco responsiva ao tratamentousual devem ser submetidos à laringoscopiapara descartar a possibilidade de papilomatosede laringe como causa dos sibilos (2,9).
No caso de acometimento pulmonarpode-se encontrar pneumonias recorrentes eabscesso pulmonar (10). Os achadosradiológicos de envolvimento pulmonarconsistem em lesões nodulares e múltiplas navia aérea distal, sejam estas cavitárias ou não(11). Entre as lesões secundárias encontradasestão atelectasias, infecções e bronquiectasias(12).
A evolução clínica individual éimprevisível, variando desde múltiplospapilomas de laringe e esôfago totalmenteassintomáticos (13) até mesmo morte por
Revista HCPA 1999;19(2):251-60
Revista HCPA 1999;19 (2) 253
Mülen et al.Papilomatose de laringe
asfixia (14). Infelizmente, é praticamenteimpossível definir um paciente como curadoapós determinado tratamento, uma vez queexistem relatos de recidivas tardias, até mesmoapós 47 anos de remissão (15).
Tendo em vista o que foi exposto, têm-se procurado identificar os pacientes compapilomatose laríngea que terão pior evolução.Até o momento são citados como fatores derisco para o desenvolvimento de doença maissevera as seguintes características: a)desenvolvimento da doença na infância (9,16);b) HPV tipo 6 e, mais precisamente, o subtipo6C (2,17); c) ocorrência de lesões pulmonares(1% dos casos), devido à destruição causadapelo vírus no parênquima pulmonar (11,18) ed) coexistência de outras infecções virais(principalmente Herpes Simples e Epstein-Barr) (19). A ocorrência de doença subglótica,história de traqueostomia, diversas ressecçõesendoscópicas e duração prolongada da doençasão fatores que predispõem à disseminaçãodo papiloma para porções mais distais daárvore respiratória (20, 21) e que guardam,conseqüentemente, pior prognóstico.
A papilomatose laríngea recorrente emcrianças é denominada papilomatose juvenilrecorrente. Estudos sugerem que a recorrênciadeve-se à presença de infecção viral latenteem células da mucosa aparentemente normais(4,22,23), que servem assim de reservatóriopara futuras infecções. O número derecorrência é inversamente proporcional àidade de surgimento da patologia (24), assimcomo o acometimento do terço anterior daprega vocal (25). Foi demonstrado que aalteração hormonal da adolescência não é fatorimportante para a redução do número derecorrências da papilomatose, hipóteselevantada por alguns autores (6,20,27).
Contágio
A forma de contaminação da laringe peloHPV ainda guarda grande controvérsia.Diversos autores acreditam que as criançasadquirem o vírus por contato, durante apassagem pelo canal de parto, com condilomasgenitais aí presentes (2, 28). Estes vêem o partocesariano como fator de proteção nos casosde mães com lesão genital ativa na gestação
(29). Porém, outros grupos questionamfirmemente esta forma de transmissão (30-32).Em algumas situações, deve ser consideradaa hipótese de abuso sexual em crianças compapilomatose de laringe (33). No caso dapapilomatose em pacientes adultos tambémainda não se estabeleceu uma causa. Acredita-se que a contaminação possa ocorrer devidoa reativação de uma infecção assintomáticaprévia e latente, ou por uma infecção primáriaatravés de contato com condilomas genitais(sexo oral).
Relatos da literatura mostram prevalênciade 25% do HPV 11 em laringes normais depacientes que foram à necrópsia sem históriade papilomatose (23). A partir deste dado pode-se sugerir que nem todos pacientes queapresentam infecção pelo HPV desenvolvema doença, devendo existir algum(ns) fator(es)desencadeante(s). Alguns relatos consideramalterações da imunidade do paciente, maisespecificamente deficiências da subclasse IgI2e redução da atividade natural killer (34), comoresponsável pelo surgimento das lesões (35).Pacientes com resolução das lesõesapresentam aumento na resposta imunológicamediada por células e anticorpos específicoscontra antígenos virais quando comparadoscom pacientes com lesões ativas (35),fortalecendo a hipótese de correlação entreimunidade do paciente e surgimento/resoluçãodos papilomas.
Histopatologia
As lesões da papilomatose ocorrempreferencialmente na transição entre epitéliociliar e escamoso (junção escamociliar). Estasáreas são identificadas na superfícienasofaríngea do palato mole, na zonaintermediária da superfície laríngea da epiglote,na margem superior e inferior do ventrículo,na superfície inferior das pregas vocais, nacarena, e na cicatriz de traqueostomia (epitéliociliado que sofre metaplasia escamosa portrauma) (36), sendo que a maioria das lesõesocorre nas pregas vocais verdadeiras (2). Maisda metade dos casos de papilomatoseapresentam extensão da doença além do sítioprimário (2). Esta extensão pode ser por simplescontinuidade da doença da laringe, por
Revista HCPA 1999;19 (2)254
Mülen et al. Papilomatose de laringe
dispersão das partículas virais durante amanipulação da via aérea, pela entubaçãodurante a anestesia ou pelo vapor do laserdurante a cirurgia (2,37). O envolvimentotraqueal é encontrado entre 17-26% dos casos(2). Em uma revisão de 39 casos depapilomatose de laringe realizada por Weiss eKashima houve 69% de envolvimento subglóticoe 26% de envolvimento traqueal (21).
A lesão característica do papiloma éexofítica, pedunculada ou nodular (2), comsuperfície irregular composta por inúmerasmicrovilosidades de vários tamanhos e formasorganizadas em cordões paralelos (38). Podemocorrer como lesões únicas ou múltiplas, decoloração rosa a avermelhada (2). Tratam-sede projeções de tecido conjuntivo altamentevascularizado coberto por epitélio escamosoestratificado com queratinização anormal (1,2).A infecção do papiloma determina umadesrregulação na diferenciação celular terminaldo epitélio, causando uma hiperplasia deste(39), às custas da proliferação do estratoespinhoso que acaba por conferir a formavegetante da lesão (40). Não existe alteraçãona proliferação das células basais (40) e amembrana basal encontra-se intacta. Sãoencontrados, em meio a células epiteliais,alguns coilócitos (1). Ao corte histológico ascélulas apresentam-se muito próximas umasdas outras, exceto nas camadas maisprofundas que apresentam perda desta coesão(40). O citoplasma celular é constituído de ummaterial finamente fibrilar e eletrondenso e nãosão encontradas mitoses anormais (40). Oepitélio normal em contato com a lesão mostraaumento da atividade de crescimento e algumgrau de inflamação (40).
Técnicas de imunohistoquímica dascélulas basais dos papilomas demonstraramaumento da proteína originada pela expressãodo gene p53 supressor de tumores (6,41). Estacaracterística foi encontrada na mesmaproporção em pacientes adultos e em crianças(38, 42), tanto nos tipos 6 e 11 do HPV (5).
Papiloma x carcinoma
Há vários relatos mostrando associaçãoentre papilomatose de laringe e carcinoma decélulas escamosas, tanto de laringe quanto de
árvore traqueobrônquica (43). Sabe-se que ocarcinoma do trato respiratório tem etiologiamultifatorial e que a infecção pelo HPV, namaioria dos casos, não é a única responsávelpela malignização (43). O fumo e o álcoolsabidamente são os fatores etiológicos maisimportantes para o desenvolvimento de doençamaligna laríngea, com ou sem a presença depapilomatose (43) . A evolução para carcinomaem pacientes com papilomatose tem sidofortemente associada a radioterapia (43),sendo que Lindeberg e Elbrond encontraramque a radioterapia proporciona um risco 16vezes maior de malignização (44). O HPV 16é o tipo mais freqüentemente encontrado emamostras de carcinoma laríngeo, podendo-seacreditar em provável participação napatogênese do carcinoma de laringe (45).
Nos pacientes que evoluem paracarcinoma, o tempo decorrente entre odiagnóstico de papilomatose de laringe e suamalignização é variável. Segundo Kleinsassere Glanz este período é de aproximadamente 5anos (46). Outros autores admitem períodosainda mais curtos. A literatura mostra que cercade 2 a 3% dos casos de papiloma de laringeevoluem para carcinoma laríngeo. Este dadonão foi confirmado por Lie, que estudou umdos grupos mais numerosos de papilomasassociados a carcinomas, e encontrou umataxa de malignização de aproximadamente 7%(4).
Tratamento
O objetivo da terapêutica é a manutençãoda via aérea e da função vocal. Tanto otratamento cirúrgico quanto o clínico têmdemonstrado limitado sucesso no controleabsoluto da doença.
Tratamento cirúrgico
Dentre os tratamentos cirúrgicos, amicrocirurgia com laser é a que apresentamelhores resultados por apresentar reduzidonúmero de complicações pós-operatórias, alémde proporcionar uma excisão mais precisa emais rápida das lesões.
O efeito do laser nos tecidos humanosdepende do comprimento de onda inerente a
Revista HCPA 1999;19 (2) 255
Mülen et al.Papilomatose de laringe
cada tipo de laser empregado. A energia podeser refletida, absorvida, atravessar o tecido ouainda dissipar-se nele. A utilização destematerial em cirurgia, na maior parte dos casos,é baseada na transformação de sua energiaem calor, causando o efeito cirúrgico desejado(47,48).
A transformação da energiaeletromagnética em térmica se dá pelainteração do laser com o tecido. A absorçãoda energia pelo tecido ocorre em componentesteciduais chamados de cromóforos, específicosde cada tipo de laser. Assim, por exemplo, ocromóforo para o laser de dióxido de carbonoé a água.
Existem basicamente três possíveisreações laser-tecido: a) efeito térmico; b) efeitomecânico; e c) reação química. A terapiafotodinâmica é um exemplo do último tipo dereação laser-tecido. Nesse caso, um fármacoabsorvido pelas células é alvo de umdeterminado comprimento de onda de laser.Sua energia altera ligações moleculareslevando a modificações na célula, comliberação de radicais livres de oxigênio,produtos altamente tóxicos para a célula.
No laser de dióxido de carbono (CO2), apresença de água nos tecidos permite que aenergia eletromagnética seja absorvida, comelevação da temperatura tecidual. Ao atingir60 a 65º C as proteínas desnaturam, e aos100ºC ocorre a vaporização da águaintracelular, vacuolização e contração do tecido.O grande aquecimento causado pelo laser levaà vaporização do alvo e transmissão do caloraos tecidos subjacentes, formando uma áreade necrose. Nessa zona de necrose térmicaos pequenos vasos sangüíneos e linfáticos enervos são literalmente selados, fato que,juntamente com a mínima manipulação,provavelmente seja responsável pela quaseausência de edema encontrado no pós-operatório destes pacientes.
O laser de CO2 é considerado atualmenteo tratamento padrão para a papilomatoserecorrente de laringe, permitindo a remoção dopapiloma de maneira eficiente, precisa e comdanos mínimos aos nobres tecidos vizinhos,como cordas vocais e cartilagens laríngeas.Chegou-se a inferir a existência de DNA viralno vapor resultante da utilização do laser de
CO2, levando a maior disseminação dopapiloma com este tratamento. Este fatofelizmente não se confirmou, comprovando-seser o vapor resultante livre de DNA viral (49).
Existem ainda outros tipos de laseraplicados em otorrinolaringologia, como o laserde argônio e o YAG laser, que variam nocomprimento de onda, meios utilizados eresultado no tecido.
Tratamento adjuvante
Os pobres índices de cura cirúrgica têmestimulado o desenvolvimento de estudos comquimioterápicos, como hormônios, esteróides,podofilina, antibióticos, antimetabólicos edrogas citotóxicas. O objetivo da terapiaadjuvante com estas drogas é a diminuição daextensão da doença e a lentificação docrescimento das lesões, com conseqüentediminuição das recidivas (50).
O conhecimento estabelecida de que opapiloma de laringe é causado por um vírusiniciou a pesquisa de agentes terapêuticosantivirais. O alfa interferon leucocitário humano(α-IFN) tem conhecidas propriedades antiviraise antiproliferativas. O exato mecanismo dointerferon (IFN) ainda não é conhecido.Acredita-se que haja modulação da respostaimune, com produção de proteínas quinases eendonucleases, o que resulta na inibição dasíntese de proteínas virais e destruição do DNAviral.
Em 1981, Hagland et al. mostraramencorajadores resultados com α -IFN nocontrole do papiloma de laringe (51). Um anomais tarde, Goepfert et al. reportaramresultados similares (52). Ambos foram estudospilotos, usando interferon preparado naFinlândia. Mc Cabe e Clark tiveram resultadospositivos adicionais em um terceiro estudopiloto, usando interferon similar preparado emoutro centro (Nova Iorque) (53).
Em ensaio clínico, randomizado, cruzadoe multicêntrico, Leventhal et al. trataram 66pacientes com papilomatose juvenil recorrente,por 6 meses, com interferon α n-1 (Wellferon)na dose de 5 UM/m (2) por 28 dias consecutivose 3x/sem durante 5 meses. Os autoresacompanharam a evolução destes pacientesnos 6 meses seguintes. Houve significativa
Revista HCPA 1999;19 (2)256
Mülen et al. Papilomatose de laringe
melhora nos grupos durante o tratamento,sendo que 47% dos paciente reduziram àmetade os escores iniciais que consideraramextensão e severidade da doença. Foiobservado um efeito benéfico rápido,significativo nos primeiros 2 meses, comretorno da doença e piora da severidade apósinterrupção do tratamento. Nenhum pacienteteve resposta completa durante o período deobservação. Não houve correlação entre aresposta ao tratamento e a idade, duração ouextensão da doença. A presença detraqueostomia teve um impacto negativo naresposta ao IFN. Neste estudo a dose de IFNusada foi a máxima considerada tolerável pelaliteratura. Sete pacientes não completaram oestudo devido aos efeitos tóxicos. O grau detolerância foi inversamente proporcional àidade. Os autores concluem que o IFN retardao crescimento do papiloma mas não há umaresposta duradoura (54). Lusk et al. tambémmostraram dados similares com 75% deresposta positiva e 25% de cura (consideradaa ausência de sintomas ou sinais clínicosdurante o período de acompanhamento – 6meses) (50).
Estes resultados são contrastantes comos obtidos por Healy et al., que usou IFNleucocitário humano em doses de 2UM/m (2)por 7 dias e 3x/semana, subseqüentemente,por 1 ano, acrescido de 1 ano de observaçãoapós término do tratamento, em ensaio clínicorandomizado comparando terapia adjuvantecom IFN e cirurgia isolada. Foi observadamelhora nos primeiros 6 meses do estudoassociada a redução do índice de crescimentodo papiloma, porém a diferença entre os gruposreduziu-se, tornando-se estatisticamente nãosignificativa no segundo semestre detratamento. Os autores concluem que não hábenefício curativo ou de valor substancial coma utilização de INF como terapia adjuvante alongo prazo, pois o benefício inicial não foisustentado. A discrepância dos resultadosentre os estudos pode ser atribuída às baixasdoses usados e à fonte diferente de IFN (55).
Leventhal et al. seguiram os pacientesdo primeiro estudo após 4 anos e conformeorientação dos médicos assistentes algunscontinuaram usando IFN linfoblastóide (alfa-n1)na dose de 2UM/m (2) . Foram obtidos dados
de 60 dos 66 pacientes. Vinte e dois pacientestiveram remissão completa e 25 remissãoparcial, do total 13 pacientes não responderamao tratamento. A média de duração daremissão completa foi de 550 dias, sendo que15 pacientes mantiveram a remissão completa.Por isso, estes autores concluem que há umaresposta sustentada e repetida com otratamento com interferon linfoblastóide alfa-n1 recomendando-o para os paciente compapilomatose respiratória recorrente quenecessitam cirurgia a cada 2-3 meses (56).
Steinberg et al. demostraram apersistência da expressão do HPV tipo 6 e 11através de técnicas de hibridização empapilomas do trato respiratório durantetratamento com interferon. A persistência doHPV DNA e a recorrência durante a terapia éatribuída a falha do tratamento com INF emeliminar o vírus latente, apesar de geralmenteocorrer alguma melhora clínica durante autilização da droga. O DNA do HPV tambémfoi detectado em tecidos normais adjacentesaos papilomas durante a terapia com interferonda mesma forma que o vírus latente pode serencontrado em tecido normal de pacientes quenão receberam INF. Esses achados nãoesclarecem se o interferon age como umagente antiviral ou anticelular de alguma forma,ou se sua maior função na remissão de lesõespapilomatosas é pela estimulação da respostaimune. Mas fica claro que a persistência eexpressão do HPV em papilomas de laringenão é necessariamente bloqueada pelointerferon. Não houve evidência de que o tipode HPV afete a resposta ao tratamento, talvezdevido a pequena amostra (57).
Além dos pobres resultados com aterapia adjuvante com o INF, existem ainda osefeitos adversos do tratamento que limitam suautilização. A toxicidade do interferon resulta emsintomas envolvendo múltiplos órgãos esistemas. Em estudos com pacientes emtratamento para papilomatose de laringe, essessintomas tem sido em sua maioria bemtolerados, controlados e reversíveis. Os efeitosadversos mais comuns com a administraçãode interferon incluem febre, eritema eenduração no local da injeção, rashmaculopapulares, ressecamento da pele,alopécia parcial, cefaléia, fadiga, mialgia,
Revista HCPA 1999;19 (2) 257
Mülen et al.Papilomatose de laringe
anorexia, náuseas e vômitos. Mais raramentepode haver neurotoxicidade manifesta porsonolência, letargia, confusão e atéconvulsões. Alguns estudos relacionamevidências de retardo de crescimento emcrianças recebendo terapia a longo prazo cominterferon. Evidências laboratoriais detoxicidade incluem redução da contagem deleucócitos, hemácias e plaquetas e aumentode enzimas hepáticas. Nos paciente tratadospara papilomatose de laringe não observou-se toxicidade cardiovascular ou renal (58).
Um estudo recente avaliou a evoluçãoda terapia adjuvante em 34 pacientes comdoença moderada a severa inicialmentetratados com excisão com laser CO2 no mínimo5x antes de iniciar IFN. Houve reposta positivaem 82% dos casos e completa em 47% (semevidência de doença em 6 meses). Cincopacientes que falharam ao tratamento com IFNreceberam isotretinoína sem respostanenhuma observada e três pacientes compapilomatose juvenil recorrente mais severausaram metotrexate por 3 a 6 meses. Dessestrês, nenhum teve resposta completa mashouve aumento do intervalo de tempo denecessidade de nova cirurgia (59).
A isotretinoína é um composto retinóideque reverte a diferenciação anormal das célulasepiteliais através do controle da expressão degenes de queratina e sua subseqüenteprodução. Não tem atividade antiviral diretaconhecida. Na papilomatose, hipotetiza-se quepermitindo a normalização da epitelização damucosa, reduz-se os efeitos virais e asalterações papilomatosas no epitélio. Albertset al. tiveram resposta parcial com seu uso,com mínimos efeitos adversos (60). Bell et al.,em estudo randomizado, não encontrarammelhora clínica superior a placebo (61).
O metotrexate é um antimetabólico queage pela inibição da ácido diihidrofólicoredutase, a qual bloqueia a síntese de purinasinterferindo na síntese e reparo do DNA. Ascélulas em proliferação ativa são maissensíveis aos efeitos do metotrexate. Hápoucas referências na literatura quanto ao usodesta terapia para papilomatose respiratóriacom resultados sugerindo efetividade empacientes com doença severa.
Em estudo piloto, foi usado aciclovir por
6 meses em seis pacientes com doença severa,recalcitrante, de início juvenil, sendo que emdois substituiu-se a terapia com aciclovir porinterferon. Houve melhora clínica significativana extensão da doença exceto nos pacientesque receberam interferon previamente, quepioraram drasticamente após interrupçãodesse. O possível efeito benéfico do aciclovirnesse pacientes foi sobreposto pelo fenômenorebote do interferon. Contudo, um efeitosinérgico antiviral tem sido recentementeproposto entre aciclovir e interferon pelaobservação clínica do tratamento de ceratiteherpética e pesquisas futuras devem examinaro efeito desta administração concomitante notratamento de papilomatose laríngea (62).
Aguado et al. também sugere efeitobenéfico do aciclovir no manejo dapapilomatose de laringe (63). O mecanismoatravés do qual o aciclovir tem efeitoterapêutico ainda não é claro. É um análogodo nucleosídeo purina acíclico que éreconhecido pela timidina quinase herpética ea ativa com subsequente fosforilação deenzimas celulares. A forma trifosfato éincorporada na replicação de DNA, causandoquebra na continuidade dessa. Os efeitosadversos são raros e os mais freqüente incluemnáuseas, vômitos, diarréia e cefaléia.
Há relato de casos do uso de proteasesadministradas oralmente, um preparadocombinado contendo pancreatina, papaína,bromalina, lipase, amilase, tripsina,quimiotripsina e rutina. Com a enzimoterapiasistêmica observou-se melhora clínica elaboratorial em cinco pacientes adultos tratadosno período pós-operatório com período livre dedoença entre 10 e 18 meses, surgindo maisuma potencial opção para reduzir a recorrênciade doença com a vantagem de ser preparadacom componentes naturais e com baixaincidência de efeitos adversos (64).
O uso de 5-fluoracil (5-FU) tópico édescrito como uma terapia adjuvante a cirurgiacom laser. Seu efeito foi demonstrado comadministração intensiva em pacientes comdoença em diversos sítios anatômicos. Seisdos oito pacientes tratados reduziram aextensão da doença. Não houve toxicidadesignificativa associada em vias respiratóriasnem nos sistemas hepático e hematológico. O
Revista HCPA 1999;19 (2)258
Mülen et al. Papilomatose de laringe
5-FU interfere diretamente na síntese de DNAe indiretamente inibe a síntese de RNA (65).
Outros adjuvantes promissores incluemagentes antimitóticos (resina de podofilina ecolchicina) que podem causar regressão dopapiloma com aplicação tópica,antimetabólicos ou intercaladores de DNA(flucitocina e bleomicina) que podem causarregressão quando administrados local ousistemicamente. Estes agentes, outroscitotóxicos ou imunomodulatores devem sercombinados com interferon em futuros estudos.Cabe lembrar que o manejo ideal dos pacientescom papilomatose respiratória inclui nãosomente controle dos sintomas, mas aeliminação do vírus.
Referências
1. Abramson AL, Steinberg BM, Winkler B.
Laryngeal papillomatosis: clinical, histopathologic
and molecular studies. Laryngoscope
1987;97(6):678-85.
2. Pransky SM, Seid AB. In Bluestone CD, Stool SE,
editors. Pediatric Otolaryngology. 2ª ed.
Philadelphia: WB Saunders Company; 1990.
p.1215-8.
3. Zur Hausen H. Papillomavirus infections - a major
cause of human cancer. Biochim Byophys Acta
1996;1288(2):F55-78.
4. Elo J, Hídvégi J, Bajtai A. Papova viruses and
recurrent laryngeal papil lomatosis. Acta
Otolaryngol 1995;115(2):322-5.
5. Gale N, Poljak M, Kambic V, et al. Laryngeal
papillomatosis: molecular, histopathological and
clinical evaluation. Virchows Arch
1994;425(3):291-5.
6. Luzar B, Gale N, Kambic V, et al. Human
papillomavirus infection and expression of p53
and c-erbB-2 protein in laryngeal papillomas. Acta
Otolaryngol Suppl 1997;527:120-4.
7. Popper HH, Wirnsberger G, Jütter SFM, et al. The
predictive value of human papilloma virus (HPV)
typing in the prognosis of bronchial squamous cell
papillomas, Histopathology 1992;21(4):323-30.
8. Lin KY, Westra WH, Kashima HK, et al.
Coinfection of HPV-11 and HPV-16 in a case of
laryngeal squamous papillomas with severe
dysplasia, Laryngoscope. 1997;107(7):942-7.
9. Doyle LDJ, Gianoli GJ. Laryngeal papillomatosis.
J La State Soc 1992;144(12):551-4.
10. Kerley SW, Buchon ZC, Moran J, et al. Chronic
cavitary respiratory papillomatosis. Arch Pathol
Lab Med 1989;113(10):1166-9.
11. Anderson KC, Roy TM, Fields CL, et al. Juvenil
laryngeal papillomatosis: a new complication.
South Med J 1993;86(4):447-9.
12. Williams SD, Jamieson DH, Prescott CA. Clinical
and radiological features in three cases of
pulmonary involvement from recurrent respiratory
papillomatosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
1994;30(1):71-7.
13. Frootko NJ, Rogers JH. Oesophageal papillomata
in the child. J. Laryngol Otol 1978;92(9):823-7.
14. Balazic J, Masera A, Poljak M. Sudden death
caused by laryngeal papil lomatosis. Acta
Otolaryngol Suppl 1997;527:111-3.
15. Erisen L, Fagan JJ, Myers EN, et al. Late
recurrence of laryngeal papillomatosis. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 1996;122:942-4.
16. Gabbott M, Cossart YE, Kan A, et al. Human
papillomavirus and host variables as predictors
of clinical course in patients with juvenil-onset
recurrent respiratory papillomatosis. J Clin
Microbiol 1997;35(12):3098-103.
17. Padayachee A, Prescott CA. Relationship
between the clinical course and HPV typing of
recurrent laryngeal papillomatosis. The Red Cross
War Memorial Children´s Hospital experience
1982-1988, Int J Pediatr Otorhinolaryngol
1993;26(2):141-7.
18. Kramer SS, Wehunt WD, Stocker JT, et al.
Pulmonary manifestations of juvenile
laryngotracheal papil lomatosis. ARJ Am J
Roentgenol 1985;144(4):687-94.
19. Pou AM, Rimell FL, Jordan JA, et al. Adult
respiratory papillomatosis: human papillomavirus
type and viral coinfections as predictors of
prognosis. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104(10
Pt 1):758-62.
20. Doyle DJ, Gianoli GJ, Espinola T, et al. Recurrent
respiratory papillomatosis: juvenile versus adult
forms, Laryngoscope 1994;104(5 Pt 1):523-7.
21. Weiss MD, Kashima HK. Tracheal involvement
in laryngeal papillomatosis, Laryngoscope, v
93(1): 45-48, Jan 1983.
22. Bauman NM, Smith RJ. Recurrent respiratory
papil lomatosis. Pediatr Clin North Am
1996;43(6):1385-401.
23. Nunez DA, Astley SM, Lewis FA, et al. Human
papiloma viruses: study of their prevalence in the
Revista HCPA 1999;19 (2) 259
Mülen et al.Papilomatose de laringe
normal larynx. J Laryngol Otol 1994;108(4):319-
20.
24. Somers GR, Tabrizi SN, Borg AJ, et al. Juvenile
laryngeal papillomatosis in a pediatric population.
Pediatr Pathol Lab Med 1997;17(1):53-64.
25. Aaltonen LM, Peltomaa J, Rihkanen H. Prognostic
value of clinical findings in histologically verified
adult-onset laryngeal papillomas. Eur Arch
Otorhinolaryngol 1997;254(5):219-22.
26. Benjamin B, Parson DS. Recurrent respiratory
papillomatosis: a 10 year study. J Laryngol Otol
1988;102(11):1022-28.
27. Lindeberg H, Elbrond O. Laryngeal papilloma:
clinical aspects in a serie of 231 patients. Clin
Otolaryngol 1989;14(4):333-42.
28. Hallde C, Majmudar B. The relationship between
juvenil laryngeal papillomatosis and maternal
condylomata acuminata. J Reprod Med
1986;31(9):804-7.
29. Kashima HK, Mounts P, Shah K. Recurrent
respiratory papillomatosis. Obstet Gynecol Clin
North Am 1996;23(3):699-706.
30. Wood CL. Laryngeal papillomas in infants and
children. Relationship to maternal venereal warts.
J Nurse Midwifery 1991;36(5):297-302.
31. Steinberg BM. Papillomavirus. Effects upon
mother and child. Ann N Y Acad Sci
1988;549:118-28.
32. Kjer JJ, Eldon K, Dreisler A. Maternal
condylomata and juvenil laryngeal papilloma,
Zentralbl Gynakol 1988;110(2):107-10.
33. Yoshpe NS. Oral and laryngeal papilloma: a
pediatric manifestation of sexually transmited
disease? Int J Pediatr Otorhinolaryngol
1995;31(1):77-83.
34. Perrick D, Wray BB, Leffell MS, et al. Evaluation
of immunocompetency in juvenile laryngeal
papillomatosis. Ann Allergy 1990;65(1):69-72.
35. Briggaman RA, Wheeler Jr CE. Immunology of
human warts. J Am Acad Dermatol 1979;1(4):297-
304.
36. Kashima H, Mounts P, Leventhal B, et al. Sites of
predilection in recurrent respiratory
papil lomatosis. Ann Otol Rhinol Laryngol
1993;102(8 Pt 1):580-3.
37. Colquhoun FW, Carruth JA, Cheesman AD.
Laryngeal papillomatosis with subsequent
development of papillomata in the paranasal
sinuses - is it seeding by intubation? J Laryngol
Otol 1995;109(3):238-9.
38. Horn T, Bomholt A. Ultrastructural features of the
adult laryngeal papilloma. Acta Otolaryngol
1985;99(5-6):649-54.
39. Steinhberg BM, Meade R, Kalinowski S, et al.
Abnormal differentiation of human papillomavirus-
induced laryngeal papillomas. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 1990;116(10):1167-71.
40. Incze JS, Lui PS, Strong MS, et al. The
morphology of human papillomas of the upper
respiratory tract. Cancer 1977;39(4):1634-46.
41. Clark LJ, MacKenzie K, Parkinson EK. Eleveted
levels of the p53 tumor suppressor protein in the
basal layer of recurrent laryngeal papillomas. Clin
Otolaryngol 1993;18(1):63-5.
42. Lindeberg H. Laryngeal papi l lomas:
histomorphometric evaluation of multiple and
solitary lesions. Clin Otolaryngol 1991;16(3):257-
60.
43. Lie ES, Engh V, Boysen M, et al. Squamous cell
Carcinoma of the respiratory tract following
laryngeal papil lomatosis. Acta Otolaryngol
1994;114:209-12.
44. Lindeberg H, Elbrond O. Malignants tumors in
patientes with a history of multiple laryngeal
papilloma: the significance of irradiation. Clin
Otolaryngol 1991;16:149-51.
45. Garcia MR, Hernandez H, Panade L. Detection
and typing of human papillomavirus DNA in
benign and malignant tumours of laryngeal
epithelium. Acta Otolaryngol 1998;118(5):754-8.
46. Klainsasser O, Glanz H. Espontane
Kanzerisierung Nichtbestrahlter juveniles
larynxpapil lome. Laryngo-Rhinootology
1979;58:482-9.
47. Papparella MM, Shumrick DA. In: Duncavage JA,
Ossoff RH, editors. 3 rd ed. New York: WB
Saunders Company; 1991. p.691-9.
48. Strong MS, Vaughan CW, Healy GB, Cooperband
SR, et al. Recurrent respiratory papillomatosis
management with the CO2 laser. Ann Otol
1976;85:508-16.
49. Abramson AL, Dilorenzo TP, Steinberg, BM. Is
papillomavirus detectable in the plume of laser-
treated laryngeal papilloma? Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 1990;116:604-7.
50. Lusk RP, McCabe BF, Mixon JH. Three-year
experience of treating recurrent respiratory
papilloma with interferon. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1987;96:158-61.
51. Hagland S, Lundquist P, Cantrell K, et al .Interferon therapy in juvenile laryngeal
papillomatosis. Arch Otolaryngol 1981;107:327-
Revista HCPA 1999;19 (2)260
Mülen et al. Papilomatose de laringe
32.
52. Goepfert H, Sessions RB, Gutterman JU, et al.
Leokocyte interferon in patients with juvenile
laryngeal papil lomatosis. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1982;91:431-6.
53. McCabe BF, Clarck KF. Interferon and laryngeal
papillomatosis: the Iowa experience. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1983;92:2-7.
54. Leventhal BG, Kashima HK, Weck PW, et al.
Randomized surgical adjuvant trial of interferon
alfa-n1 in recurrent papi l lomatosis. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 1988;113:1163-9.
55. Healy GB, Gelber RD, et al. Treatment of recurrent
respiratory papillomatosis with human leukocyte
interferon. The New England Journal of Medicine
1988;319:401-7.
56. Leventhal BG, Kashima HK, Mount P, et al. Long-
term of recurrent respiratory papillomatosis to
treatment with lymphoblastoid interferon alfa-n1.
N Eng J Med 1991;325:613-7.
57. Steinberg BM, Gallagher T, Stoler M, et al.
Persistence and expression of human
papillomavirus during interferon therapy. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 1988;114:27-31.
58. Crockett DM, Lusk RP, McCabe BF, Mixon JH.
Side effects and toxicity of interferon in the
treatment of recurrent respiratory papillomatosis.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1987;96:601-6.
59. Avidano MA, Singleton G. Adjuvant drug
strategies in the treatment of recurrent respiratory
papillomatosis. Otolaryngology Head and Neck
Surgery 1995;112(2):197-201.
60. Alberts DS, Coulthard SW, Meyskens FL.
Regression of agressive laryngeal papillomatosis
with 13-cis-retinoic acid. J Biol Response Mod
1986;5:124-8.
61. Bell R, Honkwk, Itri LM, et al. The use of cis-
retinoic acid in recurrent respiratory
papillomatosis of the larynx: a randomized pilot
study. Am J Otolaryngol 1978;9:161-4.
62. Endre DR, Bauman NM, Burke D, Smith RJH.
Acyclovir in the treatment of recurrent respiratory
papil lomatosis. Ann Otol Rhinol Laryngol
1994;103:301-4.
63. Aguado DL, Pinero BP, Betancor L, et al. Acyclovir
in the treatment of laryngeal papillomatosis. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol 1991;21:269-74.
64. Mudrák J, Bobák L, Sebová I. Adjuvant therapy
with hydrolytic enzymes in recurrent laryngeal
papillomatosis. Acta Otolaryngol 1997;527:128-
30.
65. Smith HG, Healy GB, Vaughan CW, Strong MS.
Topical chemotherapy of recurrent respiratory
papillomatosis. Ann Otol 1980;89:472-7.
Revista HCPA 1999;19 (2) 261
2000200020002000Revista HCPA
19198181
Submeta artigos originais,comunicações,relatos de caso
e artigos de revisão
www.hcpa.ufrgs.br/revista
Revista HCPA 1999;19 (2)262
Erramos na diagramação do quadro abaixo, publicado na página 74do último número da Revista HCPA [Volume 19, nº 1, Abril de 1999].
O quadro correto está a seguir:
ERRATA
Quadro 2. Classificação baseada nos fatores etiológicos predominantes em dor crônica
Transtorno do humor do tipo
depressivo
Transtorno conversivoTranstorno doloroso
somatomorfo
Transtorno de somatizaçãoHipocondríase
Demência
Transtorno de ansiedadegeneralizada
Modificado de France R e Krishnan K. Chronic Pain; 1988.
Orgânicos
Psicológicos
Neuropatias periféricas
Neuralgia do trigêmio
CâncerSíndrome talâmica
Dor de origem Central
Deaferentação (membrofantasma, p.ex)
Artrites
Dores nas costas e
cervicobraquialgas
Temporo-mandibularPélvica crônica
Miofascial
CefaléiasFacial atípica
Revista HCPA 1999;19 (1) 263
REVISTA HCPAwww.hcpa.ufrgs.br/revista
Publicação quadrimestral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, desde 1981.
Normas para publicação
A Revista HCPA publica trabalhos na área biomédica. Os artigos enviados para avaliação pelo
Conselho Editorial poderão ser submetidos em português, inglês ou espanhol. Todos os artigos
serão avaliados pelo Conselho Editorial, com base no parecer de dois revisores.
Informações sobre submissão de artigos e cópias das normas para publicação podem ser solicitadas
ao Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação no seguinte endereço: Revista HCPA, Grupo de Pesquisa
e Pós Graduação, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rua Ramiro Barcelos 2350, CEP 90035-003,
Porto Alegre, RS, Brasil ou na Internet: www.hcpa.ufrgs.br/revista.
Tipos de Colaboração
Editoriais. Esta seção inclui o
editorial de apresentação da
Revista, assinado pelo Editor, além
de editoriais especiais, que
compreendem colaborações
solicitadas sobre temas atuais ou
artigos publicados na Revista.
Artigos originais. São
contribuições novas ao campo de
conhecimento, apresentadas de
forma a possibilitar a avaliação
crítica e global e a replicação por
outros investigadores. Os artigos
originais podem descrever
trabalhos observacionais ou
experimentais, prospectivos ou
retrospectivos, descritivos ou
analíticos. Os artigos submetidos
nesta categoria não devem
exceder 20 laudas.
Comunicações. Descrevem
trabalhos observacionais ou
experimentais em andamento, ou
seja, os dados apresentados não
são conclusivos. As comunicações
não devem exceder 15 laudas.
Artigos especiais. Esses artigos
serão solicitados pelo Conselho
Editorial e versarão sobre temas
atuais ou de interesse permanente,
abrangendo políticas de saúde,
ensino, pesquisa, extensão
universitária e exercício
profissional. Também serão
considerados nesta categoria
artigos clínicos que expressem
experiência de grupos ou opinião
pessoal de relevância e
profundidade, além de artigos de
atualização sobre as mais variadas
áreas abrangidas pela linha de
divulgação científica e tecnológica
da Revista. Os artigos especiais
não devem ter mais de 25 laudas.
Relatos de casos. Os relatos de
casos devem descrever achados
novos ou pouco usuais, ou
oferecer novas percepções sobre
um problema estabelecido. O
conteúdo deve se limitar a fatos
pertinentes aos casos. Relatos de
um caso único não devem exceder
três laudas, conter até duas
ilustrações e ter menos de 15
referências bem selecionadas, já
que o objetivo dos relatos não é
apresentar uma revisão
bibliográfica.
Sessões Anátomo-Clínicas. Esta
seção publicará uma seleção de
assuntos relevantes de sessões
anátomo-clínicas previamente
apresentadas no HCPA.
Cartas ao Editor.
Correspondência dirigida ao Editor
sobre artigos previamente
publicados ou sobre temas de
interesse relacionados à linha
editorial da Revista. Não devem
exceder duas laudas.
Instruções para os autores
A Revista HCPA adota o estilo
Vancouver para publicação de
artigos (conforme Can Med Assoc
J 1997;156(2):270-7). As
instruções relativas ao estilo
Vancouver também estão
Revista HCPA 1999;19 (1)264
disponíveis no Grupo de
Pesquisa e Pós-Graduação
(GPPG) do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre. Além disso,
detalhes sobre o estilo Vancouver
são descritos mais adiante.
Submissão dos trabalhos
Os autores deverão submeter
quatro cópias da colaboração,
juntamente com uma carta de
apresentação do artigo dirigida
ao Editor e uma cópia preenchida
da Lista de Itens para
Conferência da Revista HCPA,
que pode ser encontrada ao final
das Instruções para os Autores.
Só serão considerados para
publicação artigos experimentais
que documentarem a aprovação
pelo Comitê de Ética da
instituição na qual o estudo foi
desenvolvido. Os artigos deverão
ser submetidos em laudas de
tamanho A4 (21 x 29,7 cm), com
margens de no mínimo 2,5 cm. O
texto deverá ser datilografado em
espaço duplo, na fonte Arial 11.
Todas as páginas devem ser
numeradas, começando pela
página de rosto.
A Revista aceitará para avaliação
artigos em português, inglês ou
espanhol. Disquetes serão
solicitados em caso de aceitação
dos artigos. Colaborações
deverão ser enviadas para o
seguinte endereço:
Revista HCPA
Grupo de Pesquisa e Pós
Graduação
Hospital de Clínicas de Porto
Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350
CEP 90035-003
Porto Alegre, RS, Brasil
Todos os artigos serão avaliados
por pelo menos dois revisores.
Quando os revisores sugerirem
modificações, os artigos serão
reavaliados pelo Conselho Editorial
depois da inclusão das
modificações sugeridas. Quando
um artigo for aceito para
publicação o Conselho Editorial
requisitará aos autores o envio de
uma cópia em disquete (3½
polegadas) da versão final do
artigo em Word. O texto em versão
eletrônica deverá ser digitado sem
formatação (sem estilos), alinhado
à esquerda e sem separação de
sílabas. O disquete deve ser
identificado com data, nome e
telefone do autor responsável e
título abreviado do artigo.
Direitos autorais
Os autores cederão à Revista
HCPA os direitos autorais das
colaborações aceitas para
publicação. Os autores poderão
utilizar os mesmos resultados em
outras publicações desde que
indiquem claramente a Revista
como o local da publicação
original.
Uma cláusula prevendo a cessão
dos direitos está incluída na Lista
de Itens para Conferência da
Revista HCPA, que deverá ser
assinada por todos os autores e
enviada juntamente com as quatro
cópias da colaboração submetidas
para avaliação pelo Conselho
Editorial.
Página de rosto
As colaborações submetidas à
Revista HCPA devem incluir uma
página de rosto contendo as
seguintes informações:
TÍTULO da colaboração, em
português e em inglês (ou em
espanhol e em inglês).
NOME completo dos autores,
seguidos de credenciais e
instituição a qual pertencem.
Até CINCO unitermos com
tradução para o inglês. Sempre
que possível, os autores devem
utilizar termos conforme os tópicos
listados pelo Index Medicus (MeSH
- Medical Subject Headings).
ENDEREÇO completo, telefone e
correio eletrônico (se disponível)
do autor responsável pela
correspondência.
Resumo
Os artigo originais e as
comunicações devem conter
obrigatoriamente um resumo
estruturado, com tradução para o
inglês. Portanto, o resumo deve
explicitar os objetivos, métodos,
resultados e conclusões e deve dar
ao leitor uma descrição exata do
conteúdo do artigo.
Os artigos de revisão e outras
colaborações deverão apresentar
resumos descritivos dos conteúdos
abordados, de até 200 palavras,
com tradução para o inglês.
Corpo do artigo
Os artigos originais e
comunicações devem seguir o
formato “IMRAD”, ou seja,
Introdução, Materiais e Métodos,
Resultados e Discussão (e,
opcionalmente, Conclusões).
A introdução deve incluir o objetivo
do trabalho, sua importância, a
revisão da literatura pertinente e o
desenvolvimento do assunto.
A seção de Materiais e Métodos
deve descrever as técnicas,
estatísticas e outras formas de
análise empregadas, de forma que
Revista HCPA 1999;19 (1) 265
seja possível a outros autores a
repetição do experimento descrito.
Os Resultados devem apresentar
simplesmente, sem avaliações, os
dados obtidos a partir dos
experimentos descritos em
Materiais e Métodos.
Na Discussão, os autores
comentarão os resultados e sua
relação com dados da literatura
revisada e delinearão suas
conclusões (a não ser em artigos
em que as conclusões são
apresentadas separadamente). Os
aspectos novos e originais
apresentados pelo artigo devem
ser enfatizados. Os dados
apresentados em sessões
anteriores, como Introdução ou
Resultados, não devem ser
repetidos em detalhe na
Discussão.
Agradecimentos
Uma nota de agradecimentos deve
ser incluída no final do texto
sempre que relevante, por
exemplo, no caso de financiamento
por alguma instituição específica.
Pessoas que contribuíram para a
pesquisa e para o artigo, mas cuja
contribuição não justifica inclusão
na lista de autores, devem ser
mencionadas nesta seção.
Referências bibliográficas
As referências bibliográficas
devem ser usadas para identificar
a fonte de conceitos, métodos e
técnicas derivadas de pesquisas,
estudos ou experiências anteriores
já publicadas; para embasar fatos
e opiniões expressadas pelos
autores; e para servir como guia
para os leitores interessados em
conhecer mais sobre pontos
específicos descritos no artigo.
As referências devem ser listadas
de acordo com a ordem de citação
no texto.
Dentro do texto, as citações
deverão ser indicadas entre
parênteses: “Vários autores (1, 4,
7) observaram...”. As referências
que aparecem pela primeira vez
em tabelas e figuras devem ser
numeradas na seqüência das
referências citadas na parte do
texto onde a tabela ou a figura
aparecem pela primeira vez. A
seguir serão exemplificados os
formatos para os diversos tipos de
citação.
Artigos de periódicos
Artigo padrão
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart
transplantation is associated with
an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann
Intern Med 1996;124:980-3.
Se o artigo tiver mais de seis
autores, apenas os seis primeiros
nomes serão listados, seguidos de
“et al.”:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et
al. Childhood leukaemia in Europe
after Chernobyl: 5 year follow-up.
Br J Cancer 1996;73:1006-12.
Organização como autor do
artigo
The Cardiac Society of Australia
and New Zealand. Clinical exercise
stress testing. Safety and
performance guidelines. Med J
Aust 1996;164:282-4.
Artigos sem autor
Cancer in South Africa [editorial]. S
Afr Med J 1994;84:15.
Volume com suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk
assessment of nickel
carcinogenicity and occupational
lung cancer. Environ Health
Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.
Número com suplemento
Payne DK, Sullivan MD, Massie
MJ. Women’s psychological
reactions to breast cancer. Semin
Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.
Cartas ou outros tipos especiais
de artigos
Enzensberger W, Fischer PA.
Metronome in Parkinson’s disease
[carta]. Lancet 1996;347:1337.
Livros e outras monografias
Autor pessoal
Ringsven MK, Bond D.
Gerontology and leadership skills
for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
Editor ou compiladores como
autor
Norman IJ, Redfern SJ, editors.
Mental health care for elderly
people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
Capítulo de livro
Phillips SJ, Whisnant JP.
Hypertension and stroke. In:
Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology,
diagnosis and management. 2nd
ed. New York: Raven Press; 1995.
P. 465-78.
Anais de congresso
Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent advances in clinical
neurophysiology. Proceedings of
Revista HCPA 1999;19 (1)266
the 10th International Congress of
EMG and Clinical Neurophysiology;
1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
Artigo apresentado em
congresso
Bengtsson S, Solheim BG.
Enforcement of data protection,
privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the
7th World Congress on Medical
Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Tese ou dissertação
Kaplan SJ. Post-hospital home
health care: the elderly’s access
and utilization [dissertação]. St
Louis (MO): Washington Univ;
1995.
Outros tipos de materiais
Artigos de jornal
Lee G. Hospitalizations tied to
ozone pollution: study estimates
50,000 admissions annually. The
Washington Post 1996 Jun 21;
Sect. A:3 (col 5).
Audiovisuais
HIV+/AIDS: the facts and the future
[videocassete]. St Louis (MO):
Mosby-Year Book; 1995.
Artigos ou livros no prelo
Leshner AI. Molecular mechanisms
of cocaine addiction. N Engl J Med.
No prelo 1996.
Material eletrônico
Artigo de periódico em formato
eletrônico
Morse SS. Factors in the
emergence of infectious diseases.
Emerg Infect Dis [série online] 1995
Jan-Mar [citado 1996 Jun 5];
1(1):[24 telas]. Disponível de: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/
eid.htm
Monografia eletrônica
CDI, clinical dermatology illustrated
[monografia em CD-ROM]. Reeves
JRT, Maibach H. CMEA Multimedia
Group, producers. 2nd ed. Version
2.0. San Diego: CMEA; 1995.
Tabelas e quadros
As tabelas e quadros devem ser
datilografados em folhas separadas
e numerados consecutivamente
com números arábicos (tabela 1,
tabela 2, quadro 1, etc.). Todas as
tabelas e quadros devem ser
referidos no texto. Abreviaturas
devem ser explicadas em notas, no
final das tabelas. As notas devem
ser indicadas com letras
sobrescritas.
Figuras e gráficos
Devem ser apresentados, em folhas
separadas, com suas legendas, em
desenho a nanquim, impressão a
laser de computador, ou em
fotografias que permitam boa
reprodução gráfica. As figuras e
gráficos devem ser referidos no
texto e numerados
consecutivamente com números
arábicos (figura 1, figura 2, etc.).
Abreviaturas
O uso de abreviaturas deve ser
mínimo, porém, sempre que
utilizadas, as abreviaturas devem
ser introduzidas imediatamente
depois do termo a ser abreviado
quando este aparecer pela
primeira vez no texto. Em tabelas e
figuras, todas as abreviaturas
devem ser definidas na legenda. O
título e o resumo não devem conter
abreviaturas.
Experiências com seres
humanos e animais
Trabalhos submetidos para
avaliação pelo Conselho Editorial
da Revista HCPA devem seguir os
princípios relativos a experimentos
com seres humanos e animais
delineados nos seguintes
documentos: Declaration of
Helsinki; e Guiding Principles in the
Care and Use of Animals (DHEW
Publication, NIH, 80-23).
Além destes documentos
internacionais, deverão ser
seguidas as Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos
(Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde) e as
resoluções normativas sobre
pesquisa do HCPA.
A compilação destas normas foi
baseada em: International
Comittee of Medical Journal
Editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to
biomedical journals. Can Med
Assoc J 1997;156(2):270-7.
Revista HCPA 1999;19 (1) 267
PÁGINA DE ROSTO
q Título da colaboração;
q Nome completo dos
autores, seguidos de credenciais
e instituição a que pertencem;
q Endereço completo,
telefone e correio eletrônico do
autor que recebe as
correspondências.
CORPO DO ARTIGO
q Resumos em português e
inglês;
q Unitermos em português e
inglês;
q Tabelas numeradas com
números arábicos. Todas as
abreviaturas foram explicadas
em notas no final das tabelas e
indicadas por letras sobrescritas.
q Figuras numeradas com
números arábicos.
q O texto inclui todas as
divisões principais: Introdução,
Materiais e Métodos, Resultados
REVISTA HCPA
LISTA DE ITENS PARA CONFERÊNCIA
Leia com cuidado as Normas para Publicação antes de completar a lista. Esta lista deve ser anexada ao
artigo original e à versão revisada.
Nome do autor que recebe correspondência:
Data:
Telefone:
Fax/email:
e Discussão (e, opcionalmente,
Conclusões).
q Nenhuma abreviatura
está sendo utilizada no título ou
no resumo.
q No texto, termos
abreviados são escritos por
extenso na primeira vez em
que aparecem, seguidos da
abreviatura entre parênteses.
As mesmas abreviaturas são
usadas consistentemente em
todo o texto, tabelas e figuras.
q Pacientes são
identificados por números, não
por iniciais.
REFERÊNCIAS
q A lista de referências
começa em uma página
separada. Todas as citações
são indicadas no texto em
números arábicos, na ordem
em que aparecem, entre
parênteses.
q As referências foram
conferidas e formatadas
cuidadosamente. Os títulos de
periódicos foram abreviados
conforme o Index Medicus.
q O nome de todos os
autores foi listado em cada uma
das referências. Quando há
mais de seis autores, os seis
primeiros nomes foram citados,
seguidos de et al.
FORMATO GERAL
q O manuscrito está
datilografado em espaço duplo,
em folhas de tamanho A4 (21 x
29,7 cm), com margens de no
mínimo 2,5 cm.
q Quatro cópias do texto,
tabelas e figuras estão sendo
enviadas à Revista HCPA.
q Esta lista foi preenchida,
assinada por todos os autores
e será enviada juntamente com
as quatro cópias do texto e
uma carta de apresentação
dirigida ao Editor.
Revista HCPA 1999;19 (1)268
DIREITOS AUTORAIS
Ao assinar este formulário, os autores estarão cedendo os direitos autorais do artigo para a Revista HCPA.
A republicação ou publicação resumida deste artigo é permitida desde que a Revista seja citada, em nota
de rodapé, como fonte original de publicação. No espaço abaixo, o nome de todos os autores deve constarde forma legível. Cada autor deverá assinar e datar este formulário.
Revista HCPA 1999;19 (1) 269
Contents of the Journal
Editorial. This section includes the
Editor’s comments regarding the
contents of each issue, as well as
the opinion of invited contributors
regarding current topics or articles
published in Revista.
Original articles. These are
reports of original research
presented so as to allow critical
evaluation and duplication by other
researchers. Articles submitted to
this section can be observational,
experimental, prospective or
retrospective, descriptive or
analytic. Manuscripts should not be
longer than 20 pages.
Communications. Reports of
preliminary results derived from
ongoing observational or
experimental research can be
submitted to this section.
Manuscripts should not be longer
than 15 pages.
Special articles. These will be
requested by the Editorial Board
from invited contributors. Special
articles cover current topics or
topics of permanent interest,
REVISTA HCPAwww.hcpa.ufrgs.br/revista
A quarterly journal published by Hospital de Clínicas de Porto Alegre since 1981.
Guidelines for Manuscript Submission
Revista HCPA publishes works in the biomedical area. Manuscripts submitted for evaluation by the
Editorial Board are accepted in Portuguese, English, or Spanish. All manuscripts will be evaluated
by the Editorial Board, based on reviews by two referees.
Information regarding submission and copies of the Guidelines for Manuscript Submission can be obtained from
Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rua Ramiro Barcelos 2350,
CEP 90035-003, Porto Alegre, RS, Brazil, or from the Internet (www.hcpa.ufrgs.br/revista).
including health policies, teaching,
research, extra-curricular activities,
and professional issues; also,
clinical papers that express the
experience of a group of
professionals or the personal
opinion of recognized
professionals; and state-of-the-art
reports on various fields. Special
articles are not to exceed 25
pages.
Case studies. These describe new
or unusual findings, or new insights
regarding specific problems. Case
studies must be succinct and are
limited to a description of the facts
observed. These contributions
should not be longer than three
pages, with a maximum of two
illustrations and 15 references.
Case studies are not a review of
literature.
Grand Rounds. This section will
bring a selection of relevant topics
previously presented in Grand
Rounds at Hospital de Clínicas de
Porto Alegre.
Letters to the Editor. Letters
regarding previously published
papers or topics of interest. Not to
exceed two pages.
Preparation of Manuscripts
Manuscripts submitted to Revista
HCPA should follow the Vancouver
style (see Can Med Assoc J
1997;156(2):270-7). The
Vancouver Group uniform
requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals
can also be obtained at the
Graduate and Research Group
(GPPG) at Hospital de Clínicas de
Porto Alegre. Relevant details
regarding this style are described
in this guidelines.
Submission
Authors will send four copies of the
manuscript along with a covering
letter addressed to the Editor and a
completed checklist. A copy of the
checklist can be found after these
instructions. Experimental papers
will only be considered if authors
include a copy of the written
approval by the Ethics Committee
of the institution in which the study
was carried out. Manuscripts
should be typed double-spaced,
with 1 in (2.5 cm) margins, on A4
(21 x 29.7 cm) paper. All pages
Revista HCPA 1999;19 (1)270
must be numbered, beginning with
the face page. If possible, authors
should use Arial size 11 font.
Articles can be submitted in
Portuguese, English, or Spanish.
Diskettes will only be requested
from authors whose articles are
accepted for publication.
Collaborations should be mailed to:
Revista HCPA
Grupo de Pesquisa e Pós-
Graduação
Hospital de Clínicas de Porto
Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350
Largo Eduardo Zaccaro Faraco
CEP 90035-003 Porto Alegre, RS,
Brazil
All articles will be reviewed by two
referees. Articles sent back to the
authors for additions will be re-
evaluated by the Editorial Board
prior to acceptance. After
acceptance, the Editorial Board will
request an electronic copy of the
article. This should be sent in a 3½
inch diskette. Text should be typed
in Word for Windows, minimally
formatted, aligned at left, without
word separation. Diskettes should
be labeled with date, name and
telephone number of the
corresponding author and
abbreviated title.
Copyright
The copyright of articles published
in Revista HCPA will be held by the
journal. A copy of the checklist,
signed by all authors, must be
attached to all submissions.
Authors can use the same results
in collaborations submitted to other
publications, provided that a
footnote on the title page of the
secondary version acknowledges
that the paper has been published
in whole or in part and states the
primary reference.
Face page
Manuscripts submitted to Revista
HCPA must include a face page
with the following information:
TITLE;
FULL name of all authors with
credentials and institution of
affiliation;
Up to FIVE key words in english
and portuguese; the medical
subject headings (MeSH) list of
Index Medicus should be used. If
suitable MeSH headings are not
yet available for recently introduced
terms, present terms may be used.
Complete ADDRESS, telephone
number, and email (if available) of
the corresponding author.
Abstract
Original articles and
communications must include a
structured abstract, i.e., the
abstract should describe
objectives, methods, results, and
conclusions, thus enabling readers
to determine the relevance of the
content of the article. Special
articles and other collaborations
must include descriptive abstracts
of up to 200 words.
Abstracts must be submitted in
English and Portuguese.
Body of the article
Original articles and
communications must be
organized according the “IMRAD”
format: Introduction, Materials and
Methods, Results, and Discussion.
The introduction must state the
objectives of the study being
described and its importance; also,
a review of relevant literature and
the development of the topic must
be presented in the Introduction.
In Materials and Methods, authors
should describe in detail
procedures, statistics, and other
forms of analysis employed, so as
to allow duplication of the
experiment being described by
other authors.
Results must present, without
comments, the data obtained
following the experiments
described in Materials and
Methods.
In the Discussion, authors will
comment on the results and the
relationship with data from the
review of literature. Conclusions
will be described in this section
(unless authors include a separate
Conclusions section). New and
original aspects presented in the
article should be emphasized. Data
presented in previous sections
such as Introduction and Results
should not be repeated
exhaustively in the Discussion.
Acknowledgments
These should be included at the
end of the manuscript if relevant,
e.g., to acknowledge financial
support. Persons who have
contributed intellectually to the
work but whose contributions do
not justify authorship should be
named in this section.
References
References should be included to
identify the source of concepts,
methods, and technical procedures
previously described and
published; to base facts and
opinions; and to guide readers
Revista HCPA 1999;19 (1) 271
interested in learning more about
specific points mentioned in the
article.
References should be numbered
consecutively in the order in which
they are first mentioned in the text.
Inside the text, references will
appear in parentheses: “As several
authors (1, 4, 7) have noted....”
References which appear for the
first time in tables or figures must
be numbered in accordance with
the sequence established by the
first identification in the text of the
particular table or figure. Examples
of different types of references are
shown below:
Articles in journal
Standard journal article
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart
transplantation is associated with
an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann
Intern Med 1996;124:980-3.
If the article has more than six
authors, the first six names should
be cited followed by “et al.”:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et
al. Childhood leukaemia in Europe
after Chernobyl: 5 year follow-up.
Br J Cancer 1996;73:1006-12.
Organization as author:
The Cardiac Society of Australia
and New Zealand. Clinical exercise
stress testing. Safety and
performance guidelines. Med J
Aust 1996;164:282-4.
No author given
Cancer in South Africa [editorial]. S
Afr Med J 1994;84:15.
Volume with supplement
Shen HM, Zhang QF. Risk
assessment of nickel
carcinogenicity and occupational
lung cancer. Environ Health
Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.
Issue with supplement
Payne DK, Sullivan MD, Massie
MJ. Women’s psychological
reactions to breast cancer. Semin
Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.
Letters and other special articles
Enzensberger W, Fischer PA.
Metronome in Parkinson’s disease
[letter]. Lancet 1996;347:1337.
Books and other monographs
Personal author(s)
Ringsven MK, Bond D.
Gerontology and leadership skills
for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
Editor(s), compiler(s) as
author(s)
Norman IJ, Redfern SJ, editors.
Mental health care for elderly
people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
Chapter in a book
Phillips SJ, Whisnant JP.
Hypertension and stroke. In:
Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology,
diagnosis and management. 2nd
ed. New York: Raven Press; 1995.
p. 465-78.
Conference proceedings
Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent advances in clinical
neurophysiology. Proceedings of
the 10th International Congress of
EMG and Clinical Neurophysiology;
1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
Conference paper
Bengtsson S, Solheim BG.
Enforcement of data protection,
privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the
7th World Congress on Medical
Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Dissertation
Kaplan SJ. Post-hospital home
health care: the elderly’s access
and utilization [dissertation]. St
Louis (MO): Washington Univ;
1995.
Other published materials
Newspaper article
Lee G. Hospitalizations tied to
ozone pollution: study estimates
50,000 admissions annually. The
Washington Post 1996 Jun 21;
Sect. A:3 (col 5).
Audiovisual material
HIV+/AIDS: the facts and the future
[videocassette]. St Louis (MO):
Mosby-Year Book; 1995.
Forthcoming publications
Leshner AI. Molecular mechanisms
of cocaine addiction. N Engl J Med.
In press 1996.
Electronic material
Journal article in electronic
format
Morse SS. Factors in the
Revista HCPA 1999;19 (1)272
emergence of infectious diseases.
Emerg Infect Dis [serial online]
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];
1(1):[24 screens]. Available from:
URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm
Monograph in electronic format
CDI, clinical dermatology illustrated
[monograph on CD-ROM]. Reeves
JRT, Maibach H. CMEA Multimedia
Group, producers. 2nd ed. Version
2.0. San Diego: CMEA; 1995.
Tables
Tables should be typed on
separate pages and numbered
consecutively using Arabic
numerals (table 1, table 2, etc.). All
tables must be mentioned in the
text. Abbreviations should be
explained in footnotes at the end of
the table. For footnotes, use
superscript letters.
Figures
Should be submitted with their
legends on separate pages.
Figures should be professionally
drawn or printed on a laser printer.
All figures must be cited in the text
and numbered consecutively using
Arabic numerals (figure 1, figure 2,
etc.).
Abbreviations
Abbreviations should be avoided.
However, if used, they should be
introduced in parentheses
immediately after the term they
stand for, when it appears in the
text for the first time. The title and
the abstract should not contain
abbreviations. In tables and
figures, all abbreviations should be
defined in footnotes or in the
legend.
Human and animal experiments
Authors should follow the
Declaration of Helsinki and the
Guiding Principles in the Care and
Use of Animals (DHEW
Publication, NIH, 80-23). The
editors have the right not to accept
papers if the principles described in
these documents are not
respected.
Compilation of these guidelines
was based on: International
Committee of Medical Journal
Editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to
biomedical journals. Can Med
Assoc J 1997;156(2):270-7.
Revista HCPA 1999;19 (1) 273
REVISTA HCPA
CHECKLIST
Please read the guidelines for manuscript submission before completing this list. Attach the completed list
to the original manuscript and to the revised version.
Corresponding author:
Date:
Telephone:
Fax/email:
FACE PAGE
q Title of the article;
q Full names of all authors,
with credentials and institutional
affiliation
q Full address, telephone
and email of corresponding
author.
BODY OF THE ARTICLE
q Abstract and key-words in
English and Portuguese;
q Tables are numbered with
Arabic numerals. All
abbreviations have been
explained in notes at the end on
the table and indicated with
superscript letters.
q Figures are numbered with
Arabic numerals.
q The text is organized
according to the IMRAD style.
q There are no abbreviations
in the title or summary.
q In the text, terms to be
abbreviated are written out the
first time they appear, followed by
abbreviation in parentheses. The
same abbreviations are used
consistently throughout the
article, and in the tables and
figures.
q Patients are identified by
numbers, not by initials.
REFERENCES
q The reference list starts on
a separate page. All citations are
indicated in the text with Arabic
numerals, in order of appearance.
q References were checked
and carefully formatted. Titles of
journals were abbreviated
according to the Index Medicus.
q The names of all authors
were listed in each reference.
When there are more than six
authors, the six first names have
been listed, followed by et al.
GENERAL FORMAT
q The manuscript is typed
double-spaced on A4 (21 x 29.7
cm) pages with 2.5 cm margins.
q Four copies of the text,
tables and figures are being sent
to Revista HCPA.
q This list was completed
and signed by all authors, and will
be included with the copies of the
manuscript and a covering letter
addressed to the Editor.
Revista HCPA 1999;19 (1)274
COPYRIGHT
When signing this form authors will be transferring copyrights to Revista HCPA. Authors are allowed toresubmit or submit a condensed version of this same article to other publications, provided that a footnote
on the title page of the secondary version acknowledges that the paper has been published previously and
states the primary reference. Below, please write the names of all authors. Each author must sign and datethis form.
Revista HCPA 1999;19 (2) 275
DATA
17 a 20/0424 a 28/04 02 a 05/05
27 e 28/0427 e 28/04
08 a 10/05
15 e 16/05
17 a 19/0522 a 24 29 a 31/05
25 a 27/05
01 a 03/0608 e 09/0610/0615 e 16/0619 a 23/0623e 24/0606 e 07/0707 e 08/0730/06 e 01/07
14 e 15/07
22/0728 e 29/07
28 e 29/07
EVENTO
II Jornada de Pediatria AmbulatorialIII Curso de Revisão e Atualização emSemiologiaIV Tutorial de Mastologia4º Encontro de Educação em DiabetesMellitusSimpósio Internacional sobre TerapiaGênicaV Jornada de Enfermagem Materna eInfantilSemana de Enfermagem do HCPAI Curso de Diagnóstico por Imagens na Salade Emergência3ª Jornada Gaúcha de Sexualidade Humana3º Seminário Sulbrasileiro de EducaçãoSexualII Jornada Gaúcha de Psicologia Hospitalar1ª Jornada do NEATMO4º Encontro Gaúcho de HistotecnologiaVIII GastrosulCurso de Atualização em Nutrição ClínicaCurso: Tendências em EsterilizaçãoEncontro de Geneticistas do RSCurso de FacoemulsificaçãoII Encontro dos Ex-Residentes do Serviçode Anestesiologia e Anestesia do HCPAJornada de Controle de Infecção Hospitalardo HCPAXVII Jornada de Dermatologia do HCPAIX Encontro de Enfermagem em CentroCirúrgico do HCPAVI Jornada do Centro de Estudos dasNeurociências
EVENTOS 2000
Revista HCPA 1999;19 (2)276
03 a 05/08 ou 10 a 12/08
11/08
17 e 18/0824 a 26/0811 a 15/0921 e 22/09
22 e 23/09
02 e 03/10
04 e 05/1018 e 19/1020 e21/1016 e 17/1123 e 24/1101/12
3º Encontro de Docentes de Escola de NívelMédio em Enfermagem do HCPADiscussão de Casos em Córnea, DoençasExternas e Segmento AnteriorXIII Jornada de Nutrição do HCPA4ª Jornada de Recreação20ª Semana Científica do HCPAIV Jornada do Serviço de EnfermagemMédicaIII Simpósio sobre Aspectos Atuais dasDoenças da TireóideIII Jornada do Serviço de Enfermagem emSaúde PúblicaSemana Mundial da AmamentaçãoII Jornada do Serviço Social do HCPAVI Curso de Atualização em MastologiaSimpósio de Oncologia Genital FemininaIV Jornadas Pneumológicas Mario RigattoSimpósio Oftalmologia (FormaturaResidentes)
DATA EVENTO
EVENTOS 2000