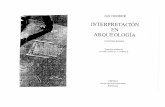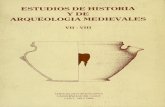Revista Arqueologia Pública 8, 2013
Transcript of Revista Arqueologia Pública 8, 2013
número 8 | 2013
EDITORES Aline Carvalho (LAP/NEPAM/UNICAMP) Pedro Paulo A. Funari (LAP/NEPAM/UNICAMP) COMISSÃO EDITORIAL Ana Piñon (Universidad Complutense de Madrid, Espanha) Andrés Zarankin (UFMG) Charles Orser (Illinois State University, EUA) Erika Robrahn-González (Documento Patrimônio Cultural, Arqueologia e Antropologia Ltda) Gilson Rambelli (LAAA / NAR / UFS) Lourdes Dominguez (Oficina del Historiador, Havana, Cuba) Lúcio Menezes Ferreira (UFPel) Nanci Vieira Oliveira (UERJ) CONSELHO EDITORIAL Bernd Fahmel Bayer (Universidad Nacional Autónoma de México, México) Gilson Martins (UFMS) José Luiz de Morais (MAE/USP) Laurent Olivier (Université de Paris, França) Martin Hall (Cape Town University, South Africa) Sian Jones (University of Manchester, Inglaterra) COMISSÃO TÉCNICA Derivaldo Reis de Sousa Franciely da Luz Oliveira Marcos Rogério Pereira ESTÁGIO – REVISÃO TEXTUAL Camila Secolin PROJETO GRÁFICO João Batista Ruela Luiza de Carvalho DIAGRAMAÇÃO João Batista Ruela ISSN 2237-8294
4 EDITORIAL Aline Carvalho
ARTIGOS
7 OS SENTIDOS DA CULTURA MATERIAL NO COTIDIANO E NA MEMÓRIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CINCO CHAGAS DO MATAPI Clarisse Callegari Jacques
22 ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO NA ATMOSFERA DE QUILOMBOS ARQUEOLÓGICOS Cláudio Baptista Carle
41 O PAPEL DA ARQUEOLOGIA NOS CONFLITOS DECORRENTES DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NO SAMBAQUI DA PANAQUATIRA – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA Arkley Marques Bandeira
61 “TRÁFICO” DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO, TURISMO E COMUNIDADES RIBEIRINHAS: EXPERIÊNCIAS DE UMA ARQUEOLOGIA PARTICIPATIVA EM PARINTINS, AMAZONAS Helena Pinto Lima, Bruno Marcos Moraes e Maria Tereza Vieira Parente
78 OFICINA LÍTICA DE POLIMENTO NO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nanci Vieira de Oliveira
87 ESTUDIO DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN PUNTA PEREIRA (COLONIA-URUGUAY): METODOLOGÍA APLICADA Y PRINCIPALES RESULTADOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PREHISTORIA REGIONAL. Irina Capdepont, Laura del Puerto e Hugo Inda
106 A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR: O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NAS ORGANIZAÇÕES FORMAIS DO BRASIL Alejandra Saladino, Carlos Alberto Santos Costa e Elizabete de Castro Mendonça
119 A ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Helder Bruno Palheta Ângelo
SUMÁRIO
135 PIXAÇÕES SOB A ÓTICA DA ARQUEOLOGIA URBANA
Rafael de Abreu Souza
ENTREVISTA
157 GABINO LA ROSA CORZO (Arqueólogo e Cientista Histórico - Universidad de La
Habana) Carola Sepúlveda
RESENHA
162 HENDERSON, Hope; BERNAL, Sebastián Fajardo (comp.). Reproducción social y creación de desigualdades – discusiones desde la antropologia y la arqueologia suramericanas. 1ª Ed. Cordoba: Encuentro Grupo Editor, 2012. 232 p. Bruno Sanches Ranzani da Silva
SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
ARTIGO 174 GEOGRAFIA E ARQUEOLOGIA: UMA VISÃO DO CONCEITO
DE RUGOSIDADES DE MILTON SANTOS Anderson Sabino e Robson Simões
RESENHA
189 ANTÚNEZ, Carlos Arredondo; HERNÁNDEZ, Odlanyer de Lara; RODRÍGUEZ, Bóris Tápanes. Esclavos y cimarrones en Cuba: arqueologia histórica en la Cueva El Grillete. Buenos Aires: Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González – Centro de Investigaciones Precolombinas, 2012. 180p.
Vitor Gomes Monteiro
Dezembro de 2013
Caros Colegas,
É com imensa satisfação que apresentamos o oitavo número da Revista de
Arqueologia Pública. Como sempre, esperamos que vocês encontrem no espaço desta Revista
uma plataforma para a elaboração de discussões e reflexões acerca de temas vinculados ao
grande e aberto campo da Arqueologia Pública. Neste número, em especial, reunimos uma
sequência de artigos que transitam por diferentes recortes temporais e espaciais, mas, em
comum, trabalham com leituras sobre a cultura material, e produções de memórias a partir
destas materialidades.É claro que as posições dos autores aqui reunidos são bastante variadas
e não representam, de forma alguma, posturas consonantes sobre as temáticas mencionadas.
Acreditamos, todavia, que possibilitar as divergências, discordâncias, acordos e negociações
– representadas nesses artigos – é um dos pilares de nossa publicação.
Assim, na seção de artigos, os leitores encontrarão produções textuais que se
debruçam sobre temáticas vinculadas às memórias quilombolas, ribeirinhas e suas relação
com a cultura material; reflexões acerca dos diálogos entre memórias, cultura material e
instituições patrimoniais ou museológicas no Brasil; debates acerca da caracterização e
estudos de impacto em sítios pré-coloniais tanto no Brasil como no Uruguai; reflexões acerca
de atividades turísticas e outras formas de ocupação/uso de sítios arqueológicos e, por fim,
algumas leituras acerca da arqueologia urbana no Brasil. Neste número, também publicamos
um artigo produzido por alunos de graduação que lançou-se ao desafio de pensar possíveis
entrelaçamentos entre a arqueologia e a geografia, partindo de conceitos elaborados por
Milton Santos.
Ainda neste contexto de pluralidades, disponibilizamos uma entrevista realizada pela
doutoranda da Faculdade de Educação (FE-UNICAMP) Carola Sepúlveda – especialistas nas
memórias da poetiza chilena Gabriela Mistral – com o arqueólogo cubano Gabino La Rosa
Corzo. De forma bastante delicada, La Rosa Corzo expõe suas memórias acerca de sua
própria formação e traça reflexões sobre o campo da arqueologia tanto em Cuba como no
Brasil. Escolhemos publicar o texto em espanhol; língua na qual entrevistado e entrevistadora
se sentem absolutamente em “casa”.
EDITORIAL
No campo das resenhas, publicamos o texto produzido por Bruno Sanches Ranzani
da Silva acerca da obra organizada pelos pesquisadores Hope Henderson e Sebastián Fajardo
Bernal. O livro resenhado – Reproducción social y creación de desigualdades – discusiones
desde la antropologia y la arqueologia suramericanas (Ed. Cordoba: Encuentro Grupo
Editor, 2012) –traz as reflexões de uma série de autores atuantes no continente americano
sobre os diálogos entre arqueologia e antropologia, e, em especial, sobre temas como agência,
estrutura, poder, produção, reprodução, colonialismo e desigualdade.
Para finalizar esse editorial, gostaríamos de agradecer à todos aqueles que contribuem
quase que cotidianamente para a produção semestral da Revista de Arqueologia Pública:
alunos e pesquisadores vinculados ao Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte
(Lap/Nepam/Unicamp), equipe de informática da Coordenadoria de Centros e Núcleos da
Unicamp (Cocen), pareceristas anônimos de diferentes instituições de pesquisa nacionais e
internacionais, e, claro, aos autores que submetem seus textos a esta Revista. Desejamos uma
excelente leitura e ressaltamos que estamos sempre abertos ao diálogo!
Aline Carvalho
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
7
OS SENTIDOS DA CULTURA MATERIAL NO COTIDIANO E NA MEMÓRIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CINCO CHAGAS DO MATAPI
The meanings of material culture in daily activities and memory in the Comunidade
Quilombola de Cinco Chagas do Matapi families
Clarisse Callegari Jacques1 RESUMO Neste artigo, busco discutir a temática da relação da cultura material com a memória e a oralidade a partir de vivências e experiências que tive até agora na comunidade quilombola do Estado do Amapá, chamada Cinco Chagas do Matapi. Destaco o papel da cultura material como mediadora de relações de alteridade, e a participação e o diálogo como aspectos metodológicos importantes da etnografia que contribuem para a prática de uma arqueologia mais reflexiva. Através de vestígios arqueológicos e de atividades atuais da comunidade, é possível estudar os diferentes sentidos da cultura material, entendida como ativa, e capaz de evocar lembranças e imagens de um passado não distante. É com a oralidade que os sentidos da memória, da paisagem e da cultura material se misturam e constituem a história e a identidade da comunidade de Cinco Chagas do Matapi. Palavras-chave: cultura material, memória, quilombolas. ABSTRACT In this article I intend to discuss the theme of the relation between material culture, memory and oral speech through daily experiences I´ve had until now in an african-descendent community in Amapá State (Brasil), called “Cinco Chagas do Matapi”. Material culture plays an important role as a mediator in alterity relations, and participation and dialogue are important ethnographic methodologies that contribute to a more reflexive practice of archaeology. From archaeological remains and recent community activities it is possible to study material culture´s different meanings, as active and capable of evoquing memories and images of a not distant past. It is through oral speech that the senses of memory, landscape and material culture intermixes and constitutes the history of ´Cinco Chagas do Matapi´ community. Key-words: material culture, memory, African-descendants. RESUMEN Este trabajo trata de analizar el tema de la relación de la cultura material de la memoria y la oralidad de las experiencias y vivencias que he tenido hasta ahora en la comunidad de marrón en el estado de Amapá, llamado las Cinco Llagas Matapi. Destacar el papel de la cultura material como mediadora de las relaciones de alteridad, y la participación y el diálogo como los aspectos metodológicos importantes de etnografía que contribuyen a la práctica de la arqueología más reflexiva. A través de actividades arqueológicas y actuales de la comunidad, es posible estudiar los distintos significados de la cultura material, entendida como activa y
1 Doutoranda PPGA/UFPA/CAPES. E-mail: [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
8
capaz de evocar recuerdos e imágenes de un pasado no muy lejos. Es con ese sentido de la memoria oral, el paisaje y la cultura material se mezclan y forman la historia y la identidad de la comunidad de las Cinco Llagas Matapi. Palabras Clave: cultura material, memoria, cimarrones
Introdução
A Arqueologia tem se deparado com situações cada vez mais desafiadoras durante
seu trabalho de campo. Nos contextos onde os vestígios materiais estão localizados em áreas
ocupadas atualmente por comunidades, pequenas vilas e fazendas, dizem respeito não só à
vida das pessoas que os produziram e utilizaram no passado, mas possuem significados para
diferentes pessoas que entram em contato hoje com esses vestígios.
No caso da pesquisa que venho desenvolvendo 2 na Comunidade Quilombola de
Cinco Chagas do Matapi, Estado do Amapá, foi encontrada pelos membros desta comunidade
uma botija de cerâmica enterrada no meio de uma plantação de mandioca. O interesse da
comunidade em querer saber mais sobre esta vasilha me instigou a desenvolver uma pesquisa
que levasse em conta a relação destas pessoas com os vestígios arqueológicos neste local.
Assim, até agora foram realizadas várias visitas à comunidade de Cinco Chagas, sendo que
durante uma delas foi escavada esta vasilha a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) através de um projeto de resgate emergencial3.
Neste artigo, busco discutir a temática da relação da cultura material com a memória
e a oralidade4. Neste sentido, parto de vivências que tive até agora na comunidade e destaco
que a cultura material teve um papel importante como mediadora de relações de alteridade.
Em um primeiro momento discuto uma abordagem teórica acerca dos estudos sobre cultura
material, e busco apresentar os vestígios materiais como cultura material ativa, ligada às
pessoas e às suas experiências de vida. Em seguida, exploro o potencial da materialidade dos
vestígios arqueológicos enquanto evocadores de memórias e histórias a partir de encontros
com os moradores de Cinco Chagas. Em um último momento, reflito sobre o papel central da
2 Atualmente, venho desenvolvendo pesquisa de doutorado no Programa de Pós Graduação em Antropologia na Universidade Federal do Pará (PPGA/UFPA/CAPES). 3 Uma vez identificada a boca desta vasilha na roça de mandioca, o IPHAN, em visita a comunidade, solicitou a realização de um projeto de resgate arqueológico para evitar que este vestígio seguisse sofrendo com as ações do tempo. Assim, foi desenvolvido pelo IPHAN um projeto de resgate pontual desta vasilha no qual atuei como coordenadora responsável tendo em vista meu interesse de realizar pesquisas na área. Os resultados desta atividade foram apresentados em forma de relatório a este órgão (JACQUES, 2011). 4 As ideias principais deste artigo foram desenvolvidas no trabalho final da disciplina ´Cultura Material´ ministrada pela Profa. Dra. Marcia Bezerra no PPGA/UFPA e apresentadas no I Congresso Pan-Amazônico e VII Encontro da Região Norte de História Oral realizado em Belém em 2011.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
9
oralidade na pesquisa, que está me direcionando a lembranças, conhecimentos e fazeres
próprios das famílias que vivem nesta comunidade e que, por sua vez, dizem respeito a sua
história e ao seu patrimônio. A história da comunidade, presente na memória e contada
através da oralidade, se manifesta através da cultura material.
Os vestígios materiais e as experiências de vida das pessoas da Comunidade de Cinco Chagas
A Comunidade Quilombola de Cinco Chagas do Matapi pertence ao município de
Santana, Amapá, e está localizada nas margens do Rio Matapi a 19 quilômetros da cidade de
Macapá. Atualmente, a principal atividade das famílias que moram ali é a produção da farinha
e sua venda na feira da cidade de Santana, para onde se deslocam periodicamente de barco. A
atividade de revolver a terra para plantar e colher a mandioca tem feito com que as pessoas
entrem em contato com fragmentos de vasilhas de cerâmica e alguns eventuais instrumentos
de pedra polida diariamente. Foi a descoberta de uma botija inteira que chamou atenção,
fazendo com que as pessoas entrassem em contato com a Prefeitura de Santana e o IPHAN
para preservar esta vasilha e conhecer mais sobre a sua história.
O fato de as pessoas terem interesse neste artefato (na minha visão de arqueóloga)
me fez visitar a região com o técnico do IPHAN em outubro de 2009 e começar a pensar em
um projeto de arqueologia. Enquanto arqueóloga entendi, naquele momento, aquele lugar
como um sítio arqueológico com vestígios materiais de vasilhas cerâmicas indígenas ocupado
atualmente por uma comunidade quilombola que está interessada em conhecer mais sobre
estes artefatos. Os membros de Cinco Chagas, por sua vez, entendem a botija enterrada como
parte da sua história, como uma descoberta que deve ser preservada para que pessoas de
outros lugares possam visitar. Ainda, segundo o relato de alguns moradores, outras
comunidades do Rio Matapi possuem escolas, postos de saúde e igreja, mas não apresentam
uma situação como aquela, de aparecimento de uma botija enterrada no solo. É interessante
pensarmos nesta informação contextualizando o momento em que esta comunidade se
encontra, tendo optado pelo pedido de reconhecimento da Comunidade de Cinco Chagas
como comunidade remanescente de quilombo frente ao Estado.
As comunidades tradicionais, incluindo-se nestas as comunidades quilombolas,
enquanto grupos familiares com percepções do mundo próprias, uso comum de recursos e
apropriação privada de bens de forma consensual (ALMEIDA, 2004), possuem também um
entendimento próprio sobre o seu patrimônio, onde o passado e o presente estão relacionados.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
10
Neste sentido, o tradicional não se refere somente ao contexto histórico do grupo, mas aos
saberes e fazeres atuais. As comunidades possuem especificidades próprias, a ver com a sua
história, seu autorreconhecimento e as suas atividades quotidianas. Assim, no caso de Cinco
Chagas, além da vasilha enterrada estar associada à história e à identidade das famílias, é um
elemento importante enquanto especificidade ou diferencial de legitimidade desta comunidade.
Estas são duas visões, uma visão minha e a outra um entendimento que tive em um
primeiro momento sobre uma mesma situação, na primeira saída de campo. Com o tempo,
tive a oportunidade de visitá-los outras vezes e me convenci que existem ainda muitas outras
versões, visões e entendimentos desta história, deste lugar e desta botija enterrada. Além disso,
ainda com um olhar de arqueóloga, percebi que alguns dos fragmentos identificados nas roças
visitadas dizem respeito a cacos de vasilhas de grupos quilombola e não só de indígenas,
conforme algumas pessoas da comunidade já haviam me chamado a atenção. A riqueza da
relação da cultura material com as pessoas, as sensações, interpretações, desejos, esperanças,
memórias, fascínio que permeia este contato faz com que, neste projeto, a cultura material
seja estudada como agente, como ativa e não somente um produto de uma atividade humana.
Neste sentido, Miller (1987) destaca que frequentemente os artefatos são associados
à sua função, o que muitas vezes determina o nome pelo qual são chamados. Pensar somente
nesta perspectiva é limitar o entendimento da cultura material; o autor propõe que o crucial é
a relação social do objeto com as pessoas. Pensando esta proposta não só para artefatos, mas
para coisas em geral, pois nós nos cercamos delas (CSIKSENTMIHALYI, 1993:25), é
estudar a forma como as pessoas entendem e se relacionam com o mundo à sua volta
(THOMAS, 1996).
Para Tilley (2008), a cultura material pensada em relação à sua materialidade traz a
tona uma questão ambígua. Por um lado a matéria é propriedade interessante da cultura
material, pois pode proporcionar sensações relacionadas às características como textura, cor e
cheiro, que as palavras não conseguem expressar. Por outro lado, a cultura material representa
relações sociais e simbolismos que fazem parte do mundo das ideias, e não do material. Sendo
assim, o autor propõe o uso do termo objetificação como um conceito que possibilita uma
forma de entendimento das relações entre sujeitos e objetos que não são vistos como
diferentes; ou seja, as ideias, valores e relações sociais são criadas junto com o processo que
faz com que as coisas passem a existir.
A objetificação, assim, é um processo que aproxima as pessoas e as coisas, sendo
estabelecidos vínculos como os de identidade e memória, que fazem do objeto também um
agente. Neste sentido, de entender os objetos enquanto ativos, Gell (1992) ressalta que os
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
11
efeitos que os objetos de arte provocam nas pessoas são o seu poder, uma mágica que liga o
mundo material ao campo das ideias (e sentimentos). Pode-se pensar também em uma
comunicação (GLASSIE, 1999), que está presente tanto na criação como no consumo de um
artefato.
Falar de objetos que ‘encantam’, termo usado por GELL (1992: 222), é tocar também
no que fascina um arqueólogo. Todavia, prender-se somente em um mundo material, já
admirado e analisado pelo pesquisador, é limitar a pesquisa ao sentido da visualidade e ao
mundo das coisas. Esta discussão coloca em cena o conceito de ‘cultura material’, que não é
entendido neste trabalho somente como coisas palpáveis, mas também é visto no sentido do
próprio conceito de objetificação colocado por Tilley (2008), e pode estar representado por
uma paisagem ou uma imagem trazida pela memória de um lugar. É desta forma que
proponho pensar a cultura material relacionada à Comunidade Quilombola de Cinco Chagas
do Matapi.
Como foi relatado acima, o primeiro objeto que caracterizou este local como sítio
arqueológico foi a vasilha inteira, também chamada de “igaçaba” ou “botija”. Associadas à
esta vasilha estão histórias que remetem ao imaginário e ao passado da comunidade. Vários
moradores relataram suas diferentes experiências com esta vasilha. Contaram, por exemplo,
da surpresa dela ter sido encontrada em um determinado ponto, e de ter permanecido neste
mesmo local. Os relatos sobre como ela foi descoberta sempre são associados a uma história
passada de geração para geração, que fala de vasilhas com ouro no seu interior e que
aparecem nos sonhos das pessoas em lugares diferentes, desaparecendo em certas
circunstâncias para reaparecer em outros locais.
Do ponto de vista arqueológico, após uma escavação emergencial feita a pedido do
IPHAN do Amapá (JACQUES, 2011), constatamos que havia outras duas vasilhas de
dimensões menores depositadas junto a esta botija maior, encontrada pela comunidade. O
contexto estratigráfico interpretado a partir da escavação indicou a abertura de uma fossa para
a deposição destes artefatos. Com a informação de que havia um pequeno pratinho com um
pó branco dentro da vasilha maior, e com a descoberta de outros pratos dentro das duas outras
vasilhas associadas à principal, interpretei esta deposição como fazendo parte de um contexto
funerário associado a uma ocupação indígena 5 . Estes relatos dos moradores locais e as
informações da arqueologia contam a história de vida desta vasilha.
5 As características de decoração plástica presentes na superfície das vasilhas cerâmicas escavadas indicam uma semelhança com as características da cerâmica da Fase Mazagão, estudada por Meggers e Evans (1957) e associadas a uma ocupação indígena.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
12
Ao conviver em Cinco Chagas neste período, percebi que ao longo de toda a área
onde estão as casas, foram encontrados fragmentos de vasilhas cerâmicas que, uma vez vistos
pelas crianças sob a ótica da arqueologia, passaram a encontrá-los ainda mais e a relatar onde
se localizavam. O olhar destas crianças, não tão “treinado” (ou poderia dizer “direcionado” ao
que eu já conhecia em publicações sobre o tema) quanto o meu, me fez perceber outros
fragmentos com características um pouco diferentes das que eu estava acostumada, e que me
remeteram às decorações e formatos das “louças” de cerâmica feitas atualmente pela
Comunidade Quilombola do Maruanum e expostas para venda na Casa do Artesão em
Macapá.
Tive a oportunidade de visitar esta outra comunidade, localizada no Rio Maruanum
(braço do Rio Matapi) em outro momento, o que me remeteu novamente a um olhar científico
arqueológico (com o natural encanto pelos artefatos) preocupado em diferenciar as
características dos fragmentos associados a grupos indígenas pretéritos comparando-os com
os já vistos em coleções e publicações de arqueologia, das características da “louça”
quilombola6. As pessoas de Cinco Chagas com quem conversei sobre o assunto, contam de
uma época em que eram compradas vasilhas no Maruanum para guardar água e torrar café, e
quando questionei sobre o que achavam dessas diferenças de coloração e decoração nos
fragmentos, algumas opinaram que certas vasilhas eram muito antigas, feitas por índios.
Adentrar uma discussão sobre a associação destes fragmentos a uma identidade
quilombola ou indígena não é o objetivo neste momento, visto que é uma questão delicada e
nada simples. O interessante, para esta pesquisa, é perceber como está sendo a relação das
pessoas com estes fragmentos e levar em consideração também que a visão da comunidade (e
a minha também) tem mudado conforme nos encontramos e ainda poderá mudar. Até agora
foi possível constatar que a vasilha inteira é muito importante para essas pessoas, mas não
pode ser entendida como o único patrimônio material. Como eles mesmos chamaram a
atenção desde o início, a produção de farinha é uma atividade que envolve saberes, técnicas e
instrumentos de trabalho também ricos em memória e identidade.
Dentro da abordagem aqui proposta para entender os vestígios arqueológicos
presentes nesta comunidade e a forma como as pessoas se relacionam com eles, a memória
tem um papel importante. É ela que, muitas vezes, reporta as pessoas ao passado, traz à tona
imagens e lembranças, confortos e saudades de momentos que são recriados e reinterpretados
através da narrativa oral.
6 Trabalho nada fácil ao qual este projeto não está dedicado.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
13
Memórias e histórias na Casa de Farinha
Dentre muitos objetos e objetificações relacionadas à vida diária das famílias de
Cinco Chagas, e pensados enquanto cultura material ativa, gostaria de destacar os
relacionados à atividade de produção de farinha, que dizem respeito desde os cacos de
cerâmica e pés de mandioca até os raspadores de mandioca, forno, farinha e outros objetos
utilitários e da memória. Cada núcleo familiar planta a mandioca nas suas terras, sendo que
pode haver pessoas que vêm de fora e passam um período trabalhando a partir de um acordo
com o proprietário. As áreas plantadas estão tanto junto das casas, que por sua vez se
localizam ao longo da margem do rio Matapi, como também podem estar mais afastadas.
Enquanto em uma parte do terreno são plantadas as mudas, em outra é revolvida a terra e em
uma terceira é feita a colheita de mandioca, de forma que essa seja produzida ao longo de
todo o ano. A partir da lida e da intimidade com a terra através da plantação, um dos
moradores mais antigos da comunidade me indicou as fronteiras das roças onde param de
aparecer fragmentos de cerâmica e de terra mais escura, indicativos para o arqueólogo de
locais antigamente ocupados.
Todas as famílias usam a Casa de Farinha, inclusive ao mesmo tempo, em um
processo contínuo que envolve descascar, deixar de molho, ralar, tirar o tucupi e a goma7,
espremer a massa, torrar a massa e, ao mesmo tempo, deixar sentar a goma e ferver o tucupi.
Enquanto uns estão descascando, outros lidam com outra etapa da produção ao ralar e, ao
mesmo tempo, outra família já está no final do processo de torrar e ferver o tucupi.
A dinâmica da casa de farinha envolve a circulação de corpos e coisas, como se fosse
uma dança onde os corpos se movem sem se tocar, as crianças vêm e vão, ajudando em
alguns processos, as mulheres descascando, lavando a mandioca e fervendo o tucupi, e os
homens descascando, torrando, ralando e carregando as sacas de massa da mandioca ralada
em um processo harmonioso. Para espremer a massa da mandioca, a comunidade construiu
uma prensa de madeira que acelera o processo antes feito com o tipiti8. Cada um possui uma
preferência de instrumento usado para descascar, seja uma faca menor, maior ou um raspador
de metal próprio para isso e argumentam sobre qual é o mais prático e eficiente. As sacas com
7 O tucupi e a goma são resultados do processamento da mandioca brava. Depois de descascada e de ficar de molho, a mandioca é ralada e “lavada” com água. Deste líquido sai o tucupi e a goma, o primeiro é fervido e temperado, e a goma é usada para fazer tapioca. 8 Estrutura cilíndrica feita de trançado de fibra de talo da palmeira do buriti para espremer a massa da mandioca, separando o líquido da massa, que será torrada posteriormente.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
14
a farinha pronta são amontoadas em um canto, parecendo todas iguais aos meus olhos, mas
pertencem a produções familiares diferentes.
Pensando um pouco nestas sensações e percepções que envolvem esta atividade de
produção, destaco as ideias de Spence (2007), que propõe a percepção multisensorial para
mostrar como os diferentes sentidos influenciam a percepção do tato. Ao dar-se conta da
substância dos objetos, são usados outros sentidos, ou seja, como propõe o autor, nem tudo
que acontece em contato com a superfície da pele tem a ver com o toque. O descascar a
mandioca implica em consistências de pedaços da mandioca ainda com casca indicadas pelo
olhar, mas retiradas com golpes de intensidades diferentes para deixar a raiz livre de
reentrâncias de ramificações. No processo de lavagem, ao mexer a massa ralada com água é
possível sentir concentrações diferentes e definir a quantidade de tucupi que vai estar presente
em cada produção de farinha; pois isso vai mudar o seu gosto. Na torragem, a cor, o deslizar
da pá no forno, a granulometria na farinha – às vezes peneirada para ficar mais fina – e provar
o ponto certo são percepções essenciais.
Enquanto visitante frequente, converso com as pessoas que me explicam o processo e
me deixam a par das suas vidas e ficam, ao mesmo tempo, a par da minha. Ao transitar na
Casa de Farinha, me deparo com áreas mais quentes, onde é fervido o tucupi e torrada a
mandioca, e passo pela fumaça do forno e o vapor da mandioca sendo torrada para chegar
onde a água lava a massa e o suco escorre para recipientes onde a goma vai sentar. São
cheiros diferentes em cada processo, e o aroma do tucupi fervido com alho e alfavaca
predomina na Casa de Farinha, objetificando todo este processo e todos os saberes nele
envolvidos.
Estas impressões e experiências que tive em campo me levam a pensar no potencial
da cultura material enquanto mediadora da relação entre pesquisador e interlocutor. Através
dela, a participação e o diálogo também acontecem. A participação acontece no sentido de
compartilhamento, no qual o trabalho de campo refere-se a um mundo que compartilhamos
com outras pessoas e com outros olhares e sensibilidades, mas com uma mesma convivência
(LIMA e SARRÓ, 2006:20). O diálogo é uma relação de alteridade que compartilha o mesmo
tempo (FABIAN, 2002) e que implica em uma troca de saberes através da cultura material.
Para Carlos R. Brandão (2007) a pesquisa é uma vivência, uma relação interpessoal e de
subjetividade, e o envolvimento pessoal e o contexto da pesquisa são dados que fazem parte
da prática de campo.
A mandioca, em suas diferentes versões, seguindo o gosto de cada um, retoma
diferentes significados e relaciona a história do lugar com a biografia particular de cada
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
15
pessoa, assim como associa os fragmentos cerâmicos ao cotidiano da comunidade.
Retomando as ideias de Gosden (2005), as coisas de origens e históricos diferentes se juntam
para formar um modo de vida com ocorrência e lógica. Na minha ideia inicial, mandioca e
fragmentos de cerâmica nada tinham em comum; com o tempo, se tornaram parte de uma
mesma história.
No meio da cultura material e das histórias, estão as memórias. Estas memórias
dizem respeito tanto ao indivíduo como ao coletivo, referindo-se, respectivamente, como
ressalta Pollak (1992: 2), aos acontecimentos vividos pessoalmente e os vividos pelo grupo ao
qual a pessoa sente pertencer. A primeira não pode ser dissociada da segunda, pois, como
coloca Bosi (2004:54), ao refletir sobre os estudos de Halbwachs, a memória do indivíduo
está relacionada ao da sua família e com outros contextos nos quais está presente um coletivo
como, por exemplo, a Igreja, o trabalho, a escola, que são os grupos de convívio e de
referência do sujeito.
As diferentes formas de fazer farinha, de perceber a cultura material à sua volta nos
remetem a uma história pessoal cheia de detalhes e experiências do indivíduo. Cada um com
uma história de vida, cada um se inserindo nas histórias e nas práticas do grupo a partir das
suas memórias particulares. Ao mesmo tempo, essas memórias são “herdadas”, como sugere
Pollak (1992: 4), e vêm de um contexto compartilhado com outros sujeitos. A ligação entre o
indivíduo e o coletivo é intensa e frequente, e pude perceber isso, principalmente, nos relatos
sobre os diferentes entendimentos sobre a presença da “igaçaba” ou “botija” enterrada na roça
da comunidade. O local onde ela apareceu é importante, mas o que parece ser crucial é a
pessoa que a encontra, para quem a botija apareceu em sonho. A forma como me contaram
que ela apareceu, como ela foi procurada por esta pessoa e os fenômenos associados ao ponto
onde ela se encontrava como ruídos de passos e luzes fortes à noite, variam.
A memória, neste sentido, é entendida como uma construção (POLLAK, 1992; BOSI,
2004) que tem a ver com a percepção das pessoas sobre as histórias contadas, suas
interpretações e experiências com a cultura material. Ulpiano Menezes (1998), em publicação
intitulada “Memória e Cultura Material: Documentos Pessoais no Espaço Público” refere-se
ao papel da cultura material nos processos de rememoração ainda sendo abordado pelos
pesquisadores de forma tímida o que tende a ser ainda uma prática se tomarmos como
importante a influência dos mesmos nas vidas das pessoas. A história do aparecimento da
botija é um exemplo: mostra que as relações das pessoas com a cultura material são múltiplas
e ricas, suscetíveis a novas interpretações e repassadas através da oralidade.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
16
A Casa de Farinha enquanto cultura material possui suas representações. Seus
materiais construtivos, como o telhado feito manualmente com a sobreposição de galhos com
folhas longas envolvem também saberes específicos. A origem destes materiais de construção
e o destino do produto da Casa de Farinha, bem como a circulação de coisas e pessoas, me
remete à ideia de Gonçalves (2007) de que acompanhar o deslocamento dos materiais é
entender a dinâmica social. Um dos objetivos dessa comunidade é reformar a Casa de Farinha,
considerada “feia” por muitos; precisa ser reformado seu telhado e seu piso, principalmente.
Dentre muitos outros, é patrimônio deste local. Como coloca Gosden (2005), devemos olhar a
genealogia dos objetos e também as práticas que eles encorajam e permitem. Seguindo esta
perspectiva, as pessoas e a cultura material estão entrelaçadas e são entendidas sempre uma
em relação à outra.
Enquanto figura na paisagem, possui destaque como um lugar importante
economicamente falando, um lugar para ser mostrado aos que vêm de fora, um lugar de
reuniões e um lugar de convívio diário. Para Thomas (1996), a existência humana implica em
estar em algum lugar (ideia que o autor desenvolve a partir do pensamento de Heidegger);
este autor discute paisagem, corpo e lugar na arqueologia. A percepção do espaço perpassa a
experiência do corpo, a noção de distância, por exemplo, é orientada no mundo de acordo
com a maneira que as pessoas entendem o corpo e o que faz parte dele varia de sociedade para
sociedade. Falar de espaços e lugares implica também em refletir sobre a visualidade
enquanto cultura material. Não se trata de uma casa de farinha qualquer, é um lugar com
objetos que fazem sentido para aquelas pessoas, que contam sobre a sua história, que suscitam
encontros e estimulam histórias contadas através da oralidade. A prensa foi feita na
comunidade e substitui o tipiti, que somente uma pessoa sabe fazer e que vende, às vezes,
para outras comunidades. O ato de descascar mandioca tem a ver com o de contar histórias;
assim como os momentos de silêncio na casa de farinha direcionam as pessoas aos seus
pensamentos e às suas lembranças pessoais.
Os vestígios arqueológicos, como cultura material ativa, estão relacionados com a
mandioca e objetificam atividades diárias das famílias como o plantio, a colheita e a
convivência na casa de farinha. São diversos tipos de cultura material que criam memórias; os
cacos agora também lembram a arqueóloga “pesquisadora”, que aparece ocasionalmente e
que anda pela área tirando fotos.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
17
A oralidade remete a paisagens e a memórias criadas
Ao pensar corpo e espaço e a constituição de paisagens, não podemos deixar de
considerar a memória. O corpo enquanto veículo que, estando em um lugar (THOMAS, 1996),
permite ao ser humano sentir, ver e mais tarde lembrar através da construção de uma imagem
na mente de uma situação, de um lugar. Para Pollak (1992) esses “lugares da memória” estão
ligados à lembrança. Esta imagem que vem à mente, criada pela pessoa que viveu uma
experiência, pode ser também entendida como cultura material.
Pensando a visualidade como fator importante para se entender a cultura material,
gostaria de retomar outras experiências que tive em campo e que, refletindo agora, me
instigou a pensar a paisagem e a imagem enquanto cultura material. Como visitei a
comunidade em momentos diferentes do ano, na época da chuva e na época da seca, uma das
pessoas com quem tive maior contato sempre brincou comigo apresentando o terreno como
“limpo” na época da seca, pois a vegetação não cresce tanto, e “sujo” no inverno (época de
chuva), fazendo com que as pessoas andem somente nas trilhas de uma casa para outra. No
inverno, “tudo fica sujo, com mato”, e dá mais trabalho para as pessoas, que têm que “roçar”
na volta das casas com maior frequência. São duas paisagens diferentes, e estas paisagens
estão relacionadas a uma estética e ao próprio corpo que circula neste espaço.
Além disso, nestes momentos diferentes, os objetos que compõe a paisagem variam,
algumas coisas ficam visíveis e outras não, ou umas menos e outras mais. Na época da chuva,
a superfície fica mais encoberta, mais difícil também para visualizar os fragmentos de
cerâmica. Na época em que a vasilha ainda não havia sido escavada, a família proprietária do
terreno ficava mais descansada na época de chuva, pois a área onde a vasilha se encontrava
ficava mais ‘suja’ e, assim, chamava menos atenção e não corria tanto o risco de pessoas
desavisadas irem mexer.
Neste sentido, se pensarmos em patrimônio relacionado à ideia de herança – no
sentido de cuidar, valorizar e transmitir – e construção, pois é um termo criado a partir do
nosso olhar (JORGE, 2000: 125), o termo objetificação é um conceito interessante para se
pensar os vestígios arqueológicos, os objetos ligados ao cotidiano da comunidade e a imagem
de lugares. Estes, ao mesmo tempo, referem-se à história, à memória e à experiência social
dos núcleos familiares que constituem a comunidade. Isso, por sua vez, indica a necessidade
de problematizarmos o conceito de patrimônio arqueológico, que se torna mais amplo e que
inclui as noções próprias da comunidade sobre o que é importante para eles. Neste sentido, a
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
18
arqueologia colabora buscando a construção conjunta do conhecimento e do patrimônio dos
lugares através de práticas de pesquisa participativas.
Um lugar que apareceu durante as conversas com os moradores da comunidade de
Cinco Chagas foi o “lugar dos antigos”, onde a primeira família ocupou a região, em uma área
mais distante das margens do rio Matapi. Tive a oportunidade de visitar este local, onde uma
das moradoras da comunidade me acompanhou com seu filho. Foi difícil identificar a trilha
para chegar lá, segundo ela, apesar de ser muito perto das outras casas. Isso aconteceu porque
o mato já havia tomado conta, o que sempre acontece em época de chuvas. Neste local não há
roça. Aos meus olhos, ao visitar o local, vi uma mata com árvores frutíferas e terreno
disforme, e me perdi facilmente na orientação do espaço.
Conforme caminhávamos no terreno, a moradora da comunidade procurava na
paisagem atual os lugares da sua memória (POLLAK, 1992), sempre acompanhada de seu
filho. Seguindo ela, tentei imaginar como poderia ter sido este lugar, como era a casa, como
era a roça, como era o lugar de torrar farinha... De repente ela chama atenção para uma
bacabeira9, e em um ponto inclinado do terreno encontra na sua lembrança a antiga casa. A
partir deste momento ela segue fazendo a leitura daquela paisagem através de uma volta no
tempo (considerando esta lembrança também como uma construção, como chama a atenção
ROCHA e ECKERT, 2000), às suas memórias e, ao mesmo tempo em que nos conta onde
costumava ficar cada coisa, relata para seu filho como era o seu bisavô, e de como ela
costumava cuidar dele. Identificamos o antigo poço, encontramos alguns restos da antiga
estrutura de madeira da casa e ela chamou a atenção à quantidade de coisas que ainda
deveriam estar aparecendo ali naquele lugar, se o mato não tivesse avançado. Ao mesmo
tempo em que se lembra dos momentos, explica como era a vida naquela época, e se
emociona retomando sentimentos pessoais; o filho, quieto, escuta pacientemente. Já
determinados a voltar para casa, nos deparamos com os restos do antigo forno feito com latas
emendadas, onde era torrado o café e a farinha. Ela pede que eu tire uma foto do filho
segurando este objeto, orgulhosa de mostrar para ele como vivia seu bisavô. Terminamos a
visita colhendo uma jaca madura, que seria apreciada juntamente com as lembranças do lugar.
Miller (1987) coloca que existe uma relação próxima entre a materialidade do objeto
e a materialidade do espaço, sendo que os objetos podem se referir a relações sociais e, neste
caso, também ao passado. Com certeza a imagem que eu via e que ela via eram diferentes, a
dela uma paisagem da memória, e a minha uma tentativa de transformar o que eu estava
9 Palmeira com fruto a partir do qual é tirado vinho e que é muito consumido pelas comunidades ribeirinhas no Amapá e na Amazônia.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
19
vendo e o que estava sendo narrado em uma cena à minha frente. Conforme caminhávamos
neste espaço, as árvores e os vestígios iam puxando a lembrança de situações do passado, iam
retomando a história da comunidade, iam ressignificando a paisagem. Entendendo a memória
como “espaço de construção de conhecimento” (ECKERT e ROCHA, 2000: 2), é ver o
passado não “(...) necessariamente antagônico ao presente, ao contrário, eles superpõem-se
ritmicamente e, num processo ondulatório, ao ponto da sua consolidação, deixam a
descoberto a matéria de suas lembranças” (ROCHA e ECKERT, 2000: 13).
A partir das experiências que vivi até agora em Cinco Chagas do Matapi, percebi a
possibilidade da história ser contada através de narrativas orais tendo os lugares, os momentos
e os objetos papéis de contextos que desencadeiam a memória. Em especial, uma vez que
pesquiso a relação dos vestígios arqueológicos com as pessoas nesta comunidade, a cultura
material evoca e cria memória, imagens, momentos passados, sentimentos. As coisas que nos
cercam possuem a capacidade de sintetizar uma história através do seu poder de evocar a
memória e instigar a narrativa.
Considerações finais
Uma pesquisa que leve em consideração abordagens metodológicas como a
participação, a dialogia e a problematização sobre a relação de alteridade são perspectivas do
campo da antropologia que podem auxiliar o arqueólogo a desenvolver uma prática de
pesquisa mais reflexiva e ética (SMITH, 2004; SHANKS e HODDER, 1998). Além disso, a
cultura material, enquanto mediadora de relações sociais, apresenta um potencial enorme
enquanto abordagem teórica e metodológica para problematizar a alteridade.
Os vestígios arqueológicos, enquanto parte do patrimônio de Cinco Chagas, estão
relacionados com a sua luta pelo reconhecimento enquanto comunidade quilombola. As
narrativas, através de imagens da memória das famílias, estão vinculadas a um sentimento de
pertencimento e associam as experiências e identidades sociais manifestas a um território
(MARIN e CASTRO, 1999: 76). Imbricadas nas demandas por melhorias sociais e
reconhecimento frente ao Estado estão as relações estabelecidas pelas pessoas com a história
particular das comunidades e com a materialidade.
Os arqueólogos, em suas pesquisas de campo, têm muito a aprender com a oralidade,
que mostra alguns sentidos da cultura material; esta, por sua vez, diz respeito às pessoas hoje,
e não só a um passado distante. Ainda, os artefatos e vestígios, associados a outros objetos e
imagens, remetem a uma identidade própria das pessoas do local, que tem a ver com os seus
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
20
saberes e fazeres, suas casas, suas histórias e suas visões de mundo. Desta forma, não é mais
possível ir a campo e não escutar as pessoas, e não deixar a oralidade nos levar para diferentes
lugares através das imagens e nos mostrar diferentes perspectivas da cultura material.
Referências bibliográficas ALMEIDA, Alfredo W. B. de. “Terras tradicionalmente ocupadas: processos de territorialização, movimentos sociais e uso comum” In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v.6, n. 1, p. 9-32, 2004. BOSI, Ecléa. Memória e sociedade, lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das letras, 2004. BRANDÃO, C. R. “Reflexões sobre como fazer trabalho de campo” In: Sociedade e Cultura,v.10 n. 1, p. 11-27, 2007. CSIKSENTNIHALYI, Mihaly. “Why we need things”. In: LUBAR, Steven e KINGERY, David. W. (eds.) History from things. Essays on material culture. p. 20-29. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1993. ECKERT, Cornelia.; ROCHA, Ana. L. “Os jogos da memória” In: Iluminuras, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 2-15, 2000. Disponível online em: http://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/9108. FABIAN, J. Time and the other. How anthropology makes its object. [1983]. New York: Columbia Univ. Press, 2002. GELL, Alfred. “The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology”. In: COOTE, Jeremy e SHELTON, Anthony. (eds.) Anthropology, Art and Aesthetics. p. 40-63. Oxford: Clarendon Press, 1992. GLASSIE, Henry. Material culture. Indianapolis: Indiana University Press, 1999. GONÇALVES, Reginaldo. Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônios. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2007. GOSDEN, Chris. “What do objects want?” In: Journal of Archaeological Method and Theory, v. 12, n. 3, p. 193-211, 2005. JACQUES, Clarisse C. Relatório de Atividades do Projeto: Resgate Emergencial Arqueológico na Comunidade Quilombola de Cinco Chagas do Matapi, AP. IPHAN, agosto de 2011, datiloscrito. JORGE, V. O. “Por uma concepção abrangente e dinâmica do patrimônio arqueológico: algumas ideias para um debate” In: Arqueologia, património e cultura. Lisboa: Instituto Piaget, 2000.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
21
LIMA, Antónia P. de; SARRÓ, Ramon. “Introdução. Já dizia Malinowski: sobre as condições da possibilidade da produção etnográfica” In: LIMA, Antónia Pedroso de; SARRÓ, Ramon (orgs.). Terrenos Metropolitanos-ensaios sobre produção etnográfica. Lisboa: ICS, 2006. MARIN, Rosa. A.; CASTRO Edna. R. “Mobilização Política de Comunidades Negras Rurais: Domínios de um conhecimento praxiológico” In: Novos Cadernos NAEA, v.2, n. 2, dezembro, 1999. MEGGERS, B. J.; EVANS, C. “Archaeological Investigations at the Mouth of the Amazon. Smithsonian Institution” In: Bureau of American Ethnology, Bulletin 167. Washington: Government Printing Office, 1957. MENEZES, Ulpiano B. “Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público” In: Estudos Históricos, v. 11, n. 21, p. 89-104, 1998. MILLER, Daniel. Material culture and mass consumption. Oxford: Blackwell, 1987. POLLAK, Michael. “Memória e identidade social” In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. ROCHA, Ana. L.; ECKERT, Cornelia. “Imagens do tempo nos meandros da memória: por uma etnografia da duração” In: Iluminuras, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 2-14, 2000. Disponível online em: http://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/8928/5157. SHANKS, Michael.; HODDER, Ian. “Processual, postprocessual and interpretative archaeologies” In: WITHLEY, D (ed.). Reader in Archaeological Theory: post-processual and cognitive approaches. p. 69-95. London: Routledge, 1998. SMITH, Linda. “Archaeolological theory and ‘the Politics of the Past’” In: Archaeological Theory and the politics of Cultural Heritage. London: Routledge, 2004. SPENCE, Charles. “Making sense of touch: a multisensory approach to the perception of objects” In: PYE, Elizabeth (ed.) Touch: handling objects in museum and heritage contexts. Walnut Creek: Left Coast Press, 2007.
THOMAS, Julien. Time, culture and identity. An interpretative archaeology. London & New York: Routledge, 1996. TILLEY, Christopher. “Objetification” In: TILLEY, Christopher; KEANE, Webb; KÜCHLER, Susanne; ROWLANDS, Mike e SPYER, Patricia. (eds) Handbook of material culture. New York: Sage, 2008.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
22
ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO NA ATMOSFERA DE QUILOMBOS ARQUEOLÓGICOS
Studies on the imaginary in the atmosphere of Quilombo archaeological
Cláudio Baptista Carle1
RESUMO
Estudo sobre os diversos imaginários nas pesquisas de quilombos arqueológicos brasileiros, realizadas no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, considerando seus aspectos colaborativos entre ciências e cientistas. Palavras-chave: Arqueologia, quilombos, imaginário ABSTRACT Study of the various figures in the Brazilian archaeological research Quilombo, held in Rio Grande do Sul, in recent years, considering its collaborative aspects of science and scientists. Keywords: Archaeology, quilombos, imaginary RESUMEN Investigación sobre los diversos imaginarios en los estudios arqueológicos en “quilombos” (sitios cimarrones) brasileños, celebradas en Rio Grande do Sul, en los últimos años, teniendo en cuenta sus aspectos de colaboración de la ciencia y de los científicos. Palabras clave: arqueología, Quilombo, imaginario
Introdução
Gitibá Faustino (1991: 102) diz que o Brasil é o segundo país do mundo em
população negra, sendo que o primeiro seria a Nigéria; me pergunto onde isso influi na
arqueologia? A resposta está na imagem (DURAND, 1997) arqueológica sobre vestígios de
afro-americanos. A atmosfera, o imaginário acadêmico, é de colaboração entre pesquisadores
envolvidos na investigação do tema. “O imaginário é determinado pela ideia de fazer parte de
algo” (SILVA, 2012). É sobre imaginário, esta atmosfera ou aura que o texto discorre.
1 LAMINA e PPGA (ICH) – GEPIEM (FAE) – UFPel , Doutor em História- Area de Concentração em Arqueologia (PUCRS). [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
23
Segui ideias convergentes que implicam em uma ação colaborativa. Aura
instauradora (DURAND, 1997: 19) da arqueologia sobre afro-americanos é inteira, torna-se
um imperialismo de imagens na ambiência social, “fantasias adversas”, “recalcamento” de
regimes de imagens fixadas em um “momento histórico” (DURAND, 1997: 390). O
imaginário revela as ações e as formas de entender o ser no mundo. A aura, imaginário, é
instauradora das formas de pensar, sentir e agir. Gilbert Durand, no universo simbólico dos
textos, neste caso sobre afro-americanos no sul do Brasil, indica que há uma troca incessante
entre as pulsões subjetivas (biopsíquicas) e as intimações objetivas (cósmico-sócio-culturais)
que se processa no trajeto antropológico. Que há um dinamismo equilibrador entre
pensadores, as grandes imagens tradicionais e as míticas. Mitos que penetram nas orientações
mais profundas (DURAND, 1997: 13) da sociedade científica. Há uma instauração do pensar
sobre os afro-americanos.
Esperava encontrar uma construção colaborativa, imaginada e apresentada nos textos
de forma utópica, mas verifiquei ideias individuais de cunho político sobre os vestígios de
afro-americanos. É uma visão recalcada.
Nenhum lugar é deixado à «Imaginação criadora», ao Imaginário poético. É talvez daí que data a catástrofe que separou o Oriente e o Ocidente em nível do pensamento, o pensamento visionário e o pensamento racional, desde Guillaume d’Auvergne até Descartes, passando por São Tomás de Aquino. O imaginário torna-se aqui no Ocidente cada vez mais recalcado na insignificação ornamental, estética, e, na véspera do século romântico, o divórcio está consumido. (DURAND, 2004: 10)
A visão de recalcamento ocidental (sistema imaginal instalado), expresso nas
ciências humanas, é fixada pela imagem científica redutora (cartesiana) que se desenvolve no
Brasil. Estamos então frente a um recalcamento da ciência ocidental, também na arqueologia
brasileira. Investigo este recalcamento nos estudos sobre quilombos e vestígios de afro-
americanos.
“O imaginário é a marca digital simbólica do indivíduo ou do grupo na matéria do
vivido. Como reservatório, o imaginário é essa impressão digital do ser no mundo” (SILVA,
2012). Sofri, como arqueólogo, este processo de impregnação simbólica. Esta marca
simbólica aparece desde o início do século; percebo-a a partir das discussões travadas com
Klaus Hilbert, Arno Kern e Moacyr Flores. Surge então este texto, no limiar entre o
cartesianismo e os estudos sobre o imaginário. As “práticas de fronteira são marcadas não
somente por relações de 'boa vizinhança', mas também pelo litígio” (GOMES, 2000: 7). O
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
24
litígio em foco é a possibilidade de compreender a aura que se estabeleceu nos estudos sobre
os afro-americanos no RS.
Na arqueologia brasileira, vemos que a reprodução de velhos modelos, sem uma
discussão teórica maior, ainda é persistente. “Uma ciência atinge sua maturidade quando ela
conhece seus limites” (KERN, 2002: 116). Não há estes limites e os trabalhos são
individualistas, feitos por um cientista que quer se entender múltiplo e que pretende dominar
tudo. Um imaginário de regime diurno e com esquema postural heróico (DURAND, 1997:
115-121), um super-homem das ciências.
Sigfried Laet coloca o problema da arqueologia na origem, na vinculação com outras
disciplinas, perdendo o seu veio condutor, expressando desejos de estudos, na maioria das
vezes, individuais, da História da Arte, das Ciências Naturais e da História propriamente dita,
perdendo sua constituição própria (LAET, 1959: 14-24).
Para Schmitz (1982: 53) a Arqueologia no Brasil procura reconstruir o modo de vida
- a tecnologia, a cultura, a sociedade - de populações passadas ou etapas das atuais populações
para as quais outras documentações são nulas ou ineficientes, não possuindo problemas, nem
teorias exclusivas, partilhando estas com outras ciências. É uma síntese, uma especialização
destacada de outras ciências, mas a arqueologia brasileira, na sua aura (imaginário), se pensa
total. “O imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da aura: uma atmosfera. O espírito
positivista não pode aceitar como vetor de ação algo tão impalpável, apresentado como
atmosfera, admitido como aura” (SILVA, 2012).
O imaginário é uma sensação que é vivida e não uma ordem de coisas mensuráveis
que podem ser quantificadas. Imbuído também por esta sensação, busco entender a atmosfera
do estudo arqueológico sobre áreas com vestígios de afro-americanos.
Atmosfera para compreender os quilombos arqueológicos
Há um reservatório, um motor que agrega imagens, sentimentos, lembranças,
experiências, visões do real que realizam o imaginado, leituras da vida individual e grupal que
sedimentam um modo de ver em objetos, como espaços, objetos móveis, estruturas. Ali estão
registradas as formas de ser, de agir, de sentir e de pensar o futuro ao se estar no mundo. O
imaginário “emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real como elemento
propulsor” e como forma nas ações humanas que constituem os sítios que ocupa (SILVA,
2012; DURAND, 2004).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
25
Estudar sítios arqueológicos históricos tem sido estudar a história dos seus
formadores (LIMA, 1985: 88). Esta é a atmosfera da arqueologia histórica no Brasil. “O
cientista não pode eliminar inteiramente o seu imaginário para atuar em condições absolutas
de objetividade e de neutralidade. A ciência também tem a sua aura. O cientista também se
move numa atmosfera” (SILVA, 2012). A atmosfera da “história do negro” e da “arqueologia
da escravidão” (como se pensa o estudo sobre afro-americanos) marca os estudos. Assim,
entender a atmosfera da história é entender o imaginário que envolve os estudos
arqueológicos até o presente.
O estudo sobre os afro-americanos é marcado pelo “branqueamento”, constituindo
uma atmosfera de segregação racial historiográfica no país (SANTOS, 1991: 81-82),
refletindo nos sentidos comuns (MAFFESOLI, 1994) da população diretamente envolvida e
em seus movimentos organizados. Efeito que marca as posições, os ideologemas, que são a
materialização de valores e de funções ideológicas de um determinado meio social, sendo
psíquico e social; por consequência, ideológico, constituindo a materialidade da “ideologia”
no cotidiano da vida social (DURAND, 1997: 118).
Na historiografia refletida na arqueologia (LIMA, 1985) aparecem estes ideologemas.
Escravos realizavam os assassinatos dos proprietários (MOREIRA, 1995), Luis Gama – filho
de escravo rebelde – afirmava “que o escravo que matava o seu senhor praticava um ato de
legítima defesa” (MOURA, 1987: 80). A confusão ideológica, ideologemas racistas e a
atmosfera científica se conflitam. O Movimento Negro, na região meridional do RS, ao
entender que o cientista trata os escravos como agressivos, inquiriu historiadores que
escreveram sobre isso, a exemplo da obra de Roger da Silva intitulada Muzungas: Consumo e
manuseio de químicas por escravos e libertos no Rio Grande do Sul (1828-1888) (Pelotas:
EDUCAT, 2001) que foi levada à investigação como uma obra racista, por dizer que os afro-
americanos envenenavam seus senhores no período da escravidão. Neste caso, o historiador-
autor é afro-americano e seu texto traz os registros históricos e não promove racismo de forma
alguma. Insurreições e revoltas também aparecem como formas de oposição à escravidão
(SANTOS, 1991: 79; MAESTRI, 1979: 53 e 94; GOMES et al, 1995: 28). Percebe-se
contradição na escrita histórica, aura dos estudos arqueológicos (FUNARI, 1996), em relação
à percepção dos envolvidos.
Mariano Santos – ex-escravo, afirmava que os escravos se suicidavam, apenas
esperando a morte de sede, de fome ou de enfermidade, “o dia que Deus chamava”
(MAESTRI, 1988: 31). A morte, na atmosfera historiográfica, é colocada como perda
mercantil, de força produtiva, que podia assumir proporções endêmicas (MAESTRI, 1979:
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
26
47). A aura econômica amplia a atmosfera das pesquisas. Na urbanização, fugitivos passavam
por livres “de cor”, procuravam a proteção de um liberto ou de um senhor de escravos,
“acoutando-se”, fato punível por lei (MAESTRI, 1979). Sant-Hilaire (apud MAESTRI, 1979:
80-89) notava que os mais valentes soldados de Artigas eram escravos fugitivos. Presos, os
fujões “continuavam causando prejuízos, pois pagos os captores” (desde 1574) as fugas
continuavam, aumentando as despesas com os que permaneciam e com os que eram caçados
(MAESTRI, 1984: 73-74).
A fuga é uma constante. “A maneira mais simples, segura e rápida de um cativo
libertar-se era a fuga” (MAESTRI, 1984: 73). Aferida simplicidade é reveladora de uma
naturalidade na fuga que não expressa o fato. No Jornal O Mensageiro, Farroupilha que
pregava a república e a futura libertação de escravos, nas suas 37 tiragens, em 11 anúncios
condena a fuga de escravos. As fugas podiam posteriormente levar à formação de
“mocambos” e “quilombos” (SANTOS, 1991: 75; GOMES et al, 1995: 33). As Irmandades,
fenômenos urbanos ligados aos “terreiros” e “batuques”, frequentados por escravos, libertos e
livres pobres (MAESTRI, 1984: 54), eram importantes no apoio às fugas (GOMES et al,
1995: 29). A imagem criada por estes estudos é econômica, uma atmosfera econômica para a
escravidão e para a fuga.
As fugas são evidenciadas na historiografia no estudo sobre quilombos. No RS,
surgem diversos pequenos quilombos. Quilombos estes que vão além da definição inicial:
“toda a habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (Rei de Portugal ao Conselho
Ultramarino, datada de 2 de dezembro de 1740, apud MOURA, 1987: 16). Formam grupos
armados, com lideranças na fuga e que se perpetuavam. Segmentos pobres ou perseguidos
convergiam aos quilombos.
O texto arqueológico, dos lugares (sítios e paisagem) e dos objetos, cria um sentido,
uma atmosfera, para compreender os quilombolas. Atmosfera não respeita as ideias criadas
pelos próprios grupos a partir de suas realidades para gerar os lugares. A arqueologia segue
este caminho, guiado por seu “trajeto” (DURAND, 1997) enquanto ciência.
A arqueologia de afro-americanos no Brasil está intimamente ligada à História e à
história da ciência, gerando sua atmosfera. Marcando este “trajeto”, Gustaf Oscar Montelius
(1843-1921) cria formas de classificação, para coleções estudadas (TRIGGER, 1992: 150),
elege variações de forma e decoração, que foram usadas na seriação dos difusionistas no
Brasil. Cultura (da Agricultura, um único tipo de cultivo), como organizações humanas
(1780), conceito que indica que uma sociedade obedece a padrões definidos, identificáveis,
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
27
como no plantio, visíveis nos artefatos e nos níveis de estratificação diferente de um sítio.
Olof Rygh (1866) interpreta pontas de flechas e lanças como “cultura y de un pueblo” da
Idade da Pedra (1871), “dos culturas de la Edad de la Piedra y dos pueblos de la Edad de la
Piedra” (MEINANDER apud TRIGGER, 1992: 157).
A cultura aplicada nas ciências sociais e aos artefatos arqueológicos cria separações
culturais por métodos classificatórios e comparativos, nas aproximações e nas diferenças de
produção de bens. Gustaf Kossinna (1858-1931), estudando as “tribus” formadoras da “raça
germânica” de origem “indo-européia”, em detrimento de outras, divide os vestígios
arqueológicos por raças e identifica os povos criativos em contraposição aos povos passivos
(TRIGGER, 1992: 159-160). Kossinna busca comprovar a superioridade racial alemã que na
dispersão sofria diminuição de suas capacidades criativas. Os amadores, na arqueologia
brasileira (cf. André PROUS, 1991), com certeza entraram em contato com os vestígios de
afro-americanos, mas não os reconhecem. No Brasil, quilombos foram classificados como
áreas de cultura européia ou como áreas de povos não evoluídos, primitivos. O
“Branqueamento” criado por arqueólogos amadores se perpetua. A história e a arqueologia,
racistas, mascararam a cultura dos afro-americanos maculando-a (SANTOS, 1991: 141). A
atmosfera criada por Jonh Myres (1911) e Arthur Evans (1869), onde a cultura material dos
conquistados (passivos) era adotada pelos conquistadores (ativos), se perpetua (TRIGGER,
1992: 162). “A sociedade escravista almejava um cativo que se autoconcebesse como
propriedade de outrem ou um negro neutralizado pelo respeito e medo ao amo” (MAESTRI,
1984: 70). A atmosfera onde o afro é inferior, já na arqueologia histórica, o percebe como
escravo, ou seja, na sua condição sócio-econômica imposta e não como ente humano. A
“arqueologia da escravidão” é um exemplo dessa atmosfera.
A atmosfera modelada pelos textos do PRONAPA toma o lugar dos amadores,
fundamentada na ideia de que as culturas tinham um pólo inicial de origem e deste é que se
desenvolviam para o resto do mundo (TRIGGER, 1992: 145). A única área de origem
possível era colocada no Velho Mundo; dispersos desta por migração ou por difusão, criam
blocos ou áreas culturais similares e adjacentes. Franz Boas (1858-1942), baseado em
Fredrich Ratzel (1844-1901), incorpora a difusão à capacidade de invenção local. Invenções
simples, com única origem, gerando a difusão e as alterações regionais, conforme sua
dispersão a partir do centro de origem. A aura de que os africanos vieram pela mão dos
europeus sem cultura própria e alterada pela ação daquela cultura superior (TRIGGER, 1992:
159).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
28
Nos Estados Unidos, os estudos etnográficos das cronologias das culturas, de Kidder
(1885-1963), dos métodos taxionômicos de classificação (tipificações são feitas e
ramificações encontradas), alicerçadas por esquemas dendríticos de interpretação, com as
sequências etnográficas, as tipologias e as seriações, formulam, ao final, tradições
arqueológicas e culturas (TRIGGER, 1992: 178-183). No Brasil, a Arqueologia Histórico-
Cultural, do Smithsonian Instituition (Betty Meggers e Cliford Evans), e a arqueologia
amadora brasileira sofrem a influência de um modelo que mescla ideias de Childe (1961) e
Montelius (TRIGGER, 1992: 177). Há uma atmosfera de cientificidade na arqueologia.
Meggers e Evans propõem “horizontalidades” e “verticalidades” de maneira
difusionista de expansão cultural (1958). A metodologia vertical de um sítio, estratigráfica,
classificatória e a seriação do material, intercaladas com as relações comerciais e a datação
absoluta realizavam entre sítios o sentido de fases dentro de tradições, fruto de pequenas
escavações nos sítios. Este modelo determina-se pelos objetos, perdendo a complexidade do
todo.
Objetos de afro-americanos viram fases, a exemplo da fase Monjolo (JACOBUS,
1996), da Tradição Neo-brasileira do PRONAPA (1965-1970). Eurico Miller, em Santo
Antônio da Patrulha (RS), no vale do Rio dos Sinos, investigava níveis estratigráficos como
níveis cronológicos. Vale-se de características diagnósticas típicas para afirmar ocupações,
tais como a cerâmica, a habitação, a iconografia, entre outras. As transformações culturais
derivam de intervenção externas: contatos culturais, comércio e migrações. A informação
contida no artefato dá segurança ao arqueólogo. Há fragilidade científica na orientação
indutiva, examinando os materiais empíricos recolhidos, ordenando-os, classificando-os,
eventualmente comparando-os, realizando generalizações subjetivas (TRIGGER, 1992: 195).
Ford (1938) valora os tipos dentro das culturas, correlaciona às diferenças temporais
e especiais. A técnica de Mortimer Wheeler (1890-1976) é mais usada para o campo na
escavação e no registro tridimensional. David Clarke (1968) cria o tratamento sistemático à
tipologia arqueológica em todos os níveis (TRIGGER, 1992: 192-196). Na mesma época,
vemos Mortimer Wheeler (1961: 27) criticar escavações que não deram importância às
estratigrafias, buscando apenas estruturas arquitetônicas, o que se atmosfera na arqueologia
histórica preocupada em comprovar um pensamento modelar em detrimento do universo
subjetivo dos humanos envolvidos nestes sítios. Estas técnicas tornam-se fundamentais. “Es
acientífico excavar sin plan ni problemas previos a cuya resolución puedan contribuir los
dados, pero si se supiera lo que hay en el suelo antes de la excavación no habría razón para
excavar” (WATSON; LEBLANC; & REDMAN, 1974: 34).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
29
O Histórico-Culturalismo manteve-se até hoje sem renovação de técnicas nem
implementação completa de seus pressupostos. Nas inúmeras conversas com Klaus Hilbert,
entendi que a análise baseada em fósseis diretores, sistemas classificatórios e seriações geram
uma redução interpretativa. Reduções parciais, evolucionismos, funcionalismos,
estruturalismos e outros criaram a aura arqueológica desta época (final da segunda guerra até
os anos 80, no Brasil). Hilbert diz que a descoberta do C14 rompe com a negação das
antiguidades e dos períodos pré-cerâmicos. Isto justificava uma colocação de José Joaquim
Justiniano Proenza Brochado (informação pessoal, em dezembro de 1992, Curso de
Mestrado) de que Betty Meggers não estudava o lítico e preocupava-se muito mais com a
cerâmica. Hilbert (2006) explica esta imagem por um “tripé” - objeto, tempo e espaço -
identificando fases e tradições, fórmulas fechadas.
A superioridade cultural, a assimilação, o abandono total da cultura, a vantagem de
uma sobre as outras dava aos quilombos os aspectos de organização social, de produção de
bens superados em sua origem africana pela superioridade da cultura européia. Quando
trabalhei pela primeira vez com esta ideia, achava ser uma mera hipótese, mas não, isso é um
pensamento que vigora ainda hoje no meio acadêmico. Escutei de uma antropóloga, que há
anos trabalha com quilombos: “não devemos africanizar os quilombos”; logo depois indicou
sua “origem italiana”. Ela falava da aculturação dos quilombos. “Por mais que deseje, o
cientista não pode eliminar inteiramente o seu imaginário para atuar em condições absolutas
de objetividade e de neutralidade” (SILVA, 2012). A fala desta antropóloga é a atmosfera da
cultura europeia como superior.
Repetidas vezes, vimos na história e seu reflexo na arqueologia o que nos escreve
Joseph Hörmeyer (1986: 78), em 1850, preparando a propaganda para a entrada de alemães:
“certo é que um escravo é castigado também aqui, mas assim como um pai castiga seu filho
renitente”. Cristina Nery e Gilian Lopes (1988: 534-535) refutam a ideia de castigos brandos,
pois nos escravos domésticos (1860-1880), cujas exigências eram menores, a taxa de aleijados
e doentes era grande. A ideia de castigos sugere que existia esta necessidade e, portanto,
explicita a imagem de inferioridade de época e atual, que se mantém entre pesquisadores e
reflete no senso comum.
A escravidão, para alguns, impediu o desenvolvimento de eficientes formas
produtivas, mantendo a sociedade em uma estrutura fechada, pois “sendo o escravo a base
fundamental da estrutura, qualquer mudança estrutural, partindo da cúpula do sistema, previa
o fim da condição de ser escravo como último ato, ou seja, o último recurso” (SANTOS,
1991: 72). Louis Conty (apud MAESTRI, 1984: 66) acredita que a charqueada gaúcha
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
30
produziu menos que a uruguaia e a argentina, pois usava escravos em vez de assalariados. É
evidente o eurocentrismo na história, refletindo-se na arqueologia.
Ocorre uma renovação na aura, com o marxismo na arqueologia, por ilustrar as lutas
sociais e evidenciar a ação dos campesinos e trabalhadores. As ideias nacionalistas e
evolucionistas agregam-se ao método de Mortimer Wheeler, dando base à arqueologia
marxista na América Latina (TRIGGER, 1992: 170-172). A aura eurocêntrica está mantida.
É visível no universo antropológico de Darcy Ribeiro, no “O Processo Civilizatório”
(1968), cujo prólogo é de Betty J. Meggers (RIBEIRO, 2001: 15), líder do PRONAPA.
Meggers enfatizava que: “o mundo atravessa hoje um estado de sublevação. Guerras,
rebeliões, golpes, guerrilhas, greves e outras manifestações de tensão comparecem
diariamente nos jornais”. Escreve que nos Estados Unidos estavam enfrentando “conflitos dos
guetos negros”, os quais “estão se tornando tão inevitáveis quanto os dias quentes de verão e
agora ameaçam destruir porções apreciáveis de nossas principais cidades”. Indica já esta
sublevação negra como um empecilho ao bom desenvolvimento. “Os conflitos raciais
explodem por todos os lados. As enormes diferenças no acesso às vantagens econômicas e
educativas não apenas criam problemas específicos, como difundem seus efeitos dilacerados
através de toda a ordem social” (RIBEIRO, 2001: 15). Há uma dubiedade neste discurso, pois
ao evocar o fim dos conflitos, explica-os pelo meio em que os afro-americanos vivem. Uma
atmosfera típica das explicações marxistas na antropologia e na arqueologia brasileira.
Publiquei este livro com muito medo. (...) Meu medo devia ter aumentado quando um conhecido intelectual marxista, ledor de importante editora, deu um parecer arrasador sobre O Processo Civilizatório. (...) Mas surgiram vozes de alento (...) Entre eles, a mais competente arqueóloga que conheço: Betty Meggers (Prefácio à quarta edição venezuelana, RIBEIRO, 2001: 23).
A imagem marxista invadiu a historiografia; há exemplo das obras de Fernando
Henrique Cardoso (1962) e Jacob Gorender (1980), tendo como um dos principais seguidores
no RS o historiador Mário Maestri. Basendo-se nesses, considerava o escravo como regulador
social, pois quanto mais longe da condição de escravo um cidadão se encontrava, mais alto
estaria na escala social. Era regulador de propriedade e a propriedade teria valor na cidadania
de época; acredita que estes senhores não podiam imaginar sua vida sem seus escravos, sem
seu trabalho. Identifica, segundo suas pesquisas, inúmeros casos de escravos valerem mais
que uma propriedade, funcionando também como moeda internacional-comercial (MAESTRI,
1984: 25) e como indexador da economia interna (SANTOS, 1991: 71-72).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
31
Gilbert Durand (2004: 15) diz que “não nos habituaram a ler (...) através de um
contexto de remitologização”. A atmosfera do “herdeiro glorioso das Luzes” é que guia este
momento da ciência, tanto no positivismo como no materialismo
Pelo menos não são nossas teorias eruditas das ciências sociais do século XIX que procuraram desmitificar nossa quietude progressista! Entretanto... Entretanto Saint Simon, Auguste Comte, principalmente, querem fundar, e fundam (no Rio de Janeiro, esta instituição ainda existe...), uma religião nova com sua liturgia, seu temporal, e mesmo seu santoral! E, no entanto... Sabe-se lá por que Karl Marx deixou crescer uma barba tão bonita, a mais bela barba da história moderna? Simplesmente pela sua admiração por um busto helenístico de Júpiter (o qual ele sempre guardou, em Londres, a forma na ante-sala do seu escritório), ele mesmo se sonhando como sendo o Olimpiano fundador dos novos tempos. Teogonia é o primeiro modelo de um certo progressismo: após a idade dos Titãs, após o reino de Cronos, de repente advém a idade das Luzes olimpianas, a idade da ordem jupiteriana... É exatamente com este Zeus do Olimpo que Karl Marx quis conscientemente, muito conscientemente, parecer... Então, clima estranho este do século XIX, aonde o progressismo vai em direção do avanço tecnológico triunfante até nossa própria época, mas onde os construtores de ideologias totalmente míticas (no sentido bem pejorativo como entendiam os positivismos, quer dizer inverificáveis, utópicas, fantasmáticas...) assombram a ascetização racionalista. (DURAND, 2004: 15)
A mítica higienizante do materialismo onde a mão-de-obra afro-americana ocupou
todas as instâncias da produção no RS, africanos/escravos como uma abstração.
Homogeinização de diferentes grupos linguísticos, que divididos em dialetos e tribos não
formam uma unidade, impedidos de permanecer reunidos (SANTOS, 1991: 75).
Homogeinização como classe ou cultura, uma mítica positivista/materialista. Os escravos do
Brasil meridional foram utilizados no campo, mas em concentração nas charqueadas. Os
escravos eram então estenuados por uma jornada de trabalho de 16 horas diárias, apanhando e
sendo muitas vezes embebedados para continuar seu trabalho, parando pelo esgotamento ou
pela enfermidade (MAESTRI, 1984: 46). A carne salgada barateava o antigo transporte do
gado vivo, a produção intensa, competitiva com as saladeiras argentinas e uruguaias que,
depois de 1825, passaram a usar assalariados (CORSETTI, 1985: 91).
Os sítios de afro-americanos nesta mítica mantêm o “modo de produção” ou um
“modelo de subsistência” no “modo de produção capitalista” implementado, relegando ao
universo materialista a mítica dos quilombos. A atmosfera em que há a modelação marxista,
entendendo o capital industrial como motor da mudança, cria um apelo às relações de poder
mecanicamente. O viajante Nicolau Dreys (apud MAESTRI, 1979: 42) considerou a
charqueada um estabelecimento penitenciário. No espaço urbano, esta “classe” teria melhorias
da vida; e no campo e charqueadas, os escravos estavam mais angustiados (MAESTRI, 1990:
697-698; MAESTRI, 1984: 63).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
32
Afirma-se que o escravo na cidade se protege entre os seus, os escravos de ganho
conquistam a liberdade pela compra de alforrias (MAESTRI, 1990: 699-701-703-705; ISCM,
1994: 51). A circulação livre, jogos, liberdades, eram punidos severamente (MAESTRI, 1990:
699-700) subverte a imagem de classes diferentes entre os escravos ou mesmo do escravo
como classe (MOREIRA, 1995: 54). Esta é uma mítica atual nos estudos arqueológicos sobre
o negro (CARLE, 2005).
As alforrias geravam inúmeras contradições. Roberto dos Santos, ao catalogar uma
série de inventários, encontrou um fato curioso em que um escravo possuía escravo
(SANTOS, 1991: 112). A pureza ingênua marxista na arqueologia embasada na estratigrafia
(TRIGGER, 1992: 186-195) é contra esta imagem. Esta arqueologia evidencia os sítios
relacionados a assentamentos de afro-americanos, fruto de discussões internas da ciência no
sentido dos limites de seu objeto de estudo em conflito com a história e com a antropologia,
principalmente, mas que suscitou na definição da própria ciência como uma disciplina em
construção (KERN, 2002: 118). A arqueologia é um estudo da cultura material no seu
relacionamento direto com o comportamento humano (KERN, 1996: 7). Ela se ocupa também
do ambiente em que gênio (ou gênero humano) se desenvolveu e no qual o homem ainda vive
(RAHTZ, 1989: 9).
Este mundo pré-determinado por modelos é o mundo da ciência moderna que se
arvora a dar sentido à vida pelos modelos (SILVA, 2012). Wheeler (1961: 78) sugeriu que se
realizassem escavações em área, com sondagens preliminares para a verificação de
estratigrafia. A escavação em área seria possibilitada, para o autor, sem a perda do referencial
da estratigrafia, realizando um quadriculamento que manteria “bermas” laterais (paredes em
quadrículas) para a visualização estratigráfica e bem como a circulação de operários, com
carrinhos e baldes de terra (1961: 80). O método permite uma distinção de diacronia e
sincronia, sendo possível detectar os níveis de alteração dos comportamentos dos sítios e, por
conseguinte, dos indivíduos que ali se estabeleceram durante o processo de formação dos
mesmos. Soluciona problemas nos sítios tais como a composição por uma série de estruturas
arqueológicas e arquitetônicas diferenciais à malha arqueológica; a escavação é feita
conforme as questões levantadas previamente, pois escavar não é fazer arqueologia, a
arqueologia é interpretação. Uma arqueologia hermenêutica. Esta atmosfera atinge os
arqueólogos brasileiros.
Salete Neme (1988: 31-44) faz uma espécie de arqueologia antropológica com base
marxista. O contato visto como “fricção interétnica” ocasionada por duas formas de viver em
atração, onde culturas distintas não se exterminaram, mas permitiram uma transformação
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
33
cultural. Nos assentamentos de afro-americanos teríamos no mínimo duas culturas em contato.
Uma que liga profundamente o indivíduo à natureza, de maneira mais fixa - “sociedades
primitivas” -, e outra de característica mercantilista ligada a um sistema colonial.
Funari (1996) inicia uma nova atmosfera mais ligada à própria ideia dos quilombolas
sobre suas organizações. As estruturas defendiam a população e sua economia. A ideia
econômica ocidental é base permanente desta atmosfera da historiografia e não usufruímos de
muitos textos divergentes na arqueologia.
O universo da praticidade econômica e política na formação dos quilombos invade a
cena de forma mesmo a criar uma atmosfera “primitiva” na constituição dos quilombos, mas
não numa análise simbólica de seus criadores. As armas mais comuns eram arcos, flechas,
lanças e armas de fogo tomadas das expedições punitivas ou compradas (MOURA, 1987: 18-
55). É a atmosfera de uma utopia ocidental. A multiplicação dos quilombos constrói um
espaço social de autonomia política consciente (SANTOS, 1991: 79). As atividades contra os
quilombos eram problemas políticos (MAESTRI, 1979: 72 - 86). O discurso é reproduzido
nos textos arqueológicos (ALLEN, 2006). O trabalho arqueológico é usado para referendar o
discurso (CARVALHO e PORTO, 2007 [2012]).
A Nova Arqueologia desloca a atenção do artefato para os sistemas sócio-culturais
que afirmam tê-los produzido e utilizado (processo cultural). Realiza por indagações sobre
articulações do homem com o meio. Cientificidade é almejada, os métodos hipotético-
dedutivos, a experimentação e a formulação de modelos e leis científicas (MENEZES, 1983),
ou seja, a mítica agora transforma vida em mecânica abstrata.
Já na atmosfera dos arqueólogos antropológicos (HODDER, 1988: 203) há uma
visualização das sociedades conhecidas hoje, com encargos aparentemente antigos, que foram
mantidos por uma (con)tradição interna a própria teoria. Os arqueólogos buscam no material
seus usos e funções, pensando no todo cultural, inferindo a vontade ou não do artesão,
expressa nos traços reconhecidos pelo observador, o qual deveria reconhecer a totalidade dos
componentes para identificar uma ação ou momento do acontecimento histórico.
A Etnoarqueologia, baseada na etnohistória e etnografia, toma assento mítico na
ciência. “A utilização de dados etnográficos na pesquisa arqueológica não é nenhuma
novidade, e sempre houve quem tenha recomendado tal procedimento” (MILLER, 1981: 82-
293). Tom Miller (1981/82) refere que etnoarqueologia se faz com Analogia, em dois níveis:
o primeiro, a “analogia etnográfica”, que seria formalista, e o segundo de uma “abordagem
histórica direta”. A abordagem histórica direta examinaria o “comportamento de grupos
contemporâneos em termos da probabilidade de se poder entender o mesmo comportamento
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
34
diretamente até os períodos pré-históricos” (MILLER, 1981/82: 294). O projeto de pesquisa
arqueológica sobre a República de Palmares, Pedro A. Funari (Unicamp), Charles Orser Jr.
(Illinois State University) e Michael Rowlands (University College London), estudam a
cultura material do afro-americano, pela arqueologia entendendo a existência de uma cultura
africana em liberdade, nos quilombos (FUNARI, 1996). Este trabalho, por relacionar os
conhecimentos dos afro-americanos diretamente envolvidos, realizou uma amplificação na
atmosfera arqueológica de forma inimaginável até então. Há uma aproximação às
generalizações empíricas testáveis, conduzindo à teoria. Remontável da generalização à teoria,
da teoria à implicação testável, e desta ao teste de proposição. Nos assentamentos negros,
considero esta abordagem válida, no sentido de que este grupo foi documentado no passado.
Tal modelo foi viável mesmo com uma documentação etnohistórica e etnográfica que estava
defasada.
O uso da etnografia pela arqueologia gera alguns problemas. A antropologia tende
hoje a se colocar em outro nível de relação com seu objeto de estudo. “A única etnografia da
qual o antropólogo social tem um conhecimento íntimo é a que deriva de sua própria
experiência de vida” (BRANDÃO, 1982: 13). O arqueólogo, que se vale das descrições
antropológicas e de viajantes, interpreta com cautela estas fontes, no sentido de perceber onde
está uma descrição com menor subjetividade e onde a subjetividade do autor impera (é outra
atmosfera a ser estudada).
A arqueologia “pós-processual” (TRIGGER, 1992: 351) realiza uma leitura da
cultura material através da dicotomia entre materialismo e ideologia, pensando variabilidade
na análise do poder; isto se faz por intermédio da cultura material que margeia os grupos,
servindo também para o controle da análise. Busca também verificar a dicotomia entre
processo e estrutura, onde a permanência pode ser observável através de dados reais, mas não
objetivos. Caracteriza-se por um antagonismo entre subjetividade e objetividade do
observador (arqueólogo) na interpretação de dados. Esta não estaria confinada, então, a um
relativismo.
Cabe dizer que no estudo sobre o imaginário “essencialmente motriz e sedimentação
estratigráfica, como num terreno com vestígios arqueológicos separados por camadas
temporais” há uma consolidação do ente humano simbólico. “O homem é homem por
construir imaginários que o impulsionam no processo infindável de humanização. A
superstição é um exemplo de racionalização imaginária” (SILVA, 2008, [2012]: 05).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
35
Considerações finais
O imaginário social estrutura-se principalmente por contágio: aceitação do modelo do outro (lógica tribal), disseminação (igualdade na diferença) e imitação (distinção do todo por difusão de uma parte). No imaginário há sempre desvio. No desvio há potencialidade de canonização. O imaginário explica o “eu” (parte) no “outro” (todo). Mostra como se permanece individual no grupo e grupal na cultura. (SILVA, 2012).
As aspirações à universalidade, “não são mensuráveis, embora perceptíveis”, a mítica
agora é o “que cada cultura engendra para si mesma”. A cultura é “um dado objetivo”. A
atmosfera, o imaginário, são formas abstratas de um concreto vivido. “A objetividade da
cultura diluiu-se nas águas pesadas da atmosfera imaginal”. “O espiritual incide” sobre a
cultura material. “O imaginário toma forma material e deforma o espiritual. Dá-lhe carne e
sangue”. (SILVA, 2008 [2012]: 05).
Atmosfera criada pela própria ciência que é reservatório, um motor que agrega
imagens, segue um trajeto criador da atmosfera que se representa nela como um todo.
Podemos verificar que de uma atmosfera básica eurocêntrica e sem valorizar outras
manifestações, avançou-se para um modelamento da arqueologia brasileira, uma arqueologia
científica. Neste processo, o marxismo foi crucial, mas não rompeu com a mítica do progresso.
A mistura destas diversas atmosferas hoje criou uma arqueologia de quilombos esquizóide,
mas uma nova atmosfera está se constituindo nos estudos de sítios de afro-americanos.
Uma série de mitos constitui este Trajeto (DURAND, 1997); cria-se um mundo de
modelos pré-determinados e segue-se ideologemas de superioridade cultural. A base principal
destes mitos e ideologemas é o evolucionismo. A ciência da cultura material é entendida pelos
seus usos e funções na interlocução com o meio. O materialismo histórico (e com isso uma
aura econômica) toma a frente das ideias e chegamos a uma arqueologia modelada, numa
atmosfera de cientificidade eurocêntrica. Os movimentos sociais (assim como a própria
arqueologia social) bebem dos mesmos ideais marxistas e invadem o campo da ciência. As
lutas políticas tomam assento na atmosfera que se poderia pensar em conflito entre
pesquisadores e comunidade, mas que em realidade falam a mesma língua. Espera-se que
futuramente uma nova aura se instale; a que reconhece a existência de uma cultura africana
nos sítios de negros no Brasil. Resposta é compreender a atmosfera dos seus sujeitos – os
negros.
No texto que produzi (CARLE, 2005), trouxe de Rederam (1973), Unidade
Sociológica desenvolvida por Funari (1988) associada à Arqueologia Histórica (ORSER,
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
36
1992), para o meu estudo dos afro-americanos no Delta do Jacuí e Rio dos Sinos; segui ideias
de Ian Hodder (1988: 179-202), estudando o conteúdo étnico. Apresentei minha Tese como
simbólico-religiosa, mas estava no campo do imaginário e não sabia.
Klaus Hilbert poderia então dizer que se não está no registro arqueológico, não está
na arqueologia, pois só trabalhamos com o que podemos ver e interpretar. O que não pode ser
lido hoje não é passível de ser argumentado. E se não podemos argumentar hoje o que não
vemos, não podemos condenar os arqueólogos do passado pela impossibilidade de terem visto.
O aprendizado anterior, com os professores citados, marca o meu trabalho. Hoje,
consolidada a “colaboração” numa relação entre as ciências da Antropologia, Arqueologia,
História (SCHWARTCZ, 2000: 11), conservação e restauro e museologia. O trabalho que
desenvolvemos no LAMINA (Laboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica),
em conjunto com colegas da museologia (Diego Ribeiro e Pedro Sanches), da Conservação e
Restauro (Jaime Mujica), da Arqueologia (Lúcio Ferreira e Aluísio Gomes Alves), da
Antropologia (Rogério Rosa), entre outros, nos possibilita isso nos estudos de sítios de
negros.
Portanto, nossa civilização ocidental tinha sido muito desmitificante e iconoclasta. O mito era relegado e tolerado como o «um por cento» do pensamento pragmático. Bom, sob nossos olhos, em uma aceleração constante, esta visão do mundo, esta concepção do ser, do real (Wesenschau), está desaparecendo. Não somente mitos eclipsados recobrem os mitos de ontem e fundam o epistema de hoje, mas ainda os sábios na ponta dos saberes da natureza ou do homem tomam consciência da relatividade constitutiva das verdades científicas, e da realidade perene do mito. O mito não é mais um fantasma gratuito que subordinamos ao perceptivo e ao racional. É uma res real, que podemos manipular para o melhor como para o pior. (DURAND, 2004: 20)
Referências bibliográficas ALLEN, Scott J. “As vozes do passado e do presente: arqueologia, política cultural e público na Serra da Barriga”. CLIO – Série Arqueologia. V. 20 (1), (pp. 81-101), 2006. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Diário de campo – antropologia como alegoria. São Paulo: Brasiliense, 1982. CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1962. CARLE, Cláudio B. A organização espacial dos assentamentos de ocupação tradicional de africanos e descendentes no Rio Grande do Sul, nos séculos XVIII e XIX. Tese de doutorado, PUCRS, Porto Alegre, 2005.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
37
CARVALHO, Patricia M. de; PORTO, Vagner C. (Oror). “Arqueologia de Quilombo” Anais do 10º Congresso de Iniciação Científica, 4ª mostra de Pós-Graduação e 1ª Mostra do Ensino Médio. São Paulo: UNISA - Universidade de Santo Amaro. 6 a 8 de Nov. 2007, disponível em http://unisa.br/pesquisa/arquivos/livro_10_congresso.pdf#page=589 acesso em Dez. 2012. CHILDE, Gordon. Introdução à arqueologia. Lisboa: Publ. Europa-América Ltda. (Coleção Saber), 1961. CORSETTI, Berenice. “Estudos da Charqueada Escravista do Rio Grande do Sul” in: História: ensino e pesquisa, ano 1, no 1 , Porto Alegre: APHRGS, Sulina, 1985. DURAND, Gilbert. “O retorno do mito: introdução à mitodologia. Mitos e sociedades”. Revista FAMECOS (quadrimestral) Porto Alegre: PUCRS, nº 23. abril (pp. 7-21), 2004. DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropológicas do Imaginário. São Paulo: Martins Fontes, 1997. FAUSTINO, Gitibá G. “O negro gaúcho e suas origens” In: TRIUMPHO, Vera (Org.) Rio Grande do Sul - Aspectos da Negritude Porto Alegre: Martins Livreiro, (97-103), 1991. FUNARI, Pedro P. A. Arqueologia. São Paulo: Editora Ática, 1988 FUNARI, Pedro P. A.; CARVALHO, Aline; Palmares, Ontem e Hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. FUNARI, Pedro P.A. “A República de Palmares” e a Arqueologia da Serra da Barriga, Revista USP, 28, 6-13, 1996. GOMES, José; MACHADO, Helena, VENTMIGLIA, Marise. Arquipélago: As Ilhas de Porto Alegre, Memórias dos Bairros, Porto Alegre: Unidade Editorial, PMPA, (prelo), 1995. GOMES, Nilma Lino. Apresentação In: SCHWARTZ, Lilia Moritz e GOMES, Nilma Lino Antropologia Histórica. Debate em região de fronteira. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2000. GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 3. ed., Série Ensaios - 29, São Paulo: Ática, 1980. HILBERT, Klaus. “Qual o compromisso social do arqueólogo brasileiro?” Revista de Arqueologia, Sociedade de Arqueologia Brasileira, 19 (pp. 89-101), 2006. HODDER, Ian. Interpretación en arqueologia. Barcelona: Ed Crítica, 1988. HORMEYER, Joseph. O Rio Grande do Sul de 1850 - Descrição do Rio Grande do Sul no Brasil Meridional. Porto Alegre: D.C. Luzzato, EDUNI-SUL, 1986. ISCM - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Negros Cativos e Livres na Irmandade Santa casa de Misericórdia. Porto Alegre: ISCM, CEDOP, 1994.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
38
JACOBUS, André Luiz. Resgate arqueológico e histórico do registro de Viamão: Guarda Velha, Santo Antônio da Patrulha - RS. (Dissertação de mestrado) Porto Alegre: PUCRS, 1996. KERN, Arno Alvarez. “O futuro do passado: os arqueólogos do novo milênio” Trabalhos de antropologia e etnologia. Vol. XLII (1-2), (pp. 115-136), Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 2002. KERN, Arno Alvarez. “O papel das teorias como instrumental heurístico para reconstituição do passado”. Histórica vol. 1, (pp. 7-22), Porto Alegre: APGH-PUCRS, 1996. LAET, Sigfried J. de. “La arqueologia y sus problemas”. Colección labor, Sección VI, Ciencias Historicas, Barcelona: Biblioteca de Iniciación Cultural, Ed Labor, 1960. LIMA, Tânia A. “Arqueologia Histórica: algumas considerações teóricas” In: I Seminários de Arqueologia Histórica. Rio de Janeiro: SPHAN/FNPM, outubro, (pp. 87-99), 1985. MAESTRI, Mário J. “O Escravo Africano no Rio Grande do Sul” In: DACANAL, José H. e GONZAGA, Sergius (org.) RS: Economia e Política. Porto Alegre: Mercado Aberto, (29 - 54), 1979. MAESTRI, Mario J. Depoimentos de Escravos Brasileiros. São Paulo: Ícone Edições, 1988. MAESTRI, Mario J. “O ganhador, o alforriado, o bacalhau”. Veritas, vol. 35, no 140, Porto Alegre: PUCRS, (695 - 705), 1990. MAESTRI, Mario J. “O escravo gaúcho. Resistência e Trabalho” Coleção Tudo é História vol. 93, São Paulo: Brasiliense, 1984. MAESTRI, Mario J. Quilombos e Quilombolas em Terras Gaúchas. Porto Alegre: ESTSLB, Univers. de Caxias, 1979. MAFFESOLI, Michel. “Le sens commun”. In: Société. Revue des Sciences Humaines et Socieles – Paris: Nº 46:387-397, 1994. MENESES, Ulpiano Bezerra de. A Cultura Material no estudo das Sociedades Antigas. Depto de História, FFLCH - USP, São Paulo: s/d. MENEZES, Ulpiano Bezerra de. A “New Archaeology: a arqueologia como ciência social”. Diálogos sobre arqueologia. Terceira série, ano 1, n° 1, 1983. MILLER, Tom O. “Etnoarqueologia: Implicações para o Brasil”. Arquivos do Museu de História Natural. Vol VI/VII, Belo Horizonte: Museu de História Natural, 1981/82. MOREIRA, Paulo R. S. “E a rua não é do Rei - Morcegos e Populares no início do policiamento urbano em Porto Alegre - Século XIX”. In.: HAGEN, Acácia & MOREIRA, Paulo (org.) Sobre a Rua e Outros Lugares - Reinventado Porto Alegre, , Porto Alegre: AHRGS - CEF/RS (51 - 96), 1995. MOTT, Luiz. “Acundá: Raízes Setecentistas do Sincretismo Religioso Afro-brasileiro”. Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. XXXI, USP, São Paulo: (124 - 147) 1986.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
39
MOURA, Clóvis. “Quilombos e Rebelião Negra, 7a ed” Tudo é História - Vol. 12, São Paulo: Brasiliense, 1987. NEME, Salete. “O contacto interétnico entre europeus e sociedades tribais no Rio de Janeiro”. Revista de arqueologia. Vol 5, n°1, Rio de Janeiro: SAB - CNPq, 1988. NERI, Cristina D. e LOPES, Gilian. “Relação Senhor – Escravo”. Veritas, Vol. 33, no 132, Porto Alegre: PUCRS, (533 - 535), 1988. O MENSAGEIRO, Jornal Farroupilha, Porto Alegre, 1835 – 1836. ORSER JR., Charles E. Introdução a arqueologia histórica. Coleção Mínima, Ciências Sociais, Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1992. PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1991. RAHTZ, Philip. Convite a arqueologia. Série Diversos, Rio de Janeiro: Ed. Imago, 1989. REDMAN, Charles L. “Multistage Fieldword and Analitical Techniques”. American Antiquity. Vol 38, no. 1, 1973. RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório: Estudos de antropologia da civilização (2ª reimpressão) São Paulo: Companhia das letras, 2001. SANTOS, Júlio Q. dos. “Reverso na Trajetória Historiográfica do Negro Sul-Rio-Grandense: A Face Oculta da Escravidão”. In: TRIUMPHO, Vera (Org.) Rio Grande do Sul - Aspectos da Negritude Porto Alegre: Martins Livreiro, (131 - 142), 1991. SANTOS, Roberto dos. “O Negro no Rio Grande do Sul : uma Realidade além do Mito”. In: TRIUMPHO, Vera (Org.) Rio Grande do Sul - Aspectos da Negritude. Porto Alegre: Martins Livreiro, (107 - 114), 1991. SANTOS, Roberto dos. “Três pontos de Reflexão sobre o Negro no Brasil”. In: TRIUMPHO, Vera (Org.), Rio Grande do Sul - Aspectos da Negritude. Porto Alegre: Martins Livreiro, (71 - 83) , 1991. SCHMITZ, Pedro Ignácio. “Avaliação e perspectiva”. n° 47, Arqueologia, Ciências Humanas e Sociais - SEPLAN- CNPq, 1982. SCHWARTZ, Lilia Moritz. “Introdução. História e Antropologia: embate em região de fronteira”. In: SCHWARTZ, Lilia Moritz e GOMES, Nilma Lino Antropologia e história. Debate em região de fronteira. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2000. SILVA, Juremir Machado da. Tecnologias do imaginário: esboços para um conceito, Disponível em http://leandromarshall.files.wordpress.com/2008/01/tecnologias-do-imaginc3a1rio1.pdf acesso em agosto de 2012. TRIGGER, Bruce G. História do pensamento arqueológico. Barcelona: Editorial Cítica, 1992.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
40
WATSON, Patty Jo; LE BLANC, Steven A; REDMAN, Charles L. El metodo científico en arqueologia. Madrid: Editora Alianza, 1974. WHEELER, Mortimer. Arqueologia de campo. México: Fondo de Cultura Econômica, 1961.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
41
O PAPEL DA ARQUEOLOGIA NOS CONFLITOS DECORRENTES DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NO SAMBAQUI DA PANAQUATIRA – SÃO JOSÉ
DE RIBAMAR – MA
The role of Archaeology in dispute arising out of occupations of irregular in Panaquatira Shellmound - São José de Ribamar - MA
Arkley Marques Bandeira1
RESUMO Este artigo discorre sobre a gestão dos conflitos decorrentes da invasão do Loteamento Costa Atlântica, onde se situa o Sambaqui do Panaquatira, município de São José de Ribamar, Ilha de São Luís – MA. Em 2008, a Superintendência do IPHAN no Maranhão foi informada sobre a existência de habitações irregulares sobre o Sambaqui da Panaquatira. No processo de investigação, múltiplos atores participaram da negociação em torno da proteção e preservação deste sítio arqueológico, a exemplo dos proprietários do Loteamento, Prefeitura de São José de Ribamar, Advocacia Geral da União, Ministério Púbico Federal, Justiça Federal, Polícia Federal, além do IPHAN – MA. Os desdobramentos resultaram na preservação do sítio arqueológico e o comprometimento da não reocupação da área do Sambaqui, bem como outros avanços. Palavras-chave: Sambaqui da Panaquatira – Conflito – Posseiros ABSTRACT This article discusses the management of conflicts arising from the invasion of Allotment Atlantic Coast, where lies the Sambaqui da Panaquatira, São José de Ribamar, Island of São Luís - MA. In 2008 the Superintendent of IPHAN Maranhão was informed about the existence of irregular housing on the Sambaqui da Panaquatira. In the research process multiple actors participated in the negotiations around the protection and preservation of this archaeological site, like the owners of Allotment, at São Jos de Ribamar, Attorney General's Office, Federal Ministry Pubic, Federal Court, Federal Police, beyond IPHAN - MA. The developments resulted in the preservation of archaeological and commitment not reoccupation Sambaqui area, as well as other advances. Keywords: Panaquatira Shellmound- Conflict - Squatters RESUMEN En este artículo se analiza la gestión de los conflictos derivados de la invasión de la área del Costa Atlántica, donde se encuentra el Concheiro Panaquatira, en São José de Ribamar, Isla São Luís - MA. En 2008 se informó a la Superintendencia de IPHAN Maranhão sobre la existencia de viviendas irregulares en lo Concheiro Panaquatira. En el proceso de investigación múltiples actores participaron en las negociaciones en torno a la protección y conservación de la zona arqueológica, al igual que los propietarios, Subdivisión de la Ciudad de San José de Ribamar, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público Federal, 1 Doutor em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Coordenador da Casa da Memória do Ecomuseu do Sítio do Físico, São Luís – MA. Email: [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
42
Tribunal Federal, la Policía Federal, así como IPHAN - MA. Los acontecimientos dieron lugar a la preservación del patrimonio arqueológico y el compromiso de no volver a ocupar la zona del Concheiro, así como otros avances. Palabras clave: Concheiro del Panaquatira - Conflicto - Ocupantes
Introdução
A inserção de uma arqueologia concebida como uma forma de ação social e política
no presente (TILLEY, 1998) e o reconhecimento de que esta não está livre de seus laços
sociais e políticos e que os arqueólogos sempre trabalharam pressionados por questões
colocadas pela própria conjuntura e sociedade (UCKO, 1995) desmistificou o conceito de
objetividade ou neutralidade científica para a disciplina.
Este artigo partilha dos pressupostos da Arqueologia Pública quando aborda o papel
da gestão de conflitos em torno da preservação do patrimônio arqueológico, tendo em vista a
crescente expansão urbana da Ilha de São Luís - MA em direção à linha costeira o que
ocasionou a ocupação irregular do Sambaqui da Panaquatira.
O sambaqui da Panaquatira foi identificado em 2006 e registrado no Cadastro
Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA – IPHAN (cadastro MA 00113) por Arkley M.
Bandeira em 2009. O sítio foi intensamente investigado entre os anos de 2010 e 2012, cujos
resultados foram apresentados na Tese de Doutorado deste arqueólogo (BANDEIRA, 2013).
No início da pesquisa, foi percebido o aumento gradativo de ocupações no entorno
do sítio arqueológico. Tais ocupações situavam-se na área do Loteamento Costa Atlântica,
cujas habitações eram rapidamente construídas com materiais perecíveis, a exemplo de
madeira, palha e papelão.
Este fato foi comunicado de imediato a Superintendência do IPHAN do Maranhão,
que realizou a primeira vistoria na área em 2008. Constatado o dano eminente ao sítio
arqueológico, foi proposto um grupo de trabalho para acompanhar a situação e propor
alternativas para proteção e preservação do Sambaqui da Panaquatira.
No decurso de cinco anos de atividades relacionadas a este fato, o patrimônio
arqueológico foi apropriado por diferentes atores na condução do processo de implantação do
Loteamento Costa Atlântica e os desdobramentos advindos das ocupações irregulares. Esta
situação colocou frente a frente os legítimos proprietários, os posseiros e as autoridades.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
43
Este artigo narra o desencadeamento dos fatos relacionados com a ocupação irregular
do Sambaqui da Panaquatira e os desdobramentos dos conflitos resultantes, tendo como cerne
a integridade do sítio para o usufruto das atuais e futuras gerações.
A arqueologia do Sambaqui da Panaquatira
O Sambaqui da Panaquatira está localizado no povoado de mesmo nome, na praia da
Ponta Verde, no município de São José de Ribamar, baía de São José, na desembocadura do
rio Itapecuru, em área estuarina, caracterizada por um rico ecossistema de mangue. Este
município, juntamente com São Luís, Raposa e Paço do Lumiar compõe a Ilha de São Luís.
O Sambaqui da Panaquatira apresentou em sua zona central a UTM 23M
0606517/9720231 (Longitude O 44° 2' 31'' e Latitude S 2° 31' 51”), com elevação de 34m
acima do nível do mar. A extensão efetiva da área com ocorrência de material arqueológico,
totalizando 349,80 hectares.
Fig.1 e 2: Inserção geográfica do Sambaqui da Panaquatira, com a demarcação da área de interesse.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
44
Histórico processual do Sambaqui da Panaquatira
Em 22 de setembro de 2008 foi aberto o Processo IPHAN n.º 01494.000464/2008-
30, para vistoriar o Sambaqui da Panaquatira, tendo em vista as denúncias feitas sobre a
existência de habitações irregulares na área do sítio arqueológico, retirada irregular de terra
preta e utilização das conchas para pavimentação de estradas.
A presença de pessoas na área do sítio e seu entorno estava causando impactos
graves ao patrimônio arqueológico, por uma gama de atividades antrópicas: construção de
moradias e colocação de cercas nos terrenos, que causaram impactos aos horizontes
arqueológicos subsuperficiais; extração de terra preta e conchas para jardinagem que
expuseram significativa quantidade de material arqueológico; desmatamentos e queimadas
para plantação de roças que contaminaram o material arqueológico; criação de gado que
pisotearam os vestígios em superfície, bem como a implantação de redes elétricas e estradas
que atraíram posseiros para a região.
A permanência desta situação poderia comprometer a investigação arqueológica que
estava sendo realizada no sítio arqueológico 2 e impactar irreversivelmente o Sambaqui,
inclusive, colocando em risco a integridade dos pesquisadores, que necessitavam diariamente
presenciar os conflitos entre os proprietários e posseiros.
Naquele momento, toda a área do Sambaqui, bem como seu entorno faziam parte do
Loteamento Costa Atlântica, administrado pela Oliveira Empreendimentos Imobiliários, da
Sra. Benedita Conceição Morais e Sr. Paulo Roberto Oliveira, que representavam os
proprietários, Srs. Felíntro Elísio Cutrim e Edmundo Elísio Cutrim.
A vistoria averiguou a procedência das denúncias e constatou os danos causados ao
sítio arqueológico em virtude das ocupações irregulares e a extração de terra preta: “os dados
arqueológicos perdidos pelo processo de separação da terra-preta do material arqueológico
têm prejudicado o avanço de uma pesquisa que tem chamado a atenção da comunidade
científica brasileira” (IT nº 260/2008 DT 3ª SR/IPHAN, 2008: 03).
2 A pesquisa realizada neste sítio é vinculada ao projeto Sambaquis do Maranhão, autorizada pela Portaria IPHAN nº. 16/12, Processo nº 01494.000593/2008-28. Este projeto substituiu o antigo projeto acadêmico Os sambaquis do Bacanga, Panaquatira e Paço do Lumiar na Ilha de São Luís - Maranhão: um estudo acerca da paisagem arqueológica, cultura material, padrão de assentamento e subsistência, vinculado ao Programa de Pós-graduação de Arqueologia, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Os resultados das atividades foram incorporados no doutorado deste autor. A portaria de pesquisa foi publicada no D. O. U. n. 245, em 17/12/2008.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
45
A sugestão do técnico nesta mesma peça foi “o despacho de cópia desta informação
técnica a prefeitura e a câmara dos vereadores de São José de Ribamar, com o objetivo de
ciência do que está acontecendo na área e com uma proposta de busca de uma solução
conjunta...” (IT nº 260/2008 DT 3ª SR/IPHAN, 2008: 04).
Constatado e confirmado o impacto ao sítio arqueológico pelo IPHAN, o passo
seguinte foi conhecer os responsáveis pelas ocupações, tendo em vista a existência de
proprietários e posseiros ocupando lotes no sítio, sem moradores vivendo nas habitações já
construídas.
Esta situação foi dificultada pelo fato do loteamento não ter sido totalmente vendido,
sendo que muitos dos atuais proprietários não tomaram posse dos terrenos e não realizaram o
cercamento de suas áreas, favorecendo a ocupação das mesmas por posseiros.
Na vistoria ficou evidenciada a disputa de terra e o conflito decorrente de interesses
entre os proprietários e posseiros no uso e ocupação dos lotes que estão localizados no
Sambaqui da Panaquatira:
É preciso salientar que a área, uma vez se encontra em disputa, apresenta grandes riscos à preservação do sítio Panaquatira – Itapari devido às tensões em torno do direito ao usufruto dos seus recursos, assim como a continuidade e aceleração das atividades de exploração de terra preta não está descartada (IT nº 07/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 65).
A tentativa de contatar o Sr. Anderson Herbert Soarez, proprietário da área onde se
situa o sítio arqueológico foi frustrada na quarta vistoria realizada pelo IPHAN, no entanto, o
técnico da instituição conseguiu conversar com algumas lideranças dos posseiros. Uma delas
foi a Sra. Joana que confirmou a formação de uma comunidade no local para ocupar a área
(IT nº 08/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 70).
Em 20 de janeiro de 2009 o Gabinete do IPHAN – MA encaminhou o processo ao
Juiz da 1ª Vara da Comarca de São José de Ribamar, o Sr. Marcio Castro Brandão, para que
intercedesse “junto ao proprietário da área em conflito para que a retirada dos invasores e suas
respectivas construções não seja feita com o uso de tratores, uma vez que os mesmos poderão
destruir o sítio arqueológico protegido” (Ofício nº. 19/2009. 3ª SR/IPHAN, 2009: 83).
Aparecem no processo os representantes legais do Loteamento Costa Atlântica, a
Sra. Benedita Conceição Morais e o Sr. Paulo Roberto Oliveira, representantes dos
proprietários, Srs. Felíntro Elísio Cutrim e Edmundo Elísio Cutrim:
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
46
O Sr. Oliveira afirmou a execução da decisão do juiz de expulsão dos invasores da área ocupada na próxima semana, requerendo a participação do IPHAN na determinação de quais áreas não deverão ser atingidas pelas ações dos tratores que derrubarão as estruturas edificadas, assim como a presença do arqueólogo da instituição para acompanhar tudo (IT nº 64/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 85).
Em 27 de fevereiro de 2009 foi realizada reunião de nivelamento com acordo
amigável entre os proprietários do Loteamento Costa Atlântica, IPHAN e este arqueólogo
para a proteção e fiscalização do Sambaqui da Panaquatira, quando da reintegração de posse
dos lotes ocupados irregularmente aos seus devidos donos.
O referido acordo também endossou o entendimento entre os coordenadores do
projeto de pesquisa Sambaquis do Maranhão e os representantes do Loteamento Costa
Atlântica para cessão permanente dos lotes 11, 12, 13 e 14 da quadra 92 para a pesquisa
arqueológica. Em paralelo foi acordada a realização de oficinas de educação patrimonial e
construção de um museu de sítio para expor os vestígios coletados e envolver o público na
preservação do sítio arqueológico com visitas in loco (IT nº 79/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009:
88).
O entendimento entre as partes legítimas no processo foi firmado em Ofício n. 36,
protocolado no IPHAN em 27 de fevereiro de 2009, no qual o procurador legal dos
proprietários, Sr. Carlos Amorim, reserva os referidos lotes para pesquisa arqueológica, em
área de 1.800m2, confirmando que não haverá danos aos mesmos na reintegração de posse, já
que a área será preservada mesmo com implantação do loteamento.
Neste intervalo o Juiz da 1ª Vara da Comarca de São José de Ribamar, Sr. Juiz
Marcio Castro Brandão, fez valer a execução da reintegração de posse em favor dos Srs.
Felíntro Elísio Cutrim e Edmundo Elísio Cutrim, em face aos esbulhos cometidos por um
grupo de posseiros no Loteamento Costa Atlântica, inclusive na área do Sambaqui do
Bacanga (Justiça Estadual, Processo n.1842/08: 2008: 101).
Em 06 de março de 2009 foi realizada a reintegração de posse executada pelo
Comandante do 6º BDPM, Major Alexandre Francisco dos Santos, 1º Tenente Neivando
Ferreira Leite e pelo Comandante da Operação, Capitão José Maria Padro.
Foi acordado entre as partes que as estruturas que estavam sobre o Sambaqui da
Panaquatira não seriam mexidas na reintegração de posse, tendo em vista o agravamento do
impacto. Neste caso, as edificações seriam mantidas para posterior retirada pelos arqueólogos,
quando da retomada das escavações no sítio.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
47
A repercussão da reintegração de posse foi sentida na Imprensa, que noticiou o
conflito entre as partes e abordou pela primeira vez a existência do Sambaqui da Panaquatira
na área em litígio:
Um documento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou que parte do local é um sítio arqueológico, e por isso deve ser preservado. Funcionários do órgão estiveram no início da manhã na ocupação, a fim de demarcar a área onde antes era um cemitério indígena, para que não fosse atingida por máquinas e tratores (JORNAL PEQUENO, 2009).
Interessante pontuar, que apesar do processo n. 1842/08 não mencionar a proteção do
patrimônio arqueológico, a intensa participação do IPHAN – MA e dos coordenadores do
Projeto Sambaquis do Maranhão nas negociações para proteção do Panaquatira surtiram
efeito e o foco foi deslocado da posse versus propriedade legal para a permissão ou não da
ocupação em área do sítio arqueológico:
O advogado dos ocupantes, Pedro Jarbas, afirmou que recorreu da decisão expedida pelo juiz Márcio Castro Brandão e entrou com um pedido na Justiça Federal, no intuito de tentar provar que não apenas uma parte, mas quase toda a área faz parte do sítio arqueológico, e que, portanto, se não pode ser habitada, também não poderá ser comercializada. "Neste momento a decisão mais correta e sensata a fazer é desocupar a área, afinal, isso foi determinado judicialmente. No entanto, no futuro a história pode ser outra, pois hoje eles desocupam a área, mas em outro momento podem retornar, caso a decisão seja favorável a eles", relatou (JORNAL PEQUENO, 2009).
Fig.3 e 4: Edificações sendo demolidas na reintegração de posse na área do Sambaqui. Fotos: Jornal Pequeno, 2009.
Passados seis meses da reintegração de posse, novas ocupações irregulares foram
observadas na área do Loteamento Costa Atlântica, inclusive, com maior intensidade e
organização. Se as primeiras ocupações eram espontâneas e feitas com materiais perecíveis,
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
48
neste segundo momento as edificações eram de alvenaria e estavam espalhadas por uma área
bem maior.
Com vistas a interromper as novas ocupações, uma segunda reintegração de posse foi
autorizada pela Justiça Estadual, conforme Ofício n. 583/2009, do 6º Batalhão Metropolitano
do Governo do Maranhão, em 14 de outubro de 2009. Para tanto foi agendada uma audiência
prévia entre as partes, inclusive o IPHAN – MA e os coordenadores do Projeto Sambaquis do
Maranhão, para compatibilizar a ação policial e a preservação do Sambaqui da Panaquatira.
O resultado da reintegração de posse ficou exposto na narrativa do técnico do
IPHAN que acompanhou a ação:
A área da invasão não afetou os horizontes arqueológicos do Sambaqui da Panaquatira. A propósito, a estrutura mais próxima do referido sítio arqueológico encontra-se a cerca de 500 metros de perímetro. E nem as atividades de execução da liminar da reintegração de posse provocaram qualquer dano ao patrimônio arqueológico nacional. Na oportunidade foi fixada a placa de identificação do sítio arqueológico em questão, como forma de orientar os ocupantes e transeuntes da área (IT nº 351/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 133).
A incompetência da Justiça Estadual em julgar assuntos referentes o patrimônio
arqueológico brasileiro, já que se trata de bem difuso e coletivo da esfera da União demandou
a entrada do Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República, conforme
Ofício nº 406/2010 – ASS/PR/MA, de 12 de maio de 2010:
Tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Administrativo em epígrafe, instaurado com a finalidade de apurar suposta ameaça ao patrimônio ambiental e arqueológico, decorrente de esbulho praticado por uma quadrilha atuante no município de São José de Ribamar, objeto de Ação de Reintegração de Posse n. 1842/2008, que tramita na justiça daquela comarca. Diante do exposto, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão, com base no art. 129, VI, da CF/88, e do art. 8º, II, da Lei Complementar n.º 75/93, requisito a Vossa Senhoria nova vistoria in loco, devendo indicar eventuais responsáveis pela possível degradação do patrimônio arqueológico, bem como adotar as medidas inerentes ao exercício do poder de polícia, no prazo de 20 (vinte) dias (MPF, Procedimento Administrativo nº 1.19.000.000245/2010-90: 2010: 150).
A partir deste documento o processo foi transferido para esfera federal, fato que
desagradou os proprietários do terreno, tendo em vista todo o retrabalho de mobilização e
nova tramitação do julgamento. Além disso, os custos processuais e de reintegração de posse
são bem maiores na esfera federal, do que na estadual.
Em atendimento à solicitação do Procurador da República, Sr. Alexandre Soares, o
IPHAN promoveu novas vistorias e avaliações complementares para avaliar o estado atual das
ocupações em relação à integridade do Sambaqui da Panaquatira: “apesar da expansão da
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
49
notória ocupação da área do condomínio Costa Atlântica, essa não ultrapassou a faixa de
500m de distância do referido sambaqui, não caracterizando dano ao patrimônio nacional” (IT
nº 235/2010 CT/ Sup/MA: 2010: 152).
Devido o contexto apresentado o MPF informou ao IPHAN – MA que os autos do
Procedimento Administrativo nº 1.19.000.000245/2010-90, que tratou dos danos ao Sambaqui
da Panaquatira seria enviado à “4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, para fins de arquivamento, sendo facultado a Vossa Senhoria apresentar razões
contrárias à medida, caso entenda necessário, no prazo de 10 (dez) dias” (MPF – Ofício n.
937/2010 – ASS/PR/MA: 2010: 155).
Quando o IPHAN estava prestes a encerrar as atividades no Sambaqui do
Panaquatira, uma nova denúncia foi feita pela Sra. Alice Silveira Ribeiro, proprietária de lotes
no Condomínio Costa Atlântica e representante da recém-fundada Associação dos
Proprietários de Lotes do Loteamento Costa Atlântica – APROLCAI, conforme Certidão do
MPF, de 06 de julho de 2010.
Neste mesmo período, outro fato agravou o conflito existente na área do Sambaqui
do Panaquatira: um cidadão que fazia a vigilância da área para APROLCAI foi torturado e
brutalmente assassinado na casa de apoio dos proprietários, em área próxima ao sítio
arqueológico.
Diante da situação, o IPHAN – MA novamente se manifestou em favor da proteção e
preservação do sítio, ratificando as conclusões observadas na vistoria feita por este
arqueólogo, que apontou edificações de alvenaria na área do Sambaqui da Panaquatira, o
aumento do número de áreas cercadas, além de ações decorrentes dos moradores na área, a
exemplo de queimadas, plantio, extração de terra preta e a presença de animais pastando.
Fig.5 e 6: Casas de alvenaria e permanência da extração de terra preta. Fotos: Arkley Bandeira, 2011.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
50
Cabe citar que os ocupantes deliberadamente optaram por não ocuparem as áreas
com conchas e cerâmicas para não terem problemas com as autoridades. Provavelmente, os
posseiros foram aconselhados a se manterem sempre em áreas não caracterizadas como sítio
arqueológico, ou seja, sem conchas.
Desdobramentos: avanços e retrocessos
Confirmada a permanência dos danos ao Sambaqui da Panaquatira partiu-se para
proposição de medidas a curto, médio e longo prazo, tendo em vista a proteção, preservação,
pesquisa e socialização deste sítio.
Para tanto, o IPHAN – MA convocou os principais responsáveis pela proteção do
patrimônio arqueológico, bem como os representantes da APROLCAI e este arqueólogo para
uma gestão compartilhada do problema:
Venho pelo presente solicitar as presenças de Vossa Senhoria na sede do IPHAN no dia 05 de janeiro de 2011, às 15 horas, para reunião junto com os representantes da empresa Oliveira Empreendimentos Imobiliários Ltda, Advocacia Geral da União, Procuradoria Federal, Polícia Federal e representantes do IPHAN, com o objetivo de discutir a proteção do sítio arqueológico Sambaqui da Panaquatira (Ofício IPHAN nº. 680/2010 GAB/IPHAN/MA: 2010: 176).
Os desdobramentos da reunião apontaram para uma gestão compartilhada em torno
da proteção, preservação e socialização do Sambaqui da Panaquatira. Neste espaço foi
construída uma agenda, que definiu ações prioritárias para os envolvidos:
IPHAN – MA: gestão de todo o processo e a comunicação entre os parceiros, bem
como o envolvimento da Prefeitura de São José de Ribamar;
Advocacia Geral da União: acompanhamento dos tramites jurídicos no MPF,
representando juridicamente o IPHAN;
Ministério Público Federal: fiscalização das políticas de proteção ao sítio
arqueológico;
Polícia Federal: apoio nas ações de fiscalização e estudos complementares no
Sambaqui;
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar: apoio político e administrativo aos
parceiros no estudo e divulgação do sítio;
Projeto Sambaquis do Maranhão: realização de estudos técnicos para delimitação e
avaliação arqueológica do sítio;
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
51
APROLCAI: mobilização dos proprietários em torno da preservação e proteção do
Sambaqui da Panaquatira.
Além disso, foi acordado que as medidas mais urgentes seriam a delimitação do
Sambaqui da Panaquatira para colocação de uma cerca, sinalização, remoção de todas as
habitações irregulares na área do sítio; vigilância constante e ações de socialização do
patrimônio arqueológico.
Um episódio importante na gestão do Sambaqui da Panaquatira e do patrimônio
arqueológico de São José de Ribamar foi a reunião com o Prefeito do município, Sr. Gil
Cutrim, em 14 de janeiro de 2011, que contou com a presença das principiais autoridades
envolvidas e resultou em uma visita ao sítio arqueológico.
Fig.7 e 8: Autoridades na Prefeitura de São José de Ribamar, em reunião do grupo de trabalho e visitação ao Sambaqui da Panaquatira. Fotos: ASSCOM PMSJR, 2011.
Nesta reunião ficou firmada a delimitação da área do Sambaqui da Panaquatira para
colocação de uma cerca e a construção de um museu em São José de Ribamar para socializar
o conhecimento produzido na região e para guarda do acervo arqueológico no próprio
município:
Kátia Bogéa informou que uma das primeiras medidas a serem adotadas será delimitar toda a área do sítio arqueológico. A superintendente do IPHAN disse acreditar que, em função da riqueza história encontrada no local, o governo federal não medirá esforços para financiar a construção do Museu (ASSCOM PMSJR: 2011: 1).
Em 07 de fevereiro de 2011 foi protocolado no IPHAN o relatório com o
Levantamento Topográfico e da delimitação da área para colocação de cerca e o Laudo do
estado de conservação do Sambaqui da Panaquatira, São José de Ribamar – MA, de autoria
do Geógrafo Bernardo Costa Ferreira e do Arqueólogo Arkley Marques Bandeira,
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
52
respectivamente. Esta ação foi voluntária e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de
São José de Ribamar.
Fig. 9, 10 e 11: Atividade de delimitação do Sambaqui da Panaquatira, com a definição da área a ser cercada. Fotos: Arkley Bandeira, 2011.
Sobre o museu a ser construído foi informado que:
A ideia de construir o Museu da Arqueologia em São José de Ribamar nasceu devido ao fato do município abrigar um importante sítio arqueológico, localizado no polo turístico de Panaquatira. O sítio arqueológico Sambaqui de Panaquatira começou a ser estudado na década de 60 pelo arqueólogo paraense Mário Simões. Mas foi através de estudos recentes realizados pelo arqueólogo Arkley Bandeira que foram descobertos vestígios de um povo que habitou o lugar a, pelo menos, seis mil anos Antes de Cristo. Tudo indica que os habitantes formavam uma comunidade organizada de pescadores. A riqueza história deste local é muito vasta. O Museu, além de todo material que ainda está sendo descoberto no Sambaqui Panaquatira, também abrigará peças de outros sítios arqueológicos da Grande Ilha, por exemplo”, explicou Bandeira(ASSCOM PMSJR: 2011: 1).
Em 16 de fevereiro de 2011, a Polícia Federal abriu inquérito policial para apurar
possível crime ambiental no Sítio Arqueológico Panaquatira e solicitou ao IPHAN – MA
informações acerca dos possíveis responsáveis pelos danos ao patrimônio arqueológico
(Ofício n.º 35/2011 GAB/DEPOM/DREX/SR/DPF/MA: 2011: 191).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
53
Fig. 12 e 13: Fiscalização da Polícia Federal no Sambaqui da Panaquatira, com cobertura da imprensa. Fotos: Arkley Bandeira, 2011.
Por sua parte, a APROLCAI realizou em 17 de abril de 2011 um mutirão de ações
para preparação da terceira reintegração de posse e ocupação imediata dos lotes pelos seus
proprietários de direito. Na ocasião foi aberto um espaço para o IPHAN e este arqueólogo
realizarem esclarecimentos sobre a importância do Sambaqui da Panaquatira e as
responsabilidades dos moradores legais para com a sua proteção e preservação (Ofício
APROLCAI n.º 5/2011).
Diante dos fatos apresentados o MPF instaurou Inquérito Civil Público a pedido do
IPHAN – MA para apurar os novos riscos ocorrentes ao Sambaqui da Panaquatira, tendo em
vista a permanência das ocupações irregulares na área deste sítio, inclusive com adensamento
populacional e aumento do trânsito de pessoas na área de interesse cultural. Para tanto,
solicitou esclarecimentos acerca da suficiência das medidas de proteção adotadas (Ofício
n.º689/2011 – ASS/MP/MA: 2011: 239).
Em cumprimento ao acordo firmado entre os envolvidos com a gestão do Sambaqui
da Panaquatira, o IPHAN contratou a empresa Ferreira Junior Engenharia Ltda para
realização da cerca do Sambaqui. Em 16 de novembro de 2011 iniciaram-se as obras de
construção da cerca para o perímetro delimitado pela topografia.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
54
Fig. 14, 15 e 16: Cerca do Sambaqui da Panaquatira e placa de sinalização do sítio. Fotos: Arkley Bandeira, 2012.
Em 09 de janeiro de 2012, a Procuradoria Federal solicitou o ingresso do IPHAN na
relação processual, como assistente dos autores, tendo em vista a existência do Sambaqui da
Panaquatira. Por se tratar de matéria de interesse federal, já que o patrimônio arqueológico é
tratado na esfera da União e sendo competência do IPHAN zelar pela proteção e preservação
do patrimônio arqueológico, o interesse da Autarquia estaria justificado. A partir deste
momento todo o processo passou a tramitar na esfera federal (PARECER PF/IPHAN/MA n.º
3/2012: 2012: 271).
Para tanto, foram realizadas Notificações Extrajudiciais em 05 de janeiro de 20123,
para os posseiros que possuíam propriedades na área cercada, pois uma nova reintegração de
posse foi solicitada pelos proprietários, desta vez tramitando na 8ª Vara da Justiça Federal do
Maranhão, conforme Processo n.º 18192 – 85.2011.04.01.3700 (Ofício n.º203/2012/8ª
VARA/SECVA/JF/MA: 2012: 285).
3 Assinaram as notificações extrajudiciais a Sra. Zilmar Silva e o Sr. Raimundo Lion Meireles, ambos com edificações na área do Sambaqui da Panaquatira. O Sr. Biné, apontado pelos ocupantes como o responsável pelas invasões também foi notificado, apesar de sua propriedade situar-se na área externa ao perímetro cercado. Ele recusou assinar o documento.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
55
Fig. 17 e 18: Entrega das notificações extrajudiciais para os posseiros em área do Sambaqui. Fotos: Arkley Bandeira, 2012.
Tendo em vista a solicitação do Sr. Juiz da 8ª Vara para delimitação da área a ser
desocupada é fato que algumas porções do sítio ficaram de fora da cerca, por se tratarem de
porções descontínuas do Sambaqui da Panaquatira.
Esta situação foi notificada ao IPHAN e em 17 de abril de 2012 solicitou a este
arqueólogo um Parecer Especializado, com base nos estudos que vêm sendo realizados no
Sambaqui da Panaquatira, que seja suficiente para proteção deste sítio (Ofício n.º 208/2012
GAB/IPHAN/MA: 2012: 291).
Tendo em vista a ampliação da área a ser protegida no sítio arqueológico para além
do perímetro cercado, uma nova rodada de estudo foi solicitada à Justiça Federal para tratar
dos casos onde o Sambaqui da Panaquatira localiza-se em área dos proprietários legalmente
constituídos e onde o sítio está inacessível pela existência de muros e cercas.
O último documento anexado ao processo foi o Memorando da Procuradoria Federal
do IPHAN, emitido em 04 de setembro de 2012, que tratou da Ação da Reintegração de
Posse, solicitando a manifestação da Autarquia, enquanto os autores do processo se
manifestassem em relação aos documentos solicitados pelo Juiz da 8ª Vara da Justiça Federal
(Memorando n. 113/2012 – Procuradoria Federal/MA/IPHAN: 2012: 306).
Com relação às ações de socialização propostas pelo IPHAN – MA, foi realizado um
grande evento para divulgar ao público local e regional a importância da proteção,
preservação, conhecimento e divulgação do patrimônio arqueológico, em especial o
maranhense. A estratégia foi aliar todos os atores envolvidos com a pesquisa arqueológica na
organização do Seminário Nacional Arqueologia e Sociedade: construindo diálogos e
parcerias para preservação do patrimônio arqueológico do Maranhão.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
56
O evento aconteceu entre os dias 17 e 20 de agosto de 2011, no auditório central da
Universidade Federal do Maranhão e reuniu mais de 400 participantes de distintas regiões do
país e do exterior.
Fig.19 e 20: Mesas Redondas para discutir a produção da arqueologia maranhense sobre a ótica interdisciplinar, com ênfase no projeto acadêmico Sambaquis do Maranhão. Foto: IPHAN, 2011.
Além disso, foi organizada no local do evento a Exposição Maranhão Arqueológico,
que contou com mais de 850 visitantes nos três dias de funcionamento.
Fig.21: Exposição Maranhão arqueológico antes da abertura oficial. Foto: IPHAN, 2011.
Fig.22: Visitantes apreciam a Exposição Maranhão. Foto: IPHAN, 2011.
Os desdobramentos do Seminário refletiram-se na divulgação do patrimônio pelo
Departamento de Jornalismo da TV Mirante, afiliada da Rede Globo, que produziu a série de
reportagem Arqueologia: marcas do passado, veiculada entre 16 e 20 de agosto de 2011, nas
duas edições diárias do JM TV, enfocando o patrimônio arqueológico maranhense.
Considerações finais
Este artigo sintetizou com brevidade o histórico processual surgido de denúncias de
destruição e delapidação do Sambaqui da Panaquatira por ocupações irregulares e extração de
terra preta e concha.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
57
O desenrolar do processo envolveu múltiplos atores, com interesses e anseios
diferenciados, mas que se uniram em torno da preservação deste sítio arqueológico. Ao longo
de mais de cinco anos de processo todos os entes da administração pública brasileira, foram
envolvidos direta ou indiretamente na gestão dos conflitos decorrentes, primeiramente entre
os proprietários e posseiros; e da competência jurídica para julgar o processo: esfera estadual
ou federal.
Além disso, alguns órgãos que inicialmente acompanharam timidamente o desenrolar
dos fatos, em algum momento se fizeram presentes na luta pela proteção e preservação do
Sambaqui da Panaquatira.
Não é exagero afirmar que apesar de parcela significativa do Sambaqui ter sido
afetada por atividades antrópicas, muitos avanços foram alcançados, tendo em vista a ação
coordenada para uma gestão compartilhada para a proteção, preservação, pesquisa e
socialização do bem cultural.
O primeiro avanço foi o envolvimento de distintas esferas do poder no processo do
Sambaqui da Panaquatira, situação que reacendeu o pacto pela gestão compartilhada dos
conflitos na sociedade presente e chamou a atenção para a situação do patrimônio
arqueológico maranhense.
Outro avanço se deu com a mobilização tanto dos proprietários, como dos posseiros,
em torno da preservação e proteção do Sambaqui da Panaquatira. Esta ação relativamente
simples evitou que novas edificações fossem construídas na área do sítio delimitada para
proteção e preservação.
Em relação à produção e socialização do conhecimento, as pesquisas arqueológicas
no Sambaqui do Panaquatira resultaram em duas teses de doutorado já defendidas e uma
terceira em etapa de conclusão4.
No aspecto de divulgação, o Seminário Nacional Arqueologia e Sociedade:
construindo diálogos e parcerias para preservação do patrimônio arqueológico do
Maranhão e toda a programação do evento colocou a Arqueologia Maranhense no mapa da
pesquisa científica do Brasil, apontando as potencialidades e desafios na proteção,
preservação, pesquisa e socialização do patrimônio cultural regional.
4 Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: inserção dos sítios arqueológicos na paisagem, cronologia e cultura material cerâmica, de autoria de Arkley Marques Bandeira; e Bacanga, Panaquatira e Paço do Lumiar: estudo das indústrias líticas presentes em sambaquis na Ilha de São Luís, Maranhão, por cadeias operatórias e sistema tecnológico, de autoria de Abrahão Sanderson Nunes F. da Silva, defendidas no PPG – MAE – USP. A tese em finalização é de autoria de Renato Akio Ikeoka, com o título Análise de cerâmicas arqueológicas do Sambaqui do Bacanga e Panaquatira (MA) por EDXRF Portátil, a ser defendida no Laboratório de Física da Universidade Estadual de Londrina.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
58
Para não falar apenas dos aspectos positivos, muitas ações se perderam pelo caminho
e necessitam de mais atenção para o seu fortalecimento, é o caso do Museu de Arqueologia de
São José de Ribamar. A permanência da mesma estrutura governativa permitirá que nova
rodada de negociação foque o tema da socialização do patrimônio arqueológico no próprio
município e a responsabilidade da municipalidade em conduzir este processo.
Outro ponto a ser enfrentado é a vigilância da área cercada pela polícia. Apesar das
constantes vistorias feitas pelo IPHAN e os participantes do Projeto Sambaquis do Maranhão
terem constatado que a área cercada permanece íntegra e sem ocupação, que a sinalização e a
cerca não foram depredadas, faz-se necessária ações periódicas de monitoramento da área.
O caso apresentado é um exemplo típico do papel político e social da arqueologia no
enfrentamento das agendas mais atuais da contemporaneidade. O papel da disciplina na
condução do processo e como aliada dos agentes de preservação e proteção do bem
arqueológico se desdobrou em ações até então inexistentes para o Estado do Maranhão.
O comprometimento da arqueologia resultou no fortalecimento dos laços
institucionais em torno do patrimônio cultural, através da ação participativa de distintas vozes.
Os fatos narrados neste artigo não estão encerrados. No fluxo e refluxo das ações
institucionais e civis, muitos avanços estão por vir e a arqueologia tem o seu papel de
fomentadora desses processos, pois como bem lembra Tilley, uma arqueologia apolítica é um
mito acadêmico perigoso. Toda arqueologia é política (TILLEY, 1998).
Referências bibliográficas ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO CONSTA ATLÂNTICA - APROLCAI. Ofício APROLCAI n.º 5/2011. BANDEIRA, Arkley Marques. Laudo do estado de conservação do Sambaqui da Panaquatira, São José de Ribamar – MA. São Luís, 2011. ____________. Ocupações humanas pré-coloniais na Ilha de São Luís – MA: inserção dos sítios arqueológicos na paisagem, cronologia e cultura material cerâmica. Tese de Doutorado. 2013. Tese. Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. FERREIRA. Bernardo Costa. Levantamento Topográfico e de delimitação da área do Sambaqui da Panaquatira para colocação de cerca. São Luís, 2011. IPHAN. IT nº 260/2008 DT 3ª SR/IPHAN, 2008: 03. _______. IT nº 05/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 57. _______. IT nº 07/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 65.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
59
_______. IT nº 08/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 70. _______. Ofício nº. 19/2009. 3ª SR/IPHAN, 2009: 83. _______. IT nº 64/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 85. _______. IT nº 79/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 88. _______. IT nº 96/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 118. _______. IT nº 351/2009 DT/IPHAN/3ª SR, 2009: 133. _______. IT nº 235/2010 CT/ Sup/MA: 2010: 152. _______. Ofício IPHAN nº. 680/2010 GAB/IPHAN/MA: 2010: 176. _______. Ofícios 177 e 178/2011/GAB/IPHAN/MA: 2011: 220. _______. Ofício n.º 208/2012 GAB/IPHAN/MA: 2012: 291. _______. PARECER PF/IPHAN/MA n.º 3/2012: 2012: 271. _______. Memorando n. 113/2012 – Procuradoria Federal/MA/IPHAN: 2012: 306. JORNAL PEQUENO, São Luís, Edição. Online, 2009. JUSTIÇA FEDERAL. Ofício n.º203/2012/8ª VARA/SECVA/JF/MA: 2012: 285. _______. Ofício n.º203/2012/8ª VARA/SECVA/JF/MA: 2012: 289/290). MARANHÃO. Justiça Estadual do Maranhão, Processo n.1842/08: 2008: 101. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ofício nº 406/2010 – ASS/PR/MA, 2010. ________. Ofício n. 937/2010 – ASS/PR/MA: 2010: 155. ________. Ofício n.º689/2011 – ASS/MP/MA: 2011: 239. POLÍCIA FEDERAL. Ofício n.º 35/2011 GAB/DEPOM/DREX/SR/DPF/MA: 2011: 191. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. ASSCOM PMSJR: 2011: 1. SANDERSON, Abrahão Nunes F. da Silva. Bacanga, Panaquatira e Paço do Lumiar: estudo das indústrias líticas presentes em sambaquis na Ilha de São Luís, Maranhão, por cadeias operatórias e sistema tecnológico. Tese. Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. TILLEY, Christopher. “Archaeology as socio-political action in the present” In: Reader in Archaeology post-processual e cognitive approaches. David S. Whitley. New York e London: Routledge, 1998, p. 305-330.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
60
UCKO, Peter (ed.).Theory in Archaeology a world perspective. New York e London: TAG Routledge, 1995.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
61
“TRÁFICO” DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO, TURISMO E COMUNIDADES RIBEIRINHAS: EXPERIÊNCIAS DE UMA ARQUEOLOGIA PARTICIPATIVA EM
PARINTINS, AMAZONAS
"Traffic” of Archaeological Materials, Tourism and Riverine Communities: Participatory Archaeology Experiences in Parintins, Amazonas State, Brazil
Helena Pinto Lima1
Bruno Marcos Moraes2 Maria Tereza Vieira Parente3
RESUMO O presente artigo formaliza uma discussão iniciada durante o I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO PAN-AMAZÔNICO, levado a cabo na cidade de Manaus/AM, novembro de 2007. Nessa importante ocasião foram discutidos e delineados os parâmetros para a gestão do patrimônio arqueológico amazônico. O tema deste artigo foi tratado na mesa “tráfico de material arqueológico”. Apresentaremos um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com a Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Amazonas, que se mostrou uma experiência bem sucedida, e que pode ser utilizada para se (re)pensar as dezenas de situações semelhantes que ocorrem no interior da Amazônia e quiçá, em outras localidades do país. Palavras chave: Tráfico de bens arqueológicos, Turismo, Arqueologia Participativa. ABSTRACT This paper formalizes a discussion started during the I INTERNATIONAL SEMINAR ON MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE PAN-AMAZON, carried out in the city of Manaus, Amazonas, in November 2007. On this important occasion were discussed and outlined the parameters for the management of the archaeological heritage of the Amazon. The theme of this article was treated on the table "trafficking in archaeological material”. We will present a research project developed in partnership with the State Superintendent of the Institute of Historical and Artistic Heritage (IPHAN) in Amazonas, which proved a successful experiment, which can be used to (re)consider the dozens of similar situations occurring in the Amazon region and perhaps in other parts of the country. Keywords: Trafficking of archaeological, Tourism, Archaeology Participatory.
RESUMEN 1 Museu Paraense Emílio Goeldi Av. Perimetral 1901, Terra Firme Belém/PA. Cep: 66070-530 [email protected] 2 PPG-Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônica/Universidade Federal do Amazonas [email protected] 3 Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (mestrado inconcluso) [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
62
En este trabajo se formaliza una discusión iniciada durante el I Seminario Internacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico PAN AMAZÓNICO, llevado a cabo en la ciudad de Manaus /AM, noviembre de 2007. En esta importante ocasión se discutieron y expusieron los parámetros para la gestión del patrimonio arqueológico del Amazonas. El tema de este artículo se trató en la mesa "tráfico de material arqueológico". En este artículo se presenta un proyecto de investigación desarrollado en colaboración con la Superintendencia Estatal del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) en Amazonas, que resultó ser una experiencia exitosa, y que puede ser utilizado para (re)pensar en las muchas de situaciones similares que se producen en el Amazonas y tal vez en otras partes del país. Palabras clave: Tráfico de arqueológico, Turismo, Arqueología Participativa.
1. Introdução: o Projeto Baixo Amazonas
Este artigo visa apresentar as ações, resultados e reflexões oriundas das pesquisas
arqueológicas empreendidas entre os anos de 2004 e 2008 no município de Parintins/AM, sob
a égide do Projeto Baixo Amazonas. A região representa um campo reconhecidamente fértil
para estudos arqueológicos ao suscitar questões científicas de relevância para o entendimento
da ocupação humana na Amazônia, bem como para a construção de uma história – e pré-
história – em âmbito local e regional. Além disso, trabalhos educativos desenvolvidos junto
às pesquisas arqueológicas em muito têm contribuído para uma reconfiguração dos debates e
ações a esse respeito.
Sabe-se que vários foram os grupos indígenas que habitaram a região, e o resultado
dessas ocupações é visível através da presença de inúmeros sítios arqueológicos encontrados
por todo o município, a maioria deles localizados na zona rural, sob as comunidades que hoje
os habitam. O próprio nome que leva o município de Parintins se dá em função de um dos
grupos indígenas que ocupou a área, os Parintins ou Parintintins (SANT’ANNA NERY,
1899:229).
Parintins ocupa uma região estratégica em termos de comunicação e recursos.
Observada de uma perspectiva geográfica macro-regional, ali há a confluência de uma série
de rios de importância regional de médio e grande porte, tal como o Trombetas, Nhamundá,
Paraná do Ramos e o Andirá. Trata-se de uma intrincada rede aquática de rios, lagos e furos,
que intercomunicam os corpos d’água mais robustos. Situada à ilha de Tupinambarana, na
margem direita do rio Amazonas, e ocupando um planalto escarpado, a cidade de Parintins é
sede do município mais a leste do atual Estado do Amazonas, fazendo divisa com o estado do
Pará (figura 1). Outra menção importante é a toponímia da ilha, local onde Pedro Teixeira
deparou-se com grupos Tupinambás, em meados do séc. XVII (UGARTE 2010).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
63
Fig.1: Mapa de localização do município de Parintins, Amazonas.
Nas últimas décadas, o reconhecimento nacional e internacional da riqueza natural,
cultural e arqueológica do município de Parintins tem levado a um forte crescimento do
turismo na região. No entanto, este rápido e desordenado crescimento, aliado ao considerável
hiato existente entre a legislação brasileira quanto ao patrimônio arqueológico e a sociedade,
levou Parintins a se tornar foco de preocupação com a evasão de peças arqueológicas, o que
tem gerado sérias preocupações quanto a esse patrimônio.
O Projeto Baixo Amazonas surgiu como uma iniciativa conjunta entre IPHAN –
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e PAC – Projeto Amazônia Central
(MAE-USP), tendo inicialmente o objetivo geral de empreender levantamentos arqueológicos
com vistas à localização, georeferenciamento e cadastramento de sítios e coleções
arqueológicas em doze municípios do médio e baixo Amazonas4, no Estado do Amazonas.
Estes trabalhos resultaram em uma avaliação dos sítios arqueológicos e do potencial científico
das áreas visitadas, apontando sugestões e medidas a serem tomadas pelo IPHAN em curto,
4 O trabalho teve um caráter de diagnóstico preliminar nos municípios de Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Silves, Itacoatiara e Manaus.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
64
médio e longo prazo (LIMA e SILVA, 2005). No município de Parintins foram identificados
cinco sítios arqueológicos, descritos no mesmo texto (idem, p. 26-38).
Em função de frequentes denúncias encaminhadas ao IPHAN que colocavam a
comercialização de peças arqueológicas como maior causa de sua crescente evasão, o PBA
intensificou as ações em Parintins para melhor entender e lidar com essa situação. Para isso,
inicialmente, empreendemos um levantamento arqueológico na área do município e
procuramos fomentar o interesse local acerca da arqueologia e das questões patrimoniais a ela
associadas, dialogando com diversas clivagens da população local (professores, alunos,
trabalhadores rurais, comunidade acadêmica etc). Como continuidade do mesmo Projeto
Baixo Amazonas, as ações arqueológicas em Parintins se concentraram no sítio Santa Rita
(AM-PT-01), que foi intensamente pesquisado entre os anos de 2007 e 2008 através de uma
etapa de delimitação e escavação.
Simultaneamente, foi elaborado e executado um programa de Educação Patrimonial
cujas ações centraram-se na rede de comunidades associada à sede Santa Rita. Seu objetivo
principal foi promover a preservação do patrimônio arqueológico e dos processos
socioculturais de produção da diversidade no presente. Assim, trabalharemos com dois eixos
principais: (a) o das usuais preocupações com a garantia de que as potenciais histórias e
diversidades condensadas nos estratos arqueológicos sejam interpretadas cientificamente e de
que sua divulgação seja efetiva e (b) o dos conhecimentos e práticas locais que embasam
outras teorias e orientam outras posturas frente ao registro arqueológico, utilizando como via
de acesso as relações que os moradores das comunidades estabelecem entre si e com seu
ambiente natural e cultural a partir dos artefatos arqueológicos.
Vale ressaltar que a incorporação da problemática da educação às pesquisas em
arqueologia encontra espaço privilegiado no centro do atual contexto de valorização da
diversidade. Afinal é através dela que diferentes estratégias vêm sendo elaboradas para
reverter os graus de destruição dos sítios arqueológicos e promover a valorização da
diversidade sociocultural, bem como fortalecer laços de cidadania e relações de pertencimento.
É certo que tal movimento vem se desdobrando através de processos que dialogam – e por
vezes se sobrepõem – como por conta de movimentos próprios à disciplina (arqueologia
pública), por insumos promovidos pela legislação (educação patrimonial) ou, até mesmo, por
seu diálogo com outros campos do saber (musealização da arqueologia) e do mercado
(turismo, desenvolvimento local, licenciamento ambiental etc.). Nesse sentido, como
apontado por Carneiro, o tema da “arqueologia pública” no Brasil geralmente mescla distintos
“referenciais teóricos e metodológicos, uma vez que o movimento de aproximação do
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
65
patrimônio arqueológico junto à sociedade iniciou-se no âmbito de outros campos do
conhecimento, como a museologia e a educação patrimonial” (Carneiro, 2008) – quadro que
tem avançado com a publicação de diversos trabalhos acadêmicos5.
Já no que se refere à educação patrimonial, se há algum tempo tratava-se
fundamentalmente de ações realizadas no âmbito dos museus e mais restritas aos sítios e
monumentos do período colonial (SCHAANS, 2007), nos últimos tempos, temos assistido a
um crescimento de experiências educacionais que partem da diversidade de fontes
patrimoniais para estimular públicos a se apropriarem de referências históricas como forma
de valorização de sua herança cultural6.
A esse respeito, como observado por Bruno, é importante destacar “que a legislação
ambiental, em franco desenvolvimento nos últimos anos, contribuiu de forma expressiva para
a valorização da pesquisa arqueológica, impulsionando, inclusive, o desdobramento da
legislação patrimonial, com vistas ao fortalecimento da ação educativa e do tratamento
curatorial dos acervos” (BRUNO, 2005: 239). Em termos mais concretos, é preciso lembrar
que o principal marco legislativo que impulsionou o deslocamento e o crescimento em
questão foi a Portaria nº 230 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN, 2002) que trata da divulgação do conhecimento científico produzido e da
implementação de atividades de educação patrimonial no contexto de processos de
licenciamento ambiental (CADARELLI, 2007; SCHAAN, 2007; LIMA, 2007; MENESES,
2007; BRUNO, 2005).
2. A Área de Estudo: a Comunidade Santa Rita e a Região da Valéria
A Comunidade de Santa Rita de Cássia está situada na margem direita do rio
Amazonas, na região localmente conhecida como Serra da Valéria, a cerca de 50 km a leste
da sede do município de Parintins. Constitui-se como a maior comunidade da região, que
engloba ainda outras comunidades menores, ou “colônias”, como Samaria, Bete Semes, São
Paulo e Betel (Figura 2). É a única comunidade que permite acesso por via terrestre a partir da
Balsa Vila Amazônia-Parintins, numa estrada com 59km de extensão. Por esta razão, Santa
5 Publicações de artigos na Revista Arqueologia Pública (UNICAMP), Revista do MAE, Revista do Emílio
Goeldi, e as produções acadêmicas de Márcia Bezerra de Almeida, (2003), Tatiana Costa Fernandes (2008) e Carla Gibertoni Carneiro são alguns exemplos de como as produções que dizem respeito às relações entre arqueologia e educação encontram-se em franco crescimento. 6 Os debates acerca da pertinência em desenvolver ações voltadas para o uso do “patrimônio como fonte primária de conhecimento” (Horta et al. 1999), com vistas à preservação dos ‘bens culturais’ foram trazidas para o Brasil da Inglaterra em meados da década de 1980.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
66
Rita tornou-se um polo local, sendo a maior comunidade e a que concentra bens e serviços
municipais, como é o caso da escola municipal Marcelino Henrique, que aglutina estudantes
de todas as outras comunidades, e do antigo posto de saúde, hoje desativado.
Santa Rita possui setenta e cinco famílias que habitam casas de madeira, em sua
maioria, e alvenaria. Ruas, becos, caminhos e espaços públicos compõem a trafegabilidade no
local, que possui, além da escola de ensino infantil, fundamental e médio tecnológico, água
encanada, energia elétrica, dois postos de atendimento do INCRA, um em saúde e outro para
trabalhos diversos, desativados desde as suas instalações. Tem-se ainda a Sede Social, Igreja,
Campo de Futebol, Cemitério e telefone comunitário (COSTA, 2010: 47).
A Comunidade reúne aspectos sociais, econômicos e culturais peculiares às
ocupações ribeirinhas, como a agricultura familiar tradicional realizada sobre terra preta de
índio (COSTA, 2010: 31). A agricultura é uma importante atividade econômica, seja através
dos subprodutos da mandioca que são comercializados da Feira do Produtor Rural de
Parintins, e também dos chamados quintais produtivos, caracterizados por uma elevada
diversidade de espécies, majoritariamente frutíferas (idem: 53-54). Os moradores dessas
localidades vivem ainda da pesca e caça, bem como de uma atividade pecuarista em
crescimento. A produção de artesanato nos últimos anos tem-se intensificado entre os
moradores, principalmente com intensa atividade turística desenvolvida no local.
A Comunidade Santa Rita de Cássia de Valeria situa-se no topo aplainado de uma
península banhada pelo lago de Valéria, sobre um sítio arqueológico de grandes proporções.
O sítio arqueológico que ali se situa foi inicialmente cadastrado como AM-PT-01 (SIMÕES e
ARAÚJO-COSTA, 1978), e se caracteriza, em primeiro plano, pela matriz de solo formada
pela Terra Preta de Índio – neossolo com alta densidade de material orgânico e outros
elementos que a torna especialmente apropriada ao uso agrícola – resultante da ação humana
no passado. Muito comuns na Amazônia, locais com este tipo de solo foram e são
constantemente preferenciais para habitação e estabelecimento de roçados. Desta forma, as
comunidades ribeirinhas estão, via de regra, assentadas sobre sítios arqueológicos.
Característica igualmente marcante do sítio arqueológico Santa Rita é sua elevada
densidade de cerâmicas. Milhares de fragmentos, bem como muitos vasos inteiros, afloram na
superfície da comunidade após cada chuva, seja nos quintais das casas, seja nas vias públicas.
Assim sendo, a arqueologia está presente de maneira muito marcante no cotidiano dessas
pessoas, que, à sua maneira, sempre deram significação a esses objetos.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
67
Fig.2: Mapa localizando as comunidades presentes no Lago da Valéria, município de Parintins/AM.
2.1. O Turismo na Região da Valéria
A chamada Serra de Parintins, onde se localiza o lago da Valéria, se situa na fronteira
do estado do Pará e é circundada por uma densa vegetação rica em flora e fauna indicando o
lugar como o portal turístico da localidade. Em razão de seu elevado potencial paisagístico
natural e cultural, Valéria acabou por tornar-se alvo de intensa atividade turística
extremamente predatória e desordenada.
Esse turismo tem dois públicos principais. Por um lado, a própria cidade de Parintins
é referência no âmbito do turismo nacional e internacional. O famoso Festival do Boi de
Parintins atrai milhares de pessoas para o município anualmente, que acabam por chegar às
comunidades interioranas. No entanto, estes locais têm pouca ou nenhuma estrutura para
atender tão intensa demanda.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
68
Por outro lado, a região de Valéria especificamente é um forte chamariz de outro tipo
de turismo, igualmente predatório. Trata-se dos luxuosos cruzeiros internacionais que em
acordo com instituições locais (como a Secretaria do Turismo) viajam regularmente pelo rio
Amazonas para contemplar seus preciosos – e exóticos a estes olhos – encantos naturais e
culturais. Em muitos casos, eles nem chegam à sede municipal, atendo-se a uma rápida
observação dos modos de vida do caboclo amazônico e seu ambiente.
A intrínseca relação que as comunidades de Valéria desenvolveram com o turismo
internacional é expressa, por exemplo, pela iniciativa local de criação de espaços para difundir
a cultura e os costumes locais, onde encontram-se locais de venda de artesanato e onde são
expostas algumas das peças arqueológicas. Portanto, além do artesanato local, geralmente
feito com madeiras, sementes, penas e outros produtos da floresta, estes turistas também
acabam entrando em contato com as peças arqueológicas. A esse respeito não são raros os
relatos de que turistas os levem como “lembrança de Valéria” ou que os comprem de
comunitários. Segundo relatos de alguns comunitários, essa comercialização de peças ocorreu
pelo menos durante os últimos 35 anos.
Ainda, segundo os mesmos relatos, a primeira vez em que um navio de turistas
estrangeiros aportou em Valéria foi em 1971. A maioria dessas embarcações, presença
frequente na comunidade hoje, é composta de turistas vindos de todo o mundo, especialmente
da Europa e Estados Unidos. Sendo essa região apenas mais um ponto dentro de um itinerário
por vezes extenso, a parada é esperada pela maior parte dos viajantes como uma oportunidade
de observação da natureza, principalmente espécimes de pássaros – bird watching. Munidos
de câmeras com grandes lentes teleobjetivas, eles saem de seu enorme navio em pequenos
barcos de transporte, dirigindo-se à comunidade de São Paulo da Valéria, que fica justamente
na conjunção do rio Amazonas com o lago de Valéria, sendo por isso carinhosamente
apelidada de “a boca da Valéria”.
São Paulo da Valéria, comunidade pequena e que fica dispersa em uma estreita área
entre o aclive de uma grande elevação montanhosa e o lago de Valéria, recebe então centenas
de turistas, e se organiza devidamente para tanto. A recepção dos turistas torna-se um evento
importante também para outras comunidades do entorno, que levam seus artesanatos para
serem vendidos aos visitantes. Os turistas, por sua vez, saem das embarcações para adentrar a
mata em suas observações, tendo a população local como guia, e também para conhecer o
modo de vida daqueles que os recebem.
É, portanto, dessa interação – na qual a diferença linguística se constitui como
principal barreira para a comunicação – entre os turistas e os moradores locais que ocorrem
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
69
situações de “tráfico” de peças arqueológicas. É importante salientar que, na maioria dos
casos, a iniciativa da venda parte dos moradores, e não da má-intenção dos visitantes. Este
comércio é, na maior parte das vezes, empreendido pelos mais jovens, que desejam
arrebanhar alguns dos dólares deixados navio após navio por esses esporádicos turistas.
Existiram, de fato, excursões à Valéria e outras regiões da Amazônia feitas com o
objetivo claro de comercialização de artefatos arqueológicos, o que nunca foi encarado pelos
habitantes de lá como um problema. Entretanto, este tipo de comércio era feito a partir de um
número reduzido de pessoas, cujo perfil em muito se difere daqueles turistas que aportam na
região em transatlânticos. O ponto a que gostaríamos de chegar é que o que diferencia o
comércio esporádico voltado aos turistas e a venda feita a mercadores de peças arqueológicas
– estes sim os verdadeiros traficantes – é a intencionalidade investida nas duas práticas e o
modo como os agentes da transação se colocam frente à legislação vigente e frente ao
patrimônio cultural em questão. É válido pontuar que estas duas formas de evasão de
materiais arqueológicos dos sítios da região apresentam distinções bastante pronunciadas
quanto ao tipo e quantidade de vestígio comercializado. No caso da venda de “souvenirs” para
turistas, as peças vendidas são geralmente de pequenas dimensões, e o volume de material
vendido é pouco significativo. Já os negociadores de peças possuem interesse em vasos
inteiros, com decoração esteticamente relevante e, de forma geral, um grande número de
peças é comercializado. Obviamente, embora a diferença de volume de material arqueológico
comerciado em cada um desses eventos seja bastante pronunciada, sua frequência é bastante
díspar. Um deles é bastante raro enquanto o outro acontece amiudadamente e de forma
constante: todos os anos, ininterruptamente, aportam navios abarrotados de turistas que,
eventualmente, poderão comprar e levar consigo estas peças, o que acaba tornando esta
prática mais destrutiva do que aquela perpetrada por negociantes de peças.
Tal quadro de evasão das peças impunha a necessidade de ações sistemáticas diretas
junto às comunidades ribeirinhas situadas nos sítios arqueológicos e em sua área de entorno,
especialmente onde tais atividades ocorriam com maior intensidade. Este era o caso do
município de Parintins, com seu reconhecido potencial arqueológico, representado pelos
levantamentos e estudos anteriores (SIMÕES e ARAÚJO-COSTA, 1978; HILBERT e
HILBERT, 1980).
Sugeriu-se, naquela ocasião, uma ação efetiva de Educação Patrimonial, o que
víamos como alternativa para lidar com o êxodo das peças. Assim, a etapa subsequente do
projeto, realizada em 2007, voltou-se para um projeto integrado de pesquisa participativa e
educação patrimonial. Como pesquisa participativa, entende-se como a interação entre
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
70
pesquisador e os grupos envolvidos na pesquisa, fazendo-se necessária uma metodologia que
favoreça a discussão e integração do conhecimento acadêmico e tradicional. Dessa forma,
partiu-se de uma postura não impositiva aos interesses da comunidade, para uma atitude de
diálogo e negociação. Este método visa uma forma de desenvolvimento da pesquisa vinculada
à abertura da pesquisa à participação da população local em todas as etapas do trabalho:
localização de sítios, produção de cartas topográficas, escavação, etc, estimulando assim o
olhar comunitário sobre o patrimônio coletivo, sua cultura material, imaterial e meio ambiente
para uma perspectiva científica.
Fig.3: Coleção arqueológica presente em casa de moradora da Comunidade Santa Rita de Cássia (Valéria, Parintins/AM) (foto: Mauricio de Paiva, 2007).
3. Delineamento Metodológico: a Pesquisa Participativa
Convencionou-se chamar as bases do trabalho desenvolvido em Parintins como
Pesquisa Participativa, ou seja, uma forma de desenvolvimento da pesquisa vinculada à ação
ativa da população que se insere no local a ser estudado através da participação destes em
todas as etapas do trabalho: localização de sítios, produção de cartas topográficas, escavação,
etc. Este método visa estimular o olhar comunitário sobre o patrimônio coletivo, sua cultura
material, imaterial e seu ambiente para uma gestão compartilhada do patrimônio arqueológico.
A ponderação do conhecimento tradicional sobre o conhecimento arqueológico gerado a partir
da pesquisa participativa implica em um íntimo diálogo entre o discurso científico e o
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
71
discurso comunitário na leitura e interpretação do fenômeno arqueológico circunscrito na
história e cotidiano dessas populações.
A inserção das comunidades no trabalho arqueológico em si foi também um dos
resultados positivos da estratégia utilizada. A presença dos comunitários nas etapas de
mapeamento topográfico, delimitação e escavações do sítio arqueológico mudou a visão
interna sobre o trabalho, conferindo uma maior agilidade e trazendo um resultado mais
positivo do que esperávamos. Ficou clara uma demanda pela continuação deste trabalho,
dando uma perspectiva de longo prazo às pesquisas ali desenvolvidas.
3.1. Ações do Projeto
As atividades do projeto visaram não apenas mostrar aos moradores das
comunidades de Valéria a importância histórica e cultural daquele patrimônio, mas também
despertar questões, ligando os objetos à história do lugar e, consequentemente, com seu
modus vivendi. O trabalho de Educação Patrimonial foi pensado como uma forma de levar às
populações locais as questões arqueológicas sob as quais nos debruçamos, inserindo-as em
seu cotidiano de modo que um novo olhar sobre os objetos os guiassem para a preservação de
uma forma não-impositiva e espontânea.
Com efeito, a pesquisa participativa levada a cabo em Santa Rita rendeu frutos.
Durante e após a estadia da equipe na comunidade, foram visíveis algumas mudanças na
perspectiva da população em relação ao material arqueológico com o qual mantém contato
cotidianamente e, também, com a historicidade do próprio lugar onde vivem. Neste sentido,
houve um processo de reflexão acerca da ideia de patrimônio, antes ausente, e a necessidade
de sua preservação e apropriação de forma consciente. Assim, aqueles que comercializavam
as peças passaram a se ver como guardiões das coleções por eles reunidas.
Inicialmente, a chegada de “estranhos” (nós, os arqueólogos) na comunidade gerou
certo distanciamento ou descaso por parte dos moradores. Eram comuns relatos de
pesquisadores que passavam pela região, realizavam suas pesquisas sem ao menos fazer uma
prévia comunicação ao presidente e à comunidade. Estes, tampouco, forneciam explicações
sobre os trabalhos efetuados ou seus resultados. A frequência desta prática acabou por criar
grande “descrença” nas pessoas quanto a projetos científicos. Menos ainda se acreditava que
estes poderiam ser benéficos à comunidade e trazer retornos concretos aos moradores. Cientes
de tal perspectiva e imbuídos pelo desejo de contribuir para uma mudança acerca destes
elementos, realizamos, logo no primeiro dia, uma reunião com moradores da comunidade
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
72
Santa Rita, a fim de elucidar os objetivos da pesquisa e de nossa estadia. No entanto, poucas
pessoas compareceram, e com interesse diminuto.
Este quadro foi se modificando lentamente ao passo em que a pesquisa se
desenvolvia. Arqueólogos observavam e eram observados o tempo todo. A curiosidade
estimulada pelas ações de educação patrimonial, sempre dentro da comunidade, dentro das
casas, dentro da escola, aliada à nossa estadia prolongada, de fato morando na comunidade,
possibilitaram um processo de conhecimento mútuo. O aprendizado se deu sempre em duas
vias em que, por um lado, nós vivenciávamos o cotidiano, dia e noite, da vida na comunidade
e, por outro lado, trazíamos à tona discussões sobre a riqueza do patrimônio histórico e
cultural daquele local, e a importância de sua preservação. Foram compartilhadas ideias como
o que é e como se faz arqueologia, quais são seus objetos e suas finalidades, em conversas
formais e informais.
Tudo isso foi gerando um crescente aumento de interesse pela arqueologia e pelas
atividades que desenvolvíamos ali. A inserção das comunidades no trabalho arqueológico em
si foi também um dos resultados positivos da estratégia utilizada. A presença dos
comunitários nas etapas de mapeamento topográfico, delimitação e escavações do sítio
arqueológico mudou a visão interna sobre o trabalho, conferindo maior agilidade e trazendo
um resultado mais positivo do que esperávamos. Ficou claro uma demanda pela continuação
deste trabalho, dando uma perspectiva de longo prazo às pesquisas que ali foram
desenvolvidas. Ao final, os membros da equipe éramos nós e mais dezenas de pessoas que
trabalharam ativamente nas mais diferenciadas tarefas concernentes ao trabalho de campo.
Foram realizadas novas etapas de campo entre os anos de 2007 e 2008, quando
outras ações foram executadas. Uma delas foi a participação de alguns membros da equipe na
tradicional feira de ciências promovida anualmente nas escolas da região. O grupo vencedor
da feira de ciências, composto por seis alunos do ensino médio, fez uma apresentação sobre o
patrimônio arqueológico local. Como premiação, os membros do grupo foram convidados
para uma viagem a Manaus, a conhecerem e participarem de atividades no laboratório de
arqueologia. Neste sentido, vimos que era importante que membros da própria comunidade
participassem dos desdobramentos da pesquisa arqueológica, pois, findadas as atividades de
campo, eles mesmos, criariam canais de comunicação acerca de impressões e aprendizados
para o restante da comunidade. Assim, ainda em 2007 foi oferecido um curso a esses
estudantes, acompanhados por uma professora e pela gestora da Escola Municipal Marcelino
Henrique. O mesmo se deu no anexo laboratorial do Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo (MAE/USP), localizado em Manaus, onde foram executados os
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
73
primeiros passos dos processos curatoriais dos vestígios coletados na comunidade, e algumas
análises cerâmicas com o foco nos mesmos materiais.
Outra ação considerada de extrema importância, e que também surtiu interessantes
resultados foi a realização de uma oficina de produção cerâmica artesanal, com inspiração
arqueológica, aos moradores da comunidade. Além de se configurar como mais uma
possibilidade de atividade econômica de produção de artesanato regional, o aprendizado deste
ofício pode significar a chave para o fim da saída das peças arqueológicas, já que estas
pessoas podem, elas próprias, produzirem réplicas daquele material encontrado sob a
comunidade. Mais do que isso, uma oficina de (re)produção de cerâmica, aliada a um sólido
trabalho de Educação Patrimonial, pode suscitar questões importantíssimas sobre aqueles que
ali viveram antes deles, vinculando a sua história com a do lugar onde vivem.
4. Resultados e discussões
Ao analisar a situação mais de perto, acabamos por concluir que a forma como tal
comércio de artefatos arqueológicos se dava não se enquadrava na definição corrente de
tráfico, qual seja, “comércio ilegal e clandestino; contrabando”7. Pelo contrário, o que víamos
era um total desconhecimento tanto legal quanto da própria ideia de patrimônio por parte dos
supostos “traficantes”. As peças arqueológicas eram oferecidas mais por seu valor estético do
que por seu valor arqueológico.
Por exemplo, através de muitas conversas, percebeu-se que estes objetos não estavam
vinculados a um passado – humano ou paisagístico – da comunidade. Antes, eles são
entendidos enquanto um dado da “natureza”, assim como a terra, o lago, os peixes. Nenhuma
atribuição histórica é (ou era) a eles remetida. Num contexto como este, a ideia de patrimônio
não parece encontrar correspondência nas “caretinhas” cerâmicas ou nas terras pretas.
Portanto, se o tráfico se caracteriza por ser uma atividade de venda em que há a
consciência da ilegalidade da negociação, então a situação em Santa Rita não pode ser
enquadrada como tal. Além disso, acreditamos que muitos dos casos de tráfico de material
arqueológico no interior da Amazônia funcionem da mesma forma, ou seja, uma das partes
desconhece qualquer valor atribuído àqueles objetos que não o estético, e só o negociam
devido a este desconhecimento. Encarar tal prática como ilegal para que se aplicassem as
medidas cabíveis seria, no mínimo, um erro. Além de não se resolver o problema, criar-se-ia
7 Definição extraída dos dicionários da língua portuguesa Aurélio e Delta Larrousse.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
74
outro grave problema social a se sobrepor ao primeiro. Então, ao contrário, tentamos
compreender as peculiaridades desta interação, o que nos fez perceber que uma postura não
impositiva e de diálogo poderia fazer toda a diferença, ao semear a ideia do valor histórico e
cultural que aqueles objetos possuíam.
Além disso, a situação de êxodo de peças arqueológicas, conforme anteriormente
mencionado, pode ser atribuído não exatamente ao desconhecimento dos preceitos
arqueológicos que dizem respeito a uma história local contada através dos objetos, mas sim à
própria interpretação da população local sobre o material arqueológico – plenamente inserido
em sua vivência cotidiana. A forma pela qual esta situação vinha sendo encarada até então,
enquanto um tráfico de fato (uma transação ilegal de cunho econômico), acabou por motivar
toda uma série de ações que, apesar da impressão legalista inicial, permitiram que práticas
antigas fossem repensadas pela comunidade, que decidiu de forma autônoma abandonar tais
práticas. O que se seguiu foi que as peças foram acrescidas de novos significados e passaram
a ser valorizadas de outro modo nas comunidades, chegando a aparecer em crescentes
coleções organizadas pelos comunitários.
Um segundo fator de transformação do registro arqueológico no local é a própria
situação do sítio arqueológico, que se encontra numa área habitada sofrendo constantes
alterações pelas edificações e pelas atividades cotidianas dos moradores. Tal situação não é
preocupante, a nosso ver. Em verdade, a ocupação atual interfere no registro arqueológico da
mesma forma como outras ocupações que a precederam o fizeram, em uma continuação
inegável da construção deste registro. Assim sendo, não é possível encará-lo enquanto um
corpo imutável.
Em certo sentido, uma das finalidades da pesquisa arqueológica na Amazônia é o
reconhecimento da diversidade cultural do passado. Encarada enquanto estudo do presente, a
arqueologia pode demonstrar preocupação não somente com a preservação do patrimônio
arqueológico, testemunho de uma história ainda parcamente conhecida, mas também com a
própria sócio-diversidade manifestada na atualidade. Ao trazer à tona os resultados das
pesquisas arqueológicas, abrem-se precedentes para repensar os modos de construção dessa
história, bem como para pensar nas contribuições estratégicas que os povos do passado
deixaram e que, por uma série de questões, estamos esquecendo. É importante ressaltar que os
sítios arqueológicos – ainda que um legado do passado – constituem parte do presente.
Grande parte das comunidades ribeirinhas nesta área da Amazônia ocupa antigas
áreas indígenas, de modo que estas populações mantêm um contato direto com os vestígios
materiais produzidos por aqueles que os antecederam naquele local. Mais do que isso, estas
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
75
pessoas possuem uma visão própria sobre estes vestígios, reinterpretando-os à luz de seus
próprios conceitos e de relações com outros grupos. Não obstante, a visão de mundo
impingida por estes moradores aos objetos arqueológicos não necessariamente passa pelas
interpretações científicas já consolidadas, não raro colocando-as como representações
divergentes, revestindo as ações dos cientistas de um caráter decerto mais “verdadeiro” do
que aqueles externados pelas populações locais.
O projeto almejou, fundamentalmente, a partir da participação dos comunitários, uma
construção do conhecimento arqueológico que levasse em consideração não apenas os
critérios científicos, mas também as contribuições do conhecimento local sobre o contexto
sistêmico aos quais aqueles materiais, sempre (re)significados, estão inseridos. Para tanto,
entendemos como necessária, senão essencial, a inserção dos moradores em todos os passos
do trabalho, olhando aqueles “cacos de pote” ou “caretinhas” e se consolidando como agentes
históricos.
Neste sentido, ao contar com o envolvimento da comunidade ao longo de todas as
suas etapas, intenciona-se não somente realizar uma coleta de dados arqueológicos e
estabelecer pretensos vínculos culturais entre as populações pretéritas e presentes, mas
também fazer com que o conhecimento produzido sirva às pessoas que efetivamente
contribuem para que ele exista, agregando à pesquisa diferentes vozes envolvidas no processo
de construção do conhecimento.
Fig.4 e 5: Crianças da Comunidade Santa Rita de Cássia (Valéria, Parintins/AM) mostram suas coleções e artefatos (Fotos: Maurício de Paiva, 2007).
Referências bibliográficas BRUNO, Maria Cristina. “Arqueologia e Antropofagia: a musealização de sítios arqueológicos”. In: CHAGAS, M. Revista do Patrimônio – Museus. Brasília: IPHA, 2005.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
76
_____________. Museologia: a Luta pela Perseguição ao Abandono. Tese de Livre-Docência defendida no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 2001. CARNEIRO, Carla Gibertnoni. Ações educacionais no contexto da arqueologia preventiva: uma proposta para a Amazônia. Tese de doutorado em arqueologia defendida no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 2008. CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Introdução. In: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org.) Revista do Patrimônio – patrimônio imaterial e biodiversidade. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2005. COSTA, Neymar. Construção do Conhecimento Agroecológico e Gestão Patrimonial no Sítio Arqueológico de Santa Rita de Cássia, Parintins/AM. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Parintins: Curso de Tecnologia em Agroecologia, Centro de Estudos do Trópico Úmido, Universidade do Estado do Amazonas, 2011. HILBERT, Peter; HILBERT, Klaus. “Resultados preliminares de pesquisa arqueológica nos rios Nhamundá e Trombetas, baixo Amazonas”. In: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi 75:1-11, 1980. HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999. LIMA, Helena. Projeto Baixo Amazonas: Serviços Técnicos de mapeamento arqueológico e Educação Patrimonial em áreas pré-selecionadas do município de Parintins, Estado do Amazonas. Manaus, IPHAN 1ª SR, Relatório não Publicado, 2007. LIMA, Helena; SILVA, Carlos. Levantamento Arqueológico do Médio Amazonas. Manaus, IPHAN 1ª SR, Relatório não Publicado, 2005. LIMA, Helena; MORAES, Bruno; PARENTE, Maria T. Projeto Baixo Amazonas, Serviços Técnicos de Educação Patrimonial e Oficinas de Cerâmica. Relatório não publicado. IPHAN/AM, 2008. LIMA, Tânia Andrade. Apresentação. In: LIMA, Tânia Andrade. Revista do Patrimônio – Patrimônio Arqueológico: o desafio da preservação. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 2007. SANT’ANNA NÉRI, Frederico José de Santana. O país das Amazonas. Belo Horizonte, Editora da Universidade de São Paulo – Itatiaia, 1979. SCHAAN, Denise P. “Múltiplas vozes, memórias e histórias” In: LIMA, T.A. Revista do Patrimônio – Patrimônio Arqueológico: o desafio da preservação Brasília: IPHAN, 2007. SIMÕES, Mario. “Índice das fases arqueológicas brasileiras 1950 – 1971”. In: Publicações avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi, nº 18. Belém-PA, 1972. _________. “Pesquisa e Cadastro de sítios arqueológicos na Amazônia Legal Brasileira”. In: Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi nº 38, Belém-Pará, 1983.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
77
SIMÕES, Mario; ARAÚJO-COSTA, Fernanda. “Áreas da Amazônia Legal Brasileira para pesquisa e cadastro de sítios arqueológicos”. In: Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi nº 30, Belém-Pará, 1978. UGARTE, Auxiliomar. Sertões de Bárbaros: O mundo natural e as sociedades indígenas da Amazônia na visão dos cronistas ibéricos (séculos XVI-XVII). Manaus: Ed. Valer, 2010.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
78
OFICINA LÍTICA DE POLIMENTO NO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Lithic Polishing Workshop in Northwest of Rio de Janeiro
Nanci Vieira de Oliveira1
RESUMO
No noroeste do Rio de Janeiro, foi identificado um sítio arqueológico do tipo amolador polidor fixo, localizado na Fazenda Santa Inês, município de Miracema. A identificação deste tipo de sítio arqueológico mostra que no Rio de Janeiro, a sua ocorrência não está restrita às praias e ilhas. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar e discutir as características deste sítio arqueológico.
Palavras-chave: arqueologia, sítio pré-colonial, polidores ABSTRACT In the northwest of Rio de Janeiro, was identified archaeological site type grinder polisher fixed, located at Fazenda Santa Ines, Miracema municipality. The identification of this type of archaeological site shows that in Rio de Janeiro its occurrence is not restricted to the beaches and islands. Thus, this paper aims to present and discuss the characteristics of this archaeological site. Keywords: archeology, pre-colonial site, polishers RESUMEN En el noroeste de Río de Janeiro, fue identificado sitio arqueológico tipo pulidor amolador fijo en Fazenda Santa Ines, municipio de Miracema. La identificación de este tipo de yacimiento arqueológico muestra que en Río de Janeiro, su ocurrencia no se limita a las playas e islas. Así, el objetivo de este trabajo es presentar y discutir las características de este sitio arqueológico. Palabras clave: arqueología, sitio pre-coloniales, pulidoras
Introdução
A maioria dos sítios arqueológicos registrados no Estado do Rio de Janeiro ocorre no
litoral, com predominância de sambaquis construídos por populações pescadoras, coletoras e
caçadoras. Com menor frequência existem registros de sítios do tipo Amoladores - Polidores
1 Doutora em História - UNICAMP, Professora Adjunta de Antropologia e Coordenadora do Laboratório de Antropologia Biológica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
79
Fixos, que correspondem a locais onde são realizadas atividades especificas, ou seja, amolar e
polir seus instrumentos líticos.
Embora a maior parte dos registros tenha ocorrido no litoral, em especial em Santa
Catarina (TIBURTIUS e BIGARELLA, 1953; ROHR, 1977, 1984; AMARAL, 1995) e Rio
de Janeiro (DIAS JUNIOR, 1959; GASPAR e TENÓRIO, 1990; TENÓRIO, 2003;
OLIVEIRA e AYROSA, 1991; KNEIP e OLIVEIRA, 2005), estudos posteriores indicam que
tais sítios ocorrem em vários locais do Brasil (HERBERTS et al. 2006).
Uma das discussões entre arqueólogos é a relação entre os números de polidores –
amoladores fixos, de sambaquis e a presença de artefatos polidos nos diferentes sítios
arqueológicos. Como não há relações entre as marcas de polimento e amolação de artefatos e
identidades étnicas, bem como, os locais de tais práticas específicas geralmente não
apresentam os artefatos produzidos, não se pode afirmar que apenas uma única população
tenha utilizado tal espaço.
A localização deste tipo de sítio ocorre em uma paisagem que reúne as condições
necessárias para a produção de artefatos polidos. Assim, a escolha do suporte advém de suas
características físicas particulares, ou seja, tamanho, forma e dureza da rocha, areia com
determinada qualidade granulométrica e proximidade da água. Através da abrasão da peça a
ser trabalhada contra a superfície da rocha é realizado o polimento, com a utilização de areia
úmida e, se formam aos poucos depressões planas ou ligeiramente côncavas.
Há consenso de que a forma das marcas está relacionada aos objetos fabricados, bem
como ao gestual do fabricante. A maioria dos arqueólogos concorda que as marcas resultam
da prática da confecção de lâminas de machado. Amaral (1995: 81) sugere a possibilidade dos
amoladores e polidores fixos terem sido utilizados também para a confecção de outros
artefatos polidos, entre os quais tembetás de quartzo e zoólitos.
As formas são descritas como canaletas ou frisos, acanaladas em forma de canoa,
circulares e ovais profundas (bacias), circulares e ovais rasas (pratos) e circulares rasas com
protuberância no centro (bacia côncavo-convexa). Os frisos podem ser classificados em dois
tipos, com depressão em V e com depressão em U. Belem (2012) sugere que os frisos em V
seriam utilizados para polir e apontar furadores e agulhas. Os do tipo em U para trabalhar
outros tipos de artefatos como bastonetes, arpões e contas de pedra.
Em um esforço de compreender a produção destas formas de depressão na confecção
de artefatos polidos, alguns arqueólogos têm realizado estudos da formação do registro
arqueológico e análises da cadeia operatória, ou seja, o encadeamento de acontecimentos
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
80
culturais e naturais. Tais estudos têm fornecido algumas informações sobre gestos e desgaste
da superfície do suporte de rocha.
Prous et al. (2002) realizaram as experimentações em um bloco de arenito de forma a
estabelecer relações entre hora trabalhada e desgaste, bem como gesto e forma do desgaste.
Os autores identificaram diferenças entre alisamento e polimento, em que o primeiro resulta
em uma abrasão grosseira das superfícies, com auxílio de areia e, o segundo, pode ser obtido
com auxílio de um abrasivo muito fino e resulta em uma superfície brilhante. As
experimentações apontam à obtenção de alisamento das faces com gestos circulares e, “após
cerca de 30 horas de uso total, tinha-se desenvolvido uma bacia oval de 34 x 24 cm, bem rasa
- com 0,9 cm de profundidade” (p. 199), para a obtenção de um polimento fino foi utilizado
apenas água.
A experimentação de elaboração de machados realizada por Tenório (2003) teve por
objetivo obter uma estimativa do desgaste provocado na rocha suporte na fabricação de uma
lâmina de machado semelhante às encontradas na Ilha Grande (RJ), o gestual do artesão para
determinadas formas (experimentação na areia) e relação entre números de peças produzidas e
profundidade do sulco decorrente da abrasão (suporte em granito). A forma acanalada em
canoa resultaria de movimentos semicirculares com eixo inclinado para polimentos das faces,
formando-se um friso na área central, e o gume na peça trabalhada. A elaboração de 11
lâminas resultou em desgaste de apenas 0,155cm. A partir dos resultados foi estimado que
uma depressão com 2,5 cm seria resultado da elaboração de 177 lâminas de machado.
Localização e descrição
O presente estudo surgiu de uma visita à fazenda durante a XIII Jornada Científica
do Projeto Jovem Talentos para a Ciência do Estado do Rio de Janeiro, realizada no
município de Miracema (RJ), quando foi identificado o local como polidor amolador fixo. A
Fazenda Santa Inês está localizada no distrito de Paraíso do Tobias, no município de
Miracema, no Km 2 da RJ- 186.
A região corresponde a Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Pomba, estando o amolador
polidor fixo localizado em superfície rochosa de um córrego denominado Ouro Preto, que
deságua no Ribeirão do Bonito, tributário do rio Pomba (Figura 1). Em termos
geomorfológicos, a região corresponde a unidade de Depressão Interplanáltica do Vale do Rio
Pomba, dominada por colinas, morrotes e morros baixos, com Latossolos e Argissolos
Vermelho-Amarelos (DANTAS et al., 2005).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
81
Fig.1: Localização do sítio arqueológico
De acordo com os dados do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro
(DRM-RJ), predominam na região de Miracema rochas ortognaisse com composição
semelhante ao granito (gnaisses quartzo-feldspáticos), ocorrendo nas proximidades rochas
paragnaisses e, nos vales onde há rede de drenagem, os sedimentos quaternários representados
por areias, cascalhos e lamas.
O amolador polidor fixo tem como suporte uma superfície de gnaisse em uma
pequena queda d’água no córrego Ouro Preto. Este córrego nasce em um dos morros baixos
do local e se espraia pelo vale que apresenta sedimento arenoso (Figura 2).
Formas dos sulcos
Após a identificação durante uma visita como parte de um evento, foi marcado um
retorno ao local para o georreferenciamento do sítio (UTM 801.897/ 7628.986) e registro dos
seguintes atributos: forma, dimensões (comprimento, largura e profundidade), presença de
frisos ou canaletas. Nesta etapa de campo, também foi realizado levantamento sistemático de
superfície em toda a propriedade e, principalmente, no vale do córrego Ouro Preto, tendo por
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
82
objetivo identificar outros polidores amoladores fixos e possíveis evidências materiais
indicativas de local de habitação.
Fig.2: Vista do polidor amolador fixo
Foram identificadas 23 marcas, sendo 19 (dezenove) circulares/ovais e 4 (quatro)
frisos, apresentando a maioria destas uma abrasão grosseira das superfícies (Figura 3). A
superfície rochosa apresenta irregularidades que foram aproveitadas para a retenção de areia e,
algumas parecem que foram ampliadas pela execução do alisamento das faces da peça
trabalhada (Figura 4). De forma distinta de outros polidores amoladores fixos, algumas destas
marcas não chegaram a desbastar totalmente a superfície e se apresentam irregulares (marca
inicial).
No polidor amolador fixo foram observadas as seguintes formas: circular muito rasa
(2), circular/oval rasa sem friso (7), circular/oval com friso (3), circular/oval com
profundidade (7) e frisos ou canaletas (4).
Em uma das marcas considerada como oval, observamos uma sobreposição de
marcas alongadas rasas decorrentes de gestos longitudinais, que poderia estar relacionado ao
alisamento de faces ou flancos de um artefato de pequena proporção ( Figura 5 ).
A profundidade das marcas apresenta variação de 0,25 a 4 cm, sendo predominante
entre 1 e 3 cm. Ficaram definidas como marcas iniciais as que não alcançaram 1 cm de
profundidade e as rasas as que não ultrapassaram os 2 cm (Figura 6).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
83
Fig.3: Conjuntos de marcas
Fig.4: Marcas de polimento
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
84
Fig.5: Sobreposição de marcas
Fig.6: Gráfico
De forma a estabelecer relações entre profundidade das marcas e artefatos produzidos,
optamos por utilizar como referência o desgaste obtido na experimentação de Tenório (2003),
já que a rocha utilizada apresentava a mesma dureza do suporte de Miracema. De acordo com
a autora, a elaboração de onze lâminas de machado decorreu em um desgaste de 0,155 cm em
uma base de granito. De acordo com as profundidades das marcas no polidor amolador fixo
em Miracema, teríamos desde marcas decorrentes da elaboração de um único artefato polido
até as resultantes da elaboração de 25 artefatos. A partir da média das profundidades das
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
85
depressões circulares/ovais, teríamos, aproximadamente, 240 artefatos produzidos neste sítio
arqueológico.
Considerações finais
O polidor amolador fixo da fazenda Santa Inês demonstra que no Rio de Janeiro a
ocorrência deste tipo de sítio não está restrita às praia e ilhas. Depressões em forma de canoa,
comum em sítios litorâneos, foram ausentes neste sítio do Noroeste fluminense. As dimensões
das depressões indicam elaboração de artefatos de menores proporções aos produzidos nos
demais sítios estudados no Rio de Janeiro e Santa Catarina.
A identificação deste sítio arqueológico estimulou o interesse da comunidade local, o
que resultou na implantação de um projeto de Educação Patrimonial envolvendo jovens do
Ensino Médio, tendo por objetivo a realização de um levantamento do patrimônio histórico e
arqueológico. Cabe ressaltar que esta região corresponde as áreas proibidas no período
colonial até a segunda metade do século XVIII, também denominada como Sertão dos Puris.
Assim, a continuidade das pesquisas na região deverá fornecer subsídios para a compreensão
das ocupações humanas pré-coloniais no interior do Rio de Janeiro.
O objetivo da Educação Patrimonial é estimular a reflexão junto aos jovens sobre a
valorização do patrimônio no contexto urbano e rural, decorrente de uma política de
valorização relacionada às representações da elite socioeconômica, em contraposição às
culturas relegadas ao esquecimento. Através de palestras e oficinas, os jovens são inseridos na
pesquisa e discussões sobre preservação, patrimônio, história indígena na região, vestígios
arqueológicos, memória e conhecimentos tradicionais. Ao mesmo tempo, são eles os
intermediários entre os pesquisadores e representantes da sociedade local, contribuindo nas
avaliações da preservação do patrimônio histórico da região, nas entrevistas e levantamentos
de locais com características indicativas de potencial arqueológico.
Referências bibliográficas
AMARAL, M.M.V. As oficinas líticas de polimento da Ilha de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado em História, Porto Alegre, PUC, 1995. BELEM, F.R. Do Seixo ao Zoólito. A Indústria Lítica dos Sambaquis do Sul Catarinense: Aspectos formais, tecnológicos e funcionais. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, MAE/USP, 2012.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
86
CALDERON, V. “Contribuição para o conhecimento da arqueologia do Recôncavo e do sul do Estado da Bahia” In: Prog. Nac. de Pesq. Arqueol., Publicações Avulsas 26, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, 1974. DANTAS, M. E.; SHINZATO, E.; MEDINA, A.I. M.; SILVA, C. R.; PIMENTEL, J.; LUMBRERAS, J.F.; CALDERANO, S. B.; CARVALHO FILHO, A. Diagnóstico Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, CPRM, 2005. DIAS JUNIOR, O. F. “Os polidores líticos de Cabo Frio” In: Boletim de História da Faculdade Nacional de Filosofia, Ano I(4), Ano II(5), p. 155-158,1959. GASPAR, M.D. & TENÓRIO,M.C. “Amoladores e polidores fixos do litoral brasileiro” In: Revista do CEPA, vol. 17 (20), p.181-190,1990. OLIVEIRA,N.V. & AYROSA,P.PS. “Polidores e Amoladores fixos de Piraquara, Angra dos Reis” Programa e Resumos da VI Reun. Cient. SAB, Anais da VI Reun. Cient. SAB, p. 753-760,1991. PROUS, A. Arqueologia Brasileira, Brasília, Ed. UnB, 1992. PROUS, A.; ALONSO, M.; PILÓ, H.; XAVIER, L. A. F.; LIMA, A.P.; SOUZA, G.N. “Os Machados Pré-Históricos no Brasil. Descrição de Coleções Brasileiras e Trabalhos Experimentais: Fabricação de Lâminas, Cabos, Encabamento e Utilização” In: Canindé, Xingó, nº 2, p. 162-237, 2002. ROHR, J.A. O sítio arqueológico do Pântano do Sul, SC-F-10. Florianópolis,Governo do Estado de Santa Catarina, 1977. “O sítio arqueológico da Praia de Laranjeiras, Balneário de Camboriú. Santa Catarina” In: Anais do Museu de Antropologia, 17, UFSC, 1984. TENÓRIO, M.C. “Os Fabricantes de Machados da Ilha Grande” In: Pré-História da Terra Brasilis, Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, p. 233-246, 1999. TENÓRIO, M.C. O Lugar dos Aventureiros: identidade, dinâmica de ocupação e sistema de trocas no litoral do Rio de Janeiro há 3500 anos antes do presente. Tese de doutorado em História, Faculdade de Filosofias e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. TENÓRIO, M.C., “Os amoladores polidores fixos” In: Revista de Arqueologia, 16, p.87-108, 2003. TIBURTIUS, G. & BIGARELLA, I. “Nota sobre os anzóis de osso da jazida paleoetnográfica de Itacoara, Santa Catarina” In: Revista do Museu Paulista (Nova Série), 7, 1953, p.381-387. UCHÔA, D.P. Arcaico do litoral. In: SCHMITZ, P.; BARBOSA, A.S. & RIBEIRO, M. (Eds.). “Temas de Arqueologia Brasileira 3. Goiânia: Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia” In: Anuário de Divulgação Científica, p.15-32,1978/79/80.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
87
ESTUDIO DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN PUNTA PEREIRA (COLONIA-URUGUAY): METODOLOGÍA APLICADA Y PRINCIPALES RESULTADOS PARA
EL CONOCIMIENTO DE LA PREHISTORIA REGIONAL.
Archaeological impact assessment at Punta Pereira (Colonia County, Uruguay): methodological aspects and main results for regional prehistory knowledge.
Irina Capdepont1
Laura del Puerto e Hugo Inda2 RESUMO Este trabalho apresenta os resultados obtidos no estudo de avaliação e diagnóstico de impacto arqueológico na zona de Punta Pereira (Departamento de Colonia - Uruguai). Numa primeira etapa, as diferentes áreas da zona de Punta Pereira com potencial arqueológico foram identificadas, localizadas, descritas, documentadas, estudadas e valorizadas. Posteriormente, com o objetivo de mitigar o impacto que seria produzido pelas obras planificadas pela Planta de Celulosa y Energia Elétrica, definiu-se o entorno de proteção de cinco espaços com evidências de atividade humana pré-histórica. Nestes espaços se aplicaram medidas corretoras compensatórias, que incluíram a realização de 12 escavações arqueológicas. Estas etapas de trabalho permitiram registrar ocupações humanas durante o Holoceno que eram desconhecidas até o momento. Palavras-chave: Impacto Arqueológico, Ocupações humanas pré-históricas. ABSTRACT Results from archaeological impact appraisal and diagnose studies performed at Punta Pereira (Colonia county, Uruguay) were presented in this contribution. Several areas with archaeological potential were identified, spatially referenced, described and studied. In order to mitigate the impact of the Cellulose Processing and Electric Energy Plant construction five areas with prehistoric human evidences were defined for further research. In those areas corrective compensatory measures were applied, including 12 archaeological diggings. Results from such activities allowed to unveil human occupations during middle to late Holocene that were previously unknown to regional Archaeology. Keywords: Archaeological Impact, Prehistorical human occupations. RESUMEN Este trabajo presenta los resultados obtenidos en el estudio de evaluación y diagnóstico de impacto arqueológico de la zona de Punta Pereira (Departamento de Colonia - Uruguay). En una primera instancia se identificaron, localizaron, describieron, documentaron, estudiaron y valoraron diferentes áreas de la zona con potencial arqueológico. Posteriormente, con el objetivo de mitigar el impacto a producirse por las obras planificadas por la Planta de Celulosa y Energía Eléctrica, se definió el entorno de protección de cinco áreas con
1 Laboratorio de Estudios del Cuaternario (MEC-UNCIEP) [email protected]
2 Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
88
evidencias de actividad humana prehistórica. Sobre estas áreas se aplicaron mediadas correctoras compensatorias que incluyeron la realización de 12 excavaciones arqueológicas. Estas instancias de trabajo permitieron registrar ocupaciones humanas durante el Holoceno no conocidas con anterioridad. Palabras clave: Impacto Arqueológico, Ocupaciones humanas prehistóricas
Introducción
El Patrimonio Arqueológico está constituido por todos los restos físicos tangibles de
la acción humana del pasado que contienen información sobre ésta. Es debido a su carácter de
bien de interés público, frágil y no renovable, que la Ley de Impacto Ambiental (Nº 16.466 -
Decreto 435/994) en Uruguay exige la realización de Estudios de Impacto Arqueológico
(EIArq) a fines de diagnosticar, prevenir, corregir y/o mitigar los efectos negativos de
distintos emprendimientos públicos o privados sobre los bienes arqueológicos. En este
contexto, la proyección e implementación de una planta de fabricación de celulosa y
generación de energía eléctrica en Punta Pereira, sobre el litoral oeste de Uruguay (Figura 1),
constituyó el marco para conjugar el estudio de impacto como iniciativa de investigación para
la generación de conocimientos. Dado que el proyecto productivo ya contaba con la
habilitación ambiental para la localización de la planta, el Estudio de Impacto Arqueológico
se desarrolló principalmente con miras a
diagnosticar y mitigar el impacto de las
obras proyectadas. Para ello, en una
primera instancia se realizó la Evaluación
del Impacto con la finalidad de identificar
objetos o elementos patrimoniales y definir
sus entornos de protección antes del
comienzo de las obras. Esta instancia
involucró (sensu AMADO et al., 2002) el
descubrimiento, localización, descripción,
documentación, estudio, valoración y
difusión de los valores culturales allí
presentes. Posteriormente, con el objetivo
de mitigar el impacto a ser producido por la
obra proyectada, se llevaron adelante
Fig.1: Ubicación general y específica del área de estudio (Fuente: CAPDEPONT 2012).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
89
medidas de corrección compensatorias (documentación, prospección y excavación) y
paliativas (seguimiento de obra y actuaciones puntuales de recuperación parcial). En este
trabajo se presentan los resultados obtenidos de la prospección arqueológica y de las
excavaciones efectuadas en dos de los cinco espacios con evidencias de ocupación humana en
Punta Pereira (M8 y M6).
Actividades de evaluación y diagnóstico
La etapa de Evaluación del Impacto involucró actividades específicas que llevaron a
realizar el Diagnóstico Arqueológico del área a ser afectada. En esta etapa se llevó a cabo:
Identificación de Afecciones requirió la identificación precisa de los agentes (infraestructura
e instalaciones), acciones (actividades concretas que generen impacto), afecciones
(modificaciones del medio físico) y momento del impacto (fase del proyecto donde el impacto
se hará efectivo). Para el caso de estudio se identificaron tanto afecciones preexistentes como
proyectadas, así como los principales agentes, acciones y momento del impacto (Tabla 1).
Al inicio de la investigación, en el predio destinado al emprendimiento se identificó
la existencia de afecciones preexistentes, de diversa magnitud y con disímil impacto
constatado sobre las entidades arqueológicas. Entre ellas se destacan, por su extensión, los
movimientos de suelo producto de las actividades extractivas realizadas por la empresa
inglesa C.H. Walker & Co. que se instaló en la zona entre 1886 y 1887. La empresa extrajo y
exportó arena y conchilla a la ciudad de Buenos Aires, aumentando la extracción hacia 1895.
La explotación de áridos fue continuada por la empresa Roselli Importación S.A, cuyas
actividades extractivas a partir de 1957, debido a la maquinaria empleada y la escala espacial
de la explotación, constituyeron el principal agente de impacto identificado en el área de
Punta Pereira (LEZAMA et al., 2007).
Dentro de las acciones proyectadas por el plan de obra (EsIA EDARIX S.A,
DINAMA Exp 2007/14000/05626) en la Tabla 1 se señalan las de mayor potencial de
afección sobre las entidades arqueológicas. En todos los casos las acciones proyectadas
involucraron movimientos de suelo, con empleo de maquinaria pesada de alto impacto, siendo
las etapas de nivelación del terreno y terraplenado las de mayor impacto potencial (Figura 2).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
90
Tabla 1. Principales afecciones preexistentes y proyectadas. (Fuente: LEZAMA et al.
2007)
Agentes Acciones Afecciones Momento del
Impacto
Maquinaria:
bulldozers,
retroexcavadoras,
motoniveladoras,
cargadores
frontales, rodillos
vibratorios, patas
de cabra, pisones
vibratorios.
Actividades extractivas
desde fines del siglo XIX.
Movimiento
de suelo
Preexistente
Caminería
Etapa inicial de
acondicionamiento de
terreno
Prospección geofísica
Acondicionamiento de
terreno
Limpieza de vegetación
Nivelación del terreno
Terraplenado
Primera fase
constructiva
Macro y micro drenajes
internos
Regulación de red de
escurrimiento
Caminería
Segunda fase
constructiva Parquización
Instalaciones
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
91
Fig.2: Ubicación de la zona de movimiento de suelo proyectado y referencias topográficas del área de emplazamiento. Los terrenos altos (>7m) corresponden a las zonas de desmonte y los terrenos bajos (<7m) a las de relleno. Base: Relevamiento topográfico y Plan de Obra Grupo ENCE (Fuente: LEZAMA et al., 2007)
Prospección Arqueológica tuvo como objetivos principales identificar y registrar
contextos arqueológicos, efectuando una caracterización primaria que permitiera determinar
la existencia de entidades pasibles de ser sujetas a medidas de mitigación. Considerando la
heterogeneidad espacial de la información arqueológica, los estudios cartográficos y
fotográficos, así como las afecciones producidas, se propuso dividir el área en dos zonas
geomorfológicas (CAPDEPONT, 2008): A.- La Zona Baja incluye los sectores Sur, Sudeste y
Este del predio, comprendiendo la línea de costa, crestas de tormenta, bañados, aluviones y
depósitos arenosos intensamente afectados por la explotación de arena y conchillas. Es de esta
porción del terreno de donde deriva la mayoría de los restos arqueológicos que forman hoy
día parte del acervo de diversas colecciones tanto públicas como privadas. B.- La Zona Alta
comprende el sector noreste del predio, abarcando aquellas fracciones de terreno con cota
superior a los 7 msnm. El límite sudoeste del área se halla delimitado por la línea de la
paleocosta del máximo transgresivo del Holoceno y los depósitos arenosos que la cubren
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
92
parcialmente. En algunos sectores esta paleocosta se ve interrumpida como consecuencia de
las actividades extractivas pretéritas (explotación de arena y conchilla desde fines del siglo
XIX y principios del siglo XX.), que expusieron en varios puntos contextos arqueológicos
relevantes asociados a un paleosuelo areno-limoso interdunar. Dada la riqueza arqueológica
registrada en antecedentes y el carácter no alterado de algunos sectores, se identificaron y
delimitaron áreas con alto potencial de hallazgo de contextos arqueológicos primarios. El
trabajo se centró en el área de ubicación de la Zona Franca (delimitada en la figura 2), donde
se proyectaban las mayores obras de movimiento de suelo (CAPDEPONT, 2008).
Para la realización de la etapa de prospección se ejecutó un plan que abarcó dos
instancias diferenciales. En primer lugar se llevó a cabo una prospección superficial
sistemática pedestre, principalmente en rasgos como escombreras pertenecientes a las
antiguas actividades extractivas, caminería, frente expuesto de la escarpa, costa y demás zonas
donde la erosión, tanto antrópica como natural, incrementa la visibilidad arqueológica. En
forma simultánea, la prospección sistemática se complementó con una prospección dirigida,
apuntando a reconocer estructuras específicas. Con ello se atendió a zonas de mayor
visibilidad (afloramientos, barrancas, cauces, trillos, etc.) o visibilidad puntual. Las tareas de
relevamiento superficial se complementaron con intervenciones arqueológicas puntuales, con
el objetivo de indagar el subsuelo en zonas de baja visibilidad arqueológica y detectar la
existencia de materiales arqueológicos en estratos sub-superficiales. Estas tareas incluyeron la
limpieza de perfiles expuestos, así como la realización de sondeos en una serie de puntos del
paisaje, previamente seleccionados de forma selectiva y/o aleatoria. Para ello fue necesario
establecer, en primer lugar, puntos de interés y potencial arqueológico, tanto en la zona baja
como en la zona alta del predio (CAPDEPONT, 2008; LEZAMA et al., 2008).
Diagnóstico del Impacto, como último paso en la etapa de la Evaluación, es definido
de acuerdo a tres criterios: efecto, magnitud e incidencia (AMADO et al., 2002; CRIADO et
al., 2000). De ello resultó la definición de los tipos de impacto a generarse en el área: Crítico
y Severo. Dado que el desarrollo de la obra genera la desaparición parcial o total de sitios
Arqueológicos, se diagnosticó un impacto crítico que implicó la adopción de medidas
correctoras destinadas a compensar el impacto a través de un rescate arqueológico. Asimismo,
para algunos sectores del área se diagnosticó un impacto severo, permitiendo adoptar medidas
preventivas (control y seguimiento de obra) en fase de ejecución de las obras.
Las medidas correctoras planteadas intentaron: recuperar evidencias de las
actividades humanas desarrolladas en la zona; obtener un mayor conocimiento de la
ocupación humana prehistórica, aportar conocimiento a la arqueología regional y nacional
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
93
mediante la investigación exhaustiva de contextos arqueológicos prehistóricos e históricos a
través de metodologías de investigación científica; y finalmente poner en valor los bienes
patrimoniales. La primera medida, destinada a la generación de nuevos conocimientos en
relación a la ocupación humana de la zona, consistió en la realización de 13 excavaciones de
rescate arqueológico en los puntos con alto potencial arqueológico (N8, N9, M8, M6 y
3Pinos) identificados en la primera fase de estudio (CAPDEPONT, 2008ª, 2008b; DEL
PUERTO, 2008a, 2008b; GASCUE, 2008; LEZAMA et al., 2008).
Resultados del estudio de evaluación
La presencia de sitios arqueológicos prehistóricos e históricos en diferentes unidades
del paisaje, no documentados con anterioridad, ha sido determinada en campo por medio de
técnicas de prospección superficial y sub-superficial. Se llevaron a cabo 229 actuaciones en el
marco de la prospección arqueológica del área (Tabla 2).
Las actuaciones arqueológicas comprendieron:
a.- Observaciones sin intervención: la mayor parte de estas observaciones da cuenta
del registro y relevamiento de distintos movimientos de suelo preexistentes, en los
que no se registró presencia de materiales arqueológicos. Se efectuaron 32
actuaciones correspondientes a esta categoría (Tabla 2).
b.- Recolección superficial: el material hallado en superficie fue registrado (fichas de
registro de prospección, fotografía, georeferenciación, etiquetado) y acondicionado
para su análisis en laboratorio. La mayor parte de estos materiales proviene
decontextos secundarios, asociados a movimientos de suelo vinculados a las
actividades extractivas pretéritas, erosión natural en los frentes expuestos por la
antigua arenera, así como a la construcción y/o acondicionamiento reciente de la
caminería. Cabe destacar las recolecciones superficiales efectuadas en la franja
costera, que permitieron recuperar materiales cerámicos durante eventos de bajante
del nivel del estuario. Fueron recolectados materiales en superficie en 33 locus de la
Zona Alta y 32 en la Zona Baja (Tabla 2).
c.- Limpieza de perfiles: se limpiaron y registraron perfiles en frentes expuestos por
la antigua extracción de áridos, en depósitos de material de descarte de la arenera, en
perforaciones efectuadas por los estudios geológicos previos, en frentes expuestos
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
94
por caminería y obras civiles y en cursos de agua y canales de drenaje. De los
perfiles asociados a frentes de explotación de arena, 20 involucran la presencia de un
paleosuelo areno-limoso bajo depósitos eólicos de distinta potencia. Al mismo se
asocian materiales arqueológicos desplazados en las laderas expuestas y holladas
donde se realizaron 43 limpiezas de perfiles (Tabla 2).
d.- Sondeos: se realizaron 79 sondeos (Tabla 2), ubicados en todas aquellas unidades
del paisaje en las que resultó factible obtener una buena representación estratigráfica.
Como parte de la prospección dirigida, los sondeos realizados en la Zona Alta fueron
efectuados junto a la línea de la paleocosta, asociándose en la mayoría de los casos a
frentes expuestos por la antigua explotación arenera con un paleosuelo areno-limoso
y material cultural. En lo que refiere a la Zona baja, se priorizaron las áreas
relictuales no afectadas por la antigua explotación arenera (donde la acumulación de
pilas de estéril cubrió depósitos naturales y en parches antiguos de monte) y la costa
Sur, aprovechando una bajante extrema del Río de la Plata.
Tabla 2. Detalle y cuantificación por zona de las actuaciones efectuadas en el
marco de la prospección arqueológica. (Fuente: modificado de LEZAMA et al.
2008)
Actuación Zona
Baja
Zona
Alta
Total de
materiales
Intervenciones
Limpieza de Perfil 13 30 43
Sondeo 14 65 79
Rec. Superficial 32 33 65
Observaciones directas
Afloramientos 0 1 1
Caminería 0 3 3
Calicatas 0 12 12
Escombreras 0 4 4
Estructuras 10 1 11
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
95
Forestaciones 0 1 1
Total 69 150 219
Las intervenciones mencionadas permitieron recuperar material cultural en contexto
primario y secundario (Tabla 3). A partir de la propuesta metodológica desarrollada fue
factible definir y delimitar áreas arqueológicas de interés, que serían impactadas de forma
crítica y severa por la obra. Ello llevó a delimitar entornos de protección (Figura 3) en los que
se realizaron, como medidas correctoras compensatorias, las excavaciones arqueológicas.
Tabla 3. Cultura material recuperada según tipo de intervención y contexto de
recuperación. (Fuente: LEZAMA et al. 2008)
Intervención Contexto
Cultura Material Recuperada
Totales Lítico Cerámica Óseo
Materiales
Históricos
Limpieza de Perfil Primario 20 0 0 0
72 Secundario 1 0 0 51
Sondeos Primario 48 0 1 9
62 Secundario 4 0 0 0
Recolección
Superficial Secundario 2978 60 17 46 3101
Totales 3051 60 18 106 3235
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
96
Fig.3: Localización de las principales zonas de concentración de materiales arqueológicos identificadas a partir de la prospección y posteriormente excavadas. Base: Foto Aérea 1:20.000 1981, FAU. (Fuente: LEZAMA et al. 2008).
A partir de las excavaciones realizadas se logró la generación de nuevo conocimiento
sobre ocupaciones humanas del Holoceno y se recuperaron evidencias de actividades
humanas pretéritas en contexto estratigráfico. Ello aportó a un mayor conocimiento de la
arqueología regional y nacional.
Las zonas excavadas corresponden a las áreas denominadas 3 Pinos, M6, M8, N8 y
N9 (Figura 4), cuya ubicación geográfica se explicita en la tabla 4. Doce excavaciones se
localizaron en la escarpa (límite zona alta y baja; cotas 7-12 msnm) vinculada a la línea de
costa durante el máximo transgresivo del Holoceno (N8, N9, M8 y 3 Pinos). La excavación
realizada en M6 se ubicó aproximadamente 500 metros al norte de la escarpa, en un espacio
interdunar en cota 15msnm.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
97
Fig.4:. Fotoplano con áreas excavadas. Fuente: CAPDEPONT 2008:48)
Tabla 4. Ubicación geográfica de las áreas con entornos de protección a ser excavadas.
Fuente CAPDEPONT 2008:45
ID LATITUDES (S) LONGITUDES (W) SUPERFICIE
m2
3
Pinos
34º 13’ 28,795”-34º 13’ 29,594”
34º 13’ 32,499”-34º 13’ 33,312”
58º 03’ 10,996”-58º 03’
01,602”
58º 03’ 11,311”-58º 03’
01,908”
27.600
M 6 34º 13’ 17,014”-34º 13’ 17,014”
34º 13’ 20,295”-34º 13’ 20,295”
58º 03’ 00,206”-58º 02’
56,351”
58º 03’ 00,206”-58º 02’
56,351”
10.000
M 8 34º 13’ 31,530”-34º 13’ 31,530”
34º 13’ 33,560”-34º 13’ 33,560”
58º 02’ 59,675”-58º 02’
55,837”
58º 02’ 59,675”-58º 02’
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
98
55,837” 6.000
N 8 34º 13’ 34,765”-34º 13’ 34,765”
34º 13’ 35,431”-34º 13’ 35,431”
58º 02’ 48,682”-58º 02’
47,836”
58º 02’ 48,682”-58º 02’
47,836”
400
N 9 34º 13’ 40,153”-34º 13’ 40,153”
34º 13’ 40,689”-34º 13’ 40,689”
58º 02’ 43,579”-58º 02’
43,053”
58º 02’ 43,579”-58º 02’
43,053”
225
La superficie abarcada por el total de las excavaciones alcanzó los 286 m2.
Paralelamente, se realizaron sondeos tendientes a caracterizar sectores de los sitios que no
incluyeron excavaciones, cubriendo un total de 40 m2. La profundidad alcanzada en cada
intervención y la cuantificación de materiales recuperados se observa en la tabla 5.
Tabla 5. Datos generales de las intervenciones realizadas. Fuente:
CAPDEPONT 2008a,b; DEL PUERTO 2008a, b; GASCUE 2008.
Intervención Área
(m2)
Profundidad
(cm)
Total de Materiales
Líticos
M6 Exc.I 15 70 493
M6 S11-16 12 ~100 15
3P Exc.I 25 180 36
3P Exc.II 20 150 1216
3P Exc.III 40 160 1571
3P Exc.IV 24 250 554
3P Exc.V 40 60 4566
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
99
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las excavaciones realizadas
en los espacios denominados como M8 y M6.
En M8 se plantearon las siguientes excavaciones: Exc I de 5x7 m, Exc. II de 5 x 4 m
y Exc. III de 5 x 3 m. En las mismas se observó que las unidades estratigráficas superiores
(UE01, UE02 Y UE03) presentaban materiales culturales en contextos secundarios. Ello es
producto de la remoción ocasionada por actividades de extracción de áridos en el pasado
histórico del Punta Pereira. A partir de la UE05, en las excavaciones realizadas comenzó a
recuperarse material lítico en contexto primario. En las UE06 y UE07 se observó la presencia
de materiales líticos, estructuras sedimentarias (manchas) y estructuras de combustión
(fogones). Este tipo de registro se encontró particularmente concentrado en la UE07. El
evento de ocupación humana evidenciado en la UE07, aportó una cronología de 4.240 + 80
años 14C AP (URU0505) (BRACCO 2008) obtenida a partir de material vegetal carbonizado
de una de las estructuras de combustión. En la unidad estratigráfica UE07 se recuperó el 81%
de los materiales arqueológicos (n=21.158) asociados a fogones (Figura 5). El material
cultural evidencia una tecnología lítica de reducción y fractura expeditiva. La misma se habría
basado en la obtención de formas base, para ser seleccionadas como instrumentos
(MAROZZI et al., 2008). En los materiales se encuentran representadas actividades de
manufactura, uso y descarte, observándose en el conjunto una baja diversidad de artefactos y
3P Exc VI 6 460 431
3P Exc VII 4 110 1486
3P S12- 19 24 ~80 251
M8 ExcI 35 240 9695
M8 Exc.II 20 150 94
M8 Exc.III 15 110 10684
M8 018 4 160 682
M8 S15- 17 12 ~80 3
N8 Exc.I 18 260 33
N9 Exc.I 12 190 628
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
100
la presencia de marcas de uso en algunos de los mismos. Las materias primas utilizadas en la
manufactura de estos materiales, como cuarzo y granito, se encuentran accesibles en fuentes
primarias y secundarias del entorno inmediato. También se ha observado el uso de materias
primas regionales como la caliza silicificada (MAROZZI et al., 2008; CAPDEPONT, 2012).
Fig.5: Representación del perfil tipo de M8 con total de materiales líticos recuperados. Fuente: DEL PUERTO 2008a: 314.
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la unidad del paisaje correspondiente a un
antiguo arco de playa, se desarrollaron intensas actividades de ocupación humana hacia el
Holoceno medio-tardío. Se cuenta con evidencias que llevan a considerar que en este espacio
se realizaron actividades relacionadas a la manufactura y/o mantenimiento de instrumentos
líticos en directa asociación con fogones. Dados los datos manejados, también puede
proponerse que los restos recuperados fueron generados en un campamento base o residencial
(sensu BINFORD, 1980), ubicado próximo a la línea de costa de hace 4000 años.
Las intervenciones realizadas permitieron una amplia caracterización
geoarqueológica de este sector, relevando las secuencias estratigráficas e identificando las
áreas de concentración de vestigios arqueológicos. En este sentido, se destaca el carácter del
paleosuelo arenoso como estrato guía, pero disociado en su expresión vertical de la
concentración de materiales culturales. Los sectores donde el paleosuelo se encuentra presente
y mejor definido son los que cuentan con mayor concentración de materiales, a pesar de que
los mismos se hallan mayormente comprendidos en unidades estratigráficas subyacentes.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
101
En las intervenciones realizadas en M6 se recuperaron materiales líticos en un
paleosuelo limo-arcilloso de origen aluvial cubierto por depósitos eólicos modernos. El
mismo se encuentra ubicado en una hollada interdunar natural cubierta por vegetación arbórea
nativa. En las excavaciones realizadas se registraron seis unidades estratigráficas que se
corresponden a cinco horizontes de suelo: A0 (UE01), A1 (UE02-03), A2 (UE04), B1 (UE05)
Y B2 (UE06). Las dos primeras unidades estratigráficas resultaron arqueológicamente
estériles, a excepción de una pequeña lasca en cuarzo. En forma similar, de la UE 03 se
recuperó una única lasca en caliza silicificada. En contraste, las tres unidades estratigráficas
inferiores presentaron mayores concentraciones de material arqueológico. Fueron recuperadas
492 piezas líticas y un único fragmento óseo. Como ilustra la figura 6, los materiales se
concentraron por debajo de los depósitos eólicos más recientes (UE01 A 03), en lo que
conforma la matriz de un paleosuelo arcillo-limoso de origen aluvial. Las mayores
concentraciones de materiales se recuperan de la UE05. Si bien no se cuenta con dataciones
radiométricas que contextualicen temporalmente el registro arqueológico abordado, sus
características geoarqueológicas (unidad de paisaje en la que se emplaza, cota, tipo de suelo)
y tecnológicas (predominio de caliza silicificada como materia prima), sugieren que es el
producto de una ocupación humana temporal y espacialmente diferente a las manifestadas en
los restantes contextos arqueológicos intervenidos en Punta Pereira (DEL PUERTO, 2008b).
Fig.6: Distribución vertical de materiales líticos de M6 por profundización y UE. Fuente DEL PUERTO 2008b:26.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
102
Consideraciones finales
En primer lugar, es pertinente destacar que la implementación de medidas de
corrección compensatorias (documentación, prospección y excavación) permitió mitigar el
impacto a generarse en Punta Pereira. Ante la imposibilidad de evitar dicho impacto, dada la
fase avanzada del trámite de habilitación ambiental en la que se requirió el estudio de impacto
arqueológico, se desarrolló una estrategia tendiente a compensar sus efectos con la generación
de información calificada que permitiera un mayor conocimiento del pasado prehistórico e
histórico en la región. En este sentido, el cúmulo de datos generados evidencia que en Punta
Pereira tuvieron lugar ocupaciones humanas prehistóricas en distintas unidades del paisaje.
Una de ellas, con mayor expresión de cultura material en contexto primario al momento del
estudio, se vincula espacialmente a la línea de la paleocosta del máximo transgresivo del
Holoceno. Vinculada a la anterior, en cotas inferiores habría tenido lugar una ocupación más
tardía, cuyos contextos han sufrido el mayor impacto de la antigua explotación minera. En
tercer lugar, se obtuvieron evidencias de contextos primarios en cotas más elevadas, que
podrían corresponder a asentamientos más tempranos.
Dentro de los sitios abordados en la línea de la paleocosta, la secuencia estratigráfica
arqueológica puso en evidencia la existencia de al menos dos momentos de ocupación
prehistórica. El primero tuvo lugar hacia el 4200 años 14C AP., cuando el nivel del mar se
encontraba por encima de su nivel actual, próximo al emplazamiento de los sitios. Las
ocupaciones humanas habrían tenido lugar en dos unidades de paisaje principales. Por un lado,
el sitio 3Pinos se ubica en lo que fue una península rocosa, mientras que los restantes sitios
investigados se localizan en lo que fue un arco de playa al este de la península. La cultura
material recuperada, los rasgos y estructuras registrados, indicarían ocupaciones vinculadas a
campamentos base. Ello también se sustenta con la información regional, obtenida de diversas
investigaciones realizadas en la costa atlántica, que manifiestan una secuencia estratigráfica
en extremo similar (LÓPEZ, 1994, 1995; LÓPEZ et al, 2003-2004).
Depósitos similares a los de la escarpa de Punta Pereira, también subyacen a un
paleosuelo en sitios de Cabo Polonio (LÓPEZ, 1994), sometidos a una batería de fechados
que los coloca entre 4500 y 4100 años 14C AP. Estos potentes depósitos (de aproximadamente
1m) vinculados a una fase árida, parecen haberse depositado en la región durante un período
acotado. En este sentido, existe un patrón de ocupación humana similar en toda la costa
oceánica y estuárica de Uruguay. Este patrón se vincula a estrategias de subsistencia de
explotación de recursos costeros bajo condiciones ambientales más áridas y con un nivel del
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
103
mar por encima del nivel actual. Lo mencionado anteriormente permite proponer la presencia
del paelosuelo como estrato guía para ubicar y contextualizar las ocupaciones del Holoceno
medio-tardío.
En estos mismos sitios, en unidades estratigráficas superiores relacionadas al
desarrollo del mencionado paleosuelo areno-limoso, se registraron evidencias de una
ocupación más tardía con una edad mínima de 265 años 14C AP (BRACCO, 2008). Es de
destacar que un paleosuelo areno limoso fue observado en numerosos puntos de la costa
uruguaya y en la misma cota, lo que permite considerarlo también como estrato guía. Este fue
fechado en Cabo Polonio (sobre carbón cultural) entre ca 700 y 600 años 14C AP. (LÓPEZ,
1994), lo cual permite afinar la fecha obtenida para esta unidad estratigráfica. La menor
concentración de cultura material recuperada en esta unidad evidenciaría una ocupación más
efímera o relictual en el paisaje. En este sentido, la presencia de paleosuelo removilizado con
material cultural en pilas estériles generadas por la antigua actividad minera, indica que el
paleosuelo se desarrollaba hacia la costa, finalizando su desarrollo horizontal a pocos metros
al norte de la escarpa. Esta ocupación más tardía habría tenido lugar con un nivel del mar
similar al actual y podría vincularse a los hallazgos cerámicos recuperados en superficie en la
zona baja. Las intervenciones efectuadas en el sector M6 denotaron la existencia de contextos
arqueológicos posiblemente más antiguos. La ubicación de estos contextos en cotas más altas
(15 msnm), en unidades estratigráficas diferentes y con una tecnología lítica caracterizada por
el predominio del uso de materias primas como la caliza silicificada, respondería a una
ocupación humana más temprana.
La implementación del Estudio de Impacto Arqueológico en Punta Pereira generó
información que enriquece el conocimiento de la prehistoria local y regional, demostrando
que es posible compatibilizar el avance productivo con la protección y puesta en valor del
patrimonio cultural prehistórico.
Referencias bibliográficas AMADO Xuxo, BARREIRO David, CRIADO Felipe y MARTÍNEZ María. Especificaciones para una gestión del Impacto desde la Arqueología del Paisaje. TAPA 26, 2002. BRACCO, Roberto. Informe del laboratorio - Datación 14C. In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueológico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulosa y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 21, pp. 369-374. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008 BINFORD, Lewis. “Willow Smoke and Dogs Tails: Hunter-gatherer Settlement Systems and
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
104
Archaeological Site Formation” In: American Antiquity 45(1): 4-20. 1980 CAPDEPONT, Irina. Arqueologia de sociedades indígenas del litoral del Rio Uruguay. 2012. Tesis Doctoral em Arqueología. Facultad de Ciencias Sociales - Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarria. 2012 CAPDEPONT, Irina. Introducción. In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueologico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulora y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo I, Capítulo 1. Intervenciones en Arqueología Prehistórica, pp. 35-54. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008 CAPDEPONT, Irina. M8 Excavación I. In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueologico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulora y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 15, pp. 231-262. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008a CAPDEPONT, Irina. N8 excavación I. In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueologico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulora y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 19, pp. 321-343. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008b CRIADO Felipe, VILLOCH Victoria y BARREIRO David. Arqueología y Parques Eólicos en Galicia: Proyecto Marco de Evaluación de Impacto. CAPA nº 5. 2000 DEL PUERTO, Laura. M8 Excavación III. In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueologico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulora y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 18, pp. 291-317. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008a DEL PUERTO, Laura. M6 Excavación I. In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueologico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulora y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 1, pp. 3-32. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008b GASCUE, Andrés. “Intervenciones en el sitio Tres Pintos” In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueológico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulosa y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 2, pp. 34-45. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008. LEZAMA, Antonio; DEL PUERTO, Laura; CAPDEPONT, Irina; INDA, Hugo; GASCUE, Andres; LEMBO, Victoria y CAMORS, Veronica. Plan de Actuación – Estudio de Impacto Arqueológico y Cultural en Punta Pereira. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Expedientes: DINAMA 2007/14000/05626; CNPCN Nº 2007/ 678, 86pp. 2007 LEZAMA, Antonio; CAPDEPONT, Irina; DEL PUERTO, Laura; GASCUE, Andres; INDA, Hugo; BAEZA, Jorge; VIENNI, Bianca; BRUM, Laura; LÓPEZ, Enrique; CAMORS, Veronica; ROMERO, Sonia; LEMBO, Victoria y PINTOS, Mariana. Diagnostico del estudio de Impacto Arqueológico y Cultural del área Terrestre de la Construcción de la Fábrica de Celulosa y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Facultad de Humanidades y
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
105
Ciencias de la Educación, UR. 2008. LÓPEZ, José María. “Cabo Polonio: Sitio Arqueológico del Litoral Atlántico Uruguayo” In: Revista de Arqueología, Anais da VII Reuniao Científica da Sociedade de Arqueología Brasileira, 8 (2): 333-353, San Pablo. 1994 LÓPEZ, José María. “El Fósil que no Guía, y la Formación de los Sitios Costeros” In: Arqueología en el Uruguay, editado por M. Consens, J.M. López Mazz y C. Curbelo, pp. 92-105. Surcos srl, 1995 LÓPEZ, José María; GASCUE, Andrés y MORENO, Federica. “La Prehistoria del Este de Uruguay: Cambio Cultural y Aspectos Ambientales” In: Anales de Prehistoria y Arqueología, 19-20: 9-24. 2003-2004. MAROZZI, O; SOTELO, Moira; GAZZAN, Nicolás; FERRARI, Alejandro y Gastón Lamas. “Análisis del material lítico” In: Informe Final del Estudio del Impacto Arqueológico y Cultural de la Construcción de la Fabrica de Celulosa y Planta de Energía Eléctrica de Punta Pereira. Tomo III La Prehistoria, Capítulo 23, pp. 403-478. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UR. 2008.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
106
A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR: O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NAS ORGANIZAÇÕES FORMAIS DO BRASIL
Render unto Ceasar the things wich are Ceasar’s: archaeological heritage in formal
organizations of Brazil
Alejandra Saladino1 Carlos Alberto Santos Costa2
Elizabete de Castro Mendonça3 RESUMO Na instituição do patrimônio cultural no Brasil, uma problemática adensa-se em tempos de consolidação da legislação ambiental e de uma agenda política de viés desenvolvimentista. A saber: a preservação e a gestão do patrimônio arqueológico. O objetivo deste artigo é refletir sobre tal aspecto a partir da análise da complexificação da instituição do patrimônio cultural resultante da criação de uma nova organização formal: o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Os resultados preliminares deste primeiro esforço reflexivo indicam que, para uma maior eficácia na utilização de instrumentos e práticas de preservação sobre o patrimônio arqueológico, é necessário delimitar seu campo de atuação e estabelecer claramente atribuições e competências, bem como um plano de ação articulado entre as organizações formais de instância federal. Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Patrimônio Arqueológico; Organizações Formais; IPHAN; IBRAM ABSTRACT In times of consolidation of enviromental legislation and a political agenda of development bias, ther's a denser problem, namely the preservation and management of archaeological heritage. The objective of this paper is to discuss this aspect from the analysis of the complexity of the cultural heritage of the institution resulting from the creation of a new formal organization: the Brazilian Institute of Museums (IBRAM). Preliminary results indicate, this first effort, the effectiveness of conservation practices and tools on the archaeological heritage, the need to delimit the field of action, establish clear roles and responsibilities and an action plan articulated between the formal organizations of federal level. Keywords: Cultural Heritage, Archaeological Heritage; Formal Organizations; IPHAN; IBRAM RESUMEN 1 Professora-Doutora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e museóloga no Museu da República (MR/Ibram) – [email protected] 2 Professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – [email protected] 3 Professora-Doutora do Departamento de Estudos e Processos Museológicos (DEPM) e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPG-PMUS) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
107
En la institución del patrimonio cultural en Brasil, un problema se agranda en estos tiempos de consolidación de las leyes ambientales y de una agenda política de desarrollo, es decir, la preservación y la gestión del patrimonio arqueológico. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre este problema a partir del análisis de la complejización de la institución del patrimonio cultural a causa de la creación de una nueva organización formal: el Instituto Brasileño de Museos (IBRAM). Los resultados preliminares de este primer esfuerzo de reflexión indican que, para una mayor eficacia en la utilización de instrumentos y prácticas de preservación sobre el patrimonio arqueológico, es necesario delimitar su campo de actuación y establecer claramente deberes y facultades y también desarrollar un plan de acción articulado entre las organizaciones formales de ámbito federal. Palabras clave: Patrimonio Cultural; Patrimonio Arqueológico; Organizaciones Formales; IPHAN; IBRAM
Apresentação
No contexto decorrente da consolidação da legislação ambiental, da complexificação
na produção de conhecimento científico que representa a Arqueologia de Contrato na
reestruturação da instituição do patrimônio cultural no Brasil e do aumento quantitativo e
qualitativo da massa crítica no campo da arqueologia brasileira, é possível perceber a tomada
de consciência sobre a problemática da preservação do patrimônio arqueológico. Um
inconteste indício deste panorama encontra-se na programação do XVI Congresso da SAB e
do XVI Congresso Internacional da UISPP, realizados simultaneamente em Florianópolis em
setembro de 2011, que revela um considerável aumento no número de reuniões (mesas-
redondas, simpósios temáticos e fóruns) dedicadas à reflexão sobre aspectos referentes ao
destino do patrimônio arqueológico no país4.
Se nos primórdios da arqueologia brasileira, boa parte dos pesquisadores
compreendia seus estudos como atos preservacionistas per se, hoje passados cinqüenta anos
da homologação da Lei nº 3.924/61, é ponto pacífico a necessidade de se criar instrumentos
de proteção, estratégias e práticas de preservação mais eficientes e eficazes. Enfim, é
premente a elaboração de políticas públicas claras para a preservação do patrimônio
arqueológico. Para tal, faz-se mister que as organizações formais adquiram mecanismos fortes
de desempenho das suas funções de forma adequada, que as tornem aptas à execução da
4 Em um primeiro levantamento, é possível identificar, além do já tradicional “Encontro do IPHAN com arqueólogos” vinte reuniões, entre mesas-redondas, simpósios temáticos e fóruns (ver http://arqueoparque.com/@api/deki/files/22974/=PROGRAMA%25c3%2587%25c3%2583O_GERAL_CONGRESSO_SAB_-_UISPP.pdf). Se partirmos do levantamento elaborado pela arqueóloga Camila Wichers (2010), podemos perceber um aumento de 100% no número de reuniões realizadas no Congresso realizado em 2011.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
108
fiscalização, conservação e extroversão, sem criar empecilhos para o desenvolvimento da
arqueologia brasileira.
Compreendemos que a preservação e a gestão do patrimônio arqueológico são temas
de grande complexidade, pois se relacionam com um conjunto de aspectos igualmente densos
e em distintos estágios de desenvolvimento. Se a arqueologia brasileira é hoje tema de pauta
da Casa Civil5 e movimenta somas monetárias altíssimas – favorecendo a ampliação do
mercado de trabalho do arqueólogo – a não regulamentação da profissão imprime sobre tal
panorama zonas cinzentas que exigem um comportamento ético por parte do profissional e
maior infra-estrutura para gerenciar tal categoria de patrimônio por parte das organizações
formais, nomeadamente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o
Instituto Nacional do Meio Ambiente (IBAMA).
Por tudo isso, propomos neste artigo refletir sobre o estado da arte do patrimônio
arqueológico brasileiro a partir da análise da complexificação da instituição do patrimônio
cultural resultante da criação de uma nova organização formal: o Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM), bem como apontar aspectos incontornáveis para consolidação e
fortalecimento das políticas públicas de preservação. Finalizamos sugerindo alguns caminhos,
no sentido de fomentar o debate acerca das questões por nós apresentadas. Assim,
objetivamos contribuir para a reflexão sobre as potencialidades e complexidades das políticas
públicas do patrimônio cultural.
Antes, faz-se necessário expor claramente os princípios e perspectivas básicos desta
reflexão. Consideramos que a arqueologia de contrato representa uma complexificação na
produção de conhecimento científico decorrente da confluência das demandas político-
econômico-sociais em outro patamar, mais tenso e disputado. Compreendemos ainda a idéia
de instituição do patrimônio à luz do institucionalismo histórico, ou seja, enquanto conjunto
de normas, convenções, disposições legais, organizações formais e distintos segmentos
sociais estruturados na interseção de diferentes campos, como o jurídico-legal, o político, o
econômico e o acadêmico.
Por outro lado, percebemos o aumento quantitativo e qualitativo da massa crítica no
campo da arqueologia, graças à criação de novos cursos de graduação e pós-graduação e do
próprio amadurecimento do campo.
Finalmente, consideramos que a preservação do patrimônio arqueológico envolve
questões relativas aos campos econômico, jurídico-legal, e da gestão e da ética profissional.
5 É tema de pauta da agenda desenvolvimentista.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
109
O patrimônio arqueológico na instituição do patrimônio cultural: um brevíssimo panorama
Podemos considerar que o discurso do patrimônio cultural no Brasil fundamenta-se
na tentativa de mapear os traços identitários da sociedade brasileira. Esta operação se dá já no
século XIX, com os museus e institutos históricos e geográficos regionais compreendidos
enquanto verdadeiros espaços de legitimação de ideias e valorização de matrizes culturais
(FERNANDES, 2010). Todavia, diversos estudos (FONSECA, 2005; NOGUEIRA, 2005;
CHAGAS, 2006; SALADINO, 2011), consideram o Movimento Modernista e seus
desdobramentos como um processo de delineamento da brasilidade. Vale dizer, que tal
fenômeno caracteriza-se enquanto processo relacional e político, pautado em seleções e
hierarquizações de variáveis culturais.
A variável arqueológica, naquela época considerada o conjunto de traços culturais
dos grupos pré-cabralinos, era tema dos estudos novecentistas e também estava presente no
discurso do patrimônio de Mário de Andrade, formalizado no anteprojeto do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). O museólogo Mario Chagas (2006)
lembra da proposta de criação de um Museu de Arqueologia vinculado ao SPHAN, espaço de
pesquisa e preservação do patrimônio arqueológico brasileiro. A proposta foi rechaçada por
importantes agentes do patrimônio da época, dentre os quais Heloisa Alberto Torres, diretora
do Museu Nacional (MN), que propôs uma parceria entre as organizações, com vistas à
otimização de recursos e definição de competências. O antropólogo do MN, Luiz de Castro
Faria, foi indicado pela diretora do museu para a coordenação dos registros de sítios
arqueológicos e demais ações de proteção dessa categoria de bem, além da gestão da dotação
orçamentária destinada às pesquisas arqueológicas (SALADINO, 2010).
Na década de 1960, o museólogo Theodoro Russins assumiu a arqueologia naquela
organização formal. O agente, além de coordenar as ações supracitadas, colaborou na
implantação de museus arqueológicos no país. Todavia, as instituições científicas brasileiras
mantiveram-se colaboradoras da organização formal daquele órgão.
A partir do institucionalismo histórico, podemos perceber que as escolhas feitas no
momento de implantação de uma organização formal são decisivas para a instauração de
padrões institucionais, uma vez que a legitimam. Por isso, somente com grande esforço tais
padrões são substituídos por outros ou se alteram (HALL e TAYLOR, 2003). No caso do
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
110
IPHAN6, identificamos o estabelecimento de parcerias com organizações científicas para o
desenvolvimento de ações sobre o patrimônio arqueológico. É compreensível que tais
convênios sejam implementados, uma vez que o conhecimento arqueológico ultrapassa as
fronteiras e competências de uma organização de proteção do patrimônio. Contudo,
considerando os desenhos institucionais do IPHAN ao longo de sete décadas7 , nos quais
podemos claramente perceber a inexistência de um setor específico para o patrimônio
arqueológico até 19798, podemos concluir que as referidas parcerias contribuíram para a
tardia estruturação do IPHAN em relação ao patrimônio arqueológico (SALADINO, 2010).
Os organogramas da instituição indicam a frágil estrutura dos setores criados para a gestão do
patrimônio arqueológico, além de sua subordinação ao setor responsável pelas ações sobre o
patrimônio edificado, estruturado na consolidação do padrão institucional de valorização do
patrimônio pedra e cal (no plano simbólico, a valorização das representações vinculadas à
matriz luso-católica).
Todavia, fatores exógenos à organização exigiam-lhe maior capacidade de atuação.
O estabelecimento da Arqueologia de Contrato9 e a consolidação da legislação ambiental10
impuseram ao IPHAN a necessidade de uma regulamentação das autorizações de pesquisas
arqueológicas e da obtenção de maior aparato legal e de gestão para dar conta das demandas
cada vez maiores. Como resultados, podemos apontar a elaboração da Portaria nº 07/88, da
Portaria nº 230/02 e da Portaria nº 28/03, evidenciando a ciclotimia que caracteriza a relação
entre organização e arqueólogos, ora pautada no colaboracionismo e compreensão, ora nas
disputas e conflitos – e as numerosas e assistemáticas ações com vistas a definir os estatutos
conceituais e normativos das políticas públicas sobre o patrimônio arqueológico. A título de
ilustração, apontamos como tais ações a promoção de encontros de toda ordem e de reuniões
técnicas e a elaboração de programas e termos de referências. Alguns não alcançaram
ressonância nas representações regionais do IPHAN - pelos mais distintos e variados motivos
- enquanto outros tinham, por sua vez, abrangência apenas regional. Vale dizer que alguns
motivos, à luz do institucionalsmo histórico, relacionam-se à precariedade dos recursos
humanos e financeiros e, em última instância, às primeiras escolhas que determinaram
6 A organização, ao longo de sete décadas, recebeu o estatuto de serviço, diretoria, instituto, secretaria, sub-secretaria e novamente instituto. 7 O SPHAN foi oficializado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. 8 Ano da contratação do primeiro arqueólogo para o quadro funcional do órgão. 9 Podemos considerar que a Arqueologia de Contrato teve seu marco inicial no salvamento realizado no âmbito da construção da Hidrelétrica de Itaipu e encontra-se em franco desenvolvimento na esteira do Programa de Aceleração do Desenvolvimento (PAC). 10 Cujo marco é a homologação da Resolução CONAMA nº 001/86, que atrelava os trabalhos arqueológicos ao licenciamento ambiental.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
111
padrões institucionais caracterizados pelo “esquecimento” do patrimônio arqueológico frente
a outras demandas (SALADINO, 2010).
Algumas dessas exigências resultaram na atualização do discurso e reestruturação do
desenho institucional do IPHAN. De concreto, podemos apontar a criação do Departamento
de Patrimônio Imaterial (DPI/IPHAN) e do Departamento de Museus e Centros Culturais
(DEMU/IPHAN), responsáveis pelo sucesso na consolidação e fortalecimento das políticas
públicas do patrimônio de natureza imaterial e dos museus. O patrimônio arqueológico
continuou atrelado à lógica inicial: a subordinação frente às ações sobre o patrimônio
edificado, sob a coordenação do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização
(DEPAM).
Este novo panorama – fundado na ampliação da categoria patrimônio, na
diversificação dos discursos e no fortalecimento de outros segmentos intra-institucionais –
resulta do rearranjo das forças organizacionais e do estabelecimento de outras assimetrias.
Desta vez, o patrimônio arqueológico parece estabelecido num cenário paradoxal e ambíguo:
ora numa arena de disputa velada, ora no limbo do esquecimento não assumido. É importante
lembrar que a consolidação do DEMU/IPHAN – graças à realização de concurso público em
2005, e ao crescimento de sua dotação orçamentária, bem como da própria Política Nacional
de Museus (PNM) – resultou na identificação de um problema: a preservação do patrimônio
arqueológico musealizado.
Os acervos arqueológicos, em crescimento exponencial na esteira da Arqueologia de
Contrato (BRUNO e ZANETTINI, 2007; COSTA, 2007; SALADINO, 2010; WICHERS,
2010), passaram também a ser assunto do DEMU/IPHAN. No entanto, durante a existência
desse departamento, não foram claramente definidas as bases conceituais nem as
competências de cada organismo do IPHAN sobre tal categoria de bem. Vale mencionar,
porém, a única diretriz à época para as ações do DEMU/IPHAN, resultantes de demandas
externas: o material arqueológico retirado do contexto e depositado nos museus deveria ser
objeto das ações e instrumentos de proteção daquele departamento.
Contudo, faz-se mister apontar a problemática que tal orientação provocou: de
acordo com as portarias de guarda de materiais arqueológicos concedidos pelo próprio
IPHAN, os museus não são as únicas organizações formais responsáveis pela musealização
dos bens culturais, se compreendermos tal ação como a aplicação da cadeia operatória da
museologia (ações e estratégias de salvaguarda, pesquisa e comunicação). Se levarmos em
conta o estudo da arqueóloga e doutora em museologia Camila Moraes Wichers (2010),
veremos que 41% dos endossos institucionais estão associados a laboratórios e centros de
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
112
pesquisas. A pergunta que fica: acervos arqueológicos musealizados em laboratórios ou em
outras instituições de pesquisa, então, não seriam assistidos pela atuação do DEMU/IPHAN?
E outra pergunta, ainda: os sítios arqueológicos passíveis de musealização estariam apenas
sob a responsabilidade e a orientação da Gerência de Patrimônio Arqueológico, vinculada ao
Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM/IPHAN)?
É importante ressaltar que, nesse contexto, e com o intuito de abrir o debate sobre
toda a complexidade relacionada ao patrimônio arqueológico em museus, foram organizadas
as discussões do Grupo de Trabalho Museus e Acervos Arqueológicos e Etnográficos no
âmbito dos Fóruns Nacionais de Museus (FNM). Durante o III FNM – organizado pelo
DEMU/IPHAN em 2008 na cidade de Florianópolis – foi criada a então Rede de Museus e
Acervos Arqueológicos e Etnográficos (FNM, 2010: 95), composta atualmente por cerca de
cento e vinte estudiosos e agentes comprometidos com a proposição de ações em prol da
preservação do patrimônio arqueológico.
Todavia, é importante retroceder ao I FNM, quando o Grupo de Trabalho Museus
Etnográficos e Arqueológicos levou à Plenária Final a moção nº 6 para:
solicitar a criação de um grupo temático de caráter permanente para questões de acervos e museus arqueológicos, contemplando em especial a questão das pesquisas empresariais, considerando a natureza expansionista da criação de coleções arqueológicas que demanda uma dinâmica própria e procedimentos museológicos (FNM, 2004: 62).
Finalmente, no IV FNM, realizado em 2010 em Brasília, foi atendida essa moção, o
que resultou na reestruturação da rede criada em 2008 (FNM, 2008), nomeada, a partir de
então, Rede de Museus e Acervos Arqueológicos (SALADINO et al., 2011).
Voltando ao panorama do IPHAN, vale dizer que a organização ganhou novos
matizes quando da reestruturação do seu desenho institucional, que resultou na extinção do
DEMU/IPHAN, na consequente criação do IBRAM11 e no fortalecimento e organização de
um setor dedicado às problemáticas do patrimônio arqueológico: o Centro Nacional de
Arqueologia (CNA/IPHAN)12. Contudo, o CNA/IPHAN, estruturado em três coordenações –
Coordenação de Normas e Acautelamento, Coordenação de Pesquisa e Licenciamento e
Coordenação de Socialização do Patrimônio Arqueológico – parece ainda não ter se
distanciado dos padrões institucionais do IPHAN de hierarquização e priorização de algumas
categorias de bens em relação às outras.
11 Criado pela Lei nº 11.906 de 20 de janeiro de 2009. 12 Reestruturado através do Decreto nº 6.844 de 7 de maio de 2009.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
113
Permaneceu também o padrão dos insuficientes recursos humanos e financeiros
destinados à gestão do patrimônio arqueológico frente às demandas acachapantes, se
considerarmos o número de projetos que o setor deve acompanhar (BRUNO e ZANETTINI,
2007; WICHERS, 2010), bem como a elaboração e execução das demais ações de proteção e
socialização do patrimônio arqueológico.
O presente e o futuro: algumas constatações e caminhos possíveis
No Brasil, a arqueologia teve nos museus estratégicas organizações formais para sua
estruturação enquanto disciplina científica (SCHWARCZ, 2004). Por isso é comum ouvir que
a arqueologia já nasceu musealizada. Em outras palavras, desde o início foi aplicada sobre o
patrimônio arqueológico a cadeia operatória da museologia. De forma distinta do que ocorreu
com a Antropologia no século XX – que de certa forma divorciou-se dos museus para ganhar
outros espaços nos departamentos das universidades (DIAS, 2007) – a arqueologia manteve-
se nas organizações museológicas, muitas das quais também vinculadas a essa categoria de
organização.
Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, com o fortalecimento do setor
museológico ocorrido na última década, além da consolidação do turismo cultural (com todas
as suas nuances positivas e negativas), ocorreu uma maior conscientização sobre a estreita
relação entre duas áreas do conhecimento, ambas essencialmente interdisciplinares e com
foco de atuação na cultura material: arqueologia e museologia. Percebemos inclusive a
museologia, enquanto ciência social aplicada, como sendo capaz de mudar a condição do
patrimônio arqueológico na estratigrafia do abandono (BRUNO, 2005). Diversos agentes,
boa parte reunidos na REMAAE, passaram a produzir e ampliar a área de interseção entre
arqueologia e museologia. Devemos lembrar ainda o aumento da massa crítica em ambas as
áreas, resultante da criação de novos cursos de arqueologia e museologia em nível de
graduação e pós-graduação13.
Voltando ao patrimônio arqueológico no âmbito das organizações formais, é
importante mencionar que o IBRAM optou por uma lógica de atuação institucional fundada
no conceito de patrimônio museológico, sem evidenciar ou tratar especialmente as demandas
13 Hoje dispomos de formação de graduação em museologia na UNIRIO, UFBA, UNIBAVE, UFRB, UFPEL, UFRGS, UFS, UFOP, UFMG, UNB, UFPE, UFPA, UFG, UFSC e FAECA DOM BOSCO, e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) na UNIRIO/MAST, na USP e na UFBA. Com relação à formação em arqueologia, dispomos de graduação na UFPEL, UFS, UFPI, FURG, PUC-GO, UFPE, UNIR, UEA e UNIVASF, e pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) na UFRJ, USP, UFPA, UFPE, UFPI, PUC-RS e UFS. Um quadro analítico desta situação pode ser visto em Wichers (2010).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
114
das distintas categorias de bens. Assim, a Coordenação de Patrimônio Museológico do
Departamento de Processos Museais (CPM/DPMUS/IBRAM), atua sobre as coleções
arqueológicas em museus sem a configuração de um setor específico para tal.
Por tudo isso, acreditamos na necessidade de definir claramente diretrizes, protocolos,
atribuições e competências para lograrmos mudar o estado da arte do patrimônio arqueológico
brasileiro. Embora reconheçamos que o patrimônio cultural ultrapassa os limites das ações e
instrumentos do Estado, compreendemos ser fundamental o fortalecimento e o cumprimento
de suas recomendações. Após quatro anos de reestruturação institucional na instância federal,
ainda não foi possível observar articulações concretas entre as organizações formais em prol
da preservação do patrimônio arqueológico.
A divisão do cabido federal da cultura entre o IPHAN e o IBRAM fez com que as
instituições, em seus novos modelos institucionais, tateassem na busca de um equilíbrio no
que concerne aos limites de suas atuações com relação à gestão do patrimônio arqueológico.
Como demonstramos, cabe ao IPHAN na atual conjuntura a tarefa de controlar e fiscalizar os
trabalhos arqueológicos em toda a sua cadeia operatória, da pesquisa à extroversão; não é
demais ressaltar que as etapas que correspondem à socialização deste legado são mal
legisladas e, desta forma, constituem flancos abertos na proteção do patrimônio arqueológico.
É justamente nesta ausência que percebemos a necessidade de uma ação incisiva do IBRAM
para fazer valer as suas atribuições legais, que correspondem especificamente às etapas de
musealização do patrimônio arqueológico.
Na esfera legal, esta divisão constitui limites estanques. Contrariamente, na esfera
lógica e na prática, não existem estes limites, uma vez que as ações são por natureza sempre
continuadas e processuais. Isto ocorre porque na cadeia operatória da formação dos acervos
arqueológicos interessa àqueles que fazem as pesquisas arqueológicas qual destinação será
dada aos acervos, bem como interessa aos que procedem a extroversão destes acervos de que
modo ocorreram as pesquisas: os agentes de ambas as fases são os mesmos. Este mesmo
princípio de interesse e ação mútua deve se aplicar à gestão pública dos acervos arqueológicos.
Desta maneira, não nos parece lógica a criação de distinções - separações estanques
de ações entre agentes institucionais com interesses correlatos - senão buscar a sinergia que há
nas ações de ambos os órgãos. Para ser mais explícitos, estamos falando da necessidade de
uma gestão conjunta do patrimônio arqueológico, na qual a tutela é compartilhada entre o
IPHAN e o IBRAM, no sentido de promoverem ações que auxiliem na proteção do
patrimônio arqueológico pelo Estado, envolvendo as comunidades e, portanto, os interesses
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
115
sociais. Dentre tantas questões que envolvem a gestão do patrimônio arqueológico, de
maneira precisa entendemos como necessária a condução de algumas ações:
1 - A reunião entre IPHAN, IBRAM, comunidade museológica, comunidade arqueológica e
instituições museais, no sentido de criar patamares de diálogo que sejam, de fato, coerentes
com os diferentes atores envolvidos na gestão pública do patrimônio arqueológico;
2 - Do ponto de vista legal há a necessidade de conceituar o que se entende por “pesquisa
arqueológica”, por “acervo arqueológico” e por “guarda de acervos arqueológicos”,
incluindo-se nestas definições todas as etapas da cadeia operatória da formação dos acervos,
desde o planejamento da pesquisa aos procedimentos de extroversão. No que concerne aos
acervos arqueológicos, cabe dizer que na sua definição deve se incluir toda a documentação
que permita compreender o contexto no qual foram coletados e, sobretudo, manter o fundo
documental;
3 - A revisão dos procedimentos de endosso institucional, com o intuito de dar participação
ativa às instituições museais na tramitação dos processos de guarda de materiais
arqueológicos, já que na proteção legal permanente do patrimônio arqueológico são as
instituições museais parceiras diretas da União;
4 - A revisão das normativas de concessão de pesquisa arqueológica, que incluam claramente
parâmetros de extroversão e uso social público dos materiais sob a guarda institucional
(elaboração de mídias, publicações, exposições, mostras, educação patrimonial, criação de
instituições museais, uso continuado do patrimônio etc.);
5 - Frente à crescente demanda por espaços de guarda de acervos arqueológicos, que
correspondem a gastos continuados de manutenção, há a necessidade da elaboração de
parâmetros de seleção e descarte de acervos arqueológicos durante o processo de formação
dos acervos, pois sua coleta indiscriminada atulha as reservas institucionais;
6 - No sentido de convergir de maneira ágil ações do IPHAN, do IBRAM e dos diferentes
agentes envolvidos na geração dos acervos arqueológicos (instituições museais, arqueólogos,
museólogos etc.), faz-se urgente a criação de uma base de dados nacional de gerenciamento
dos acervos arqueológicos. Se por um lado, este meio permitiria a gestão ágil dos acervos, por
outro, possibilitaria colocar à disposição de toda a sociedade os acervos existentes em
território nacional14.
14 Estas proposições foram amplamente debatidas durante a reunião da REMAAE nos I, II III e IV FNM (Salvador, 2004; Ouro Preto, 2006; Florianópolis, 2008 e Brasília, 2010), durante o Simpósio Temático “REMAAE: desafios para uma política de preservação do patrimônio arqueológico” realizado no XVI Congresso Nacional da SAB (2011) e também nas discussões entre os membros da rede no [email protected].
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
116
Enquanto isso não se concretiza, padrões institucionais viciados são fortalecidos e
mesmo importados. Além disso, os agentes institucionais não se beneficiam da expertise de
seus colegas de outras organizações e acabam agindo sempre de forma a buscar “reinventar a
roda”. A desarticulação e a falta de comunicação entre as organizações formais na instância
federal, responsáveis pela proteção e valorização do patrimônio arqueológico, ficam patentes
em levantamentos feitos por pesquisadores que se debruçam sobre o tema (BRUNO e
ZANETTINI, 2007; WICHERS, 2010), que demonstram a assimetria entre a lista de
instituições fiéis depositárias de material arqueológico, resultante das portarias emitidas pelo
IPHAN, e a lista emitida pelo Cadastro Nacional de Museus do IBRAM15.
Considerações finais
Nas últimas décadas, a instituição do patrimônio cultural no Brasil passou por
importantes mudanças. Em tempos de sedução de memória (Huyssen, 2000) e “neurose do
patrimônio” (Jorge, 2005) urge definir claramente fundamentos teórico-metodológicos e
atribuições e competências de todos os segmentos envolvidos. As organizações formais têm
decididamente um papel fundamental e estratégico nisso tudo16 . A recuperação das suas
memórias institucionais, a definição dos seus papéis e tarefas e a articulação com os demais
segmentos (sociedade civil organizada, comunidade acadêmica, empreendedores etc.) são
incontornáveis, inclusive para que os demais segmentos igualmente assumam seus papéis.
Conforme o § 1º do Art. 216, à sociedade compete colaborar com o poder público promover e
proteger o patrimônio cultural brasileiro. No entanto, cabe ao Estado criar as bases para um
efetivo ativismo. Disto não escapa um real colaboracionismo entre as organizações formais,
pois os problemas do patrimônio arqueológico não são de uma ou de outra organização, mas
de ambas. Afinal, as estratégias do IPHAN sobre o patrimônio arqueológico relacionam-se às
do IBRAM e vice-versa. Acreditamos, que desta forma – com uma sociedade com forte
consciência de cidadania (com indivíduos cientes de seus direitos, desejos e possibilidades) e
com a consolidação da instituição do patrimônio cultural – poderá ser alcançado um patamar
onde as demandas e os interesses político-econômico-sociais coloquem-se de forma mais
equilibrada.
15 Das 568 instituições envolvidas com a gestão de acervos arqueológicos, apontadas nas portarias de pesquisa homologadas pelo IPHAN e no Cadastro Nacional de Museus (CNM), apenas 9% dessas organizações indicadas em ambas as fontes, o que revela a baixa conectividade (WICHERS, 2010:196) entre as mesmas. 16 Cabe lembrar que de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988 o patrimônio arqueológico é considerado bem da União (COSTA, 2007).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
117
Referências bibliográficas BRUNO, Cristina; ZANETTINI, Paulo. Relatório do Simpósio O futuro dos acervos do XIV Encontro Nacional da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. CHAGAS, Mario de Souza. “A vida social e política dos objetos de um museu” In: Anais do Museu Histórico Nacional, vol.34. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura / IPHAN, 2002. COSTA, Carlos Alberto Santos. “A legalidade de um equívoco: acerca dos processos legais para a guarda de materiais arqueológicos em instituições museais” In: Anais do I Congresso Internacional de Arqueologia da SAB e XIV Congresso Nacional da SAB. Erechim: Habilis, 2007, 15p. (CD Room). COSTA, Carlos Alberto Santos. “Gestão de acervos arqueológicos: considerações sobre a perspectiva legal” In: Canindé – Revista do Museu Arqueológico de Xingó (edição especial). Aracaju: MAX/UFS (no prelo). DIAS, Nélia. “Antropologia e museus: que tipo de diálogo?” In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário de Souza; SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Museus, coleções e patrimônios: narrativas polifônicas. Rio de Janeiro: Garamond, MinC/IPHAN/DEMU, 2007, p.126-137. FERNANDES, José Ricardo Oriá. “Muito antes do SPHAN: a política do patrimônio histórico no Brasil (1838-1937)” In: Anais do Encontro Políticas Culturais: teoria e praxis. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2010. FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; MinC – Iphan, 2005. Fórum Nacional de Museus (2004: Salvador, Bahia, BA). A imaginação museal: os caminhos da democracia. Relatório. Ministério da Cultura, Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais. Brasília, DF: MinC/IPHAN/DEMU, 2004. Fórum Nacional de Museus (2006: Ouro Preto, Minas Gerais, MG). O futuro se constrói hoje. Relatório. Ministério da Cultura, Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais. Brasília, DF: MinC/IPHAN/DEMU, 2004. Fórum Nacional de Museus (2008: Florianópolis, Santa Catarina, SC). Museus como agentes de mudança social e desenvolvimento Relatório. Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais. Brasília, DF: MinC/IPHAN/DEMU, 2010. HALL, Peter; TAYLOR, Rosemary. “As três versões do neo-institucionalismo” In: Scielo Brasil. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452003000100010 (último acesso: 02/09/2007) HUYSSEN, Andréas. Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
118
JORGE, Vítor Oliveira. “Património, neurose contemporânea? Alguns apontamentos sobre o papel da memória colectiva na Idade da Fragmentação” In: JORGE, Vítor Oliveira (coord.) Preservar para quê? 8ª Mesa Redonda de Primavera, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto-CEAUCP/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2005, p. 13-26. NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mário de Andrade e a concepção de patrimônio e inventário. São Paulo: Hucitetc, FAPESP, 2005. SALADINO, Alejandra. Prospecções: o patrimônio arqueológico nas práticas e trajetória da IPHAN. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Rio de Janeiro: UERJ, 2010. SALADINO, Alejandra; COMERLATO, Fabiana; RIBEIRO, Diego Lemos. “Rede de Museus e Acervos Arqueológicos: ativismo para a preservação do patrimônio arqueológico” In: Caderno de Resumos do II Encontro Latino-americano de Arqueologia (resumo expandido). Rio de Janeiro: Centro de Arqueologia Brasileira, 2011:58-60. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004. WICHERS, Camila Azevedo de Moraes. Museus e os descaminhos do patrimônio arqueológico: (des)caminhos da prática brasileira. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Museologia. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2010.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
119
A ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI1
The historical archaeology of paraense Emílio Goeldi museum
Helder Bruno Palheta Ângelo2 RESUMO O texto apresenta um panorama da Arqueologia Histórica desenvolvida pelo Museu Paraense Emílio Goeldi. Campo de pesquisa que despontou na instituição a partir da década de 1980, foi consolidado através de estudos que trouxeram novos olhares sobre a história da Amazônia e vêm contribuindo para a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural da região. Destarte, será discutida a produção científica promovida pelo MPEG, abordando os principais temas de investigação e os resultados obtidos. Palavras-chave: Arqueologia Histórica; Museu Paraense Emílio Goeldi; patrimônio histórico. ABSTRACT The paper presents an overview of the Historical Archeology developed by the Paraense Emilio Goeldi Museum. This field of research that began to emerge in the institution in the 1980’s was consolidated by studies that have brought new perspectives on the history of the Amazon and are contributing to the preservation and appreciation of the historical and cultural heritage of the region. Thus, the scientific production promoted by MPEG will be discussed, addressing the main research topics and results obtained. Keywords: Historical Archaeology; Paraense Emilio Goeldi Museum; historic heritage. RESUMEN Este texto presenta un panorama de la Arqueología Histórica realizada en el Museo Paraense Emilio Goeldi. Esta área de estudios, cuyos inicios en esta institución datan de la década de 1980, se consolida en estudios que aportan nuevas perspectivas sobre la historia de la Amazonía y viene contribuyendo para la conservación y valorización del patrimonio histórico y cultural de la región. Se discute, de esta forma, la producción científica promovida por el MPEG, abordando los principales temas de investigación y los resultados obtenidos. Palabras clave: Arqueología Histórica, Museo Paraense Emilio Goeldi, patrimonio histórico.
1 Este artigo faz parte de uma pesquisa em andamento: “Teorias, correntes e personalidades da arqueologia na Amazônia”, desenvolvida junto à Coordenação de Informação e Documentação (CID) do Museu Paraense Emílio Goeldi e financiada pelo CNPq. Agradeço a revisão do texto feita pela coordenadora Msc. Maria Astrogilda Ribeiro da Silva e o auxílio do arqueólogo Fernando Luiz Tavares Marques, responsável pela indicação de vários textos para a construção do artigo. 2 Graduado em História pela Universidade Federal do Pará e mestre em História Social da Amazônia pela mesma instituição. Atualmente é bolsista na modalidade PCI-DD do Museu Paraense Emílio Goeldi. e-mail: [email protected]; [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
120
Introdução
Podemos considerar que a prática da arqueologia em terras amazônicas é
indissociável da trajetória do Museu Paraense Emílio Goeldi.3 Muitas das informações que
hoje possuímos sobre a pré-história da região se devem às pesquisas arqueológicas que foram
promovidas pela instituição desde a segunda metade do século XIX, a partir da fundação da
Sociedade Filomática do Pará (núcleo inicial do Museu Paraense) em 1866, cujos objetivos
eram os estudos das ciências naturais, do ambiente e do homem amazônico (BARRETO,
1992; FERREIRA, 2010; SANJAD, 2010). A partir dessa iniciativa, enquanto se consolidava
como um valoroso espaço da ciência, o Museu ministrava o processo de institucionalização e
desenvolvimento da arqueologia (FERREIRA, 2010).
Nesse contexto, as ações de personalidades como Domingos Soares Ferreira Penna4,
o suíço Emílio Goeldi5 e Aureliano de Pinto Guedes (auxiliar de Goeldi), foram fundamentais
para o reconhecimento do potencial arqueológico da Amazônia. Fazer parte de expedições,
realizar escavações, colher fragmentos relacionados à cultura indígena e formar coleções
arqueológicas e etnográficas também tinham uma função definida. Segundo Nelson Sanjad:
Próximos da história e da etnologia, os debates arqueológicos desse período não podem ser dissociados do empenho de intelectuais e de governantes em prol da construção de uma identidade nacional. O passado pré-colonial e o presente aparecem, nesses debates, como um continuum na gênese da nação brasileira, sendo as várias etnias indígenas (e suas respectivas línguas, saberes, hábitos, mitos e cultura material), reunidas e homogeneizadas pelo conceito de “raça”, identificadas como representantes legítimas da nacionalidade em tempos pretéritos. (SANJAD, 2011: 134)
As abordagens sobre as populações indígenas realizadas pelo Museu Paraense, nesse
período, definiam fronteiras e estavam atreladas ao ideário de nação em voga. Um projeto de
identidade nacional e geopolítico (FERREIRA, 2010).
No decorrer do século XX, os estudos arqueológicos correspondentes à pré-história
da Amazônia continuaram em destaque na instituição. Pode-se considerar, por exemplo, as
3 A denominação “Museu Paraense” foi dada em 1871. Em 1894, mudou para “Museu Paraense de História Natural e Etnografia”. Já em 1900, mudou novamente, desta vez para “Museu Goeldi”. Por fim, em 1931, recebeu a denominação atual. 4 Domingos Soares Ferreira Penna (1818-1888) foi o fundador do Museu Paraense em 1866 e primeiro diretor do instituto, atuando ainda como naturalista-viajante do Museu Nacional entre 1872-1884. Ele efetuou pesquisas arqueológicas na Ilha do Marajó (PA), nos rios Tocantins, Xingu, Amazonas, Maracá (no atual estado do Amapá), além de estudar os sambaquis existentes no litoral paraense (BARRETO, 1992). 5 O zoólogo suíço Emílio Augusto Goeldi (1859-1917), assumiu a direção do Museu entre 1894 e 1907, a convite do governador do Pará, Lauro Sodré, sendo responsável por constituir um plano sistemático de escavações e organizar as coleções arqueológicas e etnográficas da instituição (FERREIRA, 2009).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
121
pesquisas efetuadas pelos alemães Curt Nimuendaju e Protásio Frikel, os trabalhos
desenvolvidos pelo casal Betty Meggers e Clifford Evans, cujas ideias e métodos de pesquisa
influenciaram arqueólogos como o carioca Mário Ferreira Simões, o qual, a partir da década
de 1960, organizou e estruturou um moderno setor de arqueologia no Museu. Não podemos
esquecer-nos das pesquisas promovidas pela arqueóloga estadunidense Anna Roosevelt que,
entre outras questões, refutaram as teorias de sua compatriota, Betty Meggers6.
Nos últimos anos, na Área de Arqueologia do Museu Emílio Goeldi, embora a
chamada arqueologia pré-histórica ainda tenha destaque na produção científica da instituição,
deve-se ressaltar a firmação das pesquisas de Arqueologia Histórica, iniciadas na década de
1980, incrementadas na década de 1990 e, atualmente, consolidadas com uma série de
projetos de pesquisa, dissertações e teses de doutorado, além de diversos artigos científicos
que propiciaram novos olhares sobre a história da Amazônia (PEREIRA, 2009).
Nesse sentido, o presente texto realiza um balanço sobre a arqueologia histórica
promovida pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, assunto que foi brevemente abordado por
autores que escreveram sobre a história das pesquisas arqueológicas na instituição, como
Barreto (1992) e Pereira (2009).
Antes, acreditando que a “Arqueologia só pode ser entendida em seu contexto
histórico e social” (FUNARI, 2005: 1), creio ser necessário, primeiramente, fazer alguns
apontamentos sobre o processo de nascimento da Arqueologia Histórica e as correntes
teóricas que deram embasamento ao seu desenvolvimento, para assim melhor
compreendermos o seu florescimento no Museu.
6 Alicerçados nas ideias de determinismo ecológico e difusão cultural, Betty Meggers e Clifford Evans, em fins da década de 1940, deram início às pesquisas arqueológicas na região da foz do Rio Amazonas, mais especificamente nas ilhas do Marajó, Mexiana e Caviana. Com os resultados obtidos pela análise do material coletado, puderam identificar cinco fases culturais em sequência: Ananatuba, Mangueira, Formiga, Marajoara e Aruã, sendo que a fase Marajoara diferenciava-se das outras por não apresentar um padrão de cultura de “floresta tropical”, sendo detentora de uma estrutura socioeconômica e tecnológica mais desenvolvida, observada a partir da presença de cerâmicas altamente elaboradas e aterros artificiais. Nesse sentido, a fase Marajoara corresponderia a uma cultura intrusa na dita área, uma anomalia, oriunda de um ambiente externo, provavelmente dos Andes. Contudo, com o passar do tempo, essa dita cultura não teria suportado as condições impostas pela floresta tropical, não havendo condições para a manutenção dos seus sistemas social, econômico e político. Como resultado, ela entrou em decadência, passando de uma organização política do tipo “cacicado” para “tribo de floresta tropical”, a partir de uma perspectiva evolucionista então em voga na antropologia dos Estados Unidos. (MEGGERS & EVANS, 1957; BARRETO, 1992; GUAPINDAIA, 2008) A partir da década de 1980, a arqueóloga Anna Roosevelt irá tecer críticas às teorias de Meggers, afirmando que a hipótese desta não se sustenta, pois as terras baixas teriam prioridade cronológica sobre as áreas montanhosas tanto no desenvolvimento de cerâmicas, quanto em ocupações sedentárias. Nesse sentido, em outra perspectiva, defende que as influências provenientes da floresta tropical contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e cultura dos Andes. Para Roosevelt, o meio ambiente amazônico, rico em nutrientes, apresentava-se como extremamente favorável ao desenvolvimento humano, havendo a presença de sociedades hierárquicas do tipo “cacicado”, sendo estas autóctones, provenientes diretamente de culturas ceramistas anteriores da Amazônia oriental, sem ligação com a região andina. Nesse sentido, a floresta tropical seria fonte de inovação e difusão de cultura. (ROOSEVELT, 1992; GUAPINDAIA, 2008)
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
122
Trajetória, correntes teóricas e definições: breves considerações.
A arqueologia, mais especificamente a arqueologia responsável pelo estudo da pré-
história, já se desenvolvia e atravessava um processo de institucionalização no Brasil desde a
virada do século XIX para o XX, a partir das pesquisas empreendidas no Museu Botânico do
Amazonas, no Museu Paraense e no Museu Paulista. (FERREIRA, 2010)
Por outro lado, a Arqueologia Histórica é uma modalidade relativamente ainda
jovem. Denominação que surgiu nos Estados Unidos, ela foi consolidada no dito país na
década de 1960, no contexto de florescimento da New Archaeology (ou Arqueologia
Processual) (FUNARI, 2005; JOHNSON, 2000). De modo geral, tal corrente teórica surgiu do
sentimento de insatisfação com a situação da arqueologia até aquele contexto7 e veio com o
intuito de fazer uma mudança na disciplina científica. Era preciso centrar as atenções menos
nos objetos e nas suas descrições. Os arqueólogos que seguiram essa linha buscavam “ser
mais científicos e mais antropológicos” (JOHNSON, 2000: 38). Não à toa, um dos líderes
dessa geração, Lewis Binford, defendia uma visão da arqueologia como antropologia
(BINFORD, 1962). Pretendia-se encontrar regularidades no comportamento humano ou,
melhor explicando, leis transculturais de comportamento (FUNARI, 2005).
Foi nesse momento que um grupo de arqueólogos estadunidenses tentou adaptar as
ideias da New Archaeology para o estudo arqueológico dos períodos históricos (JOHNSON,
2000). De acordo com Binford (1967 apud JOHNSON, 2000: 192), “os especialistas nesse
campo deveriam utilizar os métodos de contestação e avaliação que são habituais entre os
arqueólogos da pré-história”.
Nas décadas de 1980/90, assim como aconteceu em outras ciências sociais, a
arqueologia sofreu a interferência do pós-processualismo. Corrente teórica que surgiu como
uma alternativa à New Archaeology, ela volta suas atenções, entre outras questões, para os
estudos do poder social, da ideologia e de gênero (COSTA, 2010), sendo que os objetos
deveriam ser vistos como elementos ativos, utilizados para reproduzir relações sociais,
atentando para o significado cultural que a cultura material possuía para uma determinada
sociedade (REIS, 2002; SYMANSKI, 2009). Ideia que também interessou os arqueólogos
históricos por dar privilégio ao significado cultural adquirido pela cultura material que
7 Principalmente em relação à arqueologia histórico-cultural que, por influência do evolucionismo cultural que a antecedeu, enquadrava os achados arqueológicos nos modelos deste último, havendo a preocupação dos arqueólogos no estudo da distribuição geográfica dos artefatos e suas relações com os grupos históricos, nas sequências regionais documentadas pelos artefatos e nos atributos técnicos destes e na explicação das mudanças culturais relacionadas a causas externas (REIS, 2002).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
123
determinada sociedade produziu e utilizou, retomando para a Arqueologia a discussão de
problemas de caráter histórico ligados às propostas da Nova História Francesa8.
No Brasil, as primeiras pesquisas sistemáticas em Arqueologia Histórica surgiram,
embora timidamente, na década de 1960 a partir de investigações promovidas por
profissionais que tinham experiências nas temáticas inerentes à pré-história, principalmente
relacionados ao PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas) 9, mantido pelo
Smithsonian Institute 10 . Não à toa, esses arqueólogos utilizavam os princípios teóricos e
metodológicos correspondentes à abordagem histórico-cultural (SYMANSKI, 2009).
Sua prática tem sido ampliada no cenário brasileiro a partir da década de 1980,
principalmente após a restauração paulatina das liberdades políticas, com o fim do arbítrio,
com o relaxamento da censura e com a passagem para um regime civil em 1985 (FUNARI
2005). Foi quando a Arqueologia Histórica finalmente cristalizou-se como uma importante
ferramenta para a compreensão do passado brasileiro e foram abertas novas perspectivas com
objetivos de darem voz a minorias étnicas e grupos subalternos, oprimidos, cujas ações não
são explícitas em documentos oficiais; resgatar práticas cotidianas sobre as quais
normalmente não se escreve; recuperar memórias e assim por diante (LIMA, 2003).
Campo científico relativamente jovem, não causaria tanta surpresa a dificuldade
existente ainda hoje em atribuir um conceito fixo à Arqueologia Histórica. De fato, tentar
defini-la não é uma das tarefas mais fáceis, em virtude dos vários debates teórico-
metodológicos pelos quais passou durante sua trajetória.
Algumas definições inerentes à Arqueologia Histórica já foram bastante utilizadas
por estudiosos da área. Arqueologia Histórica é o “estudo dos remanescentes históricos de
qualquer período histórico”, escreveu Robert Shcuyler (apud LIMA, 1993) na década de
1970. Para Orser Jr. (1992: 23) trata-se do “estudo arqueológico dos aspectos materiais, em
termos históricos, culturais e sociais concretos, dos efeitos do mercantilismo e do capitalismo
que foi trazido da Europa em fins do século XV e que continua em ação ainda hoje”.
Perspectiva que é compartilhada também por Hall e Silliman (2006). Não menos usual é a
8 Para uma discussão mais aprofundada sobre a Nova História Francesa, ver BURKE (1997). 9 Realizado entre 1965 e 1970, com a colaboração do IPHAN e CNPq, sendo conveniado ao Smithsonian Institution, tinha por objetivo estabelecer a primeira sequência das culturas indígenas dos estados litorâneos brasileiros desde o Pará até o Rio Grande do Sul, com acento especial nas migrações dos grupos Tupi- Guarani. Teve como mentores o casal Betty Meggers e Clifford Evans. 10 O Smithsonian Institute, com sede em Washington, nos Estados Unidos, vem realizando ações na Amazônia desde o século XIX. Em meados do século XX ele financiou programas de arqueologia no Brasil, patrocinando ainda, por exemplo, as pesquisas realizadas pelo casal Betty Meggers e Clifford Evans, atreladas ao MPEG (BARRETO, 1992).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
124
definição de Deetz (1997), como sendo “A arqueologia da disseminação da cultura europeia
através do mundo desde o século XV e seu impacto nas populações indígenas”.
Para Funari (1996: 164), “a definição exata de Arqueologia Histórica constitui,
provavelmente, a questão mais controversa na atualidade.” A compreensão dela como o
estudo arqueológico do período posterior à chegada dos europeus no continente americano é
comumente colocada em xeque. Os modelos adotados pelos arqueólogos estadunidenses
partem do pressuposto, talvez válido nos Estados Unidos, de que as relações sociais foram
marcadas pelo domínio do capital. Já no contexto brasileiro, onde predominavam as
sociabilidades muitas vezes distantes desse ideal capitalista e mais próximas do patriarcalismo
escravista, os modelos importados (dos Estados Unidos) nem sempre dão conta da
diversidade social brasileira (FUNARI, 2003).
Por outro lado, ao entender esse campo científico como o estudo da expansão da
cultura européia por todo o mundo, corre-se o risco de dar conta de apenas um lado da moeda,
“pois continuidades milenares podem ser tão ou mais importantes que a europeização do
globo” (FUNARI, 1996: 166). A civilização “capitalista” não foi capaz de reduzir todas as
relações sociais do mundo a relações econômicas (FUNARI, 2007) 11.
Dessa forma, buscando contornar tal problemática, Funari afirma que o objeto de
estudo da Arqueologia Histórica passa a ser justamente a “interação entre dominantes e
dominados, letrados e iletrados, em diferentes contextos culturais e cronológicos.” (FUNARI,
1996: 166). A partir dela, observamos os contatos multiculturais e as contradições das
sociedades pretéritas, as tensões sociais que podem ser interpretadas tanto nos documentos
históricos quanto nos vestígios materiais (COSTA, 2010).
A Arqueologia Histórica em terras brasileiras: balanços bibliográficos
Diante do florescimento das pesquisas em Arqueologia Histórica no Brasil, duas
produções realizaram uma revisão intensa sobre os trabalhos efetivados no país.
O primeiro trabalho diz respeito a um artigo publicado por Tânia Andrade Lima em
1993, intitulado “Arqueologia Histórica no Brasil: balanço bibliográfico (1960-1991)”. A
autora ressalta que no seu início, na década de 1960, os primeiros trabalhos sistemáticos
concentraram-se no eixo sul/nordeste, enquanto que as outras regiões do país, como no norte,
11 A priorização do capitalismo como algo incontrolável, domando as mentes dos grupos subordinados, pode levar a uma subavaliação da resistência e da heterogeneidade ocorrida em diversos contextos históricos (FUNARI, 2007).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
125
centro-oeste e mesmo o sudeste estavam distante dos debates. Era um momento em que
disciplina sofria com o pequeno número de profissionais em ação e até mesmo com certo
preconceito, recebendo em reuniões científicas um tratamento depreciativo (LIMA, 1993).
No entanto, a partir da década de 1980, surge um novo panorama, com o
fortalecimento da subdisciplina a partir de uma maior coesão entre os especialistas, havendo o
aumento da troca de informações, a formação de grupos de trabalhos e a promoção de novos
encontros. Também é observado o florescimento de trabalhos mais comprometidos com a
teoria, com abordagens processuais, trazendo à tona aspectos políticos, ideológicos e
simbólicos (LIMA, 1993).
Por fim, em seu artigo, a autora faz uma listagem da bibliografia da Arqueologia
Histórica brasileira correspondente ao período 1969-1991. São relacionados oitenta e dois
trabalhos realizados em estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São
Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, além de
artigos que tratam de teoria e método em Arqueologia Histórica. (LIMA, 1993). Contudo,
mesmo diante deste considerável levantamento, não há menção às pesquisas em arqueologia
histórica na Amazônia.
Luís Cláudio Pereira Symanski também buscou realizar um balanço da subdisciplina
no país, enfocando o período posterior à análise feita por Lima (1993). Em seu “Arqueologia
Histórica no Brasil: uma revisão dos últimos vinte anos”, publicado em 2009, Symanski
realiza uma abordagem sobre os caminhos que ela tomou na década de 1990 e início do
século XXI.
Uma das questões discutidas pelo autor diz respeito ao cenário atual da Arqueologia
Histórica no país, caracterizado pela continuidade da abordagem histórico-cultural; aplicação
de métodos e conceitos da arqueologia processual; reprodução da abordagem histórico-
cultural, porém sob o novo rótulo de abordagem contextual; e por abordagens críticas e
simbólicas, explorando uma diversidade de temáticas relacionadas ao processo de expansão
do capitalismo (SYMANSKI, 2009).
Outro ponto trabalhado por Symanski corresponde à intensa bibliografia por ele
levantada. Desse modo, são apresentadas, por exemplo, as pesquisas feitas em estados como
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais,
Mato Grosso e Alagoas. Porém, apesar desse intenso levantamento, que contempla as regiões
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
126
sul, sudeste, nordeste e centro-oeste, não há, também, referências à Arqueologia Histórica
praticada na Amazônia brasileira. 12
Dessa forma e diante dos exemplos que foram expostos, propõe-se fazer uma
reflexão sobre a prática da Arqueologia Histórica na Amazônia, mais especificamente a
promovida pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, destacando o que as pesquisas têm
proporcionado para um maior conhecimento sobre a história da região.
A Arqueologia Histórica no Museu Paraense Emílio Goeldi: objetos e resultados
No Museu Paraense Emílio Goeldi, as primeiras pesquisas relacionadas à
Arqueologia Histórica acompanharam o contexto nacional e datam da década de 1980.
Embora a instituição tenha realizado a primeira experiência nesse campo em 198513,
o primeiro projeto sistemático que apresentou resultados foi promovido por Scott Anderson e
Fernando Marques nas localidades interioranas de Igarapé-Miri e Barcarena14, em 1988 e
1989, respectivamente, quando se fez o levantamento dos antigos engenhos movidos pela
maré na região (BARRETO, 1992). Visando as comunidades locais, tal projeto pretendia
fazer um resgate da tradicional tecnologia de captura da energia de antigos engenhos movidos
à maré, adaptando-a, com o uso de micro-turbinas, como alternativa para o desenvolvimento
rural (ANDERSON, MARQUES & NOGUEIRA, 1993).
De certo modo, as incursões que o Museu Emílio Goeldi promoveu na área de
Arqueologia Histórica se deram tardiamente. Na década de 1980, enquanto outras regiões do
país já possuíam uma trajetória em pesquisas sistemáticas, os trabalhos em Arqueologia
Histórica na instituição eram escassos, havendo prioridades, por parte dos pesquisadores, de
estudos relacionados à tradicional arqueologia pré-histórica.
Tal cenário irá ser alterado na década de 1990, quando há o incremento da
Arqueologia Histórica a partir de projetos de pesquisas, dissertações de mestrado, teses de
doutorado e a publicação de artigos científicos (PEREIRA, 2009).
Manteve-se a atenção destinada ao empreendimento canavieiro na Amazônia. Em
1992 foi publicado no Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi os resultados da pesquisa 12 É pertinentes ressaltar que, embora não tivessem como principal objetivo, outros trabalhos realizaram um levantamento sobre a arqueologia histórica no país, como no caso de Costa (2010) e Funari (1997). Nestes, contudo, prevalece ainda a ênfase dada à sua prática em regiões nordeste, sul e sudeste, enquanto que a região amazônica permanece distante de suas análises. 13 No final de 1985, quando Fernando Marques, Vera Guapindaia e Edithe Pereira realizaram um levantamento arqueológico e histórico em uma residência localizada em Soure (PA). 14 Igarapé-Miri e Barcarena estão localizadas na chamada “zona estuarina amazônica”, sendo que a primeira está localizada a cerca de 80km de Belém, enquanto que Barcarena a 22 km da capital paraense.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
127
promovida por Scott Anderson e Fernando Marques na localidade de Igarapé-Miri, sendo
estudados os vestígios de treze antigos engenhos de cana-de-açúcar movidos à maré, suas
técnicas de instalação e o seu modo de funcionamento. A relação da arqueologia com as
comunidades locais esteve mais uma vez presente, já que muitas das informações obtidas
foram oriundas das informações de moradores da região, concluindo-se que aquela tecnologia
comumente era usada na região e obteve grande êxito (ANDERSON & MARQUES, 1992).
No decorrer dos anos, as possibilidades de investigação floresceram. A contribuição
da disciplina para o entendimento da história amazônica também pode ser verificada na tese
de Fernando Marques, que trouxe à discussão a história da agroindústria canavieira no
estuário amazônico 15 . Mesclando disciplinas como história, arqueologia e arquitetura, os
estudos sobre a cultura material inerente aos engenhos Murutucu, Jaguarari, Uriboca e
Mocajuba promoveram uma análise sobre o ambiente, as características arquitetônicas e o
comércio da região durante os séculos XVIII e XIX. Destaque para uma das especificidades
da produção canavieira relacionada à grande quantidade de rios, furos e igarapés que
viabilizaram a uma série de indivíduos a instalação de engenhos, desde os mais simples, até
aos mais pomposos (MARQUES, 2004) 16.
No Museu Paraense Emílio Goeldi, a importância que o estudo dos engenhos
amazônicos adquiriu viabilizou o surgimento, nos anos 2000, do projeto “Arqueologia e
história de engenhos coloniais no estuário amazônico” 17, dando continuidade às pesquisas
iniciadas na década de 1980 e revelando a diversidade da cultura material presente em tais
empreendimentos. A recorrência de cerâmicas indígenas e neobrasileiras, objetos de vidro e
metal e louças de procedência europeia, por exemplo, permite pensá-los como cenários em
que os contatos entre culturas distintas eram frequentes.
15 A chamada “zona estuarina amazônica” é caracterizada pela confluência da Baía do Guajará com os rios Mojú, Acará e Guamá, com o terreno marcado por regiões de várzea. Estas áreas próximas a rios caracterizam-se pela alta fertilidade do solo, contribuindo para a presença de um sistema agroindustrial que visava o beneficiamento da cana-de-açúcar principalmente através dos engenhos movidos à maré, bastante difundidos na região. Cf.: Anderson (1992) Sobre os engenhos e a história do empreendimento canavieiro na região ver também Marques (2003). 16 Para a efetivação do seu trabalho, o autor não considerou somente uma corrente teórica arqueológica, mas sim, privilegiou pela mescla das abordagens histórico-cultural, processual e pós- processual, já que o estudo perpassou pela investigação das propriedades físicas dos artefatos e estruturas, buscando compreender sua funcionalidade e procedência cultural. Por outro lado, ao analisar a adaptação de tal modelo industrial às especificidades do meio físico regional, buscou-se também a fundamentação na Arqueologia Processual, dando-se ênfase ainda aos grupos sociais que habitaram os engenhos. Por fim, relacionando-se à corrente pós-processual, levou-se em conta a dimensão dos significados simbólicos, seus usos como demarcadores sociais e os aspectos simbólicos das sociedades que os produziram (MARQUES, 2004). Dessa forma, tal produção aproxima-se do crescente pluralismo presente na Arqueologia a partir da década de 1990, com a convivência de diferentes correntes teóricas como uma salutar característica da disciplina na atualidade (FUNARI, 2005). 17 Coordenado pelo arqueólogo Fernando Luiz Tavares Marques.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
128
O desafio de pensar sobre a Arqueologia Histórica goeldiana não pode estar
desvinculado da chamada Arqueologia de Salvamento, modalidade que foi sendo cada vez
mais requisitada na medida em que cresciam na Amazônia os projetos desenvolvimentistas
(hidrelétricas, exploração mineral, rodovias etc.), principalmente a partir da década de 1970
(BARRETO, 1992; PEREIRA, 2009). Já nos anos 2000, por exemplo, dois dos engenhos
pesquisados por Marques (2004) – Jaguarari e Uriboca – tiveram que receber uma maior
atenção, por estarem condicionados a sofrerem com os impactos da construção da rodovia
Alça Viária18.
A associação das arqueologias históricas e de salvamento também esteve presente
quando da implantação do “Programa de Arqueologia Preventiva na Área de Influência da
Mina de Bauxita Paragominas”19 que visou a proteção de sítios arqueológicos pré-históricos e
históricos, localizados em área de influência de exploração mineral nos municípios de
Abaetetuba, Barcarena e Moju20 (CANTO & LOPES, 2009).
Acompanhando esse panorama, muitas das produções têm enfatizado a relação com
as comunidades estabelecidas próximas às áreas investigadas. Desse modo, esses grupos têm,
através de ações de educação patrimonial, a oportunidade de reconhecerem a importância dos
estudos realizados em igrejas e engenhos datados do período colonial, havendo, por
conseguinte, uma maior preservação dos vestígios materiais e valorização da memória e da
cultura local (MARQUES, 2003; CANTO & LOPES, 2009; PEREIRA, 2009).
Se a arqueologia industrial tem sido de grande importância para a história da
agroindústria canavieira na região, a arqueologia urbana também ganhou a atenção das
pesquisas do Museu Paraense Emílio Goeldi nos últimos anos. Destaque para o centro
histórico de Belém e outros espaços tradicionais que apresentam um valioso acervo
arquitetônico oriundo dos períodos colonial e imperial (MARQUES, 2010).
Pesquisas no perímetro urbano da capital paraense já foram efetuadas no ano de
1989, quando a instituição promoveu uma pesquisa na área da Companhia Docas do Pará.
Coordenada por Klaus Hilbert, objetivava descobrir os vestígios da velha fortaleza de São
Pedro Nolasco21 . Ainda nessa fase de florescimento de estudos, os trabalhos também se
18 A Alça Viária do Pará é um complexo de estradas e pontes inaugurada em 2002 visando a interligação da região metropolitana de Belém com municípios do interior do Estado, fazendo parte do Sistema de Integração do Leste Paraense, promovido pelo Governo do Pará. Vale ressaltar que a tese do arqueólogo Fernando Marques, representa uma produção científica associada à pesquisa de contrato. Cf.: Marques (2004) e Pereira (2009). 19 Coordenado pelo arqueólogo Paulo Roberto do Canto Lopes. 20 Município localizado na região estuarina amazônica, a um a distância de 60 km de Belém. 21 O Forte de São Pedro Nolasco foi erguido a partir de 1665 e situava-se à beira do Rio Guamá, no fundo dos Mosteiros dos Mercedários. Sendo demolido após os conflitos da Cabanagem (1835-1840).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
129
estendiam para outros estados. Já no ano de 1990, o arqueólogo Marcos Magalhães estudou a
fortaleza de São José de Macapá, no Amapá (BARRETO, 1992).
No correr dos anos, os arqueólogos do Museu trouxeram à tona novas questões para
a história da região.
Investigações foram conduzidas na área onde estava localizada a antiga Igreja de
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, que existiu do século XVII até por volta de
1940, sendo encontrada, além de materiais de origem europeia, uma grande quantidade de
cerâmica relativa à cultura indígena. (GUAPINDAIA, MARQUES &MAGALHÃES, 1996).
Em 1995, foram efetivadas pesquisas no prédio do atual Museu de Arte Sacra, onde
foram encontrados vestígios do antigo Colégio dos Jesuítas, do início do século XVII, e ainda
fragmentos de cerâmica característicos da cultura indígena. De 1997 a 1999, foi realizado um
trabalho arqueológico na área do Cais de Belém, onde se localizou os alicerces do Forte de
São Pedro Nolasco e do primeiro cais de Belém, além de fragmentos de origem européia
associados com peças de cerâmica indígena (MARQUES, 2010).
Situação semelhante ocorreu quando da realização de pesquisas durante o
desenvolvimento do Projeto Feliz Lusitânia, quando entre 2001 e 2002 foram feitos estudos
arqueológicos da área do Forte do Presépio (do Castelo) e da Casa das Onze Janelas, no
centro histórico da cidade. Nas prospecções foram coletados materiais correspondentes à
cultura indígena, como cerâmicas não torneadas e artefatos líticos, assim como se verificou a
ocorrência de objetos de consumo produzidos na Europa, como pratos e tigelas de faiança e
faiança fina, porcelanas, vidros, cachimbos, além de fragmentos de metal como moedas,
talheres e itens para uso bélico (MARQUES, 2006).
Em relação ao projeto de restauração do Forte do Castelo, os resultados obtidos
tiveram grande relevância a ponto de as descobertas arqueológicas integrarem o programa
museológico implantado no local, havendo uma exposição relacionada à estratigrafia do solo,
a cultura material indígena e européia coletada, assim como o processo de escavação. A
arqueologia teve direta participação no produto final da intervenção no monumento e na
proposta de leitura histórica que o mesmo possui na atualidade e que é apresentada ao
público. Assim, mais do que um museu militar, o Forte é também um espaço onde são
apresentados um pouco sobre o passado indígena amazônico e os contatos culturais que
ocorreram na região (COSTA, 2007).
De modo geral, nos exemplos de estudos apontados acima, observa-se que, ainda que
direcionadas a darem contas de sítios históricos, as pesquisas no centro histórico belenense
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
130
também apontaram para evidências pré-históricas, as quais não foram desconsideradas pela
arqueologia (COSTA, 2007).
A arqueologia urbana também trouxe à tona uma constatação que até então era
desconhecida acerca dos processos de contato entre europeus e povos nativos na Baixa Bacia
do Amazonas: as primeiras construções de origem européia, estabelecidas no núcleo do que
hoje é conhecido como Cidade Velha, foram assentadas sobre antigas aldeias indígenas, ou
junto a outras que se situavam nas suas proximidades. Um dado que pode ser explicado por
questões estratégicas, envolvendo navegação, defesa e subsistências, mas que também pode
estar atrelado às relações que foram estabelecidas com os grupos ameríndios. A grande
quantidade de cerâmicas de tradição indígena em comparação aos fragmentos de faianças
portuguesas sugere, por exemplo, um comumente consumo da materialidade indígena pelos
colonizadores, indicando, por conseguinte, uma maior aproximação entre as comunidades
(COELHO e MARQUES, 2011).
Esses são alguns exemplos que ressaltam o potencial arqueológico que os quase
quatrocentos anos de história de Belém podem oferecer. Nesse sentido, a arqueologia
histórica age como um elemento singular na construção da memória local, dando destaque
não somente às chamadas arquiteturas dos “dominantes”, mas também resgatando a história
dos povos nativos da Amazônia e de que modo se deu o contato entre eles. Ao produzir
conhecimento sobre o cotidiano de negros, caboclos e indígenas que habitaram a cidade, cujas
trajetórias de vida não aparecem em documentos oficiais, ela torna-se também pública e
engajada (FUNARI, 2005).
Não à toa, tal tipo de abordagem arqueológica possibilitou que no Museu Paraense
Emílio Goeldi fosse criado uma linha de pesquisa voltada para “arqueologia urbana e resgate
da memória da cidade”, que fomentou uma série de projetos de restauração no centro histórico
de Belém (MARQUES, 2011).
Considerações finais
O presente texto teve como objetivo traçar um panorama sobre a prática da
Arqueologia Histórica no Museu Paraense Emílio Goeldi, considerando os principais objetos
de estudo e os resultados que foram obtidos ao longo de quase três décadas de pesquisas em
terras amazônicas. Uma ciência relativamente jovem na instituição, cujo florescimento esteve
em boa parte atrelada à tradicional arqueologia pré-histórica, já que desde o seu início
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
131
usufruiu de técnicas e metodologias de análise presentes na arqueologia goeldiana desde os
tempos de Betty Meggers e Mário Simões22.
Assim, como em boa parte do Brasil, a Arqueologia Histórica promovida no Museu
Paraense Emílio Goeldi está em processo de desenvolvimento e vem contribuindo para que a
instituição também seja reconhecida como um importante centro de investigação da história
amazônica. Engenhos coloniais, igrejas, a cultura material européia e indígena são alguns dos
principais objetos de investigação no Museu Paraense Emílio Goeldi. A preocupação com o
patrimônio histórico e cultural também emerge nos trabalhos realizados, assim como a
educação patrimonial realizada em comunidades onde são efetuadas as pesquisas
arqueológicas.
Contudo, é pertinente ressaltar que o referido campo de pesquisa ainda tem muito a
avançar, precisando se distanciar ainda mais de uma perspectiva meramente descritiva sobre
os sítios, estruturas físicas e artefatos, e aproximar-se ainda mais das relações sociais e
significados simbólicos inerentes a sociedades pretéritas. Além disso, muitas das pesquisas
arqueológicas realizadas nos últimos anos não foram publicadas e encontram-se somente em
forma de relatórios técnicos. Essas são questões para as quais os trabalhos futuros devem
enveredar.
De todo modo, paralelamente ao estudo das sociedades indígenas do período anterior
à colonização, a Arqueologia Histórica vem ganhando espaço no Museu Paraense Emílio
Goeldi. Importância que vem sendo conquistada não somente pelo fato de produzir
conhecimentos sobre o passado amazônico, mas também por não deixar de estar preocupada
com questões atuais inerentes às identidades culturais de várias comunidades.
O que atualmente pode ser observado, portanto, é um processo de construção da
prática científica, sendo que os primeiros passos já foram dados e ainda há muito para se
investigar.
Referências bibliográficas ANDERSON, Scott. “Engenhos na várzea: uma análise do declínio de um sistema de produção tradicional na Amazônia” In: LENA, Philippe; OLIVEIRA, Adélia Engrácia de (Orgs.). Amazônia: a fronteira agrícola 20 anos depois. Belém, 2ª edição, Museu Paraense Emílio Goeldi, p. 101-121, 1992. _______________; MARQUES, Fernando. “Engenhos movidos a maré no estuário do amazonas: vestígios encontrados no município de Igarapé-Miri, Pará” Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, vol. 8, nº 2, p. 295-301, 1992. 22 Arqueólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi entre 1962 e 1985, atuando como chefe do Setor de Arqueologia da instituição.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
132
BARRETO, Mauro Vianna. “História da pesquisa arqueológica no Museu Paraense Emílio Goeldi” Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém, vol. 8, nº 2, p. 203-294, 1992. BINFORD, Lewis. “Archaeology as Antropology” In: American Antiquity, vol. 28, nº 2, p 217-225, 1962. BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. São Paulo, Unesp, 1997. CANTO, Otávio do; LOPES, Paulo Roberto do Canto. Novas abordagens em arqueologia preventiva: sítios arqueológicos Bittencourt, Alunorte e Jambuaçu. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, 2009. COELHO, Rui Gomes; MARQUES, Fernando. “Processo de contato e primórdios da colonização na baixa bacia do Amazonas (sécs. XVI-XVII). Velhos e Novos Mundos”. Congresso Internacional de Arqueologia Moderna, 2011, Lisboa. Anais do Congresso Internacional de Arqueologia Moderna, 2011. COSTA, Dayseane Ferraz da. Além da pedra e cal: a (re)construção do Forte do Presépio (Belém do Pará, 2000-2004). Dissertação. Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2007. COSTA, Diogo. “Arqueologias Históricas: um panorama espacial e temporal”. Vestígios - Revista Latino-americana de Arqueologia Histórica, Belo Horizonte, vol.4, nº 2, p.176-200, 2010. DEETZ, James. In Small Things Forgotten: The Archeology of Early American Life. New York, Anchor Books, 1977. FERREIRA, Lúcio Menezes. “‘Ordenar o Caos’: Emílio Goeldi e a arqueologia amazônica”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Ciências Humanas. Belém, vol.4, nº 1, p.171-190, jan./abr. 2009. ______________. Território Primitivo: A Institucionalização da Arqueologia no Brasil (1870-1917). Porto Alegre, Edipucrs, 2010. FUNARI, Pedro Paulo. “O Amadurecimento de uma arqueologia histórica mundial”. Revista de História, São Paulo, nº 135, p. 163-168, jul./dez.1996. _____________ Os avanços da arqueologia histórica no Brasil, um balanço. Com Ciência, Campinas, 2003. Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq13.shtml. Acesso: 20/12/2012.
_____________. “Teoria e métodos na Arqueologia contemporânea: o contexto da Arqueologia Histórica”. Mneme - Revista de Humanidades. Dossiê Arqueologias Brasileiras, Campinas, vol.6, nº13, p. 1-5, dez.2004/jan.2005. _____________. “Teoria e Arqueologia Histórica: A América Latina e o Mundo”. Vestígios - Revista Latino-americana de Arqueologia Histórica, Belo Horizonte, vol.1, nº 1, jul./dez. 2007.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
133
GUAPINDAIA, Vera Lúcia. Além da margem do rio - as ocupações Konduri e Pocó na região de Trombetas, PA. Tese. Programa de pós-graduação em Arqueologia, Universidade de São Paulo, 2008. GUAPINDAIA, Vera Lúcia; MARQUES, Fernando Luiz Tavares & MAGALHÃES, Marcos Pereira. “Resgate Arqueológico da Igreja de N. S. do Rosário dos Homens Brancos, em Belém, Pará”. In: Igreja de N. S. do Rosário dos Homens Brancos Séculos XVII/XIX. Belém, Prefeitura Municipal de Belém/FUMBEL (Caminhos da Cultura), 1996. HALL, Martin; SILLIMAN, Stephen. “Introduction: archaeology of the modern world”. In: HALL, Martin; SILLIMAN, Stephen (orgs.). Historical archaeology, Oxford, Blackwell Publishing, p. 1-22, 2006. JOHNSON, Matthew. Teoría arqueológica: una introducción. Barcelona, Ariel, 2000. LIMA, Tânia Andrade. “Arqueologia Histórica: algumas considerações teóricas”. Clio - Série Arqueológica, Recife, vol.5, p. 87-99, 1989. _____________ “Arqueologia Histórica no Brasil: um balanço bibliográfico (1960-1991)”. Anais do Museu Paulista, São Paulo, vol.1, nº1. p. 225-262, 1993. ____________. “Os marcos teóricos da arqueologia histórica, suas possibilidades e limites”. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, Edipucrs, vol. 28, nº 2, p. 7-23, 2002. MARQUES, Fernando Luiz Tavares. Engenhos de Maré em Barcarena, Pará: Arqueologia de seus sistemas Motrizes. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993. _____________. “Organização Espacial e Cultura Material no Engenho Murutucu: uma abordagem arqueológica”. In: Landi e o Século XVIII na Amazônia, Belém, p. 1-8, 2003. _____________Modelo da Agroindústria Canavieira Colonial no Estuário Amazônico: Estudo Arqueológico de Engenhos dos Séculos XVIII e XIX. Tese. Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. ____________. “Investigação arqueológica na Feliz Lusitânia”. In: Pará. Secretaria executiva do Estado. (Org.). Feliz Lusitânia/Forte do Presépio – Casa das Onze Janelas – Casario da Rua Padre Champagnat. Belém, SECULT-PA, vol.4, p. 147-190, 2006. _____________. “Um Sítio Indígena sob a Feliz Lusitânia: Descobertas Recentes em Arqueologia Urbana, em Belém do Pará”. In: SIMONIAN, Ligia T. L. (Org.). Belém do Pará: História, Cultura e Sociedade. Belém, Editora do NAEA, vol. 1, p. 49-58, 2010. MEGGERS, Betty; EVANS, Clifford. “Archaelogical investigations at the mouth of the Amazon”. Bureau of American Ethnology Bulletin, Washington, vol. 167, p. 1-664, 1957. ORSER JR., Charles. Introdução à arqueologia histórica. Belo Horizonte, Oficina de Livros, 1992. PEREIRA, Edith. “O Museu Goeldi e a pesquisa arqueológica: um panorama dos últimos dezessete anos (1991-2008)”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Ciências Humanas, Belém, vol.4, nº 1, p.171-190, jan./abr. 2009.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
134
REIS, José Alberione dos. “Análise do discurso e arqueologia: ...é possível transitar por entremeios?...” Métis: Revista de História e Cultura da Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, vol. 1, nº 2, p. 209-228, dez. 2002. ROOSEVELT, Anna Curtenius. “Arqueologia amazônica”. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. SANJAD, Nelson. A Coruja de Minerva: o Museu Paraense entre o Império e a República (1866-1907). Brasília, Instituto Brasileiro de Museus; Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi; Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, 2010. ___________ “Ciência de potes quebrados: nação e região na arqueologia brasileira do século XIX”. Anais do Museu Paulista, São Paulo, vol. 19, nº 1, p. 133-164, 2011. SYMANSKI, Luís. “Arqueologia Histórica no Brasil: uma revisão dos últimos vinte anos”. In: MORALES, Walter F.; MOI, Flavia Prado (orgs.). Cenários Regionais em Arqueologia Brasileira. São Paulo, Annablume, p. 279-310, 2009.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
135
PIXAÇÕES1 SOB A ÓTICA DA ARQUEOLOGIA URBANA
Grafitti under the perspective of Urban Archaeology
Rafael de Abreu Souza2 RESUMO O texto tem como objetivo apresentar elementos para uma discussão sobre as pixações a partir de leituras da Arqueologia Urbana. Para tal, serão utilizadas pixações outrora pertencentes ao complexo fabril Cianê, situado na cidade de Sorocaba, São Paulo, conjunto edificado no final do século XIX, com utilização, enquanto fábrica têxtil, até os anos de 1970. Argumenta-se que os discursos que reafirmam o abandono do complexo fabril, após sua falência, passando por seu processo de tombamento e atual revitalização e restauro para abarcar um novo shopping no centro da cidade, pautam-se pelas relações de poder e patrimônio demasiado normativas e que segregam, ainda mais, grupos sociais cuja vivência coletiva se expressa a partir de práticas de ressignificação e reconstrução da paisagem urbana. Palavras-chave: Arqueologia Urbana, Pixações, Sorocaba
ABSTRACT The text discuss graffiti under the perspective of Urban Archaeology. For this, it will be used the graffiti founded at the Cianê Factories, buildings from the late 19th Century, which were in use, as a textile factory, until de 1970s in Sorocaba city, São Paulo State. It is claimed that the discourses that reaffirmed the abandonment of this manufacturing complex, after its bankruptcy, considering the preservation process and current revitalization and restoration to embrace a new mall in the city center, are guided by power relations and heritage policies overly prescriptive. That policies segregate social groups whose collective experience is expressed by practices that ressignify and reconstruct urban landscape. Key-word: Urban Archaeology, Grafitti, Sorocaba
RESUMEN El texto tiene como objetivo proporcionar elementos para una discusión sobre los grafitis a partir de la Arqueología Urbana. Para esto, serán utilizados aquellos encontrados en el complejo fabril Cianê, construido en el siglo XIX, en uso, como fábrica de textiles, hasta los años 1970, en la ciudad Sorocaba, Estado de São Paulo. Se afirma que los discursos que dan fuerza a la idea de abandono del complejo, después de su quiebra, pasando por el proceso de
1 Baseio-me no termo êmico, que aparece inclusive nos próprios painéis analisados, remetendo a forma com que os próprios pichadores grafam a palavra, com x e não com ch. Segundo Pereira (2010), “esse modo particular de grafar é apontado por alguns pichadores como uma maneira de diferenciar-se do sentido comum atribuído à norma culta da língua: pichação. ‘Pixar’ seria diferente de ‘pichar’, pois este último termo designaria qualquer intervenção escrita na paisagem urbana, enquanto o primeiro remeteria às práticas desses jovens que deixam inscrições grafadas de forma estilizada no espaço urbano”. 2 Mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Doutorando em Ambiente e Sociedade pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas. E-mail: [email protected]
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
136
preservación y actual revitalización y restauración para la construcción de un nuevo centro comercial en el centro de la ciudad, son guiados por relaciones de poder y políticas de patrimonio excesivamente prescriptivas, las cuales excluyen grupos sociales cuya experiencia colectiva se expresa por prácticas de reformulación y reconstrucción del paisaje urbano Palabras-llaves: Arqueología Urbana, Grafitti, Sorocaba.
Luzes na cidade: arqueologia urbana no Brasil
A historiadora Maria Stella-Bresciani afirmou uma vez que “as cidades trazem em si
camadas superpostas de resíduos materiais (...) Poucas vezes mantidos em sua integridade,
sobrevivem na forma de fragmentos, resíduos de outros tempos, suportes materiais da
memória, marcas do passado inscritas no presente” (BRESCIANI, 1999: 11).
O desafio de compreender a cidade, com sua paisagem sempre em transformação,
cujo dinamismo caracteriza sua materialidade, a compreensão do registro arqueológico e as
significações e sentidos que ganha para os que dela fazem parte, coloca-se para o arqueólogo
como ordem do dia. O “patrimônio arqueológico” urbano corre grandes riscos frente à
efervescência das transformações físicas pelas quais passam as cidades do complexo
metropolitano expandido 3 , onde, justamente, pouco se aplica a legislação referente a
pesquisas arqueológicas vigente no país, tanto pelo não enquadramento de muitas obras
urbanas como EIA (Estudos de Impacto Ambiental), tanto pela cidade ser, tradicionalmente, o
local onde menos os arqueólogos brasileiros atuam/atuaram, onde tem menos interesse em
atuar ou mesmo refletir sobre [apesar do crescente número de licenciamentos realizados no
âmbito urbano (SOUZA, 2010)].
Como vem apontando a Geografia Urbana, a cidade é
espaço que está em constante estruturação, respondendo e ao mesmo tempo dando sustentação às transformações engendradas pelo fluir das relações sociais, (...) o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações sociais ocorridas através dos tempos, engendradas pelas relações que promovem estas transformações (SPOSITO, 2000).
Se a materialidade urbana a define enquanto maior expressão da cultura material
humana, como bem colocou Milton Santos (2008), e se o metiê da Arqueologia é a própria
cultura material, o arqueólogo urbano tem a sua frente o infinito a ser pensado.
3 Entende-se o “Complexo Metropolitano Expandido” como o conjunto das regiões metropolitanas próximas a cidade de São Paulo, uma das mais populosas aglomerações urbanas do mundo.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
137
Fica claro que as noções vigentes de patrimônio e as categorias com as quais
usualmente trabalhamos (“sítio arqueológico”, por exemplo) são demasiado limitadas para
pensar arqueologicamente o fenômeno urbano. A depender do recorte a ser olhado, tudo na
cidade é material, tanto quanto não o é, tendo em vista o peso simbólico que as coisas têm
(INGOLD, 2012), já que na cidade tudo está em constante uso, vivo. Tudo efervesce. Até
aquilo que está em camadas profundas tem papel contemporâneo à cidade, atuando como
suporte semântico e físico ao que acima surgiu, compondo, por exemplo, os longos mantos de
impermeabilização do solo urbano (SOUZA, 2013), construídos por pisos de antigas casas em
profundidade que impedem a percolação da água.
Diferentemente das primeiras perspectivas que lidaram arqueologicamente com o
fenômeno urbano (STASKI, 1999; SALWEN, 1978), atualmente, a Arqueologia tem tecido
diálogos bastante próximos com a Geografia e a Antropologia Urbanas, no sentido de que a
materialidade da paisagem urbana, as relações sociais e um modo de vida urbano não podem
ser segmentados em noções dicotômicas de material vs. Imaterial.
Com os anos 1970-1980, a cidade surgia como locus de análise associado à eclosão
de novos atores políticos (moradores das periferias, mulheres, negros, homossexuais e suas
táticas de sobrevivência, religiões, culturas, festas populares e formas de lazer) (MAGNANI,
2006). Marcadas pelas reflexões da Escola de Chicago, a Sociologia e Antropologia urbanas
professadas em universidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, como a USP e a UFRJ,
deram início, a partir dos anos 1940, com maior força nos anos 1970, a reflexões que partiam
de uma visão da cidade como laboratório privilegiado de análise da mudança social
(FRÚGOLI, 2005), ambiente multifacetado com dinâmicas variadas que exigem esforços
constantes de adaptação (NUNES, 2007) e espaço no qual se desenrola e ganha sentido a vida
cotidiana (CARLOS, 2007).
Definia-se, então, um campo em que a Arqueologia passava a lidar com o desafio da
proximidade e do familiar (VELHO, 2003; GRAVES-BROWN, 2011), reconhecendo que o
espaço urbano é meio, condição e produto da ação humana e que seu uso ao longo do tempo
configura a cidade como uma acumulação de tempos diversos e de possibilidades renovadas
de realização da vida (CARLOS, 2007). Nasce uma Arqueologia preocupada com os
ambientes urbanos, com a urbanização (daí a necessidade de sua diacronia), dinâmicas étnicas
e interações entre grupos sociais, interações socioeconômicas, relações de gênero, etc.
(STASKI, 2008). Este corpo ganhou a alcunha de Arqueologia Urbana, campo cuja definição
não é consensual, mas que, de modo geral, considera o estudo das relações entre cultura
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
138
material, cognição em ambiente urbano e comportamento humano (STASKI, 1999;
TOCCHETTO, THIESEN, 2007).
Participar ativamente de sua própria realidade, tecer propostas para transformá-la,
para entendê-la, projetar futuros sustentáveis, é papel político que pode ser assumido pelo
arqueólogo que atua na cidade, cujo engajamento é fruto direto do fazer uma arqueologia do
familiar, uma “auto-arqueologia” (HARRISON, SCHOFIELD, 2009). Afinal, a maioria de
nós nasceu e mora em cidades. Como lembra Lucas (2005), enquanto arqueólogos, pouco
estudamos o contexto com o qual temos mais afinidades: o nosso. Por isso mesmo é que o
século XX, e as cidades, ainda têm representado pequeno expoente meio ao que se produz em
termos de literatura especializada pela Arqueologia Brasileira.
Atuar com Arqueologia nas áreas metropolitanas densamente ocupadas no estado de
São Paulo, não é tarefa simples. Sorocaba, cidade central deste artigo, a cerca de 90 km da
conurbação da grande São Paulo, não é diferente, com seus 600 mil habitantes. Tomar a
cidade sobre a ótica da cultura material tem sido esforço de um grupo pequeno, mas crescente,
de arqueólogos que, pelo menos desde os anos 1970, empenham-se em pensá-la a partir da
expressão material que é a própria cidade. Se, num primeiro momento, perceberam que o
mundo urbano sobrepunha-se a temporalidades antigas, passaram, num segundo, a considerar
a cidade em si a própria materialidade a ser estudada, com suas dinâmicas próprias, para
muito além da relação cota positiva/cota negativa.
A Arqueologia Urbana brasileira, todavia, ainda precisa romper categorias temporais
que a encarceram na ideia de “antigo” (no mais tardar no século XIX). Mas está se
caminhando. O quanto ainda falta para discussões como a dos grafites dos Sex Pistols, banda
inglesa de punk rock formada em 1975, em Londres, na qual faz-se a relação entre a
expressão gráfica de uma das maiores e mais famosas bandas punks, e diferentes conceitos de
preservação e patrimônio, sob ótica da Arqueologia do Passado Contemporâneo (GRAVE-
BROWN, SCHOFIELD, 2011), ainda não sabemos.
No país, os estudos arqueológicos sobre a cidade tem se pautado muito mais no
reconhecimento de que, como produto histórico-social humano, a cidade representa o trabalho
materializado acumulado ao longo do processo histórico de uma série de gerações, contendo e
revelando ações passadas (CARLOS, 2007), do que como tema substancial de reflexão para
além, meramente, de pensar fenômenos que ocorram dentro da esfera urbana (FRÚGOLI,
2005).
Pressuponho ser a cidade lugar no qual diferentes identidades se expressam e
constroem a paisagem urbana. Do mesmo modo, a paisagem urbana constrói as identidades a
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
139
partir da materialidade que as configura. Podemos pensar nas cantinas do bairro do Bexiga, na
cidade de São Paulo, cujas temáticas “italianas” (cores, queijos e carnes dependurados a partir
do teto, as toalhas xadrez, etc.) tem a ver com a história do bairro e com os sentidos dados
aquele espaço ao longo dos anos. As cantinas, suas cores, seus usuários, constroem para o
bairro do Bexiga a ideia da italianidade paulistana, visível pelo transeunte, que recebe e
decodifica a mensagem emanada por formas e cores. Do mesmo modo, aos frequentadores da
porção baixa da rua 13 de Maio, sabe-se que para ali recorrem, à noite, o público dos bares
(dos cafés) e sobre eles sobrepõem-se expressões urbanas como grafites e pixações. Longe da
homogeneização das propostas urbanísticas modernas, a cidade é heterogênea, amálgama de
sedimentos (e sentimentos) temporal e ideologicamente diferentes, como afirma a artista
plástica Andréa Tavares (2010: 2), e a construção de identidades plurais referentes às formas
como a cidade é vivida por seus habitantes deve pautar-se por este olhar. Para exemplificá-lo,
parto das pixações que compunham o interior do complexo fabril Cianê, em Sorocaba,
inaugurado em 1881 (Figura 1).
Fig. 1. Vista da Fábrica a partir da E. F. Sorocabana (MASSARI, 2011)
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
140
O arqueólogo olha ao lado: o mundo nas paredes
O tema das expressões gráficas em suportes fixos ou imóveis não é uma temática
nova para a arqueologia (nem exclusividade do mundo moderno). Diferentes campos e
abordagens estão presentes tanto nos estudos da chamada “arte rupestre” (HORTA, 2004;
VIALOU, 2005; PROUS, 2007), como em contextos da Antiguidade greco-romana
(GARRAFONI, 2002; FUNARI, 2003; FEITOSA, 2005) e, mais recentemente, no âmbito de
uma arqueologia da repressão e da resistência na América Latina no que concerne a
expressões gráficas e inscrições encontradas em campos de concentração e torturas
clandestinos (NAVARRETE, LÓPEZ, 2008).
Pixações e grafites, temas que diferenciarei à diante, são parte inerente das cidades
contemporâneas latino-americanas desde, pelo menos, os anos 1970, quando as culturas
jovens populares da Europa ocuparam espaços da cidade, privilegiando aqueles criados e
protegidos, normativos e proibidos (RAMOS, 2007). Para Sennet (1990), em cidades que não
pertencem a ninguém, como as contemporâneas, as pessoas estão constantemente buscando
deixar um rastro de si mesmas. Concomitantemente, no âmbito tecnológico, a invenção do
aerossol pós Segunda Guerra Mundial (1938-1945) e das tintas sprays propiciaram uma maior
agilidade e maior mobilidade ao pixador e ao traçado (SOUZA, 2007). Por outro lado,
selaram a própria natureza das pixações, inevitavelmente temporárias, seja pelas qualidades
da tinta, por sua remoção, por parte de proprietários dos imóveis, seja pelo vento ou chuva:
em algum momento, cedo ou tarde, elas desaparecerão (BARNES, 2006).
Antes de iniciar as reflexões, cabe diferenciar grafites e pixações, duas formas de
grafismos urbanos (como propõe HORTA, 1997). Define-se a pixação como o ato de escrever
ou rabiscar muros e fachadas, geralmente com tintas spray aerossol, estênceis ou rolos de
tinta, contendo mensagens de difícil compreensão a quem não compartilha dos signos. Difere-
se, do grafite, com cunho mais artístico, apesar de línguas como a inglesa classificarem ambas
as expressões como grafitti. Apesar dos discursos que criminalizam a pixação, em particular
pautados por justificativas de danos ao patrimônio e poluição visual, atualmente é vista
enquanto signo comunicativo integrante à cidade polifônica, parte da linguagem urbana (uma
literatura urbana) que compõe e invade o espaço público arbitrariamente (SPINELLI, 2007).
Filhos de nosso próprio tempo, enquanto arqueólogos poucos questionamos as
“pichações” atuais (e o mundo atual, de forma geral), aceitando as prerrogativas normativas
que caem sobre elas. Talvez por isso mesmo, raros estudos arqueológicos tenham se dedicado
a pensar as expressões gráficas que configuram o dia a dia dos moradores das grandes
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
141
cidades. Na América Latina, seja a partir de metodologias dos estudos de arte rupestre ou
etnoarqueológicos (HORTA, 1997; ENDO, 2009), seja a partir da chamada arqueologia da
repressão (CARVALHO, FUNARI, 2009) ou da paisagem cultural (SILVA, HILBERT, 2008),
ainda são poucas as iniciativas que se debruçaram sobre estes vestígios tipicamente urbanos e
que os pensam a partir da Arqueologia Urbana. Em especial quando a arqueologia acompanha
a preservação e o restauro de algum bem, o discurso arqueológico produzido sobre as
pixações tende a reforçar o discurso do vandalismo, da não valorização por parte de
comunidades locais e da ausência do poder público na manutenção do patrimônio. Isto recorre
com frequência em trabalhos sobre sítios de arte rupestre, ao que se soma a crítica a um fluxo
turístico destruidor.
Pouco se tem feito no sentido de uma arqueologia do sensível (BEZERRA, 2013),
como propõe abordagens mais fenomenológicas, a pensar a interação e as sensações que as
pixações acarretam, a partir do impacto visual, daquele que convive com elas ou por elas
passa na cidade. Da mesma maneira, repetir as visões tradicionais de patrimônio urbano e de
políticas de preservação enquanto ações engessadas que transformam a coisa dinâmica em
objeto inanimado (INGOLD, 2012; GONZALEZ-RUIBAL, 2012; VARINES, 2012), não nos
torna mais críticos ou mais conhecedores do mundo urbano e dos diferentes sujeitos que o
conformam. A pixação sobre o sítio rupestre pode ser pensada como expressão da interação
dos sujeitos (apropriação) com um vestígio, para nós, arqueológico, assim como um ato
permeado por questionamentos de cunho político e social. Isto leva a pensar: afinal, o que é
patrimônio? Esta categoria, hoje, dá conta do patrimônio cultural que conforma a cidade? Ou
ela ainda é demasiado elitista?
Não entrarei na questão, mas vale ressaltar que o caráter invasivo da pixação,
enquanto signo urbano, sua configuração como código secreto articulado por adultos e jovens
que nele se reconhecem, sua existência como afirmação de pertencimento a determinada
região da cidade, a identificação de grupos e a territorialidade, a prática noturna que a
envolve, a não visualização de seu fazer (o que acirra a surpresa e a espontaneidade),
aumentam a sensação de medo do desconhecido relacionado a um código linguístico secreto
que invade o patrimônio privado (SPINELLI, 2007). A ilegalidade do pixador reafirma o
caráter subversivo da prática.
Sem dúvida, pixações e grafites são parte da memória da cidade [de uma memória
material (ZARANKIN, NIRO, 2008)] e da vida social que ali passou e passa, das formas de
resistência cotidiana que são ali engendradas (SCOTT, 2002), mas que são, por vezes,
silenciada pelo esquecimento ou, mesmo, apagamento de tensões e conflitos a partir das
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
142
políticas patrimoniais vigentes. O levantamento e registro arqueológico das pixações
presentes no complexo fabril Cianê, permite problematizar as políticas que auxiliam na
materialização do passado da cidade de Sorocaba como Manchester Paulista, ressaltando o
papel da Arqueologia no estudo de memórias sociais de diversos segmentos. Ao ser
legitimada uma única visão de patrimônio, aquela que fortalece a ideia da monumentalidade
da fábrica como materialidade a ser preservada, exclui-se, automaticamente, outras vozes,
difíceis de precisar, datar e decifrar, mas que também conformam a paisagem urbana, e que
estão no contrafluxo dos planejamentos urbanos (RAMOS, 2007; SPINELLI, 2007).
Suportes e relações entre grafismos: o caso Cianê
Encarar o complexo fabril Cianê a partir da Arqueologia, suas potencialidades sobre
e subsuperfície, sua expressão material monumental no centro urbano de Sorocaba e a própria
trajetória do lugar [e sua paulatina transformação em não-lugar (AUGÉ, 2008) ao longo da
segunda metade do século XX], deixa claro que a Arqueologia pode contribuir com reflexões
em torno dos discursos de “abandono” associados ao conjunto de prédios que ocupa o terreno.
O complexo Cianê é composto por dois conjuntos fabris denominados “Fábrica
Nossa Senhora da Ponte” e “Fábrica Santo Antônio”, ambos erguidos entre o final do século
XIX e a primeira década do século XX, no fulcro da expansão do algodão e da produção têxtil
pelos modos de produção que se solidificavam com os projetos de modernidade da belle
époque paulista (PINTO, 2001; SEVCENKO, 1992). Pertenceram, inicialmente, a um
imigrante português, passando, nos anos 1930, a fazer parte do império Scarpa até sua
primeira falência e compra pela CNE (Companhia Nacional de Estamparia) (MASSARI,
2011). Em 2012, tiveram início obras de readequação arquitetônica do bem para sua
transformação em shopping center, com concomitantes pesquisas e trabalhos de restauração e
arqueologia4. A imagem abaixo ilustra a planta de 1988 com os prédios que compõem o
complexo (VLSECHI, 2000).
4 Os trabalhos de arqueologia estiveram a cargo da empresa de consultoria Zanettini Arqueologia, desde 2012, no âmbito do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico Shopping Pátio Ciane em andamento.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
143
Fig. 2. Planta do complexo Cianê em 1988 (VALSECHI, 2000)
Desativada nos anos 1970, com tombamento municipal pelo Decreto-Lei 8561 de
1993, que acirrou o processo de transformação de sentidos rumo a um não-lugar, a fábrica
tornou-se locus de outros grupos sociais, muitos dos quais marginais ao núcleo de poder da
sociedade sorocabana, difíceis e ausentes uma série de equipamentos urbanos, que
reapropriaram e ressignificaram este espaço.
Fig. 3: Vista do complexo a partir da Av. Dr. Afonso Vergueiro, em 2012 (Foto: Paulo Fischer)
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
144
A desocupação e “abandono” da propriedade pela própria Cianê e pelo poder
público, acarretaram novas ocupações e ressignificações do espaço, sendo os grafismos
vestígios materiais deste processo5. Inerente à linguagem urbana, tendo seu epicentro no
centro da cidade, a pixação é parte do ritmo social da vida coletiva na urbs (MAGNANI,
2003; SPINELLI, 2007), e converge para o centro por representar, este, a síntese da
diversidade que a caracteriza (FUNARI, PELEGRINI, 2006). Como signo integrado à cidade
polifônica, caracteriza uma linguagem secreta de domínio, em geral, de jovens adultos,
representada por letras ou assinaturas de caráter monocromático, com spray (preto e branco na
Fábrica Nossa Senhora da Ponte) ou rolo de pintura (outras cores, no prédio da Santo
Antônio).
No que concerne aos suportes, a opção por pixar uma fábrica de 100 anos também
tem a ver com a durabilidade do próprio grafismo. No caso das pixações, a paisagem urbana é
o suporte para a divulgação de ideias, ressignificando os muros e fachadas. O que nos abre
duas chaves: o suporte para durar e o processo de reúso das paredes enquanto suporte.
A durabilidade é um dos itens mais disputados pelos pixadores; a ideia de eternizar
as pixações parece ser bem atraente. Os largos muros da fábrica, construídos no final do
século XIX e começo do XX, transmitem esta sensação: sua própria monumentalidade está
associada a uma construção feita para ficar.
Pensar nos suportes é pensar também no fator tempo, já que a inscrição teria a
mesma durabilidade de seu suporte. O fato de serem feitas em suportes cerâmicos (tijolos) ou
metálicos (portão) passa, então, a caracterizar as inscrições como algo feito para durar: os
suportes dão materialidade aos grafismos, que atravessarão o tempo. As inscrições passam a
ser suportes físicos e suportes semânticos abarcando duas dimensões do grafismo, uma no
tempo social e uma no tempo mineral (VIALOU, 2000). A escolha de um bem tombado, uma
fábrica, é prova clara de uma prática social que pode atribuir novos sentidos ao espaço urbano
(MARTINS, YABUSHITA, 2008).
Investidas de tempo, passam também a ser caracterizadas por sua imobilidade (no
caso de suportes fixos). As características de imobilidade e visibilidade das representações
gráficas como as pixações passam a qualificá-las como simbólicas, testemunhos de escolhas
correspondentes a atividades individuais e/ou coletivas (VIALOU, 2000), motivadas por um 5 Para a coleta e registro das pichações, foram efetuadas fotografias com máquina digital em todo o complexo fabril. Uma vez digitais, as fotos foram trabalhadas no sentido de transformar a fotografia em imagem criada pelo computador, técnica recorrente em estudos de arte rupestre (HORTA, 2004). Devido ao tamanho e a distância das pichações, não utilizei escala.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
145
universo cultural que, aqui, tem cunho igualmente político e questionador de uma ordem
vigente. O repertório cultural, na medida em que motiva, “fornece os elementos de linguagem
assim como os meios para a expressão, sejam musicais, gráficos, fonéticos, corporais, etc.”
(HORTA, 2004: 45).
Esta imobilidade também tem a ver com o papel da fábrica Cianê na dinâmica do
centro urbano de Sorocabana. Parte integrante desta trama, a fábrica, pós-anos de 1970, já não
mais delimitava o centro, como no século XIX, mas fora fagocitada pela expansão urbana. A
visibilidade dos prédios foi potencializada com a instalação do terminal rodoviário Santo
Antônio no interior do complexo, parte de permuta para pagamento de dívidas da Cianê à
prefeitura municipal na década de 1990.
A distribuição espacial dos grafismos na cidade concentra-se no centro urbano. A
abertura do terminal deu novo impulso a pixação, pois colocou a fábrica no fulcro dos
movimentos de ir e vir, dando grande visibilidade aos prédios, estes também próximos de
grandes avenidas (SPINELLI, 2007), como a avenida Dr. Afonso Vergueiro (resultado de uma
divisão do antigo terreno que conformava o complexo) e demais vias (como a rua Pedro
Hirofumi Nakazoni, antiga rua Fonseca, via interna que separava a Nossa Senhora da Ponta
da vila operária construída pelos Scarpa), percursos obrigatórios para grande parte da
população e que atrai os pixadores. O terminal age, centrífuga e centripetamente, na atração e
distribuição de pessoas a partir de um ponto. Uma vez construído no interior do terreno da
fábrica, a visibilidade de suas paredes enquanto suporte às pixações tornou-se imensa.
Fica claro que a escolha do suporte não é neutra (se é que esta categoria é válida em
algum sentido), já que a própria noção de “escolha” implica parcialidade, uma vez “efetuadas
dentro de um universo de possibilidades culturalmente constituído” (BUENO, 2005: 23). Fica
claro que, para a pixação, o espaço físico do suporte não contém apenas a inscrição, ele é a
própria inscrição (LUIS, 2009). Como se escreve e o resultado final da escrita (enquanto
imagem) vão depender da posição, tamanho e características da superfície do suporte.
Suportes e grafismos devem ser estudados como um só ente.
Para a Fábrica Nossa Senhora da Ponte, as pixações são basicamente externas. Elas
refletem questões de visibilidade (fachadas externas) e/ou ousadia (as partes mais altas das
paredes. Os “pixadores de alturas” são aqueles que sempre estão em busca de marquises,
topos, aumentando o currículo e a reputação) (SOUZA, 2007). Uma vez feitas no tijolo
aparente, estrutural à própria construção, e poroso, sendo, por isso mesmo, difícil de ser
retirado e substituído, as pixações orientam-se pela própria morfologia da fachada, assim
como pelas linhas paralelas que as fiadas argamassadas conformam horizontalmente (quase
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
146
que uma tela pautada). Destoante das cores do suporte, as pixações restringem-se ao branco e
ao preto, predominando o uso do spray no preto e do rolo de tinta no branco. As pixações
sorocabanas inspiram-se claramente na tendência estética paulistana, dos rolos de pintura em
traços retilíneos, angulares e inteligíveis, arestas acentuadas e letras em caixa-alta (SOUZA,
2007).
Nesta fábrica, apenas uma pixação é identificável a olhos não treinados, aquela que
diz “A CIDADE É NOSSA!!!” (figura 4, abaixo), em clara alusão a uma retomada do espaço
e a reapropriação de um patrimônio por grupos sociais segregados econômica e politicamente
pela dinâmica urbana da cidade contemporânea. A cerca de mais de 20m de altura, na fachada
sul do prédio do Arquivo e Subestação, as pixações, bastante visíveis, ocupam a fachada da
pan-óptica torre da caixa d’água. A mensagem aqui é clara, feita para ser compreendida por
todos (alfabetizados) que passam pelo centro e que convivem com o “abandonado” complexo
fabril.
Fig. 4: Pixações no alto da torre do prédio da Subestação
As inscrições a seguir (Figura 5) faziam parte da fachada do prédio do Departamento
de Tecidos e da fachada do Departamento de Fardos, pixadas com tinta látex branca e feitas
com rolo de pintura, voltadas a avenida Dr. Afonso Vergueiro, via expressa paralela à linha
férrea da antiga Sorocabana, com alto fluxo automotor, são grandes e visíveis a grandes
distâncias, tanto por outros pixadores como por qualquer pessoa que por ali transita.
Dialogam diretamente com o formato das águas do telhado do edifício.
Fig. 5: Pixações na fachada do antigo Departamento de Tecidos
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
147
Fig. 6. Vista parcial da fachada do departamento de Tecidos em 2012 (Foto: Paulo Fischer)
O portão de metal voltado à rua Francisco Scarpa, igualmente, contém pixações
(figura 7). Limitadas pela extensão do suporte, metálico, assim como por sua durabilidade
(menor que a das paredes de tijolo maciço) e visibilidade (estão mais próximas do nível dos
transeuntes e são visíveis apenas a pé ou por número limitado de carros), diferente dos
edifícios dos departamentos de Fardo e Tecidos, visíveis por diversas pessoas mesmo de
longe, estas pixações são mais densas, pintadas em branco (para ressaltar a cor do suporte) e
feitas com spray. Essa é a única pixação feita com spray branco, pois o spray predomina como
técnica associada à tinta preta.
Fig. 7: Pixações no portão de metal da Rua Francisco Scarpa
O caso da Fábrica Santo Antônio, parte do complexo Cianê, é bastante diverso, com
seus quase 400m contínuos de pixações. Às poucas pixações na fachada externa opõem-se
milhares nas paredes brancas internas. Construídas em tijolo, as paredes da Fábrica Santo
Antônio eram revestidas de cal, aptas, portanto, a receber uma profusão de cores (uma tela
branca). No caso dos suportes fixos verticais, como as paredes, a questão da orientação e da
percepção visual do espaço gráfico torna-se relevante (OTTE, 1999). Como um suporte com
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
148
orientação natural, quer dizer, sendo fixo, não pode ser girado 360º como um suporte móvel, e
possui cima e baixo. Apesar da não existência de linhas de orientação, os pixadores, em geral,
seguiram a orientação da escrita latina: de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando
o tijolo tornava-se aparente, devido à queda da cal, o pixador adaptava a pintura ao suporte,
utilizando a orientação das linhas paralelas formadas pelas fiadas. As imagens abaixo
exemplificam o caleidoscópio:
Fig. 8: Seção do painel da parede interna da Fábrica Santo Antônio
Fig. 9: Seção da parede interna/painel da Fábrica Santo Antônio
A enorme quantidade de pixações no interior da Fábrica Santo Antônio e o uso de
diversas cores acarretam diversas sobreposições, permitindo reflexões sobre a relação entre os
grafismos, conhecida na linguagem êmica como “rasura” ou “atropelo” (SOUZA, 2007),
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
149
atitudes que poderiam transformar a violência simbólica marcada por noções de
territorialidade e identidade de grupo, em rixa real e inimizade entre grupos. No longo painel
da Fábrica Santo Antônio, há diversas sobreposições.
Nesta fábrica pode-se observar a existência de tags distintos, com estilo de letra mais
arredondada e que lembram formas de divulgação em publicidades (“MULEK”, em laranja e
preto, no canto a esquerda, na seção de painel acima). Também é possível notar a recorrência
de um mesmo grupo a partir da repetição de assinaturas, como RT e, ainda, mensagens de
cunho explicitamente político como “Pixação = Protesto” em clara alusão ao caráter
simbólico marginal e crítico às normas de conduta (HORTA, 1997). Vale lembrar que a
frequência de uma assinatura está ligada a questões de poder e de afirmação do autor ou
grupo, e RT recorre em toda a parede interna da fábrica.
Fig. 10: Seção do painel de pixações da Fábrica Santo Antônio
Apesar de algumas paredes internas da Fábrica Nossa Senhora da Ponte conterem
grafismos feitos com giz de cera, e que expressam recados, declarações de amor, endereços de
e-mail e caminhos para sites de relacionamento, além de outras marcas parietais como marcas
de bola de futebol, em especial no Departamento de Fardos, indicando claramente a
reapropriação do espaço por grupos cuja segregação na cidade também tem a ver com a falta
de espaços gratuitos de sociabilização e lazer, sugerindo variabilidade em termos de técnicas
de produção, suas pixações restringem-se ao branco e ao preto, as fachadas externas em estilo
tag reto (aquele tipicamente paulistano).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
150
Em direção oposta, as pixações da Fábrica Santo Antônio não dialogam com a
visibilidade (locadas no segundo piso da fábrica, em suas paredes internas, onde entra pouca
luz) e talvez pouco com a ousadia (quiçá mais no sentido de invasão de uma propriedade
privada) e muito mais com expressões que ficariam restritas aos próprios grupos de pixadores
que para ali iriam, tornadas visíveis quando da requalificação arquitetônica do bem.
Vale ressaltar uma pixação singular da Fábrica Santo Antônio, não por sua escrita,
mas por sua localização espacial: é a única em suporte horizontal, feita sobre o telhado do
edifício; só pode ser visualizada a partir de prédios mais altos, fotografias aéreas e
helicópteros, em clara alusão ao público a que se destinava a mesma (figura 11). Podemos
imaginar sua relação, portanto, com o próprio céu ou com um observador que precisa estar
acima, voando ou mesmo no próprio céu (como na imagem a seguir).
Fig. 11. Vista aérea da fábrica com destaque para a pixação sobre o telhado da Fábrica Santo Antônio (Base Google Earth, 2012)
Se as pixações da Fábrica Nossa Senhora da Ponte são signos que tecem relação
entre não-pixadores e pixadores, a Fábrica Santo Antônio tornou-se lócus para afirmações
identitárias e territoriais entre pixadores. As cores, os estilos, motivos e demais elementos,
assim como as frequentes sobreposições e repetições de marcadores em diferentes momentos
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
151
de um enorme painel branco contínuo, sugere como o complexo Cianê fora ressignificado por
grupos marginalizados em âmbito urbano, pouco flagrados e pouco visíveis, que utilizam
formas de expressão visual, esteticamente impactantes, ininteligíveis, para materializarem
intervenções no espaço, subvertendo valores, construindo a paisagem e reafirmando-se
enquanto moradores da cidade.
Entre o crime e a expressão visual
O discurso do Estado enquadra a pixação como delinquência e poluição visual,
associando-a a criminalidade e a violência. No Brasil, é considerada vandalismo e crime
ambiental, com base no artigo 65 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que estipula pena
de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem pixar, grafitar ou conspurcar
edificação ou monumento urbano (COLEÇÃO DE LEIS SOBRE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO, 2006).
Enquanto prática social que subverte a ordem estipulada, a pixação, no entanto, pode
também ser encarada enquanto fenômeno urbano que utiliza a cidade como suporte no qual as
pessoas exercitam a construção de suas identidades (MARTINS, YABUSHITA, 2008). Como
expressão que deixa marcas materiais na paisagem e que, na verdade, torna-se a própria
paisagem urbana, a pixação é forte indicativo das materializações de uma série de tensões que
coexistem na cidade moderna, que podem ser pensadas criticamente pelo arqueólogo e que
testemunham práticas de experimentação da vida cotidiana nas cidades.
Para além de visões rígidas e normativas de patrimônio, devemos, como cientistas
sociais, buscar compreender os mecanismos que, permeados de subjetividades e
intencionalidades, determinam o que é relevante e deve ser preservado (e como). Por outro
lado, a própria pixação sendo um protesto às normas estipuladas, não pode ser
patrimonializada ou estudada partindo-se da ótica vigente sobre patrimônio. Não faria sentido.
Enquanto arqueólogos, o que devemos fazer quando a pixação é parte da história do
próprio complexo fabril, mas que não será preservada ou de modo algum registrada? A
exclusão desta materialidade confirma a segregação de determinados grupos sociais e a
produção, uma vez mais, de memórias oprimidas. Sua presença atesta as rugosidades como
propôs Milton Santos (2008): sem tradução imediata, são manifestações locais do passado
produzidas em momentos distintos da história do espaço, que atestam por vezes resistências
ao avanço de outras lógicas.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
152
A análise das pixações em Sorocaba permitiu perceber sua exclusividade nas
fachadas externas da Fábrica Nossa Senhora da Ponte e sua predominância nos espaços
internos da Fábrica Santo Antônio. Na primeira em locais de ampla visibilidade (as fachadas),
dialógicas não apenas a outros grupos de pixadores, mas compositoras do ritmo urbano
daqueles que não o são; na segunda, exclusiva a relações estabelecidas intra-grupos de
pixadores, em locais de difícil acesso, com compreensão restrita. A ausência de mensagens
inteligíveis ao restante da população é clara e marca a reocupação de um espaço vazio, um
não-lugar (AUGÉ, 2008), utilizado por um “anônimo conhecido” (SPINELLI, 2007), o
próprio pixador, que representa um grupo. Afinal, as pixações são feitas para serem vistas e
reconhecidas, mas decodificadas por poucos.
Recentemente, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo,
junto a alguns membros da Comunidade São Remo, no bairro do Rio Pequeno, no Butantã,
realizaram intervenções nas fachadas do prédio expositivo, a partir de pixação e grafitagem
(INFORMAE, 2011). A ideia fora realizar uma aproximação entre o grafite enquanto
expressão urbana contemporânea e a arte rupestre. Os participantes deixaram nas paredes do
Museu registros de aspectos de seu cotidiano e a arqueologia buscou aproximar os moradores
da São Remo que, apesar da proximidade física, pouco interagem com o Museu de
Arqueologia.
Uma arqueologia urbana engajada, com a cidade, sob uma perspectiva freirianas,
[para além de uma Arqueologia na ou da cidade, como classicamente debatido (SALWEN,
1978; STASKI, 1999; STASKI, 2003)], deve, assim, ultrapassar visões de patrimônio que
enfatizam a relação norma/desvio, modelos normativos que ressaltam a homogeneidade social
e a aceitação de regras gerais (FUNARI, PELEGRINI, 2006), e buscar compreender a
materialidade que configura o mundo urbano em suas diversas dimensões. O arqueólogo pode
propondo novas narrativas, reconstruir memórias excluídas e grupos sociais segregados por
discursos oficiais, que deixam pouco ou nenhum registro escrito (que não as centenas de
pixações ininteligíveis a nós, leigos), que são pouco ou nada visíveis, mas que ao mesmo
tempo reapropriam-se e ressignificam o espaço, tornando-se parte fulcral da construção da
trama e da paisagem urbana, que nos é tão cara, e reivindicando seu direito à cidade.
Referências bibliográficas AUGÉ, M. Não-lugares: introdução a antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 2008.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
153
BARNES, A. “Graffiti: overground archaeology or environmental crime?” ULTRABOLD, issue I, 2006
BEZERRA, M. “Os sentidos contemporâneos das coisas do passado: reflexões a partir da Amazônia”. Revista de Arqueologia Pública, n. 7, 2013, pp. 107-122
BUENO, L. M. R. Variabilidade tecnológica nos sítios líticos da região do Lajeado, médio rio Tocantins. 2005. Tese, MAE/USP, São Paulo, 2005. CARLOS, A. O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: FFLCH, 2007. CARVALHO, A. V.; FUNARI, P. P. A. “Arqueologia Forense como Arqueologia Pública: estado da arte e perspectivas para o futuro do Brasil”. CARVALHO, A. V. et al. (Ed.) Arqueologia, Direito e Democracia. São Paulo: Habilis, p. 11-29, 2009. COLEÇÃO DE LEIS SOBRE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. Rio de Janeiro: IPHAN, 2006 ENDO, T. S. A pintura rupestre da pré-história e o grafite dos novos tempos. 2009. Dissertação, CELACC/ECA/USP, São Paulo, 2009. FEITOSA, L. C. Amor e Sexualidade: o masculino e o feminino em grafites de Pompéia. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2005
FRÚGOLI, H. “O urbano em questão na antropologia: interfaces com a sociologia”. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 48, n. 1, p. 133-165, 2005. FUNARI, P. P. A. A vida cotidiana na Roma Antiga. São Paulo: Annablume, 2003
FUNARI, P. P. A.; PELEGRINI, S. C. A. Patrimônio histórico e cultural. São Paulo: Zahar, 2006. GARRAFONI, R. Bandidos e salteadores na Roma Antiga. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2002
GONZALEZ-RUIBAL, A. Hacia otra arqueología: diez propuestas. Complutum, v. 23, 2, p. 103-116, 2012. GRAVES-BROWN, P. “Touching from a Distance: Alienation,. Abjection, Estrangement and Archaeology”. Norwegian Archaeological Review, 44, 2, pp. 131-144, 2011. GRAVES-BROWN, P.; SCHOFIELD, J. The filth and the fury: 6 Denmark Street (London) and the Sex Pistols. Antiquity, v. 85, p.1385–1401, 2011. HARRISON, R.; SCHOFIELD, J. “Archaeo-ethnography, auto-archaeology: Introducing archaeologies of the contemporary past”. Archaeologies, v. 5, n. 2, p. 185-209, 2009. HORTA, A. I. Lapa, parede, painel: distribuição geográfica das unidades estilísticas de grafismos rupestres do vale do rio Peruaçu e suas relações diacrônicas (Alto-Médio São Francisco, Norte de Minas Gerais). 2004. Dissertação, MAE/USP, São Paulo, 2004.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
154
HORTA, A. I. Pinturas rupestres urbanas: uma etnoarqueologia das pichações em Belo Horizonte. Revista de Arqueologia, v. 10, p. 143-161, 1997. INFORMAE. A São Remo grafita o MAE. INFORMAE, ano 1, n. 2, 2011, p. 8
INGOLD, T. “Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais”. Horizontes antropológicos, v.18, n.37, p. 25-44, 2012. LUCAS, G. Critical Approaches to Fieldwork. London: Routledge, 2001. LUIS, L. “Per petras et per signos”: a arte rupestre do Vale do Côa enquanto construção do espaço na Proto-história. In: SANABRIA MARCOS, P. J. (ed.). Lusitanos y vettones: Los pueblos prerromanos en la actual demarcación Beira Baixa - Alto Alentejo - Cáceres. Junta de Extremadura; Museo de Cáceres (Memorias; 9), Cáceres, p. 213-240. 2009. MAGNANI, J. C. Quando o campo é a cidade: fazendo antropologia na metrópole. MAGNANI, J. C.; TORRES, L. L. Na metrópole: textos de antropologia urbana. São Paulo: Edusp, 2006. MAGNANI, José Carlos. “A antropologia urbana e os desafios da metrópole”. Tempo social, v.15, n.1, p. 81-95, 2003. MARTINS, J. B.; YABUSHITA, I. J. Ruídos na cidade, Pichações na cidade de Londrina – Aproximações... Athenea Digital, n. 9, p. 19-45, 2008. MASSARI, M. A. L. Arquitetura Industrial em Sorocaba: o caso das Industriais têxteis. Dissertação (mestrado), FAU/USP, São Paulo, 2011
NAVARRETE, R.; LÓPEZ, A. M. Rabiscando atrás das grades: grafite e imaginário político-simbólico no Quartel San Carlos (Caracas/Venezuela). FUNARI, P. P. A.; ZARANKI, A.; REIS, J. A. (org.) Arqueologia da Repressão e a resistência na América Latina. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2008, pp. 53-78
NUNES, B. F. Consumo e identidade no meio juvenil: considerações a partir de uma área popular do Distrito Federal. Sociedade e Estado, Brasília, v. 22, n. 3, p. 647-678, 2007. OTTE, M. La Préhistoire. Paris: De Boeck Université, 1999. PEREIRA, A. B. As marcas da cidade: a dinâmica da pixação em São Paulo. Lua Nova, SP, 79, p. 143-162, 2010. PINTO, M. I. M. B. “Urbes industrializada: o modernismo e a pauliceia como ícone de brasilidade”. Revista Brasileira de História, v. 21, n. 42, 2001, pp. 435-455
PROUS, A. A arte pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2007 RAMOS, C. M. A. Grafite e pichação: por uma nova epistemologia da cidade e da arte. 16º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, Florianópolis, p. 1260-1269, 2007.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
155
SALWEN, B. Archaeology in Megalopolis: Updated Assessment. Journal of Field Archaeology, v. 5, p. 453-459, 1978. SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2008. SCOTT, J. Formas cotidianas de resistência camponesa. Revista Raízes, v. 21, n. 2, 2002
SENNET, R. The conscience of the eye: The design and social life of cities. Londres: Faber and Faber, 1990
SEVCENKO, N. Orfeu extático na metrópole. São Paulo: Cia das Letras, 1992
SILVA, F. R. O.; HILBERT, K. Pichação na cidade de Porto Alegre: Uma abordagem arqueológica, antropológica e social. IX Salão de Iniciação Cientifica, PUC-RS, 2008. SOUZA, D. Pichação carioca: etnografia e uma proposta de entendimento. 2007. Dissertação, UFRJ, Rio de Janeiro, 2007. SOUZA, R. A. “Contribuição da Arqueologia Urbana à compreensão dos desastres naturais paulistanos: enchentes e impermeabilização do solo urbano”. Revista Historia e-Historia, 2013. SPINELLI, L. Pichação e comunicação: um código sem regras. LOGOS 26: comunicação e conflitos urbanos, ano 14, pp. 111-121, 2007. SPOSITO, M. E. Capitalismo e Urbanização. São Paulo: Contexto, 2000. STASKI, E. Living in cities today. Historical Archaeology, v. 42, n. 1, p. 5-10, 2008. STASKI, E. Living in cities: an introduction. Historical Archaeology, special publication, nº 5, pp. ix-xi, 1999. STELLA-BRESCIANI, M. “Imagens de São Paulo: estética e cidadania”. FERREIRA, A. C.; LUCA, T. R. & IOKOI, Z. G. (org.) Encontros com a História. Percursos históricos e historiográficos de São Paulo. São Paulo: UNESP, p. 11-45, 1999. TAVARES, A. Ficções urbanas: estratégias para a ocupação das cidades. ARS (São Paulo), v.8, n.16, p. 21-30, 2010. TOCCHETTO, F.; THIESEN, B. “A memória fora de nós. A preservação do patrimônio arqueológico em Áreas urbanas”. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 33, p. 174-199, 2007. VALSECHI, L. G. Fábrica de tecido Nossa Senhora da Ponte: restauro do antigo prédio da tinturaria e revitalização do conjunto. Monografia (especialização), PUC-Campinas, Campinas, 2000. VARINES, H. As raízes do futuro: patrimônio a serviço do desenvolvimento local. Porto Alegre: Medianiz, 2012
VELHO, G. “O desafio da proximidade”. VELHO, G.; KUSCHNIR, K. Pesquisas urbanas: desafios do trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
156
VIALOU, D. (org.) Pré-História do Mato Grosso: Cidade de Pedra. São Paulo: Edusp, 2006. VIALOU, D. “Territoires et cultures préhistoriques: fonction identitaire de l’art rupestre”. KERN, A. A. Sociedades ibero-americanas: reflexões e pesquisas recentes. Porto Alegre: EDIPUCRS, p. 381-396, 2000. ZARANKIN, A.; NIRO, C. A materialização do sadismo: Arqueologia da Arquitetura dos Centros Clandestinos de Detenção da ditadura militar argentina (1976-1983). FUNARI, P. P. A.; ZARANKI, A.; REIS, J. A. (org.) Arqueologia da Repressão e a resistência na América Latina. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2008, pp. 183-210
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
157
Entrevista com Prof. Dr. Gabino la Rosa Corzo
Professor e pesquisador cubano, especialista em Arqueologia. Possui graduação em
História pela Facultad de Humanidades de la Universidad de La Habana e Doutorado em
Ciências Históricas.
Ao longo de sua carreira acadêmica, tem atuado como pesquisador e docente nos
níveis de Graduação e Pós-graduação em diferentes universidades cubanas e em outros países.
Entre suas experiências profissionais, destacam-se cursos promovidos pelo LAP- NEPAM-
UNICAMP e pelo IFCH-UNICAMP.
É autor de várias publicações, sendo a mais recente, o livro Tatuados. Deformaciones
étnicas de los cimarrones en Cuba (2011).
A entrevista abaixo aborda sua trajetória acadêmica, as especificidades da
arqueologia cubana e algumas de suas impressões sobre a relação desta com a arqueologia
brasileira, entre outras coisas.
Entrevistadora
Carola Sepúlveda: Doutoranda em Educação pela UNICAMP, Mestra em Estudos de
Gênero e Cultura pela Universidad de Chile e Bacharel e Licenciada em História e Geografia
pela Universidad de Santiago de Chile. Bolsista Programa “Becas Chile- Formación de capital
humano avanzado en el extranjero” (CONICYT. Gobierno De Chile).
Entrevista
Entrevistadora: ¿Cómo se autodefine Gabino La Rosa?
Gabino La Rosa: Creo que es una de las preguntas más complejas que me han hecho en mi
vida profesional. Generalmente, a los humanos nos gusta definir a los que nos rodean, pero en
muy pocas ocasiones emprendemos la tarea de la autodefinición.
Yo creo que en toda autodefinición se enfrentan varios conceptos: lo que somos en realidad,
lo que nos gustaría ser y en cierta medida la forma en que los demás nos definen y que nos
inclina hacia el acatamiento de determinadas reglas y principios que en definitiva responden
al contexto social e histórico en que vivimos.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
158
La autodefinición pasa por tamices éticos, humanos, políticos sociales, científicos,
profesionales, etc. Pero dejando a un lado el sistema de valores personales que me definen
como ser humano, que odia las injusticias, respeta las diferencias sociales, étnicas, raciales o
de cualquier tipo, ama la naturaleza y la familia; y para simplificar, desde el punto de vista
profesional me autodefino como un antropólogo.
Mi vida profesional se ha movido en los terrenos de la historia, la etnohistoria, la
etnoarqueología y la arqueología. Aunque siempre al realizar un abordaje a una problemática
he tomado como punto de partida y fundamento metodológico la historia, la etnología o la
arqueología, siempre, durante el proceso de investigación he recurrido a todas esas esferas del
conocimiento, pues me he propuesto como objetivo principal conocer al hombre inmerso en
un contexto social y acontecimientos específicos. Y para conocer y describir al hombre no
basta con una de estas esferas del conocimiento o disciplina.
E.: En relación a su trayectoria académica, ¿podría identificar algunas experiencias
significativas que siente lo habrían motivado a dedicarse a la arqueología y a los temas que
actualmente investiga?
G.R.: Es claro que las experiencias personales tienen gran significación en el derrotero
profesional de cualquier persona. En mi caso particular, nací en la ciudad de Cárdenas,
Provincia de Matanzas, Cuba. Esta ciudad estuvo vinculada de forma significativa a la
esclavitud de plantaciones. Por su puerto, salía una parte importante del azúcar que se
producía en la región de mayor concentración de esclavos, la Región Habana-Matanzas.
Esto determinó la existencia de una composición racial y cultural extremadamente rica y
compleja en esta ciudad. Yo asistí a la escuela pública y parte de mis amigos de infancia eran
descendientes de antiguas familias esclavas. Vivían en condiciones económicas y sociales
inferiores al resto de mis compañeros de colegio. Esos grupos y familias mantenían
tradiciones que diferían de las restantes y se encontraban limitados en sus espacios y alcances.
Estas relaciones crearon el basamento ético que se incorporó a mis intereses profesionales.
Cuando inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Historia de la Universidad de la
Habana en el año de 1962, y aunque esos estudios respondían a conceptos renovadores
gracias a la Reforma Universitaria emprendida por la Revolución Cubana, aún estaban
saturados de conceptos y valores de la antigua universidad y aunque , por ejemplo, en el
terreno de la esclavitud se hicieron verdaderos aportes al conocimiento, la cuestión de las
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
159
formas en que los esclavos se resistieron o combatieron al sistema esclavista eran aún un
terreno prácticamente virgen.
Puedo ponerte, por ejemplo, que en Cuba eran conocidos los quilombos de los Palmares (pues
existía una bibliografía internacional al respecto), pero no se conocía nada de los quilombos
en Cuba. Pero esa situación varió pronto, gracias a los estudios históricos de amigos como
José Luciano Franco y algunos otros. Mi mayor satisfacción es haber contribuido a partir de la
aplicación de la arqueología y la etnología a ese proceso de conocimiento de esa realidad.
E.: Según su opinión ¿cuáles son las posibilidades que permitiría el incorporar abordajes
interdisciplinares a los estudios de base arqueológica?
G.R.: La realidad es muy compleja y dinámica. Para conocerla, sobre todo en sus
manifestaciones pasadas, es necesario el abordaje interdisciplinario. Las dos cuestiones que
definen esa posibilidad son: la comprensión por parte del investigador de esa complejidad y la
existencia de laboratorios y equipos de profesionales de diferentes disciplinas dispuestos a
colaborar y enriquecer mutuamente sus campos de acción.
E.: De acuerdo a su experiencia, ¿cómo evalúa el estado actual de las relaciones entre
arqueólogos(as) brasileros(as) y cubanos(as)? y ¿qué posibilidades de diálogo académico
usted cree que podrían desarrollarse entre las comunidades científicas de ambos países?
G.R.: Creo que estamos en un momento importante de las relaciones y las posibilidades de
diálogo académico entre profesionales de Brasil y Cuba. A pesar de las diferencias
geográficas y de otro tipo, los puntos de coincidencia en el desarrollo histórico y la
conformación de fenómenos sociales paralelos como lo son la esclavitud de plantaciones, la
resistencia esclava, la composición étnica, la religiosidad popular, etc., hacen muy rico el
diálogo.
Estoy convencido que ya se ha iniciado un proceso de intercambio académico en el plano de
las agendas y las personalidades, que solo necesitan el apoyo institucional para un mejor
desenvolvimiento.
E.: De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las especificidades de la arqueología cubana?
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
160
G.R.: Bueno, este es uno de los terrenos más críticos en la actualidad en Cuba en el terreno de
las disciplinas científicas, lo que contrasta con el desarrollo alcanzado en otras esferas de la
investigación. Desdichadamente, y a diferencia de la gran mayoría de las naciones
latinoamericanas, Cuba carece de una formación académica adecuada dentro del campo de la
arqueología, pues las autoridades competentes han negado reiteradamente la posibilidad de la
creación de una carrera de grado en esta especialidad. El reducido grupo de arqueólogos
profesionales que han trabajado en los últimos 40 años han sido egresados de otras disciplinas
universitarias, que han devenido en arqueólogos gracias a la formación posgraduada, a la
realización de maestrías y doctorados.
Pero, contradictoriamente, en el país ocupa un lugar cimero el rescate, conservación y manejo
del patrimonio cultural en general, lo que demanda la existencia de este tipo de profesionales,
por lo que se ha recurrido a la formación de cursos emergentes en Escuelas Talleres, en las
que mediante cursos de dos años, jóvenes interesados en la arqueología se forman como
obreros calificados para enfrentar las complejas labores del rescate arqueológico de la riqueza
patrimonial.
Esto ha producido un vacío profesional en el que las primeras generaciones de arqueólogos
que se habían formado por la vía anterior, ya abandonan la profesión, fundamentalmente por
razones de edad o fallecimiento, mientras las nuevas generaciones que enfrentan el trabajo
carecen de una formación adecuada y cometen no pocos deslices en el terreno de la teoría y
la metodología.
Así, puede afirmarse que se ha iniciado un proceso en el que el desnivel de la arqueología
cubana en comparación con la restante del continente es cada vez más ostensible.
E.: En una entrevista que usted concedió por el lanzamiento de su libro “Tatuados.
Deformaciones étnicas de los cimarrones en Cuba” en Casa del Alba Cultural1 , usted señala
que el tatuaje representa para algunas etnias y tribus, entre ellas algunas africanas, una forma
de identificación, donde se establecen semejanzas y diferencias. En esa misma entrevista
usted señala que estos estudios sobre tatuajes lo han acompañado por más de veinte años. Si
recuperásemos la imagen del tatuaje que usted trabaja y la trasladásemos para hacer una
lectura de su trabajo ¿cómo definiría usted el significado de esta línea de investigación para
usted? ¿Siente que le ha permitido identificarse, acercarse a otros trabajos o investigadores(as)
¹http://www.ffo.cult.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=161:entrevista-a-gabino-de-larosa&catid=67:otros
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
161
e o diferenciarse? ¿Estudiar estas temáticas ha significado para usted una especie de tatuaje
en términos metafóricos?
G.R.: Mi último libro (desde el punto de vista editorial) aborda los tatuajes de los cimarrones
en Cuba. Dada la complejidad del tema y la casi nula existencia de fuentes confiables, fue un
tema sobre el cual estuve acumulando información a lo largo de los años en que trabajaba en
otros proyectos y producía otros textos.
El haber podido recatar los mensajes de los cuerpos de los individuos que se revelaron al
sistema esclavista y comprobar que en la actualidad esos tatuajes (escarificaciones)
constituyen símbolos de identidad étnica, hace que sea mi libro más estimado. Si a esto se
suma el calor con que fue acogida su edición, y la opinión de colegas como Miguel Barnet,
presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; Carmen Barcia, Profesora de Mérito
de la Universidad de la Habana; Michael Zeuske y Christian Cwik, ambos de la Universidad
de Colonia en Alemania, puedo confesarte que “Tatuados” me ha marcado, me ha
autoidentificado.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
162
Resenha: HENDERSON, Hope; BERNAL, Sebastián Fajardo (comp.). Reproducción social y creación de desigualdades – discusiones desde la antropologia y la arqueologia
suramericanas. 1ª Ed. Cordoba: Encuentro Grupo Editor, 2012. 232 p.
Bruno Sanches Ranzani da Silva1
O livro compilado por Hope Henderson e Sebastián Bernal trata de um tema
candente na arqueologia contemporânea. Pensar em agência tem sido uma alternativa
conceitual para desalinhar as propostas estruturalistas que permeavam a interpretação
arqueológica, tanto de aspectos funcionais como de aspectos simbólicos da cultura material.
Os textos compilados nesta obra tentam mostrar as possibilidades e desafios do uso deste
conceito na América Latina.
Os compiladores introduzem a temática e os artigos do livro com um pequeno texto
de sua autoria. Nele, definem como objetivo do livro tratar os processos de reprodução social
em sociedades pré-hispânicas, históricas e contemporâneas. O conjunto de trabalhos
compilados faz jus à proposta geral da obra, defendendo casos em que determinados
indivíduos ou setores sociais logram (ou não) intervir na ordem das coisas. 1) Papel social
do(a) investigador(a) e relações sociais contemporâneas; 2) Sociedades históricas e relações
sociais coloniais; 3) Os agentes, as desigualdades e as mudanças sociais em sociedades pré-
hispânicas.
Os artigos seguem a ordem temática proposta pelos compiladores, e darei sequência
a essa ordem por julgá-la apropriada.
A primeira série de artigos, de Myriam Jimeno, Andres Salcedo e Alejandro Haber,
contempla a arqueologia e seu papel social na Colômbia e Argentina. Se preocupam em
esclarecer a subjetividade inerente ao trabalho de investigação eos consequentes problemas
gerados por cartografias étnicas desenhadas pela suposta neutralidade científica.
Myriam Jimeno apresenta o desenvolvimento da antropologia como ciência
acadêmica na Colômbia, tentando resumir, com êxito, 60 anos de uma disciplina em algumas
páginas. Seu percurso tem três momentos: o surgimento da antropologia na Colômbia, vinda
do estrangeiro, como uma disciplina de densas descrições etnográficas; o choque geracional
entre a primeira geração de antropólogos colombianos e seus mestres estrangeiros; a
institucionalização da disciplina e sua participação mais ativa em causas indígenas e
diversidade nacional. 1 Doutorando em Arqueologia pelo MAE/USP.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
163
De acordo com a autora, a antropologia colombiana passou de atividades de
“salvaguarda” de culturas a serem extintas pelo avanço da civilização ocidental, com
etnografias meramente descritivas nos anos 1940, para uma postura mais engajada de defesa
dos direitos das populações tradicionais. Nos anos 1970 e 1980, as comunidades indígenas
constituíram canais de interação diretos com o governo colombiano, e o fortalecimento dos
exércitos paramilitares fizeram com que os antropólogos buscassem outras áreas de atuação
(especialmente as comunidades rurais).
A principal bandeira daantropologia colombiana contemporânea, ressalta Myriam, é
a ampliação da cidadania - entender os indígenas e comunidades tradicionais em seus próprios
termos, ensinando o Estado a respeitar e reconhecer a diversidade de modos de viver. O que
ela chamou de naciocentrismo marcou o surgimento da antropologia na Colômbia e a
empreitada das novas gerações tem sido guiada rumo ao multicentrismo, no engajamento da
disciplina com a causa libertária e representativa de diferentes grupos sociais, procurando a
constituição de uma condição civil cada vez mais democrática.
Andrés Salceda, em seu artigo, comenta o mesmo processo de conformação da
nacionalidade, só que mais preocupado com a cartografia. As políticas segregacionistas com
raízes coloniais se materializam na segregação espacial promovida pelo governo colombiano
ainda nos dias atuais.
Durante o período colonial, Salceda fala do deslocamento compulsório de indígenas
para trabalhar nas encomiendas mineiras, da dependência administrativa de aldeias a centros
coloniais maiores e do esvaziamento de territórios não ocupados por colônias espanholas
(independente de sua ocupação por povos nativos). Ou seja, os territórios não ocupados por
colonos espanhóis eram considerados como baldíos, sujeitos a exploração com respaldo
governamental. Essa política continuou após a independência do país em 1821, com a Lei 61
permitindo a colonos e fazendeiros tomarem posse de baldios para extração de recursos e
empreendimento da colonização (assim se fez colonização da Antioquia e LlanosOrientales).
Os embates legais pela posse de terra, direitos de exploração de recursos e mão de
obra colocou em choque diversos setores constituídos durante o período colonial e que
tentavam manter seus privilégios na nova ordem (especialmente conflitos entre republicanos
iluministas e católicos monarquistas). No entanto, esses conflitos deixaram de lado os
interesses de grupos indígenas e trabalhadores rurais mestiços, maioria da população,
explorada como arrendatários ou em trabalhos semiescravos.
Os conflitos agrários se intensificaram no país, e a conformação de forças armadas
rebeldes seguiu uma onda de revoltas camponesas a partir dos anos 1940 (com maior
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
164
intensidade nos anos 1970 e 1990). As FARC, entre outros grupos, se dizem bolivaristas
defensoras do campesino contra a opressão do estado e dos grandes fazendeiros. No entanto,
muitas comunidades rurais saem lesadas dos embates entre forças rebeldes, governo e forças
paramilitares (sob custódia dos grandes fazendeiros do vale do Magdalena).
A situação atual é a de um Estado que o autor chama de multicultural. Por um lado,
reconhece e redefine a identidade e direitos de comunidades indígenas e tradicionais, com
base em sua comprovada ancestralidade. Por outro, falha nas negociações de paz com os
grupos militares rebeldes e se propõe a defender os direitos dos cidadãos ao “combater a
violência com violência”. Seu propósito, como defende o autor, não é aparecer como o
“defensor do ilusório interesse comum da sociedade” (p. 34). “Ele surge como um
intermediário que legaliza e legitima formas de extração e acumulação de riqueza e formas de
estatalidade privativas, mercenárias e corruptas” (Aretxaga 2003 apud p. 34).
Os trabalhos anteriores mostram não só a relação conflituosa entre o estado e
comunidades tradicionais sobre os direitos por terra e vida, mas mostra também como as
ciências humanas se prestam a essa relação conflituosa. Alejandro Haber reflete sobre o
aparato conceitual e teórico que guia a arqueologia e antropologia. Seu artigo interpreta os
sítios arqueológicos de Ingaguassi e Tebenquiche Chico, no altiplano de Catamarca,
Argentina, pela perspectiva do uywaña, palavra indígena que indica, grosso modo, uma
relação constitutiva baseada na reciprocidade entre os agentes (humanos ou não humanos).
Em seu caso, as relações humanas e não humanas envolvidas no cultivo da terra, construção
de moradias e canais de irrigação. Sua escolha conceitual reforça o caráter agentivo da
população local e, de fato, possibilita uma arqueologia descolonizadora, uma vez que Haber
desqualifica as interpretações estruturalistas e hierarquizantes para a existência dos canais.
Por meio da etnoarqueologia e de plantas arquitetônicas, o autor procura enxergar a
intencionalidade cotidiana dos indígenas na interação com o poder colonial. Inclusive, tenta
subverter a historiografia corrente ao atribuir o fim do assentamento de Ingaguassi, a mais
rica mina do altiplano durante a colônia, ao abandono voluntário dos indígenas após uma
revolta fracassada contra o governo colonial durante o carnaval – eles foram embora para suas
aldeias de origem porque preferiam não mais se submeter às demandas e relações insanas do
poder colonial com a terra e com o ouro. A “vitória colonial” não foi o decisivo na história do
assentamento, assim com a “vitória” norte-americana no Vietnam prova-se mais sobre o papel
que sobre suas perdas.
Além da agência das populações no passado, a abertura conceitual ao uywaña
possibilita a simetria interpretativa com saberes não-arqueológicos. Ao perguntar para o autor
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
165
“se ele achava que a vala crescia durante a noite”,um morador local pode buscar a validação
científica de seu conhecimento, ou por apenas estar colocando esse conhecimento estrangeiro
à prova (nada impede que a resposta “não” seja motivo de chacota do pesquisador). No
entanto, há o ponto de encontro cosmológico entre o estrangeiro e o local, um momento de
interação de saberes. Haber, e isso é importante, não apenas usa a palavra indígena, mas sim
o conceito, sua forma viva e cotidiana (como uma possibilidade, claro, do passado). E a
questão está colocada: porque nosso aparato teórico é mais apropriado para lidar com o
passado de grupos indígenas do que o “aparato teórico” (enfim, os modos de pensar sobre o
empírico) dos próprios grupos indígenas?
Esses trabalhos defendem claramente e com fortíssimos argumentos e casos
estudados, que a preocupação sobre os modos de vida de povos nativos e minorias sociais não
é uma questão de boa-vizinhança e humanidade, mas sim de políticas nacionais e
acessibilidade a recursos naturais (especialmente a terra). As ciências humanas, antropologia,
arqueologia, história, que são os casos, têm um papel fundamental na orientação dessas
políticas públicas ao serem contempladas com o direito de argumentar pela veracidade,
qualidade e merecimento dessas populações quase “depositárias” de culturas ditas milenares.
Exigir a ancestralidade de populações que foram compulsoriamente desalojadas de suas terras
de origem pelo processo colonizador seria cômico, se não fosse cruel.
Vale observar, brevemente, que o Brasil possui uma história similar aos parceiros
latino-americanos. Lucio Menezes Ferreira (FERREIRA 2005a, 2005b, 2009, 2010)analisa o
surgimento da arqueologia e antropologia ainda no Brasil imperial, com pesquisadores
naturalistas associados aos três principais museus do então Império – Museu Nacional, Museu
Paulista e Museu Paraense. Nos três casos, as discussões eram claramente orientadas para a
avaliação das possibilidades de ingresso dos indígenas brasileiros como cidadãos da nova
nação (recém-independente).
O artigo de Pedro Paulo Funari nos ajuda a pensar essa seara de possibilidades
interpretativas na arqueologia e seus fundos políticos. Funari menciona três estudos diferentes
sobre o mesmo sítio, o Quilombo de Palmares. Estudararqueologicamente esse importante
lugar da história nacional pode tomar diversas vias: pensá-lo como um ponto local de conexão
entre diferentes redes constituintes do mundo moderno global, pensá-lo a partir de uma
etnogênese própria da miscigenação colonial ou pensá-lo como uma exacerbação da lógica
colonial, chegando a ameaçar as colônias portuguesas como entreposto comercial é jogar com
as estruturas sociais e os agentes que nelas participam. O autor vai além ao nos lembrar das
preferências e usos distintos dessas interpretações por parte de múltiplosagentes sociais no
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
166
presente (Movimento Negro, mídia independente, poder público), embora não se detenha
nesse tema.
Esse trabalho coloca em pauta a segunda temática anunciada pelos compiladores do
livro: Os problemas de pensar os enfoques relacionais para contextos específicos como os de
contato colonial (Brasil, Colômbia e Argentina). Pedro Paulo Funari, Alejandro Bernal Velez,
Silvana Buscaglia e Marcia Bianchi Villella trazem estudos de caso nos quais Pierre Bourdieu,
Anthony Giddens e Michel Foucault são referencias constantes no exercício de compreensão
das subjetividades em atuação direta nas estruturas, seja para tentar modificá-las, seja para
tentar tomar proveito delas. Quais seriam os limites das estruturas estruturantes e
estruturadas?
Alejandro Bernal Velez, por exemplo, trabalha com inventários e apelos às
ouvidorias reais da Argentina colonial no século XVI, para entender como os caciques de Don
Juan e Don Pedro foram bem sucedidos no manejo das instituições coloniais para enriquecer.
A tese de Alejandro pretende fugir da dicotomia “dominador/dominado”, pois reconhece a
possibilidade de transgressão, e observa como a própria estrutura colonial, enquanto nega a
autenticidade do exótico, se assenta sobre ele. Se, por um lado, as encomiendas eram
divididas entre os espanhóis mais ricos, por outro, os encomenderos precisavam manter uma
relação de certa parceria com as lideranças indígenas das comunidades em território de sua
posse, de modo a garantir acesso a recursos e mobilização de mão de obra. Por outro lado, os
caciques reconheciam sua posição política estratégica, e muitas vezes usavam métodos
coercivos e fraudulentos para ganho de causa de encomenderosmais promissores aos seus
interesses.
E, a meu ver, aí reside uma contrapartida importantíssima no argumento de Velez.
Ele deixa claro que a aproximação dos caciques aos colonizadores não representa um ganho
sem perdas, uma vez que os abusos registrados do poder cacical entre os seus deslegitimava a
liderança e crescia o desgosto entre os camponeses pela chefia corrompida. Ao mesmo tempo,
muitas lideranças indígenas viam na ouvidoria real uma instituição colonial que valia o risco
(e o custo) na tentativa de criminalizar os excessos dos encomenderos em defender seus
benefícios.
A institucionalização do cacicado e criação de capitanias familiares nas comunidades
indígenas destroem as relações de reciprocidade antes existentes e estabelece uma série de
interesses acumulativos típicos do capitalismo moderno. O autor defende que agência é
justamente o modo como os indivíduos testam a elasticidade das estruturas presentes.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
167
Seguindo a mesma proposta, Silvana Buscagliaapresenta parte dos estudos
arqueológicos desenvolvidos em Floridablanca, um dos primeiros assentamentos da Coroa
Espanhola no deserto Patagônico, durante o século XVIII (na Baia de San Julian, atual
província de San Julian, Argentina). O malgrado assentamento durou quatro anos apenas,
sendo desmantelado e queimado por ordem real, após considerar que seus colonos não tinham
meios para viverem por si próprios. Floridablanca possuía mais que um propósito agrícola e
ocupacional, seu planejamento, como nos mostra a documentação oficial, previa uma colônia
moldada pelas normas do iluminismo patriarcal, igualitária, pacífica e geradora de cidadãos
úteis. Munida de Bourdieu (1977), Lightfoot (1998) e Sahlins (1981, 1985 e 1995) na
compreensão teórica dos espaços criados pelos encontros coloniais, a autora pretende aguçar a
percepção das formas cotidianas e “subliminares” do habitus colonial, debruçando-se no
material arqueológico. Em poucas palavras, é possível ver como se constitui, no dia-a-dia, o
esquema colonial e as tentativas de subvertê-lo.
O corpo documental analisado é composto, basicamente, pelas cartas escritas pelo
superintendente da colônia, Don Antonio de Viedma, à Coroa Espanhola. Entre escritos e
omissões, a autora faz três observações: 1) o único contato interétnico que se afirma é daquele
entre o superintendente e o cacique (Julián); 2) O fluxo de bens é registrado como indo dos
espanhóis aos indígenas (em sua maioria bens recebidos da metrópole), enquanto que dos
indígenas só se registra a entrada de “favores” (força de trabalho, carne de guanaco); 3) Não
há menção sobre o mundo lúdico (consumo de álcool ou participação de jogos) em nenhum
dos lados. A documentação constrói a imagem de uma sociedade pautada pelas normas cristã,
produtiva e civilizadora.
Para os propósitos deste pequeno artigo, Buscagliaanalisa a indústria lítica do sítio, e,
para tanto, nos dá três razões: 1) O material é resultado de diversas práticas cotidianas das
populações indígenas (de práticos a lúdicos); 2) Seria uma novidade para os colonos
espanhóis, e aposta no argumento de Pfaffenberger (1988) de que a circulação desses
materiais seria acompanhada de relações e interações sociais; 3) Nesse momento de interações
é possível expressar, construir e negociar identidades. A distribuição do material lítico pelo
sítio e sua qualidade é base para seu argumento pela interação entre os colonos e a população
indígena em torno da tecnologia de lascamento. Das casas e do forte, o segundo é o que
apresenta uma quantidade maior de materiais líticos, seguido pela (suposta) casa do soldado
casado e as casas dos colonos civis. Sua interpretação é de que os militares, responsáveis pela
proteção do bem-estar e ordem da colônia, teriam tido um contato mais direto, e talvez mais
livre, com os indígenas que circundavam a exótica colônia.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
168
Ainda em Floridablanca, Marcia Bianchi Villelliargumenta sobre as mesmas
condições normativas documentadas, mas tenta analisar sua subversão pela arquitetura e
organização espacial. Partindo da teoria da estruturação social de Giddens, trabalha com a
ideia de que a ocupação é planificada seguindo pautas de interação social. Sendo assim, é
relevante perguntar quais são os comportamentos previstos nas edificações existentes, quais
foram efetivamente desenvolvidos e quais foram executados além da previsão (e por quê?).
Ou seja, analisar os processos de criação, reprodução e transformação da ordem social,
percebendo que as estruturas sociais não são entidades acima do comportamento humano,
pelo contrário, são resultado de práticas do dia-a-dia (e aqui aparece o conceito de habitus de
Bourdieu).
Sobre essa teoria, Floridablanca nos brinda com um excelente exemplo ao revelar,
nas escavações, estruturas que não estavam previstas no plano oficial da coroa. Além dos
vestígios de consumo de álcool em uma delas e do cuidado estético na construção da soleira
em outra, a própria existência dessas estruturas já nos permite pensar sobre os limites de
alcance dos interesses estruturadores no cotidiano.
Até este momento do livro, os trabalhos têm sido felizes e positivos no uso do
conceito de agência como categoria analítica para pensar o poder individual e coletivo de
mudar a sociedade em que vivem. Victor Gonzáles Fernandés, Hope Henderson, Andrea H.
Cuéllar, Carlos Sanchéz, autores na sequência da obra, discutem problemas conceituais e
teóricos de pensar agência em sociedades pré-hispânicas. As principais questões giram em
torno da visibilidade da intenção humana no registro arqueológico (choque entre correntes
funcionalistas e simbólicas) e mesmo a permeabilidade dos sistemas culturais para tais atos de
subversão.
Retomando o tema da hierarquização social, brevemente levantado pelo artigo de
Alejandro Haber, Victor González Fernandés propõe que a complexificação social não partiu
de elementos externos às sociedades (ele retoma as propostas de Elman Service, Robert
Carneiro, Boserup, Cohen, e Reichel-Dalmatoff e as discussões entre 1960 e 1980), tampouco
por dinâmicas que enfatizam o exercício de poder de poucos sobre muitos (proposições
trazidas por Timothy Earle e Charles Spencer entre 1970 e 1990). Citando o caso de San
Agustín, Huila, região de Mesitas (ocupada desde 1000 a.C.) e o gradual aglomeramento
populacional em torno de tumbas monumentais.
Estruturas existentes nos sítios estudados mostram certa igualdade produtiva
(ausência de diferenciação de materiais) que teria durado cerca de 2000 anos. Segundo o autor,
a quantidade de vestígios encontrados durante todo o Formativo 1 ao 3 (1000 a.C. e 1º século
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
169
d.C.) cresceu proporcionalmente à população e não parece haver distinção quanto ao acesso
nos modos de produção, e as aglomerações parecem ser feitas em torno de centros/famílias
cerimoniais. Durante o clássico regional (1000-900 d.C.) esses centros cerimoniais e suas
famílias regentes parecem ganhar importância com a construção de tumbas monumentais,
acompanhado do crescimento populacional em seu entorno e uma marcada distinção de
vestígios presentes nos sepultamentos associados aos monumentos, daqueles não associados.
A tese do autor é de que as elites religiosas não teriam se conformado por nenhum
tipo de grande diferenciação nas atividades de produção nem em acesso aos recursos. Sua
única diferença seria um poder ritual concebido pela tradição (tendo em vista a longevidade
do processo de complexificação aqui exposto). A fonte de mudança parece estar, defende
Fernandés, na própria estruturação e repetição de atividades religiosas durante 80 gerações, e
não no acesso exclusivo de uma elite aos excedentes ou modos de produção.
Essa proposta me parece instigante, mas fica a dúvida sobre o papel da
intencionalidade e da complexificação social em seu texto. Primeiro, seu argumento parece
atribuir agência nem a indivíduos nem ao coletivo, mas à própria estrutura (a repetição de
atividades rituais). Nesse contexto, o coletivo teria angariado a estabilidade dos sistemas
rituais por uma política de taxação baixa e receptiva. Não há uma relação bem estabelecida
entre como a elite religiosa teria ponderado sobre a manutenção de seu poder, o controle
simbólico e a política de taxas. Ou seja, há uma superestrutura que organiza as funções sociais
e há uma população que a repete, com pequenas doses de reformulação, uma premissa
inquestionada. O que tem força, assim me parece que conclui o autor, é a estrutura social e
não os seres humanos.
Segundo, nem ele, nem os autores que seguem, explicitam o que querem dizer por
“sociedades complexas” e “complexificação social”. Uma sociedade complexa é uma
sociedade hierarquizada? No texto de Victor, ficamos com essa impressão. Apesar de
derrubar barreiras sobre as origens da complexificação social, não faz uso crítico desse
conceito. A divisão de papeis sociais indica a existência de categorias sociais? Seriam todas
as formas de prestígio igualmente formas de hierarquização? Não seria hora de repensar o uso
do adjetivo “complexo” para sociedades humanas? Afinal, é preciso ser hierárquica e desigual
para ser complexa? Em suma, seria interessante fugir também das categorias evolucionistas de
classificação social se quisermos alcançar formas menos colonialistas de interpretação
arqueológica.
Hope Henderson vai um pouco mais além ao procurar em Eric Wollf as reflexões
sobre diferentes graus de acesso ao poder social. Para ela, há que desarticular as capacidades
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
170
de agenciamento das imagens de grandes chefias políticas. Em seu estudo de caso sobre a
antiga ocupação Muisca, no Vale do Leiva, Colômbia, entre os séculos XI e XVI da era cristã,
percebe que o possível surgimento de categorias sociais distintas (marcada pela leve
predominância de cerâmica em algumas residências, combinado com seu cercamento) não
impediu que a ocupação territorial ocorresse de maneira independente. Ou seja, em todo o
processo de ocupação Muisca no Vale de Leiva, a organização dos assentamentos parecia
obedecer a parâmetros não associados com os de uma elite que surgira desde o quarto século
antes da chegada dos espanhóis. Sua sugestão é de que o status social não era suficiente para
limitar os campos de ação dos demais setores da sociedade.
Por essa razão, a autora defende as formas de exercício de poder delimitadas por
Wollf e acredita que o poder organizativo (capacidade de controlar os contextos que permitem
criar as organizações e expressões das pessoas) e o poder estrutural (capacidade de gerar
configurações sociais que permitem as possibilidades e limites de atuação) podem ser mais
úteis em contextos pré-hispânicos que as reflexões sobre agenciamento centradas no poder
individual (capacidades pessoais de influência sobre os demais) e poder de mandar
(capacidade de forçar obediência).
Os casos de agenciamento individual que aqui foram contemplados não puderam ser
pensados sem as referências documentais a indivíduos específicos, além de ser mister
pensarmos nas possibilidades de vontade coletiva como importante agente na condução e
modificação da sociedade.
Andrea M. Cuellartoca na questão da visibilidade individual versus visibilidade
coletiva no registro arqueológico de populações pré-históricas; e como é possível combinar os
interesses trazidos pela agência com as conquistas teóricas de proposições clássicas como a
do cacicado. Seu estudo de caso é no Vale de Quijos, a partir do quinto século a.C., e
argumenta contra o rechaço do conceito de cacicado e sua referência à centralização social. Se,
por um lado, o crescimento populacional não teve aparente relação com a distribuição de
recursos (assentamentos estudados mantinham uma aparente independência na produção de
gêneros alimentícios – preponderando aqueles adequados ao ambiente local – e de
ferramentas líticas de obsidiana), por outro é evidente a tendência ao agrupamento em torno
de centros específicos. Ou seja, pode ser que a centralização não tenha ocorrido por razões
econômicas, mas não há por que ignorar os indícios de centralização geográfica, indicando
alguma forma de centralidade política.
O artigo da autora não apresenta nenhum argumento contra a proposição de
agenciamento. No entanto, está mais preocupada em defender a hierarquia como princípio
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
171
organizativo do que efetivamente refletir sobre as capacidades individuais ou coletivas de
mudança social.
Finalmente, o artigo de Carlos Augusto Sanchéz é um ataque direto ao conceito de
agência ao propor que ele nos traz uma visão ilusória de mobilidade social, enganando-nos
quanto aos reais efeitos da hierarquia social. O poder não é uma inerência a todas as relações
humanas, como o querem Giddens, Bourdieu e Foucault, mas “outorgado pelo controle
econômico da sociedade” (p. 210). Em um projeto de arqueologia regional pelo alto do
Magdalena, Colômbia, o autor vê a transição de uma sociedade agrícola sedentária com
independência produtiva, para uma sociedade centralizada em torno de centros políticos, com
claras delimitações de paisagem, construção de canais não-comunitários (associados a umas
poucas casas) e tumbas megalíticas a partir do primeiro século a.C. Para ele, fica clara a
relação entre a centralidade e o controle econômico dos meios de produção (agricultura), com
respaldo de instâncias da vida religiosa (tumbas monumentais). Os dados etnohistóricos
mencionam sociedades indígenas centralizadas já no século XVI e reafirma a estabilidade e
força dos mecanismos de controle da produção e subordinação dos “caciques secundários”
aos “caciques principais”.
O trabalho de Carlos Sanchéz aborda o registro arqueológico por uma perspectiva
marxista e acredita que dotar os protagonistas históricos de liberdade de atuação é deixar para
segundo plano as forças coercivas e constritoras da estrutura social. Em poucas palavras, lhe
parece uma proposta interpretativa viciada na pretensa liberdade empreendedora típica da
sociedade capitalista, que discursa pelo liberalismo meritocrático enquanto esconde seus
mecanismos de controle da produção.
Esse último artigo parece fechar o livro como um ciclo que percorre as vantagens e
desvantagens interpretativas de pensarmos o conceito de agência. De sua liberdade ao seu
liberalismo, do rompimento das correntes forçosas do estruturalismo para a ilusão traiçoeira
do capitalismo. As discussões propostas neste livro deixam clara a carência epistemológica
que ainda cerca o uso das teorias de agência em arqueologia. Ao mesmo tempo em que não
parece mais viável buscarmos respostas atemporais apenas nos mecanismos coletivos
previstos pela sociologia, história e antropologia, devemos tomar cuidado para não desbancar
no livre-cambismo de forças. Se não podemos perder de vista as pautas vivas dos movimentos
de minorias sociais, perceber o poder de mudança e manejo que reside nos indivíduos ou em
determinados setores além das elites é politicamente reconfortante. Embora a vida em coletivo
não seja suficiente para impedir o desvio de conduta e a subversão da ordem imposta, não
podemos dedicar toda a história de um povo a breves figuras exaustivamente historiografadas.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
172
Pensar agência é pensar em atuação, nas forças que constroem as normas sociais e naquelas
que tentam alterá-las.
Vale observar, ainda, que há uma lacuna geral entre os artigos de arqueologia – os
métodos, descrições de materiais e imagens ilustrativas deixam muito a desejar. Entendo que
a ideia central desta obra não seja uma apresentação precisa das coleções e métodos de campo,
mas os argumentos dos autores, quando tem como objeto os vestígios arqueológicos, devem
ser mais explícitos nos modos de registro e coleta de dados. Os mapas costumam ser de baixa
resolução e pouco ilustrativos dos argumentos, e há poucas (quando há) imagens dos artefatos
descritos. Particularmente frustrante é a pouca reflexão e descrição dos métodos de campo.
Como encontrar a intencionalidade no registro arqueológico? Como fazer uma arqueologia
que escape dos moldes colonialistas nos quais a disciplina foi engendrada? Essas questões são
centrais no desenvolvimento de uma arqueologia mais democrática e diversificada. O único
artigo que me pareceu ponderado na apresentação dos materiais, imagens ilustrativas, planos
claros e legíveis e descrição dos métodos foi o de Silvana Buscaglia.
De todos os artigos de arqueologia, os métodos de escavação, ou o que foi possível
conceber deles, não parecem se distanciar muito do que usamos cotidianamente. A chave
parece residir na própria escolha teórica. Se compararmos dos dados apresentados por Carlos
Sanchéz, Hope Henderson, Andre Cuellar, por exemplo, podemos ver que todos trabalham
projetos de escala regional, tratando de populações pré-hispânicas, discutindo o surgimento de
hierarquias sociais, mas com resultados analíticos muito diferentes. Certamente que são
diferenças oriundas de múltiplos contextos (populações distintas, regiões distintas), mas a
similaridade dos dados apresentados (crescimento populacional, vestígios de tecnologias
produtivas e simbólicas, diferenciação social) deixa claro que muito do que foi entendido
parte das escolhas dos próprios autores.
Referências bibliográficas FERREIRA, Lucio Menezes. “Diálogos de arqueologia sul-americana: Hermann von Ihering, o Museu Paulista e os museus argentinos no final do século XIX e início do XX.” Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia Vol. 19 (2009): 63-78. FERREIRA, Lucio Menezes. “Footsteps of the American Race: archaeology, ethnography and romanticism in imperial Brazil.” In: Global Archaeology Theory: contextual voices and thoughts, por Pedro Paulo A. FUNARI, Andrés ZARANKIN e Emily STOVEL. New York: Springer, 2005b.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
173
FERREIRA, Lucio Menezes. “Solo civilizado, chão antropofágico: a arqeuologia imperial e os sambaquis.” In: Identidades, discursos e poder: estudos da arqueologia contemporânea, por Pedro Paulo A. FUNARI, Charles E. ORSER Jr. e Solange Nunes de O. SCHIAVETTO. São Paulo: Annablume/PAFESP, 2005a.
—. Território Primitivo - A institucionalização da arqueologia no Brasil (1870-1917). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
174
GEOGRAFIA E ARQUEOLOGIA: UMA VISÃO DO CONCEITO DE RUGOSIDADES DE MILTON SANTOS
Geography and Archaeology: an overview of the concept of roughness as defined
Milton Santos.
Anderson Sabino1 Robson Simões2
RESUMO Neste trabalho trazemos reflexões que partem dos conceitos de espaço e rugosidade elaborados pelo renomado geógrafo brasileiro Milton Santos3 (1926-2001). Tais reflexões buscam contribuir para alavancar a construção de pontes que conectem de forma produtiva e permitam estabelecer frutífera interdisciplinaridade entre Geografia e Arqueologia. Palavras-Chave: Geografia; Arqueologia; Milton Santos. ABSTRACT In this paper we address the concepts of space and spatial roughness developed by the renowned Brazilian geographer Milton Santos (1926-2001). Our main purpose is to leverage the building of bridges that connect effectively Geography and Archeology allowing a productive interdisciplinary relationship for both sciences. Keywords: Geography, Archaeology, Milton Santos RESUMEN Este trabajo aporta reflexiones que parten de los conceptos de espacio y rugosidad producidos por el renombrado geógrafo brasileño Milton Santos (1926-2001). Estas reflexiones tienen como objetivo impulsar la construcción de puentes para conectar de manera productiva y establecer fructífera interdisciplinariedad entre la Geografía y la Arqueología. Palabras clave: Geografía, Arqueología, Milton Santos
1 Graduando em Geografia – Instituto de Geociências – UNICAMP [email protected] 2 Graduando em Geografia – Instituto de Geociências – UNICAMP [email protected] 3 Milton Santos foi professor da Universidade de Paris, Sorbonne, Universidade de Toronto, Canadá, Columbia University, Nova York e USP. Foi Diretor da École de Haustes Études en Sciences Sociales, Paris. Escreveu mais de 40 livros e publicou cerca de 300 artigos. Em 1994, conquistou o Prêmio Internacional de Geografia Vautrin Lud, equivalente ao Nobel de Geografia. Recebeu titulo de Doutor Honoris Causa de várias universidades do Brasil e do mundo.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
175
Introdução
Entre os muitos focos comuns de pesquisa que aproximam Geografia e Arqueologia
estão os objetos do espaço, que podem ser considerados patrimônio, e participam da busca por
conhecimentos socioculturais em perspectiva histórica4. Se a Arqueologia tem como objeto
de pesquisa imediato a cultura material de sociedades humanas (FUNARI, 2006), presume-se
que cada evidência concreta tenha uma localização e um contexto espacial in situ.
Desse modo, sendo o espaço, em sua forma e conteúdo, objeto de estudo
da Geografia, não é de se surpreender que Arqueologia e Geografia possuam amplas áreas
compartilhadas de pesquisa e contribuição científica, sendo atualmente um dos campos mais
dinâmicos de exploração e exemplo possível de interdisciplinaridade exitosa.
O objetivo desse trabalho é discutir o conceito de rugosidade utilizado pela
Geografia miltoniana e, a partir da sua conceituação, refletir sobre interfaces comuns entre
Geografia e Arqueologia que possam gerar contribuições frutíferas e efetivas para ambas
as ciências.
Com estrutura segmentada em três pilares, o presente texto aborda inicialmente
conceitos essenciais do pensamento geográfico que embasam a ideia de rugosidade formulada
por Milton Santos; em seguida, aprofunda e discute este conceito; por fim, reflete sobre
os enfoques da Geografia e Arqueologia relacionados ao conceito de patrimônio.
Milton Santos
Como ciência em constante desenvolvimento, a Geografia vem buscando avançar
na lapidação de seus objetos e objetivos. No curso deste caminho, muitos foram os que
contribuíram para seu avanço, entre eles, destaca-se o geógrafo brasileiro Milton Santos,
conceituado pensador de questões fundamentais desta disciplina, como a determinação precisa
do objeto de estudo da Geografia, sua epistemologia e também a definição de espaço
geográfico.
Para este autor, a Geografia deve ocupar-se da análise dos sistemas de objetos
e sistemas de ações, que são inseparavelmente aliados ao tempo e compõem o espaço
geográfico que é o objeto de estudo da ciência geográfica. Sua principal ferramenta
metodológica é o estudo da técnica (SANTOS, 2012).
4 Milton Santos busca uma “epistemologia geográfica de cunho historicista e genético” (2012: 49).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
176
A técnica, diversa em suas particularidades, mas una enquanto fenômeno, registra no
espaço seus diferentes momentos embutida no trabalho humano realizado, permitindo
a reconstituição de seu processo formador.
Nesse sentido, a noção de rugosidade tem papel importante, pois auxilia
na identificação das técnicas e conjunturas sociais de tempos precedentes, figurando assim
como uma ponte de diálogo entre a Geografia e a Arqueologia. Na definição de Santos:
Chamemos de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como arranjos. (SANTOS, 2012: 140).
Sendo posicionado analiticamente por Milton Santos como interno ao espaço
geográfico, o conceito de rugosidade reflete a coexistência, no tempo presente, de elementos
de diferentes idades. As rugosidades são as feições moldadas num tempo anterior
e que mantém-se impondo às ações atuais suas possibilidades enquanto construções espaciais.
O espaço geográfico
O espaço é o conceito fundamental para a Geografia. Com o objetivo de facilitar
e alinhar o entendimento sobre esse conceito, exploraremos a seguir os elementos
que o compõem e como suas relações são concatenadas.
As análises geográficas focam, antes de tudo, as relações entre as ações e objetos
realizadas pelo homem social no e através do espaço. Logo, são essencialmente distintas
da visão da economia, que o entende como receptor de fluxos, ou da matemática,
que o enxerga sob o ponto de vista da geometria, relacionado com distâncias, polígonos,
limites e extensões.
Por conta das demandas de uma realidade complexa e dinâmica, as construções
epistemológicas da Geografia têm sido aprimoradas objetivando construir um abrangente
conceito de espaço que compreenda a diversidade e movimentos constantes do período atual.
Em vista disso, torna-se necessário elaborar um conjunto de ideias, categorias
e conteúdo a partir do espaço, tarefa complexa levada a cabo por Milton Santos. O geógrafo
brasileiro (2009: 10) aponta que “a própria metodologia deve ser renovada constantemente,
senão a realidade lhe escapa (...) [e ressalta que] analisar um fenômeno novo com uma
metodologia ultrapassada equivale a deformar a realidade, e isso não conduz a parte alguma”.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
177
Sincronizado com a atualidade, o espaço geográfico é dinamicamente modificado
pela sociedade de acordo com seus interesses, desse modo, a sociedade é um reflexo do seu
espaço, assim como o espaço é um reflexo da sua sociedade (MOREIRA, 2011).
Para Santos (2012: 63), o espaço é “um conjunto indissociável, solidário e também
contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente,
mas como o quadro único no qual a história se dá”.
Portanto, é sob uma visão sistêmica e de totalidade que o espaço deve ser analisado,
sua importância é detalhada por Milton Santos (2012: 115) ao afirmar que esta
é uma noção “das mais fecundas que a filosofia clássica nos legou, constituindo um elemento
fundamental para o conhecimento e análise da realidade. Segundo essa ideia, todas as coisas
presentes no Universo formam uma unidade".
O entendimento do todo suporta as análises geográficas, as coisas são partes do todo,
mas "a totalidade não é uma simples soma das partes. As partes que formam a totalidade
não bastam para explicá-la. Ao contrário, é a totalidade que explica as partes" (SANTOS,
2012:115).
De maneira dinâmica e constante a totalidade se redefine, esse movimento
é denominado totalização. A totalidade é resultado do processo de totalização. Ela está
submetida a esse incessante processo que a faz continuamente inacabada (SARTRE, 1972).
Assim, permanentemente incompleta, abriga incontáveis totalidades parciais, retratando,
portanto, um resultado instantâneo e pontual, sempre inconcluso das ações de totalização.
A análise local deve, com isso, reportar-se constantemente ao todo e do todo verificar
o que de implícito lhe influencia. A compreensão se dará nesta investigação multiescalar,
consideração fundamental para o uso do conceito de rugosidades que aqui se pretende.
Sistemas: objetos, ações e história
Pensando sob uma perspectiva relacional, os conceitos associados ao espaço, quando
considerados dentro de um contexto e em conjunto, formam uma base teórica e metodológica
a partir da qual é possível discutir os fenômenos espaciais em uma totalidade e seus
fundamentos.
Desse modo, conectados à ideia de totalidade estão os objetos e ações, seus sistemas
são novas totalidades que compõem a totalidade em contínuo movimento, o que foi designado
por Milton Santos como espaço (SANTOS, 2012).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
178
Sendo assim, os objetos, que em conjunto com as ações formam o espaço geográfico,
são “tudo o que existe na superfície da terra, toda herança da história natural e todo resultado
da ação humana que se objetivou. Os objetos são esse extenso, essa objetividade, isso que se
cria fora do homem e se torna instrumento material de sua vida” (SANTOS, 2012: 72). As
cidades, barragens, edifícios, instrumentos, veículos, entre outros, são exemplos
de objetos.
Complementarmente, os objetos devem existir como sistemas e não como massas
estocadas, eles são úteis ao homem, podendo ser simbólicos ou funcionais e só têm sentido
se associados às ações e vice versa. Ademais, objetos sempre carregam discursos
e simbolismos.
A ação é um fato humano, necessita de projeto, intenção, pois depende do objetivo
e da finalidade com a qual é praticada, e nisso o homem é único. “As ações humanas não
se restringem aos indivíduos, incluindo, também, as empresas, as instituições” (SANTOS,
2012: 82).
Além disso, ações podem conter também a racionalidade alheia, sustentada
por técnica e ciência e depositada em objetos técnicos que possuem as finalidades em si,
os executores são, dessa maneira, alienados do processo decisório, podendo dar-se de homem
para homem e de lugar para lugar.
As necessidades naturais ou criadas são origem das ações, as quais levam às funções.
“Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos. Realizadas através de
formas sociais, elas próprias conduzem à criação e ao uso de objetos” (SANTOS, 2012: 83).
Continuamente, os “sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado,
os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema
de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes” (SANTOS,
2012: 63). Ou seja, quando não está criando objetos, o homem age sobre a história
cristalizada, herdada do passado.
Abordando de maneira sintética, a forma é a aparência do objeto, que pode
se organizar, formando um arranjo, um padrão espacial. A função representa uma tarefa,
atividade ou papel a ser realizado pelo objeto. A estrutura é o modo como os objetos estão
inter-relacionados entre si, não é, portanto, visível, é implícita à forma, sendo um tipo de fonte
que gera as formas. O processo se constitui em uma estrutura em transformação, sendo ação
que ocorre continuamente visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
179
Assim, os objetos se constituem nas formas do espaço, são as formas espaciais.
Por outro lado, as ações, são o conteúdo que a sociedade produz. Vinculadas por uma relação
direta, quando modifica o espaço, a sociedade por consequência também se modifica.
Sob o efeito das forças da modernização, quase sempre associadas aos interesses
do capital global, as formas de um período específico do passado, que possuíam uma
finalidade específica, podem ter sua função inicial modificada pelo tempo. São essas formas
que Milton denomina de rugosidades.
Sendo marcas impressas no espaço, deixadas por ações ocorridas em tempos
pretéritos, as rugosidades produzem conflito entre o novo e o antigo, estabelecendo uma
relação de oposição e fricção, alvo de estudos da história, Arqueologia e Geografia.
Espaço e paisagem: estruturando ligações
A Arqueologia utiliza amplamente o conceito de paisagem em suas análises,
(PELLINI, 2007), a Geografia também o emprega e o diferencia do conceito de espaço.
Milton Santos elabora essa distinção entendendo que o espaço é sempre atual
e social, pois contém as funções exercidas pelos seres viventes e as materialidades.
A paisagem seria uma parte do que foi efetivamente construído em diferentes momentos
da história e que deixa aparentar a morfologia e as diferentes idades dos objetos no momento
da observação.
O autor pontua que a paisagem não interage com a sociedade,
mas sim o espaço o faz, já que “a história não se escreve fora do espaço e não há sociedade
a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social” (SANTOS, 1982: 10). Como resultado,
a paisagem5 representa para Milton, “o espaço humano em perspectiva” (2012: 106).
A paisagem, cada vez mais artificializada, é também obra social, mas não permite,
por si só, a apreensão do conteúdo social passado ou atual. Para isso seria necessário um
estudo das técnicas, das ações e funções, analisáveis a partir do espaço.
Em seu esforço de distinguir espaço e paisagem, Santos destaca o caráter
da paisagem de não ultrapassar o limite do visível, “a rigor, a paisagem é apenas a porção
da configuração territorial que é possível abarcar com a visão” (SANTOS, 2012: 103).
Portanto, o território seria uma categoria do espaço, um dado, que com suas formas artificiais
ou naturais compõe as áreas (SANTOS, 2012).
5 Milton (2012) dá exemplo de uma cidade caso fosse bombardeada por uma bomba de nêutrons aniquiladora, antes seria espaço, após a explosão seria apenas paisagem.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
180
Contudo, o autor ressalta que é possível identificar funcionamento na paisagem.
Como são as formas que efetivam, possibilitam e condicionam as ações no espaço, a
paisagem guarda esses movimentos, sempre do passado, de forma cristalizada, sendo
“testemunha da sucessão dos meios de trabalho, um resultado histórico acumulado”
(SANTOS, 2012: 107). É nesse ponto que as rugosidades devem servir de ferramenta.
Santos (2012) afirma que o estudo geográfico não pode desconsiderar a paisagem,
pois ela é a demonstração do processo de totalização realizado num determinado instante.
Além dela, interessa ao geógrafo o movimento atual, as funções exercidas no
presente espaço, já para o arqueólogo, o vital será enxergar e aprofundar os processos
e configurações sociais do passado a partir dos objetos desse mesmo passado que
atravessaram os tempos (SANTOS, 2012). O apoio teórico sobre as rugosidades do espaço
geográfico podem auxiliar nesta empreitada.
Rugosidades do espaço
Milton Santos reciclou o conceito de rugosidade a partir das ideias do geomorfólogo
francês Jean Tricart6 (1920-2003) que foi seu orientador no período que estudou na França.
O autor aponta que muitos geógrafos já usavam a noção de rugosidade do espaço -
“expressão criada por Tricart para a geomorfologia” (SANTOS, 2009: 72), para reforçar
a ideia de resistência da concretude preexistente às forças de superposição.
As rugosidades seriam produtos de legados históricos exibidas em suas formas,
entendê-las é essencial "porque elas são o envoltório inerte dos instantes que marcam
a evolução da sociedade global, mas, igualmente, a condição para que história
se faça" (SANTOS, 1982: 42).
Desta maneira, são enxergáveis depoimentos físicos que a história nos presta,
pois as “formas antigas permanecem como a herança das divisões do trabalho no passado
e as formas novas surgem como exigência funcional da divisão do trabalho atual ou recente.
(SANTOS, 1982: 42).
As rugosidades do espaço carregam a inscrição dessas realizações passadas, trazendo
a possibilidade de conhecimento, não sozinha, dos responsáveis pelos processos e possuidores
do poder construtivo, a disponibilidade histórica de mais-valia e seus detentores, enfim,
6 Jean Tricart, geógrafo francês, doutor pela Universidade de Paris I, tem reconhecida importância para o desenvolvimento da Geografia. Foi especialmente pelos trabalhos em Geomorfologia e EcoGeografia que Tricart ganhou expressão mundial. O geomorfólogo era muito admirado e considerado por Milton Santos, juntos realizaram diversos trabalhos na área de Geografia aplicada.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
181
uma gama de informações a respeito de conjunturas anteriores, inclusive porque “não podem
ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, mas também como heranças
socioterritoriais ou sociogeográficas” (SANTOS, 2012: 43). Ademais, no presente:
O meio ambiente construído constitui um patrimônio que não se pode deixar de levar em conta, já que tem um papel na localização dos eventos atuais. Deste modo, o meio ambiente construído se contrapõe aos dados puramente sociais da divisão do trabalho. Esses conjuntos de formas ali estão à espera, prontos para eventualmente exercer funções, ainda que limitadas por sua própria estrutura. (SANTOS, 2012:141)
Para o autor, o meio ambiente é o meio de vida do homem, é a natureza unificada
pela história e mediada pela técnica, sendo o meio transformado, diferente do conceito muitas
vezes empregado pelos ambientalistas (SANTOS, 1995). Segundo Milton, o meio ambiente
construído constitui-se patrimônio da humanidade, um pertence constantemente remodelado
e transformado, abrangendo os objetos que constituem o espaço e condicionando as ações
que sobre ele serão exercidas.
Portanto, as rugosidades, como formas, fazem parte do meio ambiente construído,
fração do sistema de objetos do espaço que atestam as marcas particulares da cultura,
trabalho, sociedade, economia e tecnologia do momento histórico em que foram criadas,
daí ser possível categorizá-las não somente pelos aspectos físicos que apresentam,
mas, sobretudo, pelas relações que as interconectam ao seu passado histórico.
A condição para a existência aponta para o concreto, “é a materialidade – objetos
e corpos – que acaba por ser, em cada lugar, a única garantia” (SANTOS, 2012: 226).
É principalmente ao nível do lugar que o homem cria identificação com os objetos.
Esta territorialidade é fundamental para formação de sua consciência. As rugosidades do
espaço incorporam esta questão, dependem da valorização para terem sua existência
respeitada pelas intervenções futuras.
Tempos acelerados
Há um quadro de [Paul] Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. (Walter Benjamin, 1994: 226)
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
182
Como messianicamente expõem W. Benjamin 7 , as ações de modernização
confrontam incisivamente as formas espaciais de tempos pretéritos, as rugosidades. Estas
limitam geograficamente as ações impostas pelos avanços e inovações que são decorrentes
da aceleração crescente da história e da mundialização, configurando-se assim como mais
uma componente do campo de forças que é o espaço geográfico.
Santos associa o estudo das rugosidades ao estudo da paisagem, que sob efeito
das dinâmicas modernizantes passa a conter as múltiplas e novas camadas que são produzidas
pelas forças inovadoras. Essas camadas são gradativamente mais comprimidas e geradas
em número cada vez maior, porém ainda que esse processo seja agudo, ao contrário da visão
de Benjamin, as rugosidades não são eliminadas.
Como remanescentes, as rugosidades são justamente essas formas que sobrevivem
à sucessão do tempo e, como já visto, nos contam sobre as divisões do trabalho e sua
respectiva carga técnica:
Em cada subespaço, novas divisões do trabalho chegam e se implantam, mas sem exclusão da presença dos restos de divisões do trabalho anteriores. Isso, aliás, distingue cada lugar dos demais, esta combinação específica de temporalidades, diversas. (...) O tempo da divisão do trabalho vista genericamente seria o tempo do que vulgarmente chamamos de ‘modo de produção’. (...) As manifestações temporais e espaciais dessas divisões do trabalho sucessivas são tanto mais eficazes e visíveis quanto mais o tempo se divide (SANTOS, 2012: 136)
Enxergando esse cenário, Milton faz analogia com a Arqueologia, apontando que
“o estudo da paisagem pode ser assimilado a uma escavação arqueológica" (1997: 55).
Sob essa ótica, explica a dinâmica entre os estratos da paisagem como intercorrências
temporais: "Em qualquer ponto do tempo, a paisagem consiste em camadas de formas
provenientes de seus tempos pregressos, embora estes podem ter sofrido mudanças drásticas
(...) Assim, se a forma é propriamente um resultado, ela é também fator social ” (SANTOS,
1997: 55).
Em vista disso, a análise das camadas que compõem o palimpsesto da paisagem
pesquisada demonstra-se vital para o entendimento das reorganizações do espaço e das forças
que nele atuaram e atuam. Em constante metamorfose, o espaço se reestrutura e se adapta
às novas finalidades que as formas pretéritas adquirem, além de modificar as dinâmicas,
as ideologias e fluxos de produtos, produzindo, dessa maneira, novas espacialidades,
novas formas.
7 O filósofo alemão e crítico literário Walter Benjamin (1892-1940), comprou em 1921 o quadro Angelus Novus do próprio Paul Klee (1879-1940), pintor e artista gráfico suiço. (BENJAMIN, 1994)
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
183
Em sua teorização, Milton Santos preocupou-se igualmente em resolver o problema
da dualidade espaço-tempo. Esses conceitos já haviam se tornado inseparáveis pela física,
mas a Geografia não dispunha de método capaz de evidenciar essa realidade.
Milton, então, lança mão das técnicas como o fator suficiente para unir o espaço
e o tempo efetivamente, “de um lado, dão-nos a possibilidade de empiricização do tempo e,
de outro lado, a possibilidade de uma qualificação precisa da materialidade sobre a qual
as sociedades humanas trabalham” (SANTOS, 2012: 54).
Esta materialidade toma forma pelas técnicas contidas no processo de trabalho
realizado pelo homem e apresenta-se em tempos posteriores, após mudanças de seu conteúdo
e funções, como rugosidades do espaço.
Partindo do princípio de que “o trabalho realizado em cada época supõe um conjunto
historicamente determinado de técnicas” (SANTOS, 2012: 56), é possível então identificar no
decorrer da história suas materializações e variações com auxílio das rugosidades,
redescobrindo as técnicas de construção, produção, sociabilidade e outras.
Portanto, rugosidades são registros de ações de um passado multifacetado, realizado
no espaço e que só fazem sentido, quando analisadas dentro do contexto espaço-social em sua
totalidade, constituem-se condições das possibilidades reais no presente.
Pontes de diálogo entre geografia e arqueologia
“O conhecimento, ao se fragmentar analiticamente para penetrar nos entes, separa o que organicamente está articulado” (LEFF, 2004).
As pontes que ligam a Geografia com a Arqueologia são inexoráveis.
Ambas necessitam de análises interdisciplinares, ambas analisam o patrimônio cultural
(SILBERMAN, 2007), este, por possuir uma dimensão espacial que é parte essencial de sua
identidade, é um dos focos de estudo da Geografia Cultural, sendo analisada por especialistas
como James Duncan, Denis Cosgrove e Stephen Daniels, além de pensadores atuais como
David Harvey.
O patrimônio cultural, sendo material, imaterial ou natural, está vinculado,
sobretudo, à diversidade cultural, “o que faz com que o conceito de Patrimônio Mundial seja
excepcional é sua aplicação universal. Os sítios do Patrimônio Mundial pertencem a todos os
povos do mundo, independentemente do território em que estejam localizados” (UNESCO,
2013).
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
184
Aline Vieira de Carvalho e Paulo Funari reafirmam a importância do patrimônio: “no
contexto da acessibilidade, os patrimônios materiais e mesmo os imateriais adquirem extrema
força simbólica. Escolhidos por determinados grupos sociais, esses patrimônios tornam-se
representações de tempos, espaços e acontecimentos específicos” (2010: 11).
A Geografia, em especial uma de suas ramificações, a Geografia Cultural, aborda
o patrimônio sob a perspectiva do espaço, pois toda análise sobre o patrimônio cultural
necessita de uma análise espacial.
Nesse sentido, a ideia de rugosidade se associa analogamente com o conceito
de patrimônio que é intrínseco à noção de espaço. A Arqueologia enfoca e valoriza as formas
espaciais que se apresentam, para delas obter os conteúdos que cercaram sua construção.
Com esse desejo, a noção de rugosidade, relacionada com heranças visíveis que
informam sobre situações sociais, condições técnicas do passado e “tipos de capital utilizados
e suas combinações técnicas e sociais com o trabalho” (SANTOS, 2012: 140) pode contribuir
em grande medida nas análises relacionadas ao patrimônio.
Os estudos associados ao levantamento de patrimônios materiais e imateriais levam
em conta seus territórios, pois é no espaço que se concretiza a noção de tombamento.
Adicionalmente, quando analisado pela Geografia, esse processo histórico e político
de seleção de bens e paisagens é pensado sob a ótica de produção do espaço,
e as formas de apropriação e de valorização do território.
Outras pontes conectam Geografia e Arqueologia no que se refere aos estudos
do patrimônio. Além dos estudos geomorfológicos e de relevo, nas últimas décadas tem
crescido o suporte da Geografia em pesquisas que demandam análises baseadas em sistemas
de informação geográfica (SIG), que são apoiados por imagens de satélites de sítios
arqueológicos e também técnicas de georreferenciamento, documentação cartográfica
e geotecnologias para suportar o planejamento de sítios históricos, territórios e cidades com
patrimônio cultural destacado.
Considerações finais
Geografia e Arqueologia somente podem ser entendidas dentro de um contexto
histórico e social. Contudo, é importante destacar que “os geógrafos trabalham também com
os objetos do presente” (SANTOS, 2012: 73), preocupando-se com as possibilidades atuais
de mudanças físicas e funcionais, sem perder de vista a indissociabilidade entre objetos
e ações.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
185
Para Funari, a Arqueologia “estuda os sistemas socioculturais, sua estrutura,
funcionamento e transformações com o decorrer do tempo a partir da totalidade material
transformada e consumida pela sociedade” (2006: 16). Tendo como objetivo “a compreensão
das sociedades humanas e, como objeto de pesquisa imediato, objetos concretos” (2006: 16).
Segundo Rivers, Knappett e Evans (2011: 6), Arqueologia visa compreender
“relações espaciais. [E] A própria atividade de examinar as correlações espaciais da estrutura
social inicial tem um positivo efeito de levantar problemas importantes em termos gerais
e simples".
Assim, a Arqueologia tem como foco a compreensão do passado, a preservação
da memória material e imaterial e a formação da consciência a respeito das relações sociais
anteriores. Com isso, entendemos que as rugosidades, não esgotam em si os fatores passíveis
de interpretação, mas vem contribuir para a formação do arcabouço teórico da Arqueologia.
Ambas as disciplinas buscam o conhecimento da gênese das formas e dos estratos
que compõem os espaços. As camadas são os processos históricos que nele atuaram
e o modificaram. Ao longo dos últimos dois séculos essas camadas tem se formado mais
rapidamente.
Esse processo de formação foi acelerado pelas novas tecnologias, pelo
desenvolvimento econômico e o crescimento da população, produzindo distorções
e contrastes, pois não se considerou e tampouco se tratou de forma responsável, as camadas
antigas, tendo sido estas singularmente esquecidas – e até varridas.
Analogamente, os espaços do período atual, principalmente os urbanos, lidam com
dilemas semelhantes aos dos palimpsestos, cujos textos foram eliminados para permitir
a reutilização da matriz.
Segundo David Harvey (2003: 69), geógrafo inglês e renomado pesquisador
do período atual, o “pós-modernismo cultiva (...) um conceito do tecido urbano como algo
necessariamente fragmentado, um ‘palimpsesto’ de formas passadas superpostas umas
às outras e uma ‘colagem’ de usos correntes, muitos dos quais podem ser efêmeros”.
As camadas antigas e suas rugosidades, sendo marcas impressas no espaço deixadas
por formações ocorridas em tempos anteriores, geram atrito conflituoso entre o novo
e o antigo (SANTOS, 2012).
Perceptíveis, as necessidades dos espaços antigos e dos espaços da atualidade são
distintas, essa diferença promove tensão, embates e mudanças. As mudanças, em geral,
tendem a modificar as camadas anteriores. Essas mudanças podem ser observadas tanto nos
processos sociais como também nos objetos materiais.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
186
Contudo, espera-se que nos espaços históricos transformados existam traços
que remetam ao passado, ainda que as dinâmicas dos espaços contemporâneos sejam
diferentes das que consolidaram as estruturas espaciais no passado.
Para isso, é necessário manter os traços antigos e não descartá-los, em um cenário
em que as pressões exercidas sobre as estruturas espaciais são originadas pela tensão entre
a mutação dos processos sociais, a lógica de acumulação do capital e seus reflexos no espaço
geográfico.
Essa tensão levanta uma questão vital: como planejar a construção da próxima
camada do palimpsesto de forma a satisfazer os anseios e as necessidades do futuro,
sem agredir, em medida razoável, as camadas anteriores?
Um evidente tratamento de descarte tem sido dado para grande parte das rugosidades
espaciais, especialmente as urbanas, aos espaços abandonados como fábricas antigas, velhos
galpões e sítios históricos entre outros. Além de inadequado e ineficiente, esse processo
apenas perpetua e faz elevar possíveis rupturas e tensões sociais, ademais, anuncia a perda
da memória social histórica.
Ainda que possamos constatar atualmente um aumento da visibilidade dos bens
culturais e naturais do mundo, ou seja, a valorização contemporânea do patrimônio, as ações
de refuncionalização desses espaços históricos e o denominado turismo cultural, quase sempre
distorcido e desenfreado, somente explicitam a dialética entre cultura e mercadoria.
Sobre esse fenômeno de mercantilização do patrimônio histórico, o arqueólogo Neil
Silberman8 aponta "o passado tem sido apresentado como um parque temático" (2004: 11).
Há no quadro atual uma evidente polarização de propósitos e intenções. Por um lado,
a opinião pública deseja preservação, intensificação e a reconstrução. Já as modernizações
do capital, atuam no sentido de negar o passado, reconstruir totalmente diferente a vida e os
espaços ou inseri-los na lógica de mercado através de ações exógenas à preservação genuína
do patrimônio. Como destacado por Luchiari, “na arena econômica [atual], a tradicional
subjetividade da cultura foi incorporada a uma racionalidade que busca legitimar identidades
hegemônicas” (LUCHIARI, 2005: 95).
Essas ações geram, não poucas vezes, danos aos grupos sociais e à busca por
igualdade. A compreensão histórica deve ser completa para resistir e não se tornar apenas um
8 Neil Silberman é referência mundial em estudos sobre patrimônio e memória. Professor da Universidade de Massachusetts (Amherst). Em 2012, por convite do LAP - Laboratório de Arqueologia Pública / IFCH –UNICAMP, ministrou cursos e palestras no Brasil.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
187
dado sem siginificado, como afirma o geógrafo e historiador David Lowenthal, "Quanto mais
realista parece a reconstrução do passado mais ela é parte do presente" (1994: 302).
Neste sentido, o aprofundamento das discussões acerca do patrimônio cultural torna-
se essencial diante da necessidade de interpretação das transformações sócio-espaciais
provenientes da ligação entre patrimônio, políticas públicas e mercado.
Geralmente associadas ao planejamento de estratégias e gestão territorial do
patrimônio em múltiplas escalas, as análises geográficas ligadas ao patrimônio possibilitam
também a compreensão dos aspectos funcionais, formais e normativos desses bens.
Sendo, sobretudo, abrangentes instrumentos de análise para o entendimento da importância
dos novos significados políticos, econômicos, sociais e culturais imputados ao patrimônio
cultural, não somente em nível macro, mas principalmente no nível das sociedades locais.
Entende-se, enfim, que além do olhar para o patrimônio cultural, que une Geografia
e Arqueologia, outras pontes de diálogo estão sendo construídas, possibilitando que essas
ciências tenham uma fecunda interdisciplinaridade, pois ambas tem um papel vital
na construção do futuro.
Referências bibliográficas BENJAMIN, Walter. [1994]. Obras Escolhidas, Tradução: Sérgio Paulo Rouanet, 7. ed. São Paulo, Editora Brasiliense, 1994. CARVALHO, Aline Vieira de; FUNARI, Pedro Paulo. “Memória e Patrimônio: diversidade e identidades”. Revista Memória em Rede, Pelotas, v. 2, n. 2, 7-16, 2010. FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Arqueologia. 2. ed. São Paulo, Editora Contexto, 2006. HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma perspectiva sobre as origens da mudança cultural. 11. ed. São Paulo, Loyola, 2003. LEFF, E. Aventuras da epistemologia ambiental - da articulação das ciências ao diálogo de saberes. Rio de Janeiro, Garamond, 2004. LOWENTHAL, David. Conclusion: “Archaeologists and Others”. In: The Politics of the Past, edited by P. Gathercode and D. Lowenthal, London, Routhledge, 1994. LUCHIARI, Maria Tereza Duarte Paes. “A reinvenção do patrimônio arquitetônico no consumo das cidades”. GEOUSP - Revista Espaço e Tempo, São Paulo, n.17, p.95-105, 2005. MOREIRA, Ruy. Sociedade e Espaço Geográfico no Brasil. Constituição e problemas de relação. São Paulo, Editora Contexto, 2011.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
188
PELLINI, J.R. “Uma Fisiologia da Paisagem: Locomoção, GIS e Sites Catchment.Uma Nova Perspectiva”. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 17: 23-37, 2007. RIVERS, R.; KNAPPETT, C.; EVANS, T. “Network Models and Archaeological Spaces” in: Computational Approaches to Archaeological Spaces, A.Bevan & Lake, M. (Eds.), Left Coast Press, 2011. SANTOS, Milton. [1971]. O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo. Tradução de: Sandra Lencioni. 5. Ed. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2009. ______ [1985]. Espaço e Método. 5ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,1997. ______ [1977]. Espaço e Sociedade. 2. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1982. ______ [1995]. “A questão do meio ambiente: desafios para a construção de uma perspectiva transdisciplinar”. Anales de Geografía de La Universidad Complutense, n.” 15, 695-705. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid, 1995. ______ [1996]. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 4. Ed 7ª reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. SARTRE, Jean-Paul. Questão de método. 3. ed. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1972. SILBERMAN, Neil. Beyond theme park and digitized data: What can Cultural Heritage technologies contribute to the public understanding of the past, in: CAIN et al. 2004, 9-12. _______ “Sustainable Heritage? Public Archaeological Interpretation and the Marketed Past” in: Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics. Ed. Yannis Hamilakis and Philip Duke. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2007. 179-193. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Disponível em: <www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future/>. Acesso em março de 2013.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
189
Resenha: ANTÚNEZ, Carlos Arredondo; HERNÁNDEZ, Odlanyer de Lara; RODRÍGUEZ, Bóris Tápanes. Esclavos y cimarrones en Cuba: arqueologia histórica en la
Cueva El Grillete. Buenos Aires: Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González – Centro de Investigaciones Precolombinas, 2012. 180p.
Victor Gomes Monteiro1
O livro “Esclavos y cimarrones en Cuba: arqueologia histórica en La Cueva El
Grillete” foi produzido em conjunto por três autores com distintas áreas de especialidades,
todas convergindo para a Arqueologia. Bóris Tápanes e Odlanyer Lara são arqueólogos com
certa experiência em escavações em Cuba. Carlos Antunes contribuiu com seu conhecimento
em ciências biológicas, zooarqueologia e antropologia física. O livro é uma ótima referência
para análise da cultura material de contextos quilombolas ou cimarrones, tanto por apresentar
possibilidades metodológicas de análise dos materiais, quanto por traçar um panorama geral
do movimento cimarronero, pelo menos no que se refere à Província de Matanzas (região
ocidental de Cuba). Ao aprofundar os estudos na “Cueva El Grillete” e traçar paralelos com
outros sítios de cimarrones já estudados, os autores conseguem demonstrar com maior
riqueza de detalhes o cotidiano desses indivíduos e salientar o quanto ainda falta ser estudado
em termos de Cuba a esse respeito, mesmo com a consciência de que o potencial para este
tipo de estudo seja enorme.
O objetivo principal do texto não era propriamente revisar a historiografia a partir do
elemento da cultura material, mas sim entender a partir de uma micro-escala, o que é o sítio
“Cueva El Grillete” e as dinâmicas de sobrevivência dos escravos cimarrones. Para tal o
acesso a cultura material, munida de uma perspectiva da Arqueologia da Paisagem, que
procura entender não somente os sítios arqueológicos isolados de seus meios, mas sim
entender as paisagens arqueológicas presentes no espaço geográfico, ou seja, os processos e
formas culturais do espaço (Boado, 1999), são de fundamental importância. O alicerce
informacional do refugio cimarrón “Cueva El Grillete” é somente a documentação
arqueológica (cultura material) e os elementos relacionados à paisagem, muito pouco se tem
de documentação escrita acerca do local.
Através da organização estrutural dos capítulos é possível perceber que os autores
compartilham de uma visão um tanto quanto cartesiana de divisão entre “dados históricos” e
“dados arqueológicos”, ou de isolamento de elementos que deveriam estar em constante
1 Bacharel em História pela UFPel (2012). Pesquisador Associado do LÂMINA.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
190
diálogo, que é o contexto histórico (proveniente de documentos escritos) em consonância com
o contexto arqueológico (criado por todos elementos da cultura material). Essa divisão fica
bem nítida com a escolha de deixar o segundo capítulo destinado a descrição e apresentação
dos “dados históricos” e os seguintes capítulos (3º; 4º 5º) para os “dados arqueológicos”, sem
tratar as fontes ditas históricas como potencialmente elucidativas da vida material dos
cimarrones, ou seja, sem considerar esta documentação escrita como sendo portadora de
materialidade e vetor da cultura material, tanto em seu conteúdo escrito, onde pululam
referências a respeito das “materialidades do passado”, como na sua própria materialidade de
documento constituído de suporte físico específico.
Na introdução os autores fazem uma análise da gênese até a atualidade da pesquisa
em arqueológica histórica em Cuba, observando que até os anos 1960 as pesquisas se
focavam muito nos estudos das elites nas sociedades coloniais. Os estudos em arqueologia da
escravidão e dos cimarrones em Cuba, só vão se reverter em estudos sistematizados e de
maior profundidade a partir dos anos 1990, principalmente pelas investigações realizados por
Gabino La Rosa (1989; 1991). O grosso das publicações arqueológicas de escravidão e
cimarrones se deram nas alturas de Habana-Matanzas. Nas regiões de Limonar, Coliseo e
San Antonio de los Baños, não se tem proliferado estudos, mesmo com o potencial dessas
regiões. Por outro lado a densidade e o contexto das plantações de café e açúcar de Habana-
Matanzas tem sido, do ponto de vista arqueológico, bem estudadas.
O segundo capítulo “Algunos datos históricos”, é divido em duas partes. Num
primeiro momento são apresentadas as informações de cunho contextual e histórico da região
de Matanzas, desde a formação da indústria açucareira e da introdução da mão de obra
escrava, ao processo de cimarronaje. Através de uma série de dados oficiais colhidos junto
aos Arquivos da Província de Matanzas e outros locais, os autores traçam um cenário da
rebeldia escrava na região com os focos de fugas e conseqüentemente de caça aos cimarrones.
Num segundo momento os autores discorrem a respeito das autoridades locais e dos
indivíduos responsáveis pela manutenção e execução do sistema repressivo e coercitivo do
sistema escravista cubano: os rancheadores. A documentação produzida pelos rancheadores
em suas “batidas de caça” são uma das mais ricas fontes de informação da dinâmica e
estratégias de sobrevivência dos cimarrones, como também do poder repressivo que buscava
o extermínio desse fenômeno social. Através de seus “relatórios”, eles descreviam de certa
maneira o cotidiano dos cimarrones, ao elencar as características de seus refúgios, a cultura
material presente nessas habitações e informações sobre os escravos capturados ou executados.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
191
Esse registro das atividades dos rancheadores era além de uma obrigação burocrática, uma
estratégia para melhor entender a dinâmica dos cimarrones.
Um ponto que merece destaque nesse capítulo, pelo menos para quem trabalha com
resistência escrava, rebeliões e quilombolas no Brasil, é o registro da preocupação dos
senhores e administradores locais da região de Guamacaro, de uma possível conspiração
escrava que acabou não tomando proporções maiores em 1830. Saliento essa parte, por
perceber que as notícias de conspirações escravas (em grande escala), mesmo na maioria das
vezes não passando de boatos ou não chegando a se concretizar, são processos que permeiam
tanto Cuba quanto o Brasil, como no exemplo da suspeita de uma conspiração escrava na
província do Rio Grande de São Pedro nas primeiras décadas do séc. XIX (Maestri, 1984,
p.145-146) ou do temor das autoridades da cidade de Pelotas para a possibilidade de uma
revolta em massa dos cativos locais, incentivado por elementos estrangeiros (Monteiro, 2012).
Os autores mantêm uma divisão, proveniente do trabalho de Gabino La Rosa Corzo
(1989; 1991), entre cimarronaje simple, que seria o primeiro nível de resistência, e as
quadrilhas de cimarrones, que consistiam de grupos armados, que se deslocavam de um local
a outro sem praticar agricultura, vivendo de caça, pesca, e roubos, estes fariam parte da
resistência ativa. Essa divisão entre resistência ativa e passiva é pouco produtiva e não leva
em consideração as resistências cotidianas e simbólicas, que não se encontram
necessariamente no campo da resistência física direta.
No terceiro capítulo “Trabajos arqueológicos en Matanzas” os autores elencam uma
série de trabalhos arqueológicos desenvolvidos na região de Matanzas (Cafetal La Dionisia;
Cueva El Garrafón o Mural; Cueva Los Cristales; etc.). Salientam que são poucos os
trabalhos executados com relação a potencialidade de pesquisa na região. As pesquisas
relacionadas à escravidão não são propriamente relacionados ao cimarron, proporcionando na
maioria das vezes um panorama contextual e sócio-político em que estavam inseridos os
escravos. Os autores salientam que seguem para este trabalho o espaço natural de Matanzas
em que se moveram os cimarrones, e não exatamente uma representação objetiva dos limites
territoriais da província.
No quarto capítulo “La Cueva El Grillete” os autores entram no objeto específico das
suas pesquisas que é o sítio “El Grillete” em Matanzas. Os dados arqueológicos retirados da
“Cueva El Grillete” são analisados nas primeiras páginas do capítulo, relegando-se o final ao
desenvolvimento e aplicação do conceito de paisagem.
Nessa parte do livro os autores descrevem de forma mais detida os aspectos
metodológicos e contextuais da cultura material que dá base para produção deste trabalho.
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
192
Nesta primeira sessão do capítulo são descritos os dados quantitativos e de análise tipológica
dos materiais, com destaque aos objetos de maior relevância para o entendimento da vida dos
cimarrones que viveram naquele local. Ao final do capítulo os autores apresentam alguns
aspectos do que entendem por paisagem e desenvolvem esse conceito baseando-se no sítio
“Cueva El Grillete”. O estudo da Arqueologia da Paisagem é um aspecto até então não
sistematicamente estudado em Cuba e de grande potencial para o estudo dos escravos
cimarrones. Pela perspectiva que os autores seguem a paisagem não é mais estática, da ordem
física e ambiental, mas sim é vista como construção social, imaginária, enraizada a cultura.
Por esse motivo se propõe como objetivo deste trabalho entender paisagens arqueológicas, ou
seja, os processos e formas de culturalização do espaço. Inspirados em Criado Boado (1999),
entendem a paisagem como um produto social, com três dimensões espaciais intrínsecas e
relacionais: o espaço como meio físico ou ambiental da ação humana; o espaço enquanto
meio construído pelo ser humano, onde se produzem as relações entre indivíduos e grupos; e
o espaço enquanto meio pensado e simbólico que oferece a base para desenvolver e
compreender a apropriação humana da natureza.
Seguindo essa linha de pensamento, os autores desenham cada um dos espaços com
relação ao sítio estudado. O espaço natural diria respeito às elevações onde se encontra a
“Cueva El Grillete” e que constituem a Sierra de Guamacaro. O espaço como meio
construído poderia ser percebido, através da geografia das elevações da Sierra de
Guanamacaro, que permitem inferir de certa maneira as possíveis vias de transito e a
mobilidade dos cimarrones nessa zona. Por último os autores destacam o espaço como meio
simbólico, que se demonstraria na cultura material através de elementos que poderiam
conformar aspectos de religiões afro-cubanas. Certo para os pesquisadores é que a construção
do mundo cimarrón não se limitou apenas a cultura material, mas também ao uso dos meios
naturais, especialmente dos sistemas montanhosos e das covas que formataram parte
imprescindível de suas vidas.
O quinto e último capítulo “Zooarqueología de la cueva el grillete” apresenta
especificamente a pesquisa da fauna presente no sítio, com análise bastante detalhada de cada
especificidade dos materiais ósseos e conseqüentemente da dieta alimentar dos cimarrones
que em algum momento habitaram aquele local. Em resumo é possível depreender a partir da
análise zooarqueológica dos materiais do sítio, que os cimarrones obtinham sua sobrevivência
muito em função do aproveitamento das diversas espécies introduzidas pelos europeus a fauna
nativa e da utilização dos recursos naturais. O registro não intencional ou as informações
Revista de Arqueologia Pública, n.8, Dezembro 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP.
193
deixadas por esses indivíduos no tempo se dá na forma dessa dieta rica em carne animal
(proteína), e nos utensílios de uso cotidiano que permanecem no registro arqueológico.
No sexto capítulo estão os apontamentos finais. Os autores ressaltam o valor dos
estudos em arqueologia para dar luz a esse fenômeno social do séc. XIX que foram os
cimarrones. As características geográficas e ambientais do sítio estudado “Cueva El Grillete”
permitiram a conservação e preservação natural desses materiais tanto da ação do clima
tropical como da ação antrópica. Artefatos como armas, vasilhas de cerâmica, recipientes e
contas de vidro, cachimbos, três fogões e abundantes restos ósseos de animais, conformaram
o espaço de habitação temporal dos cimarrones que ali estiveram. O auge do fenômeno da
cimarronaje na área teria sido os anos de 1820 a 1840, no entanto as evidências arqueológicas
apresentadas neste livro inclinam os autores a pensar em outro momento de habitação que se
estabeleceria entre 1840 e 1886, próximo a abolição da escravatura em Cuba.
Referências bibliográficas BOADO, Felipe Criado. Del terreno al espacio: planteamentos y perspectivas para La Arqueología del Paisaje. Capa 6. Grupo de Investigación em Arqueología del Paisaje, Universidad de Santiago de Compostela, 1999. CORZO, Gabino La Rosa. Armas y tácticas defensivas de los cimarrones em Cuba. Reporte de Investigación del Instituto de Ciencias Históricas. Nº 2. Academia de Ciencias de Cuba. La Habana. 1989. _______. Los Palenques em El Oriente de Cuba. Resistencia y Ocazo. Editorial Academia. La Habana. 1991. MAESTRI, Mário. A charqueada e a gênese do escravismo gaúcho. Porto Alegre: EST, 1984. MONTEIRO, Victor Gomes. Um inventário do medo: a Pelotas escravista e a representação do medo através das Atas da Câmara Municipal de Pelotas (1832-1850). 2012. Trabalho Acadêmico – Curso de História. Instituto de Ciências Humanas. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2012.
número 8 | 2013
EDITORES Aline Carvalho (LAP/NEPAM/UNICAMP) Pedro Paulo A. Funari (LAP/NEPAM/UNICAMP) COMISSÃO EDITORIAL Ana Piñon (Universidad Complutense de Madrid, Espanha) Andrés Zarankin (UFMG) Charles Orser (Illinois State University, EUA) Erika Robrahn-González (Documento Patrimônio Cultural, Arqueologia e Antropologia Ltda) Gilson Rambelli (LAAA / NAR / UFS) Lourdes Dominguez (Oficina del Historiador, Havana, Cuba) Lúcio Menezes Ferreira (UFPel) Nanci Vieira Oliveira (UERJ) CONSELHO EDITORIAL Bernd Fahmel Bayer (Universidad Nacional Autónoma de México, México) Gilson Martins (UFMS) José Luiz de Morais (MAE/USP) Laurent Olivier (Université de Paris, França) Martin Hall (Cape Town University, South Africa) Sian Jones (University of Manchester, Inglaterra) COMISSÃO TÉCNICA Derivaldo Reis de Sousa Franciely da Luz Oliveira Marcos Rogério Pereira ESTÁGIO – REVISÃO TEXTUAL Camila Secolin PROJETO GRÁFICO João Batista Ruela Luiza de Carvalho DIAGRAMAÇÃO João Batista Ruela ISSN 2237-8294