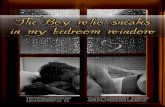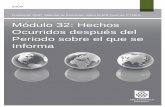Representações Racializadas de Negros nos Museus: o que se diz e o que se ensina
Transcript of Representações Racializadas de Negros nos Museus: o que se diz e o que se ensina
Representações Racializadas de Negros nos Museus: o que se diz e o
que se ensina
LISANDRA MARIA RODRIGUES MACHADO1
MARIA ANGÉLICA ZUBARAN2
No presente estudo, propomos uma breve análise cultural da exposição da sala
denominada Período Escravista, que integra a exposição de longa duração do Museu
Julio de Castilhos, inaugurada no ano de 2003. Nosso objetivo é mapear as estratégias
de representação mais recorrentes sobre o negro nessa exposição e o potencial
pedagógico dessas representações. Quais os significados que estão sendo privilegiados e
quais os silenciados sobre o negro nessa exposição? O que se ensina sobre o negro, a
partir dos discursos e representações em exposição na sala Período Escravista? Essas
são questões centrais que queremos contemplar nessa análise.
Para se ter uma perspectiva mais crítica sobre os museus é preciso, como
afirmou com propriedade o museólogo Mário Chagas (2006), aceitar a obviedade de
que os museus são lugares de memória e de esquecimento, assim como são lugares de
poder e de silêncios. Nesta direção, consideramos fundamental lembrar que "os museus
não são inocentes", que não somente dizem coisas sobre o passado, mas que naturalizam
formas de ver o mundo, que legitimam, hierarquizam e ordenam culturas e identidades.
Neste sentido, pode-se dizer que o museu é um espaço político de disputas de
representação, começando pelas representações atribuídas aos objetos pelos próprios
técnicos desses espaços culturais, pelos participantes ou não das comunidades onde se
encontram inseridos, pelos patrocinadores das exposições e ainda pelos demais públicos
que visitam essas instituições. Assim, os museus tanto podem atuar hierarquizando
culturas e identidades, quanto contribuindo para colocar em circulação representações
alternativas sobre diferentes grupos sociais, étnico-raciais e culturais, sobre suas
memórias, histórias e culturas. O próprio conceito de museu tem passado por profundas
mudanças, de acordo com os diferentes contextos históricos e sócio-políticos. Neste
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da Universidade Luterana do
Brasil. E-mail: [email protected]
2 Ph.D. em História, State University of New York. Professora do Curso de História e do Mestrado em
Educação da ULBRA, Porto Alegre/RS, Brasil. Diretora do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. E-
mail: [email protected]
sentido, discutiremos brevemente alguns marcadores das mudanças mais relevantes na
trajetória dos museus. Também examinaremos os principais estudos que tratam das
representações do negro em museus brasileiros, com destaque para os argumentos que
contribuem para a análise aqui empreendida.
Esse estudo desenvolve-se a partir dos pressupostos teóricos dos Estudos
Culturais, na perspectiva de que as representações culturais contidas na linguagem não
apenas "falam sobre", mas constituem as coisas sobre as quais falam. De acordo com a
abordagem construcionista do sociólogo Stuart Hall (2000), as coisas não possuem um
significado intrínseco, essencial, mas construímos o significado delas utilizando-nos de
sistemas de representação e classificação. Para Hall, a importância das palavras,
expressões, convenções, vêm dos significados que elas produzem e fazem circular na
cultura. Trata-se, portanto, de investigar o poder instituidor das representações sobre o
negro nos museus e seus possíveis ensinamentos.
Um breve olhar sobre o conceito de museu
A criação dos primeiros museus públicos e também das primeiras políticas de
proteção ao patrimônio está vinculada à apreensão de bens do clero e da nobreza
durante a Revolução Francesa e à sua transferência para a nação no final do século
XVIII. Letícia Julião (2006) destaca que neste contexto, importantes museus foram
criados na Europa para formar o cidadão através do conhecimento do passado e conferir
um sentido de nação através da legitimação simbólica dos Estados Nacionais
emergentes. Os museus passaram a exercer importante papel na construção de
identidades nacionais, elegendo e legitimando a cultura e a história de determinados
grupos e excluindo e sub-representando outros. Esse modelo de museu celebratório das
identidades nacionais e de seus patrimônios materiais proliferou em várias partes do
mundo.
No Brasil, a criação do Museu Real (atual Museu Nacional) em 1818,
reproduziu o modelo europeu e desempenhou o papel de comemorar a nação emergente
durante o processo de Independência no início do século XIX. Mário Chagas (2006)
menciona o empenho dos intelectuais brasileiros na construção ritual e simbólica de
museus que fixassem uma memória nacional e regional. Durante o século XX, esses
museus tradicionais mantiveram-se como espaços destinados a reverenciar uma
determinada memória e uma determinada história que sacralizava grandes indivíduos e
seus patrimônios materiais.
Regina Abreu (2005) ao pensar a construção da alteridade nos museus, coloca
que até os anos 60, nos museus etnográficos, internacionais e nacionais, a tônica era o
colecionismo e o estudo de grupos exóticos radicalmente diferentes dos ocidentais.
Nesta fase, os museus etnográficos brasileiros, enaltecendo a fábula das três raças
formadoras da identidade nacional, coletaram e exibiram objetos dos grupos afro-
brasileiros (ABREU, 2005, p. 110). Lília Moritz Schwarcz, ao analisar a questão racial
nos museus etnográficos nacionais, no final do século XIX, apontou que, herdeiros de
uma forma específica de classificação, eles “delimitaram o atraso ou reafirmaram a
inferioridade da miscigenação e das raças formadoras da nação, com base em uma
pirâmide humana concebida em moldes evolucionistas” (SCHWARCZ, 1993, p. 94).
Nesses museus índios e negros foram classificados como inferiores aos europeus e
representados como exóticos.
Já os museus consagrados à chamada cultura popular, oriundos de movimentos
de folcloristas, entre eles, o Museu de Folclore Edison Carneiro, “configuraram esforços
no sentido da objetificação de alteridades próximas, relativas aos grupos socioculturais
diversos no contexto brasileiro” (ABREU, 2005, p. 111). De acordo com Abreu, estes
museus direcionaram sua ação para a construção da alteridade próxima, sem visar à
auto-representação dos grupos envolvidos. Para a autora: “O Museu era, sobretudo, um
lugar onde antropólogos, museólogos e demais profissionais teciam representações
sobre o outro” (ABREU, 2005, p. 111). Ela argumenta que foi com a criação do Museu
do Índio, idealizado e fundado por Darcy Ribeiro nos anos 70, que se abriu um caminho
para a os Museus representarem identidades específicas, alterando a relação do museu
com a construção da alteridade.
De outro lado, não podemos deixar de considerar que foi no contexto da década
de 1970, com o movimento da chamada Nova Museologia, que se configurou uma
renovação museal, em que os museus foram paulatinamente deixando de lado as
grandes sínteses nacionais e regionais e passaram a construir narrativas que
contemplassem à diversidade de outras culturas. Na contemporaneidade, os museus
buscam superar a ideia de narrar uma memória única e apostam na pluralidade de
memórias e identidades.
Também a emergência dos chamados novos movimentos sociais no cenário
político brasileiro do final da década de 1970 e suas políticas de identidade, levaram
diferentes grupos sociais, étnicos e culturais a reivindicarem o direito as suas memórias
e a buscarem institucionalizá-las no espaço público. Esse é o contexto do surgimento
dos chamados museus étnicos, tais como: o Museu Kuahí dos Povos Indígenas do
Oiapoque, em Macapá (AP), Museu Indígena, em Coroa Vermelha (BA), Museu
Magüta dos Índios Ticuna em Benjamin Constant (AM), Museu Afro-Brasileiro-
MAFRO em Salvador (BA), Museu Afro-Brasil, em São Paulo (SP), Museu Afro-
Brasileiro (SE), Museu do Negro (RJ), Museu 13 de Maio em Santa Maria (RS) e
Museu do Percurso do Negro, em Porto Alegre (RS). Esses museus sinalizam um
importante deslocamento na forma dos museus construírem a história e a cultura dos
povos indígenas e dos afrodescendentes, uma vez que indígenas e negros deixam de ser
representados pelo Outro e passam a ser os produtores de suas próprias representações.
Representações Racializadas em Museus Brasileiros
O tema das representações sobre o negro nos museus brasileiros tem sido objeto
de estudo de historiadores, antropólogos e museólogos. Entre os historiadores,
destacam-se os trabalhos de Myriam Sepúlveda dos Santos (2004), (2005) e Marcelo
Nascimento Bernardo da Cunha (2008). No segundo grupo, destacam-se os trabalhos do
antropólogo e museólogo Raul Lody (2005) e da antropóloga Ana Cristina Mandarino
(2010). Esses estudos têm como foco analítico as articulações entre as memórias, a
história e a cultura dos afro-brasileiros e as instituições museológicas brasileiras.
De início, pode-se observar que a maior parte dos estudos que articulam a
temática étnico-racial às instituições museológicas no Brasil foi produzida
recentemente, o que marca a emergência desse campo de estudos nessa última década,
entre os anos de 2004 e 2010. Porém, como destaca a antropóloga Ana Cristina
Mandarino (2010), ainda são escassos os trabalhos sobre a inserção do negro em
instituições de preservação da memória cultural. Em seu artigo dedicado à imagem dos
negros nos museus, a autora problematiza o espaço frequentemente destinado aos
negros nas coleções museais, bem como o papel educativo dos museus e aponta
algumas recorrências no que se refere à história e à produção material dos negros nos
espaços museológicos, dentre as quais destaca: a visão homogeneizada do continente
africano, a limitação ao caráter religioso das produções negras e a ênfase no exotismo
fetichista.
Já a historiadora Myrian Sepúlveda dos Santos (2004) (2005) afirma que a
memória não pode ser reduzida a um patrimônio comum a todos, entendimento que
impulsionou diferentes grupos a buscarem a construção de suas próprias memórias e
representações nos museus. Nesse sentido, Santos indica que em todo o mundo
emergiram movimentos em defesa das identidades de minorias e grupos sociais que
foram excluídos ou tratados de forma subordinada no processo civilizador ocidental. De
acordo com a autora, temos em vigor atualmente no Brasil uma política cultural que
fortalece a pluralidade de expressões culturais e regionais em substituição a uma política
que pretendia consolidar uma identidade única e homogênea. Nos trabalhos que produz
sobre o tema, a historiadora volta seu olhar para alguns museus de inspiração afro-
brasileira e também para os chamados museus tradicionais do país, a fim de identificar
quais significados são lembrados e quais são esquecidos sobre a população negra a
partir das estratégias representacionais em operação nas exposições dessas instituições.
Santos identifica três principais estratégias de representação do negro em instituições
museológicas dedicadas à memória e à cultura dos afro-brasileiros: “a ênfase em obras
de artes de artistas negros, o resgate da importância de objetos de origem africana e a
desvalorização de objetos e imagens do tempo da escravidão” (SANTOS, 2004, p. 4).
No que se refere aos museus tradicionais, a autora apresenta duas principais estratégias
de representação sobre o negro: “o silêncio quase absoluto sobre a participação positiva
do negro na constituição da nação e a lembrança do período em que ele foi amarrado ao
tronco, espancado, dominado e humilhado pelo homem branco (SANTOS, 2004, p. 4).
Santos reafirma a necessidade de se problematizar as representações e ensinamentos que
são postos em circulação sobre o negro em museus uma vez que, tanto em museus
tradicionais, quanto naqueles adeptos às novas propostas representacionais, estão
presentes narrativas de memórias e identidades que exaltam certos grupos e que
silenciam outros.
Nessa direção, também Marcelo Bernardo Nascimento da Cunha (2008)
argumenta que as exposições museais produzem modos de rememoração e, ao mesmo
tempo, formas de esquecimento. O autor afirma que nas instituições museais “o enfoque
em determinados traços, elementos ou sinais projetam sombras e zonas fora de foco, ou
seja, (...) a todo o momento são realizadas escolhas e opções em torno do que será
protegido, ressaltado e patrimonializado” (CUNHA, 2008, p. 8). Cunha toma os museus
como espaços privilegiados de lutas de representações e de jogos de poder. No que
concerne às manifestações culturais de origem africana, o autor aponta a representação
exótica como a mais recorrente nos museus, juntamente com a abordagem turística,
folclórica, e não raro mercantilizada, e identifica um „elenco básico de discursos‟ sobre
o negro: o trabalho negro como escravo e os castigos, suplícios e torturas; a religião e o
destaque ao sincretismo religioso; e à homogeneização das diferentes manifestações
culturais afro-brasileiras, comumente apresentadas a partir de um viés folclórico. Assim,
para além da simples presença de elementos relativos aos negros nos museus, é
importante refletirmos, em que medida esses elementos possibilitam mudanças nos
repertórios representacionais mais recorrentes e em que medida contribuem para o
reconhecimento e a valorização da História e da Cultura dos afro-brasileiros.
O antropólogo e museólogo Raul Lody (2005), traça um panorama da cultura
material e imaterial africana e afro-brasileira nos museus e observa que muitos dos
objetos que integram as coleções museais resultam de apreensões policiais de repressão
às práticas culturais africanas e afrodescendentes, situações que eram recorrentes no
país desde o final do período escravista. O autor analisa objetos da cultura negra
presentes no Museu Afro-Brasileiro de Laranjeiras, em Sergipe, no Museu do Ilê Axé
Opô Afonjá, na Bahia, Museu do Estado de Pernambuco, Museu do Homem do
Nordeste, em Pernambuco, Museu Paraense Emílio Goeldi, Museu Théo Brandão, em
Alagoas, Museu Arthur Ramos, no Ceará, Museu Câmara Cascudo, no Rio Grande do
Norte, Museu do Folclore Edison Carneiro, no Rio de Janeiro, Museu Carlos Costa
Pinto, na Bahia, Museu Nacional e Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Também
são analisados Institutos e Casas de Cultura que abrigam coleções de inspiração africana
ou afro-brasileira, além de espaços de memória não convencionais. O autor considera
que o conceito de museu se amplia para além dos museus convencionais e identifica
valor e expressão museológica nos espaços das comidas de rua, na Feira do Mercado de
São Joaquim, em Salvador, na natureza ritualizada, na referência à religiosidade de
inspiração africana da “presença” do Bará no Mercado Público de Porto Alegre, RS. O
estudo de Lody destaca, sobretudo, as referências culturais negras ligadas às religiões de
matriz africana e afro-brasileira.
A importância da análise dos significados que são postos em circulação sobre o
negro nas instituições museais é recorrente em todos esses trabalhos, assim como, a
noção de que as práticas museológicas estão relacionadas às dinâmicas sociais e
históricas vigentes. Nesse sentido, convém considerarmos alguns aspectos da
historicidade do Museu Julio de Castilhos e das suas práticas expositivas para
examinarmos a construção das representações e ensinamentos sobre o negro.
O Museu Julio de Castilhos (MJC) está instalado em um prédio de fachada
imponente, na Rua Duque de Caxias, número 1231, no centro da cidade de Porto
Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O prédio foi moradia de Julio de Castilhos, ex-
presidente da província do Rio Grande do Sul e líder do Partido Republicano
Riograndense. Em 1903, ano da morte de Julio de Castilhos, o presidente da província
Borges de Medeiros, através do decreto-lei nº 589, criou o Museu do Estado, com
acervo originado, em grande parte, da Exposição Agropecuária realizada nos pavilhões
do Parque da Redenção dois anos antes. Em 1905, a antiga residência de Julio de
Castilhos foi adquirida pelo Governo Estadual, para ser sede do então Museu do Estado,
que passou a chamar-se Museu Julio de Castilhos, através do decreto nº 1140 de 1907,
em homenagem ao líder político.
Dentre os muitos trabalhos produzidos sobre o Museu Julio de Castilhos,
destacamos alguns estudos que nos ajudam a compreender a sua trajetória histórica:
Letícia Borges Nedel (1999), Marlise M. Giovanaz e Luís Armando Peretti (2003) e
Andréa Reis da Silveira (2011). A dissertação de mestrado da historiadora Letícia
Borges Nedel (1999), salienta a relação entre o MJC e a construção de uma memória
regional e oficial do estado. A autora argumenta que a partir do discurso regionalista
dos anos 50, a instituição alterou sua atuação e adotou uma tipologia histórica:
Neste contexto, o Museu privilegiou a identificação das 'origens' históricas do
'caráter regional' e, em sua ação como agente cultural, objetivou a construção
de uma herança folclórica definida como patrimônio da nacionalidade e
mecanismo de preservação da identidade gaúcha, através da transmissão de um
passado comum (NEDEL, 1999, p. 08).
Já Marlise Giovanaz (2003) e Luis Armando Peretti destacam o MJC como um
espaço constituidor da memória regional gaúcha durante seu primeiro cinqüentenário,
entre os anos de 1903 e 1954, e seu papel na salvaguarda e produção de uma memória
regional. Em trabalho recente elaborado sobre o MJC, Andréa Reis da Silveira (2011)
analisa os discursos, representações e práticas museológicas que tiveram lugar no
Museu entre os anos de 1960 e 1980. A autora argumenta que as narrativas construídas
no MJC estão articuladas aos perfis de seus diretores e às orientações políticas
predominantes nos contextos históricos locais e nacionais do período analisado. A
autora aponta que:
As representações das memórias sociais conduzidas nos objetos incorporados e
apresentados expositivamente no Museu Julio de Castilhos, estavam marcadas
pela forma centralizadora, autoritária e excludente legitimada na sociedade
local e brasileira (SILVEIRA, 2011, p. 56).
Assim, de acordo com a autora, as representações identitárias em pauta no MJC
neste período tiveram como foco os membros de um mesmo grupo social,
representativo das elites do estado e excluíram as memórias de grupos minoritários,
dentre os quais os negros, com a exceção da exposição de objetos vinculados à
escravidão.
Representações Racializadas do Negro na Sala Período Escravistai
A arquiteta Ceres Storchi (2002) ao estudar as exposições museais aponta que
elas envolvem a construção de narrativas artísticas, históricas, sociopolíticas,
antropológicas e científicas. Nesse sentido, os dados sobre a equipe que planejou,
executou e patrocinou a exposição de longa duração do Museu Julio de Castilhos
inaugurada em 2003 são fundamentais para o entendimento das narrativas construídas
nessa exposição. Recentemente, técnicos do MJC informaram-nos que as interlocuções
sobre a exposição de 2003, que até hoje ocupa a sala Período Escravista, tiveram início
ainda na década de 1990. Entretanto, infelizmente, a ficha técnica da exposição não foi
localizada. Esta exposição está composta pelas salas Julio de Castilhos, Período
Escravista, Revolução Farroupilha, Missioneira e Indígena, que juntas constroem uma
síntese unificada da História oficial do Rio Grande do Sul.
A sala denominada Período Escravista está localizada em um espaço de
circulação entre outras duas salas e dá acesso ao pátio do museu. Nesta sala, uma
expografia anterior, exibia somente objetos de tortura da época da escravidão, os
mesmos que se mantêm, ainda hoje, em exposição, porém agora fazendo parte da
expografia inaugurada em 2003. O título selecionado para essa sala remete ao estigma da
escravidão frequentemente utilizado para marcar as experiências dos negros nesse período
da História do Brasil que integra o já referido “elenco básico de discursos referente à
memória afro-brasileira” apontado por Marcelo Cunha. Neste sentido, vale refletirmos
sobre quais os significados que estão sendo construídos e privilegiados através das
representações mais recorrentes que são postas em circulação nessa exposição.
Na perspectiva de Stuart Hall (1997), as representações racializadas do negro
são construídas com base em estereótipos étnico-raciais do negro que atuam a partir de
uma ótica binária e que fixam como 'naturais' características culturalmente construídas
sobre esses sujeitos. A naturalização dessas representações estereotipadas que circulam
sobre o negro na cultura dificulta o questionamento e a problematização do status de
inferioridade atribuído à cultura e às identidades negras e contribui para o
fortalecimento de identidades hegemônicas.
A seguir analisaremos a exposição Período Escravista, que está organizada em
três nichos expositivos, sendo que um deles apresenta duas faces. Esses nichos são
compostos por imagens, textos escritos e objetos. Cada um dos nichos exibe em sua
base uma palavra que referencia a temática ali abordada, a saber: Liberdade,
Escravatura, Objetos e Abolição.
Na direção apontada por Stuart Hall, destacamos algumas estratégias de
representação racializadas do negro em operação na exposição Período Escravista. Uma
das estratégias de representação racializada do negro na exposição é apresentá-lo como
um Outro genérico, homogêneo, sempre escravo, representado através do olhar do
branco, tanto na iconografia dos viajantes europeus, especificamente, Jean Baptiste
Debret e Johann Moritz Rugendas, como no anúncio do escravo fugido publicado na
imprensa local. É importante mencionar que o texto que se refere à imagem do anúncio
de fuga do escravo, produz um deslocamento da representação do negro, de vítima
passiva da violência escravista, para a representação de protagonista, que resiste e reage
ao sistema escravista. No entanto, se mantém uma visão dicotômica que limita o
comportamento do escravo, à acomodação ou à resistência, sem considerar as várias
formas de negociação construídas pelos negros, escravos e libertos, com seus senhores e
demais sujeitos da sociedade local, por melhores condições de vida e de trabalho.
No que se refere à representação do negro na iconografia de viajantes europeus,
como refere Maria Angélica Zubaran (1999), é fundamental uma leitura crítica do olhar
europeu sobre o Outro nativo, para desconstruir o testemunho eurocêntrico desse olhar
imperial. De acordo com a autora:
(...) trata-se de compreender de que modo as representações dos europeus
ocidentais construíram os habitantes do mundo não-europeu para os leitores
metropolitanos e desta forma contribuir para a descolonização do
conhecimento sobre o “outro” (ZUBARAN, 1999, p. 19).
A seleção das obras Navio Negreiro e Desembarque de Escravos no Cais do
Valongo do viajante e artista alemão Johann Moritz Rugendas, abaixo reproduzidas,
Gabriel C
astello Costa – T
écnico do Museu Julio de C
astilhos
Nicho Liberdade Nicho Escravatura
Gabriel C
astello Costa – T
écnico do Museu Julio de C
astilhos
Nicho Objetos
Gabriel C
astello Costa – T
écnico do Museu Julio de C
astilhos
Nicho Abolição
Gabriel C
astello Costa – T
écnico do Museu Julio de C
astilhos
parece marcar o início do processo escravista no Brasil, visto a partir do tráfico
transatlântico de escravos da África para o Brasil. Essa abordagem tem sido muito
criticada pelos historiadores africanistas e estudiosos da História Afro-brasileira, pois
desconsidera a História e a cultura dos africanos no período anterior ao tráfico de
escravos.
É como se a África e os africanos não possuíssem História, uma representação
que foi disseminada na modernidade e amplamente difundida nas palavras do filósofo
Hegel:
O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável.
Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que
chamamos de sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a
idéia de caráter humano. (...) Entre os negros, os sentimentos morais são
totalmente fracos – ou, para ser mais exato, inexistentes. (...) Com isso,
deixamos a África. Não vamos abordá-la posteriormente, pois ela não faz parte
da história mundial; não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para
mostrar. (HEGEL,1995, p. 84-88).
As obras O Colar de Ferro e Aplicação do Castigo do Açoite de Jean Baptiste
Debret, viajante francês, pintor oficial da Corte, que permaneceu no Brasil durante 15
anos, a partir de 1831, representam a aplicação pública e exemplar de castigos para
subjugar e disciplinar o escravo. No contexto da exposição, essas duas obras de Debret,
reproduzidas a seguir, contribuem para reforçar a representação do escravo como vítima
da violência escravista.
Obra Navio Negreiro: Negros no Porão
Nicho Liberdade
Obra Desembarque de Escravos no Cais do Valongo
Nicho Liberdade
Obra O Colar de Ferro
Nicho Objetos
Obra Aplicação do Castigo do Açoite
Nicho Objetos
A historiadora da arte Valéria Lima (2007) analisa criticamente a versão
construída por este artista a respeito dos castigos aplicados aos escravos. Para a autora,
Debret parece justificar a aplicação dos castigos previstos na legislação escravista:
Assim, parece que a crítica de Debret se dirige mais ao caráter não-legal dos
castigos aplicados pelo feitor do que às punições propriamente ditas. (...) Nas
cenas do pelourinho e do tronco, as punições estão previstas na legislação, o
que desqualifica qualquer reprovação de fundo humanitário (LIMA, 2007, p.
167-168).
Essa estratégia de representação racializada do negro como vítima da violência
escravista, é reforçada através da exibição de objetos de castigo, tais como Gargalheiras,
Vira-Mundos e Libambos, que são exibidos em cada um dos três módulos da exposição.
Aqui não estamos colocando em questão a inegável violência da escravidão, mas
questionando que a representação do escravo vítima seja uma das abordagens
predominantes sobre o escravo no período escravista. Também os textos que aparecem
nos três nichos não questionam as punições, apenas as apresentam, parecendo
naturalizá-las e legitimá-las.
A terceira estratégia de representação racializada do negro na exposição é o
silenciamento sobre as experiências e os saberes negros, sobre sua história e práticas
culturais. Silencia-se sobre os quilombos que existiram no Brasil desde o início do
sistema escravista e que constituíram alternativas bem sucedidas de rompimento com a
escravidão, além de revelarem a capacidade de escravos e libertos se organizarem e
conviverem com relativa autonomia dentro do sistema escravista. Neste sentido, cabe
questionarmos porque os vários saberes cotidianos de escravos e libertos nos seus
ofícios, nas artes plásticas, nos cultos religiosos, na música, nas festas e celebrações, na
forma de se vestirem, de falarem e de sepultarem os seus mortos estão sendo
negligenciados?
Também o último nicho, que aborda a abolição, silencia sobre o papel ativo das
lideranças negras no movimento abolicionista e nomeia apenas a princesa Isabel e Julio
de Castilhos. Poderíamos perguntar: e as vozes de José do Patrocínio, André Rebouças,
Luis Gama, Carlos Gomes, onde estão? E o papel das irmandades negras da Nossa
Senhora do Rosário cujos membros, escravos e libertos, contribuíram para a compra de
alforrias de seus irmãos? E as contribuições das muitas mulheres negras que com seus
trabalhos cotidianos conseguiram comprar a alforria de seus filhos? Onde estão? Essas
são as memórias negras que, subterrâneas durante muitos anos, estão a reivindicar
espaço nos museus e em outras instituições culturais.
O que se ensina sobre o negro na sala Período Escravista?
Em primeiro lugar gostaríamos de destacar que entre as contribuições mais
importantes dos Estudos Culturais para o estudo da cultura negra situa-se a ampliação do
conceito de pedagogia. De acordo com Costa, Silveira e Sommer (2003):
A educação se dá em diferentes espaços do mundo contemporâneo, sendo a
escola apenas um deles. Quer dizer, somos também educados por imagens,
filmes, textos escritos, pela propaganda, pelas charges, pelos jornais e pela
televisão, seja onde for que estes artefatos se exponham” (COSTA, SILVEIRA
E SOMMER, 2003, p. 57).
Neste estudo interessa-nos, particularmente, pensar o que o museu ensina sobre
o negro e quais são as suas pedagogias. Iniciamos essa reflexão com o conceito de
Pedagogias da Racialização elaborado por Gládis Elise Pereira da Silva Kaecher (2010).
A autora argumenta que há uma pedagogia da racialização em funcionamento na sociedade
brasileira, que ensina que o pertencimento racial está relacionado a questões fenotípicas, a
características físicas que demarcam a raça/cor das pessoas. Essa demarcação, a partir de
características físicas, atua naturalizando o processo de pertencimento étnico-racial e a cor
da pele passa a ser vista como fator determinante da pertença racial. A partir desse
entendimento a identidade racial se estabeleceria de uma maneira fixa e essencialista.
Kaercher salienta o aspecto político das pedagogias da racialização "que são, em última
instância, embates de e por poder: o poder de se representar, de ocupar a centralidade das
narrativas e de dizer sobre e para o outro” (KAERCHER, 2010, p. 91).
De um lado, a exposição constrói a representação de um negro genérico, sem
diferenças entre si, homogêneo, como foi estabelecido pela mentalidade colonialista
européia. De outro lado, a exposição hierarquiza a cultura e ensina que os saberes da
experiência negra não são importantes, as manifestações artísticas e culturais negras são
negadas e silenciadas. Onde estão os muitos pintores, escultores, músicos e escritores
negros? Francisco Antônio Lisboa, o Aleijadinho, os Mestres Valentim e Ataíde, o
músico da corte imperial Padre Maurício Nunes Garcia, os escritores Cruz e Souza,
Machado de Assis, Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus? Onde estão?
A exposição Período Escravista encerra as narrativas sobre o negro com a
abolição da escravidão, congelando a história e a cultura negra naquele momento
histórico. O negro é convertido em um vestígio do passado. O módulo sobre a abolição
ensina, ainda, que a liberdade negra resultou de um ato da princesa, uma versão
romântica, há muito tempo contestada pela historiografia brasileira.
Considerações Finais
Nesta análise pretendeu-se desconstruir as representações racializadas do Outro
negro, questioná-las e desnaturalizá-las, buscando reconhecer nos relatos museais suas
tramas e seus silêncios, problematizando a noção de que as representações expostas nos
museus são verdades inquestionáveis. Se entendermos os relatos museais como
construções discursivas, então poderemos renová-los, democratizá-los, torná-los mais
inclusivos e mais plurais. Neste sentido, vale destacar o importante movimento que o
Museu Julio de Castilhos vem desenvolvendo desde o ano de 2011, no sentido de
agregar novas possibilidades de leitura à exposição Período Escravista. A historiadora
Jane Rocha de Mattos (2012), integrante do núcleo técnico do MJC, detalha essas novas
experiências:
Iniciamos uma série de debates, de reuniões abertas, sob o título Museus e
Africanidades, com o objetivo de uma interlocução mais profícua com a
comunidade envolvendo o movimento negro e a academia. Os debates deram-
se em torno da representação dos afrodescendentes em museus e da própria
missão e o caráter do Museu Julio de Castilhos, que é um museu histórico do
RS (MATTOS, 2012).
Esse diálogo que a direção e o núcleo técnico do Museu Julio de Castilhos têm
mantido com as lideranças afro-brasileiras e com os acadêmicos dedicados ao tema da
História e da Cultura Afro-Brasileira é fundamental para que narrativas e representações
alternativas sobre o negro nos museus possam ser construídas contemplando as
múltiplas e ricas experiências negras na diáspora atlântica. A partir dessa perspectiva, os
museus poderão construir outros cenários e contar outras histórias, de culturas e
identidades plurais.
REFERÊNCIAS
ABREU, Regina. Museus etnográficos e práticas de colecionismo: antropofagia dos
sentidos. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº 31, 2005, p.100-125.
CHAGAS, Mário. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de
Mário de Andrade. Chapecó: Argos, 2006.
COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa. Maria Hessel; SOMMER, Luis Henrique.
Estudos culturais, educação e pedagogia. Revista Brasileira de Educação. Campinas: nº
23, p. 36-61, maio/jun./jul./ago 2003.
CUNHA, Marcelo Nascimento Bernardo. Museus e Exposições e suas Representações
sobre o Negro no Brasil. V Simpósio Internacional do Centro de Estudos do Caribe no
Brasil. Salvador, 2008.
HALL, Stuart (Ed). Representation. Cultural Representations and Signifying Practices.
London/Thousand Oaks/ New Delhi: Sage, 1997
______. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (org. e trad.).
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. p.
103-133.
HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Filosofia da História. Brasília: Ed. UnB, 1995.
JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a História do Museu. In: Caderno de Diretrizes
Museológicas. Brasília: MinC/IPHAN/DEMU, Belo Horizonte: Secretaria de Estado de
Cultura/Superintendência de Museus, 2006, p. 19-31.
KAERCHER, Gládis Elise Pereira da Silva. Pedagogias da Racialização ou dos modos
como se aprende a "ter" raça e/ou cor. In: BUJES, Maria Isabel Edelweiss; BONIN, Iara
(Org.). Pedagogias sem Fronteiras. Canoas: Ulbra, 2010.
LIMA, Valéria. J.B. Debret, Historiador e Pintor: A Viagem Pitoresca e Histórica ao
Brasil (1816-1839). Campinas: Editora da Unicamp, 2007.
LODY, Raul. O Negro no Museu Brasileiro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
MANDARINO, Ana Cristina de S. As imagens dos negros: dos museus à sala de aula.
In: PINHEIRO, Aurea da Paz, PELEGRINI, Sandra C. A. (Org.) Tempo, Memória e
Patrimônio Cultural. Teresina: EDUFPI, 2010.
MATTOS, Jane Rocha de. Informações [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<[email protected]>. em 23 out. 2012.
NEDEL, Letícia Borges. Paisagens da Província: o regionalismo sul-rio-grandense e o
Museu Julio de Castilhos nos anos 1950. Dissertação (Mestrado em História). Instituto
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
1999.
PERETTI, Luis Armando; GIOVANAZ, Marlise. Museu como lócus de produção
regional: o caso do Museu Julio de Castilhos. Revista de Iniciação Científica da
ULBRA, Canoas, v.1, n. 2, p. 159-168, 2003. Canoas: Ed. ULBRA. 2003.
SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Entre o tronco e os Atabaques: a representação do
negro nos Museus Brasileiros. Colóquio Internacional Projeto UNESCO: 50 anos
depois. Salvador, 2004.
______. Canibalismo da memória: o negro nos museus brasileiros. Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museus. Brasília: Ministério da Cultura, nº.
31, 2005, p. 36-55.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão
racial no Brasil de 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SILVEIRA, Andréa Reis da. O Museu Julio de Castilhos no Período 1960-1980:
acervos, discursos, representações e práticas através de uma exposição museológica.
2011. 197f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Patrimônio Cultural) –
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
2011.
STORCHI, Ceres. O espaço das exposições: o espetáculo da cultura nos museus.
Ciências & Letras, Porto Alegre: Fapa, n. 31, p. 117-126, jan./jun. 2002.
ZUBARAN, Maria Angélica. O Eurocentrismo do Testemunho: relatos de viagem no
Rio Grande do Sul do século XIX. In: Revista Anos 90, Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 12, 1999, p.
17-33.
i A análise aqui esboçada está sendo desenvolvida e aprofundada na dissertação intitulada Representações
Racializadas Sobre o Negro nos Museus do Rio Grande do Sul: Pedagogias Culturais e Identidades de
Lisandra Maria Rodrigues Machado, sob orientação da Prof. Drª. Maria Angélica Zubaran, no Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da Universidade Luterana do Brasil.