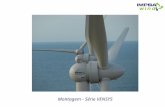Relato de pesquisa prático-teórica: da similaridade na montagem à tela em movimento
Transcript of Relato de pesquisa prático-teórica: da similaridade na montagem à tela em movimento
Relato de pesquisa teórico-prática: da similaridade na
montagem à tela móvel
Fernando Gerheim
Palavras-chave: Vídeo-instalação, Montagem, Cinefagia,
Imagem-Emersiva
Resumo:
A similaridade está presente no fundamento da
linguagem, mesmo que ela seja de imagens, como a do
cinema. É o que mostram sequências de Outubro (1929), de
Eisenstein, embora o cineasta anuncisse como seu
princípio de montagem o conflito. Será investigada, em
seguida, através da vídeo-instalação CinemObjeto (2012),
realizada como parte de pesquisa teórica-prática aqui
relatada, o uso da montagem para além da gramática interna
do filme, levando em consideração os elementos que
circunscrevem o cinema, tanto material e tecnicamente
quanto em termos de formas discursivas. A montagem aqui
não é entre duas imagens, mas entre imagem e tela. Esse
procedimento, através da “exterioridade da linguagem”,
produz “imagens emersivas”. Entre vídeo-instalação e
filosofia da linguagem, estreitando relações entre teoria
1
e prática, esta pesquisa em progresso explora
possibilidades do audiovisual e da reflexão a partir
dele.
Abstract:
The similarity is present in the foundation of the
language, even if it is of images, such as film. This is
apparent in sequences October (1929), Eisenstein,
although the filmmaker said that his montage’s principle
was the conflict. Will be investigated, after, through
the video installation CinemObjeto (2012), performed as
part of theoretical and practical research reported here,
the use of the assembly beyond the internal grammar of
the film, taking into account the factors that delimit
the film, either materials and technically and in terms
of discursive forms. The assembly here is not between two
images, but between image and screen. This procedure, by
"external language" produces "emerging images". Between
video installation and philosophy of language,
strengthening relationships between theory and practice,
this ongoing research explores the possibilities of
audiovisual and reflection on their achievement.
1
2
Sequências de Outubro (1929), de Eisenstein,
contradizem o conflito como princípio declarado de
montagem do cineasta. Tomemos a antológica montagem que
coloca lado a lado o general diante da porta do Palácio e
a cauda do pavão se abrindo. A junção desses fragmentos
pretende significar a vaidade do militar seduzido pelo
poder (FIG. 1). O que resta, obtuso, não obstante dotado
de significação, é o fato de o pavão girar varrendo
graficamente o quadro do centro para a esquerda, e a
porta alta e ornamentada do gabinete do poder, por onde o
general entra, abrir, no fragmento seguinte, num
movimento graficamente similar. A relação proposta entre
coisas tão díspares – a vaidade do militar é igual à
cauda do pavão se abrindo – é de similaridade simbólica,
mas também existe similaridade gráfica, na dimensão
sensível ou, como queria o diretor, emocional-
fisiológica. As imagens, nesta e em outras sequências de
Outubro, como veremos, fazem o mesmo que o conceito:
aproximam elementos diferentes por semelhança. Com isso
pretendo mostrar que, de modo tanto mais surpreendente se
considerarmos que Eisenstein dizia que seu princípio de
montagem era o conflito1, a similaridade é tão fundamental
para a linguagem que está presente mesmo na linguagem por
imagens criada para o cinema.
1 “A lógica da forma orgânica versus a lógica racional produz, em colisão, a dialética da forma artística.” A oposição entre natureza e cultura, motor da história dialética, está na base da concepção de montagem do cineasta. Pag. 50. Dramaturgia da forma do filme, in A forma do filme.
3
FIG. 1
Podemos compreender este movimento similar de acordo
com a idéia eisensteniana de decomposição dos fragmentos
em parâmetros internos de luminosidade, contraste,
duração, cor, volume, ângulo etc. Além de ter como
unidade mínima da montagem não o plano, mas o fragmento,
uma segunda decomposição é operada no interior do próprio
fragmento. Em Eisenstein, nem a unidade mínima é
indivisível. Os parâmetros dizem respeito às
características plástico-materiais da imagem, o que
Barthes chamaria de o seu sentido obtuso2.
Mas qual os parâmetros de montagem entre os dois
fragmentos? Sua lógica interna?
Aos 29 minutos de filme, a imagem do militar de
braços cruzados é montada com a imagem da miniatura de
Napoleão de braços cruzados enquadrada do mesmo modo
(FIG. 2). A escala e o volume são similarares. Na mesma
sequência, taças e vasos de cristal aparecem
enfileirados, num fragmento, de modo similar a
soldadinhos de chumbo, no fragmento seguinte, ambos
destacados contra o fundo negro (FIG. 3).
2 Para Roland Barthes, nas imagens há um sentido óbvio, literal, e outro obtuso, opaco, que emana da própria imagem. Cf. O óbvio e o obtuso.
4
FIG. 2
FIG. 3
Quando Eisenstein quis expressar idéias por imagens,
ele elegeu parâmetros que deveriam emanar das próprias
imagens. Embora os fragmentos se choquem (a cauda do
pavão está fora do contexto do palácio do governo etc), o
cineasta cria uma relação de similaridade visual entre
eles. Sua inspiração nas metáforas, retirada da linguagem
dos ideogramas, não pode abrir mão da similaridade para
criar a linguagem do cinema.
Breve revisão do tema sígnico: 1. a associação por
similaridade, para Roman Jakobson, é um dos dois tipos
fundamentais de atividade mental e de arranjo da
linguagem (o outro é a contextualização ou a combinação).
5
Todo o pensamento corresponde, segundo o linguista, a um
dos dois tipos de arranjo da linguagem: associações por
similaridade ou por continguidade. 2. O conceito de
Interpretante de C. S. Peirce, define a relação que se
estabelece entre um signo e aquele outro signo no qual,
necessariamente, o primeiro terá de ser interpretado.
A relação entre esses dois signos, no caso da
montagem intelectual eisensteniana, corresponde ao eixo
da similaridade e ao pólo metafórico da linguagem.
Voltando ao primeiro exemplo: o que um pavão tem a
ver com negociações na cúpula do poder? Segundo a teoria
de Jakobson, as operações de seleção, diferente das de
combinação, operam por similaridade. O pavão e a porta do
palácio pela qual os militares entram não se combinam em
um mesmo contexto em uma relação de contiguidade, mas de
similaridade formal; é como se uma imagem pudesse
substituir a outra, pois elas se equivalem.
Aos 31 minutos do filme, forças contra-
revolucionárias tentam tomar o governo provisório em nome
de Deus e da Pátria. Eisenstein constrói, nas imagens, o
sentido de que os poderes religiosos são alienantes
colocando estátuas e bonecos de deuses de várias
religiões, do cristianismo ao paganismo e às religiões
orientais, montados lado a lado, sem hirarquia. As
figuras são equiparadas por parâmetros visuais: o
enquadramento, a luminosidade, o grafismo – seja pela
similaridade, como um sinônimo visual formal, seja pelo
antônimo estabelecido sobre um fundo comum.
6
A idéia de pátria é expressa pelos símbolos da
hierarquia militar (condecorações, medalhas etc),
seguindo o mesmo método de arranjo por similaridade a
partir de certos parâmetros dados pela própria imagem.
Mas agora a duração dos planos é irregular, de acordo com
as propriedades plásticas dos objetos que aparecem, e a
montagem não é mais apenas métrica, passa a ser também
rítmica3. Nessa sequência, por exemplo, os pelos da
sobrancelha e da barba do ídolo pagão contrasta, de
acordo com o parâmetro de textura, com a brancura lisa da
porcelana do Buda (FIG. 4).
FIG. 4
Novos símiles sobressaem quando o general Kornilov
de braços cruzados é montado com a estátua de Napoleão na
mesma posição. (FIG. 5) As coisas são símbolos,
representações de idéias, quase palavras; não são coisas
reais registradas por uma câmera.
3 Eisenstein classifica a montagem em cinco tipos: métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual. Cf. Métodosde montagem, in A forma do filme.
7
FIG. 5
Se a similaridade, que orienta a montagem em
Eisenstein, corresponde a um dos modos fundamentais de
arranjo dos signos segundo Jakobson, vejamos o que diz o
linguista:
“Os constituintes de um contexto têm um estatuto de
contigüidade, enquanto num grupo de substituição os
signos estão ligados entre si por diferentes graus de
similaridade, que oscilam entre a equivalência dos sinônimos
e o fundo comum (common core) dos antônimos.”4
Esses são os dois Interpretantes possíveis para os
signos. Interpretante, segundo C. S. Peirce, é o processo
relacional que se cria na mente do intérprete quando um
signo é interpretado, necessariamente, em outro signo. De
acordo com esse conceito, o significado não é um
reconhecimento da realidade, mas a passagem de um signo a
outro numa cadeia de remissões sucessivas que tem como
único limite o arcabouço histórico. O fundamento da
linguagem, para a semiótica, recua de signo a signo.
4 R. Jakobson, pág. . Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia, in Linguistica e Comunicação. São Paulo:Ed. Cultrix, 19..
8
A montagem, para Eisenstein, é um princípio não só
do cinema, mas de todas as artes e do próprio pensamento.
E o processo relacional que se cria entre um fragmento e
outro, na montagem de Eisenstein, é marcado, como vimos,
pela relação de semelhança.
Para a teoria semiótica, a semelhança não é apenas
um dos modos de arranjo dos signos. Segundo Peirce, ela é
uma força presente tanto nos signos icônicos como nos
dois tipos de argumentação que caracterizam a parte
propriamente simbólica dos signos.
A fórmula do ícone é: o signo tem propriedades
semelhantes às do objeto que ele significa. No caso de uma
pintura monocromática, por exemplo, em que o signo não
tem objeto, tudo o que se poderá dizer a seu respeito
estará na ordem do parecer. O ícone é uma associação na
qual o receptor do signo propõe uma semelhança para
interpretá-lo.
Mas a semelhança não está presente somente na
dimensão icônica e mais primitiva da linguagem. Também na
dimensão simbólica, as duas formas de raciocínio, dedução
e indução, operam por processos de similaridade. No caso
da dedução, parte-se de um pressuposto e busca-se
semelhanças com ele no objeto. A indução parte do
particular, mas terá que reduzí-lo ao que ele tem de
comum com os outros particulares para chegar a uma ideia
geral, privilegiando do mesmo modo a semelhança.
Eisenstein relaciona a montagem a um processo lógico:
“Estamos acostumados a fazer, quase que automaticamente,
9
uma síntese dedutiva definida e óbvia quando quaisquer
objetos isolados são colocados à nossa frente lado a
lado.”5
Na montagem eisensteniana, a similaridade entre
parâmetros opera como fundamento, a despeito do próprio
cineasta, que diz, em sua teoria, ter como princípio de
montagem o conflito. A questão agora é: como lidar com
essa formatação pela linguagem que acabamos de surpeender
por baixo da montagem até mesmo do revolucionário
cineasta russo?
2
O objetivo desse artigo daqui em diante será mostrar
outra possibilidade de usar a montagem, que extrapora a
gramática interna do filme, incorporando sua
circunscrição material-discursiva. Tal exploração tem um
desdobramento teórico: enquanto, para Eisenstein, as
idéias são uma forma, em CinemObjeto (2012), elas são “o
uso” que se faz de uma forma, de acordo com o aforismo de
Wittgenstein6.
Ao invés de um fragmento ao lado do outro, a
montagem na video-instalação CinemObjeto7 é pensada entre a
5 Palavra e Imagem, pág. 14. In O Sentido do Filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 6 Pág. Investigações Filosóficas. Ed Abril7 Obra apresentada na Artur Fidalgo galeria, no Rio de Janeiro,em janeiro/fevereiro de 2012, durante a exposição Coletiva
10
imagem e a tela. O suporte de projeção é montado com as
próprias imagens que torna visíveis (FIG.6). Assim o
quadro, que circunscreve materialmente o cinema, é
integrado à sua linguagem. Neste cinema fora do quadro, a
tela deixa o impositivo retângulo para adotar a forma do
pictograma de travessia de pedestres que remete às ruas.
Diferente da montagem tradicional, quando as imagens
são colocadas lado a lado, aqui elas são dispostas
literalmente uma sobre a outra. Uma multidão particular
atravessando a rua é projetada sobre o pictograma que
simboliza a travessia do pedestre em geral. O pictograma
que serve de “tela” é o “tipo geral” icônico do design
urbano para travessia de pedestres, em que o particular
é projetado.
Qual a relação criada nessa montagem imagem e tela?
A relação é entre o particular (uma multidão
particular captada atravessando a rua) e o universal (o
signo que a significa) e, ao mesmo tempo, a da multidão
de atravessadores de ruas (o múltiplo) dentro de uma
única figura pela qual todos são representados (o
pictograma). Uma imagem está dentro da outra, tanto no
sentido estritamente visual quanto simbólico. Trata-se de
uma relação entre o conceito, enquanto abstração que cria
tipos gerais, e a percepção, para a qual tudo é
particular e concreto (o particular está, supostamente,
Quântica 3.0. Registro online: http://www.youtube.com/watch?v=luL3bZjAlww.
11
dentro do tipo geral). Uma relação que discute a própria
linguagem, qualquer linguagem.
Seria uma relação entre o signo (conceito) e o
múltiplo (empiria), cuja diversidade o signo reúne. As
imagens de pessoas atravessando ruas é literalmente
superposta ao pictograma que nomeia essas pessoas numa
linguagem icônica universalista, e a relação entre as
duas não se resolve em nehuma terceira imagem criada na
mente do receptor.
Tal relação simplesmente colocaria em circulação as
imagens que a compõem? O particular (pedestres
atravessando a rua) e o geral (signo de travessia de
pedestres) não são fragmentos querendo fundir-se numa
metáfora perfeita como na Imagem eisensteniana. Há uma
espécie de reciprocidade: a imagem é recolhida no signo e
o signo dilata-se na imagem.
Os pictogramas de acrílico espelhado, suspensos a
uma pequena distância da parede por uma linha amarrada a
um prego, balançam levemente. O movimento da imagem
agigantada percorre as paredes opostas. Enquanto a imagem
de cinema se mantém fixa na tela, em CinemObjeto, a própria
tela, duplicada em imagem, está em movimento. (FIG.6) As
imagens das pessoas atravessando a rua refletidas de
volta no espaço têm o contorno dos signos urbanos. O
reflexo agigantado dos dois pictogramas ora parece correr
e deslizar, ora saltitar. A multidão é o múltiplo, o
fluxo; o conceito é a unidade, o fixo. Mas em CinemObjeto
12
mesmo o signo universal, com seus contornos ora mais ora
menos nítidos, está em movimento.
FIG. 6
Cada pequeno movimento dos pictogramas corresponde a
um grande movimento de seus reflexos. Ora um parece
perseguir o outro, ora querer se sobrepôr. E nos reflexos
agigantados, as imagens dos pedestres atravessando dentro
do pictograma de pedestres atravessando a rua são como um
anagrama icônico: ao invés das palavras formarem a imagem
do seu significado, as imagens formam o seu signo
pictográfico.
De fato, a unificação nunca se completa. Pelo
contrário, a imagem se multiplica: além de correr, pular
e perseguir, as imagens se sobrepõem. E os reflexos, ao
se sobrepor, criam uma terceira imagem, não presente em
13
nenhuma delas isoladamente, mas imprevista. (FIGS. 7 e
8).
FIG. 7
A montagem entre as imagens e a tela abre uma nova
possibilidade, no limite exterior da linguagem, mesclando
o cinema com o objeto, a cinescultura, a vídeo-
instalação.
Mas é um segundo conjunto de imagens torna mais
explícita a oposição entre a unidade e o múltiplo, o
conceito e o fenômeno. O fluxo de luz das imagens do rio
faz com que a linearidade do contorno do pictograma perca
a definição, tornando perceptível a ideia de um signo que
se compõe de constrastes, tensões, do choque e do
encontro cintilante e imprevisto entre a percepção e o
conceito.
14
3
O método é simples: incorporar os próprios elementos
materiais que circunscrevem uma determinada linguagem faz
com que ela deixe de privilegiar a similaridade para ser
este encontro cintilante e imprevisto entre a percepção e
o conceito. A imagem do signo universal de travessia de
pedestre, com a imagem da multidão particular de
pedestres dentro, cria uma relação que tem ressonância
dentro da próprio uso do conceito de cinema. Aqui a
apropriação do digital não leva a uma vídeo-instalação de
imagens imersivas, mas de imagens emersivas, em que o
pictograma de travessia de pedestre e a multidão
atravessando a rua estão um dentro do outro, como num
anagrama em que o particular está no geral e o geral no
particular. A imagem emersiva irrompe como descontinuidade
na suposta linearidade das formas discursivas simbólicas
e materiais do cinema. Para ela a montagem não é
similaridade, mas ruptura e diferença.
O reflexo na água do rio, com seus violentos riscos
de luz, é uma imagem quase abstrata que corresponde, de
algum modo, ao fluxo da multidão (similaridade entre
diferentes modos de transcorrer). Esse grupo de imagens é
mostrado ou em planos isolados ou em fusões, criando
texturas que tornam, a maior parte das vezes, a imagem
abstrata. Essa imagem da velocidade da luz, sem forma nem
15
limite, é montada com os contornos bem delimitados dos
pictogramas espelhados que lhe servem de tela. No
reflexo, o jorro luminoso transborda para fora do
contorno sígnico da tela, que, normalmente neutra, ganha
vida própria na imagem. A montagem se dá entre o informe
(o fluxo) e a forma (o signo), fazendo aparecer a
linguagem, porque ela é, sobretudo, entre as imagens e o
seu próprio dispositivo material. A tela torna-se também
imagem, enquanto a imagem torna-se também objetual. Não
há fragmentos que se resolvem em sínteses dedutivas, como
na montagem eisensteniana. As imagens pairam sem síntese,
pois esta montagem volta-se para o próprio dispositivo.
Longe de ser um meio imparcial, a projeção, a tela e o
quadro são significantes de novas significações. Acionar
e evidenciar o aparato técnico, por mais simples que
possa parecer, é um modo de tocar o cerne daquela
linguagem, da qual o aparato parecia estar fora. É como
tocar no osso da linguagem.
O que se entende por linguagem não cabe mais no
linguístico, pois a materialidade não se identifica com a
comunicação de conteúdos nem com a atividade conceitual-
intelectual.
Montar com a própria tela é ampliar a linguagem para
além da comunicação de conteúdos, deixando o cinema da
tela mental para entrar nos seus mecanismos internos, na
sua circulação, no seu corpo. Nessa exterioridade da
linguagem, o pensamento e o corpo são inseparáveis.
16
Apesar de deixar de ser apenas signo para se
transformar num corpo, o cinema não volta a ter uma
forma. Em CinemObjeto ele é, como diz o aforismo de
Wittgenstein, o “uso” que se faz de tal forma. Usar a
linguagem é transformá-la de comunicação de conteúdos em
“forma de vida”, na expressão do filósofo.
Diz o fragmento 43 de Investigacões Filosóficas: “Pode-se,
para uma grande classe de casos de utilização da palavra
‘significação’ – se não para todos os casos de sua
utilização –, explicá-la assim: a significação de uma
palavra é seu uso na linguagem.’’8 Wittgenstein considera
a fala cotidiana, na linguagem pragmática, para demolir a
teoria referencial do significado. Se estendermos o que
ele diz sobre a fala para o cinema, temos que a
significação do cinema é o seu uso. Ela está muito além
de um sentido linguístico, ou melhor, cinematográfico.
Cinemas são formas de vida. E o uso do cinema que
CinemObjeto propõe não é o usual. Wittgenstein faz parecer,
porém, que uma forma de vida não tem conflitos, é
hamogênea. Diz o filósofo: “O aceito, o dado – poder-se-
ia dizer – são formas de vida”9. O aceito, no entanto, é
sempre um jogo de forças no tempo. A ideia da linguagem
como o uso de formas proposta neste relato-ensaio, aqui
diverge da de Wittgenstein. Em CinemaObjeto trata-se, pelo
8 P. 28. WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Tradução: José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores: Wittgenstein).9 P. 203. Idem.
17
contrário, da emersão de uma forma de vida não dada, mas
construída.
O ponto de vista da linguagem como uso a partir
daquilo que a circunscreve, incluindo assim a sua própria
materialidade, transforma em elemento de significação o
que era considerado exterior a ela, porque aparentemente
indiferente à comunciaçõa de qualquer conteúdo.
Esse olhar materialista é que permite conceber as
imagens técnicas, cujo processo de produção é, pelo menos
em parte, automatizado. De acordo com Philippe Dubois, o
cinema é uma imagem técnica de terceira ordem, que
acrescenta a impressão de movimento e a imaterialidade da
projeção à imagem. Estas eram características ausentes
dos dispositivos óticos da câmera obscura (imagem técnica
de primeira ordem) e da fotografia (imagem técnica de
segunda ordem). CinemObjeto surge a partir do isolamento de
uma das características materiais do cinema – a projeção
–, dispositivo invisível que o trabalho transforma em
materialidade significante. Se a tela e o quadro
inscrevem e codificam o cinema, uma vez utilizados eles
próprios como elementos de significação, deixam de ser
uma exterioridade para tornarem-se o corpo sensível da
linguagem.
Há algo de lúdico nessa maneira de CinemObjeto se
apresentar como uma possibilidade entre outras de usar os
dispositivos, afirmando unicamente os próprios espaço e
tempo: a imagem como materialidade presente, contingente
e efêmera. O “monstro hipnótico” ou “o subfilme mítico e
18
infantil”, expressões com que Pasolini definiu o cinema,
aqui é usado conscientemente, e não como instrumento de
manipulação e persuasão. Relacionado pelas primeiras
teorias aos processos mentais, o cinema, deglutido pelo
vídeo, neste trabalho passa a ser concebido como uma
exterioridade da linguagem ou, para ser mais preciso,
como o corpo sensível da linguagem. Há uma evidente
conexão física com o espaço, ocupado pelo movimento
casual de um dispositivo um tanto tosco e inteiramente
transparente. Há uma pré-gramática nessa presença
indicial, de movimento aleatório. A imagem, em CinemObjeto,
não representa a consciência (ainda que sejam as camadas
da memória e do sonho), mas apresenta-se como objeto, na
medida em que é inseparável do dispositivo que a produz.
Seu único fundamento é incorporar aquilo que a
circunscreve para saltar na sua própria invenção.
FIG. 8
19
Bibliografia:
BARTHES, Roland – O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Ed Nova
Fronteira, 1990.
DERRIDA, Jacques – A Farmácia de Platão. São Paulo:
Iluminuras, 1997.
DUBOIS, Phillip – Cinema Vídeo, Godard. São Paulo:
CosacNaify, 2004.
EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Ed.
Jorge Zahar, 2002.
_________________ . O sentido do filme. Rio de Janeiro: Ed
Jorge Zahar, 1990.
GERHEIM, Fernando - Linguagens inventadas - palavra imagem objeto:
formas de contágio. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.
JAKOBSON, Roman – Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia.
In Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, s/data.
PEIRCE, C. S. – Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2010.
KRAUSS, Rosalind – A escultura no campo ampliado. Revista Gávea, Rio de Janeiro, n. 1, dezembro de 1984.
20
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Linguística Geral. São Paulo:
Cultrix, s/data.
WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Tradução:
José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999
(Coleção Os Pensadores: Wittgenstein).
Fragmento 43.
“Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra ‘significação’ – se não para todos os casos de sua utilização –, explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. E a significação de um nome elucida-se muitas vezes apontando para o seu portador (WITTGENSTEIN, 1999, p. 28).
“O aceito, o dado – poder-se-ia dizer – sãoformas de vida” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 203).
Relato de pesquisa teórico-prática: da similaridade na
montagem à montagem com a própria tela
21