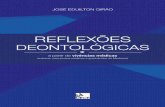Reflexões sobre televisão e a "falta de cultura" no Brasil
Transcript of Reflexões sobre televisão e a "falta de cultura" no Brasil
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
109
Reflexões sobretelevisão e a “faltade cultura” no Brasil
1 Este artigo aborda algumas das questões desenvolvidas em minha tese de doutorado: Televisão,uma vilã na sociedade contemporânea – um estudo sobre modos de ver (a) TV de pessoas pertencentesa camadas médias, PPGAS/UFSC, concluída em abril de 2004, sob orientação de Sonia Maluf.Também foi apresentado no Grupo de Trabalho da VI Reunião de Antropologia Del Mercosur:Antropología de lo visual, la comunicación y los medios en el contexto de la región, coordenado porSusana Sell e Cornélia Eckert, em novembro de 2005. Agradeço a ambas, bem como a AnaLuiza de Carvalho Rocha, pelos comentários e debates na ocasião.
1
Nara Magalhães
RESUMO
Este artigo aborda o significado da televisão na sociedade contemporânea, apartir de uma pesquisa de etnografia de audiência realizada com pessoaspertencentes a camadas médias de uma cidade de médio porte do interior doRio Grande do Sul, Brasil. As pessoas pesquisadas vêem a TV através de umacrítica social que supõe que outros grupos não possuem cultura para vê-la demodo crítico. As conexões entre as suposições dos pesquisados e um certodebate intelectual são importantes para tentar identificar as razões desta críticase manter forte, mesmo num contexto de diversidade e pluralidade cultural.As perspectivas dos estudos de recepção e das pessoas pesquisadas sãoaproximadas neste artigo, numa reflexão que tenta apontar que existem algunspressupostos compartilhados sobre a superioridade da cultura letrada, mesmoquando se considera o receptor como sujeito no processo de comunicação.Por fim, o artigo esboça algumas conseqüências do debate atual e hipótesespara novas pesquisas.
PALAVRAS-CHAVE: Camadas médias. Televisão. Estudos de recepção. Culturabrasileira. Culturas.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
110
1 Preâmbulo
Este artigo tem por base uma pesquisa desenvolvida a respeito do ponto
de vista de pessoas de camadas médias sobre televisão. Na primeira parte,
exponho o modo como se realizou a pesquisa, e alguns dados que o trabalho
de campo trouxe. Na segunda parte, relaciono os dados obtidos com a discus-
são ao longo de nossa história sobre cultura. Por fim, lanço algumas hipóteses
e reflexões que apontam novas possibilidades de investigação.
A pesquisa que realizei pode ser considerada uma tentativa de lançar um
novo olhar sobre o significado da televisão brasileira, partindo de estudos sobre
pontos de vista de pessoas de camadas médias. Os dados de campo foram colhi-
dos em Ijuí, cidade do interior do Rio Grande do Sul. A análise desses dados, no
entanto, não os toma de modo isolado, mas busca conexões com todo um
pensamento sobre televisão e cultura. Quando falavam sobre televisão, as pesso-
as pesquisadas faziam uma análise da sociedade brasileira e expressavam clara-
mente uma visão de que não há “saber popular”, ou não há “cultura popular”,
há uma “falta” de cultura, especialmente no Brasil. Subjacente a uma crítica que
exige democracia dos meios de comunicação de massa emergia uma crítica a
uma “massa” de despossuídos, não só de bens materiais, mas também de crítica
ou discernimento; e essa era uma formulação que emergia no interior de uma
crítica bem fundamentada ao poder dos meios de comunicação de massa. Cons-
truí uma reflexão sobre esta crítica generalizada à televisão, buscando entender
qual a visão de sociedade, de poder e relações sociais que ela trazia subjacente.
A metodologia utilizada na referida pesquisa foi a etnografia de audiência
(LEAL, 1993; LOPES, 1998), que estou considerando uma especificidade
antropológica dentro da perspectiva ampla dos estudos de recepção2, pois diz
2 Seria impossível no âmbito deste trabalho fazer justiça a toda tradição teórica de estudos sobretelevisão e especialmente sobre os estudos de recepção, campo que aborda as significações construídaspelos sujeitos que recebem a mensagem dos meios e a interpretam de variadas maneiras, de acordocom a cultura do grupo em que estão inseridos. Para citar apenas alguns que podem clarear a linhade interlocução adotada aqui, que perpassa várias áreas do conhecimento (antropologia, comuni-cação social, literatura, etc.): Miceli (1972), Kaplan (1983), Eagleton (1983), Silva (1985), Leal(1986), Ortiz (1989), Sousa (1995), Martín-Barbero (1997), Borelli (1996, 2000), entre outros.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
111
respeito não só o momento de ver TV junto com as pessoas pesquisadas, em
suas casas, mas também a colocação em perspectiva de sua crítica à TV, a
partir de um ponto de vista relativista e de respeito às diferenças. Do início ao
fim da pesquisa, tratava-se de, sob um olhar antropológico de estranhamento,
ver o que havia de diferente nesta crítica e porque ela se mantinha tão forte.
Não se tratava de qualificar esta crítica negativa à TV como “inadequada”,
pelo contrário. Exercitando o relativismo, queria entender a lógica que ela
continha sobre nossa sociedade.
Considerar o debate sobre cultura no interior do campo antropológico,
colocando também em perspectiva as diferentes abordagens sobre cultura na
ótica instrumental ou plural, foi conseqüência dessa postura analítica, devido
à busca das dinâmicas culturais em que estão envolvidos os pesquisados, e
também à noção de circularidade da cultura3, fundamental para permitir o
enfoque proposto. Portanto, etnografia de audiência se refere tanto a assistir
TV junto com as pessoas pesquisadas, como a uma postura analítica que per-
corre toda construção do texto.
2 Os dados trazidos pelo campo
Alguns traços identitários do ijuiense (que só foram perceptíveis através
de vários tipos de convívio pessoal e profissional que extrapolam o momento
da coleta de dados) merecem destaque, para situar o contexto no qual estava
chegando a mensagem televisiva: o pioneirismo é um valor central na cultura
local, e combina uma história de descendentes de imigrantes com o cultivo de
tradições gaúchas, conferindo traços peculiares. Há um orgulho em ser ijuiense,
um forte sentimento de pertença, que é reforçado por ingredientes que vão se
modificando ao longo do tempo – por exemplo, através da construção de
uma tradição recente, ainda em elaboração, sobre a diversidade étnica e cultu-
3 Conforme densa discussão realizada por Bakhtin (1987) e Ginsburg (1987).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
112
ral que estaria presente desde a origem do município – aliada a incertezas
sempre reformuladas de maior ou menor pertencimento a uma nação brasi-
leira. Este orgulho em ser diferente e pioneiro vai se refletir no modo como as
pessoas recebem e interpretam a mensagem televisiva e a cultura brasileira.
O contexto de realização da pesquisa mostrou a grande presença da tele-
visão no cotidiano dos pesquisados, convivendo com uma negação de ver TV
– o que me levou a considerar esta negação como parte de seu estilo ou de seu
modo de ver TV.
Os dados de campo são riquíssimos e trazem algumas novidades: mos-
tram a entrada gradativa da TV nas casas, mesmo de quem não pretendia ser
“cooptado” por ela; a oposição que os pesquisados constroem entre trabalho,
lazer e televisão, considerando o momento de ver TV como um momento de
não fazer nada, de não atividade, ilegítimo socialmente; seus relatos sobre o
modo de ver TV, que revelam a atenção flutuante4, mostrando que a TV fica
ligada enquanto se faz outras coisas, e que estar em casa pode ser sinônimo de
ligar a televisão, mesmo que não se dê atenção exclusiva a ela; as críticas à
televisão revelavam detalhes sobre toda programação televisiva e a especializa-
ção oriunda da grande experiência de vê-la.
A análise das categorias utilizadas (ver, olhar, assistir, ouvir...), mostra que é
exatamente a grande experiência de ver TV que contribui para a formulação de
uma crítica especializada5; outros dados revelam que não existe interpretação
exclusivamente individual sobre o que se vê na TV, pois mesmo quando ela é
vista individualmente, existe uma prática coletiva de avaliar – ver e criticar a TV,
4 Conceito empregado por alguns pesquisadores, contrastando com a atenção dispensada a umfilme no cinema, por exemplo. É o caso do estudo realizado por Dorothy Hobson (1980).Neste artigo, a autora distingue a situação contextual de recepção do cinema e da televisão,devendo ser esta analisada em relação à vida cotidiana, e uma novela, ela acredita, terá tantasinterpretações quantos forem seus espectadores (HOBSON, 1980, p. 110).
5 Agradeço a Sonia Maluf a sugestão de considerar as pessoas pesquisadas como especialistas emtelevisão.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
113
em outros momentos diferentes daquele de assisti-la; a televisão também pode
servir como metáfora6 para falar de relações pessoais, tanto com quem não se
tem muito contato, quanto com pessoas próximas: atentei para um certo olhar
de gênero sobre a TV, perceptível através do modo das mulheres e dos homens
verem e criticarem a TV, que revelou uma certa simetria no contexto da pesqui-
sa, e certas disputas em torno do que se considera adequado nas relações.
Além disso, no momento de ver TV, os pesquisados constroem uma ima-
gem de si – uma imagem de valorização da cultura letrada, do domínio de
diferentes línguas e o gosto pelas viagens; e constroem imagens do outro –
que não tem condições de entender e criticar a mensagem televisiva, não tem
poder e fica à mercê do poder televisivo.
A elite também aparece em vários momentos na crítica das pessoas
pesquisadas: governar com base em interesses pessoais, corrupção, excessiva
maleabilidade, pouca disciplina, nenhum respeito às leis ou nenhuma coerên-
cia, são comportamentos considerados próprios das elites e expressos também
na TV e na crítica a ela. Parece que o horário do noticiário é o horário da
expressão das elites e o horário das novelas é expressão de uma vulgaridade
cultural. Comprimidos entre esses dois contextos culturais, as pessoas se rebe-
lam e lançam suas críticas: à elite, sem identificar-se com ela e sem considera-
rem-se responsáveis pela elaboração de políticas sociais; e aos grupos popula-
res, pelo “rebaixamento” da cultura, com sua preferência ruidosa e nada eru-
dita. Talvez por considerarem que a elite seria a principal responsável pela
reprodução do sistema social (considerado imutável ou quase) os pesquisados
preferem concentrar suas críticas a um suposto gosto popular e uma “falta de
cultura” dos grupos populares, esta sim vista como passível de mudança, numa
noção muito próxima à de “civilizar”.
6 A inspiração para perceber o significado da televisão como metáfora do social veio também deleituras como a de Victor Turner (1974).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
114
3 As concepções de fundo:
cultura e saber letrado
Para respeitar a posição das pessoas pesquisadas, e tentar entender sua
lógica, relacionei sua crítica à televisão com as abordagens dos estudos de
recepção e com as análises intelectuais sobre cultura brasileira e identidade
nacional em períodos significativos de nossa história. Busquei conexões
explicativas que permitissem considerar as concepções dos entrevistados não
como peculiares a um grupo social, mas no que apresentavam em comum
com outros grupos, inclusive a visão sobre o sistema social. Minha intenção
era colocar em diálogo os dados trazidos pelo campo e as teorias. Esse
posicionamento levou-me a repensar diversas abordagens adotadas por estu-
diosos da comunicação de massas, as mudanças de perspectivas que levaram à
emergência dos estudos de recepção nos anos 1980, e os dilemas e limites que
enfrentam estes estudos, que acabam sendo reinterpretados e não conseguem
evitar a reposição, num outro nível de análise, dos mesmo pressupostos que
desejam problematizar.
Tentei então relacionar a fala dos pesquisados, suas críticas à TV, à socie-
dade e à cultura brasileiras, com as abordagens intelectuais sobre identidade
nacional e cultural brasileira.7 Que Brasil é este, visto através da crítica à tele-
visão? Que brasis surgem através de algumas análises intelectuais e quais as
semelhanças e diferenças entre estas duas abordagens - dos pesquisados e dos
intelectuais. A retomada da noção de circularidade na análise cultural foi cen-
tral para permitir esta visualização de modo a estudar as relações entre o saber
erudito e o saber popular numa perspectiva em que ambos são considerados
válidos e relacionados.
As concepções expressas pelas pessoas pesquisadas, que supõem uma “fal-
7 Alguns questionamentos sobre identidade nacional e política já me interessaram em pesquisaanterior (MAGALHÃES, 1998). Nesta, percorro alguns debates intelectuais buscando as con-cepções subjacentes de cultura.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
115
ta de cultura” da população brasileira para entender a mensagem televisiva, é
surpreendentemente familiar em relação a toda uma trajetória histórica do
debate sobre cultura no Brasil, se tomarmos como referência alguns marcos
fundamentais.8
Idéias supondo essa “falta” podem ser encontradas em grupos diversos,
desde a época do Brasil colônia, até o século XX, especialmente nos anos
1960, quando são expressas tanto por intelectuais alinhados com o governo
militar, empenhados em pensar um projeto de cultura para o Brasil, como
pelos seus mais ferrenhos opositores. O que me parece haver em comum nesse
período de nossa vida social (permeado de noções como conscientização e
alienação) não é tanto a definição de cultura – que varia – mas a postura do
intelectual, o seu lugar social. O intelectual emerge como figura social confiável
neste período e seu papel parece ligado a este significado até hoje: nas críticas à
televisão, supõe-se que o acesso ao saber letrado proporciona a melhor perspec-
tiva de análise. Em comum, portanto, permanece dos anos 1980 até hoje a
suposição de que o saber letrado é o melhor para embasar uma crítica aos meios.
Sobre as concepções de cultura, há um amplo leque de debates, que abar-
ca desde concepções instrumentais do ponto de vista político e econômico,
até concepções mais amplas e abstratas. Mas há um intervalo no debate: a
discussão nos anos 1980 vai se fazer em reação à concepção de “cultura aliena-
da” das décadas anteriores, mas no meu entender, ela vai se descolar dos ru-
mos que vinha tomando. No debate intelectual, não se fará mais uma discus-
são que relacione cultura e nacional, ou dominantes dominados, em termos
de classes sociais, alienação ou conscientização; cultura no debate intelectual
8 Refiro-me aos debates que em geral tomam como marcos da discussão cultural os escritos deNina Rodrigues e outros precursores das Ciências Sociais no século XIX, a Semana de ArteModerna de 1922, os escritos de Gilberto Freyre em 1930, os debates sobre nacionalismo apartir da década de 1950; bem como os debates dos intelectuais do ISEB, CPC da UNE etambém do CEBRAP que se prolongou dos anos 60 aos anos 1970 e permaneceu como referên-cia nos anos 1980. Ver análise detalhada das concepções expressas em cada um desses período nocapítulo 6 da tese citada. (MAGALHÃES, 2004)
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
116
será considerada plural. (SAHLINS, 1997a 1997b; GEERTZ, 1999). Além
disso, a discussão sobre identidade nacional não se fará predominantemente
no mundo acadêmico, como os autores que trabalhavam com a temática
visualizavam, ela se tornará pública. É também nesse período que as observa-
ções dos antropólogos que discutem a problemática da identidade nacional
incluem cada vez mais referências à indústria cultural, à influência dos meios
de comunicação de massa, e à necessidade de estudos que os contemplem.
(OLIVEN, 1986, p.72; QUEIROZ, 1980, p.68)
Significativamente, é nos anos 1980 que surgem os estudos de recepção
da mensagem (da literatura, dos meios de comunicação de massa, das obras
artísticas, etc.),9 os quais, no entanto, não conseguem adentrar o mar de idéias
sobre autenticidade nacional, cultura alienada, civilização, que circulam por
toda nossa vida social: estão no cinema e nos debates sobre ele, nos livros, nas
escolas e nas ruas, nas praças e botequins. Os estudos de recepção permane-
cem como que ilhados, por serem considerados fora do campo das relações de
poder (mesmo que as levem em conta) e por serem considerados estudos não
suficientemente críticos e até elogiosos dos meios de comunicação de massa.
A discussão sobre cultura em termos instrumentais, como meio de ação,
permaneceu sendo a tônica dos estudos e debates (científicos e coloquiais)
sobre os meios de comunicação de massa. Uma parte dos cientistas sociais
continuou a aplicar essa concepção de cultura no debate sobre os meios,10
enquanto outra parte dedicou-se a estudar cultura de modo mais amplo, dis-
tanciando-se desse campo de estudos (ou considerando-o menor, ou tratan-
9 Refiro-me às abordagens de Ortiz (1988, 1989); Oliven (1986); Leal (1986, 1993); Borelli(1996) e Ramos (1995); Jacks (1987; 1998), entre outros. Sobre uma retrospectiva do quadroem que surgiram os estudos de recepção, ver Magalhães (2004).
10 Refiro-me aqueles cientistas sociais que, munidos de um conceito de cultura mais instrumental,posteriormente apoiaram-se nos frankfurtianos – especialmente em Adorno (1975) e Adorno eHorkheimer (1975) – e resolveram seus dilemas quanto à cultura e relações de poder, passando (ouretomando), no entanto, uma divisão entre “alta” e “ baixa cultura”. Neste trabalho, estou tentandodialogar com o campo crítico aos frankfurtianos (que não podem, por sua vez, ser tomados embloco, mas esta já é outra discussão).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
117
do-a como “discussão de mercado”, na ótica da indústria cultural se reprodu-
zindo, e sobre a qual parece não haver muito a fazer além de denunciar).
Mas o campo de discussões sobre os meios de comunicação de massas
pareceu permanecer dividido: por um lado, as discussões sobre cultura levan-
do em consideração as relações de poder e supondo que os estudos de recep-
ção não o faziam; por outro lado, as análises sobre cultura em geral, de modo
mais amplo e abstrato do que a presença da indústria cultural, ignorando-a ou
colocando-a dentro dessa concepção de cultura mais abstrata. Ou seja: a divi-
são era entre os que estudavam a indústria cultural em termos de dominação
e os que tentavam demonstrar que essa dominação não se fazia de modo tão
avassalador, mas não conseguia se posicionar claramente na crítica aos meios;
e por outro lado estudiosos da cultura que ignoravam (ou desejavam ignorar)
a influência dos meios na discussão sobre o cultural.
Uma exceção às análises aqui apontadas sobre o tratamento da cultura e
do saber letrado no debate intelectual pode ser aquele desenvolvido no campo da
antropologia visual. Neste campo, a relação entre texto escrito e imagem já vem
sendo problematizada há tempo,11 num sentido de questionar a suposta superio-
ridade do texto escrito, e a exclusiva racionalidade na construção do mesmo. A
imagem não é considerada ilustrando o texto escrito, mas um texto visual, am-
bos considerados parte de processos sociais de construção e interpretações. Esta
perspectiva está contemplada no trabalho de pesquisa realizada, pois construo
um capítulo visual de descrição da cultura ijuiense, considerando-o um outro
texto, um outro modo de construir uma narrativa sobre os dados.12
Como a intenção aqui é colocar em perspectiva análises da cultura e do
saber letrado no que apresentam em comum com os dados de campo, explica-
11 Ver, por exemplo, as abordagens de Marc Piault (1995), Etienne Samain (1995),Carvalho da Rocha(1995), Godolphim (1995), Eckert ; Monte-Mór (1999), Eckert e Rocha (2000), entre outros.
12 Refiro-me a dois capítulos de fotos sobre a cidade, sobre o lugar da TV nas casas e sobre modosde ver TV das pessoas pesquisadas, que são parte da tese, além de um vídeo etnográfico, chama-do Não Te Vejo, TV (MAGALHÃES, 2004).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
118
se o motivo de não tê-los colocado nessa abordagem. Mas acredito que o
debate trazido pela pesquisa realizada para a antropologia visual estaria relaci-
onado com a possibilidade das reinterpretações das produções visuais, que
podem estar sujeitas também a processos de gerações de estereótipos distantes
dos objetivos dos produtores.13 Na continuidade, aponto algumas hipóteses
que incluem esta questão das reinterpretações.
4 Reflexões e hipóteses para futuras pesquisas
Estou propondo com este trabalho, uma rediscussão da teoria da recep-
ção de uma perspectiva antropológica, isto é, que seja reafirmada a perspecti-
va da diversidade e da dinâmica cultural (de interpretações, reinterpretações),
pois isto não significa abandonar as relações de poder.14 Não precisamos, para
contemplar as relações de poder, abandonar a perspectiva das releituras. Não
seria este o “centro do debate”. O centro do debate seriam os pressupostos a
respeito do significado do poder (visto como de cima para baixo, com agência
sempre do mais poderoso para o menos poderoso), as reificações realizadas so-
bre a imagem, a mensagem e os meios de comunicação em geral, além da neces-
sidade de rediscutir que conceito de cultura está embasando esta discussão.15
Quando a cultura é considerada plural, construção de práticas e
simbolizações que estão expressas no cotidiano de relações sociais complexas,
então os estudos com grupos populares mostram um dinamismo e uma
criatividade dos sujeitos envolvidos. Quando a cultura é considerada numa
13 Essa questão é discutida por Jay Ruby (1995). A autora aponta que também os filmes etnográficosserão reinterpretados pelos receptores (no caso de sua pesquisa, estudantes vendo filmes nasescolas). Seu estudo nos leva a pensar que também filmes com um conteúdo “antropologica-mente correto” poderão ser reapropriados para a construção de estereótipos.
14 Uma confirmação recente da possibilidade de diferentes interpretações construídas pelos re-ceptores abrirem brechas nos jogos de poder da televisão, foi o sentimento anti-EUA expressoapós o evento 11 de setembro.Ver a respeito Magalhães (2003).
15 Como já está sendo proposto por alguns estudiosos do campo como Mauro Wilton Sousa(1995).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
119
perspectiva instrumental, na ótica de produto da indústria cultural, o proces-
so de comunicação ganha uma dimensão mais estanque e sem agência huma-
na, e os sujeitos de grupos populares são vistos como sem poder e sem cultura,
diante de um poder tão avassalador. O que estou tentando demonstrar neste
trabalho (tentativa que certamente deixa lacunas) é que ambas perspectivas
sobre a cultura estão presentes, muitas vezes de modo concomitante, em vári-
as análises sobre o processo de comunicação na sociedade contemporânea.
Suponho que há uma inversão simbólica no debate sobre o poder dos
meios de comunicação de massa, e mais especificamente sobre o poder da
televisão, desde os anos 1960 até hoje. Esta inversão simbólica aparece quan-
do os grupos populares são responsabilizados pelo “atraso” da cultura brasilei-
ra (não reconhecendo diversidade, peculiaridade, ou criatividade nela, e su-
pondo uma definição de cultura como “alta cultura” e “baixa cultura”) e é
realizada uma extensão dessa crítica à nossa vida social e política, com propos-
tas de “civilizar” a cultura brasileira (suponho que sob a liderança da “cultura
letrada”, a qual permanece com uma forte noção de vanguarda16).
Esta inversão simbólica é realizada quando, a partir de uma suposição de
inexistência (ilegitimidade ou inautenticidade) de uma “cultura popular”, se-
gue-se um corolário de que não há “solução” para o Brasil, enquanto sua
população for “atrasada”; portanto estende-se a suposição de inautenticidade
cultural a toda identidade brasileira. (Note-se que não estou aqui, por minha
vez, supondo que exista uma “cultura popular” autêntica ou inautêntica, ou
uma cultura de elite idem;17 o que estou tentando demonstrar é que os termos
e valores subjacentes ao debate são estes).
Este imaginário aparece quando elaboramos nossas críticas aos meios de
comunicação de massa, mas sobretudo à televisão, e pretendemos lutar por
16 Mesmo com todas as críticas à noção de vanguarda propostas nos debates dos anos 1980.17 Para uma discussão a esse respeito, ver Matta (1994), Vianna (1988 e 1990) e também capítu-
los 1 e 5 de Magalhães (2004).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
120
sua democratização. Uma luta justa, pois no Brasil os meios de comunicação,
desde o seu início, foram sempre muito tutelados pelo Estado e pela iniciativa
privada, que se utilizaram deles para seus projetos políticos e econômicos,
quase sempre ocultando informações. No entanto, este contexto mudou, e
agora o que impera nos meios de comunicação de massa é uma relativa diver-
sidade e fragmentação, além da segmentação de públicos, e um propósito
sempre presente de obter lucros. As empresas de comunicação hoje não são
“fiéis” a nenhum governo e/ou estado (mas parecem bastante fiéis ainda a
uma estrutura social capitalista), nem conseguem esconder por muito tempo
seus vínculos com este ou aquele grupo no poder.
O mundo das comunicações se complexificou: podemos perceber que
muitas das críticas à televisão, no entanto, se dão nas mesmas bases que nas
décadas anteriores. Suponho que há um conteúdo de “esquerda”, de contesta-
ção política na crítica à televisão hoje, sem corresponder necessariamente a
uma posição política e a uma prática de esquerda.
A “crítica à televisão” aqui analisada refere-se ora à falta de cultura da
população para entendê-la, ora ao ocultamento de informações, à aliança nem
sempre revelada ou identificável com grupos do poder, ou ainda ao estímulo
excessivo ao consumo. É uma crítica cultural (certos grupos não possuem
cultura, os problemas da sociedade brasileira devem-se à falta de cultura e ao
perigo que a TV representa neste contexto), uma crítica política (há muito
ocultamento de informações, candidatos favorecidos, a população não perce-
be que a TV manipula) e uma crítica social (crítica ao consumo excessivo, que
poderia ser uma crítica à sociedade de consumo, mas localiza-se na televisão).
Na crítica cultural, surge uma inversão simbólica: acusa-se a população
de não ter cultura ou desqualifica-se a cultura popular. Na crítica política
emerge uma concepção de que a TV ainda é um aparelho ideológico do Esta-
do (ALTHUSSER, 1980) — mas nesse caso também o seriam as escolas e as
universidades e todas as instituições capitalistas e teríamos de reconhecer mais
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
121
eficácia ainda naquelas onde a interação social é mais direta, envolvendo “con-
fiança”,18 sentimento de que os meios em geral, e a televisão em especial, não
desfrutam. Na crítica social há uma combinação das críticas anteriores, e ela
parece dirigir-se ao capitalismo, pois a intenção de ampliar vendas e elevar o
consumo como forma de obter sempre mais lucro é a razão de ser de todas
empresas capitalistas.
A crítica à televisão, nesses termos, não está servindo para caminharmos
rumo à democratização dos meios: ela está deslocada no tempo e no espaço.
Quando a crítica é cultural, a desvalorização da cultura popular e da identida-
de brasileira está imbricada; quando a crítica é política, não apresenta saída;
quando a crítica é social, poderia se dirigir a toda sociedade capitalista, mas se
concentra só na televisão.
Como é uma crítica que (segundo uma das hipóteses explicativas que
arrisco) parece se colocar no “campo da esquerda”, eu poderia dizer que ela é
uma crítica à sociedade capitalista, mas uma crítica que, após a queda do
muro de Berlim, após a União Soviética retornar a ser Rússia, não encontra
um objetivo, não propõe uma alternativa. Que outra sociedade essa crítica
propõe? Sem a utopia que dava sentido à critica da sociedade, a crítica à tele-
visão cai no vazio. Todos a repetem e ninguém lhe dá ouvidos. Todos olham
TV. Olham e julgam que, se não disserem que olham, ou se disserem que não
olham, estarão mais livres para criticá-la. Quando a crítica flui livremente,
revela uma prática constante e especializada de ver TV.
Como no tempo das navegações, as idéias de crítica à TV viajaram dos anos
1960 até hoje quase com a mesma bagagem. Nosso imaginário está prenhe de
concepções que circularam dentro e fora do Brasil nesse período. Quando digo
“nosso imaginário”, estou generalizando um pouco, mas creio que a construção
18 Agradeço a Dejalma Cremonese e Amir Limana pelo debate sobre o conceito de “capital soci-al”, o qual tem como um dos ingredientes fundamentais a “confiança” para poder se acumular.(PUTNAM, 1993 e 1996).
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
122
deste trabalho – que partiu de estudos de etnografia de audiência da televisão
com algumas pessoas de camadas médias, e resgatou uma discussão sobre cultu-
ra brasileira de modo a demonstrar certas conexões entre idéias e práticas em
torno da televisão, da cultura, das relações sociais, compartilhadas por intelec-
tuais e pelas pessoas pesquisadas – demonstrou que é um imaginário que não
está restrito a um grupo de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul.
As concepções acerca da televisão explicitadas pelos pesquisados também
estão entre estudantes universitários, entre jornalistas, entre professores do
ensino médio e fundamental, entre cineastas e artistas, entre militantes de
diversos partidos políticos, entre religiosos de vários matizes, no campo e na
cidade, nas metrópoles e no interior, estão também nas letras de música e nos
filmes. Não encontrei, nesses vários anos de pesquisa, alguém que não fizesse
uma crítica à televisão ou que não a assistisse nunca. Sinto-me autorizada a
generalizar pelo menos o tipo de crítica à televisão. Talvez minhas tentativas
de explicação dos significados dessa crítica é que não possam ser tão generali-
zadas, pois estão marcadas pela escolha tanto de um certo recorte teórico
como empírico, mas espero que sirvam pelo menos para elaborarmos novas
hipóteses no campo dos estudos de comunicação de massa, e para refletirmos
sobre a possibilidade de elaboração de uma outra crítica à televisão hoje.
Uma das hipóteses que arrisco é que precisamos abandonar o termo mídia.
Venho propositadamente falando em meios de comunicação de massas e tele-
visão, procurei não utilizar o termo “mídia”. É que percebi na pesquisa,19 que
quando nos referimos à mídia em geral, a comunicação de massas fica
avassaladora, não há um sujeito concreto que lhe corresponda. Parece um
grande fantasma, distante de nós, sem a agência humana. Poderia dizer que
parece nosso Franknstein moderno, mas mesmo este tem o reconhecimento
19 Especialmente a partir dos Seminários de Teoria Antropológica II, do PPGAS/UFSC, coorde-nado pelos professores Oscar Calavia Saez e Raphael Bastos, a quem agradeço, bem como atodos os colegas com quem pude debater o tema.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
123
de ter sido criação humana, ainda que com resultados inesperados. Assim sem
sujeito, o termo “mídia” revela a reificação que fazemos a respeito dos meios
de comunicação de massa hoje. Se desejarmos lutar por democracia dos mei-
os, precisamos de um sujeito a interpelar. Se exigimos ética e transparência
nas informações e posições defendidas, podemos nos dirigir ao jornalista, ao
publicitário, ao cineasta, ao escritor da telenovela, enfim, a um produtor con-
creto, podemos criticar seu texto, seu filme, sua novela, discordar dele politi-
camente, exigir que revele fontes, etc. Mas se criticamos a mídia em geral, a
quem vamos nos dirigir?
Até agora, a maioria dos estudiosos dos fenômenos da comunicação esti-
veram preocupados com o controle dos meios sobre a sociedade ou como a
sociedade pode controlá-los. Não se tomou ainda o fenômeno do ponto de
vista da diversidade, da variabilidade e da complexidade, para além da pers-
pectiva do controle. Para mim, esta complexidade é da mesma ordem da ex-
plosão urbana: as megalópoles também possuem grupos econômicos podero-
sos tentando controlar o espaço urbano, esquadrinhá-lo, definir traçados, da
mesma forma que os poderosos grupos econômicos que controlam as empre-
sas de comunicação.
Vivemos numa época classificada por alguns autores como a “Era da
Comunicação”, um período em que não só a comunicação é considerada por
muitos como um poder à parte, além do político e econômico, mas também
um período em que a informação e o conhecimento são extremamente valo-
rizados; um período em que, além disso, o volume de informações que circula
é impossível de ser apreendido na totalidade. Num período como este, as
pretensões de democratização dos meios de comunicação de massa, tanto da
propriedade dos mesmos, como a elaboração das mensagens, ou suas múlti-
plas interpretações, são tratados ainda dentro dos ideais iluministas de liberta-
ção. Não há o reconhecimento – que, acredito, se faz necessário – de que o
desenvolvimento das comunicações de massa atingiu um nível em que o con-
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
124
trole total, seja da produção da mensagem, seja do receptor, seja do processo,
é impossível.
Um caminho interessante de análise do papel da televisão na sociedade
contemporânea poderia ser aquele semelhante ao adotado pelos cientistas so-
ciais que se debruçaram sobre os estudos da complexidade da metrópole mo-
derno-contemporânea. Autores como Simmel (1979), Baudelaire e outros,
ressaltaram a fragmentação como uma característica da vida na metrópole, e a
impossibilidade de apreender a totalidade da vida urbana, tanto para o ho-
mem mergulhado em seu cotidiano, como para o analista que procura enten-
der essa complexidade. Simmel propôs, para entender a fragmentação na vida
metropolitana, a percepção da atitude blasé do indivíduo que vive na metró-
pole: na impossibilidade de se relacionar com a totalidade, ele seleciona infor-
mações, relações, e vive dentro desses “recortes”. (SIMMEL, 1979). Benja-
min (1975) referiu-se ao flaneur de Baudelaire, como aquele que flui e frui no
espaço urbano. Certeau (1994) propôs o estudo dos traçados urbanos feitos
pelas pessoas que neles transitam com intenções diferentes de seus planejadores,
como uma das possibilidades de se entender ou reconstituir trajetórias nesse
espaço complexo. Todos esses autores já ressaltaram a fragmentação metropo-
litana, a impossibilidade de apreender a totalidade desse universo, tanto para
o homem mergulhado em seu cotidiano como para o analista. Está faltando
uma teoria que aplique a mesma lógica e tenha a mesma postura diante da
complexidade do mundo da comunicação.
As hipóteses aqui levantadas pretendem contribuir para esta futura ela-
boração, tarefa que certamente deverá envolver não só estudos
transdisciplinares, mas também uma profunda reflexão no campo da teoria
do conhecimento, sobre os pressupostos epistemológicos contidos tanto na
construção das mensagens e imagens, e em sua recepção, em contextos cultu-
rais específicos, quanto em sua análise.
Há um alvo na sociedade atual, que garante a quem lhe dirige dardos,
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
125
estar contra o sistema e fazer parte de uma comunidade de sentido: esse alvo
é a televisão. A comunidade de sentido na qual se ingressa quando se emite
certo tipo de crítica à televisão parece definir um novo tipo de pertencimento,
mais fluido, e ao mesmo tempo representa uma garantia de pelo menos algum
acordo em torno da análise dos problemas sociais contemporâneos. E aqui
finalmente vislumbro um grande sentido positivo, que articula a análise pro-
posta sobre a crítica à TV: talvez não seja em torno da TV que as pessoas se
reúnem hoje, e sim um certo modo de ver a TV é que parece servir de união,
e pode estar servindo para alimentar um outro imaginário: a busca da possibi-
lidade de ainda construir algum consenso na sociedade contemporânea.
Reflexions on television and “lack of culture” in BrazilABSTRACT
This article approaches the meaning of television in contemporary society,based on an ethnographic audience research carried out with people belongingto middle class families in a medium-sized city, in the countryside of Rio Grandedo Sul, Brazil. The people who were questioned in that research see TV froma socially critical point of view, which supposes that other groups do not haveculture enough in order to watch it in a critical way. The connections amongthe suppositions of the participants, as well as a certain intellectual debate,are important in order to try to identify the reasons for this critical outlook toremain so strong, even in a context of cultural diversity and cultural plurality.Both perspectives, taken from the studies of reception and the peopleresearched are brought together in this article, seeking to point out that thereare some shared assumptions about the superiority of the literate culture,even when one considers the receiver as the subject in the communicationprocess. Eventually, the article outlines some consequences of the currentdebate and hypotheses for new researches.
KEYWORDS: Middle class families. Television. Studies of reception. Brazilianculture. Culture.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
126
Reflexiones sobre la Televisión y la “falta de cultura” enBrasilRESUMEN
Este artículo aborda el significado de la televisión en la sociedadcontemporánea, a partir de una pesquisa de etnografía de audiencia realizadacon personas pertenecientes a camadas medias de una ciudad de medio portede interior del Rio Grande do Sul, Brasil. Las personas pesquisadas veen latelevisión a través de una crítica social que supone que otros grupos no posuancultura para verla de modo crítico. Las conexiones entre las suposiciones delos pesquisados y un cierto debate intectual son importantes para intentaridentificar las razones de esta crítica se mantener fuerte, mismo en un contextode diversidad y pluralidad cultural. Las perspectivas de los estudios de recepcióny de las personas pesquisadas son aproximadas en este artículo, en una reflexiónque intenta apuntar que existen algunos presupuestos compartidos sobre lasuperioridad de la cultura letrada, mismo cuando se considera el receptorcomo sujeto en el proceso de comunicación. Por fin, el artículo esboza algunasconsecuencias del debate actual e hipótesis para nuevas pesquisas.
PALABRAS-CLAVE: Camadas medias. televisión. Estudios de recepción.Cultura brasileña. Culturas.
Referências
ADORNO, Theodor. O Fetichismo da música e a regressão da audição. In:BENJAMIN, Walter … [et al.] Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975.(Os Pensadores)
ADORNO, Theodor ; HORKHEIMER, Max. O Conceito de Iluminismo. In:BENJAMIN, Walter … [et al.] Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975.(Os Pensadores)
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Lisboa:Presença; São Paulo: Martins Fontes, 1980.
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura popular na Idade Média e no Renascimento: ocontexto de François Rabelais. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Ed. UnB, 1987.
BENJAMIN, Walter ...[et al.] Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975.(Os Pensadores)
BORELLI, Silvia. Ação, suspense, emoção: literatura e cultura de massa no Brasil.São Paulo: EDUC: Estação Liberdade,1996.
BORELLI, Silvia ; PRIOLLI, Gabriel. A Deusa ferida: por que a Rede Globo não émais a campeã absoluta de audiência. São Paulo: Summus, 2000.
CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ:Vozes, 1994.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
127
ECKERT, C. ; MONTE-MÓR (Orgs.). Imagem em foco: novas perspectivas emAntropologia. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1999.
ECKERT, C. ; ROCHA, A. L. Os Jogos da memória. Ilha: revista de Antropologia,Florianópolis, v.2, n. 1, dez. 2000.
GEERTZ, Clifford. Os usos da diversidade. Horizontes Antropológicos, PortoAlegre, ano 5, n. 10, 1999.
GINSBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiroperseguido pela Inquisição. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
GODOLPHIM, Nuno. A fotografia como recurso narrativo: problemas sobre aapropriação da imagem enquanto mensagem antropológica. HorizontesAntropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, jul. 1995.
HOBSON, Dorothy. Housewives and the mass media. In: HALL, Stuart (Org.).Culture, media, language. London: Hutchinson, 1980.
JACKS, Nilda. Histórias de família e Grounded Theory. In: ENCONTROANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO (7.: 1998: São Paulo). Anais. São Paulo:PUC, 1998.
______. Mídia nativa: um estudo sobre cultura regional do RS e sua relação com aindústria cultural. 1987. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes,Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.
KAPLAN, E. Ann. Regarding Television: critical approaches – an antology. LosAngeles, Cal.: University Publications of America, The American Film InstituteMonograph Series, 1983.
LEAL, Ondina Fachel. Etnografia de audiência: uma discussão metodológica. In:FONSECA, Cláudia (Org.). Fronteiras da Cultura. Porto Alegre, Ed. Universidade/UFRGS, 1993.
______. A Leitura Social da Novela das Oito. Petrópolis: Vozes, 1986.
LOPES, Maria Immacolata de. Mediações na recepção: um estudo brasileiro dentrodas tendências internacionais. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃONACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMCOMUNICAÇÃO (7.: 1998: São Paulo). Anais. São Paulo: PUC, 1998
MAGALHÃES, Nara. O Povo sabe votar: uma visão antropológica. Petrópolis:Vozes; Ijuí, RS: UNIJUÍ, 1998.
______. Televisão, uma vilã na sociedade contemporânea – um estudo sobre modosde ver (a) TV de pessoas pertencentes a camadas médias. 2004. Tese (Doutorado)—Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal deSanta Catarina, Florianópolis, 2004.
______. Estudos de recepção e o sentimento anti-EUA após o evento 11 desetembro. In: COLLOQUE INTERNATIONAL POLIQUES PUBLIQUES,PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE, nov. 2003, Ijuí,RS. [Anais...] Ijuí, RS:UNIJUÍ, Internationale des Sociologues de Langue Française, 2003.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
128
MARTIN-BARBERO, Jesús. América Latina e os anos recentes: o estudo darecepção em comunicação social. In: SOUZA, M. W. Sujeito, o lado oculto doreceptor. São Paulo: Brasiliense, 1995.
______. Dos Meios às Mediações. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 1997.
MATTA, Roberto da. Treze pontos riscados sobre a cultura popular. AnuárioAntropológico, Rio de Janeiro, 1994.
OLIVEN, Ruben. Cultura Brasileira e Identidade Nacional (O Eterno Retorno). In:MICELI, Sérgio (Org.). O que ler na ciência social brasileira 1970 – 2002. SãoPaulo: ANPOCS, Sumaré; Brasília, DF: CAPES, 2002
______. As metamorfoses da cultura brasileira. In: ______. Violência e Cultura noBrasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986, pp. 61-73.
______. A Parte e o Todo. Petrópolis: Vozes, 1992.
ORTIZ, Renato. A Consciência Fragmentada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
______. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985.
______. A Moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1988.
ORTIZ, R. BORELLI, S.; RAMOS, J.M. Telenovela, história e produção. SãoPaulo: Brasiliense, 1989.
PIAULT, M. H. Espaço de uma antropologia audiovisual. In: ECKERT ;MONTE-MÓR (Orgs.). Imagem em foco: novas perspectivas em Antropologia.Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1999.
_____. L’exotisme et le cinéma ethnographique: la ruptura de la croisière coloniale.Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, jul. 1995.
PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia, a experiência da Itália Moderna.RJ: FGV, 1996.
______. La tradizione civica nelle regioni italiani. Milano: Mondato, 1993.
QUEIROZ, Maria Izaura Pereira de. Cientistas Sociais e o autoconhecimento dacultura brasileira através do tempo. Cadernos CERU, São Paulo, n. 13, 1980.
RAMOS, José Mario Ortiz. Televisão, publicidade e cultura de massa. Petrópolis,RJ: Vozes, 1995.
REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro:FGV, 2002.
REZENDE, Ana L. M. Televisão: babá eletrônica?. In: PACHECO, Elza (Org.).Televisão, criança, imaginário e educação. Campinas, SP: Papirus, 1998.
ROCHA, Ana Luiza Carvalho da. Antropologia das formas sensíveis: entre o visívele o invisível, a floração de símbolos. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano1, n. 2, jul. 1995.
RUBY, Jay. The Viewer viewed: the reception of ethnographic films. In:CRAWFORD, Peter I, ; HAFSTEINSSON, Sigurjon B. The construction of theviewer. Aarhus: Intervention Press, 1995. Disponível em: <http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/viewer.html>. Acesso em 2004.
Em
Qu
est
ão
, P
ort
o A
leg
re,
v.
12
, n
. 1
, p
. 1
09
-12
9,
jan
./ju
n.
20
06
.
129
SAHLINS, M. O “Pessimismo Sentimental” e a experiência etnográfica: por que acultura não é um objeto em via de extinção (Parte I). Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n.1, p. 41-73, 1997a.
______. _______ (Parte II). Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 103-150, 1997b.
SALWEM, Michael ; DUPAGNE, Michel. The Third-Person Effect. Perceptions ofde Media’s Influence and Immoral Consequences. Communication Research,Thousand Oaks, Calif , v.26, n.5, p. 523-549, Oct. 1999.
SAMAIN, Etienne. “Ver” e “dizer” na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski ea fotografia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, jul. 1995.
SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Muito além do Jardim Botânico: um estudo sobrea audiência do Jornal Nacional da Globo entre trabalhadores. São Paulo: Summus,1985.
SIMMEL, George. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio (Org.). Ofenômeno urbano. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.
SOUSA, Mauro Wilton (Org.). Sujeito,o lado oculto do receptor. São Paulo:Brasiliense, 1995.
STAM, Robert. Television news and its spectator. In: KAPLAN, Ann. Regardingtelevision: critical approaches – an antology. Los Angeles, Cal.: UniversityPublications of America, The American Film Institute Monograph Series, 1983.
TRAVANCAS, Isabel Siqueira. O Mundo dos jornalistas. São Paulo:Summus,1993.
TRAVANCAS, Isabel S. ; FARIAS, Patrícia. Antropologia e Comunicação. Rio deJaneiro: Garamond, 2003.
TURNER, Victor. Social Drams and Ritual Metaphors. In: ______. Dramas,Fields and Metaphors. New York: Cornell University Press, 1974.
VIANNA, Hermano. Funk e cultura popular carioca. Estudos Históricos, Rio deJaneiro, v. 3, n. 6, p. 244-253, 1990.
______. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1988.
______. Ternura e atitude blasé na Lisboa de Pessoa e na Metrópole de Simmel. In:VELHO, Gilberto. Antropologia urbana, cultura e sociedade no Brasil e emPortugal. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1999.
WINKIN, Yves. A Nova comunicação: da teoria ao trabalho de campo. Campinas,SP: Papirus,1998.
Nara MagalhãesPesquisadora pós-doutoranda associada aoNúcleo de Antropologia e Cidadania (NACI)do PPGAS/UFRGSE-mail:[email protected]