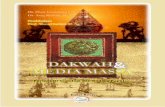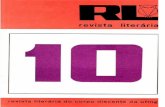Questões de literatura de massa e crítica literária
-
Upload
anhanguera -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Questões de literatura de massa e crítica literária
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
431
QUESTÕES DE LITERATURA DE MASSA E CRÍTICA LITERÁRIA
Renato de Oliveira Dering1
RESUMO: O estudo que segue articula crítica literária às manifestações da literatura de
massa, levantando indagações e proposições acerca do fazer literário e de seus
receptores. Deste modo, o objetivo da pesquisa parte da proposta de questionar os
estudos literários, apontando levantamentos acerca do sujeito-leitor, estudos culturais e
indústria cultural.
Palavras-chave: literatura de massa; crítica literária; literatura contemporânea; best-
sellers.
O século XX ficará na história (ou nas histórias) como um século infeliz. Alimentado e treinado pelo pai e pela mãe, o andrógino século
XIX, para ser um século-prodígio, revelou-se um jovem frágil, dado
às maleitas e aos azares. Boaventura Sousa Santos
Muito se comenta sobre o número aglomerado de livros que entraram no
mercado nas últimas décadas, os famosos e rentáveis títulos denominados, grosso modo,
como best-sellers. Há um conceito já cristalizado sobre seu passado, presente e futuro,
que se volta pra uma tradição de literatura de mercado e do avanço tecnológico. Esse
conceito generalizado e passível de questionamentos é inviável para o estudo literário,
que deve englobar não apenas o cânone, mas abrir portas – ou janelas – para outras
vertentes a literatura marginal.
Diversos autores percebem e concebem o best-seller apenas como uma
mercadoria de vínculo meramente comercial, além de ser voltada para um consumismo
massificado, não conseguindo ultrapassar essa barreira econômica. Contudo,
percebemos em primeira instância um erro recorrente que se estabelece na tradução e
1 Mestre em Letras (UFV). Professor da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí. Jataí – Brasil.
[email protected]. http://lattes.cnpq.br/7891833942208165.
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
432
atribuição de que toda produção popular ou de massa seja considerada um best-seller,
sem preocupações de nomenclatura ou analítica, em grande maioria.
O escritor Manuel Villar Raso define o best-seller como "um produto fruto da
moda, que vende como perfume ou modelo de carro"2. Porém, o que apontamos é que
se for um perfume ou modelo de carro da moda, esse best-seller pode ser dado como um
Chanel ou Volskwagen, que existe já faz um bom tempo no mercado se re-configurando
e fazendo sucesso desde o seu surgimento. Logo, essas colocações, apesar de refletirem
o pensamento de grande parte dos estudiosos mais conservadores e do senso comum
universitário, não traduzem toda a realidade dessas obras literárias, que ainda carecem
de estudos.
De fato, sua marca econômica é inegável, principalmente por serem as
Revoluções Industriais responsáveis por sua tamanha visibilidade. Contudo, há de se
pensar, em primeiro plano, que a literatura de massa e o best-seller não se tratam de
nomenclaturas sinônimas. Isto é, enquanto o primeiro termo se refere a uma vertente
literária veiculada para um grande número de sujeitos históricos, sociais e dialógicos, o
segundo se relaciona apenas aos livros que são “mais vendidos”. É conseqüência da
literatura de massa, em sua maioria, que ela atinja o status de best-seller, todavia o
processo inverso ainda é muito questionável, pois neste caso, a ordem dos fatores altera
e muito o resultado dessa problemática. A relação pode ser direta, mas não é
simplificada.
De forma analógica, uma das instâncias que viabilizam e justificam os estudos
da literatura de massa, ainda que veiculados ao valor mercadológico, se referencia aos
folhetins dos séculos anteriores. Os folhetins eram contínuas histórias contadas em
jornais de grande circulação, tendo seu preço acessível, justamente para atingir boa
parcela da população consumidora desses periódicos. A cada dia um novo capítulo
dessa história era publicado, o que fazia com que o leitor comprasse o próximo
exemplar do jornal (SODRÉ, 1985).
2 Disponível em <http://www.pr.terra.com/tecnologia/interna/0,,OI307860-EI1538,00.html> Acesso: 12
nov 2012.
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
433
Nomes como Alexandre Dumas, na Europa e José de Alencar, no Brasil,
escreveram histórias em jornais, que posteriormente foram publicadas em livros. O
próprio ícone da literatura brasileira, Machado de Assis, teve histórias folhetinescas
transformadas em livros, como A mão e a luva. Ambas as instâncias supracitadas se
voltam a um grande público leitor, contudo, é evidente que devemos desmembrar os
contextos históricos e as necessidades de cada época. A necessidade de hoje está
emaranhada ao avanço tecnológico e a ampla visibilidade da arte nas diversas mídias.
Mas, então, por que esses nomes não são considerados escritores de literatura
de massa, se escreviam, também, para as massas consumidoras de jornais? Portanto, o
que é considerado literatura?
É certo, de que apesar dos clássicos gregos e seus sucessores ainda estarem em
voga nos estudos acadêmicos, a sociedade de consumo adotou novos modelos para
perpetuar a literatura e as demais artes, e esse fator se dá principalmente pela evolução
industrial, como já percebemos. Não culpemos, portanto, as novas mídias por essa
mudança “brusca”. A própria perspectiva do que se trata de produção e reprodução
literária foram tomando outros rumos em conformidade com a sociedade. Primeiro, para
que não desaparecessem juntamente ao turbilhão de acontecimentos evolutivos dessa
época, depois, para também poderem se fixar nesse novo re-arranjamento sócio-
histórico-cultural.
Contudo, a literatura, bem como as demais artes, proveniente dessa nova
configuração, começaram a adquirir um valor pejorativo: produto de mercado. Mas
como não ser de mercado se toda produção e reprodução – artística ou não – pós
Segunda Grande Guerra se tornou um produto econômico, uma vez que a sociedade do
século XX e XXI é extremamente capitalista? E este atributo não é de todo ruim, como
os mais pessimistas acreditam! Entendemos, portanto, que independente da abordagem
que se faça de uma obra artística, é preciso cautela nas falácias e uma precisa análise
que desconsidere as visões generalizadas ou conservadoras da literatura.
Sobre literatura, destacamos, portanto, um dos primeiros conceitos
estabelecidos por Terry Eagleton (1983) em seu livro Teoria da Literatura: uma
introdução. Inicialmente, o teórico retoma a ideia que a literatura é escrita imaginativa
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
434
que não tem função em ser verídica, propondo, em seguida, que o emprego da
linguagem é diferenciado, peculiar, pois ela transforma e intensifica a linguagem
comum e se afasta do cotidiano. Temos, deste modo, que a literatura não tem a
obrigação – nem intenção – em ser imediatista, objetiva. Assim sendo, podemos
conceber a literatura como uma escrita que por alguma razão seja valorizada, não se
preocupando com o imediatismo e se afastando do corriqueiro. Logo, a literatura de
massa poderia ser desconsiderada como arte?
Para isso, devemos lembrar, também, que os juízos de valores presentes na
literatura e nas demais artes são historicamente variáveis, pois mantém relações com as
ideologias sociais, portanto são mutáveis e refletem a necessidade de uma determinada
época. Isto é, “toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em
consonância com as idéias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma
situação histórica particular” (FISCHER, 1977, p. 17). Logo, como apontamos, os
juízos de valores atribuídos à literatura e as demais artes não são regras fixas e
estanques, e para atingir certa identificação é preciso (re)construí-los em cada sujeito. A
arte, talvez seja, a responsável por essa busca e construção.
É claro que o homem quer ser mais do que apenas ele mesmo. Quer
ser um homem total. Não lhe basta ser um indivíduo separado; além da parcialidade da sua vida individual, anseia uma “plenitude” que
sente e tenta alcançar, uma “plenitude” de vida que lhe é fraudada pela
individualidade e todas as suas limitações (FISCHER, 1977, p. 12,
grifo do autor).
Portanto, não é apenas fatores como linguagem que tornam uma obra literária,
contudo a função que essa obra exerce na sociedade e a força que ela adquire ao atingir
o sujeito-leitor. O leitor, como sujeito que recebe a obra literária, é quem a faz
perpetuar. Seja aquele leitor que busca a leitura por hábito ou que simplesmente compra
um livro pela capa, é ele o responsável por sua movimentação. Leitores são leitores,
independente de sua posição social ou de gosto literário.
Uma das observações a serem levantas está na possibilidade desse sujeito-leitor
de literatura de massa buscar nessas obras valores plenos que se perderam dentro da
literatura, ou de que as obras consagradas já não conseguem suprir, devido aos
movimentos sócio-culturais provenientes da segunda metade do século XX. A
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
435
sociedade criou novos moldes e possibilidades, e essas novas modulações repercutiram
no leitor e em sua produção. É preciso que tenhamos a consciência de que “[...] as
identidades nacionais não são coisas com as quais nascemos, mas são formadas e
transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48). Elas se alteram, não
são estanques.
Um dos fatores perceptíveis da sociedade de hoje é o seu teor consumista. Seja
por livros ou fast-food, o consumismo é uma característica da sociedade capitalista dos
séculos XX e XXI. Mas essa característica não esgota a totalidade dos atributos dessa
sociedade, muito menos os diminui. Se não fosse esse poder de tornar a literatura
visível, talvez ela já não tivesse força alguma. Logo, essa é apenas uma e não a
concentração de todas as outras possibilidades desse novo modelo social. Isto, pois a
“[...] cultura popular é uma das fontes de uma cultura nacional, mas não a fonte”
(COELHO, 2003, p. 20). Seria um equívoco, portanto, afirmar que toda literatura de
massa tem por objetivo um público receptor passivo e consequentemente o consumo
desregrado e desmedido, podendo indagar aqui, inclusive, a função da própria literatura
e a opacidade do leitor. A literatura é ou não para ser consumida por sujeitos-leitores?
Para definir, então, uma obra como literária ou não, deve-se pontuar como ela
se constitui, o que ela representa, bem como os sujeitos que a recebem. É preciso, deste
modo, tomar a devida ciência das possibilidades reveladas pelo texto, considerando
aspectos extrínsecos e intrínsecos a obra. Não é questão de tornar a literatura de massa
um cânone, ou um tipo de literatura culta, sequer reduzi-la a uma literatura imprópria,
indigna. Contudo, é constatar sua presença no percurso da história da literatura. “Boa”
ou “ruim” ela faz parte desse percurso histórico literário.
Deve-se prender, no entanto, a posição de que cada obra é diferenciada das
demais, e, assim como Conan Doyle é conhecido por Sherlock Holmes, também é
desconhecido como escritor que se dedicava aos romances históricos (SODRÉ, 1985).
A massificação da qual é trabalhada para reduzir, de maneira geral, quase todas as
literaturas populares, faz parte de uma vertente da sociedade que se industrializou e
passa por constantes processos de mudança. A mudança é uma faca de dois gumes, e
muitos têm medo pra que lado ela vai cortar. Contudo, essa dicotomia entre alta e baixa
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
436
cultura/literatura/arte devido a processos mercantis trata-se de uma das falácias mais
enganosas atualmente.
A literatura contemporânea (e aqui estamos nos referenciando às produções
posteriores a década de 1950) que sofreu influência dos mecanismos de industrialização
parece ser deixada de lado, sendo contrastada apenas com as historicamente aceitas ou
institucionalizadas como tal, o que deixa transparecer o pré-conceito de uma obra sobre
outra. Deste modo, desconsidera-se as peculiaridades de cada uma, subjulgando-as,
muitas vezes, sem o devido debruçar literário. “Ser simplesmente uma cultura de algum
tipo já era um valor em si; mas não faria mais sentido elevar uma cultura acima de outra
[...]” (EAGLETON, 2005, p.27). Do mesmo modo em que não há como dizer que uma
cultura é superior ou inferior, não é plausível afirmar a existência de uma literatura culta
e outra inferiorizada, ainda mais se não houve parâmetros norteadores. Pondera-se,
então, na distinção entre obras literárias e de seus modos de apresentação para a
sociedade, que, por sua vez, se diferem. Logo, são distintos, não melhores ou piores.
Essa precaução deve-se ao fato de pontuar as diferenças culturais, temporais,
espaciais e de produção existente entre as literaturas. “Para os pós-modernistas, em caso
contrário, modos de vida totais devem ser louvados quando se trata de dissidentes ou
grupos minoritários, mas censurados quando se trata das maiorias” (EAGLETON, 2005,
p.27). O que acontece, de maneira geral, é elitizar o que é produzido pela(s) minoria(s) e
desconsiderar o popular, porém, não se deveria excluir a existência das diferenças, pois
“[...] o estudo da cultura contribui no combate a preconceitos, oferecendo uma
plataforma firme para o respeito e a dignidade nas relações humanas” (SANTOS, 2003,
p. 9). Aceitar a manifestação de outras culturas, que não a destinada à elite, é o primeiro
passo para verificar como ela se porta na sociedade e suas efetivas contribuições.
Contudo, é possível aceitar a Saga Crepúsculo ou Harry Potter como
literatura? Compagnon (2001) afirma que, de modo geral, poderia se conceber literatura
como todo impresso ou manuscrito que há nas prateleiras de bibliotecas. Por este
parâmetro sim, mas talvez por outros não! Mas não se pode prender literatura ou obras
literárias a conceitos generalizados, por essa razão nós defendemos uma leitura crítica e
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
437
analítica dessas e das demais obras veiculadas à massa, por entender que se trata de um
anseio literário social que vem ganhando força com o advento da indústria cultural.
Não é plausível afirmar que apenas por adentrar a indústria cultural, uma
determinada obra perca seu valor. Essas obras estão vinculadas ao mercado industrial,
sem dúvida, e por essa razão presas ao conceito da massificação e consumo fácil
(KOTHE, 1994), o que justificaria a definição de uma literatura de mercado. Mas tal
afirmação põe em risco o próprio valor das literaturas.
Para tanto é preciso refletir se o preceito de vendagem revela a obra como
literária ou simplesmente mercadoria de compra e venda, ou seja, até que ponto essa
cultura pode ser a representação da cultura literária popular e não mera produção de
uma indústria cultural?
Deste modo, percorrer por essa linha de alta vendagem e afirmar a literatura
de massa como inferior é generalizar tudo o que é produzido por essa massa, é cair em
uma falácia viciosa. Ainda, é desconsiderar certos tipos de culturas e esquecer que a
massa também é produtora de uma realidade cultural. “Cada cultura é o resultado de
uma história particular, isso inclui também suas relações com outras culturas, as quais
podem ter características bem diferentes” (SANTOS, 2003, p. 12).
Ocorre, no entanto, a desconsideração da cultura de massa, logo, a condição
de não literárias às obras que provém dessa cultura é uma das conseqüências. Temos,
portanto, que “o que importa pode não ser a origem do texto, mas o modo pelo qual as
pessoas o consideram” (EAGLETON, 1983, p. 9). Logo, afastar-se de conceitos já
estabelecidos sem uma reflexão concisa é essencial para realizar uma análise desse porte
e que gera tanta discussão. Pois não podemos conceber que “[...] a literatura é uma
inevitável petição de princípio. Literatura é literatura, aquilo que as autoridades (os
professores, os editores) incluem na literatura” (COMPAGNON, 2001, p. 46). É preciso
atentar para o perigo das imposições arbitrárias do que seja ou não literário, que põe em
risco o vínculo entre a obra e quem a torna conhecida, o sujeito-leitor.
Para que a própria crítica e teoria literária possam abrir esse campo, é
preciso que se continue acreditando nas virtudes da literatura e na leitura literária
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
438
(PERRONE-MOYSÉS, 2000) e por assim dizer, que estes (críticos, teóricos,
professores...) vejam a literatura em consonância com seu tempo histórico e cultural.
Por isso chamamos a atenção para a importância dos estudos referentes ao fenômeno da
literatura e cultura de massa.
Precisamos entender, portanto, que o processo de leitura surge na interação
dinâmica entre o leitor e o texto, contudo é impossível afirmar que toda a apreensão do
texto se dará em primeira instância. O sujeito, como ser sócio-histórico, vai constituindo
seu repertório e o perfazendo a cada nova leitura (ISER, 1999). Por isso o texto não
pode ser visto como algo acabado nele mesmo, finito, ou ser compreendido apenas por
quem o faz ou ativa (autor ou leitor). Isto é, um texto não é uma regra clara e objetiva,
no qual tudo se encontra, “um texto, tal como aparece na sua superfície (ou
manifestação) lingüística, representa uma cadeia de artifícios expressivos que o
destinatário deve actualizar” (ECO, 1993, p. 53, grifo do autor). Por isso temos que “a
obra de arte deve apoderar-se da platéia não através da identificação passiva, mas
através de um apelo à razão que requeira ação e decisão” (FISCHER, 1977, p. 15). E o
responsável por essa interação é o sujeito-leitor.
É o sujeito que carrega em si ideologias que permitem ir além da
passividade, seja na literatura popular ou na de marcado. Uma vez que o discurso é a
materialização de ideologias, pode-se afirmar que o texto é a materialização do discurso.
Essa relação de sentidos que se estabelece entre leitor e obra é dialógica. O leitor, com o
poder de eleger o que quer abstrair da obra, sai do consenso de passividade, pois sempre
interage com a obra (ORLANDI & RODRIGUES, 2006). Portanto, “a totalidade se
concretiza na medida em que o leitor ocupa a posição previamente esboçada, cria
representações e constitui o sentido do texto” (ISER, 1999, p.66).
Mas como relacionar indústria cultural, cultura de massa e “best-seller”?
Qual é o rumo da pós-modernidade literária? Respondemos a esses questionamentos
observando que a pós-modernidade está se concretizando aos poucos e, talvez, já até
estejamos passando por ela sem dar o devido crédito. Isso ocorre, principalmente, por
estarmos abitolados a uma ideia de encontrar na literatura contemporânea um tipo de
literatura que já não é mais a mesma de antes. As artes perderam as rédeas de outrora,
Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 12 - setembro de 2013 - Volume II
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br n. 12 - setembro de 2013
439
e isso não é ruim! É preciso que se adentre ao processo sócio-histórico e cultural que se
faz presente para que se possa compreendê-lo. Logo, a pergunta não é como se dará a
relação entre indústria, literatura e cultura de massa, porém é identificar por que A dama
das camélias ou Senhora é melhor ou pior que Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Que
parâmetros utilizaremos para isso? Negar qualquer tipo de literatura é promover o
declínio da sociedade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 2003.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria. Literatura e senso comum. Trad.
Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São
Paulo: Martins Fontes, 1983.
_________________. A ideia de cultura. Trad. Sandra Castello branco. São Paulo:
UNESP, 2005.
ECO, Umberto. Leitura do Texto Literário – Lector in fabula. Lisboa, Presença, 1993.
FISCHER, Enerst. A necessidade da arte. Trad. Leandro Konder. Rio de Janeiro: Zahar,
1977.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva
e Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. Johannes
Kretscmer. São Paulo: Editora 34, 1999.
KOTHE, Flávio Rene. A narrativa trivial. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1994.
ORLANDI Eni P. e RODRIGUES, Suzy Lagazzi. Discurso e Textualidade. Campinas:
Editora Pontes, 2006.
PERRONE-MOISES, Leyla. Inútil Poesia e outros ensaios breves. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura? São Paulo: Brasiliense, 2003.