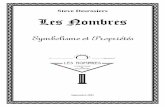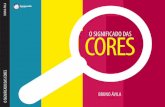PSICÓLOGOS NO LABIRINTO DAS ACUSAÇÕES
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PSICÓLOGOS NO LABIRINTO DAS ACUSAÇÕES
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
SOCIAL
CURSO DE MESTRADO
MARCIA FERREIRA AMENDOLA
PSICÓLOGOS NO LABIRINTO DAS ACUSAÇÕES
UM ESTUDO SOBRE A FALSA DENÚNCIA DE ABUSO SEXUAL DE PAI CONTRA
FILHO NO CONTEXTO DA SEPARAÇÃO CONJUGAL
Rio de Janeiro
Junho, 2006
ii
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
SOCIAL
CURSO DE MESTRADO
MARCIA FERREIRA AMENDOLA
PSICÓLOGOS NO LABIRINTO DAS ACUSAÇÕES
UM ESTUDO SOBRE A FALSA DENÚNCIA DE ABUSO SEXUAL DE PAI CONTRA
FILHO NO CONTEXTO DA SEPARAÇÃO CONJUGAL
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Social da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para
obtenção do Título de Mestre em Psicologia.
Orientador: Profª. Drª. LEILA MARIA TORRACA DE
BRITO
Rio de Janeiro
Junho, 2006
iii
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou o címbalo que retine. Mesmo que eu tivesse o Dom da profecia, e
conhecesse todos os mistérios e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se
não tiver caridade, de nada valeria! A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa.
Não é arrogante. Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa; tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão,
o dom cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era
criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente,
mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade - as três. Porém a
maior delas é a caridade. I Cor, 13, 1 a 13
iv
Agradecimentos
É com respeito e profunda gratidão que dedico essas páginas a meus familiares,
amigos, professores, colegas de profissão e a pais e filhos que se identificam com este
trabalho. A homenagem que vos faço é sincera e humilde, com a esperança que possa ressoar
na alma de cada um.
“Deus nosso pai, vós que sois todo poder e bondade. Dai a força aquele que passa
pela provação, a luz aquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a
compaixão e a caridade. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança
o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade
senhor para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a
vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a
esperança e a fé”.
Professora e querida orientadora Leila Maria Torraca de Brito, a quem muito
admiro e que desde o início foi um exemplo de dedicação, seriedade e amor pelo trabalho.
Sou lhe especialmente grata por todo o apoio à minha formação profissional e pela
generosidade com a qual me acolheu durante esses anos que nos permitiu criar vínculos de
confiança e amizade.
Professora Maria Euchares de Senna Motta, pela pronta aceitação em contribuir
com sua experiência e conhecimento valorosos às minhas reflexões.
Professor Jorge Coelho Soares, reconhecido pela gentileza das palavras e dos gestos,
sinto-me honrada com a sua participação e interesse em apreciar meus estudos. Esteja certo de
que é com imensa satisfação que o recebo como um colaborador de conhecimento sofisticado
na minha trajetória de aprendizado.
Professora Lidia Levy, por sua disposição em participar desse momento especial.
Professores do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, pela disposição
e coragem que é ensinar nesse país, sou-lhes grata pelas reflexões que contribuíram para
ampliar meu horizonte.
CAPES, pelo precioso apoio financeiro que me possibilitou investir nesse projeto de
vida.
v
Meu amado companheiro e esposo André, que reconhece, mesmo com poucas
palavras, o melhor de mim, sou-lhe profundamente grata por sua presença acolhedora e pela
compreensão no momento em que eu mais precisava.
Meu lindo filho Vitor, que vem me ensinando e desafiando, todos os dias, a ser uma
pessoa cada vez melhor.
Meus pais de corpo e alma Clarice e Cesar Augusto e imãos Marcus Vinicius e
Cesar Henrique e cunhada Luciana, pela delícia que é receber seus sorrisos tão repletos de
simpatia e amor em todos os nossos encontros familiares.
Meus pais de alma Maria Izabel e Sérgio e cunhados Marcelo e Rodrigo e suas
companheiras Alexandra e Renata, pela amizade e pela certeza de poder contar com gestos
ou palavras de apoio nas horas alegres e, principalmente nas difíceis.
Queridos amigos e parceiros do mestrado Laura, Christine, Jessé, Andréia, Juliane,
Thaís, Josilaine, Letícia, Carol e Sandra, pelas experiências, alegrias e bolos de chocolate
compartilhados, em especial à amiga Valéria pela amizade verdadeira que supera o tempo e
deixa marcas aromatizadas de café com canela.
Amigos Conselheiros, funcionários e colaboradores do Conselho Regional de
Psicologia, pela grande parceria desenvolvida, que possamos ampliar nossas discussões
sempre em benefício daqueles que abraçaram esta maravilhosa profissão.
Eduardo, por me fazer ser a minha maior fã.
Psicólogas que participaram dessa pesquisa, pela prontidão que me receberam e pela
confiança em mim depositada. Minha gratidão pela grande ajuda na realização desse trabalho.
Espero ter sido fiel aos seus relatos que foram de incalculável valor em minhas reflexões,
dando a dimensão de uma Psicologia que quer se fazer respeitável e comprometida social e
eticamente.
PaiLegal, pela possibilidade de viabilizar o contato com os pais nesse espaço
democrático.
Pais que responderam ao questionário e seus familiares, pela prova de amor, fé e
solidariedade. Que este trabalho possa fazer justiça às suas histórias.
vi
Resumo Esta pesquisa teve por objetivo compreender como vêm sendo desempenhadas as práticas dos psicólogos que atuam em instituições de referência para atendimentos em casos de alegação de abuso sexual contra a criança. Para este fim, foram analisadas as declarações de dez pais acusados de abusar sexualmente dos filhos, por meio de questionário enviado e recebido por correio eletrônico. Este material permitiu apreender como os pais acusados compreendem a alegação de abuso sexual imputada contra eles e como operam no sentido de provar a inocência. Também foi possível registrar-lhes as impressões, dúvidas e sentimentos eliciados pelas acusações, o que deu subsídio à realização de entrevistas presenciais com psicólogos em etapa posterior. Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com cinco psicólogas de cinco instituições diferentes. As informações prestadas permitiram analisar aspectos como a abordagem teórica e os métodos de avaliação psicológica em casos de alegações de abuso sexual contra criança, incluindo uma discussão acerca da ocorrência de falsas denúncias de abuso sexual. A partir dessas informações, foi possível concluir que tais práticas tendem a privilegiar a palavra da criança, esta última, vista, por muitos, como aquela que deverá anunciar e qualificar a denúncia. Nesses termos, os pais são silenciados, enquanto as crianças são colocadas no lugar de responsáveis por decidir questões jurídicas em nome de seus direitos.
Palavras-chave: violência sexual contra criança; falsa denúncia de abuso sexual; avaliação
psicológica
vii
Abstract This research intended to understand how is being done the work of the psychologists who work in attendance institutions in cases of alleged child sexual abuse. For this purpose, were analyzed the statements of ten fathers accused to abuse the child sexually through questionnaires sent and received by e-mail. This material allowed to apprehend how the accused fathers understand the allegation of sexual abuse inflicted against them and how they work to prove their innocence. It was also possible to get their impressions, doubts and feelings elicited from the indictment, which gave information to raise interviews with psychologists afterwards. Individual semi-structured interviews had been carried through with five psychologists from five different institutions. The given information had allowed to analyze aspects such as the theoretical approach and the psychological evaluation methods in cases of allegations of child sexual abuse, including a quarrel concerning the occurrence of false indictments of sexual abuse. From these information on, it was possible to conclude that such practical tends to privilege the child’s speech, who will have to announce and define the indictment. In this order, fathers are silenced while the children are placed as responsible for deciding legal questions on behalf of their rights.
Palavras-chave: child sexual abuse; false allegations of sexual abuse; psychological
evaluation
viii
Sumário Agradecimentos ........................................................................................................... i
Resumo...................................................................................................................... vi
Abstract ..................................................................................................................... vii
Lista de Quadros, Figuras e Tabelas ......................................................................... ix
Introdução ...................................................................................................................1
Objetivos .....................................................................................................................8
1. Violência Sexual contra a Criança...........................................................................9
1.1 Onde tudo começa: a família como base da sociedade, lócus do poder............................9
1.2 Analisando e (des)construindo conceitos........................................................................27
1.3. A perspectiva intrafamiliar.............................................................................................38
1.4 Conseqüências e Repercussões ......................................................................................42
1.5 Caminhos da denúncia ....................................................................................................54
1.6 A criança como protagonista: o processo de revelação do abuso sexual ........................65
1.7 Estudos de incidência: versões plurais da violência sexual ............................................92
2. Proposições Teórias no Estudo das Falsas Denúncias ......................................109
3 – Metodologia.......................................................................................................117
3.1 Methodos de pesquisa ...................................................................................................117
3.2 A construção da pesquisa ..............................................................................................122
4. Discussão dos Resultados ..................................................................................125
4.1 Palavras de pais: analisando os questionários ...............................................................125
4.2 Psicólogos no labirinto das acusações...........................................................................141
5 – Algumas Considerações a Título de Finalização...............................................159
Referências .............................................................................................................164
Anexo I ....................................................................................................................183
Anexo II ...................................................................................................................184
Anexo III ..................................................................................................................185
Anexo IV..................................................................................................................186
Anexo V...................................................................................................................187
Anexo VI..................................................................................................................188
ix
Lista de Quadros, Figuras e Tabelas Quadro 1.4.1 – Transtorno de Personalidade Borderline e violência intrafamiliar..................51
Figura 1.5.1 – Caminho da denúncia de abuso sexual contra criança ......................................57
Figura 1.7.1 – Denúncias de abuso sexual no contexto de separação conjugal .......................98
Quadro 1.7.1 – Denúncias não confirmadas de maus-tratos segundo o agressor.....................98
Quadro 1.7.2 – Notificações de abuso sexual por região da Federação .................................100
Quadro 1.7.3 – Evolução das notificações de violência contra criança .................................101
Quadro 1.7.5 – Crimes sexuais contra crianças registrados na polícia civil DF ....................103
Quadro 1.7.6 – Tipo de violência e sua relação com o sexo das crianças..............................104
Quadro 1.7.7 – Casos confirmados de violência e sua relação com o agressor .....................105
Quadro 1.7.8 – Notificação compulsória de denúncia de maus-tratos ...................................105
Quadro 1.7.9 – Número de crianças examinadas por idade IML Londrina ...........................106
Tabela 1.7.1 – Incidência de notificação e confirmação de violência sexual.........................108
Tabela 4.1.1 – Situação atual dos pais....................................................................................126
Tabela 4.2.1 – Perfil das psicólogas .......................................................................................143
1
Introdução
A violência sexual contra crianças tem recebido destaque nos noticiários de televisão e
jornal, tornando-se um fenômeno intensamente debatido no cenário mundial da atualidade.
Pela indiscutível seriedade da matéria, profissionais de saúde e pesquisadores da área e afins
têm se mobilizado quanto à identificação, ao tratamento e à prevenção dos mecanismos de
ação e efeitos do abuso sexual na criança.
Não obstante existam primorosos trabalhos e estudos sobre a violência sexual contra a
criança no Brasil, um exame meticuloso desse material permitiu-nos vislumbrar uma carência
de discussão e pesquisas científicas a respeito do tema das falsas denúncias de abuso sexual.
Tais denúncias, geralmente incididas sobre o pai no contexto da separação1 conjugal, com ou
sem disputa pela guarda dos filhos, despontam como novo objeto de análise das ciências
psicológicas, sociais, médicas e jurídicas, áreas que atuam, diretamente, na operacionalização
das acusações de abuso sexual.
O interesse pelo assunto surgiu durante meu trabalho como psicóloga residente do
Programa de Pós Graduação Latu sensu em Psicologia Clínico-Institucional sediado no
Hospital Universitário Pedro Ernesto – instituição ligada à Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. No decurso de dois anos (março de 2001 a março de 2003) atuei em casos de suspeita
de abuso sexual praticados contra crianças, realizando avaliação psicodiagnóstica de pais e
mães encaminhados da Pediatria para o Serviço de Psicodiagnóstico Diferencial.
Esses casos suscitaram o interesse da equipe de elaborar um estudo sobre o perfil das
mães que protegiam seus filhos posteriormente à ocorrência do abuso sexual. A pesquisa deu
origem à monografia de conclusão do curso, intitulada Mães que choram – em menção às
mães que evidenciaram franco sofrimento face à circunstância do abuso sexual de seus filhos
– e é parte integrante do livro O Mosaico da Violência – a perversão na vida cotidiana2.
Ao todo, foram atendidas oito mães, das quais quatro integraram, efetivamente, a
pesquisa citada em função dos relatos maternos terem sido corroborados pelo discurso das
crianças supostamente abusadas, assim como pelo comportamento, exame clínico e
psicológico.
1 Neste trabalho, separação conjugal e divórcio não serão diferenciados. 2 AMENDOLA, Marcia Ferreira. Mães que choram: avaliação psicodiagnóstica de mães de crianças vítimas de abuso sexual. In: PRADO, M.C.C.A (Org.) O Mosaico da Violência – a perversão na vida cotidiana. São Paulo:Vetor, 2004, p.103-170.
2
O perfil das “mães que choram” (AMENDOLA, 2002; 2004, p.128) foi elaborado,
durante o processo psicodiagnóstico, basicamente, por meio da análise clínica e,
esquematicamente, pode ser retratado por: dificuldade para compreender as informações
assinaladoras (sinais) de situações abusivas e antecipar a ocorrência de abuso sexual;
perplexidade ante a revelação; busca de assistência médica e psicológica para os filhos; temor
pela vida dos filhos; desconhecimento sobre os processos judiciais (incluindo a notificação do
abuso sexual); sentimento de tristeza, entre outros.
Dada as características que constituíam o perfil, essas mães passaram a ser
denominadas “mães protetoras” (AMENDOLA, 2004, p.113), fruto de uma postura protetora
pós-trauma, ou seja, em que se buscava proteger e cuidar da criança mesmo após o abuso
sexual ter ocorrido.
Dentre os casos analisados na pesquisa citada, dois, em particular, chamaram a atenção
por se desviarem do perfil ao qual vinha se configurando. Foi possível perceber muita
incoerência, pouca precisão nas informações e desvios constantes da temática principal (abuso
sexual da criança) por parte dessas duas mães que, raramente contemplavam as crianças em
seus discursos. Associada a essas condições, a equipe observou uma nítida falta de empatia
das mães em relação ao possível sofrimento das crianças, com negação e reprovação quanto à
expressão de saudade ou afeto das crianças pelos pais.
Apesar de o motivo manifesto para o atendimento psicodiagnóstico ser a acusação de
abuso sexual atribuída aos pais das crianças, o discurso das mães eram, predominantemente,
sobre queixas relacionadas ao convívio do casal na vigência do casamento e após a
interrupção do mesmo. Alguns outros comentários, também, ganharam destaque pelo
desconforto e dúvidas que provocavam na equipe profissional quanto ao grau de hostilidade
dirigida aos pais e à veracidade dos fatos narrados, surpreendo a todos com a possibilidade de
se considerar a denúncia de abuso sexual como falsa.
O surgimento dessa hipótese descortinava uma nova proposta de análise na qual a
genitora guardiã, após a separação conjugal, parecia estimular o conflito, com a finalidade de
obstruir o vínculo entre pai (e a família paterna) e filhos.
Os pais acusados de abusar, sexualmente, dos filhos não eram, a princípio,
considerados como objeto de análise para a elaboração do trabalho monográfico, contudo, a
partir desse contexto, passaram a suscitar novas discussões, abrindo margem à elaboração da
pesquisa em pauta.
3
Assim, com o propósito de analisar e discutir a existência de falsas denúncias de abuso
sexual contra a criança no contexto da separação conjugal, pretendemos pesquisar como são
desempenhadas as práticas dos psicólogos que atuam em instituições destinadas ao
atendimento de casos de denúncias de violência contra a criança. Essa escolha justifica-se por
ser o psicólogo um dos profissionais de referência ao acolhimento de denúncias dessa
natureza, com possibilidade e recursos para realização de uma análise da dinâmica familiar e
de uma avaliação diagnóstica que inclua a revelação da violência sexual e uma indicação
terapêutica das crianças, supostamente, abusadas. Trata-se, também, de profissional bastante
requisitado na produção de prova material destinada ao sistema judiciário, por meio de laudos
ou relatórios psicológicos, compondo o processo de acusação e defesa.
Para dar ensejo às nossas pretensões, iniciamos com uma investigação na literatura
nacional e internacional divulgadas nas duas últimas décadas. Ao contrário do que
constatamos na literatura brasileira, a literatura internacional3 é extensa e sustenta que as
acusações de abuso sexual da criança, durante o divórcio e disputas judiciais pela guarda dos
filhos, são feitas, essencialmente, pelas mães em quatro circunstâncias diferentes:
1. Quando a mãe descobre a ocorrência de abuso sexual de seu filho e decide separar-se do
marido;
2. Quando a revelação do abuso sexual contra a criança ocorre durante o desenlace
matrimonial;
3. Quando o abuso sexual ocorre após a separação do casal;
4. Quando a mãe faz uma alegação falsa de abuso sexual implicando o ex-companheiro.
Dessas alegações, iremos nos ater, nesse trabalho, àquelas, falsamente, declaradas
pelas mães das crianças no contexto da separação conjugal. Incluiremos as repercussões
dessas acusações, envolvendo pais e filhos, como a interrupção imediata do contato entre eles,
por conseguinte, a suspensão temporária das visitas pleiteadas ou do pedido de guarda feito
pelo pai ao juízo de família, mantendo, apenas, a obrigatoriedade do pagamento da pensão
alimentícia e outros gastos acordados em juízo.
Perante esses fatos, averiguamos a mobilização de pais não-guardiões por meio de
inúmeras Organizações Não-Gorvenamentais (ONG), protestando contra a obstrução do
3 Bala e Schuman (2000); Campbell (1997, 1998); Clawar e Rivlin (1991); Coleman e Clancy (1999); De Young (1986); Feldman e Brown (2002); Gardner (1991, 1992); Green (1986, 1993); Lowry (1994); Meadow (1982, 1993); Parnell (1998); Rand (1990); Thoennes e Tjaden (1990); Turkat (1995); Wakefield e Underwager (1989, 1991, 1995).
4
convívio entre pais e filhos, a partir da denúncia de abuso sexual contra a criança,
considerando a suspensão da visita como uma medida que transgride os direitos de
convivência. Esses homens buscam apoio e respaldo técnico e teórico nas matérias de Direito
e Psicologia, como forma de assegurar seus direitos à causa.
Na Europa, há uma variedade de grupos em atividade destinados a pais e mães
separados, como: Families Need Fathers e Fathers For Justice na Inglaterra; SOS Papa na
França e na Espanha; Papà Separati em Roma; Pais Para Sempre em Portugal, entre outros.
Esses grupos costumam realizar protestos, tendo por objetivo alertar a sociedade, buscando a
simpatia da população para as condições dos pais, cujo acesso aos filhos é negado ou
dificultado pelas mães e/ou outros familiares.
Apesar de a maioria dos países da Europa se declarar isenta em relação à preferência
pelo titular da guarda, condicionando-a ao princípio do melhor interesse da criança, na prática
não é o que se observa: a mãe continua a ter a prioridade na convivência com os filhos, como
é possível constatar em reportagem publicada na revista TIME Europe (2004). Segundo a
matéria, o percentual elevado de filhos de pais separados que vivem com as mães, mesmo
quando a modalidade de guarda compartilhada é a norma, é justificado pela baixa procura dos
pais pela guarda. Contudo, pais ativistas salientam que o Estado não deve presumir e
generalizar esse comportamento para todos.
“Mesmo na Alemanha, onde a guarda conjunta é a norma legal, 85% das crianças de pais divorciados ou separados vivem com a mãe. Na França, a porcentagem é a mesma. Na Itália, as mães recebem a guarda em 90% dos casos; na Grã Bretanha, o valor é de 93%. Muitos pais divorciados não querem a guarda. Contudo, ativistas dizem que o Estado não deve presumir isso” (TIME Europe, Sept 27, 2004) 4.
No Brasil, apesar de o Art. 1.584 do Código Civil Brasileiro (2002) indicar que se
deve atribuir a guarda a partir do critério de competências, ou seja, “a quem revelar melhores
condições para exercê-la”, continua-se concedendo a guarda às mães com base nos
dispositivos higiênicos fundadores da família nuclear moderna e na tradição cultural do amor
e instinto maternal. Diante da prerrogativa das melhores condições na disputa de posse e
guarda dos filhos, motiva-se um afrontamento, cuja escolha do guardião recai na divisória
entre o melhor e pior genitor, entre o vencedor e o perdedor (BRITO, 2002a).
Por efeito dessa perspectiva, foi possível constatar o surgimento de associações de pais
em nosso país – Participais, PaiLegal, Associação de Pais e Mães Separados (APASE) e Pais 4 Tradução livre.
5
para Sempre, entre outros – com o objetivo de divulgar e defender temas relacionados à
guarda conjunta, como o instrumento que prioriza e assegura o melhor interesse da criança
após a separação ou divórcio dos genitores pelo viés do exercício da co-parentalidade, como
explica o advogado Grisard Filho (2002):
“Este modelo, priorizando o melhor interesse dos filhos e a igualdade dos gêneros no exercício da parentalidade, é uma resposta mais eficaz à continuidade das relações da criança com seus dois pais na família dissociada, semelhantemente a uma família intacta. É um chamamento dos pais que vivem separados para exercerem conjuntamente a autoridade parental, como faziam na constância da união conjugal, ou de fato” (http://www.pailegal.net).
Todavia, seja qual for o modelo de guarda adotado após a separação dos pais –
exclusiva, alternada ou conjunta – todos devem garantir o convívio dos filhos com ambos os
genitores, não importando, também, a forma de regulamentação das
visitas.
Como psicóloga colaboradora5 junto ao fórum de discussão do
PaiLegal6 (http://www.pailegal.net/forum), desde outubro de 2003,
pude observar um aumento da demanda para que a equipe de apoio
analisasse assuntos pertinentes às alegações de abuso sexual. O espaço,
reconhecidamente, de caráter público, permite que pessoas, com
alguma afinidade com a proposta do site, estabeleçam um diálogo
sobre assuntos relacionados à separação e à
obstrução do exercício da paternidade. Os pais
que estavam sob o peso desta acusação declaravam inocência e
especulavam sobre as explicações para o gesto da mãe de seus filhos.
Nesse sentido, fizemos algumas perguntas a esses pais
acusados, na intenção de averiguar o interesse deles em participar de
uma pesquisa sobre o tema. A diversidade de respostas mostrou que se
tratava de um terreno fértil para explorarmos o assunto.
Portanto, trazer à cena a possibilidade de existirem falsas
denúncias de abuso sexual de pais contra filhos no contexto da
5 A participação de profissionais nos fóruns de discussão é voluntária, cuja finalidade é fornecer orientações psicológicas e jurídicas sobre os temas relacionados à separação e à guarda dos filhos. 6 PaiLegal é um site que visa atender aos pais na criação de seus filhos, seja lutando pelo direito à convivência com eles após a separação do casal, seja pela qualidade do exercício da paternidade.
“Por favor, (...) preciso da ajuda de
vocês. Começo a pensar que ela (a mãe) está agindo
dessa forma pensando que a filha é propriedade dela e
o pai não pode cogitar em ter contato com a
criança que ameace sua superioridade de mãe” (Pai, 43 anos). ““Como explicar a
denúncia? A resposta é fácil. Tem a ver com o forte desequilíbrio de personalidade que a mãe consegue, facilmente, esconder aos profissionais envolvidos, que também não se interessam muito” (Pai, 52 anos).
6
separação conjugal, nada mais é que explorar e questionar paradigmas; analisar as práticas
dos profissionais de Psicologia que atuam em casos de denúncia de abuso sexual contra
crianças; propor reflexões, retirando-os da condição do saber estabelecido e desafiando-os
para uma mudança de postura profissional; fornecer subsídios para que instituições de ensino
formem profissionais qualificados para administrar uma queixa de abuso sexual contra
crianças em contextos diversificados e, finalmente, propor a construção de novos olhares.
A trajetória dessa pesquisa foi organizada em cinco capítulos nos quais abordamos, no
primeiro, o tema da violência sexual contra a criança em sete frentes. No item 1.1, intitulado
Onde tudo começa: a família como base da sociedade, lócus do poder, começamos pela
transformação da família, cujas relações de poder e de papéis familiares transitaram conforme
a lógica vigente à época. O poder concentrado na figura do pai autoritário foi, aos poucos,
sendo substituído pela valorização das relações amorosas e do compartilhamento do poder e
direito sobre os filhos entre os pais. Diante das rupturas e recomposições familiares, houve
necessidade de preservar e promover o exercício da parentalidade, concomitantemente,
formas de cerceamento do poder familiar surgiram, a partir de denúncias falsas de abuso
sexual de pais contra filhos durante os processos de regulamentação de visitas ou reversão de
guarda. No item 1.2, Analisando e (des)construindo conceitos, passamos a discutir o tema da
violência sexual, apresentando a multiplicidade de conceitos propalada pela literatura
especializada, para propomos uma desconstrução e reconstrução dos mesmos, a partir da
perspectiva sociohistórica. No item 1.3, A perspectiva intrafamiliar, incluímos a discussão do
tema pela perspectiva familiar, mais precisamente, sobre o incesto. No item 1.4,
Conseqüências e Repercussões, analisamos, criticamente, o que a literatura aponta como
conseqüências da violência sexual na criança e futuras repercussões no desenvolvimento
psíquico desta. No item 1.5, Caminhos da denúncia, descrevemos o percurso da denúncia de
abuso sexual para definimos a expressão labirinto das acusações utilizada no título da obra.
No item 1.6, A criança como protagonista: o processo de revelação do abuso sexual,
analisamos a ênfase dada à palavra da criança por meio da revelação do abuso sexual,
ampliando a análise às técnicas empregadas pelos psicólogos nesta intenção. No item 1.7,
Estudos de incidência: versões plurais da violência sexual, encerramos a discussão com a
análise dos estudos de incidência da violência sexual no Brasil, levantando os principais
problemas.
7
No capítulo 2, chamado de Possíveis Inserções Teórias para o Estudo das Falsas
Denúncias, iniciamos uma discussão sobre as falsas denúncias de abuso sexual de pais contra
filhos, um evento que tem potencial para evidenciar e romper com os paradigmas que estão
associados ao tema do abuso sexual e que promovem uma lógica da acusação. Analisamos
algumas proposições teóricas, as quais se apóiam em modelos psicopatológicos de
desenvolvimento, a partir da compreensão do transtorno materno como desencadeante da
falsa denúncia de abuso sexual.
No capítulo 3, Metodologia, discutimos a construção metodológica de nossa pesquisa.
Planejada para ser executada em duas etapas, a pesquisa incluiu a elaboração, aplicação e
levantamento de dados de um questionário a ser respondido por pais acusados de abusar,
sexualmente, de seus filhos. O contato com os pais deu-se via internet, por um fórum de
discussão, de modo que 10 pais responderam o questionário enviado por e-mail. Aproveitando
os conteúdos apresentados no questionário, a segunda etapa foi planejada com vistas à
realização de entrevistas com psicólogos que trabalham em instituições de referência para
atendimento a casos de denúncia de abuso sexual contra crianças.
No capítulo 4, item 4.1, Palavras de pais: analisando os questionários, apresentamos
um panorama acerca da história dos pais acusados, suas explicações para o evento, suas
dificuldades para serem ouvidos em suas versões dos fatos, as críticas à atuação dos
psicólogos, os sentimentos de indignação e esperança. No item 4.2, Psicólogos no labirinto
das acusações, realizamos uma análise das entrevistas com os psicólogos, quando
descrevemos e analisamos como estes profissionais definem suas atividades,
responsabilidades e principais dificuldades no atendimento aos casos de denúncia de abuso
sexual contra criança em seu trabalho nas instituições.
No capítulo 5, intitulado Algumas Considerações a Título de Finalização, concluímos
o trabalho, retomando alguns aspectos discutidos durante a pesquisa e apontando os fatores
que se destacaram na discussão dos dados obtidos dos questionários aplicados aos pais e das
entrevistas com as psicólogas. Ao final, salientamos acerca da importância do intercâmbio
entre os Conselhos Regionais de Psicologias e os profissionais na discussão das práticas
psicológicas destinadas ao atendimento de casos de suspeita de abuso sexual, como forma de
garantir a observância dos compromissos éticos e sociais no exercício da função.
8
Objetivos
Geral: Compreender como vêm sendo desempenhadas as práticas dos psicólogos que atuam em
instituições de referência para atendimentos de avaliação de casos que envolvam
denúncias de abuso sexual contra criança.
Específicos: Verificar se os serviços de Psicologia identificam a ocorrência de falsas denúncias de
abuso sexual, como identificam e que providências elegem nesses casos;
Descrever a abordagem teórica e os métodos empregados pelos psicólogos que atuam em
instituição de referência para avaliação psicológica de casos de abuso sexual contra
crianças;
Identificar quem são as pessoas atendidas por esses profissionais nos casos em que há
denúncia de abuso sexual e o porquê das inclusões e exclusões nos atendimentos;
Apreender como o pai, que esteja sendo acusado de abuso sexual intrafamiliar,
compreende as acusações e opera no sentido de provar sua inocência;
Registrar as impressões, dúvidas e sentimentos dos acusados frente à denúncia de abuso
sexual;
Realizar, pela ótica do pai, um mapeamento da denúncia e da intervenção.
9
1. Violência Sexual contra a Criança
1.1 Onde tudo começa: a família como base da sociedade, lócus do poder
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Os direitos
e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher
Constituição da República Federativa do Brasil
Iniciamos nossa discussão sobre a violência sexual contra a criança a partir da análise
das relações familiares. Para isso, partimos do entendimento de família, não como um fato
natural, mas culturalmente estabelecida, apresentando uma dimensão histórica de construção
ao longo de séculos.
Da acepção original, família deriva do latim famulus – um conjunto de escravos
domésticos e bens à disposição do pater familias – que representa o complexo de pessoas
sujeitas a patria potestas (pátrio poder) de um chefe, ou seja, submetidas ao poder do pater
familias. Assim, a organização familiar romana assentava-se na autoridade masculina sobre a
mulher, filhos, clientes e escravos e sobre o patrimônio familiar (CRETELLA JUNIOR,
1993).
A construção do conceito de família se deu em comunhão ao Direito Romano,
responsável por atribuir estatuto jurídico ao pai – o pater familias – que obtinha do Direito
seu poder e autoridade absolutos (HURSTEL, 1999).
Hurstel (1999) esclarece que o poder do pai romano conferia à família uma
conformação política, jurídica, econômica e religiosa erigida na figura do chefe de família e
transmitida por meio do nome e da herança. Diante disso, ao pater familias cabia: ius vitae ac
neci – direito de vida e morte; ius expondendi – direito de abandonar os filhos recém-
nascidos; ius vendendi – direito de vender o filho; poder de emancipar e noxae deditio –
direito de repassar a vingança ao filho (CRETELLA JUNIOR, 1993, p.112).
Como apontam alguns autores (ARIÈS, 1981; HURSTEL, 1999), a família assim
compreendida era, fundamentalmente, patriarcal, isto é, elemento de um sistema
hierarquizado de dependências e de funções múltiplas, sendo constituída por uma entidade
destinada à conservação dos bens, à prática de um ofício, à ajuda mútua e, finalmente, à
10
proteção da honra e da vida. Contudo, a função afetiva não era requisito para a sua existência,
sendo o matrimônio estabelecido, basicamente, por motivações econômicas, compondo
uniões para enriquecimento do patriarca (BRITO, 1993).
Segundo Ariès (1981), ao movimento de submissão da mulher e dos filhos e ao
aumento dos poderes do marido, a família passou a ser considerada “a célula social, a base
dos Estados, o fundamento do poder monárquico” (p.146).
Assim, a família ocidental medieval incumbia-se de transmitir a vida, os bens e os
nomes, eximindo-se da transmissão da educação às crianças: os filhos eram vistos como a
serviço do pai, não havendo tratamento social diferenciado, sendo, geralmente, entregues às
amas-de-leite.
Nas palavras de Ariès (1981):
“Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia” (p.99).
Para Donzelot (1986) e Postman (1999), a prática das mulheres de entregarem seus
filhos ao cuidado de nutrizes, correspondia à falta de educação sobre a infância e aos
processos de higiene e amamentação, de modo que a taxa de mortalidade infantil era,
consideravelmente, elevada, implicando em um afastamento emocional dos adultos para com
seus filhos, uma vez que a morte infantil era vista como uma conseqüência natural.
Badinter (1985) é enfática ao afirmar que as mulheres não se dedicavam aos filhos e às
tarefas domésticas por questões relativas à educação, mas, também, por considerarem
deselegante e depreciável pela sociedade, preferindo a vida mundana das festas a obrigações
familiares.
Szymanski (2000) ressalta que, no início do século XVIII, com o advento da escola, da
privacidade, da preocupação com o desenvolvimento dos filhos, da manutenção desses junto
aos pais, associada à valorização do “sentimento de família” (p.24) pela Igreja e outras
instituições, delineou-se uma nova modalidade de família: a família nuclear burguesa.
Essa nova organização familiar composta, exclusivamente, pelo casal e filhos passou a
ser influenciada pelas transformações socioeconômicas e pelo pensamento das Ciências
Sociais emergentes no final daquele século, incluindo as contribuições de Rousseau a favor da
maternidade e, posteriormente, a teoria psicanalítica freudiana (BRITO, 1993).
11
Conforme Badinter (1985) esclarece, essas transformações na sociedade européia
geraram uma valorização do ser humano com vistas à produção industrial, como trabalhadores
em potencial. Assim, era esperado que a criança se desenvolvesse de forma saudável,
passando de ônus a um investimento.
De acordo com Ariès (1981), a concepção de criança como um bem perecível persistiu
até o início da Idade Moderna, quando, ao ser descoberta pela saúde pública e por sua nova
modalidade de assistência médica – a pediatria – tudo o que se referia às crianças e à família
tornara-se digno de atenção. Para o autor, a criança havia ocupado um lugar central na
família.
“A criança tornou-se um elemento indispensável da vida quotidiana, e os adultos passaram a se preocupar com sua educação, carreira e futuro. Ela não era ainda o pivô de todo o sistema, mas tornara-se uma personagem muito mais consistente” (p.189).
Com a difusão da medicina doméstica entre o fim do século XVIII e as últimas
décadas do século XIX, os médicos higienistas passaram a influenciar as relações familiares e
induzir sua reorganização; “ao pai caberia a subsistência material da criança e, à mãe, a
educação. A Medicina baseava-se nos pressupostos de ‘natureza humana’, amplamente
utilizados pelos positivistas” (BRITO, 1993, p. 65).
Assim, tendo a Medicina européia como sua aliada, as mulheres redefiniram seus
papéis, desde suas características emocionais e sexuais, às sociais. Tornaram-se responsáveis
pelos cuidados infantis, como o aleitamento que, de atribuição das amas, passou a ser
considerado vocação natural das mães, e com a inserção dos filhos ao meio social. Portanto, o
ato de amamentar tornou-se premissa básica do amor materno, funcionando, ainda, “como um
cuidado que mantinha a mulher em casa” (BRITO, 1993, p. 65).
Postman (1999) explica que a tipografia foi outro instrumento que conservou a mulher
em seu lar. Publicações destinadas à mulher burguesa surgiram com o propósito de reforçar o
cuidado materno, conferindo-lhe prestígio como educadora natural da criança, a partir do
discurso valorativo de igualdade e felicidade, por um lado, e de dever, culpa e ameaça, de
outro, sendo esta literatura moralizante o principal instrumento ideológico usado para
conduzir a mulher “à sua função nutrícia e maternante, dita natural e espontânea”
(BADINTER, 1985, p.144).
Desta forma, com as novas propostas de educação infantil e de relação familiar
difundidas pelos médicos, as funções maternas da mulher burguesa ganharam destaque e
12
importância, gerando um novo poder na esfera doméstica capaz de abalar a autoridade paterna
(DONZELOT, 1986).
“Ao majorar a autoridade civil da mãe, o médico lhe fornece um status social. É essa promoção da mulher como mãe, como educadora, auxiliar médica, que servirá como ponto de apoio para as principais correntes femininas do século XIX” (p.26).
Badinter (1985) salienta que a responsabilização da mãe pelos cuidados dos filhos
ocorreu em linha ascendente ao longo do século XIX e XX, concomitantemente à valorização
da infância, pelo discurso psicanalítico. Para a autora, a Psicanálise promoveu a mãe à
personalidade responsável pelo inconsciente e felicidade dos filhos.
“Desde o século XVIII, vemos desenhar uma nova imagem da mãe, cujos traços não cessarão de se acentuar durante os dois séculos seguintes. A era das provas de amor começou. O bebê e a criança transformam-se nos objetos privilegiados da atenção materna. A mulher aceita sacrificar-se para que seu filho viva, e viva melhor junto dela”
(BADINTER, 1985, p.201).
Assim, com a naturalização desse papel de mãe por instinto, a maternidade do século
XIX ganhou status de sacerdócio, por analogia à mãe de Jesus, acreditando-se que os
atributos de afeto eram prerrogativas do amor materno e adstritos a ele.
Logo, o legado do instinto materno, internalizado e naturalizado pela sociedade, trouxe
importantes conseqüências no exercício da parentalidade no século XX, como o
enfraquecimento do poder conferido à figura do pai.
Para Hurstel (1999, p.124), a paternidade tradicional encontra-se em processo de
desconstrução. A autora afirma que uma nova “idéia de pai” (p.122) surgiu na França com a
reforma legislativa de 1970. O pátrio poder, que havia deixado de ser um “direito natural”
(p.110) para ser reconhecido em suas relações com a sociedade, foi excluído, fazendo
desaparecer o paterfamilias e consigo, o direito especificamente paterno, para fazer surgir
uma autoridade a ser exercida em comum acordo e fundamentada na igualdade entre homens
e mulheres, visando ao “interesse da criança” – assim denominada “Autoridade Parental”
(p.124). Portanto, esclarece a autora, “o que caracteriza a lei de 1970 são três conceitos
centrais da reforma, o de ‘igualdade’ dos esposos e dos pais, o de ‘interesse da criança’,
enfim, o de ‘controle judiciário’, que se tornou necessário para arbitrar eventuais conflitos
entre pais e entre pais e filhos” (p.124).
No Brasil, essa trajetória histórica do poder no interior das famílias se constituiu sob
forte influência do Cristianismo e do modelo familiar europeu do fim do século XVIII. A base
13
da sociedade era a família patriarcal nascida na zona rural, cujo senhor de engenho possuía
autoridade absoluta sobre seus familiares, agregados e escravos. Logo, a família patriarcal
brasileira ficou definida como aquela alicerçada na autoridade suprema do chefe de família e
legitimada no exercício dos poderes do marido sobre a mulher – Poder Marital – e sobre os
filhos – Pátrio Poder (LÔBO, 1989).
De acordo com Almeida (1987), a família patriarcal:
“é uma espécie de matriz que permeia todas as esferas do social: a da política, através do clientelismo e do populismo; a das relações de trabalho e de poder, onde o favor e a alternativa da violência preponderam nos contratos de trabalho e na formação dos feudos políticos, muito mais que a idéia de direitos universais do cidadão; e, por fim, nas próprias relações interpessoais em que a personalidade ‘cordial’ do brasileiro impõe pela intimidade e desrespeita a privacidade e a independência do indivíduo. Além disso, a matriz da família patriarcal, com sua ética implícita dominante, espraiou-se por todas as outras formas concretas de organização familiar, seja a família dos escravos e dos homens livres no passado, seja a família conjugal mais recente” (p.55-56).
Promulgada em 1891, a primeira Constituição Brasileira inspirava-se no teor
federalista, republicano e presidencialista da Constituição norte-americana. Na concepção de
Lôbo (1989), esta Constituição, que manteve a força econômica e política nas mãos dos
proprietários de terras, foi marcadamente liberal e individualista, não tutelando as relações
familiares7.
Somente a partir da Proclamação da República, do fim da escravidão, do início do
processo de industrialização, de urbanização e de modernização do país – eventos ocorridos
nas últimas décadas do século XIX – que se tornou possível identificar, no Brasil, uma
preocupação em destinar, à família, normas explícitas.
Assim, com o advento do Código Civil de 1916, Lei 3.071, conhecido como o Código
de Beviláqua, a família foi vislumbrada como uma instituição jurídica e social reservada ao
homem e à mulher que contraíam justas núpcias (BEVILÁQUA, 1917), formando uma
unidade indissolúvel, hierarquizada e patriarcal, com o fim precípuo de procriação (DIAS,
2000).
Esse preceito se manteve no Brasil da década de 1940, quando os papéis familiares
eram regidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1946. Segundo o Art.
7 Art. 72, § 4º da Constituição de 1891 – “A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita”.
14
163 da Constituição Federal8, a família era constituída, exclusivamente, pelo casamento,
respeitando o modelo dos códigos portugueses e a concepção romana de família patriarcal
marcada pela ascendência do pater familias e pela propriedade (CORREIA & SCIASCIA,
1949).
O princípio do pater familias9 incumbia ao marido a chefia da sociedade conjugal,
havendo a esposa função de colaborar no exercício dos encargos familiares e dar assistência
material e moral aos filhos.
Essa família brasileira, oriunda de áreas rurais e possuidora de poder econômico, ao
ser transportada para as cidades do século XIX, em busca de ascensão social, passou a agir e
circular em espaço delimitado do privado. Reduzida ao pai, à mãe e a alguns filhos, nos
moldes da família nuclear burguesa, “continua patriarcal: a mulher ‘reina’ no lar, dentro do
privado da casa, delibera sobre as questões imediatas dos filhos, mas é o pai quem comanda
em última instância” (ALMEIDA, 1987, p.61).
Ocorre, com isso, que o processo de produção transferiu-se da esfera privada para a
esfera pública, instituindo a participação do homem como o provedor da renda familiar,
passando a deter a autoridade no espaço público, enquanto a mulher assumia os cuidados do
universo doméstico. Giffin (1998) salienta que esse tipo de organização familiar visava à
participação na produção da sobrevivência, cujas “crianças representavam recursos produtivos
da família” (p.76).
Com o avançar da urbanização, a redução da produção familiar e o advento do
Capitalismo, a mulher viu-se forçada a ingressar no mercado de trabalho, imprimindo à
família a necessidade de estabelecer uma nova ordem ou estratégias para sobrevivência. O
controle de natalidade, conseqüentemente, a redução no número de filhos e sua valorização
social permitiram que a mulher ocupasse os espaços públicos, fragilizando a rígida estrutura
hierárquica da família nuclear burguesa (GIFFIN, 1998; MUZIO, 1998).
As principais mudanças nos papéis familiares ganharam visibilidade no Brasil,
principalmente, nas décadas de 1960 e 1970. Mudanças nas estruturas e papéis entre homens e
mulheres no casamento passaram a ser vislumbradas a partir da difusão da pílula
anticoncepcional e da emersão de movimentos sociais específicos, como o movimento
feminista (DIAS, 2000).
8 “A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado”. 9 Art. 233 do Código Civil de 1916 – “O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos” (demais artigos: 240, 247 e 251).
15
De acordo com Hennigen e Guareschi (2002), o Feminismo, cuja ação “contribuiu
para desestabilizar a representação ‘tradicional’ da masculinidade e da paternidade,
possibilitando a circulação de novas significações” (p.45), foi responsável pela reivindicação
de igualdade de direitos sociais entre homens e mulheres, questionando as esferas da vida
social, como a divisão doméstica do trabalho e o cuidado com as crianças.
As contribuições da Legislação logo se fizeram evidenciar com a Lei 4.121, de 27 de
agosto de 1962, chamada “Estatuto da Mulher Casada”. Responsável pelo movimento
legislativo de equiparação entre os cônjuges, o Estatuto modificou a condição da mulher de
relativamente incapaz para os atos da vida civil, para conferir-lhe a titularidade do pátrio
poder, todavia restringindo seu exercício ao pai, chefe da sociedade conjugal, sendo a mãe
apenas uma colaboradora (Art. 38010, BRASIL, Código Civil de 1916).
A Lei 6.515 de 1977 (Lei do Divórcio), foi a que mais contribuiu na transformação
dessa realidade. Ao revogar os Art. 315 a 328 do Código Civil de 1916, a Lei do Divórcio
inaugurou um avanço no Direito de Família no Brasil, substituindo o desquite (processo que
cessa os ônus matrimoniais, no entanto, não dissolve o vínculo do casamento) pela separação
judicial (BRITO, 1993).
Segundo Lôbo (2002), em palestra proferida no III Congresso Brasileiro de Direito de
Família, o divórcio permitiu que se verificasse uma mudança na organização das uniões
familiares, destacando a afetividade como a principal responsável pelas relações conjugais.
Singly (2000) ressalta que as famílias passaram a valorizar as relações interpessoais
em detrimento da perenidade familiar e a autonomia individual no lugar da dependência,
simbólica e material, das famílias de origem.
“A família mudou para produzir esses indivíduos. Na França, a ‘revolução’ não começou em 1968, ainda que esse período esteja associado a grandes transformações, como o desenvolvimento do trabalho assalariado das mães, o controle da fecundidade com a contracepção, a diminuição do casamento, o aumento da coabitação, principalmente do divórcio. Esquematicamente, o período do final dos anos 1960, no qual ainda vivemos, corresponde à instauração de um compromisso entre as reivindicações dos indivíduos em se tornarem autônomos e seus desejos de continuar a viver, na esfera privada, com uma ou várias pessoas próximas. É a família que chamo de ‘individualista e relacional’” (p.15).
10 Art. 380 – Durante o casamento compete o Pátrio Poder aos pais, exercendo-o o marido com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade. Parágrafo único – Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para solução da divergência.
16
O autor afirma que a família atual se distingue da família nuclear burguesa pela
importância dada ao processo de individualização, o que a torna, paradoxalmente, forte e
frágil; “frágil, pois poucos casais conhecem, antecipadamente, a duração de sua existência, e
forte, porque a vida privada, com uma ou várias pessoas próximas, é desejada” (p.15).
Para Lôbo (2002), o dado inovador dessas uniões está em sua temporalidade, mais do
que na valorização da afetividade. O autor analisa que, mesmo antes da Lei do Divórcio, os
casamentos já eram realizados a partir de projetos de amor, mas com o advento da Lei, o afeto
ganhou aspectos de temporalidade, permitindo que a escolha de contrair núpcias ou separar-se
ficasse a critério das motivações e decisões do casal.
Na concepção de Torres (1999) são três as razões que explicam o aumento do
divórcio, todas funcionando em conjunto. A primeira diz respeito à mudança na forma de
encarar o casamento: “De instituição a preservar a qualquer custo, o casamento tornou-se,
tendencialmente, numa relação que dura enquanto mantiver compensadora para quem nela
está envolvida” (p.72). A autora sustenta a idéia de que as pessoas casam-se hoje em função
de valores outros que não os apreciados no passado. Esses valores estariam ligados ao bem-
estar individual e à concepção de que seria possível, a partir desse bem-estar, construir um
ambiente de felicidade conjugal e familiar.
A segunda razão que Torres (1999) propõe, representa a idéia de igualdade de
oportunidades e de liberdade pessoal, materializadas nas reformas jurídicas. “Direitos iguais
para homens e mulheres na família e o direito ao divórcio, entre outra regulamentação,
representam, por assim dizer, o alargamento da democracia à família” (p.73). Finalmente, a
terceira razão mostra que as pessoas não dependeriam mais do casamento como forma de
sobrevivência.
Apesar de a dissolução da sociedade conjugal ser permitida e concretizada, a partir de
1977, guardava ainda resquícios do pensamento precursor evidentemente punitivo,
estabelecendo a culpa pelo inadimplemento das obrigações especificadas na Lei, a citar:
fidelidade recíproca, dever de coabitação, de mútua assistência e de assistência aos filhos
(DIAS, 2000).
Uma das conseqüências da infração dos deveres conjugais estava na perda da guarda
dos filhos pelo genitor que deu causa à separação, que passaria a ter o direito de visita,
enquanto a guarda ficaria com o cônjuge inocente (Art.10, Lei 6.515).
17
Art.10 – Na separação judicial fundada no caput do Art. 5º, os filhos menores ficarão com o
cônjuge que ela não houver dado causa.
§ 1º – Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os cônjuges, os filhos menores
ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal solução possa advir
prejuízo de ordem moral para eles.
§ 2º – Verificado que não devem os filhos permanecer em poder da mãe nem do pai, deferirá
o juiz a sua guarda a pessoa notoriamente idônea da família de qualquer dos cônjuges.
Dolto (2003, p.51-52), em seu livro Quando os pais se separaram, escrito na década
de 80, já nos familiarizava com a prática dos juízes de outorgar, prioritariamente às mães, a
guarda dos filhos. A psicanalista francesa era bastante crítica à manutenção da postura
patriarcal na educação dos filhos, que determinava exclusivamente às mães a função de cuidar
das crianças. Ela apregoava que a guarda deveria ser atribuída ao “genitor maternalizante”,
independentemente se este era o pai ou a mãe.
Nolasco (1995) e Muzio (1998) compartilham desse pensamento e afirmam que a
cultura patriarcal promoveu um modelo de mãe em tempo integral, assim como um modelo de
pai autoritário e provedor, que sustenta a família e que mantém uma relação periférica e
intermitente com os filhos.
Nas palavras de Nolasco (1995, p.154):
“Reforçar a imagem da mãe grandiosa e acolhedora é fortalecer a de um pai eminentemente autoritário e castrador, com o qual não se consegue dialogar. Assim, é preciso que a maternidade se engrandeça para, no imaginário, se alimentar a representação de um pai destruidor”.
Muzio (1998) discute ainda que o tratamento da paternidade, tanto na literatura
científica, quanto na determinação ideológica11, está arraigado à tradição patriarcal que se
transmite, por meio de mitos, preconceitos e outros estereótipos. A autora salienta que a
produção psicanalítica do princípio do século XX até a década de 1960, influenciou,
determinantemente, uma corrente de omissão do pai quando postulou que a relação mãe-bebê
“é a precursora de identidade e saúde mental da criança” (MUZIO, 1998, p.168), constatando:
“Ainda que o pátrio poder seja para ambos pais, a guarda e custódia dos filhos, em caso de
divórcio, é outorgada prioritariamente à mãe” (p.167). 11 A autora afirma que o tratamento da paternidade insere-se na ideologia de dominação masculina oriunda da cultura patriarcal, edificada sobre a base de um determinado modo de produção e conseqüentes relações sociais, que mantêm o homem como ente produtivo, que sustenta a família e é provedor de bens (p.168).
18
Das produções teóricas mais relevantes sobre a relação mãe-bebê destaca-se a
desenvolvida por Bowlby (2002) sobre o apego. Segundo o autor, a mãe criaria vínculos
afetivos capazes de atender as necessidades básicas afetivas e psicológicas da criança.
Contudo, Badinter (1985, p.182) argumenta que a maternidade transcende à sua
origem biológica, sendo uma das possibilidades no repertório da mulher que passou a residir
no imaginário da sociedade como um evento natural e inerente à vida humana,
transformando-se em um apanágio feminino imposto culturalmente. De modo que, a cultura
seria a responsável pelo desenvolvimento desse modelo, perfilhando a idéia de união perfeita
a partir da idealização de uma completude protetora entre mãe e seu filho. Com efeito, caberia
à mãe o papel de guardiã, por conseguinte, ao pai o papel de visitante.
Brito (2002a), ao citar Théry12, pondera que, com a possibilidade de separação, o
casamento deixou de ser suficiente para garantir os laços de parentesco, responsáveis pela
definição dos papéis de cada um dos membros da família dentro das observâncias dos direitos
e deveres de filiação e aliança. A autora acrescenta que essas novas relações familiares
apresentaram à sociedade uma necessidade de se considerar as instituições casal, família e
filiação de forma independente, porém associadas. De modo que, se à conjugalidade é
permitida uma maior liberdade para apreciar diferentes modos de lidar com seus assuntos, no
que concerne à filiação, este tipo de autonomia não cabe. Isso significa que a noção de
indissolubilidade, antes atribuída ao matrimônio, passou a referir-se à parentalidade, gerando
a necessidade de manter a dupla inscrição deste sistema, ou seja, a linhagem materna e
paterna.
Portanto, com as transformações ocorridas na sociedade contemporânea, foi preciso
que a Legislação referente ao Direito de Família aplicasse o princípio da igualdade de direitos
entre homens e mulheres – regulado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de
194813 e, mais particularmente, pelos Art.3º, IV e Art.5º, I da Constituição Federal de 1988 –
aos efeitos da separação judicial na vida dos filhos.
Assim, o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002, atendendo aos princípios
constitucionais da igualdade de direitos entre homens e mulheres e, sobretudo, o princípio da
isonomia entre os cônjuges (Art. 226, §5º), outorgou à esposa o direito de decidir
conjuntamente com o marido sobre as questões de interesse do casal e dos filhos, substituindo
12 THÉRY, I.. Le problème du “démariage”. In: NEYRAND, G. (dir.). La famille magré tout. Paris, Panoramiques (25), 1996, p.19-22. 13 “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.
19
o poder decisório do marido (pátrio poder14) pela autoridade conjunta (direitos e deveres) dos
cônjuges, denominada “poder familiar” (Art. 1.630 a 1.638 do Código Civil).
Para a juíza Comel (2004), o poder familiar:
“...corresponde aos pais que, em igualdade de condições, têm a responsabilidade pelo cumprimento de todas as atribuições que lhes são inerentes. Em posição de igualdade jurídica, reconhecendo-se a ambos os mesmos direitos e obrigações, já não se fala em competências ou encargos diferenciados tão somente por serem de sexos diferentes, ainda que se saiba que na prática, muitas são as diferenças e também as discriminações, tanto do lado masculino quanto do feminino” (COMEL, 2004, http://www.jus.com.br).
O que a referida juíza traz à discussão é a diferenciação entre igualdade jurídica, em
que os pais têm os mesmos direitos no cumprimento de suas atribuições para com a pessoa
dos filhos e a prática desses mesmos direitos, especialmente quando não mais vigora a união
conjugal.
Logo, o que verificamos é que, apesar de o Código Civil garantir a Proteção da Pessoa
dos Filhos (Art 1.583 a 1.590), diante da separação conjugal, a atribuição da guarda carrega
consigo um primeiro grande impasse: a escolha daquele que reunirá as melhores condições
para exercê-la, conforme dispõem os artigos 1.583 e 1.584:
Art. 1.583. No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal pela separação judicial
por mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consensual, observar-se-á o que
os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.
Art. 1.584. Decretada a separação judicial ou o divórcio, sem que haja entre as partes acordo
quanto à guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores condições
para exercê-la.
A partir dessa perspectiva e do entendimento de que, em nome do interesse da criança
os filhos deveriam permanecer com o genitor melhor capacitado para deles cuidar e educar,
que a guarda era e continua a ser delegada, preferencialmente, às mães (BRITO, 2002b).
Trata-se da conseqüência de décadas em que a mãe estava autorizada socialmente a
ocupar o lugar de guardiã dos filhos, zelando por sua saúde e educação. A partir dessa
ancoragem sociohistórica, a mulher teve liberdade e autoridade para exercer seu papel de mãe
e guardiã, sem ser questionada, perpassando a idéia de mulher auto-suficiente nos cuidados
com os filhos, com efeito, contribuindo para a fragilização da relação paterno-filial.
14 Código Civil de 1916, Art. 379 a Art. 395.
20
Para Brito (2002b, p.434), tal fragilização poderia gerar “sérias repercussões quanto ao
exercício da parentalidade, inclusive acarretando prejuízos na preservação dos vínculos de
filiação”. A autora, em pesquisa intitulada Separação, Divórcio e Guarda de filhos – questões
psicossociais implicadas no Direito de Família, desenvolvida junto ao Instituto de Psicologia
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), constata que, apesar da redução na
participação de um dos genitores na responsabilidade com a prole após a separação, esta não
se deve em função do gênero, mas pela posição de visitante. Isso significa que não se trata de
um evento exclusivo ao pai, mas conferido a ele mediante a situação de supremacia da guarda
materna.
Como forma de garantir o exercício da parentalidade, o Código Civil de 2002, além de
eliminar o critério de perda da guarda por culpa na separação judicial, valorizando sobretudo,
as relações de afinidade e afetividade para sua fixação, tenta extinguir os privilégios da mãe
na atribuição da guarda dos filhos, determinando a guarda “a quem revelar melhores
condições para exercê-la” (Art. 1.584). No entanto, o código não estabelece os critérios a
serem observados na escolha do responsável. Desta forma, Brito (2002b) anuncia que a
disputa pela guarda, mesmo que prevista na legislação, favorece o afrontamento dos pais, que
podem apelar para que seus advogados ou representantes legais reúnam provas que
desabonem a conduta do outro. Desse conflito arma-se o “palco da discórdia” (p.436).
Citando Brito (2002b, p.436):
“Despreza-se o fato de que está em jogo o futuro e o desenvolvimento de filhos comuns, colocados no lugar de ‘pomo da discórdia’, ou ainda levados a tomar partido de um dos pais. Situações que podem ecoar na forma de sintomas, apresentados pelas crianças, decorrente de uma questão que não foi definida por eles, ou seja, o término do casamento de seus pais”.
Ramos e Shine (1994) ratificam esta apreciação de Brito, afirmando que os genitores
tendem a trocar acusações graves com relação à incompetência do outro em tarefas
domésticas e no trato com as crianças, antes considerados irrelevantes. Neste afrontamento
pela guarda da criança, o perdedor recebe o título de visitante, situação esta de total
desconsideração pelo desenvolvimento dos filhos, especialmente, quando os pais se enfrentam
como adversários.
O que se pode depreender dessas situações de conflito é que, quando as mães são
colocadas no lugar de guardiãs, algumas dificultam o relacionamento entre pais e seus filhos,
21
equiparando a separação conjugal à parental, conseqüentemente, levando à interrupção do
exercício da parentalidade.
Em pesquisa mencionada por Montgomerry (1998)15, 50% das crianças norte-
americanas, nascidas na década de 1990, não conhecem o pai biológico e 15% delas não têm
estimulado o contato com o pai pela mãe-guardiã. Em suas palavras: “esse número de mães
tenta sabotar que os pais vejam e estejam mais tempo com as crianças” (p.113). Mais adiante
o autor pergunta: “Gostaria de entender por que a lei dá a algumas mães o poder de afastar os
filhos dos pais?” (p.115).
Salvo situações extremas em que os direitos da criança são violados, a lei não impede
os pais de exercerem seu direito de conviver com os filhos. Brito (2001a) lembra ainda que,
conforme dispõe o Art. 9º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 –
diploma internacional decorrente da Declaração Universal dos Direitos Humanos – a criança
tem o direito de ser, efetivamente, educada por pai e mãe.
“Assim, após a proclamação da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, o entendimento é de que o interesse da criança está em manter o relacionamento pessoal com seu pai e sua mãe, sendo reconhecido como um direito essencial da criança o de ser educada por seus pais. As críticas constantemente proferidas de que o melhor interesse da criança é uma noção vaga, indicou a necessidade destes interesses serem nomeados, conduzindo ao elenco de direitos listados na Convenção” (BRITO, 2001a, p.25-26).
Vale ressaltar que o genitor-guardião está obrigado por Lei16 a responder judicialmente
pela omissão do outro pai na criação e educação de seus filhos, o que se configura quando a
mãe guardiã é a causa da obstrução do direito da criança de conviver e ser educada pelo pai,
direito este garantido pelo Art. 227 da Constituição Federal e ampliado, tanto na Lei n°
8.069/1990 – Art. 4º e 19 a 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – quanto nos Art.
1.630, 1.632 e 1.634 do Código Civil de 2002. Portanto, privar a criança do convívio com o
genitor não guardião, sem motivo justificável, implica, não somente, na infração aos direitos
da criança como em prejuízo ao seu desenvolvimento psico-afetivo e educacional.
Nesse contexto, alguns pais recorrem à regulamentação de visitas na tentativa de
assegurar, por lei, seu direito de convívio e educação dos filhos, configurando, por vezes, uma
disputa pela guarda entre os genitores. Nesse ínterim, verificamos que algumas mães acusam
os ex-maridos de abusarem sexualmente dos filhos, alijando-os do processo de parentalidade,
15 National Fatherboard Iniciative, Lancaster, Pensilvannya (sem data). 16 Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código Civil de 2002.
22
mantendo, apenas, a obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia e outros gastos
acordados em juízo.
De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, sempre que houver hipótese de
opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, existe a compreensão dos
juristas de que os direitos das crianças e dos adolescentes – reconhecidos no Art. 227 da
Constituição Federal de 1988 e no Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990
(ECA, Lei nº 9.086/90) – devem ser protegidos.
Segundo Pereira (2002), diante dessas condições, a promotora orienta à aplicação do
Art. 13017 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na hipótese dos pais estarem separados, a
exclusão paterna também é sustentada por Pereira (2002) por meio da suspensão da visita,
mesmo nos casos em que existam apenas indícios de abuso sexual contra a criança. Uma
interpretação da Lei na qual a autora se orienta para autorizar, liminarmente, o afastamento do
suposto agressor, ad cautelam, ou seja, como medida cautelar (sem a realização de audiência
prévia do suposto agressor), a fim de não frustrar o caráter protetivo da medida, até que a
questão reste completamente esclarecida.
“Não se pode, em tempos de supremacia dos direitos da criança e do adolescente, ora tão protegidos pelo ECA, relegar uma criança à sua própria sorte. Enquanto pairem dúvidas a suspender a guarda do mesmo e, ainda, que seu direito de visita seja exercido sob a fiscalização de pessoa de confiança. Tudo em prol da exclusiva defesa dos interesses da criança, cuja proteção não pode o Estado se negar a propiciar” (p.55).
Schreiber (2001, p.81) afirma que “a observância dos deveres disciplinados no
Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como na Constituição Federal, constituem o
exercício pleno do princípio da prioridade absoluta, em prol da proteção dos interesses da
criança e do adolescente”. Assim, frente a situações de maus-tratos de crianças e adolescentes,
o princípio constitucional da prioridade absoluta, incorporado ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, garante primazia no cumprimento dos direitos fundamentais da população
infanto-juvenil em virtude de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
Tal circunstância, à primeira vista, parece macular o Princípio Constitucional da
Presunção da Inocência18 – tecnicamente denominado in dubio pro reo – que garante, ao
acusado, exercer seus direitos, não podendo ser considerado culpado até o trânsito em julgado
17 Art. 130 (ECA): “Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum”. 18 Art. 5º Inciso LVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
23
de sentença penal condenatória. Contudo, Schreiber (2005) explica que o texto constitucional
não presume a inocência, mas faz uma desconsideração prévia da culpabilidade, não se
consagrando, propriamente, no princípio da presunção da inocência. Nesses termos, este
princípio concentra sua aplicação no campo probatório, ou seja, quando, a despeito da
apreciação das provas produzidas pela parte autora (via de regra, o Ministério Público),
restarem dúvidas, deve a disputa judicial ser decidida a favor do acusado.
O que tal apreciação sustenta, no tocante à denúncia de abuso sexual contra a criança,
é a formação e manutenção, invariável, de uma aura de suspeição que circunda o acusado,
assim como da presunção pela existência de dolo19, urgindo que a prioridade recaia à garantia
dos direitos da criança.
Nesse sentido, o Estado, investido da competência para cassar os direitos de
paternidade se assim julgar necessário, executa procedimentos de investigação da vida
privada, tudo em nome do preceito da proteção e vigilância à criança.
Todavia, alguns autores têm se colocado de forma mais criteriosa em relação ao
afastamento do pai do convívio da criança supostamente abusada, exclusivamente, a partir de
uma suspeita. Na concepção dos autores, tal atitude pode ser considerada prematura, por
conseguinte, prejudicial, não apenas à relação pai e filho, como também ao próprio processo
de investigação e confirmação do abuso (CESCA, 2004; FURNISS, 2002; NJAINE, SOUZA,
MINAYO & ASSIS, 1997; SANDERSON, 2005; SGROI, 1982; SILVA, 2002).
Na apreciação de Cesca (2004), a intervenção na família, como forma de proteger a
criança, representa um dilema em que a autora questiona qual seria o limite entre a proteção
aos direitos da criança e o respeito à convivência familiar. Admite, contudo que, em certas
ocasiões, o afastamento seja a única alternativa viável somente após esgotar todos os recursos
possíveis.
Nossa experiência tem nos mostrado também, que alguns afastamentos são
promovidos por ordem judicial, mediante análise de laudos de profissionais os quais apenas se
remetem à fala da acusação. Para Nogueira e Sá (2004), a palavra da mãe – que acusa o pai de
violentar sexualmente dos filhos – recebe o status de única verdade, portanto, inquestionável,
encerrando o discurso sobre a criança. As autoras alertam que, mesmo que a criança seja
19 Segundo Mirabete (2003, p.181), o dolo é a vontade dirigida à realização do tipo penal. São elementos do dolo, portanto, a consciência e a vontade.
24
contemplada na escuta do profissional, suas palavras podem estar configuradas nos moldes do
pensamento materno, a fim de garantir a concretização de interesses específicos desta última.
“Trata-se, na verdade, de uma situação em que a criança fala e manifesta a possibilidade de não-ocorrência do abuso, mas a genitora não outorga caráter de verdade às suas palavras, desmentindo-as e desejando que a criança viva, acredite e reproduza as que estão na versão materna” (NOGUEIRA & SÁ, 2004, p.89).
Green (1986), ao analisar uma série de casos de falsas alegações de abuso sexual,
concluiu que crianças, antes consideradas abusadas sexualmente, na realidade, não haviam
sido molestadas. O autor também constatou que, em alguns casos, os especialistas, por não
terem sido capazes de chegar a um consenso sobre a existência do abuso, preferem, por vezes,
conservar a palavra da mãe (e a palavra da criança) como evidência a fim de promover o
afastamento do pai acusado como medida de prevenção e proteção da criança.
Contudo, Dolto (2003) alerta que “a criança precisa, principalmente, de um
interlocutor que não a leve imediatamente a sério e que compreenda o clima afetivo do qual
emanam suas afirmações e sua ‘ação’. O que a criança diz nem sempre deve ser tomado à
primeira vista” (p.143).
Tal afirmação pode ser melhor compreendida se analisarmos as declarações feitas por
algumas crianças consideradas vítimas de abuso sexual que, compelidas a corresponder às
expectativas ou ameças da mãe, anunciam a inexistência do abuso sexual.
Para Nogueira e Sá (2004), a coação e o constrangimento psíquico podem ser
compreendidos como uma prática de violência psicológica ou emocional, cuja intenção é
vencer a resistência da criança e levá-la a aceitar o abuso sexual como uma realidade.
Wallerstein e Kelly (1998) reconhecem que após a separação conjugal pode existir
uma situação de “alinhamento” (p.95) da criança com o guardião. O alinhamento é definido
como um relacionamento específico que ocorre quando um dos pais e um dos filhos
estabelecem alianças ou vínculos entre si.
Nossa experiência, em pesquisa20 com filhos de pais separados, tem nos mostrado que
o processo de alinhamento tende a estar relacionado com os arranjos da guarda, assim como,
com a idade e o sexo da criança. Desta forma, o alinhamento materno ou com o genitor que
detém a guarda está mais propenso a se manter, não só pela intensidade dos sentimentos
subjacentes ao divórcio, mas em função dos vínculos de dependência e afinidade, assim como
20 BRITO, Leila Maria Torraca. Rompimento conjugal e parentalidade – impasses e (des)orientações, Projeto de Pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, Instituto de Psicologia UERJ, 2002 a 2005.
25
pelo “reforço diário” (convivência cotidiana), como explicaram Wallerstein e Kelly (1998,
p.96). Neste caso, crianças muito jovens (do sexo feminino) tendem a ficar aos cuidados da
mãe, com propensão a formar tais alianças. Verificamos, também, que, em alguns casos,
especialmente quando há conflito entre o casal parental, o alinhamento torna-se uma forma de
ataque ao outro progenitor.
De acordo com Wallerstein e Kelly (1998) e Brito (2001a; 2002a), diante da separação
conjugal dos pais, crianças tendem a apresentar diferentes respostas emocionais
(especialmente, a negação e a angústia), na tentativa, por exemplo, de manejar a perturbação
causada pelo afastamento de um deles. Na concepção das autoras, algumas crianças estariam
bastante sensibilizadas e vulneráveis com a separação dos pais, podendo se deixar envolver
pela raiva do genitor guardião em relação ao outro, tornando-se aliadas fiéis contra este
último. As autoras acrescentam, ainda, que tais crianças estariam, simultaneamente, carentes
de afeto e fascinadas com a sedução parental.
Processo semelhante foi definido pelo médico psiquiatra e professor de Clínica
Psiquiátrica Infantil da Universidade de Columbia (EUA), Dr. Gardner, no ano de 1985.
Denominado Síndrome de Alienação Parental (SAP), consiste em um distúrbio psico-afetivo
que a criança manifesta, no contexto da separação conjugal, no qual torna-se aliada do genitor
que detém a guarda contra o genitor não-guardião. Sob essas circunstâncias, a criança tenderia
a manifestar sintomas de rejeição e depreciação exagerada ao genitor alienado que fora,
anteriormente, amado.
Desta forma, em razão de as mães serem as guardiãs preferenciais dos filhos em
91,4% dos casos de separação conjugal (BRASIL: IBGE, 2003), são consideradas o genitor
alienador mais freqüente, responsáveis por despertar, na criança, sentimentos de discórdia ou
indiferença para com os pais.
Não obstante, quando a criança tem a oportunidade de ser acolhida por profissionais
capacitados e dispostos a ouvi-la ou por adultos de sua confiança, ela tende a revelar, mais
facilmente, as circunstâncias vivenciadas, seja de coerção, alinhamento ou de
constrangimento psíquico, permitindo uma intervenção na dinâmica a qual está inserida, como
podemos observar nos seguintes fragmentos de entrevista realizadas com crianças:
• Criança A., sexo feminino, 4 anos – “Minha mãe falou que meu pai é mau, que faz
maldade (...) ela disse que vai me bater na minha cara se eu falar que gosto dele e da
vovó” (Amendola, 2004, p.157).
26
• Criança E., sexo feminino, 4 anos – “Olha só: eu estava lá com meu pai, ele me deu banho
e botou esse dedo, não... esse... agora não sei qual dedo minha mãe falou; foi esse dedo na
minha perereca, porque ele é um monstro, não merece a princesinha. Pronto, tia, agora a
gente pode brincar?” (NOGUEIRA & SÁ, 2004, p.92).
Como podemos perceber, essas crianças fizeram afirmações claras, apresentando-se
como porta-vozes da mãe. As idéias e palavras, por não lhe serem próprias, mas fornecidas
pela genitora, surgem como que decoradas, com o propósito exclusivo de transmitir o discurso
materno, mesmo que este faça pouco ou nenhum sentido.
Assim sendo, podemos concluir que a transmissão da autoridade ou poder familiar
tornou-se uma tarefa complexa, em grande parte, pelas rupturas e recomposições familiares,
havendo a necessidade de sopesar essas relações de poder e de papéis familiares na tentativa
de preservar e promover o pleno exercício da parentalidade.
27
1.2 Analisando e (des)construindo conceitos
Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem somos?
Cícero Pereira
Neste tópico, propomos analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, os diversos
conceitos sobre violência sexual contra criança, também designados como: abuso sexual,
agressão sexual, vitimização sexual, maus-tratos, sevícia sexual, crime sexual e outros tantos
termos utilizados, indiscriminadamente, na literatura como sinônimos (ARAÚJO, 2002;
FALEIROS, 2004; FALEIROS & CAMPOS, 2000; FLORES, 1998; FURNISS, 2002;
GONÇALVES, 2003; MINAYO, 2005; RIBEIRO, FERRIANI & REIS, 2004).
É possível notar que a terminação “abuso sexual infantil” é a mais empregada, sendo
disseminada entre os pesquisadores para designar situações de violência sexual contra a
criança. O termo “violência intrafamiliar” também sofre variações em sua nomenclatura,
podendo ser chamado por abuso sexual doméstico, violência sexual doméstica, abuso sexual
incestuoso ou incesto.
A existência de diversas denominações para a violência sexual reflete, não apenas uma
questão de terminologia, mas, principalmente, uma questão epistemológica, segundo a qual, a
complexidade e a diversidade das manifestações da violência, associada à falta de clareza de
conceituação, permitem que o fenômeno da violência sexual seja tratado conforme opiniões e
ideologias, mormente subjetivas, individuais e/ou compartilhadas pela cultura a qual o
indivíduo está inserido (FALEIROS & CAMPOS, 2000).
Gonçalves (2003) apresenta, em sua tese de doutorado, uma farta discussão sobre
violência, incluindo um levantamento histórico-cultural relativo à construção de conceitos
para o fenômeno. A autora privilegia a análise de trabalhos que apontam a influência da
cultura e crenças de determinadas comunidades em relação ao que se entende por violência.
Para Gonçalves e Marques (2001),
“O conjunto da produção sobre a violência serve para mostrar, de um lado, que suas manifestações são diversas conforme o contorno social e cultural: o que é violência em uma nação pode não ser tomado como violência em outra, e práticas condenadas em certos países podem ser referendadas, ou mesmo recomendadas em outro. Em conseqüência, varia também o impacto sobre a criança, que reage à conduta dos pais tomando por referência o sentido que a cultura imprime a cada um dos seus atos” (p.51).
28
Garbarino e Gilliam (1981) explicam que a definição de violência contra a criança
depende das circunstâncias em que estão inscritas. Eles sustentam que alguns fatores devem
ser considerados na elaboração de um conceito para abuso sexual, como: intencionalidade do
autor; conseqüências do ato na vítima; avaliação de um observador e, finalmente, os padrões
culturais que orientam o responsável pela avaliação. Haugaard e Repucci (1988) entendem
que a idéia de conjugar tais fatores na tentativa de elaborar um conceito para abuso sexual é
relevante, no entanto, criticam quanto à viabilidade em avaliar o que seja abuso sexual,
acreditando que, na prática, não é possível observar esses dados de forma isolada, justamente,
por estarem sujeitos às influências socioculturais predominantes, às convicções profissionais e
aos valores e crenças pessoais.
Finkelhor (1979), em sua pesquisa sobre abuso sexual contra a criança, elegeu três
itens para orientá-lo no processo de construção de um conceito para violência sexual:
anuência (consentimento da criança), relato da vítima e padrão da comunidade. Seus esforços
para elaborar este conceito o levaram a perceber que, embora alguns casos de contato físico
entre crianças e adultos pudessem ser declarados como abusivos sexualmente, outros atos não
admitiam tal interpretação em função do que denominou padrões comunitários. Esse padrão
considera a idade das crianças e do seu agressor, além das relações existentes entre ambos e o
julgamento social, ou seja, o entendimento da comunidade sobre relação sexual entre crianças
e adultos e vitimização21.
Flores (1998) também considera a relatividade cultural como um aspecto relevante a
ser considerado na definição de abuso sexual:
“Embora alguns tipos de contatos físicos mais íntimos possam ser aceitáveis em grupos com diferentes culturas e concepções acerca da sexualidade, para outros grupos, no entanto, o mesmo comportamento pode ser percebido como algo inadequado” (p.26).
Outros autores (AMAZARRAY & KOLLER, 1998; AZEVEDO & GUERRA, 1989;
GABEL, 1997; KOLLER, 2000; PADILHA & GOMIDE, 2004; SANDERSON, 2005)
propõem que seja verificada a confluência de aspectos em comum nas ocorrências de abuso
sexual contra a criança, tais como: impossibilidade de a criança decidir sobre sua participação
na relação abusiva (anuência); uso da criança como estimulação sexual do adulto e abuso de
poder por meio de ação coercitiva do adulto sobre a criança.
21 Vitimização é um termo usado por Finkelhor (1979) como sinônimo para abuso sexual, pois ele afirma que as relações sexuais entre adultos e crianças implicam em sofrimento, pressupondo que as crianças sejam vítimas da ação.
29
Gabel (1997), em seu propósito de construir um conceito para abuso sexual, analisou a
etimologia da palavra latina abusus, trazendo algumas idéias a respeito de como entender o
fenômeno. Relatando que abusus significa “afastamento do uso normal” (p.10), a autora nos
remete à concepção mais ampla de ultrapassagem de limites ou transgressão e define abuso
sexual como aquele:
“...claramente situado no quadro dos maus tratos infligidos à infância. Essa noção, aparecida recentemente, assinala o alargamento de uma definição em que se passou da expressão “criança espancada” na qual se mencionava apenas a integridade corporal, para “criança maltratada” na qual se acrescentam os sofrimentos morais e psicológicos. Maus tratos abrange tudo o que uma pessoa faz e concorre para o sofrimento e a alienação de outra” (p.10).
Faleiros e Campos (2000) partiram da origem etimológica de abuso e empreenderam,
em 1998, um estudo sobre os conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e
de adolescentes, concluindo pela definição de abuso sexual como uma situação de
transposição de limites, da Lei, do poder, de papéis, regras e tabus sociais e familiares,
considerando ainda que as situações de abuso infringem maus-tratos às vítimas.
Para Faleiros (2004),
“Em toda a bibliografia consultada aparecia a idéia recorrente de que abuso é uma situação de uso excessivo, mau uso e ultrapassagem de limites... O que define, pois, o abuso sexual é a ultrapassagem de limites. Nas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes trata-se de uma ultrapassagem de limites culturais, legais, éticos, geracionais” (p.15).
Faleiros e Campos (2000) afirmam, ainda, que há um consenso nas pesquisas sobre a
violência sexual contra crianças quanto à sua forma de expressão: por meio de uma relação
assimétrica e hierárquica de poder, no qual estão presentes agentes e/ou forças com níveis
desiguais de conhecimento, de autoridade, de experiência, de maturidade, cuja vontade de uns
está subordinada à de outros que exercem dominação e privação da autonomia.
Chauí (1985) apresenta outra perspectiva. A autora concebe violência, não como
violação ou transgressão de normas, porém, como relação hierárquica de desigualdade com
vistas à dominação e exploração, onde a vítima deixa de ser concebida como ser humano,
passando a ser tratada como coisa, caracterizada pela inércia, passividade e silêncio.
“Em lugar de tomarmos a violência como violação e transgressão das normas, regras e leis, preferimos considerá-la sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica de desigualdade com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto é, a conversão dos diferentes em
30
desiguais e a desigualdade em relação entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa” (p.31).
Segundo esse preceito, a violência sexual contra a criança é uma violação do direito de
liberdade, do direito de ser sujeito constituinte da própria história (ARAÚJO, 2002).
Faleiros e Campos (2000) elaboraram uma análise de vários aspectos que julgaram
relevantes à construção de conceitos específicos para violência sexual, abuso sexual e maus-
tratos. Elas criticaram, essencialmente, a forma tradicional/didática de se classificar violência
– violência física, psicológica e sexual – entendendo que toda violência sexual, em situações
práticas, conjuga às outras duas formas de violência.
Gonçalves (2003) também compartilha dessa concepção. A autora compreende que a
manifestação da violência não ocorre em estado “puro”, mas em um estado “co-mórbido”
(p.130), isto é, associada às suas diversas formas já identificadas na literatura como: abuso
físico, abuso sexual, abuso psicológico e negligência.
Gomes (2004), no entanto, fornece outra visão. Em sua apresentação no VII Encontro
Regional de Família no Rio de Janeiro, asseverou que todo ato abusivo envolve cinco
aspectos: físico, psicológico, social (ideológica), espiritual (crenças e valores pessoais) e
sexual; que podem ocorrer juntos ou separadamente.
O Ministério da Saúde (BRASIL: MS, 2001) tipificou a violência como sendo:
o Violência física: toda ação que causa ou visa a causar dano a alguém por meio de força
física ou de instrumentos que possam causar violação da integridade física por lesões
internas, externas ou ambas;
o Violência psicológica: (emocional ou oculta) de difícil identificação, compreendida como
toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à auto-estima, à identidade ou ao
desenvolvimento da pessoa;
o Negligência: omissão de responsabilidade de um ou mais membros da família em relação
a outro(s), sobretudo se há necessidade de cuidados por questões de idade ou condição
física precária, seja permanente ou temporária;
o Violência sexual: ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga uma outra à
realização de práticas sexuais, utilizando-se de força física, influência psicológica ou uso
de armas ou drogas (grave ameaça).
Como podemos constatar, a conceituação de violência sexual pelo Ministério da Saúde
prevê a associação de outros tipos de violência, como a violência física e a psicológica.
31
Para Minayo (2005), a tipologia que categoriza o fenômeno da violência corresponde
às suas manifestações empíricas – violência auto-infligida, violência interpessoal e violência
coletiva – mas que comportam, a “natureza dos atos violentos” (p.58), classificada nas quatro
modalidades, anteriormente, citadas.
Na dinâmica da violência sexual contra a criança, além da associação de violência
física e psicológica, Faleiros e Campos (2000) salientam o caráter íntimo e relacional que a
compõe. De acordo com Faleiros (1997), essa visão relacional concebe o ser humano como
um ser constituído por suas relações sociais complexas, envolvendo várias dimensões que se
articulam: a interpessoal, as relações de trabalho e as familiares.
A violência sexual contra crianças seria, nesse sentido, interpessoal, compatível com a
suposição de que existiria um grau de conhecimento e intimidade entre o adulto e a criança,
onde haveria (FALEIROS & CAMPOS, 2000):
o papéis de autoridade e de proteção entre eles;
o sentimentos que os manteriam unidos;
o algum nível de violência física e psicológica empregado (estupro, tortura, assassinato);
o conseqüências.
A partir disso, as pesquisadoras, acima citadas, afirmam que, para conceituar violência
sexual contra crianças, faz-se mister compreender a natureza do processo que irá conferir um
caráter sexual à violência, salientando que esta (FALEIROS & CAMPOS, 2000, p.10):
• Adultera as relações sócio-afetivas e culturais entre adultos e crianças, transformando-as
em relações genitalizadas, erotizadas;
• Inverte a natureza dessas relações definidas socialmente, tornando-as não-protetoras;
individualistas e narcisistas; desestruturadoras em lugar de socializadoras; agressivas e
perversas ao invés de afetivas.
• Gera confusão com relação à representação social dos papéis dos adultos (de pai, mãe,
irmão(ã), avô(ó), tio(a), professor(a), etc.), implicando em perda de legitimidade de seus
papéis e funções sociais;
• Confunde os limites intergeracionais.
Assim, as autoras concluem que os conceitos de violência, abuso sexual e maus-tratos
não são sinônimos, mas epistemologicamente distintos, passando a definir:
“Violência é a categoria explicativa da vitimização sexual; refere-se ao processo, ou seja, à natureza da relação (de poder) estabelecida quando do abuso sexual”. “Abuso
32
sexual é a situação de uso excessivo, de ultrapassagem de limites: dos direitos humanos, legais, de poder, de papéis, de regras sociais e familiares e de tabus, do nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe, compreende, pode consentir e fazer”. “Maus tratos é a descrição empírica do abuso sexual; refere-se a danos, ao que é feito/praticado/infringido e sofrido pelo vitimizado, ou seja, refere-se aos atos e conseqüências do abuso” (FALEIROS & CAMPOS, 2000, p.10)
Apesar de as autoras considerarem suas definições satisfatórias, admitem que não há
um conceito único e preciso para se aplicar ao abuso sexual.
Outros autores e estudiosos da temática (ASSIS, 1994; GONÇALVES, 2003;
MINAYO, 1999; RIBEIRO, FERRIANI & REIS, 2004) assentem que o atual conhecimento
acerca da violência sexual ainda está em processo de elaboração devido à sua complexidade e
controvérsia.
Nesse contexto, Gonçalves (2003) alerta que, ao se abarcar todo e qualquer
comportamento que, hipoteticamente, possa gerar algum transtorno ou dano à criança; ou,
contrariamente, ao se reduzir o comportamento a algumas práticas específicas tidas como
violentas, os efeitos, tanto no caso da expansão do conceito, quanto no de sua contração, serão
percebidos ou sentidos de acordo com o valor moral que os compõem. Assim, poderíamos nos
questionar se um beijo dado na boca de uma criança por sua mãe seria um gesto desviante,
patológico, um abuso ou uma demonstração de amor. A psicóloga Faiman22, em entrevista a
Revista Crescer em família (jul/2004), ressalta a necessidade de se avaliar o sentido às ações:
“O hábito de beijar a criança na boca é uma forma de carinho. E é um risco fixar-se em comportamentos determinados para definir o abuso. Deve-se sempre levar em conta o contexto, os hábitos familiares, que é o que confere sentido às ações. Até mesmo a nudez pode ter conotações absolutamente distintas, dependendo da família” (REVISTA CRESCER, jul/2004).
Contudo, se houver a expansão do conceito, a concepção de um beijo na boca ou a
manipulação nos genitais de bebês – considerada uma demonstração de afeto por algumas
comunidades africanas – pode ser equivalente ao intercurso sexual em outras culturas.
Desta forma, para a autora, se o contexto cultural estiver dissociado do comportamento
dirigido a uma criança, existe o risco deste ser interpretado como um desvio, uma doença e/ou
um fracasso de adequação às regras sociais, como no caso da iniciação sexual de meninas
africanas por irmãos, pais ou outros parentes. Para essas meninas, não se trata de um ato
22 Autora do livro Abuso Sexual em Família: A Violência do Incesto à Luz da Psicanálise, Editora Casa do Psicólogo, 2004.
33
abusivo, mas um ritual de “reconhecimento da própria existência como sujeito”, dando-lhes
acesso a um conjunto de favores e ao mundo adulto (GONÇALVES, 2003, p.137).
Vicente Faleiros (1998) parte do mesmo princípio quando afirma que a violência não
deve ser entendida como ato isolado, “psicologizado pelo descontrole, pela doença, pela
patologia, mas como um desencadear de relações que envolvem a cultura, o imaginário, as
normas, o processo civilizatório de um povo” (p. 267).
Essa concepção, também compartilhada por outros autores (FALEIROS & CAMPOS,
2000; FINKELHOR, 1979; FLORES, 1998; GARBARINO & GILLIAM, 1981;
GONÇALVES, 1999; 2003; GONÇALVES & MARQUES, 2001; HAUGAARD &
REPUCCI, 1988; JUNQUEIRA, 1998; SANDERSON, 2005), compreende a violência sexual
como um fenômeno de natureza sociohistórica e cultural, isto é, influenciado de maneira
intensa pela cultura e pelo tempo histórico em que ocorre, devendo ser analisado no contexto
em que está inserido.
Haugaard e Repucci (1988) também colocam em discussão essas considerações e
afirmam que há um grande número de atos, vagamente definidos, que vêm sendo utilizados
para conceituar abuso sexual. Algumas das pesquisas citadas pelos autores adotaram critérios
para classificar os atos a partir da intensidade ou gravidade com que ocorrem e o resultado foi
a divisão entre: abuso sexual com contato físico, considerado mais grave e abuso sexual sem
contato físico (voyerismo, exibicionismo, pornografia, indução à prostituição). Os
pesquisadores perceberam que a conseqüência imediata da inclusão de casos considerados
como abuso sem contato físico é a elevação do índice de abuso sexual com um todo.
O mesmo problema foi declarado por Sanderson (2005). Segundo a autora, o espectro
de atos sexuais empregados para caracterizar uma ocorrência de abuso sexual contra a criança
é amplo, pois inclui tanto comportamentos de contato quanto de não-contato. Desse modo,
para desenvolver uma definição de abuso sexual, seria preciso determinar quais desses atos
poderiam ser considerados abusivos. Sanderson (2005) acrescenta, ainda, que a falta de
concordância na definição dificulta a realização de estatísticas expressivas que analisem a
extensão ou incidência do problema, dada a variabilidade das informações em virtude da
definição utilizada pelos pesquisadores.
A questão da incidência de abuso sexual já foi discutida por Gonçalves (2003), que
também destacou a imprecisão conceitual como o principal problema para o levantamento de
34
dados e, conseqüentemente, para o desenvolvimento de estatísticas que dêem suporte para
apreender a dimensão do fenômeno.
Portanto, podemos constatar que não há consenso em relação ao conceito de violência
sexual, de forma que pesquisadores e profissionais tendem a adotar critérios e definições
compatíveis com suas afinidades teóricas a fim de nortear seus trabalhos. Outros, ainda,
preferem adotar conceitos elaborados por profissionais que se tornaram especialistas
renomados em suas áreas de atuação, como o médico pediatra Tilman Furniss (2002). Com
mais de quinze anos de profissão assistindo a casos de abuso sexual de crianças e
adolescentes, este autor classifica abuso sexual como uma forma específica de violência
contra a criança, quando esta é incitada a violar papéis familiares e tabus sociais por meio de
práticas sexuais as quais não é capaz de dar consentimento. Para esse autor, “o abuso sexual
da criança é definido por afirmações normativas implícitas ou explícitas no contexto dos
específicos sistemas cultural, social e legal” (p.12), isto é, as crianças seriam dependentes e
imaturas sexualmente (dependência estrutural), sem condições de compreender as atividades
sexuais e tão pouco consenti-las.
Alguns dos conceitos mais empregados são os fornecidos por instituições
internacionalmente reconhecidas por pesquisas e práticas na área de saúde. O Relatório
Mundial sobre Violência e Saúde preparado pela Organização Mundial de Saúde (OMS,
2002), conceitua violência sexual como:
“qualquer ato sexual ou tentativa de ato sexual não desejada, ou atos para traficar a sexualidade de uma pessoa, utilizando coerção, ameaças ou força física, praticados por qualquer pessoa, independentemente de suas relações com a vítima, em qualquer cenário, incluindo, mas não limitado, ao do lar ou do trabalho”.
A definição desenvolvida por instituições nacionais, como a Associação Brasileira
Multidisciplinar de Proteção à Infância e à Adolescência – ABRAPIA – também vem sendo
divulgada e amplamente utilizada por conter um detalhamento dos atos implicados em abuso
sexual infantil. Para essa Associação (ABRAPIA, 2002, p.8):
“A violência sexual é uma situação em que uma criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de um adulto ou adolescente mais velho, baseado em uma relação de poder que pode incluir desde carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, exploração sexual, voyerismo, pornografia e exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração, com ou sem violência física”.
35
Podemos inferir, desta forma, que a procura por um conceito definitivo sobre violência
sexual reflete a intenção de os pesquisadores universalizarem o fenômeno, a fim de
reconhecê-lo, controlá-lo ou preveni-lo, de forma semelhante, em todas as épocas e lugares.
Contudo, a universalização pretendida fere a idéia de objeto sociohistórico, extraindo deste,
sua principal característica – a mutabilidade que a cultura lhe confere. Esta “estabelece as
bases que permitem diferenciar entre o que é aceito como não violento e o que é condenado
como violento” (GONÇALVES, 1999, p.142).
Assim, a partir da vertente sociohistórica, é possível encontrar uma variedade de
conceitos de violência sexual contra a criança que se constroem e se desconstroem de acordo
com o momento histórico e cultural.
Apesar dessa compreensão, alguns autores justificam a intenção de estabelecer um
conceito para violência sexual a partir da necessidade de uma intervenção médico-assistencial
uniforme e acurada.
Segundo Caplan e Nelson (1973), a ausência de uma definição precisa pode acarretar
dificuldades no que concerne à solução de problemas, pois os autores acreditam que as
intervenções devem ser planejadas com base em conceitos específicos para serem bem-
sucedidas. Portanto, na concepção desses pesquisadores, a falta deste conceito universal
implicaria, também, na falta de parâmetros seguros para iniciar um processo de intervenção,
justificando qualquer procedimento que se declare promotor do bem-estar da família e da
criança.
Ao constatar essa realidade, os autores afirmam que alguns profissionais, envolvidos
com casos de abuso sexual contra a criança, tendem a utilizar critérios de definição que
coadunam com seus próprios valores, de modo que os atendimentos e avaliações ficam
passíveis de descrédito, pois podem ser considerados enviesados por concepções pessoais.
Em relação às intervenções universalizantes, estas também apresentam problemas,
pois não promovem diálogo com a cultura, cumprindo com uma função exclusiva de localizar
e banir o que é considerado conflitante com a norma universal. Assim, em nome da proteção
da criança, os sistemas de valores culturais seriam colocados à margem do processo de
identificação da violência, passando-se a promover intervenções segundo o que foi postulado
como desviante (GONÇALVES, 2003).
Apesar das divergências na definição de violência sexual, o Ministério da Saúde
(BRASIL: MS, 1999) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 1993) – entidade que
36
computa o número de vítimas e seqüelas orgânicas e emocionais na caracterização da
ocorrência de violência – concebem a violência sexual como um complexo problema de saúde
pública, cujo enfrentamento torna-se um grande desafio para a sociedade.
Minayo (1994) concorda com esta acepção, enfatizando que o setor de saúde constitui
o local de maior afluência de todos os corolários da violência, sobrecarregando os serviços de
urgência, de atenção especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social.
Foi cogitando nisso que Haugaard e Repucci (1988) declararam que a importância de
suas pesquisas estava na necessidade de se desenvolver uma definição para violência sexual
que fosse comum em todas as áreas para que, ao se comunicar ou denunciar, a palavra
violência sexual contra criança pudesse transmitir o mesmo significado, permitindo a todos
os profissionais uma compreensão simultânea e clara do assunto, assim como uma postura de
enfrentamento convergente e eficaz.
Portanto, a identificação da violência sexual por diferentes áreas do conhecimento
permitiria que estratégias operacionais de intervenção (prevenção, repressão e tratamento)
contra a violência sexual infantil pudessem ser desenvolvidas e aplicadas por meio de
programas nacionais (BULHÕES, 2004; SILVEIRA, 1996).
Nesse contexto, De Paula (2004) e Faleiros e Campos (2000) discutem a necessidade
de alterar o Código Penal Brasileiro – Decreto-lei n° 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – para
que sejam previstas as tipificações dos crimes de abuso sexual, incesto e exploração sexual,
de modo que as estratégias de intervenção possam ter respaldo legal.
De Paula (2004) explica que tal tipificação da violência sexual contra a criança na
Legislação Penal é um anseio de muitos que atuam na área. Uma alteração que tem em vista a
adaptação do Código Penal à realidade nacional diante de seis décadas de transformações de
cunho social, histórico, cultural, político, familiar, ético e religioso.
“...o direito penal tem como finalidade proteger a sociedade, através da proteção dos bens jurídicos que são tutelados, tais como vida, saúde, integridade física, liberdade sexual, etc. O que acontece, na esfera penal, é que a precisão dos termos é muito importante e isso é garantia para todos nós... só há crime se ele estiver previsto em lei” (p.36).
De modo geral, partindo das análises e discussões sobre os conceitos elaborados pelos
pesquisadores sobre violência sexual contra a criança, podemos afirmar que esta modalidade
de violência pode ser considerada uma prática específica de um processo mais amplo de
violência contra a criança e que carrega, intrinsecamente, a capacidade de ser,
simultaneamente, um fenômeno de caráter universal – cuja ocorrência é identificada
37
mundialmente, nas diferentes classes sociais – e sociohistórico – contextualizado em
parâmetros (valores e práticas), especificamente, culturais e sociais.
Assim, apesar de, ainda, não haver um consenso sobre que aspectos considerados
determinantes ou prescindíveis à definição do fenômeno que possa, concomitantemente,
contemplar todas as suas peculiaridades, alguns estudiosos do assunto descrevem a violência
sexual contra a criança com um evento complexo e dinâmico, capaz de concentrar algunas
características em comum, como: o dano e o poder (AMAZARRAY & KOLLER, 1998;
AZEVEDO & GUERRA, 1989; 1998; FALEIROS & CAMPOS, 2000; GONÇALVES, 2002;
KOLLER, 2000; MUSZKAT, 1998; OLIVEIRA, 2004; PADILHA & GOMIDE, 2004;
SANDERSON, 2005).
Contudo, para Farinatti, Biazus e Leite (1993, p.76), o dano, seja físico ou psicológico,
“traz em si a noção de prejuízo ao desenvolvimento, dano esse ainda não, devidamente,
mensurado e que poderá refletir mais as crenças e percepções dos adultos, do que as
conseqüências para a criança”. Assim, o termo poderia ser substituído, preferencialmente, por
conseqüência ou repercussão, não sendo, necessariamente, percebida como prejudicial pela
própria criança.
No que se refere ao poder, este seria o resultado de uma prática exercida por um outro
que detém autoridade sobre a criança sem a anuência desta última, sendo esta prática passível
de prevenção. Nesse sentido, a manipulação do prepúcio de um menino por um adulto,
mesmo sem o consentimento do menor de idade, não seria um ato de violência sexual nas
circunstâncias de uma intervenção ou orientação médica, por exemplo.
Por fim, concluímos que não há dicotomia entre o universal e o sóciohistórico, pois os
dois aspectos coexistem no mesmo fenômeno.
38
1.3. A perspectiva intrafamiliar
Como pudemos observar na discussão acerca da conceituação de violência sexual
contra a criança, há muitas definições para este fenômeno, cada uma delas elaborada com
ênfase em aspectos específicos, tais como: comportamento, contexto cultural, valores e
crenças pessoais.
Gonçalves (2003), apesar de atribuir um caráter difuso e de difícil apreensão ao
fenômeno da violência sexual, afirma ser possível circunscrevê-la ao interior da família, mais
especificamente, na relação entre pais e filhos.
A autora e alguns outros pesquisadores (AMAZARRAY & KOLLER, 1998; ASSIS,
1994; AZEVEDO et al., 2000; COHEN, 2000; DESLANDES, 1994) compartilham a idéia de
que é no âmbito familiar que a violência sexual contra a criança ocorre, preponderantemente,
havendo dificuldade de se extrair informações de domínio privado.
No entanto, Gonçalves (2003) chama a atenção para o fato de que considerar o lar
como um ambiente propenso ao abuso sexual contra a criança ou ao incesto pode conduzir a
conclusões equivocadas e falaciosas.
Percebemos que a expressão abuso sexual intrafamiliar por vezes é utilizada como
sinônimo de incesto, no entanto, os conceitos tendem a variar conforme a opinião dos autores,
conforme discutido no capítulo 1.2 deste trabalho. Se tomarmos a definição estabelecida por
Cohen (2000, p.212) sobre incesto, este seria uma “estimulação sexual intencional por parte
de algum dos membros do grupo que possui um vínculo parental pelo qual lhe é proibido o
matrimônio. Portanto, as características do incesto são: o abuso sexual e o vínculo familiar”.
Tal conceituação vai ao encontro do que descreve a literatura médica. Neste caso, seriam
cinco os tipos de relações incestuosas clássicas, desde os mais descritos, como o tipo pai-filha,
passando pelas relações pai-filho, irmão-irmã, mãe-filha, aos casos relatados de menor
ocorrência – mãe-filho – amiúde associados a quadros de psicose materna (DREZETT, 2000).
Para Azevedo et al. (2000, p.197), a modalidade de incesto pai-filha é denominada
“incesto ordinário”.
“... o incesto ordinário, enquanto modalidade mais freqüente entre os casos de incesto pais-filhos, significa, em um número expressivo de casos, uma menina explorada por uma pessoa mais velha, mais poderosa, que ela teria a necessidade de amar. Para ela, a casa não é mais um lugar seguro. Seu pai não é mais aquele parente capaz de ensinar-lhe a ser uma adulta, a ser autônoma, a saber dizer não. Porque ele a obriga a fazer o que ele deseja, porque ele a reduz, de fato, à condição de um objeto seu”.
39
Podemos entender que o incesto pai-filha, por ser o mais estudado, é considerado o
mais freqüente (FARINATTI, BIAZUS & LEITE, 1993), apesar de haver poucas produções
científicas acerca dos abusos intrafamiliares que envolvam outros membros da família para
estabelecermos parâmetros comparativos.
À semelhança de Azevedo et al. (2000), Cohen (2000) descreveu duas outras formas
de relações incestuosas, o “para-incesto” e o “incesto polimorfo” (p.217). O primeiro seria
identificado por abuso sexual entre pessoas consideradas parentes, enquanto o incesto
polimorfo seria a ocorrência de violência sexual entre pessoas envolvidas em questões de
poder. Em nosso entender, esta definição seria equivalente ao assédio sexual previsto no Art.
216-A do Código Penal: “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”, portanto, uma expansão do
conceito, desnecessária e, até mesmo, contraproducente, com vistas a tornar o incesto
abrangente a todas as circunstâncias em que um adulto impõe seu poder à concretude da
relação sexual com crianças.
Outros autores propõem definições que evidenciam a relação de parentesco, sendo o
grande diferenciador os laços de consangüinidade, afinidade ou responsabilidade23 do
agressor sexual com a criança, laços estes que permitem estabelecer vínculos afetivos.
(AMAZARRAY & KOLLER, 1998; AZEVEDO & GUERRA, 2000; FLORES &
CAMINHA, 1994; FORWARD & BUCK, 1989). Este conceito inclui padrastos e madrastas,
meio-irmãos, avós por afinidade e até mesmo amantes ou namorados que morem com o pai
ou a mãe da criança, caso assumam a função do genitor que não reside com a criança.
Nesse sentido, percebemos que há uma tendência dos autores estudados de ampliar o
conceito de incesto, equivalendo-o ao abuso sexual intrafamiliar, incluindo, como agressores,
desde pessoas com relação de consangüinidade como, também, aquelas sem qualquer grau de
parentesco, mas que convivem e estabelecem laços afetivos com a criança.
Contudo, no âmbito jurídico, o Código Penal estabelece os crimes sexuais de estupro
(Art. 213) e atentado violento ao pudor (Art. 214). De acordo com o Princípio da Legalidade,
Mirabete (2003) orienta que não pode ser considerado crime o evento que não estiver previsto
23 O adulto incestuoso com relações de parentesco: pai, mãe, irmão (ã), tio(a); relações de afinidade ou responsabilidade (legal/moral): padrasto, madrasta; padrinho, madrinha, etc. (Azevedo et al., 2000).
40
em lei, tampouco pode ser aplicada sanção penal, a exceção daquela cominada, abstratamente,
nessa regra jurídica.
Nesse sentido, Costa (2000), promotora titular da 2º Promotoria da Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Niterói, explica:
“o incesto não é um crime autônomo, ou seja, não existe o crime de incesto. Ele é considerado um agravante para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Assim, quando o crime de estupro é praticado por pessoas determinadas, como pelo padrasto, tutor, irmão ou curador, a pena será aumentada de um quarto” (p.115).
Ainda sobre o Princípio da Legalidade, Mirabete (2003) analisa a inadmissibilidade de
interpretação ampliativa, referente ao princípio da reserva legal, ou seja, à exigência que os
“textos legais sejam interpretados sem ampliações ou equiparações por analogia, salvo in
bonam partem” (p.99).
A partir dessas considerações, se tomarmos o conceito ampliado de incesto, como
proposto pelos autores supracitados, no qual são admitidos, inclusive, os laços de afeto
estabelecidos entre crianças e adultos sem grau de parentesco e, portanto, destituídos de
responsabilidade legal para com esta, logo, estaríamos realizando, ao contrário do que reserva
a lei, uma equiparação por analogia in malam partem. Desta forma, se analisarmos as
transformações ocorridas na estrutura da família das últimas décadas, sobretudo em relação ao
aumento do número de famílias recasadas ou recompostas, concluímos que o conceito de
incesto se aplica, pelo menos, no âmbito jurídico, aos laços de consangüinidade ou vínculos
de caráter legal.
Não obstante a análise jurídica, alguns autores pressupõe que o incesto seja uma
modalidade de violência doméstica contra a criança, constituindo uma violação ao direito
desta de uma convivência familiar protetora, além de ser uma ultrapassagem dos limites
estabelecidos pelas regras sociais, culturais e familiares (FALEIROS & CAMPOS, 2000;
FORWARD & BUCK, 1989; RIBEIRO et al., 2004).
Para Gabel (1997), haveria, nas famílias incestuosas, uma deficiência no
estabelecimento de limites, ocasionando confusão de papéis, assim como desrespeito à
privacidade e à alteridade de cada membro familiar, em resposta à transgressão às fronteiras
intergeracionais.
Segundo as organizações não governamentais Centro Regional de Atenção aos Maus-
tratos na Infância e Centro de Estudos e Atendimento Relativos ao Abuso Sexual (CRAMI &
CEARAS, 2000), o incesto, como uma violência sexual instalada em ambiente familiar, tende
41
a ocorrer muito cedo na vida da criança, sendo considerada, por vezes, como a única forma de
interação ou intimidade física carinhosa proveniente de seu lar, de modo que ela tende a não
oferecer resistência. Sendo assim, nem todas as crianças seriam capazes de reconhecer a
situação incestuosa como abusiva. Os gestos de carinhos, normalmente associados ao abuso
sexual, ao serem internalizados e naturalizados pela criança, tornar-se-iam parte do seu
repertório de ação, como propõe Caminha (2000):
“podemos concluir que as crianças levam os adultos muito a ‘sério’, utilizando-os como modelo referencial para se comportar e formar representações e afetos. Até mesmo porque os primeiros anos de vida são vividos intensamente junto ao núcleo familiar referencial, não havendo parâmetros comparativos comportamentais” (p.46).
É nesse sentido que Miller (2002) afirma que a revelação do incesto se configura em
um mecanismo bastante complexo para a criança abusada, pois o molestador sexual não é
apenas alguém que a violentou, mas, paradoxalmente, quem “pode estar mais presente e ser
mais carinhoso e amoroso do que qualquer outra pessoa em sua vida” (p.190).
Assim, a partir da constatação do paradoxo, da ambigüidade emocional vivenciada
pelas crianças abusadas sexualmente em relação ao adulto abusador e demais familiares,
alguns autores entendem que essas crianças estariam sujeitas a entrar em estado alterado de
consciência – dissociação – na tentativa de anular as experiências abusivas, decorrendo uma
série de comprometimentos psicológicos e comportamentais (CAMINHA, 2000; FARINATTI
et.al, 1993; FURNISS, 2002; HABIGZANG & CAMINHA, 2004).
Caminha (2000) explica que dissociar “é romper, momentaneamente, com a realidade
à sua volta... Crianças expostas a ambientes estressantes começam a utilizar,
indiscriminadamente, a dissociação a ponto de gerar rupturas bruscas e patológicas com a
realidade” (p.49). Nesse sentido, o estresse – e a sua manifestação na forma de dissociação –
seria a conseqüência primeira, ponto de partida para a formação de uma série de sintomas a
serem analisados para fim de diagnóstico e tratamento de casos de abuso sexual contra a
criança.
42
1.4 Conseqüências e Repercussões
Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho,
mas não vai só, nem nos deixa só. Leva um pouco de nós, deixa um pouco de si.
Antoine de Saint-Exupéry
As conseqüências advindas da exposição de crianças ao abuso sexual têm sido objeto
de estudo tanto pelas ciências médicas quanto pelas psicológicas. O que se constata é que nem
sempre é possível identificar os efeitos ou seqüelas de uma ocorrência de abuso sexual na
criança, o que torna o processo de identificação e diagnóstico dificultoso e sujeito a erros de
interpretação dos sinais ou indicadores de abuso.
Na concepção de estudiosos do tema (AMAZARRAY & KOLLER, 1998;
AZEVEDO, GUERRA & VAICIUNAS, 2000; FARINATTI et al., 1993; FERRARI, 2002;
FINKELHOR & BROWNE, 1985; 1986; FLORES & CAMINHA, 1994; FURNISS, 2002;
GREEN, 1993; HABIGZANG & CAMINHA, 2004; HAUGAARD E REPUCCI, 1988;
KOLLER, 2000; ROUYER, 1997; SANDERSON, 2005; SEABRA, 2000; TETELBOM,
1998), o desenvolvimento de seqüelas físicas e emocionais, tidas como conseqüências do
abuso sexual em crianças, varia e evolue conforme as peculiaridades de cada caso, em razão
de uma conjunção de fatores, no qual listamos os mais citados pelos autores:
• Idade do início do abuso – quanto mais novas forem as crianças, mais difusos serão os
efeitos e, portanto, mais severos.
• Duração do abuso – quanto mais duradouro e freqüente for o abuso, maior o
comprometimento psicológico da criança.
• Diferença de idade entre a pessoa que cometeu o abuso e a criança que o sofreu –
(hipótese controversa) os efeitos serão menores quanto menor for a diferença de idade
entre a criança e seu agressor.
• Grau de proximidade da pessoa que cometeu o abuso e a criança – havendo vínculo ou
parentesco, maiores serão as conseqüências.
• Grau de sigilo sobre o fato ocorrido – mantido o abuso em segredo, a criança terá mais
dificuldade em elaborar o ocorrido.
• A percepção da criança dos atos sexuais realizados contra elas.
43
Amazarray e Koller (1998) salientam que, antes de se caracterizar a sintomatologia do
abuso sexual infantil, faz-se mister aludir aos fatores que influenciam na formação do dano
psicológico causado por essa experiência.
Nesse sentido, Koller (2000), Rouyer (1997) e Sanderson (2005) apontam o contexto24
no qual o abuso sexual ocorre como um dos principais fatores a ser considerado. Nos dizeres
de Sanderson (2005, p.202):
“É essencial observar tanto a criança quanto a constelação de sinais e símbolos indicativos de ASC25. É preciso contextualizar a situação conhecendo a criança, sua família e seu mundo social, assim como os sinais e sintomas observados. Para proteger as crianças de modo adequado, precisamos evitar julgamentos precipitados da ocorrência do abuso, uma vez que um diagnóstico errado ou prematuro pode causar trauma desnecessário tanto na criança quanto na família”.
Koller (2000, p.35) também propõe que os fatores devam ser analisados em conjunto
com os indicadores apenas como referência, sem pretensão de confirmar a suspeita de
violência sexual. Salienta, ainda, que é responsabilidade do profissional buscar subsídios para
o diagnóstico.
“Intervenções e avaliações efetivas de casos de violência devem levar em conta, principalmente, as causas e não apenas os sintomas. Para esta avaliação é necessário que o profissional tenha uma visão bastante ampla da realidade daquela criança maltratada, da rede de apoio social e afetiva disponível na comunidade para ela e para a sua família, das crenças e valores sobre violência na sociedade em que está inserida entre outros aspectos”
Uma série de sintomas ou indicadores de abuso sexual é, tradicionalmente, enumerada
pela literatura médica e psicológica, podendo ser, didaticamente, dividida em indicadores
físicos e comportamentais. Tais indicadores são considerados conseqüências do abuso sexual
e servem para auxiliar os profissionais no diagnóstico das crianças supostamente abusadas26.
Estudos desenvolvidos por Ceci e Bruck (2002), Gardner (1991), Green (1993),
Haugaard e Repucci (1988) e Sanderson (2005), alertam para o cuidado que se deve ter ao
utilizar as informações disponíveis sobre as conseqüências do abuso sexual contra a criança,
pois são fruto de uma ampla variedade de causas e contextos, nem todos relacionados com a
ocorrência de abuso sexual. Os autores concluem que não há padrão de comportamento e
emoções específicas que ocorram em todas ou quase todas as crianças abusadas, tampouco
24 Contexto é compreendido como “uma variedade de ambientes, desde a família nuclear até a sociedade ampla na qual a criança está inserida” (Koller, 2000, p. 37). 25 ASC – Abuso Sexual da Criança. 26 Vide Anexo I.
44
existem indicadores que, seguramente, revelem a ausência de abuso sexual em crianças, sendo
inviável a generalização dos sintomas. Isso ocorre porque os indicadores raramente
diferenciam os sintomas decorrentes de traumas ocasionados pelo abuso sexual de outros
produzidos por diferentes tensores na vida de uma criança, ou mesmo de comportamentos
esperados para crianças de determinadas faixas etárias, como afirmam Ceci e Bruck (2002,
p.279).
“Embora muitos especialistas reivindiquem que os sintomas não sexuais, tais como distúrbios do sono, terror noturno, enurese noturna, ansiedade, e relutância em ir à escola são consistentes com o abuso sexual, estes mesmos sintomas também são comumente encontrados entre muitas crianças de idade pré-escolar que não foram abusadas”27.
Logo, os autores alertam para o fato de que a identificação de comportamentos sexuais
precoces em crianças em idade pré-escolar, como: masturbação, exibicionismo ou ferimentos
nos genitais, podem fazer parte de jogos sexuais que compõem o repertório de
desenvolvimento de crianças nessa idade.
Para De Young (1986), o efeito da elaboração e divulgação de inúmeras listas de
indicadores de abuso sexual serviria, potencialmente, à fabricação de identificadores falsos-
positivos, ou seja, o profissional poderia identificar sintomas somáticos como pertinentes às
situações de abuso sexual em crianças que não foram abusadas, emitindo uma falsa impressão
da ocorrência desse tipo de violência.
Ceci e Hembrooke (1998) confirmam essa posição e declaram que psicólogos, em
resposta à demanda pela Justiça de avaliação de crianças sexualmente abusadas, têm
apresentado seus dados fundamentados em listas de sintomas, observação de comportamento
sexualizado e em protocolos padronizados de entrevistas semi-estruturadas como se tais
evidências fossem cientificamente comprovadas e pudessem, de forma inequívoca, corroborar
ou contradizer uma acusação de abuso sexual.
Na experiência de Ceci e Hembrooke (1998) e Lamb (1994), existem crianças que
foram vítimas de abuso sexual, mas que não apresentaram alteração aparente de
comportamento. Para Lamb (1994, p.153), “A ausência de qualquer comportamento
sexualizado não confirma que o abuso sexual não ocorreu tampouco a presença de
comportamento sexualizado demonstra indubitavelmente que o abuso sexual ocorreu”28.
27 Tradução livre. 28 Tradução livre.
45
Por extensão, concluímos que há uma tendência entre os autores estudados de se
estabelecer uma análise entre dois aspectos (ou variáveis): a ocorrência de abuso sexual e o
surgimento de sintomas, como se ambos estivessem associados. Contudo, a correspondência
entre esses elementos não implica que os mesmos apresentem uma relação de causalidade, ou
seja, por não se tratar de uma doença, o abuso sexual não poderia causar sintomas. O que
verificamos foi que o abuso sexual de crianças e os sintomas por elas apresentados estariam
associados por meio de uma terceira variável que se encontraria interposta: o
desenvolvimento de estresse.
Lipp (2000) esclarece que o estresse não é uma doença propriamente dita, mas uma
reação do organismo, com componentes físicos e psicológicos que podem surgir diante de
situações ou muito difíceis ou muito excitantes, seja uma situação de abuso sexual ou outras
situações potencialmente geradoras de estresse psicológico, como o divórcio dos pais.
Assim, podemos inferir que uma criança afetada, negativamente, pela separação dos
pais ou que esteja envolvida pelo clima de hostilidade instaurado entre os genitores, desde o
colapso do casamento até culminar com o divórcio, pode padecer de grande desconforto
mental e físico, abrindo canal para o desenvolvimento de doenças, conseqüentemente, para a
manifestação de diversos sintomas, especialmente, os ligados à depressão, como tristeza,
preocupação, insônia, queixas somáticas, apatia e retraimento social, muitas vezes
confundidos com sintomas de abuso sexual. Tais sintomas podem estar associados, em parte,
ao medo de separação das pessoas às quais as crianças têm ligação, como conseqüência, elas
podem apresentar acentuada preocupação com as brigas dos pais e com a forma de se
relacionar com eles nessas circunstâncias (BRITO, 2002b; DE YOUNG, 1986; FU I,
CURATOLO & FRIEDRICH, 2000; WALLERSTEIN & KELLY, 1998).
De acordo com Wallerstein e Kelly (1998), muitas crianças manifestam sintomas
somáticos ou os têm exacerbados com a proximidade do horário de visita, ansiosas por rever o
genitor não-guardião, por sentir sua falta; sintomas estes que desaparecem por ocasião da
interação entre ambos. Entretanto, tais sintomas são, muitas vezes, interpretados como reações
de medo decorrente de uma suposta ocorrência de abuso sexual. Dessa forma, é possível
deduzir que a sintomatologia apresentada pelas crianças deve ser observada em concomitância
a um repertório de fatores a serem considerados, como o contexto social e familiar em que
vivem.
46
Alguns autores vão além dos possíveis efeitos negativos decorrentes de eventos
considerados traumáticos e alertam para a possibilidade de as crianças desenvolverem
comportamentos desadaptados ou patológicos, estes últimos, muitas vezes, classificados pelos
manuais de diagnóstico (HABIGZANG & CAMINHA, 2004).
Manuais de diagnóstico como o Classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento (CID-10, 1993) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-IV, 1995) trazem descrições clínicas e diretrizes diagnósticas detalhadas para auxiliar
na análise de transtornos de comportamento e de personalidade a partir de um conjunto de
sintomas. Contudo, esses recursos servem como estímulo para uma análise clínica mais
aprofundada, sendo da competência do profissional determinar a adequação das proposições
diagnósticas no repertório sintomático do paciente, sem negligenciar demais fatores
envolvidos como: histórico de vida pessoal e familiar.
A partir dessas considerações, alguns autores identificaram o Transtorno de Estresse
Pós-Traumático (TEPT) como uma conseqüência de curto prazo, relativamente comum ao
abuso sexual (CAMINHA, 2000; FINKELHOR & BROWNE, 1986; FLORES &
CAMINHA, 1994; HABIGZANG & CAMINHA, 2004; SANDERSON, 2005).
Nas palavras de Habigzang e Caminha (2004, p.48):
“... não há um único quadro sintomatológico que caracterize a maioria das crianças abusadas sexualmente. Mesmo não tendo sido identificado um único transtorno resultante de experiências sexualmente abusivas, mais de 50% de vítimas de abuso sexual infantil apresentam critérios diagnósticos para transtorno de estresse pós-traumático”.
O Transtorno do Estresse Pós-Traumático (CID-10, F43.1 – DSM-IV, 309.81) pode
ser entendido como uma perturbação psíquica, ligada à ansiedade, decorrente ou relacionada a
um evento ameaçador ou traumático, psicologicamente estressante, vivenciado pelo indivíduo
ou por outrem do qual foi testemunha. Sua principal característica é o desenvolvimento de
sintomas subseqüentes ao evento experimentado com intenso terror e impotência.
As manifestações do TEPT são expressas por meio de reações físicas, psicológicas e
psicofísiológicas (descritas nos manuais), cujos sintomas típicos podem incluir revivescência
do trauma com toda carga emocional do episódio original; sensação de entorpecimento;
embotamento emocional; afastamento do convívio social; medo e evitação de atividades que
recordem o evento traumático; transtorno do humor; hipervigilância; insônia; ansiedade e
depressão. Verifica-se a instalação de um processo de desorganização psíquica nos dias que
sucedem à violência (fase aguda) e que é responsável por desencadear reações sintomáticas
47
como angústia, medo, ansiedade, culpa, vergonha, humilhação, autocensura e depressão,
podendo vir acompanhadas de alguns sintomas somáticos como náuseas, dor estomacal,
fadiga, tensão, cefaléia, alterações do sono e do apetite. Na fase posterior, há uma tentativa de
negar ou mitigar o trauma em si, enquanto que na fase crônica, correspondente a um reinício
de organização psíquica, quando a situação traumática é revivida com a intenção de elaborá-
la, os sintomas mais comuns são a depressão, alteração alimentar (ingestão excessiva ou
inapetência), baixa auto-estima, dificuldade de relacionamento interpessoal e ideação ao
suicídio.
Com a probabilidade de a criança vir a desenvolver o TEPT decorrente do abuso
sexual sofrido, torna-se crucial a identificação dessa ocorrência, a fim de permitir que receba
suporte especializado, oriundo de programas de assistência e proteção previstos na legislação
vigente.
Todavia, em pesquisa realizada por Cohen (1993), existe uma minoria (5%) de
crianças que é atendida em serviços de saúde com queixa de haver sofrido violência sexual.
Algumas razões, como a imposição do segredo à criança pelo seu agressor, a falta de
credibilidade no relato da criança e a cumplicidade da família ao ato de violência, explicam o
baixo número de crianças enviadas para assistência terapêutica.
Segundo o autor, a criança vítima de violência sexual, que fique desprovida de amparo
terapêutico-assistencial, pode vir a desenvolver alterações comportamentais, normalmente,
observáveis durante a adolescência até a idade adulta, quando se tornaria agressora de seus
próprios filhos. Esse processo, citado por Cohen (1993), no qual pessoas que foram
violentadas na infância estariam mais propensas a apresentar comportamentos violentos na
vida adulta é igualmente reconhecido por diversos autores como ciclo de violência
(AMAZARRAY & KOLLER, 1998; ASSIS, 1994; LAMBIE, SEYMOUR, LEE & ADAMS,
2002; MUSZKAT, 1998; PADILHA & GOMIDE, 2004; SILVA, 2002).
Muszkat (1998) explica que algumas mulheres que procuram auxílio nos serviços da
Organização Não Governamental (ONG) Pró-Mulher, Família e Cidadania29 declaram
pertencer a uma segunda ou terceira geração de mulheres que sofrem violência. Na concepção
da autora, fato que a faz supor que, sem nenhum tipo de intervenção, os filhos dessas
mulheres “tenderão a ser violentos e suas filhas vítimas de violência” (p.230). Em nota de
29 A ONG que realiza, desde 1977, assistência jurídica gratuita à população, formação de técnicos e capacitação de agentes públicos e lideranças comunitárias em Mediação Familiar como método de intervenção em situações de violência intrafamiliar.
48
rodapé, a autora acrescenta à discussão que a mulher pode ser sujeito da violência, “seja
contracenando com o agressor, seja exercendo sua própria violência contra os filhos” (p.230).
Outros pesquisadores descreveram eventos semelhantes, denominados de
“Multigeracionalidade”30 (CAMINHA, 2000, p.45) ou “Transmissão Intergeracional da
Violência” (GONÇALVES, 2003, p.145), em que buscam por evidências que corroborem o
caráter genealógico da transmissão da violência.
Nesse sentido, uma pesquisa desenvolvida por Widom e Maxfield (2001), com 1575
casos de crianças entre 6 e 11 anos de idade (na ocasião do abuso sexual) processados pela
corte norte-americana entre 1967 e 1971, conclui que a vitimização de crianças aumenta o
risco das mesmas serem incriminadas e presas por um delito violento durante a adolescência
ou idade adulta sem, contudo, desconsiderar a interferência de uma constelação de fatores de
risco.
“A hipótese do ‘ciclo da violência’ sugere que a história de abuso físico na infância predispõe o sobrevivente à violência alguns anos mais tarde. Este estudo revela que as vítimas de negligência também estão suscetíveis a desenvolver um comportamento violento tardio. Se o comportamento violento tende a ser desencadeado não somente pela violência sofrida, mas também pela negligência, existe a necessidade de se devotar maior atenção às famílias de crianças”31 (http://www.acf.hhs.gov).
Críticas à concepção do ciclo da violência apontam para o fato de que não há uma
relação direta de causa e efeito, de modo que crianças abusadas sexualmente na infância
podem refutar os valores ligados a esta experiência e se tornarem adultos mais perceptivos,
conseqüentemente, mais protetores (GONÇALVES, 2003).
Na opinião das autoras Wallerstein, Lewis e Blakeslee (2002, p.182):
“A transmissão da violência entre as gerações é amplamente apoiada, porém a análise destaca que se tem abordado a questão de uma maneira muito restrita, concentrando-se na hipótese de os filhos de famílias violentas tornarem-se violentos e não no resultado mais provável, porém muito mais complexo, de dano ou distorção na capacidade de formar e manter relacionamentos íntimos satisfatórios e éticos”.
Rouyer (1997) salienta que muitos pesquisadores têm concluído, a partir dos
testemunhos de adultos que sofreram abuso sexual incestuoso na infância, que as reações à
violência podem ser tardias, com manifestações em forma de distúrbios da sexualidade e da
parentalidade. O distúrbio da parentalidade, mais especificamente, é descrito a partir da 30 Fenômeno pelo qual crianças expostas à violência doméstica, de modo repetitivo e intencional, tornam-se adultos que submeterão crianças às mesmas experiências pelas quais passaram. 31 Tradução livre.
49
interpretação da teoria do apego desenvolvida por Bowlby em 1969. Postula, a teoria, que a
capacidade de a mãe ser sensível às demandas infantis está diretamente relacionada à sua
história pessoal de vínculos afetivos com seus cuidadores. Dessa forma, as mães que tivessem
um histórico de violência (física, sexual ou negligência) durante a infância estariam propensas
a desenvolver uma relação de apego instável e insegura com seus próprios bebês,
conseqüência de um comportamento de raiva e aversão ao contato físico com eles (SILVA,
LE PENDU, PONTES & DUBOIS, 2002).
Para corroborar essa afirmação, as autoras fizeram referência a um estudo longitudinal
desenvolvido por Benoit e Parker (1994)32 a partir de uma amostra de 96 crianças, suas mães
e avós, no qual os padrões de responsividade materna33 e de apego infantil34 puderam ser
analisados e concebidos como construtos estáveis, transmitidos de geração a geração em 75%
dos casos; passando a ser concebido como variáveis influenciadas tanto pela história dos
vínculos afetivos da mãe, quanto pelas características da díade mãe-bebê.
A partir dessas observações, podemos compreender a afirmação de Furniss (2002)
com relação às crianças vítimas de violência física, psicológica e/ou sexual na infância. O
autor considerava a possibilidade de estas virem a se tornar adultos abusadores ou a compor
famílias com histórico de abusos.
Para Kolko (1992), a declaração de Furniss se justifica se forem considerados os
efeitos de curto e longo prazos da violência de pais contra filhos, observando a ausência de
qualquer assistência terapêutica especializada, como já citamos em Cohen (1993). Portanto, a
criança, ainda em desenvolvimento, tenderia a apresentar limitação em suas habilidades na
área percepto-motora, verbal e memória, assim como problemas de concentração e raciocínio
lógico que dificultariam seu processo de aprendizagem, especialmente, quando associadas a
situações estressoras de maus-tratos. O desenvolvimento de psicopatologias e de problemas
de conduta tenderia a emergir em longo prazo, sendo observáveis alguns comportamentos
vitimizantes (exposição a situações de risco) ou abusivos com a geração seguinte; precocidade
sexual; abuso sexual de outras crianças; culminando com o diagnóstico de Transtorno de
Personalidade Borderline (F60.3 – 301.83).
32 BENOIT, D., PARKER, K. C. Stability and transmission of attachment across three generations. Child Development, nº 65, 1994, p. 1444-1456. 33 Quando um adulto (mãe) sensível às necessidades da criança é capaz de reconhecer os sinais emitidos por ela e respondê-los apropriadamente. 34 Compreende uma ligação contínua e íntima de uma criança por sua mãe ou cuidador.
50
Segundo o DSM-IV, o Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) caracteriza-se
por apresentar um padrão de: a) Sentimentos crônicos de vazio; b) Labilidade afetiva; c)
Variação no estado de humor (disforia e irritabilidade sem justificativa real); d) Raiva intensa
ou inapropriada; e) Relações interpessoais invasivas, intensas e instáveis (idealização e
desvalorização); f) Evitação do abandono real ou imaginário; g) Comportamento
autodestrutivo (suicida e de automutilação); h) Impulsividade; i) Distúrbios da identidade
(auto-imagem instável); j) Ideação paranóide transitória e relacionada a stress ou sintomas
dissociativos graves.
Pesquisas citadas por Zanarini (1997) dedicaram-se à investigação da correspondência
entre violência sexual contra criança e o desenvolvimento do TPB na vida adulta. Os valores
encontrados equivalem a 60% de uma amostra de 358 pacientes Borderline selecionados por
um hospital norte-americano no período de março de 1991 a dezembro de 1995. Esses estudos
também apontaram para a presença de outras formas de violência na infância desses
pacientes.
Outros estudos (JOHNSON, COHEN, BROWN, SMAILES & BERNSTEIN, 1999;
PERRY & HERMAN, 1993; SCHMEIDLER, GOLIER, YEHUDA, BIERER,
MITROPOULOU, NEW, SILVERMAN & SIEVER, 2003; ZANARINI, YONG,
FRANKENBURG, HENNEN, REICH, MARINO & VUJANOVIC, 2002; WINSTON, 2000)
também têm encontrado vivências traumáticas de extrema privação ou agressão durante os
primeiros anos de vida da criança que possam explicar a etiologia do TPB. Os valores oscilam
de acordo com as pesquisas: pacientes Borderline teriam sofrido alguma forma de maus-tratos
na infância em 70% a 87% dos casos, sendo 40–71% abuso sexual e 25–71% violência física.
(PERRY & HERMAN, 1993). É preciso lembrar que, apesar de muitos pesquisadores
concluírem que o abuso sexual contra a criança é a causa de TPB, abuso sexual não é
considerado um critério de diagnóstico para distúrbios de personalidade e vive-versa.
Em pesquisa desenvolvida por Herman, Perry e Van der Kolk (1989) com pacientes
adultos diagnosticados com TPB, 81% apresentaram histórico de traumas severos, incluindo
violência física, abuso sexual e violência psicológica, conforme mostra o Quadro 1.4.1 Os
autores consideram que os resultados da pesquisa apontam para uma forte associação entre o
diagnóstico desse tipo de transtorno de personalidade em adultos e histórico de maus-tratos na
infância. No entanto, Zanarini (1997) defende que novos estudos se fazem necessários para
51
averiguar a possibilidade de a herança genética ser um fator determinante para o
desenvolvimento do transtorno, além da influência familiar/ambiental.
O quadro elaborado permite que seja constatado que, da população de pacientes
diagnosticados como Borderline, a maioria sofreu algum tipo de violência na infância ou uma
associação dessas práticas que não, necessariamente, o abuso sexual, como, por exemplo,
violência psicológica, abandono ou maus-tratos, entendido como violência física, neste caso.
Quadro 1.4.1 – Transtorno de Personalidade Borderline e violência intrafamiliar
(elaborado a partir dos dados apresentados por Zanarini, 1997 e Herman et al., 1989)
maus tratos abuso sexual violênciapsicológica
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Histórico de Violência em pacientes Borderline
Herman
Zanarini (1997)
et al. (1989)
Fonte: Zanarini (1997) e Herman et al. (1989).
A análise do quadro, entretanto, nos remete a outras considerações. O histórico de
abuso sexual na infância, em valores fixados por Zanarini (1997), foi calculado em 60% dos
casos de TPB estudados, enquanto que quase a totalidade da amostra analisada apresentou
relatos de maus-tratos, seguido por, aproximadamente, 75% de casos de violência psicológica.
Assim, seria razoável conjecturar que o desenvolvimento da personalidade Borderline não
encontra maior expressão na experiência de abuso sexual na infância, podendo estar permeada
por eventos traumáticos outros. É válido, no entanto, lançar a pergunta: será que crianças que
estão vivendo à margem de nossa sociedade, na pobreza, no abandono afetivo, tornar-se-ão
jovens delinqüentes e adultos com distúrbio de personalidade Borderline? Talvez, o que
possamos extrair desses estudos é a compreensão de que o TPB é multicausal, e não apenas
uma resposta à relação de causa e efeito entre eventos violentos ocorridos durante a infância e
distúrbios na idade adulta. Logo, possivelmente haveria, no desenvolvimento desse quadro
52
nosológico, a influência de inúmeras variáveis, tais como o contexto social mais amplo, as
redes de apoio social fragilizadas e a carência de recursos intelectuais e afetivos de cada
indivíduo.
Ao que tudo indica, esses estudos analisam, exclusivamente, grupos de pacientes
adultos diagnosticados com o transtorno Borderline, pautando-se em seus relatos e memórias
pessoais da infância. Estudos longitudinais, mais apropriados para esse tipo de verificação –
que acompanham crianças vítimas de violência física, psicológica e sexual até a idade adulta –
não foram encontrados em nossas pesquisas bibliográficas até o momento.
Assim, reconhecendo o viés dessas pesquisas, podemos analisar os resultados de
outros estudos que identificaram a predominância do sexo feminino em paciente com
diagnóstico de TPB. Para Green (1993), tal fato corresponde com as estatíticas que apontam
para uma concentração de casos de abuso sexual e incesto em crianças do sexo feminino
(Quadro 1.7.5).
Tetelbom (2002) também considera surpreendente o número de mulheres adultas que
sofreram abuso sexual na infância e que, após vinte, trinta anos ou mais, buscaram ajuda em
decorrência de transtornos psicológicos. A autora salienta que o segredo e, principalmente, a
dificuldade de conseguir auxílio na época do abuso são evidentes nos relatos dessas mulheres,
assim como a presença de sintomas típicos de TBP.
A constatação de Tetelbom nos remete, inevitavelmente, às histéricas de Freud e à sua
teoria da sedução (1895-1897). De acordo com Freud (1897/1986), os relatos de recordações
de incesto na infância de suas pacientes adultas, ao contrário do que acreditava, seriam
construções fantasiosas, não existindo como cena de sedução real. O abandono da teoria da
sedução foi explicado por Freud em função da dificuldade em retroceder às origens, em
aprofundar na análise, em crer na perversidade dos adultos e, finalmente, de considerar que:
“... a descoberta comprovada de que, no inconsciente, não há indicações da realidade, de modo que não se consegue distinguir entre a verdade e a ficção que é catexizada com o afeto. Assim, permanecia aberta a possibilidade de que a fantasia sexual tivesse invariavelmente os pais como tema” (FREUD, carta 69, 1897/1986).
Para Miller (2002), abandonar a teoria da sedução implicava na negação da realidade
concreta do abuso sexual, reforçada, posteriormente, pela teoria do Complexo de Édipo, que
“transformava as revelações sobre o incesto nas fantasias de anseio sexual das crianças pelo
membro parental do sexo oposto. Portanto, o pai da Psicanálise foi o primeiro a criar o
dogma psicológico que protegia o doloroso segredo do incesto” (p.186).
53
Ferenczi (1932/1992), que se opôs a essa corrente psicanalítica, trouxe à tona a
discussão sobre a importância do fator traumático na patogênese das neuroses. O autor
declarou que:
“Em primeiro lugar, pude confirmar a hipótese já enunciada de que nunca será demais insistir sobre a importância do traumatismo e, em especial, do traumatismo sexual como fator patogênico. Mesmo crianças pertencentes a famílias respeitáveis e de tradição puritana são, com mais freqüência do que se ousaria pensar, vítimas de violência e de estupros. São ora os próprios pais que buscam um substituto para suas insatisfações, dessa maneira patológica, ora pessoas da confiança, membros da mesma família (...) que abusam da ignorância e da inocência das crianças. A objeção, a saber, que se trataria de fantasias da própria criança, ou seja, mentiras histéricas, perde lamentavelmente sua força, em conseqüência do número considerável de pacientes, em análise, que confessam ter mantido relações sexuais com crianças” (FERENCZI, 1932/1992, p.101).
Ferenczi (1932/1992) completou sua argumentação, explicando que a criança, face à
força e autoridade dos adultos, emudece e, por vezes, quando o medo atinge seu ponto
culminante, submete-se à vontade do agressor, identificando-se com ele. “... é a hipótese de
que a personalidade ainda, fracamente desenvolvida, reage ao brusco desprazer, não pela
defesa, mas pela identificação ansiosa e a introjeção daquele que a ameaça e a agride”
(p.103).
Diante do exposto, em particular, o desdobramento da teoria do ciclo da violência,
verificamos a necessidade de um investimento em pesquisas longitudinais, à semelhança do
estudo desenvolvido por Benoit e Parker (1994) sobre responsividade materna e de relações
de apego, a fim de que possamos compreender o processo de desenvolvimento infantil,
considerando as variáveis presentes no contexto social mais amplo em que as crianças estão
inseridas. Finalmente, propomos uma reflexão: de acordo com a lógica estabelecida pela
teoria do ciclo da violência, mulheres que foram vítimas de abuso sexual na infância e que
desenvolveram o transtorno Borderline, manteriam um padrão de relacionamento instável e
com propensão à reprodução de alguma forma de violência. Assim, não poderiam essas
mulheres, em seu relacionamento com seus filhos, sustentar um comportamento abusivo,
conferindo aos mesmos, mediante o uso de sua autoridade, o legado de violência, fechando o
ciclo?
54
1.5 Caminhos da denúncia
Para chegar ao que você desconhece, você tem que passar por onde não conhece.
Saint Jean de la Croix
Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, alguns
dos direitos fundamentais, asseverados no Art. 227 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 e, originalmente, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança (1989), foram reproduzidos e ampliados, considerando, juridicamente, as crianças,
não apenas como objeto de proteção, mas como titular de um conjunto de direitos civis e
políticos. Esta Lei, que se tornou um instrumento para identificar e decretar os direitos
constitucionais da população infanto-juvenil, passou a privilegiar um espaço à denúncia e ao
ressarcimento de qualquer fato que viole os direitos das crianças e adolescentes, ainda que à
revelia dos mesmos.
“Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (...) Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.
Na ocorrência ou suspeita de violência contra a criança, o Art. 13 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) prevê que o Conselho Tutelar do Município seja,
obrigatoriamente, comunicado, sem prejuízo de quaisquer outras medidas legais. A
notificação é compreendida como a comunicação obrigatória de um fato, sendo, pois,
denominada notificação compulsória, que objetiva promover a conservação de direitos
(TORRES, 2003).
Observamos, em nossa prática, que o termo notificação, por vezes, é usado como
sinônimo de denúncia, pois ambos podem ser compreendidos como uma comunicação a
respeito de algo que se mantinha secreto. Entretanto, o termo notificação compulsória remete
à comunicação com vistas à execução de um registro, que pode ser uma ficha padronizada
usada em alguns estados e municípios, documento este capaz de desencadear um complexo de
ações específicas (investigação, intervenção familiar), com o único propósito: colocar em
55
prática os direitos da criança e interromper a produção e a reprodução da violência
intrafamiliar.
De acordo com Torres (2003), difere da notificação a denúncia jurídica – esta última
entendida como nome técnico dado à peça processual que inicia uma ação penal pública
promovida pelo Ministério Público (MP). O autor orienta que, após a investigação,
desencadeada pela notificação, o MP poderá fazer uma acusação, por meio de uma denúncia,
para responsabilização do acusado.
Nesse sentido, está prevista punição, por infração administrativa, aos médicos,
profissionais da saúde, professores ou responsáveis por estabelecimento de atenção à saúde e
de ensino, que deixarem de comunicar, às autoridades competentes, os casos de que tenham
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente (Art. 245, ECA).
Segundo Gonçalves (2004a), a primeira atitude a ser tomada com vistas à proteção
dessas crianças é fazer com que questões, até o momento, vistas como privadas, tornem-se
públicas – e a melhor forma de fazê-lo é por meio da notificação da violência contra a criança.
Na opinião de Silva (2002, p.78), a resolução que obriga a notificação do abuso sexual
foi um avanço na legislação no combate efetivo da violência contra a criança. Capaz de
interromper o ciclo da violência, o ato de notificar tornou-se um “aliado da infância e da
juventude vitimizada e um auxiliar da família, tendo em vista a possibilidade de intervenção e
tratamento não só das vítimas, como de todos os membros envolvidos nas questões de
agressão e/ou abuso”.
Para Faleiros, Faleiros, Cardoso, Pacheco, e Cavicchioli (2001), pesquisadores do
Centro de Referências, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA):
“a revelação é privada: a vítima ou outra pessoa que suspeita ou sabe que o abuso ocorre contra alguém, que ela julga que pode fazer algo em relação à situação revelada e de quem espera ajuda e ações. O circuito pode ser interrompido aí, ou não. Se não for interrompido, a queixa passa a uma segunda etapa – a da revelação pública da situação, que se concretiza no relato e registro da mesma em qualquer instituição governamental ou não governamental” (p.15).
Nesses casos, Faleiros et al. (2001) ressaltam a necessidade de as famílias com
crianças sexualmente abusadas serem orientadas, pelos profissionais consultados, a
percorrerem o circuito da notificação ou percurso da revelação, no qual se inserem as
notificações e a resolução da queixa pela via judicial.
56
Segundo os autores, o circuito da queixa de suspeitas ou ocorrências de abuso sexual
inicia-se numa Porta de Entrada. Para os pesquisadores, existem três portas de entrada: uma
referente às queixas não notificadas – “Porta de Entrada do Fluxo de Atendimento” –
composta pelas instituições executoras de políticas sociais, como os serviços de saúde,
escolas, bem como os programas de proteção especial, ONGs, Disque-denúncia; outra àquelas
notificadas – “Porta de Entrada do Fluxo de Defesa dos Direitos” – composta pelos Conselhos
Tutelares, Varas de Infância e Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública e Centros de
Defesa e, finalmente – “Porta de Entrada do Fluxo da Responsabilização” – composta pelas
Delegacias de Polícia, Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, Delegacia da
Mulher, Varas Criminais e Ministério Público (FALEIROS et at., 2001, p.14).
Em nossa pesquisa, denominamos caminhos da denúncia as etapas do percurso de
notificação ao julgamento da acusação. Os caminhos da denúncia, seriam, portanto, definidos
como o trajeto a ser seguido por crianças e seus familiares a partir do ingresso de notificação
de abuso sexual na rede de proteção e defesa dos direitos da população infanto-juvenil.
O fluxograma que construímos visa ilustrar esse caminho, ramificando-se em
segmentos que se reduzem percentualmente à medida que se estratifica, como previu
Thompson (1983) quando afirmou haver uma perda entre o universo dos delitos, no qual
podemos incluir casos de abuso sexual e o número de casos confirmados oficialmente. “Há,
pois, descompasso entre as infrações que ficam no escuro (cifra negra) e as que emergem no
claro” (p.15).
57
Figura 1.5.1 – Caminho da denúncia de abuso sexual contra criança
O primeiro segmento inicia-se a partir de uma população desconhecida equivalente a
100% de casos de abuso sexual contra crianças, que se encontra em paralelo à população de
crianças que não sofreu abuso sexual. Desta população de casos de abuso sexual, há os que
são revelados e aqueles que não o são, permanecendo ocultos por longos anos.
Assim, quando uma revelação de abuso sexual emerge, seja nos hospitais, postos de
saúde e escolas, seja para um ou ambos os pais, parentes, vizinhos, entre outros, rege a Lei
8.069/90 que médicos, profissionais de saúde, educadores ou responsáveis por
estabelecimentos de saúde e ensino, ao tomarem conhecimento (da suspeita) do evento,
procedam com a notificação obrigatória da queixa, para posterior encaminhamento das
Casos de Abuso Sexual
Não Revelados Revelados
Não Notificados Notificados
Investigados
Não Confirmados Confirmados
Condenação Absolvição
Denúncia
Não Investigados
Intervenção
Arquivamento
Falsa Denúncia
Casos Sem Ocorrência de Abuso Sexual
58
crianças às instituições, portas de entrada do fluxo de defesa dos direitos, como o Conselho
Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude e a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes
Contra a Criança e o Adolescente (DERCA).
Com referência aos Conselhos Tutelares, estes são as principais entidades públicas de
acolhimento das notificações. Investidos, por força de Lei, das atribuições de fiscalização,
defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes e com o poder de determinar as
ações de atendimento e de responsabilização, os Conselhos Tutelares devem ser acionados
diante da omissão ou da negação dos direitos previstos na Lei, conforme o Art. 98 (ECA):
“As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III – em razão de sua conduta”.
Nessas condições específicas, os Conselhos Tutelares estão autorizados a utilizar seu
poder de obrigação e advertência aos pais ou responsáveis (Art. 129, ECA) e a requisitar
serviços públicos em instituições de assistência sociojurídica e psico-terapêutica (Art. 101 e
155, ECA) e de ensino (Art. 136, ECA) em forma de ordem (Art. 236 e 249, ECA).
Na ausência dos Conselhos Tutelares, as Varas da Infância e Juventude tornam-se
referência para a entrada da notificação. Nesse sentido, Costa (2000) declara que, muitas
vezes, há dificuldade para se determinar se o processo é da competência dessa instituição, sob
o risco de nulidade. A promotora orienta que são da competência desta entidade os
procedimentos cautelares e ordinários relativos ao abuso sexual no âmbito familiar. Esclarece
ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem decidido
que a omissão de cuidados (negligência) ou violência sexual deve ter causa por ambos os pais
para que a ação possa ser de competência da Vara da Infância e Juventude.
“...se um genitor pratica um abuso sexual e a mãe não se queda inerte, se ela, imediatamente, atua em prol do filho, isso é da competência da Vara de Família. Entretanto, se o pai é o agressor e a mãe é omissa, a criança está desamparada e a ação deve correr na Infância e Juventude” (COSTA, 2000, p.115).
Pereira (2002) apresenta o Agravo de Instrumento nº 2001.002.15250 do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que declara ser de competência absoluta da Vara da
Infância e Juventude “para processar e julgar o pedido de guarda quando, com base nos
aspectos fáticos particulares da hipótese, vislumbra-se a existência de risco ao menor” (p.55).
Portanto, se a doutrina não se mostra unânime em relação à competência da Vara da Infância
59
e Juventude em ações concernentes à denúncia de violência sexual intrafamiliar contra a
criança, o que se verifica é uma tendência para que esta se torne a referência absoluta para
esses casos.
Em relação às instituições policiais, Reis, Martin e Ferriani (2004) acreditam que as
famílias as evitam por descrédito, medo, morosidade ou ineficiência do sistema, do que
concluem que os números de notificações sejam menores que os registrados em atendimentos
assistenciais dispensados às vítimas. Para Thompson (1983), essa “brecha constatada entre os
crimes cometidos e os registrados, denominou-se ‘cifra negra da criminalidade’, expressão
que logo se firmou, enquanto representava fenômeno muito comum” (p.14).
Gonçalves e Ferreira (2002) acreditam que, em função da visibilidade que a
notificação confere à família, há uma tendência para que a história de violência intrafamiliar
permaneça fechada no circuito doméstico ou doméstico-hospitalar, onde a criança poderá
receber assistência médica, além da psicossocial, sem proceder com a notificação, o que
ocasiona a interrupção do caminho da denúncia e a subnotificação.
Segundo Gonçalves (2002, p.315):
“A notificação da violência contra a criança inaugura, também, um processo no interior do qual se desenrolam procedimentos de investigação sobre a vida em família, com vistas a subsidiar, se necessário, uma futura decisão jurídica. Para além dos reflexos na vida familiar, a notificação é um poderoso instrumento de política pública, uma vez que ajuda a dimensionar a questão da violência em família, a determinar a necessidade de investimentos em núcleos de vigilância e assistência, e ainda permite o desenvolvimento de pesquisas e o conhecimento da dinâmica da violência em família”.
Desta forma, as instituições que prestam serviço médico-hospitalar tornam-se, de um
modo geral, as principais portas de entrada para casos de violência intrafamiliar (FALEIROS
et al., 2001; REIS, MARTIN & FERRIANI, 2004). Cabe ressaltar, contudo, algo que notamos
em nossa experiência assistindo a casos de denúncias de abuso sexual: diferentemente das
crianças vítimas de abuso, aquelas que não foram abusadas, por não apresentarem qualquer
evidência física que comprove a queixa de abuso, mormente ingressam no caminho da
denúncia pela porta do fluxo de defesa dos direitos. Nessa situação, constatamos que as mães
denunciantes tendem a evitar o encaminhamento das crianças para realizarem atendimento
médico pediátrico e exame de corpo de delito.
Entretanto, tendo ocorrido ou não uma situação de violência sexual, a maioria dos
casos assemelha-se em um aspecto – dificilmente as crianças apresentam lesões orgânicas
60
suficientes para sustentar um diagnóstico de abuso, havendo a tendência dos médicos em não
identificá-las.
Nesse contexto, Njaine, Souza, Minayo e Assis (1997) comentam que o panorama do
serviço de saúde no Brasil demonstra precariedade na capacitação de profissionais no
atendimento à violência sexual. Para as autoras, o que se constata é o funcionamento de um
serviço que não consegue detectar os casos de maus-tratos, ou se o faz, não encaminha ou
desconhece qual medida adotar, preferindo ignorar a obrigatoriedade da notificação,
conseqüentemente, sendo negligente em relação às vítimas de abuso sexual.
Azevedo e Guerra (1995) concordam com esse posicionamento e explicam que a baixa
notificação de abuso sexual de crianças por parte dos profissionais de saúde ou de educação
ocorre em função do pouco envolvimento ou desconhecimento destes profissionais sobre a
questão. Flores e Caminha (1994), também expõem a precariedade do atendimento do sistema
de saúde em função do despreparo dos profissionais, quando casos não são tratados e
diagnósticos não são precisamente estabelecidos, comprometendo a emissão de relatos às
autoridades.
Contudo, na possibilidade de a equipe de saúde detectar a ocorrência de abuso sexual,
a probabilidade de uma revelação espontânea, porém tardia, advir da criança, permite que o
incesto seja diagnosticado e notificado. Desta forma, a família, juntamente com a equipe de
saúde do hospital, poderá tomar as providências necessárias para proteger a criança
(AMAZARRAY & KOLLER, 1998; LAMOUR, 1997; SUMMIT, 1983; THOUVENIN,
1997).
No tocante à população de crianças que não sofreu abuso sexual, também pode ocorrer
a notificação de violência sexual, sem passar pela revelação espontânea da criança de um
abuso sexual inexistente. Tais circunstâncias são observáveis, por exemplo, no contexto da
separação conjugal, quando a mãe guardiã ingressa com queixa contra o ex-companheiro por
abuso sexual dos filhos, concomitantemente, a um processo de regulamentação de visitas ou
contestação de guarda na Justiça, movido pelo ex-companheiro, em função do alijamento dos
filhos imposto pela mãe. Situação esta, constatada por psicólogos do Núcleo de Psicologia do
Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, que perceberam um aumento de casos de queixa
infundadas de ocorrência de abuso sexual durante os processos em Varas de Família.
Mediante uma notificação da suspeita ou ocorrência de abuso sexual contra criança,
esta pode ser encaminhada ao Ministério Público (MP), visando ao início do processo de
61
investigação. Contudo, há um entendimento, por parte do Conselho Tutelar ou das entidades
que realizam a notificação que, para encaminhar um pedido de representação ao MP, faz-se
mister produzir provas de autoria e materialidade da ocorrência de abuso sexual, fundamentais
para dar segmento à investigação. A partir disso, há uma tendência para que a criança seja
dirigida (novamente) à etapa da revelação e diagnóstico.
Assim, em razão da solicitação, pelo Conselho Tutelar, de uma avaliação psicológica
da criança ou de um estudo de revelação35, laudos médicos e psicológicos, muitas vezes
conclusivos para a ocorrência de abuso sexual, passam a ser incluídos à notificação e
encaminhados ao MP.
Monteiro Filho, em entrevista ao Jornal de Santa Catarina (2003), reconhece que
existe o risco de que pessoas sejam, injustamente, acusadas de abusar sexualmente de uma
criança, em virtude da emissão de um diagnóstico médico baseado em ausência de evidências
físicas. A preocupação do autor, em nosso entender, pode ser aplicada, também, às avaliações
e aos diagnósticos psicológicos, cujas conclusões são, muitas vezes pautadas, exclusivamente,
no depoimento da mãe denunciante e da criança, suposta vítima.
No entanto, o MP, ao receber pedido de abertura da representação contra o acusado,
pode entender que as evidências apresentadas são insuficientes ou que foram mal produzidas,
sendo um impedidor para instauração de um Pedido de Providências (investigação), o que
resulta na interrupção do caminho da denúncia.
Por outro lado, nosso estudo tem apontado para a possibilidade de que, mesmo
munidos de poucas ou precárias evidências, muitos Pedidos de Providência têm sido
instaurados. Tal procedimento remeteria à necessidade de elaborar provas, obrigando crianças
e seus pais a circularem, novamente, pela rede de atendimento – em percurso semelhante a um
verdadeiro labirinto – a fim de que realizem inúmeras intervenções como estudo social,
entrevistas de revelação com psicólogos e exames médicos e psiquiátricos. Essa circulação,
que envia a criança para uma (outra) revelação do abuso e reformulação das acusações,
ocasiona uma repetição incessante das histórias de um suposto abuso, que é repassada,
recontada e revivida pelas crianças abusadas e criada, contada, sugerida, recriada pela mãe e
por toda a equipe de profissionais, até ser fixada no imaginário infantil, podendo-se assim,
revitimizar as crianças que foram abusadas e violentar aquelas que não foram.
35 O Estudo de Revelação será analisado no cap 1.6 que trata, exclusivamente, do processo de revelação.
62
A esta circulação de crianças (e de seus familiares) em uma complexa rede de
elementos que se interligam com vistas à notificação, intervenção e responsabilização – cujo
propósito é a produção de provas de acusação – configura-se no que denominamos labirinto
das acusações. Como título dessa pesquisa, a expressão labirinto das acusações vem apontar
para uma situação de confusão e a toda uma carga emotiva que esta possa gerar para os
personagens que se encontram a ela atrelados.
A partir disso, podemos concluir que, um dos fatores que submete crianças a circular
pelo labirinto das acusações é a má produção de provas por ineficiência dos profissionais
envolvidos. Para Gomes (1998), trata-se de um dos fatores que mais contribui para que a
investigação realizada pelo Ministério Público não ofereça denúncia e, por fim, que esta não
se transforme em processo criminal e, possível condenação.
Nesse sentido, Gonçalves e Ferreira (2002) alertam que, apesar de a Psicologia haver
tomado para si o estudo sobre o fenômeno da violência contra a criança, ainda não foi
possível estabelecer um conceito para determinar, com segurança, padrões de conduta,
intervenção e prevenção a serem adotados pelos profissionais da área. Deste modo, a postura
dos profissionais em relação ao tema estaria propensa a um julgamento pessoal e, portanto,
subjetivo, parcial e, por vezes, preconceituoso, capaz de produzir avaliações sujeitas a
variações, imprecisões, falhas e incertezas, incompatíveis com a manutenção dos direitos das
crianças e familiares e deveres dos psicólogos.
Essa situação, associada à baixa qualificação profissional e a exclusão do acusado
durante o processo de revelação, podem derivar acusações imprecisas e mal fundamentadas,
implicando pessoas inocentes. Decorre, também que a produção deficiente de informação não
permite que a realidade dos eventos seja conhecida, inibindo ou prejudicando a resolução dos
casos (NJAINE et al., 1997). Portanto, na hipótese de não haver provas da culpa do acusado,
o MP poderá decidir pelo arquivamento do processo ou optar por oferecer denúncia à Vara
Criminal a fim de que proceda nova investigação.
No caso de o MP concentrar provas suficientes para provar a ocorrência de casos de
maus-tratos, opressão ou abuso sexual por pais ou responsável, pode intentar uma Ação de
Suspensão ou Destituição do Pátrio Poder, além de oferecer denúncia à Vara Criminal. Esta,
por sua vez, poderá estabelecer a condenação, prolatando a sentença.
A Vara Criminal, na ausência de elementos irrefutáveis de prova que sustente a
suspeição do acusado pela ocorrência de crime, prima o benefício da dúvida, conhecido pelo
63
princípio in dubio pro reo, que julgará pela indeterminação do fato, portanto, pela inocência
do acusado.
Portanto, percorrendo os caminhos da denúncia, é possível determinar uma relação de
fatores que interagem no processo da notificação, por vezes, interferindo ou interrompendo
este percurso. Segundo alguns autores (DAY, TELLES, ZORATTO, AZAMBUJA,
MACHADO, SILVEIRA, DEBIAGGI, REIS, CARDOSO & BLANK, 2003; FURNISS,
2002; GONÇALVES & FERREIRA, 2002; NJAINE, et al., 1997; SCHMICKLER, RECH &
GOMES, 2003), são identificados os seguintes fatores:
O despreparo dos profissionais de saúde e educadores;
A divergência de suas práticas;
O uso de diferentes termos para designar o mesmo episódio;
A crença pessoal de que toda denúncia de abuso sexual é verdadeira;
O conluio com a família para negar o abuso ou para fazer acusações infundadas;
O receio pelas obrigações legais e transtornos advindos da notificação de casos suspeitos
de violência e maus-tratos;
O excesso de trabalho e burocracia;
O sigilo profissional.
No que se refere ao último item, a Resolução CFP Nº 010/05, ao aprovar o novo
Código de Ética Profissional do Psicólogo, em vigor ao dia 27 de agosto de 2005, assegura o
sigilo (Art.9º), prevendo, no Art. 10, que o profissional decida pela quebra do mesmo,
baseando sua decisão na busca do menor prejuízo, devendo, contudo, restringir-se a prestar as
informações estritamente necessárias.
Configura-se, no entanto, quebra de sigilo profissional, quando o psicólogo relatar fato
informado em caráter da confidencialidade. Segundo o assessor jurídico36 do Conselho
Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, todo profissional, seja advogado, médico ou
psicólogo, no atendimento a seu cliente, deverá observar o que determina o Art. 406 do
Código de Processo Civil37 e Art. 154 do Código38 Penal, estando proibido de revelar os
assuntos abordados nesse contexto, inclusive mediante autorização do mesmo. Desta forma, o
36 Paulo Henrique Teles Fagundes. Comunicação pessoal, março 2006. 37 Art. 406 II – A testemunha não é obrigada a depor de fatos: a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. 38 Art. 154 - é crime revelar, sem justa causa, segredo adquirido em razão de função ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outra pessoa.
64
psicólogo que, no cumprimento do contrato psicoterapêutico, vier a comunicar fatos relatados
sob a vigência do sigilo, poderá incorrer em infração ética.
Portanto, a inserção do profissional de Psicologia, diante da suspeita de abuso sexual,
pode se dar por diversas vias de atuação: seja no acolhimento das crianças e/ou familiares,
antes, durante e após a investigação; no diagnóstico e elaboração de laudos; na intervenção
terapêutica e até na prevenção junto a pais, educadores e outros profissionais.
No entanto, Habigzang, Koller, Azevedo e Machado (2005) afirmam que a
intervenção psicológica mais empregada no atendimento às supostas vítimas de abuso sexual,
é a entrevista psicológica com vistas à obtenção do depoimento da criança, este último
considerado, pelas autoras, “a principal forma de comprovação ou confirmação da violência
sexual” (p.344). O assunto é polêmico e merecedor de nossa apreciação.
65
1.6 A criança como protagonista: o processo de revelação do abuso sexual
“Sobre a palavra dita há desconhecimento. Desconhecimento tanto daquele que fala, como daquele que ouve. Tomando como referência o paciente, sua palavra o ultrapassa, fala para além do que ele
diz, para além de suas ‘intenções’. Se o paciente diz, mas não sabe o que diz, o clínico escuta, mas não sabe o que ouve. Compreender é, portanto, equivocar-se”
Vorcaro (2002, p.55).
No contexto de denúncias de abuso sexual, não é raro encontrar dificuldades para
estabelecer um diagnóstico baseado em evidências físicas, de modo que as únicas provas da
ocorrência do abuso, geralmente, consistem no depoimento da criança, considerada vítima do
abuso e do suposto agressor.
Alguns autores afirmam que, nos casos em que houve o abuso sexual, a maior parte
dessas crianças apresenta relutância em revelar o abuso por temer conseqüências para si e
seus familiares, sentindo-se ameaçada pelas ações do agressor, assim como culpada pelo que
possa acontecer a ele ou a sua família, de forma que guarda consigo o segredo, obstruindo a
chegada desses casos ao sistema de saúde e ao judiciário (BERLINER & BARBIERI, 1984;
MILLER, 2002; SWANSON & BIAGGIO, 1985).
Segundo Miller (2002, p.190),
“o adulto está autorizado a manter o segredo, a criança tem a obrigação de fazer isto. A criança pode temer repercussões diretas, tais como violência infligida à mãe, irmãos, animais de estimação, propriedade e, mas provavelmente, a si mesma. Ela pode convencer-se de que, se contar o segredo, seu relacionamento primário com o indivíduo abusivo, aparentemente onipotente e, freqüentemente, amado pode ser ameaçado”.
Assim, muitos profissionais de saúde insistem na importância do atendimento à
criança a fim de que esta revele o ocorrido. Acreditam que, com a revelação do abuso,
conseqüentemente, o fim do segredo, as crianças poderão receber assistência terapêutica e
familiar, mitigando o sofrimento gerado por essa experiência (FINKELHOR & BROWNE,
1986; FURNISS, 2002; MILLER, 2002; WHITLOCK & GILLMAN, 1989).
Summit (1983) e Furniss (2002), ao trabalharem com casos de crianças vítimas de
abuso sexual, descreveram uma síndrome relacionada ao segredo, a partir de suas observações
e pesquisas na área: a Síndrome de Acomodação ou Adaptação e a Síndrome do Segredo,
respectivamente.
66
Summit publicou uma descrição formal sobre como uma criança abusada sexualmente
revela o incesto. Esse modelo, denominado Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome –
Síndrome de Acomodação ou de Adaptação – delineia cinco categorias identificáveis, a citar:
Segredo;
Sentimento de impotência pela criança abusada;
Adaptação à situação de incesto por submissão à autoridade do adulto;
Revelação tardia e não convincente;
Retratação.
Summit (1983) argumenta que as crianças nunca fabricam histórias de abuso sexual e
que, portanto, devem receber todo o crédito quando revelam o abuso, mesmo quando as
declarações se mostrarem bizarras e inacreditáveis. Apesar dessa alegação, o autor propôs
que, para manter o equilíbrio familiar, a criança abusada faria uma retratação, negando a
revelação do acontecimento. O autor postulou que a subordinação e o desamparo da criança
diante a autoridade do adulto que a obriga a ser obediente e afetiva, forçam uma acomodação
à situação de abuso que acarretará na inversão de valores morais e em alterações psíquicas
lesivas à sua personalidade. A criança não teria outra escolha exceto submeter-se ao abuso e
manter o segredo.
“Existe muito pouco risco de descoberta se a criança é jovem bastante e se existe uma relação estabelecida de autoridade e afeto. Homens que procuram crianças como parceiros sexuais descobrem rapidamente algo que permanece inacreditável para adultos menos impulsivos: crianças dependentes estão desamparadas para resistir ou reclamar” (SUMMIT, 1983, p.184)39.
Assim, é plausível considerar que o agressor tenderá a manipular a criança de forma
tácita, via comunicação não-verbal, para que ela participe da atividade como se fosse um jogo,
a partir da relação de sedução, oferecendo-lhe presentes e recompensas; ou pela intimidação,
coerção e violência física, empregados para constrangê-la e amedrontá-la, imputando-lhe a
responsabilização pelo abuso e, finalmente, o segredo (IENCARELLI, 1997; LAMOUR,
1997; REIS, MARTIN & FERRIANI, 2004; THOUVENIN, 1997).
“... os abusos intrafamiliares acontecem em segredo. Imposto por violência, ameaças ou mesmo em uma relação sem palavras, o segredo tem por função manter uma coesão familiar e proteger a família do julgamento de seu meio social. A realidade das conseqüências de uma inculpação (prisão, perda do sustentáculo financeiro) faz com que a revelação seja mais grave que o próprio abuso” (LAMOUR, 1997, p.59).
39 Tradução livre.
67
A negação do abuso por algumas crianças corrobora “estudos que afirmam que a
criança vitimizada costuma manter-se calada, mantendo-se fiel ao adulto maltratante, muitas
vezes o único vínculo afetivo que possui” (MENEGHEL, GIUGLIANI & FALCETO, 1998,
p.332).
Apesar da grande adesão à síndrome descrita por Summit, considerada à época,
cientificamente fundamentada para diagnóstico de abuso sexual e, largamente, aceita como
prova em processos judiciais, algumas associações (American Psychological Association,
American Psychiatric Association) se pronunciaram com intenção de impugná-la nos
tribunais como evidência probatória de abuso sexual. O argumento se referia à falta de
fundamentação técnico-científica do modelo de Summit, em função da ausência de estudos
empíricos, capaz de distinguir crianças abusadas daquelas não abusadas (CAMPBELL, 1997).
Em respostas às críticas, Summit (1992) admitiu que a Síndrome possui graves
limitações, sendo apenas uma opinião clínica, sem pretensões de ser um instrumento
científico destinado a tal aferição, de modo que sua aplicação como evidência de abuso sexual
não cumpre com os critérios de confiabilidade técnica requeridos para validar o diagnóstico.
Campbell (1997) explica que, atualmente, a Síndrome de Acomodação ou Adaptação é
considerada ultrapassada em função da carência de especificidade das cinco categorias
apresentadas por Summit. Para a autora, essas características são generalizadas, dando
margem para opiniões subjetivas, pois podem ser observadas em crianças não abusadas. A
autora cita como exemplo o fato de que crianças que não foram abusadas, ao negar a
ocorrência de abuso, podem ser, equivocadamente, interpretadas como sendo resistentes ou
temerosas.
Com relação à Síndrome de Segredo, esta é definida por Furniss (2002) como sendo
determinada por fatores externos (da própria relação abusiva) e internos, que interagem e
promovem uma reação que leva a criança a silenciar-se, ocultando sua história de abuso. Os
agentes são múltiplos e vão desde a culpa pela participação no intercâmbio abusivo, até o
medo das conseqüências da revelação, passando por acusações verbais, ameaças de violência
e castigo, descrédito e negação.
Para Furniss (2002), a negação do abuso sexual pela criança não implica,
necessariamente, que a violência não foi praticada. O sentimento de culpa e a
responsabilização pela prática abusiva são os principais fatores de existência da Síndrome do
Segredo. As crianças abusadas, por temor à punição e ao abandono, “mentem mais
68
freqüentemente quando negam ter ocorrido abuso sexual do que quando acusam falsamente
um membro da família de abuso sexual” (p.31). É nesse sentido que Borba (2002) sustenta a
idéia de que é a partir do rompimento do segredo que se poderá comprovar a prática sexual
incestuosa, libertando a criança do círculo vicioso existente.
Alguns autores concordam com a constatação de Furniss e acrescentam que o
sentimento de culpa que a criança abusada desenvolve pode vir a se manifestar de duas
formas básicas: culpa pelo abuso ou pela revelação deste; ou raiva dirigida a ambos os pais,
culpando-os pela vivência traumática. Para os autores, a presença desses sentimentos pode
dificultar a decisão de revelar a violência, resultando na manutenção do segredo (TSAI &
WAGNER, 1978).
Nas palavras de Viaux (1997, p.124-125),
“Esse tempo de silêncio durante o abuso é necessário a cada um, para chegar ao tempo de ruptura. (...) O tempo da revelação que faz parte da história familiar e da própria história da criança é também o tempo da iteração: há um momento em que a palavra é possível (...) O tempo da revelação é um tempo de ruptura”.
O termo revelação vem sendo aplicado, também, para descrever uma intervenção
realizada por profissionais de Psicologia e de Serviço Social no trato com crianças,
supostamente, vítimas de abuso sexual. Pelo que apresentam os autores estudados, a
Entrevista de Revelação ou Estudo de Revelação – expressão de caráter tautológico – tem por
objetivo criar um ambiente facilitador que permita à criança revelar o abuso sexual sem
desenvolver sentimentos de culpa ou vergonha.
Furniss (2002, p.177) orienta os profissionais a iniciar a entrevista de revelação com a
“permissão terapêutica explícita para revelar”. Isso significa que o propósito do psicólogo
durante a entrevista é, necessariamente, fazer com que a criança relate o abuso sofrido.
Segundo o autor, “(...)a criança precisa saber que nós conhecemos as razões pelas quais ela
pode ser capaz de revelar(...) Em termos práticos, precisamos enviar de maneiras variadas e
repetidas a mensagem: ‘Eu sei que você sabe que eu sei’.”
Ao final de todas as considerações, se a criança ainda não estiver motivada a revelar,
Furniss (2002) entende que ela possa estar assustada demais, provavelmente, por ameaças do
abusador ou possa estar resistente, seja por falta de confiança no entrevistador, seja por culpa
ou vergonha.
Apesar de declarar que não se pode pressionar a criança, estando atento para o fato de
o abuso sexual não haver ocorrido, o autor enfatiza que o profissional não deve aceitar a
69
negação da criança, considerando que esta seja conseqüência das ansiedades e medos da
criança. Furniss (2002) sugere ao profissional que, diante desse impasse, dê mais tempo e
espaço para que a criança possa apreender o que chamou de “metáfora” (p.180) – a história de
abuso da criança contada como se fosse de outra pessoa.
Com essa mensagem, Furniss (2002) deixou explícita a postura com a qual o psicólogo
deve se apresentar: como o especialista que possui o saber e o poder capaz de fazer a criança
revelar, configurando, dentro de uma perspectiva foucaultiana, o processo de revelação como
aquele que, simultaneamente, qualifica, classifica e pune a criança pela sua própria palavra, à
medida que essas são capazes de gerar conseqüências. No entendimento de Oliveira e
Americano (2002), o resultado mais provável da revelação é o afastamento ou a restrição do
contato da criança com o suposto agressor, uma decisão questionada pelos autores quanto aos
benefícios e aos prejuízos à criança, tendo em vista a possibilidade de que esta compreenda o
afastamento como uma punição por suas declarações.
Assim, pensar a entrevista de revelação a partir desse panorama é considerar o
entrevistador como aquele que exerce um poder sobre a criança, poder entendido como uma
ação essencialmente repressiva (FOUCAULT, 2004), cuja intenção é extrair o saber do outro
a partir da vigilância hierárquica, do olhar que fiscaliza, obriga e produz efeitos. “... um poder
que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida
adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor” (FOUCAULT, 2005, p. 143).
Nesse sentido, a entrevista de revelação seria uma forma de disciplinar a palavra da
criança; “um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um aparelho onde as técnicas que
permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem
claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam” (FOUCAULT, 2005, p.143).
Semelhante à vigilância hierárquica, discutida por Foucault (2005), podemos entender
a entrevista de revelação como o exercício de um poder, sob a forma de um olhar sapiente
sobre a criança, cujo efeito é a ordenação do que se deve ou não fazer; o que se deve ou não
dizer.
Portanto, poder e saber estão intimamente atrelados nessa técnica de entrevista,
adestrando a criança a fim de subtrair a revelação de um abuso em que, aprioristicamente, se
sabia existir, por uma lógica firmada pelo paradigma que concebe o cliente como um ser
frágil demais para saber alguns aspectos de seu próprio funcionamento. Uma postura que
70
Ancona-Lopez (2002) descreve como estando a serviço da manutenção da relação de poder
entre psicólogo – detentor do saber – e seu cliente.
Diante desse processo, a criança está propensa a aceitar, seja direta ou indiretamente, o
seu não-saber, podendo ser conduzida, pelas expectativas, crenças e, principalmente, pelo
poder-saber do entrevistador, a acolher um discurso produzido para ser a verdade. Assim,
conforme a criança se submete a este poder-saber, ela confessa que sofreu um abuso sexual.
Situação semelhante ocorre no filme “Acusação” – (Indictment: the McMartin Trial40),
que retrata um caso real, transcorrido nos Estados Unidos no início da década de 1980, onde
foram indiciadas, por abuso sexual de crianças, seis mulheres que trabalhavam em escola
primária, além da proprietária de 73 anos, sua filha e filho. Em um período de um ano
(novembro de 1983 a 1984), 360 crianças dessa escola declararam terem sido submetidas a
atos repetitivos, que incluíam sexo grupal, pornografia, cultos satânicos com sacrifício de
animais a partir de técnicas de entrevista com uso de fantoches, empregadas pela profissional
especialista em avaliação de crianças, supostamente, abusadas. O episódio virou referência
para estudos acerca da influência dos interrogatórios policiais, da sugestionabilidade infantil,
dos processos de avaliação psicológica e do emprego de diferentes técnicas de entrevista pelos
profissionais de saúde e peritos judiciais.
Para Foucault (2001), a confissão estabelece uma relação de poder, cujo confesso
produz um discurso sobre si, enquanto, aquele que ouve, interpreta, redime, condena, domina.
O autor enfatiza que a confissão está entre os rituais de maior importância à produção de
verdade: “emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se em
público, em particular, aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem-se
a si próprios... Confessa-se – ou se é forçado a confessar” (p.59).
Essa obrigação à confissão, por estar tão profundamente incorporada à lógica que
fundamenta a entrevista de revelação, não permite que a percebamos como efeito de um poder
repressor. A entrevista de revelação, portanto, nada mais seria que um dos procedimentos pelo
qual, essa vontade de saber relativa à ocorrência de abuso sexual, faz funcionar o ritual de
confissão sob a égide de uma pretensa regularidade científica. “O dever de dizer tudo e o
poder de interrogar sobre tudo encontrarão sua justificação no princípio de que o sexo é
dotado de um poder causal inesgotável e polimorfo” (FOUCAULT, 2001, p.64).
40 Direção de Mick Jackson, EUA, 1995.
71
A partir dessa concepção, justifica-se arrancar à força a verdade da criança sobre o
abuso sexual, já que este permanece na obscuridade. Portanto, para o profissional que se
encarrega de ouvir a criança em seu processo de revelação do abuso, este se torna o juiz, cujo
“poder em relação à confissão não consiste somente em exigi-la, antes dela ser feita, ou em
decidir após ter sido proferida, porém em constituir, através dela e de sua decifração, um
discurso de verdade” (FOUCAULT, 2001, p.66), essencial para o sucesso do processo de
revelação.
Esse processo de revelação, sob a estruturação de entrevista, foi largamente analisado
por inúmeros pesquisadores quanto à cientificidade e à capacidade para validar o testemunho
da criança. Na teoria de Summit (1983), foi considerada, como alternativa mais provável, a
tentativa de a criança negar a ocorrência de abuso ou revelar fragmentos do incidente. Na
opinião do autor, os profissionais deveriam suspeitar de revelações de abuso sexual feitas de
forma direta e rica em detalhes.
Contudo, Bruck, Ceci e Shuman (2005) consideram o posicionamento de Summit
inconsistente, pois, mediante os resultados de uma série de pesquisas por eles analisadas, uma
vez a criança tenha revelado um abuso, ela tende a manter seu discurso durante as
investigações. No caso de a criança negar, os autores sustentam que, contrariamente a
Summit, o abuso pode não ter ocorrido. Porém, se o relato da criança for em pequenos
fragmentos, os autores acreditam que possa estar relacionado a um processo de entrevistas
diretivas e sugestionáveis. Os autores definem, desta forma, que àquela criança, cuja
declaração surja espontaneamente e de forma elaborada, a suspeita de uma ocorrência de
abuso sexual é plausível.
Tal conclusão, também foi sustentada por Schacter (2003), pesquisador que analisa as
possíveis causas e conseqüências das imperfeições da memória. Para o autor, as “recordações
espontâneas de crianças tendem a ser corretas, enquanto suas respostas a perguntas específicas
são mais suscetíveis a distorções” (p.165).
Alaggia (2004), apoiada em outras investigações41, identificou uma variedade de
formas de se revelar um abuso sofrido que corroboram os estudos de Bruck, Ceci e Shuman
(2005) e Schacter (2003). A autora ressalta que não há modelo padrão, pois uma revelação de
abuso sexual deriva de fatores como: desenvolvimento humano, memória e ambiente.
41 Campis, Hebden-Curtis e Demaso (1993); Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones e Gordon (2003); Keary e Fitzpatrick (1994); Nagel, Putmam, Noll e Trickett (1996); Paine e Hansen (2002); Roesler e Wind (1994); Sorensen e Snow (1991).
72
Ressalta, no entanto, ser pouco provável que crianças com menos de seis anos de idade
realizem uma revelação, em função de fatores ligados ao seu desenvolvimento.
A declaração pela criança sugere que, somente quando esta reconhece a situação como
abusiva, ou, no mínimo, estranha, perturbadora e potencialmente prejudicial à sua vida, ela
poderá compartilhar essas impressões e dúvidas com alguém de sua confiança. Essa visão é
compartilhada por Gonçalves (2004b). A autora explica que o relato de abuso sexual feito
pela criança tende a ser meramente factual. “A carga emotiva do abuso sexual, em uma
porcentagem importante dos casos, é trazida mais pelos adultos significativos que pela própria
vivência da criança, que muito freqüentemente, nem é capaz de sexualizar o ato abusivo. Ela
ainda não é capaz de representar o incesto” (p.53).
Assim, de acordo com essas pesquisas, a produção da verdade, pelo testemunho da
criança, pode estar associada, diretamente, a vários tipos de pressões sociais “em uma
tentativa de extrair informações das recalcitrantes crianças em idade pré-escolar”
(SCHACTER, 2003, p.168). Fato, pelo qual Summit (1992), contradizendo-se, admite que a
criança possa mentir apenas para proteger (ou agradar) uma pessoa na qual depende
afetivamente.
Sendo assim, nas circunstâncias de separação conjugal, podemos supor que a criança
poderia se manter fiel às alegações da mãe guardiã que acusa o ex-companheiro, ao invés de
apenas negar o abuso para proteger o seu suposto agressor. Ambas as alternativas são viáveis,
se considerarmos a explicação do autor. Outro ponto de vista seria pensar que a criança
também poderá mentir na intenção de corresponder com o que percebe ser do agrado do
adulto. Assim, a criança poderia acrescentar comentários, tanto para atrair a atenção do
profissional que a entrevista, quanto para agradá-lo. Na concepção de Ceci, Buck e Rosenthal
(1995, p.506): “após prolongadas perguntas sugestivas sobre tocar seios, urinar em cima de
cada um, etc., não é de se surpreender que algumas crianças comecem a perceber a discussão
de temas sexuais como, não apenas aceitável, mas como realmente desejável”42.
Cárdenas (2000), De Young (1986) e Gardner (1991) analisam que, mesmo não
havendo intencionalidade na mentira contada pela criança ou que ela esteja relatando o que
um adulto de sua confiança tenha lhe instruído a dizer ou a acreditar, o paradigma criança
nunca mente está equivocado, necessitando ser questionado.
42 Tradução livre.
73
Em reportagem da Revista Escola (2004), Maluf, vice-presidente da Associação
Brasileira de Psicopedagogia, explica que, até completar a idade de 06 anos, a criança
experimenta o mundo real, não sendo ainda capaz de diferenciar um engano intencional (uma
mentira) de seus jogos de faz-de-conta (fantasia). Para a psicopedagoga, a criança, até essa
idade, não teria um compromisso com a realidade.
Nesse sentido, Gardner (1991) é contumaz ao afirmar que os profissionais que buscam
na palavra da criança a verdade e a comprovação de que houve um abuso, são obrigados a
acreditar, também, que os pais, especialmente, aqueles envolvidos em separação e disputa
pela guarda, não instruíram ou programaram seus filhos a acreditar em uma história de maus-
tratos e violência. Critica, ainda, o processo utilizado pelos profissionais na avaliação de
crianças menores de 5 anos quanto ao entendimento sobre os conceitos de verdade e mentira.
Segundo De Young (1986, p.550), um desses procedimentos é o “teste conceitual para
detecção de mentiras”, que implica em perguntar à criança se é verdadeira ou falsa a
afirmação que o profissional faz (afirmação esta baseada em conhecimento prévio
apresentado pela criança acerca de um assunto). Assim, se a criança respondesse,
corretamente as perguntas, ter-se-ia estabelecido o conceito de verdade e mentira.
Tal procedimento possui uma lógica de acusação que visa, exclusivamente, determinar
se a criança tem noção da diferença entre verdade e mentira, remetendo a palavra da criança à
verdade do abuso sexual. Esse tema é bastante controverso e suscita maiores discussões e
embates teóricos que escapariam do propósito deste trabalho, no momento.
Não obstante, ao discutir a palavra da criança na qualidade de testemunho do seu
próprio abuso sexual, Thouvenin (1997) ressalta que o especialista é quem irá transformar
esta palavra em um discurso diferente: educativo, médico, psicológico ou judiciário. A autora
acrescenta que “o modo de colher o testemunho da criança não é óbvio, nem a escolha do
modo de intervenção que se seguirá” (p.98). A transformação da palavra da criança pelo
adulto que lhe dará assistência permite que suas impressões pessoais modulem a interpretação
que dará à mensagem da criança. Para a autora, não é raro que este adulto não hesite em
condenar o autor do suposto abuso.
Nesse contexto, Lowry (1994) apresentou a transcrição43 de uma entrevista realizada
entre dois investigadores (I) especialistas do Department of Youth and Family Services
(DYFS) e uma criança (C) supostamente vítima de abuso sexual.
43 Tradução livre.
74
C: Eu não sei, eu esqueci... eu te odeio. C: Eu te odeio! C: Sim, eu te odeio. C: Eu esqueci. C: Não. C: Tá bom, tá bom. C: Vou tentar lembrar. C: Um garfo? C: Não.
I: Ela colocou o garfo em seu ânus? Sim ou não? I: Ah, vamos lá, Peter, se você me responder só isso, você poderá ir. I: Oh, não, você não me odeia. I: Você me ama, eu sei. Foi só isso que ela fez com você? O que ela fez com o seu ânus? O que ela fez com o seu ânus? Então você pode ir. I: Conta pra mim o que Kelly fez no seu ânus e então você poderá ir. Se você me disser o que ela fez com o seu ânus, vou deixar você ir. I: Por favor. I: Conta pra mim agora... o que Kelly fez no seu ânus? I: Ela colocou alguma coisa em seu ânus? I: Doeu muito? Sangrou?
Lowry (1994) ressalta que esse procedimento não só desqualifica a palavra da criança
como transforma o processo de revelação em um “jogo de adivinha” (a exemplo do termo
grifado), no qual a criança é forçada e induzida a confessar o que está sendo solicitado pelo
entrevistador a partir das pistas fornecidas por ele.
Estudiosos (CECI & BRUCK, 2002; CECI & HEMBROOKE, 1998; COLEMAN &
CLANCY, 1999; SCHACTER, 2003) afirmam que as crianças, neste contexto, são
manipuladas por seus entrevistadores que apresentam um padrão de técnicas de entrevista
destinadas à admissão do abuso por parte das crianças.
De acordo com Schacter (2003), além das perguntas sugestivas, os entrevistadores
tendem a elogiar e a dar prêmios quando recebem a informação desejada e manifestam
desapontamento e reprovação quando as crianças não respondem de acordo com o esperado.
Nas circunstâncias em que as perguntas não são respondidas, os entrevistadores tendem a
repetí-las, incentivando as crianças a especular sobre o que poderia ter ocorrido.
Nos dizeres de Ceci e Hembrooke (1998, p.177):
“Até recentemente, os psicólogos entrevistavam crianças sexualmente abusadas com a finalidade de obter uma avaliação clínica, um diagnóstico e um plano de tratamento que pudessem ajudar a criança a superar o trauma do abuso e recomeçar um trajeto de desenvolvimento compatível. Na última década, este papel mudou; psicólogos se encontram entrevistando crianças, supostamente, vítimas de abuso, com a finalidade de assistir às cortes na determinação da verdade dessas alegações. Em resposta a esta nova demanda forense, para validar o abuso sexual da criança, os psicólogos apresentam os dados baseados em listas de verificação de sintomas, em observações de comportamentos sexualizados e em estrevistas semi-estruturadas, como se fossem evidências científicas, capazes de corroborar ou contradizer uma acusação do abuso sexual. Entretanto, na ausência de fundamentações psicométricas, empiricamente baseadas para estas estratégias
75
de avaliação, o testemunho do especialista pode não estar de acordo com os padrões éticos ou judiciais atuais”44.
Na assistência de casos de denúncia de abuso sexual contra crianças, Shine (2003b)
explica que os profissionais vêm empregando algumas técnicas para verificar a credibilidade
das alegações feitas por crianças. Os bonecos anatomicamente corretos (anatomically correct
dolls), por exemplo, foram implementados no fim da década de 1970, nos Estados Unidos
para este fim. São bonecos sexuados que possuem a representação de todos os órgãos genitais
humanos, incluindo os caracteres secundários (como pêlos faciais e pubianos). Por haver uma
desproporção entre o tamanho dos genitais e dos orifícios que representam a vagina, ânus e
boca em relação ao restante do corpo, os bonecos passaram a ser chamados, mais
recentemente, por “bonecos anatomicamente detalhados” (GARDNER, 1991, p.52).
Por este motivo, o emprego dos bonecos como técnica para avaliação de casos em que
há suspeita de abuso sexual contra crianças tornou-se, extremamente controverso, suscitando
dúvidas quanto à finalidade, à acuidade técnica (do instrumento e dos entrevistadores) e à
fidedignidade dos resultados. Profissionais e pesquisadores da área de saúde45 discutem e
argumentam contra ou a favor da técnica, a partir de inúmeras investigações empíricas, na
qual comparam a interação com os bonecos por grupos de crianças abusadas com grupos de
crianças supostamente não abusadas.
Verificamos que essas pesquisas divergem quanto aos resultados. Nos estudos
desenvolvidos por Cohn (1991), Everson e Boat (1994b) e Gardner (1991), os autores
criticam a concepção de brincadeira sexualizada como sendo definida a partir da observação
da manipulação, pelas crianças, dos genitais e orifícios dos bonecos. Defendem, contudo, que
a determinação de abuso sexual restrita a este critério não é plausível, tendo em vista que
crianças, especialmente as menores de cinco anos, brincam de forma exploratória,
independentemente da condição de vítima de abuso ou não, o que não caracterizaria a
brincadeira como sexualizada.
Gardner (1991) acrescenta que, mesmo conscientes de que o instrumento é uma
novidade para a criança, capaz de gerar curiosidade e uma atenção concentrada nas partes
44 Tradução livre. 45 Boat e Everson (1988a, 1988b); Bruck, Ceci e Francouer (2000); Bustamante (2002); Ceci (1993, 2000); Ceci e Bruck (1993); Ceci e Hembrooke (1998); Cohn (1991); DeLoache (2006); Everson e Boat (1994a, 1994b); Gardner (1991); Holmes (2000); Kendall-Tackett e Watson (1992); Skinner e Berry (1993); Wakefield e Underwager (1989, 1991, 1995).
76
salientes e reentrantes dos bonecos, há profissionais que julgam como evidência e prova para
a ocorrência de abuso sexual quando a criança explora estas partes.
“Se alguém der a uma criança um pino e um buraco, a criança vai colocar o pino no buraco a menos se a criança for retardada ou psicótica (...). Dê a uma criança uma destas bonecas anatômicas fêmeas com boca, o anus e a vagina abertas; a criança colocará inevitavelmente um ou mais dedos em um destes orifícios conspícuos. Para muitos destes trabalhadores, tal ato é a prova de que a criança foi abusada sexualmente. A suposição feita é de o que a criança fizer com estas bonecas será uma cópia exata, ponto-por-ponto, do que ocorreu na realidade” (GARDNER,1991, p.52)46.
Apesar de Boat e Everson (1988a, 1988b), Everson e Boat (1994a, 1994b), Faller
(2005) e Holmes (2000) reconhecerem que os profissionais de saúde e operadores do direito
tendem a usar o comportamento da criança durante a brincadeira como diagnóstico definitivo
de abuso sexual: “Diagnostic Test Use” (EVERSON & BOAT, 1994b, p.113), os autores
defendem o uso dos bonecos anatômicos como uma técnica que auxilia na comunicação entre
o par entrevistador-criança, podendo ser aplicado com funções variadas, como: quebra-gelo
no início da entrevista, um reconforto à criança; um modelo anatômico para verificar o
conhecimento da criança sobre as partes do corpo, um instrumento para demonstrar o que
teria ocorrido entre a criança e seu suposto agressor sexual, um estímulo à memória das
circunstâncias do abuso e, finalmente, uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico de abuso
sexual.
Pesquisas desenvolvidas por DeLoache (2006) questionam, exatamente, essa
suposição de que crianças pequenas seriam capazes de pensar no objeto, tanto como bonecos,
quanto como uma representação de si mesmas. A autora defende que crianças pequenas
podem não ser capazes de usar os bonecos anatômicos como símbolos ou representações de si
mesmas, desta forma, não poderiam usá-los para demonstrar suas próprias experiências.
DeLoache (2006) conclui que o emprego de bonecos anatômicos pode, por outro lado,
interferir com os relatos da memória de crianças pesquenas, sendo contra-indicado o uso
desse recurso em processos judiciais.
Para Farinatti et al. (1993), a principal controvérsia no uso dos bonecos como
facilitadores reside na presença de genitália, o que poderia suscitar “falsos-positivos” (p.141),
de modo que esses autores indicam o uso de bonecos não anatômicos, de ambos os sexos.
Segundo os autores, esses bonecos agiriam, igualmente, como facilitadores, “revelando, a
46 Tradução livre.
77
criança, conduta ao brincar, igualmente, sexualizada, com a vantagem de ensejarem, esses
bonecos não anatômicos, maior espontaneidade e menos exposição à sexualidade explícita”
(p.141).
Nas investigações realizadas por Skinner e Berry (1993), os resultados convergiram
para a impossibilidade de averiguar uma diferença significativa entre as explorações e
brincadeiras com os bonecos anatômicos realizadas por crianças não abusadas daquelas que
foram sexualmente abusadas, refutando os resultados de pesquisas anteriores.
Outros autores criticam e argumentam que essas pesquisas comparativas são
inconcludentes por apresentarem falhas metodológicas (CECI & BRUCK, 1993; SKINNER
& BERRY, 1993; WAKEFIELD & UNDERWAGER, 1989; 1991; 1995).
Skinner e Berry (1993) explicam que a ausência de normas para observação e
contraposição das brincadeiras de crianças não abusadas versus crianças abusadas com os
bonecos tornou-se ponto de questionamento a respeito da admissibilidade jurídica do uso
desse instrumento em situações de denúncia de abuso sexual. Partindo dessa concepção, os
autores concluíram que a análise da interação de crianças com os bonecos anatômicos não
poderia servir como evidência psicológica no âmbito jurídico.
Não obstante haja disparidade de opiniões, é possível verificar um único consenso
entre os autores a respeito do uso de bonecos anatômicos em entrevistas de revelação: todos
concordam que este instrumento, assim como qualquer outra forma de testagem psicológica,
não se configura uma técnica cientificamente comprovada para diagnosticar ou validar a
ocorrência de abuso sexual contra a criança.
Na tentativa de solucionar esse impasse, o Comitê da American Psychological
Association (APA Council of Representatives, 1991) aprovou um estatuto que regula o uso de
bonecos anatômicos em avaliações e processos forenses por profissionais treinados. Partindo
do princípio que os bonecos são, largamente, empregados em estudo de casos de suspeita de
abuso sexual contra crianças, declaram que, em geral, estes instrumentos podem ser úteis no
processo de comunicação de crianças, cujas habilidades lingüísticas e problemas emocionais
dificultam uma resposta verbal direta. Por sua vez, o Comitê entende que nem os bonecos,
tampouco o uso destes, estão estandardizados ou possuem dados normativos, de modo que
não há um padrão que oriente os profissionais na condução de entrevistas com bonecos.
Nesse sentido, o Comitê admite que os bonecos, usados como parte do processo de
avaliação psicológica em casos de investigação de abuso sexual contra a criança e
78
interpretados por examinadores competentes, podem servir como uma solução prática diante
da urgência do problema em questão. Ressalta que, para isso, os psicólogos que utilizam os
bonecos anatômicos devam estar em conformidade com os princípios éticos que estabelece
seu Código.
Ressaltou também a importância e a necessidade de se manter pesquisas, a fim de se
obter mais e melhores dados acerca dos estímulos gerados pelos bonecos no comportamento
de crianças abusadas e não abusadas.
Esse mesmo conselho representativo publicou, em 1994, um posicionamento sobre o
uso dos bonecos anatômicos como um subsídio à comunicação e à memória de crianças em
estado de investigação de abuso sexual, mas os desqualificou como um teste de diagnóstico.
Os autores que sustentam a inadequação e a conseqüente impugnação deste método
em entrevistas com crianças supostamente abusadas, afirmam que este material pode causar
uma estimulação sexual, a partir da apresentação de conteúdo sexual impróprio à idade da
criança (BUSTAMANTE, 2002; BRUCK, CECI & FRANCOUER, 2000; CECI, 1993; CECI
& BRUCK, 1993; 2000; CECI & HEMBROOKE, 1998; GARDNER, 1991; SKINNER &
BERRY, 1993; WAKEFIELD & UNDERWAGER, 1989; 1991; 1995).
Os autores ressaltam que, ao utilizar os bonecos como instrumento de diagnóstico de
abuso sexual em crianças, o psicólogo apresentaria à criança um material sexual explícito,
fornecendo informação que, em geral, uma criança de pouca idade não teria. A repercussão
mais provável seria que, crianças não abusadas, seriam submetidas a uma intervenção capaz
de provocar reações emocionais (como ansiedade, fobia) antes inexistentes, transformando-se
em uma prática abusiva e iatrogênica; enquanto, para as crianças abusadas, o uso dos bonecos
implicaria em revitimização.
As críticas avançam à análise do efeito sugestivo da entrevista com bonecos que, sem
apresentar dados normativos para seu uso, estaria sujeita à sugestão e à indução pelo
profissional que, em sua expectativa para confirmar o abuso, tenderia a insistir na revelação e
na demonstração deste.
Nesse contexto, Alves-Mazzotti (1999, p.112) esclarece:
“uma ‘observação pura’, tal como pretendiam os positivistas, é amplamente rejeitada: a observação está sempre impregnada de teoria. Isto quer dizer que... esta própria teoria influencia o ‘fato’ a ser observado, na medida em que impõe o recorte, definindo as categorias relevantes e selecionando os aspectos e relações a serem observados”.
79
Entretanto, alguns autores (FURNISS, 2002; KENDALL-TACKETT & WATSON,
1992) salientam que, respeitados os critérios de treinamento que visam a capacitar o
profissional para o uso dos bonecos anatômicos em entrevistas com crianças supostamente
abusadas, em geral, a intervenção desses profissionais não produziria qualquer
direcionamento das palavras e dos comportamentos da criança.
Pesquisadores, críticos ao método, rebatem esse argumento e insistem que não há
garantias de que o entrevistador esteja sendo imparcial e cuidadoso ao fazer perguntas e
interpretações. Compreendem que o profissional, envolvido pelo ideário entrevistador-
salvador e criança a ser salva, apresenta uma disposição para acreditar na ocorrência de
abuso sexual que o motiva em sua busca por respostas diante da demanda da revelação
(BUSTAMANTE, 2002; BRUCK, CECI & FRANCOUER, 2000; CECI, 1993; CECI &
BRUCK, 1993; 2000; CECI & HEMBROOKE, 1998; GARDNER, 1991; SKINNER &
BERRY, 1993; WAKEFIELD & UNDERWAGER, 1989; 1991; 1995).
No caso de a criança negar a ocorrência do abuso ou, simplesmente, não responder às
perguntas do entrevistador, os autores alegam que ela estaria sujeita à submissão de inúmeras
perguntas diretivas ou a uma repetição das mesmas de forma ambígua e capciosa.
Acrescentam que o profissional poderia elaborar, junto a crianças que não foram abusadas,
especialmente as menores de cinco anos, uma construção que narrasse, à semelhança de
histórias de faz de conta, uma situação de abuso e de seu agressor, que seria utilizada para
fornecer indícios à acusação de abuso sexual.
Contudo, parece consenso entre os pesquisadores que a entrevista deva ser gravada,
preferencialmente, por meio de vídeo. Em alguns casos fala-se em vídeo conferência, quando
a entrevista ocorre em tempo real, permitindo a interferência de advogados e, inclusive, do
juiz, com perguntas a serem dirigidas à criança. Neste caso, a vídeo conferência substituiria a
presença da criança no tribunal ou fórum.
Tal argumento é justificado por duas razões básicas: possibilidade de se verificar o
envolvimento emocional do entrevistador com a criança supostamente abusada e,
conseqüentemente, perceber se houve indução de respostas ou emprego de instrumentos sem
suporte científico por parte do entrevistador e a preservação da criança, deixando de submetê-
la a inúmeros depoimentos e entrevistas, reduzindo seu constrangimento, assim como,
evitando a revitimização.
80
No V Congresso Brasileiro de Direito de Família, realizado em Belo Horizonte no ano
de 2005, a Desembargadora Maria Berenice Dias, da 7ª Câmara Cível do TJRS, ao proferir
palestra intitulada “Incesto – um pacto de silêncio”, defendeu a criação de Varas
especializadas para julgar ações que envolvem denúncias de abuso sexual contra crianças e
adolescentes e a implantação do projeto “Depoimento sem Dano” em todas as Comarcas do
Brasil. O projeto47 visa à realização de inquirições por profissionais de Psicologia e de
Serviço Social em “salas aconchego”, especialmente preparadas para receber crianças e
adolescentes. Por meio de filmagem e da colocação de ponto eletrônico adaptado ao ouvido
do profissional, a interação entrevistador-criança, que ocorre em ambiente reservado, é
transmitida, em tempo real, para a sala de audiências, onde estão presentes o Juiz de Direito, o
Promotor de Justiça, além dos advogados das partes e do suposto agressor (que pode ser
retirado da sala de audiências se assim a criança quiser). Nos moldes de uma audiência, essa
criança é ouvida pelo profissional que realiza perguntas transmitidas pelo juiz.
Simultaneamente, a gravação de audio e vídeo é feita em DVD e anexada aos autos do
processo judicial.
A participação da Des. Dias na Jornada Psicanalítica sobre incesto, promovida pela
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo em abril de 2006, esclareceu mais alguns
pontos: a audiência realizada nesses moldes não eximiria os psicólogos do tribunal de
entrevistar a criança e seus familiares, contudo, serviria para eliminar àquelas realizadas nos
Conselhos Tutelares e nas delegacias não especializadas, como afirmou anteriormente em
publicação no boletim do IBDFAM: “De todo descabido que crianças e adolescentes
continuem sendo inquiridos pelos conselheiros tutelares ou policiais. Seu depoimento deve ser
colhido por pessoa especializada” (DIAS, 2005, p.11). A Desembargadora defendeu que, por
não haver competência, tanto dos conselheiros, quanto dos policiais para o manejo de
entrevistas com crianças vitimizadas, estas organizações seriam encarregadas, apenas de
notificar e encaminhar o caso ao Ministério Público ou Varas de Família ou Infância e
Juventude, a fim de que procedam com atendimentos por profissionais especilizados.
Esta metodologia, já implementada pelo Juiz de Direito José Antonio Daltoé Cezar, da
2ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, também foi defendida por Dobke (2005).
Segundo a promotora de Justiça, a pretensão é instalar essas salas em todos os Foros regionais
47 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul disponibiliza um DVD explicativo do Projeto Depoimento sem Dano, o qual nos foi oferecido pela Des.Maria Berenice Dias atendendo a nossa solicitação.
81
da Infância e Juventude, que poderão ser utilizadas por juízes que necessitem ouvir uma
criança vítima de violência.
Segundo Dias (2005), o propósito do projeto “Depoimento sem Dano” é colher o
depoimento da criança por profissional especializado, uma única vez. “As perguntas são
transmitidas por meio de escuta. A vítima é ouvida uma única vez e a gravação do
depoimento acompanha o processo, o que evita que ela seja reinquirida. Este belo exemplo é
fácil de ser adotado” (p.11).
Verificamos, portanto, que a gravação em vídeo e o uso dessas salas são considerados
como parte do enquadre, configurando-se em um novo método de investigação de denúncias
de abuso sexual contra criança, com especial relevância para o testemunho desta em sua
condição de vítima deste tipo de violência.
Segundo Barbosa, Braitenbach, Freire, e Faria (2003), é pelo crescente
reconhecimento e avanço dos estudos em Psicologia, que o depoimento infantil vem
ganhando notoriedade no âmbito jurídico.
“Decerto que não se espera que uma criança deponha com a objetividade de um adulto, porém, que o seu depoimento seja levado em conta, justamente pela sua sutileza e pelos signos indissolúveis do seu discurso infantil. A Psicologia Infantil tem suas ferramentas para revelar, através do depoimento da criança, o abuso sexual sofrido e decifrar as conseqüências traumáticas desse ato” (p.72).
De acordo com os autores, a valoração da palavra da criança, em circunstâncias em
que se pretende investigar uma denúncia de abuso sexual, por vezes com implicações na
esfera criminal, está sendo amparada pela jurisprudência, a partir da compreensão de que o
abuso sexual contra a criança pode não deixar evidências físicas. Tal compreensão pode ser
exemplificada por jurisprudência proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
ao definir que: “Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade,
sem testemunhas, portanto deve ser acatado o depoimento da vítima menor, se harmônico
com as demais provas dos autos” (TJMT – Protocolo 15622-2001).
Assim, nos casos de abuso sexual contra a criança, cuja materialidade e/ou autoria é
fato raro, a palavra da vítima ou da “infância em perigo” (DONZELOT, 1986, p.92), vem
adquirindo status de matéria probatória na processualística civil e penal, a despeito das
reservas impostas por fatores pertinentes à condição especial de pessoa em desenvolvimento.
Não obstante, Barbosa e col. (2003) declaram que o empenho pela equipe
multidisciplinar do CEDECA/BA tem por finalidade sustentar a palavra da criança por meio
82
do trabalho de profissionais de Psicologia, Serviço Social e Direito, a fim de que a criança
possa “revelar a verdade real dos fatos” (p.72) e, acrescentam: “A força do depoimento da
vítima é tamanha que a palavra de crianças e adolescentes vem sendo considerada como
imprescindível e supera, muitas vezes, outros tipos de prova” (p.122).
Neste momento, cabe esclarecer o que a autora declara como “a verdade real dos
fatos” e sua relação com a prova. De acordo com o Princípio da Verdade Real ou Princípio da
Livre Investigação das Provas – um dos princípios gerais do Direito Processual Penal –
importa a descoberta da realidade ou da verdade dos fatos. Para tanto, vigora a regra da
liberdade de provas, o que significa que, a despeito de algumas exceções, todos os meios
probatórios são válidos para comprovar a verdade real. Contudo, Nucci (2003) explica que a
moderna processualística tem admitido que, ao juiz, só é dado saber a verdade processual.
Nesse sentido, não obstante o princípio da verdade real seja adotado, sua busca gera
expectativas, por vezes, inatingíveis, a começar pelo conceito de verdade, até a extração, nos
autos, do fiel retrato da realidade.
Diante do exposto, cabem as indagações: é possível a palavra de uma criança ser
representante da verdade objetiva, o suficiente para superar, no processo, a relevância de
outras provas? Poderia o juiz assegurar ter alcançado a verdade que corresponde aos fatos
acontecidos no plano real, exclusivamente, pela palavra da criança? Caberia aos psicólogos a
aferição de dados reais ou fatos objetivos?
No caso em questão, o depoimento da criança e/ou o laudo surgem como uma das
provas admissíveis nos processos judiciais – resultado do processo de entrevistas e avaliações
realizadas por especialistas (em Psicologia, Serviço Social, etc.). No entanto, tais provas são
resultado da concepção, cada vez mais difundida pelos psicólogos, de que são capacitados
para traduzir, decodificar, preencher as lacunas e os não-ditos de crianças supostamente
abusadas, uma prática que insere a criança nesse papel de protagonista nas ações judiciais.
Portanto, de um modo geral, o assunto tem gerado debates em alguns Conselhos
Regionais de Psicologia48 acerca do papel a ser desempenhado pelos psicólogos na obtenção
do testemunho infantil, suas técnicas e instrumentos. Um dos principais objetivos desses
debates é verificar, acima de tudo, se os critérios de dignidade e de integridade humana estão
sendo respeitados, especialmente, no que tange à preservação da imagem da criança
48 O CRP/RJ tem promovido, no ano corrente (2006), encontros bimestrais (sempre as quartas-feiras), para todos os psicólogos, organizados pela Comissão de Orientação e Ética (COE), denominado “QUART’ÉTICAS”. O CRP/RS também tem se organizado nesse mesmo sentido.
83
entrevistada, à garantia do sigilo profissional e à autonomia do psicólogo no exercício de sua
profissão.
A partir desse entendimento, parece-nos inevitável questionar qual o propósito do uso
de instrumentos e métodos que, ainda, permanecem como técnicas não padronizadas,
cientificamente inconsistentes, cujo provimento de subsídios para avaliações de denúncia de
abuso sexual é objeto de contestação para uma grande parcela de investigadores.
Além dos bonecos anatômicos, outros instrumentos como fantoches e, principalmente,
o desenho livre, são adotados como técnicas para revelação (KENDALL-TACKETT&
WATSON, 1992). Contudo, tais técnicas não possuem respaldo científico para validar
denúncias ou diagnosticar abuso sexual contra a criança (CAMPBELL, 1998; WAKEFIELD
& UNDERWAGER, 1995).
Nos dizeres de Arzeno (1995, p.85):
“Como catedráticos de Técnicas Projetivas da Universidade de Buenos Aires tivemos que trabalhar ardorosamente para neutralizar um certo furor que estimulava a criação de técnicas sem a devida validação, com o conseqüente risco de diagnósticos errados. Atualmente chegamos a demonstrar que é imprescindível que um teste seja submetido a provas de validade e confiabilidade antes de ser lançado para fins diagnósticos”.
No que diz respeito às interpretações de testes projetivos baseados em desenhos,
Campbell (1998) afirma que estas são, substancialmente, influenciadas pela expectativa
preexistente de psicólogos avaliadores. Segundo o autor, não há dados disponíveis indicando
que dois ou mais psicólogos, analisando o mesmo desenho, concordem com a interpretação
sobre os indicativos de abuso sexual. Como resultado, adverte que o uso de desenhos em
alegações de abuso sexual é contra-indicado e que os psicólogos que fazem uso de desenhos
para interpretar a ocorrência de abuso sexual, realizam conjecturas irresponsáveis.
Diante do exposto, fica evidente que a entrevista de revelação, com uso de bonecos
anatômicos e/ou desenhos, permanece como objeto de análise e críticas quanto à sua
cientificidade e aplicabilidade, configurando-se em um tema controverso, com propensão para
suscitar uma diversidade de opiniões a seu respeito. Dos autores estudados, verificamos que a
maior preocupação se concentra sobre o entendimento de que há uma natureza indutiva nesse
processo, cujo objetivo é a admissão pela criança de sua condição de vítima de abuso.
Concluímos, assim, que não existe um grau de credibilidade absoluta para o testemunho da
criança, atravessado pelo discurso e interpretação dos psicólogos movidos pelo clamor da
proteção à criança. A entrevista de revelação, nesse enquadre, pode se tornar mais um
84
instrumento de violência, quando a criança, que não foi abusada (como aquela que foi
abusada) é, insistentemente, inquirida por profissionais que, em busca de respostas que
corroborem o abuso, visam cumprir com sua missão de salvar as crianças.
Assim, mesmo quando a ausência de revelação da violência persiste, a expectativa se
mantém, justificada pela resistência ou medo da criança em revelar o drama familiar. Em
alguns casos, a diferença entre suspeita infundada e resistência da criança não parece ser
considerada, vigorando a idéia de que toda suspeita é verdadeira, mesmo quando é pouco
consubstanciada e, portanto, bastante frágil.
Contudo, a inadmissibilidade científica e a refutabilidade como indicador ou matéria
probatória para abuso sexual não foram suficientes para que as entrevistas de revelação
fossem reformuladas. Notamos que a entrevista de revelação, com o uso de bonecos
anatômicos, está legalizada em alguns poucos estados norte-americanos49 e difundiu-se para
outros países, como Argentina, Austrália e Brasil, por exemplo.
No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia – “uma autarquia de direito público, com
o objetivo de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão de psicólogo, zelar pela fiel
observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como
ciência e profissão” (CFP, http://www.pol.org.br/sistema/sis_historico.cfm) – dispõe de
meios legais e regimentais para deliberar, sancionar ou vetar matérias relativas ao exercício da
profissão.
No que concerne ao tema em análise, o Código de Ética, Resolução CFP Nº 010/2005,
Art. 1º, alínea c, declara, como deveres fundamentais do Psicólogo: “Prestar serviços
psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses
serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na
ciência psicológica, na ética e na legislação profissional”50.
No caso de haver uma determinada técnica que não seja reconhecida pela legislação, o
próprio Código de Ética, item IV, fornece um estímulo para que o psicólogo possa contribuir
– com responsabilidade – “para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de
conhecimento e de prática com o desenvolvimento”. Assim, considerando os critérios
necessários, é possível, ao psicólogo, submeter esta técnica a estudos e análises quanto à sua
cientificidade e aplicabilidade.
49 Alabama, Connecticut, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico (Estado Livre Associado), West Virginia, Wyoming. 50 O Art. 1º, alínea c, relativo à Resolução CFP Nº 002/87 que vigorava até agosto de 2005, é similar ao atual.
85
Para isso, o psicólogo dispõe da Resolução CFP N.º 002/2003, que define e
regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos e reconhece ad
necessitarem:
“aprimorar os instrumentos e procedimentos técnicos de trabalho dos psicólogos e de revisão periódica das condições dos métodos e técnicas utilizados na avaliação psicológica, com o objetivo de garantir serviços com qualidade técnica e ética à população usuária desses serviços (...) construir um sistema contínuo de avaliação dos testes psicológicos, adequado à dinâmica da comunidade científica e profissional, que vem disponibilizando com freqüência novos instrumentos dessa natureza aos psicólogos”.
A despeito de os bonecos anatômicos não serem um teste psicológico e, portanto, não
estarem restritos ao psicólogo, trata-se de uma técnica que vem sendo, progressivamente,
divulgada e ensinada para psicólogos e assistentes sociais como parte do processo de
capacitação destes profissionais para avaliação da ocorrência de abuso sexual envolvendo
crianças. Como técnica, sua aplicação por psicólogos deve observar e cumprir o que
determina a Resolução CFP N.º 002/2003, especificamente, no que se refere à importação de
métodos. O Art. 7o estabelece que, seja qual for a natureza do instrumento, este deve ser
traduzido para o português e, devidamente, adequado ao contexto nacional, a partir de
pesquisas realizadas com amostras brasileiras, “considerando a relação de contingência entre
as evidências de validade, precisão e dados normativos com o ambiente cultural onde foram
realizados os estudos para sua elaboração”.
Tendo em vista essas ponderações, podemos concluir que a técnica ou prática de
entrevista de revelação com uso de bonecos anatômicos não é reconhecida ou regulamentada
para o exercício profissional do psicólogo, conseqüentemente, sua aplicação constitui em
infração ética, prevista no Art. 16 desta mesma Resolução:
“Será considerada falta ética, conforme disposto na alínea c do Art. 1º e na alínea m do Art. 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo (m. adulterar resultados, fazer declarações falsas e dar atestado sem a devida fundamentação técnico-científica)51, a utilização de testes psicológicos que não constam na relação de testes aprovados pelo CFP, salvo os casos de pesquisa”.
Sabedores de que algumas instituições – destinadas ao atendimento de casos de
denúncia de abuso sexual contra a criança – vêm atuando sem haver, antecipadamente,
estabelecido o que determina a legislação profissional, há um movimento dos Conselhos
51 Os artigos citados se referem ao Código de Ética CFP Nº 002/87 que faz equivalência ao Art.2º, alínea “h” do novo Código de Ética, CFP Nº 010/2005.
86
Regionais de Psicologia (CRP) para se promover um maior entendimento sobre estas práticas
e atuar, não só como repressor, mas como agente social na busca de qualidade técnica e ética
dos produtos e serviços profissionais do psicólogo.
Debates sobre o uso de instrumentos não regulamentados pelo CFP têm ganhado
espaço no CRP do Rio de Janeiro desde novembro de 2005, quando conselheiros e membros
da Comissão de Orientação e Ética constataram um aumento de queixas e da abertura de
processos éticos contra psicólogos que, ao utilizarem esses métodos, elaboram laudos “falso-
positivos”, emitindo um diagnóstico equivocado para abuso sexual.
O laudo psicológico, conforme Resolução CFP N.º 007/2003 – que institui o Manual
de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação
psicológica – consiste em:
“uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo psicólogo (...) a finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição”.
O processo de avaliação psicológica é entendido como o procedimento técnico-
científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos
fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade
(Resolução CFP N.º 007/2003).
Inclui o psicodiagnóstico, definido como uma modalidade de avaliação psicológica em
que o psicólogo utiliza estratégias psicológicas – instrumentos de mediação estandardizados –
a fim de fornecer uma descrição e compreensão da personalidade do indivíduo, que induzam a
conclusões diagnósticas e prognósticas da personalidade (MIRANDA JR., 2005). Esse
processo deve, inclusive, considerar que as questões de ordem psicológica têm determinações
históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo, as mesmas, elementos constitutivos no
processo de subjetivação. O laudo psicológico, portanto, deve apreciar a natureza dinâmica,
não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo.
87
Em relação à elaboração de um laudo psicológico, a Resolução CFP Nº 007/2003
orienta que este documento esteja em conformidade com as especificações dos dispositivos do
Código de Ética Profissional do Psicólogo, com ênfase para os deveres do psicólogo nas suas
relações com a pessoa atendida, ao sigilo profissional, às relações com a justiça e ao alcance
das informações – identificando riscos e compromissos em relação à utilização das
informações presentes nos documentos em sua dimensão de relações de poder, como, por
exemplo, sua admissão como prova material a ser apreciada em processos judiciais.
Para Cunha (2000), o psicólogo, familiarizado com os fatos pertinentes à solicitação
do processo psicodiagnóstico, deve elaborar um plano de avaliação, procurando identificar
quais os recursos (técnicas e testes) que melhor permitam responder às hipóteses ou
questionamentos iniciais. Isso consiste em programar entrevistas e a administração de uma
bateria de testes adequados à demanda que seja capaz de fornecer subsídios para confirmar ou
refutar as hipóteses formuladas.
No entender de Miranda Jr. (2005, p.166), os procedimentos descritos por Cunha se
referem à organização na busca por traços e características atuais em sua relação com o
ambiente e objetos externos e internos, contudo, o autor questiona: “o que eles podem dizer a
respeito da ‘verdade’ daquele sujeito?”. Afirma, ainda, que a verdade demandada pelo
judiciário se fundamenta no discurso científico, em uma pretensa universalidade, na qual
interroga se a avaliação psicológica, como processo de intervenção, seria capaz de produzir
uma verdade sobre o indivíduo ou o grupo e se esta realidade seria fato, fenômeno ou
produção do sujeito. Em resposta, lembra que avaliação é destinada ao “sujeito psicológico”,
que entende como sendo “um conjunto de fenômenos articulados em torno de uma
identidade” (p.169). Nesta construção, Miranda Jr. (2005) ressalta que a Psicologia tem sido
chamada a concretizar o ideal de justiça, “materializado nas instituições judiciárias, e que
implica a produção de uma verdade (ou várias) a respeito do fato ou fenômeno” (p.166). Para
o autor, é possível haver uma avaliação psicológica capaz de oferecer dados para auxiliar a
compor o quadro situacional ou individual, podendo, também, usufruir de outros dados, de
variadas fontes, visando à compreensão do caso em atendimento.
Mediante esta linha de argumentação, Brito (2002a) esclarece que a Psicologia deve
dedicar-se à “reflexão crítica dos impasses e interrogantes constantemente dirigidos aos que
atuam neste âmbito” (p.7), rejeitando o papel pericial de traço Positivista, porquanto busca
“desvendar segredos ou conteúdos psíquicos” (p.7) para efetivar a aplicação das leis.
88
Anastasi (1977) já alertava sobre a problemática da produção da verdade no processo
psicodiagnóstico a partir da interpretação dos resultados. Por meio do uso de instrumentos de
cunho projetivo, os resultados poderiam ser, para o psicólogo, tão projetivos quanto os
estímulos do teste o são para o sujeito examinado, isto é, a interpretação final das respostas ao
teste projetivo pode revelar aspectos da orientação teórica, das hipóteses prediletas e das
características de personalidade do examinador em detrimento da dinâmica da personalidade
do sujeito.
A questão da confiabilidade atribuída à precisão do avaliador em relação ao resultado
dos testes, às interpretações e aos laudos é questionada por Rauter (1989). Mediante essas
considerações, a autora fornece duas formas de compreender os resultados advindos de
avaliações expostas na forma de laudos psicológicos:
“ou de fato eles se constituem numa avaliação científica e, como tal, confiável, acerca de personalidade de alguém, ou se está diante de uma perigosa fonte de arbitrariedade. Através de um laudo psicológico, por exemplo, emite-se uma opinião ou julgamento que escapa ao controle do próprio examinador, ou de alguém não-versado nos mesmos conhecimentos. Além disso, por tratar-se de procedimento normalmente reconhecido como científico, aceita-se sem muita discussão que ele cumpra realmente o que a Justiça espera dele: fornecer uma espécie de retrato fiel daquilo que se passa no interior do indivíduo, seus desejos, tendências... De posse desta espécie de ‘radiografia’... a Justiça poderia, enfim, ter o respaldo seguro de uma ciência” (RAUTER, 1989, p.10).
Partindo da compreensão da autora, ao invés de os instrumentos utilizados para
avaliação psicológica se comportarem com neutralidade, constituem-se, por vezes, em formas
de reproduzir os estereótipos e preconceitos que perpassam a concepção dos profissionais
acerca da violência sexual contra a criança.
Nesse contexto, Furniss (2002, p.167) alerta para o que denomina de “crise dos
profissionais”. A despeito de todos os cuidados observados pelos psicólogos e demais
profissionais, haveria uma tendência do profissional a simpatizar pelas crianças,
imediatamente após a denúncia de abuso sexual pelas mães. Para o autor, uma ação prematura
destes profissionais geraria duas possíveis conseqüências: uma acusação de abuso sexual sem
fundamentação adequada ou sem determinar seu valor factual, provocando um processo
investigativo precário e a “prevenção de crime promotora-de-crime” (p.191); ou uma
acusação infundada de abuso sexual, seja pela leitura equivocada dos sinais da criança, seja
pela falsidade da denúncia declarada pelo responsável (geralmente, a mãe).
Furniss (2002) sugere que alguns profissionais, ao agir de forma precipitada, possam
estar identificados com a criança vítima de abuso sexual. Na visão do autor, essa
89
identificação, possivelmente resultante de uma experiência pessoal de abuso sexual na
infância, pode explicar a motivação que impele o profissional ou à acusação veemente do
suposto abusador ou à total paralisação e incapacidade para gerir o problema, comprometendo
a abordagem terapêutica, além de influenciar o trabalho de outros profissionais (p. 243).
O autor recomenda, portanto, que todo profissional de saúde adote, a priori,
entrevistas com o acusado e com os familiares da criança, para, somente após, seguir com a
notificação que vise à responsabilização do suposto abusador. Desta forma, evita-se que a
denúncia – por princípio, uma “arma contra a violência” (SILVA, 2002, p.78) – torne-se uma
arma na inculpação de inocentes, incorrendo na exposição prematura e prejudicial da criança
e seus familiares.
Entretanto, observamos que circula, tautologicamente, entre os profissionais de saúde
e operadores do Direito, uma lógica interna de acusação que transmite a seguinte proposição:
se à mãe, naturalmente predisposta a cuidar da criança, cabe a verdade em relação à denúncia
de abuso sexual, logo, ao pai, que nega a autoria deste abuso, resta a mentira. A conseqüência
mais provável dessa lógica, fundamentada em paradigmas52 ou “versões canônicas”, usando a
expressão de Cárdenas (2000, p.1), é que o profissional se antecipe às evidências e se
abstenha do compromisso de ouvir o pai acusado (ou de ouví-lo sem tendenciosidade), em um
desrespeito aos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos
quais extraímos:
Art. 1 Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Art. 2 I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta
Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição.
Art. 6 Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a
lei.
Art. 7 Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei.
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
52 Segundo Kuhn (1975), paradigma é uma teoria ampliada pormada por leis, conceitos, modelos, analogias, valores, regras para avaliação de teorias. Kuhn, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1975.
90
Art. 11 I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.
Art. 12 Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua
correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Quando o psicólogo ou a instituição se exime de atender ao suposto abusador,
promove o cerceamento da palavra deste pai acusado, evitando, por conseguinte, a dúvida:
deixa-se de questionar a verdade dos fatos e legitima-se a palavra da criança (e da mãe) como
a única possível. Dessa forma, perguntas como: estará o pai acusado, mas que declara
inocência, dizendo a verdade?; estará a criança mentindo ou sendo instruída pela mãe?;
estará esta mãe mentindo e acusando o pai para afastá-lo de seu filho? – ficarão sem
respostas.
Novamente, o psicólogo não deve assumir a posição daquele que sabe. Para as autoras
Arzeno (1995) e Yehia (2002), esta postura traduz uma onipotência que compromete a
seriedade do trabalho do profissional.
É insustentável pensar que, diante de tantas mudanças no campo social, cultural,
político (etc.), o psicólogo, ainda, se veja como o detentor do poder-saber capaz de excluir a
presença do pai do processo de avaliação de abuso sexual, mesmo (e primordialmente)
quando ele próprio é o principal acusado.
Na opinião das autoras, os conhecimentos teóricos, técnicos e os da própria
experiência de trabalho ou de vida jamais substituem a história das pessoas envolvidas, sendo
“apenas um outro ponto de vista” (YEHIA, 2002, p.119).
Arzeno (1995, p.13) destaca, ainda, que “o contexto sociocultural e familiar deve
ocupar um lugar importante no estudo da personalidade de um indivíduo, já que é de onde ele
provém”, de modo que, as conclusões alcançadas pelo psicólogo, em seu processo de
avaliação da criança, devem ser adaptadas a uma moldura socioeconômica e cultural, assim
como a uma história pessoal e familiar. Para tanto, o que a autora propõe é a realização de
uma entrevista familiar diagnóstica em algum momento do processo de avaliação da criança,
em que serão ouvidos todos os principais integrantes de sua família, abrindo um leque de
histórias e versões para o mesmo fato.
91
Na concepção da autora, da qual compartilhamos, consideramos a vida de crianças e
seus familiares um verdadeiro desafio para o profissional, de modo que, se o psicólogo não
souber reconhecer os seu limites e aqueles que toda ciência possui, poderá precipitar-se em
afirmações tão onipotentes quanto equivocadas. Uma tarefa complexa, tanto quanto
instigante, seja porque se trata de um trabalho com um alto risco de se cometer erros,
concomitantemente, com um alto grau de responsabilidade profissional.
92
1.7 Estudos de incidência: versões plurais da violência sexual
Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.
Saint-Exupéry
Atualmente, podemos constatar que, apesar da crescente discussão e interesse
acadêmico por parte de agentes sociais, profissionais de saúde e pesquisadores em relação à
análise epidemiológica da violência sexual contra a criança, há poucos trabalhos
desenvolvidos que “buscam compreender a dinâmica e a gênese dessa modalidade de
violência e desenhar as particularidades de sua manifestação no Brasil” (GONÇALVES,
2003, p.188-189).
Conforme apresenta Eva Faleiros (1998, p.5),
“É notória a falta de precisão e clareza entre pesquisadores e profissionais na definição de conceitos e indicadores de violência sexual, que se reflete nos bancos de dados e nas ações desenvolvidas”.
Nesse sentido, é possível encontrar uma série de problemas metodológicos na
elaboração dos estudos de incidência da violência sexual contra a criança já elaborados no
Brasil, derivados de situações que são apontadas a seguir:
1. Imprecisão ou ausência de citação do referencial teórico adotado referente ao
fenômeno a ser analisado:
“Estatísticas de abuso sexual e negligência infantil podem ser mal interpretadas por conta de dois tipos de problemas: confusão em relação às definições usadas para abuso sexual e desconhecimento acerca dos métodos de notificação. Diferenças de definição podem gerar impacto considerável nas taxas divulgadas” (TROCMÉ, MACLAURIN, FALLON, DACIUK, BILLINGSLEY, TOURIGNY, MAYER, WRIGHT, BARTER, BURFORD, HORNICK, SULLIVAN & MCKENZIE, 2001, p.3)53.
Como viemos discutindo ao longo desse trabalho, por se tratar de um objeto
sociohistórico, a definição de violência contra a criança tende a variar conforme as práticas
profissionais e valores socioculturais. Na ausência da citação do referencial teórico
empregado nos estudos, a capacidade de interpretação dos dados fica sujeita a erros e
deturpação.
53 Tradução livre.
93
Na percepção do National Research Council (1993), essa multiplicidade de conceitos
tende a dificultar o desenvolvimento de estudos estatísticos que procuram generalizar os
resultados obtidos. Contudo, a partir de nossas considerações, entendemos que a
multiplicidade de conceitos é intrínseca ao fenômeno, o que não o impede de ser examinado
pelas funções da Estatística. Como ciência experimental e observacional, a Estatística não se
restringe a coletar grandes quantidades de informações numéricas a fim de generalizar os
resultados, mas, fundamentalmente, de “tratar de idéias e métodos que visam a aperfeiçoar a
obtenção de conclusões a partir de informações numéricas, na presença da incerteza”
(NOETHER, 1983, p.1).
Assim, podemos concluir que é plausível, ao pesquisador, analisar, estatisticamente, os
fenômenos da natureza e da sociedade (como o abuso sexual), interpretando suas observações
e experiências segundo seus objetivos, mantendo a relevância científica.
2. Inconsistência da classificação da violência em categorias ou tipos devido à falta de
capacitação do profissional responsável pelo registro:
Assim como não há consenso sobre o conceito de violência, também não estão
definidos os critérios que categorizam sua subdivisão. Apesar de a maioria dos autores
estudados adotar quatro tipos básicos de violência – física, sexual, psicológica e negligência –
há outras variações identificadas na literatura, como: violência moral; emocional; exploração
sexual, ou, simplesmente, a categoria outros, que surge, por vezes, sem a descrição sobre o
que esta representa, permitindo-nos concluir que existe a interferência do profissional
envolvido na notificação, determinando, a partir de seu referencial, como a categorização do
fenômeno será estabelecida.
3. Classe social:
Apesar da controvérsia sobre a definição de violência doméstica, o fenômeno é
considerado presente em todas as classes sociais indistintamente. O que difere é a sua
visibilidade: as classes baixas recorrem às estruturas públicas de saúde e ensino, instituições,
mormente empregadas na contabilidade de dados para o levantamento estatístico da violência
contra a criança. A contratio sensu, as classes média e alta contam com mecanismos que lhes
garantem o sigilo (GOMES, DESLADES, VEIGA, BHERING & SANTOS, 2002).
94
4. Idade atribuída à criança e ao adolescente:
Em relação à idade a qual se admite ser uma criança, o Art 1º da Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança (1989) considera criança todo ser humano com
menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei nacional, a
maioridade seja alcançada antes. Por sua vez, o Art. 2° do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, Lei 8.069/90), cinde a infância em duas fases, considerando criança a
pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade.
Se o Estatuto estabelece que criança é aquela que possui menos de 12 anos de idade, é
possível deduzir que o pesquisador, interessado em determinar a incidência de denúncias de
violência contra a criança no país, vá se orientar segundo esta padronização. Entretanto,
observamos que algumas pesquisas estabelecem intervalos de idade que ultrapassam a idade
limite de 12 anos. Especulamos que a explicação se baseia no Art. 22454 do Código Penal
Brasileiro (decreto-lei n° 2.848/1940) que apregoa a Presunção da Violência quando a suposta
vítima apresenta até 14 anos de idade. O diferencial estaria em privilegiar a concepção de
violência em detrimento da idade, ou, simplesmente, considerar a idade legal para o
consentimento sexual.
Contudo, a questão da idade ainda persiste, se considerarmos a relatividade cultural,
isto é, o que a Lei de cada país determina ser uma criança. Esse fator é imprescindível para o
pesquisador que intenciona estabelecer uma investigação transcultural sobre o fenômeno da
violência contra a criança, assim como o entendimento do que é abuso sexual, como ele é
reconhecido e registrado em cada país. Resumidamente, os estudos comparativos entre países
devem ser tratados com precaução, considerando as diferentes definições e a metodologia de
estudo empregadas.
5. Precariedade das informações no processo de notificação que, por sua vez, é a fonte
primária de dados para levantamentos estatísticos:
No Brasil, as estatísticas sobre a incidência de notificações de violência sexual contra
a criança são oriundas de levantamentos de dados realizados por serviços isolados, seja por
núcleos de atendimento públicos ou privados, seja por entidades não governamentais. Cada
serviço é orientado por um conceito de violência e metodologia de pesquisa próprios, o que
54 Presume-se a violência, se a vítima: a) não é maior de 14 anos; b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
95
dificulta a elaboração de um banco de dados unificado, porém não inviabiliza o
desenvolvimento de um sistema integrado e informatizado de notificação, capaz de agilizar o
processo de investigação e atendimento de crianças e seus familiares. Para tanto, haveria
necessidade de se estabelecer um padrão de identificação do fenômeno a ser analisado – um
conceito de violência sexual contra crianças – preferencialmente, tipificado na Legislação55,
que pudesse, pois, ser utilizado, de modo uniforme, pelos estudos de incidência, sem que
gerasse prejuízo ao caráter sociohistórico do fenômeno56.
Apesar de haver uma falta de unificação, Minayo (1994) acredita que os dados
disponíveis são suficientes para inferir hipóteses acerca da manifestação da violência sexual
contra a criança no Brasil e avançar nas conclusões, estabelecendo ações de assistência e
prevenção.
6. Discrepância entre revelação, notificação, denúncia e acusação de ocorrência de
violência sexual:
Revelação, notificação, denúncia e acusação são procedimentos que compõem as
etapas dos caminhos da denúncia, como havíamos, anteriormente, discutido, por onde transita
a revelação do abuso sexual até que esta se torne em condenação ou absolvição do acusado.
As estatísticas baseadas nas diferentes etapas dos caminhos da denúncia, necessariamente,
exibirão resultados discrepantes, por apresentarem uma redução percentual à medida em que
há uma perda entre o universo das notificações e o número de casos confirmados
oficialmente.
É importante destacar que os estudos de incidência existentes no Brasil apresentam
dados de casos notificados às autoridades competentes, contudo, durante todo o percurso
dessa pesquisa, encontramos, apenas, um estudo, desenvolvido por Habigzang e cols. (2005),
acerca da análise de documentos em processos de denúncia de abuso sexual ajuizados pela
Promotorias Especializadas da Infância e Juventude de Porto Alegre, no período de 1992 a
1998, que menciona a incidência de casos confirmados de abuso sexual em contraste com o
total notificado. Na análise das autoras, houve um total de 28% de denúncias não
confirmadas.
55 Proposta de mudança do Código Penal para abrigar conceitos de abuso sexual. 56 Como explicado no número 1.
96
De modo semelhante, o Canadian Incidence Study (CIS) estima que, de maneira geral,
apenas 45% dos casos investigados serão confirmados, enquanto 22% serão considerados
suspeitos ou indeterminados (sem evidências suficientes para comprovar ou refutar a
ocorrência do abuso) e 33% não se confirmarão por apresentar evidências suficientes para
concluir que a criança não foi abusada (TROCMÉ et al., 2001).
Consideramos que a carência desse tipo de estudo deve-se à necessidade de se fazer
um acompanhamento dos casos notificados a médio e longo prazos, até o processo ser julgado
pelo Ministério Público ou pela Vara Criminal.
7. Duplicação do registro de notificações de uma mesma ocorrência:
A duplicação de notificação ocorre quando se calcula o número de registros dessas ao
invés do número de denúncias efetivadas pelo MP de abuso sexual. Isso permite que o mesmo
fato seja registrado várias vezes por haver sido notificado, por exemplo, por diferentes
pessoas, diferentes instituições ou por episódios distintos de violência.
Notificações por telefone são a que estão mais sujeitas à duplicação. Para evitar o
problema, os estudos de incidência poderiam criar um sistema de registro baseado no número
de processos de investigação de abuso sexual contra a criança, mesmo que, ainda possa conter
acusações infundadas.
Nos Estados Unidos, English, Marschall, Brummel e Orme (1999) indicaram que o
índice de casos duplicados nos estudos de incidência chega a 16%, um valor,
consideravelmente, alto, capaz de gerar um viés de interpretação, o que compromete, em
muito, a análise dos dados.
Por outro lado, a duplicação da notificação pode significar a existência de uma rede
social que está atenta e disposta a denunciar.
8. Falsas denúncias:
Toda denúncia de abuso sexual contra criança é considerada, a priori, verdadeira, mas
que deve ser aquiescida com prudência, a partir de uma postura crítica e imparcial.
Como pudemos observar no fluxograma elaborado (Figura 1.5.1), nem todas as
denúncias de violência sexual são confirmadas, dada a falta de evidências que as corroborem.
Há uma variedade de razões que justificam esse resultado, contudo, a mais grave é quando
ocorre uma falsa denúncia de abuso sexual. Uma falsa denúncia de abuso sexual só pode ser
97
assim caracterizada a posteriori, ao término das investigações, quando as informações do
processo eximem o suposto agressor das acusações. Há casos em que, apesar da falsidade da
denúncia, indivíduos são considerados culpados ou suspeitos, havendo que apelar para novos
julgamentos.
Pesquisadores norte-americanos têm discutido o tema das falsas denúncias de abuso
sexual na última década, sem conseguir chegar a um consenso quanto aos números que
representam esta realidade. De acordo com Thoennes e Tjaden (1990), no maior e mais
representativo estudo que versa sobre o problema já apresentado naquele país, foram
efetuadas 129 alegações de abuso sexual em 169 casos de diputa de guarda a partir do
montante de 9 mil processos de separação conjugal tramitando em 12 juridições, no período
de 06 meses. Desse total de 129 alegações de abuso sexual, 33% eram falsas e 17%
inconclusivas.
Em uma das mais conceituadas pesquisas do gênero implementada no Canadá
(representada no fluxograma da Figura 1.7.1), Bala e Schuman (2000) revisaram as decisões
judiciais em 196 casos de denúncia de abuso sexual e violência física contra a criança no
contexto da separação feitas no período de 1990 a 1998. Os casos apontavam para um total de
262 crianças, supostamente, vítimas de maus-tratos, distribuídas em 33% na faixa etária
inferior aos 5 anos de idade, 46% entre 5 e 9 anos e 21% acima de 10 anos ou não
especificaram. Cerca de 71% das alegações partiram da mãe (64% guardiã e 6% não-
guardiãs). A pesquisa mostrou que 74% das acusações, nos casos de disputa pela guarda dos
filhos, eram por abuso sexual, sendo que destas, 76% foram consideradas falsas ou
inconclusivas. Constataram, também, que um terço destas acusações foram, deliberadamente,
inventadas pelas mães em litígio.
Apesar de os autores alertarem para a pouca representatividade do estudo, cujas
alegações de abuso sexual são feitas por pais separados, os mesmos acreditam ter podido
contribuir no entendimento de como os casos de falsa denúncia se comportam nessas famílias
em litígio.
98
Figura 1.7.1 – Denúncias de abuso sexual no contexto de separação conjugal (elaborado a partir dos dados apresentados por Bala & Schuman, 2000)
Em relação às denúncias não confirmadas de maus-tratos contra crianças, outro estudo,
também desenvolvido no Canadá pelo Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse
and Neglect (CIS – 1998, TROCMÉ et al., 2001), analisou as peculiaridades dessas denúncias
em relação ao agressor acusado e ao tipo de violência alegada. Conforme disposto no Quadro
1.7.1 elaborado a partir dados de Trocmé et al. (2001), podemos constatar que o pai, apesar de
ser o principal acusado de praticar violência sexual contra criança, tais denúncias não
puderam ser confirmadas em 60% dos casos. Vale destacar que mães e padrastos, também,
foram alvo de denúncias de abuso sexual que não se confirmaram.
Quadro 1.7.1 – Denúncias não confirmadas de maus-tratos segundo o agressor
(elaborado a partir dos dados apresentado pelo CIS – 1998).
Investigação de Maus Tratos
0%10%20%30%40%50%60%70%
mãe pai padrasto madrasta parentesacusados
Den
únci
as n
ão
conf
irmad
as
físicasexualnegligênciapsicológica
Fonte: Trocmé et al. (2001).
Denúncias de maus-tratos de crianças - N=262
Abuso Sexual - 196
Falsas Denúncias - 89 Inconclusivas - 61Confirmadas - 46
0-4 anos - 87
5-9 anos - 120
+10 anos - 55
99
No Brasil, com a falta de estudos estatísticos que revelem o panorama nacional da
violência contra a criança, não há base segura para se estimar que parcela de denúncias de
abuso sexual contra a criança corresponde a falsas alegações.
9. Estudos de estimativa populacional:
Stevenson (1981) explica que todo estudo, que pretende utilizar dados amostrais de
um fenômeno a fim de estimar como este se comporta na população em geral (desconhecida),
deve apresentar um intervalo de confiança com um risco conhecido de erro. Em estudos sobre
incidência de denúncias de abuso sexual contra a criança, o autor esclarece que há duas
possibilidades básicas para se apresentar os dados obtidos: por análise restrita à amostra ou
pela estimativa populacional por meio da amostra, estatisticamente, significativa.
Se considerarmos a primeira opção, a análise estatística servirá como um instrumento
de interpretação restrita aos dados amostrais, conseqüentemente, à população analisada. Na
segunda opção, para que o pesquisador possa trabalhar com estimativas populacionais e,
conseqüentemente, generalizar os resultados obtidos, deve utilizar padrões comuns para a
população, além de cuidar para que a amostra apresente:
Distribuição de acordo com variáveis determinadas no experimento – espera-se que a
amostra apresente dados abrangentes, que represente o território ocupado pela população
de forma proporcional;
Significância – quanto maior a população analisada, maior deverá ser a amostra para se
fazer inferências;
Intervalo de confiança e desvio-padrão (margem de erro) – que devem ser informados no
corpus da pesquisa.
Essa forma de trabalhar os dados, forçosamente, exige que o pesquisador os interprete,
observando as variáveis e os conceitos adotados. Assim, as interpretações serão válidas
quando respeitados os critérios estabelecidos pelo pesquisador. Nessa circunstância, os
estudos de incidência podem adotar, por exemplo, o conceito de violência sexual como
objeto sociohistórico, desde que consideradas as variáveis sociais e culturais daquela
localidade em particular.
No Brasil não existe estimativa numérica para ocorrência de abuso sexual contra a
criança. O que detectamos são alguns poucos dados estatísticos baseados em análises
amostrais que permitem, ao pesquisador, apenas se reportar aos resultados da amostra.
100
Um dos maiores organizadores de dados sobre notificações de abuso sexual infantil é a
Associação Brasileira de Proteção à Infância (ABRAPIA), uma organização não
governamental com sede no Rio de Janeiro que, no período de 1991 a março de 1993,
realizou 3.981 atendimentos de crianças vitimizadas no Rio de Janeiro.
Na vigência de um convênio com o Governo Federal, a instituição implementou o
Sistema Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil em 1997 – pelo telefone
0800-99-0500 – recebendo notificações sobre exploração sexual de crianças oriundas de todo
o país. A partir de 2000, o Programa se expandiu para também receber notificações de abuso
sexual, passando a ser denominar Sistema Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual Infanto-Juvenil, computando 1.545 notificações de abuso sexual no período de janeiro
de 2000 a janeiro de 2003, quando o serviço foi encerrado pelo Governo Federal, que não
renovou o convênio, alegando corte de verbas na Secretaria Especial de Direitos Humanos e
interesse em transferir o serviço para o sistema Disque-Denúncia, a fim de receber ligações
com notificações de todas formas de violação dos Direitos Humanos (ANDI, 2003).
Segundo o relatório da ABRAPIA de 2000-2003, o Brasil registrou 1.545 notificações
de abuso sexual em todo o território nacional57, sendo, deste total:
795 ou 52% de casos na região Sudeste; 28,9% concentrados no Rio de Janeiro;
76% contra meninas; 90% abusadores eram homens;
54,5% dos casos ocorriam dentro do lar;
42% eram os pais biológicos e 16,92 % eram padrastos.
Quadro 1.7.2 – Notificações de abuso sexual por região da Federação (extraído da ABRAPIA, 2000-2003)
6%24%
7%52%
11% CO
NE
N
SE
S
Fonte: http//www.abrapia.org.br
Substituindo a ABRAPIA na captação de notificações sobre violência contra a criança,
o Disque-denúncia foi estabelecido como um serviço que atua em parceria com a Secretaria
57 O número de duplicação de registro de notificações é desconhecido.
101
de Estado de Segurança Pública, em 15 cidades do país, disponibilizando o telefone 0800-99-
0500 à população que pretenda denunciar crimes contra os Direitos Humanos, contribuindo
para aumentar a eficácia da polícia e do sistema de justiça criminal. Os números
impressionam: em um ano de operação (2003-2004) o quadro geral de notificações de
violência contra a criança no Brasil, pela Central Disque-denúncia, foi de 5.647 notificações,
sendo as cidades de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro àquelas com maior número de
casos.
Outros dois grandes serviços de notificação e atendimento de casos de violência contra
crianças e adolescente no país são o Centro Regional de Atenção aos Maus-tratos na Infância
(CRAMI) e o Programa Sentinela. O CRAMI estende seu trabalho aos municípios do Grande
ABCD Paulista, recebendo notificações de violência doméstica praticada contra crianças e
adolescentes por pais/responsáveis ou parentes. Em pouco mais de uma década de trabalho
(1992 ao início de 2004), a entidade registrou um acréscimo, em números absolutos, de
notificações dirigidas à entidade. A análise dos dados sugere que o aumento pode ser
entendido como resultado de eventos destinados à divulgação, esclarecimento e mobilização
social – semelhantes ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes e à campanha Esquecer é permitir – Lembrar é combater, visando à utilização
do serviço Disque-denúncia ou ao encaminhamento dos casos ao Ministério Público ou
Conselhos Tutelares dos Municípios – e não, simplesmente, como conseqüência do
crescimento da violência per se. Assim, essas campanhas são responsáveis, via de regra, pela
progressiva conscientização da população local para a necessidade da notificação, refletindo,
proporcionalmente, na apreciação estatística.
Quadro 1.7.3 – Evolução das notificações de violência contra criança (elaborado a partir dos dados apresentado pelo CRAMI-ABCD, 1992-2004)
0
300
600
900
1200
92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004
ano
Fonte: http://www.crami.org.br/estatisticas.asp
102
No que tange à análise da violência contra a criança classificada em tipos, o CRAMI
determinou cinco categorias, a saber: violência física, violência sexual, negligência, violência
psicológica e outros. Esta última foi abdicada a partir de 1997, o que sugere o emprego de
uma metodologia de trabalho melhor definida, gerando, por conseguinte, nova distribuição
das notificações e um acréscimo nas demais categorias. Contudo, esse aumento pela
transposição de dados não justifica o notável crescimento de notificações de violência física.
As demais categorias também foram acrescidas em números absolutos de notificações,
especialmente a negligência, que apresentou um pico em 1999. Com o transcorrer dos anos,
todas apresentaram uma tendência a se estabilizar em determinados patamares numéricos,
apresentando pouca oscilação, permitindo-nos considerar dois aspectos de interesse:
Há uma prevalência da violência física sobre as demais;
Há uma tendência para um crescimento linear das notificações de violência sexual
(considerar os dados de 2004 como incompletos).
Quadro 1.7.4 – Notificações por tipo de violência
(elaborado a partir dos dados apresentados pelo CRAMI-ABCD, 1992-2004)
0
100
200
300
400
500
600
92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004
anos
física
sexual
negligência
psicológica
outros
Linear(sexual)
Fonte: http://www.crami.org.br/estatisticas.asp
A maioria das pesquisas no Brasil constata uma equivalência entre os números de
notificações de violência envolvendo crianças do sexo feminino e do sexo masculino, no
entanto, são poucas àquelas que estruturam os dados de forma a analisar como essas
notificações se comportam em relação ao sexo das crianças.
103
Na pesquisa implementada por Faleiros, et al. (2001), é possível apurar, por meio do
número de notificações de crimes sexuais contra crianças e adolescentes – registrado pela
Polícia Civil do Distrito Federal nos anos de 1998, 1999 e 2000 – a incidência desses crimes e
a vitimização de ambos os sexos. O Quadro 1.7.5 por nós elaborado, traz um comparativo dos
crimes sexuais registrados na polícia civil do DF, permitindo observar que, dos 347 casos
notificados em 1998, 144 pertenciam à faixa etária de 0 a 12 anos, sendo 308 meninas. No
ano de 1999, a redução de 2,8% correspondeu a 337 casos notificados, com 141 crianças de 0
a 12 anos e 296 do sexo feminino. Para 2000, houve um aumento equivalente a 16%, com 404
casos, sendo 167 crianças e 353 do sexo feminino.
Quadro 1.7.5 – Crimes sexuais contra crianças registrados na polícia civil DF
(elaborado a partir dos dados apresentados por Faleiros, et al., 2001)
Crimessexuais
0 a 12anos
M F
0
100
200
300
400
500
1998
1999
2000
Fonte: Faleiros, et al. (2001).
Dados estatísticos provindos do Serviço de Referência do Programa Sentinela,
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS – portaria n° 878/2001),
permitem que se faça essa analogia. Com o equivalente a 9.547 notificações de violência
contra crianças e adolescentes registradas durante o primeiro semestre de 2002, em 150 dos
299 municípios onde existe o serviço, os dados – distribuídos entre tipo de violência e número
de crianças por sexo – confirmam a existência de uma relação entre os dois parâmetros.
Assim, é registrado um maior número de notificações de violência e exploração sexual contra
crianças do sexo feminino, enquanto as notificações por negligência dos pais e violência
psicológica se concentram nas crianças do sexo masculino.
104
Quadro 1.7.6 – Tipo de violência e sua relação com o sexo das crianças (elaborado a partir dos dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2002)
Fonte: BRASIL: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2002).
Configurada a relação entre tipo de violência notificada e o sexo das crianças, é
possível avançar nas análises e identificar qual o agressor mais provável para cada tipo de
violência para, a partir da compilação dessas informações, poder estabelecer a relação entre
violência, sexo da criança e agressor.
O estudo canadense de incidência de denúncias de abuso infantil e negligência (CIS,
1998) estabeleceu a correspondência entre três critérios: número de casos confirmados de
violência contra criança (sem diferenciação por sexo); tipo de violência cometida e agressor
identificado, permitindo-nos observar qual o tipo de violência que prevalece por agressor.
Embora esses resultados não possam ser cotejados com a realidade brasileira – por falta de
dados – podem nos auxiliar a visualizar o fenômeno.
De acordo com o Quadro 1.7.7, a mãe é, percentualmente, a agressora mais freqüente.
A negligência materna surge como a mais praticada, sendo seguida pela violência psicológica
cometida por ambos os pais. O abuso sexual surge como sendo realizado, preferencialmente,
por parentes.
A violência física tende a ser praticada por ambos os pais, contudo, Haugaard e
Repucci (1988) caracterizam os atos envolvendo pais e filhos como agressões mais graves que
os atos envolvendo mães e filhos. Eles argumentam que a mãe apresenta uma tolerância maior
para com os filhos em função de seu papel como cuidadora.
Programa Sentinela (2001-2002)
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%
física negligência sexual exploraçãosexual
psicológica
feminino masculino
notificação
105
Quadro 1.7.7 – Casos confirmados de violência e sua relação com o agressor (elaborado a partir dos dados apresentados pelo CIS – 1998)
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
mãe pai padrasto madrasta parentes
agressor
denú
ncia
s co
nfirm
adas
físicasexualnegligênciapsicológica
Fonte: Trocmé et al. (2001).
Tais considerações, também, foram objeto de estudo por Pires et al. (2005) a partir da
análise das Fichas de Notificação Compulsória. As autoras concluiram que a mãe foi
responsável, isoladamente, pela maioria das suspeitas de maus-tratos58 contra crianças e
adolescentes (38%), seguida por parentes (24,5%), pela mãe e pai juntos (13,5%), pai (12%) e
não parentes (11,5%).
Quadro 1.7.8 – Notificação compulsória de denúncia de maus-tratos (elaborado a partir dos dados apresentados por Pires et al., 2005)
0
50
100
150
200
250
300
mãe pai parentes nãoparentes
mãe e pai
autores de agressão
Nº d
e oc
orrê
ncia
Fonte: http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa24_maus.htm
Diante de uma situação de violência sexual contra a criança, o Instituto Médico Legal
(IML) tem a função e obrigação legal de realizar o exame de corpo de delito. Trata-se de um 58 Para as autoras, maus-tratos englogam as quatro categorias: abuso físico, sexual, psicológico e negligência.
106
exame indispensável que analisa o corpo na intenção de detectar os vestígios de um crime e
sua requisição deve ser expedida pelas delegacias, Conselhos Tutelares ou Ministério Público.
Segundo pesquisas apresentadas por Kühn, Reis e Trindade Filho (1998) no XV
Congresso Brasileiro de Medicina Legal – dos casos encaminhados para Corpus delicti
envolvendo denúncias de violência contra criança, 63% são relativos à suspeita de estupro,
enquanto 37% ao crime de atentado violento ao pudor. A margem de confirmação do exame
médico, para os casos de estupro, é de apenas 5%, pois é comum não haver marcas no corpo
por ocasião do exame, que, também, tende a ser realizado tardiamente. Essa dificuldade de
confirmação implica que o exame não é comprobatório para ocorrência de abuso sexual na
maioria dos casos envolvendo crianças. Casos de atentado violento ao pudor demonstram
níveis de dificuldade similares, pois também apresentam vestígios em 6% dos casos.
No que tange à idade em que as crianças são mais acometidas por violência, uma
pesquisa empreendida pelo IML de Londrina, em 1997, mostrou que, dos 841 exames de
conjunção carnal realizados, 188 (22,3%) foram de crianças até 12 anos. Destes 188 exames,
186 confirmaram a violência sexual com conjunção carnal (estupro).
O quadro 1.7.9 apresenta o número de crianças com exame positivo para conjunção
carnal em relação à idade. Os dados apontam para uma concentração de exames em crianças
de 03 anos e um aumento em proporção direta com a idade das crianças.
Quadro 1.7.9 – Número de crianças examinadas por idade IML Londrina
(elaborado a partir dos dados apresentados por Kühn, Reis & Trindade Filho, 1998)
0
5
10
15
20
25
30
35
1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10anos
11anos
idade da criança
nº d
e cr
ianç
as e
xam
inad
as
Fonte: Kühn, Reis e Trindade Filho (1998).
107
Mediante a análise de algumas das principais pesquisas realizadas no Brasil, podemos
deduzir que não há um estudo sobre a incidência de violência sexual contra crianças no nosso
país, mas vários estudos sobre a incidência de notificações de violência sexual contra crianças
e adolescentes, o que é completamente diferente: enquanto a primeira situação diz respeito à
estudos estatísticos de casos confirmados de abuso sexual na infância extraídos de um
montante de notificações de violência sexual contra criança; a segunda está relacionada
apenas aos trabalhos de captação e registro de notificação que foram classificados para fins de
análise.
Desta forma, é preciso cuidado ao divulgar ou interpretar informações que se propõem
a anunciar uma estimativa para o número de incidência de casos de violência sexual contra a
criança no país, pois tais dados, até o momento, inexistem e, por este motivo, correm o risco
de anunciar uma realidade nacional que não procede.
Se, por outro lado, não há estudo de incidência de violência sexual contra a criança no
Brasil, tais informações são prestadas por quatro países de língua inglesa – Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra e Austrália – a partir de dados oriundos de estudos de incidência de
notificação e confirmação de violência sexual contra crianças e adolescentes: United States
Department of Health and Human Services (US DHHS, 2003); Canadian Incidence Study of
Reported Child Abuse and Neglect (CIS – 1998, TROCMÉ et al., 2001); National Society for
the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC (Department for Education and Skills –
DfES, 2004) e Australian Institute of Health and Welfare (AIHW, 2004), respectivamente.
A título de constatação, podemos observar a incidência de casos notificados de
violência sexual contra crianças e adolescentes em cada um desses países e cotejá-los com o
total de casos confirmados e a sua equivalência em percentuais (Tabela 1.7.1). Com exceção
do Canadá, que apresentou um percentual de 45%, os demais países mantiveram taxas
relativamente baixas para a confirmação das denúncias de violência contra criança. A
Inglaterra manteve a menor delas: 5% de confirmação do total de casos notificados no país
nos anos de 2002 e de 2003. É interessante notar que, aproximadamente, 10% das denúncias
de violência contra criança são concernentes ao abuso sexual – em todos os estudos de
incidência selecionados – destas, o índice percentual de confirmação para abuso varia entre 20
a 40%, com exceção à Inglaterra, que apresenta os menores índices (5%).
108
Tabela 1.7.1 – Incidência de notificação e confirmação de violência sexual (elaborado a partir dos dados apresentados na fonte citada)
País Ano Casos Notificados Confirmados % Denúncia de
abuso sexual Abuso
confirmado %
Austrália 2002/2003 198.355 40.416 20% 10% 4.137 21% Canadá 1998 135.573 61.201 45% 10% 5.474 40%
2002/2003 570.220 26.600 5% 10% 2.700 5% Inglaterra
2003/2004 572.700 26.300 5% 9,5% 2.500 4,6%
2001 2.673.000 492.108 18% 10% 86.845 32% EUA
2002 3.193.000 895.569 27% 10% 88.656 28%
Fonte: Austrália (AIHW, 2004); Canadá (CIS, 1998); Inglaterra (DfES, 2004); EUA (USDHHS, 2003)
Contudo, é nos Estados Unidos que existe o maior estudo sobre a incidência de maus-
tratos infantil – The National Incidence Studies (NIS-1, NIS-2, NIS-3) – conduzido pelo U. S.
Department of Health and Human Services (1996). O NIS foi desenvolvido para estimar os
números da violência na infância nos Estados Unidos, incluindo casos não denunciados a
entidades de proteção à criança, principalmente, por meio de informações oriundas de mais de
5.600 comunidades profissionais que atuam em situações de maus-tratos. Segundo o NIS, no
intervalo de sete anos, os números estimados, praticamente, dobraram: de 1.4 milhões em
1986 para 2.8 milhões de casos em 1993. Para as estimativas de abuso sexual, o aumento
correspondeu a 125% – de 133.600 para, aproximadamente, 300 mil casos. A taxa estimada
por mil crianças teve um crescimento de 9,8 por mil para 23,1 por mil.
Esses resultados, juntamente com o que viemos analisando, nos permitiram identificar
uma compatibilidade de dados nos vários trabalhos estatísticos revisados, a partir de registros
de violência contra a criança:
O número de crianças vitimas de violência é equivalente para ambos os sexos;
Predomínio do pai como agressor sexual das filhas;
Predomínio da mãe como agressora física e psicológica dos filhos;
Predomínio de negligência materna;
O número de denúncias de abuso sexual confirmadas apresenta-se menor que o número
de casos não confirmados;
Há uma carência de explicações para os números apresentados em todas as pesquisas.
109
2. Proposições Teórias no Estudo das Falsas Denúncias
O que não percebeis, negais que exista O que não calculastes, é mentira
O que vós não pensaste, não tem peso Metal que não cunhais, dizes que é falso
Goethe
A partir da década de 1980, alguns profissionais de saúde dos Estados Unidos
passaram a dirigir seus olhares para uma situação que vinha se configurando nas unidades de
saúde e hospitalares. Esses profissionais constataram que um montante crescente de alegações
de abuso sexual envolvendo pais e filhos no contexto da separação conjugal eram notificadas
ao sistema judicial naquele país por mães guardiãs.
Pais acusados, ao serem interpelados pela justiça, alegavam inocência, apontando para
um problema identificado à época do rompimento conjugal: que as ex-companheiras e
guardiães dos filhos intentavam, sucessivamente, a interrupção ou obstrução do convívio
paterno-filial, efetivada pela denúncia de abuso sexual.
Diante das circunstâncias, muitas pesquisas foram implementadas e teorias
explicativas sobre falsas acusações erigiram no horizonte da Psicologia e da Medicina
Psiquiátrica norte-americanas.
No Brasil, de acordo com a literatura pesquisada, houve, neste mesmo período, um
aumento da produção acadêmica que vislumbrava o fenômeno da violência sexual. A mídia
nacional também despontava como uma forte aliada à informação sobre o tema, buscando
incentivar a notificação por meio de campanhas, convocando a população a denunciar para
proteger as crianças.
Assim, é com defasagem de quase duas décadas em relação aos Estados Unidos que a
temática das falsas denúncias de abuso sexual surge, ainda de forma tímida, como matéria de
apreciação por alguns profissionais, especialmente, no contexto de separação conjugal
litigiosa.
Como viemos discutimos nesse trabalho, a análise de denúncias de abuso sexual
contra criança não é procedimento simples e, normalmente, inclui o trabalho de psicólogos,
cuja intervenção deve ser eficiente e consistente, sob o risco de criar o fato do abuso sexual na
família atendida. Para Oliveira (2004), o maior conflito que o profissional enfrenta é “deixar
110
de proteger quem precisa de proteção ou, por outro lado, punir e estigmatizar alguém que não
tem nenhuma culpa” (p.66).
Nesse sentido, apresentamos algumas discussões teóricas – pautadas em estudos59
norte-americanos – a respeito da ocorrência de falsas denúncias de abuso sexual no contexto
da separação conjugal litigiosa. Nessas proposições, os autores entendem que a intenção do
genitor guardião (mãe) em obstruir o relacionamento entre pais e filhos é motivada por
sentimentos de raiva, vingança e por patologia psiquiátrica.
Embora as crianças sejam capazes de dizer mentiras (Bussey, Lee & Grimbeek, 1993), não estão geralmente inclinadas a criar declarações falsas do abuso sem que haja a influência parental (Green & Schetky, 1988). Falsas alegações de abuso de criança promulgados por pais podem surgir por uma variedade de razões, incluindo a vingança contra o acusado, o desejo de poder em disputas da custódia da criança, e a doença mental do genitor. As falsas alegações abrangem a fabricação intencional, crença equivocada de que a criança foi abusada e más interpretações ou distorção. Os pais podem induzir sinais físicos do trauma sexual para provar suas alegações de abuso sexual” (PARNELL, 1998, p.40)60.
Modelos psicopatológicos ou médicos são utilizados com o propósito de explicar, pela
ótica da psicopatologia da mãe, as razões pelas quais a mesma promove falsas alegações de
abuso sexual de pais contra filhos.
Ativemo-nos à descrição de quatro procedimentos que guardam uma relação entre si: a
formação de um forte vínculo ou aliança entre a mãe guardiã e seus filhos que podem servir
para prejudicar, em algum nível, a relação entre pais e filhos. Todos os trabalhos são
unânimes em considerar que essa estreita relação materno-filial pode se tornar patológica,
permeada por uma forma de violência insidiosa, que se processa por palavras, gestos, ações
ou omissões.
Portanto, à exceção do “Alinhamento” descrito por Wallerstein e Kelly (1998, p.95),
incorporado às discussões, os demais são modelos psicopatológicos que se configuram em
uma nova roupagem para o que trataríamos, rotineiramente, por violência física, psicológica e
negligência, ou, genericamente, por maus-tratos contra a criança. São as principais
proposições teóricas:
59 Clawar e Rivlin (1991); Feldman e Brown (2002); Gardner (1991, 1992); Meadow (1982, 1993); Parnell (1998); Rand (1990); Schreier (1996) e Turkat (1995). 60 Tradução livre.
111
1. Síndrome de Alienação Parental (Parental Alienation Syndrome)
A Síndrome de Alienação Parental (SAP) foi postulada por Gardner na década de
1980 como um distúrbio que surge, preferencialmente, no contexto da separação litigiosa. A
teoria preconiza que filhos de pais separados podem vir a formar alianças com o genitor
guardião, manifestando um comportamento despropositado e exagerado de rejeição e
depreciação, direcionado ao genitor não guardião, anteriormente, querido.
Segundo Gardner (1992), sendo a mãe a guardiã preferencial dos filhos, esta é
considerada o genitor alienador preponderante, responsável pelo processo de “programação
mental” ou “lavagem cerebral” (p.73) dos filhos, imbuída da intenção de exilar o pai da vida
dos mesmos, utilizando-se, para tanto, de ameaças e punições, obrigando os filhos a se
aliarem a ela contra o pai. Os filhos, por outro lado, contribuiriam com o processo de
alienação, difamando o pai.
Para Gardner (1992), a mãe alienadora estaria propensa a apresentar algum nível de
desequilíbrio psicológico e emocional, acompanhado de ansiedade. A auto-imagem estaria
distorcida, vendo-se como vítima de um cruel tratamento dispensado pelo seu ex-cônjuge. Em
respostas a esse estado peculiar de desequilíbrio emocional, a mãe alienadora promoveria a
discórdia ou indiferença dos filhos para com o pai, fazendo-os crer que o pai seria o
responsável pelo sofrimento de todos os familiares, a partir da idéia de que foram
abandonados. Esta mãe, ainda, culparia o ex-companheiro por quaisquer eventos ruins que
viessem a ocorrer aos filhos, manifestando sentimentos de vingança, visando à obtenção de
vantagens financeiras. Diante desta configuração familiar, os filhos decidiriam por manterem-
se aliados à mãe, a fim de protegê-la.
As características do distúrbio da mãe alienante poderiam ser identificadas por meio
da recusa em repassar as ligações telefônicas aos filhos; em fornecer informações escolares
e/ao médicas ao pai; em deixar a criança manter objetos presenteados pelo pai, como roupas e
brinquedos; da desqualificação e desautorização do pai na presença dos filhos; da proibição da
visita do pai; da ameaça aos filhos e outras tantas. Portanto, para Gardner (1991), o fato de a
mãe guardiã impor aos filhos uma ruptura dos vínculos com o pai, seria uma forma de abuso
emocional ou psicológico contra essas crianças, cujos sintomas seriam: depressão, isolamento,
dificuldade de adaptação, ambivalência afetiva, hostilidade e ausência de culpa predispondo-
as ao desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos.
112
“Induzir a SAP na criança é uma forma de abuso emocional. De certa forma, ela pode ser até mais prejudicial que o abuso físico e/ou sexual da criança. Embora ambas as formas de abuso sejam abmináveis, elas não necessariamente – embora certamente possam – causar problemas psiquiátricos para o resta da vida” (p.441)61.
No caso de as investidas da mãe alienante para afastar o pai falharem ou de o pai
alienado queixar-se na Justiça, ingressando com ação de regulamentação de visitas ou de
reversão da guarda, o autor percebeu que a SAP propiciaria esta mãe à fabulação do abuso
sexual de pais contra filhos com a finalidade de permanecer com a guarda definitiva, enquanto
a interrupção das visitas, pela imposição do afastamento preventivo, garantiria à mãe tempo
para programar a criança para acreditar, falar e agir como vítima do abuso, o que foi, também,
defendido por Clawar e Rivlin (1991). Porque uma denúncia de abuso sexual contra crianças
muito pequenas é difícil de se detectar, a palavra da mãe e o exame da criança sujeitada à
autoridade e ameaças desta tornam-se evidências que se complementam na condenação do
pai.
2. Síndrome da Mãe Maliciosa (Malicious Mother Syndrome)
A Síndrome da Mãe Maliciosa foi descrita por Turkat (1995) a partir da análise de
casos clínicos e judiciais de mulheres que, de modo injustificável, vilipendiavam o ex-
companheiro, com maledicências, atentando contra seu caráter. Guarda semelhança com a
SAP, contudo, as intenções de prejudicar o ex-marido vão além da obstrução do
relacionamento paterno-filial, pelo processo de alienação parental, incluem, também, litigar
por qualquer evento e disseminar declarações mentirosas para os filhos, parentes, vizinhos e
colegas de trabalho, envolvendo-os contra ele.
Nesses casos, haveria uma campanha pessoal de difamação contra esses homens que
iria desde a culpabilização pela separação, determinando a falta de alimentos para os filhos,
até as falsas acusações de violência física contra elas próprias e de abuso sexual contra os
filhos.
3. Alinhamento
A teoria explicativa do alinhamento, proposta por Wallerstein e Kelly (1998), pode ser
considerada uma crítica à Síndrome de Alienação Parental, na tentativa de excluir o caráter
61 Tradução livre.
113
patológico de algumas relações estabelecidas entre homens e mulheres, após o término do
vínculo conjugal.
Segundo Wallerstein e Kelly (1998), pesquisadoras que dedicaram 25 anos ao estudo
longitudinal dos efeitos do divórcio nos filhos, em quase todas as sessenta famílias
californianas acompanhadas no estudo que desenvolveram na década de 1970, havia, no
mínimo, um genitor zangado com o ex-companheiro, sendo as mulheres as mais hostis.
“Dezoito meses após a separação muitas questões ainda não estavam resolvidas na vida dos pais e dos filhos. Sentimentos de raiva, humilhação e rejeição ainda eram intensos; a maioria dos adultos ainda não tinha restabelecido uma estabilidade e continuidade em suas vidas, ou ordem em sua estrutura doméstica” (p.15).
Segundo as autoras, a forma mais comum dessas mulheres expressarem sua
hostilidade pelo ex-companheiro seria denegrí-lo, caluniando-o na presença dos filhos, muitas
vezes, convidados a participar desses ataques: “Alguns participavam, com alacridade; outros
ficavam ansiosos; alguns ficavam enojados” (p.40).
Diante da separação, havia homens e mulheres, denominados “amargurados-caóticos”
(p.40), cujo ódio levava-os a perserguir a idéia de vindicação, oportunidade que se consagrava
com a participação dos filhos. A raiva intensa, associada a depressão e a um desequilíbrio
desorganizador culminavam com o que as autoras identificaram como comportamentos
baseados em uma “tríade de respostas psicológicas ao divórcio” (p.40). Contudo,
impressionou as autoras a tenacidade desta tríade de respostas psicológicas, cuja raiva era
elemento central, pois o progenitor era capaz de manter aparência de “ordem interna
psicológica” (p.41), concomitante a uma busca desesperada por formar alianças com os filhos,
inserindo-os no caos do divórcio (quadro semelhante ao descrito por Gardner em sua
teorização sobre SAP).
Wallerstein e Kelly (1998) esclareceram que, os filhos, diante da incompetência da
família pós-divórcio para lidar com seus conflitos, assumiam, de forma ativa, a tarefa de
preservar o relacionamento afetivo com o genitor que se mostrasse mais fragilizado ou
magoado com a separação, tornando-se seus “aliados, confidentes e salvadores” (p.33).
As mulheres “amarguradas-caóticas” (p.42), intencionavam, ao convencer os filhos de
que os pais não mais os amavam, punir os ex-companheiros pela destruição do
relacionamento paterno-filial. Nesse intuito, as mães, ao sentirem as visitas paternas como
disruptivas, passavam a impor obstáculos, ameaçando e punindo os filhos.
114
“A ameaça não verbalizada para muitas das crianças era que seu relacionamento com a mãe poderia correr perigo se elas mantivessem certa lealdade ao pai. Mesmo se a criança se aliasse à mãe, nós percebemos uma deterioração na capacidade dessas mães de prestar os cuidados diários e confortar os filhos. Além disso, quase não havia sensibilidade, nessas mães e pais, à angústia da criança” (WALLERSTEIN & KELLY, 1998, p.42).
O empenho em formar alianças e coalisões com os filhos com o propósito de romper
os vínculos estabelecidos com o outro genitor, apontam para o que Wallerstein e Kelly (1998)
definiram por alinhamento. Neste caso, os filhos, ao se identificarem com o sofrimento, raiva
ou apelos do genitor, privilegiam esta relação, desferindo ataques ao outro genitor. As autoras
explicam que, quando alinhados ao genitor que detém a guarda, os filhos mantinham
relacionamentos inspirados nos sentimentos subjacentes ao divórcio, cuja permanência
resultava do reforço diário.
Apesar de as autoras não haverem colocado a problemática das falsas denúncias de
abuso sexual em pauta, o desenvolvimento das explicações sobre alinhamento inspira esta
associação, se consideramos a possibilidade do ataque ao outro genitor apresentar estas
características.
4. Síndrome de Munchausen por Procuração (Munchausen by Proxy Syndrome)
A Síndrome de Munchausen por Procuração (SMP) é uma derivante da Síndrome de
Munchausen, primeiramente descrita na literatura médica na década de 1950 e incorporada ao
DSM-IV, na década de 1980, com o nome genérico de Transtorno Factício, cuja característica
essencial é a produção intencional de sinais ou sintomas somáticos ou psicológicos auto-
infligidos (Critério A), podendo incluir a fabricação de queixas subjetivas (dor) e exacerbação
de condições médicas gerais preexistentes ou qualquer combinação ou variação destes
elementos. A motivação para o comportamento consiste em assumir o papel de enfermo
(Critério B) com ausência de incentivos externos que justifiquem a simulação (Critério C). Os
indivíduos adultos com este tipo de transtorno podem envolver-se em mentiras patológicas
acerca de qualquer aspecto de sua história ou sintomas (pseudologia fantástica).
Normalmente, apresentam conhecimento da terminologia médica e da patologia a qual se
queixam. Tendem a se deixar submeter a múltiplos procedimentos e quando confrontados
com evidências de que seus sintomas são factícios, geralmente negam as alegações e/ou
abandonam os procedimentos. Freqüentemente, reincidem com as mesmas ou diferentes
queixas em instituições localizadas outras em cidades ou estados (DSM-IV, F68.1).
115
No entanto, foi no ano de 1977 que Meadow descreveu a SMP como uma forma
similar da Síndrome de Munchausen, após reconhecer o distúrbio na mãe de duas crianças,
que, ao se engajar na dissimulação de doenças em seus próprios filhos (em geral, por
envenenamento ou sufocação), usava-os – por procuração – para manter um intenso
relacionamento com a equipe médica. (MEADOW, 1982).
Feldman e Brown (2002), Meadow (1993) e Schreier (1996) identificaram que são as
mães as principais portadoras do transtorno, utilizando-se dos filhos em resposta, ao que
parece ser, uma intensa necessidade de atenção, assim como de controle da equipe de
profissionais que atendem esses filhos. Nesse sentido, os autores concluiram que a síndrome
Munchausen é uma forma especializada de abuso físico e/ou psicológico contra a criança,
provocada, por excelência, pela mãe.
Meadow (1995), também identificou que algumas mães que apresentam o distúrbio,
alegaram falsas ocorrências de abuso sexual em crianças de 3 a 9 anos de idade,
independentemente do contexto na separação conjugal e disputa de guarda dos filhos. Vale
ressaltar que a acusação recaía para pessoas estranhas ou vizinhos. Segundo o autor, essas
mães tenderiam a encorajar e ensinar seus filhos (por meio de técnicas de indução e coerção)
a sustentar as alegações de abuso sexual com o propósito de receber reconhecimento de
profissionais que atuam em serviços de proteção à criança. A conseqüência dessas denúncias,
a despeito de qualquer evidência física de abuso sexual, era, muitas vezes, a exposição dessas
crianças a inúmeros e repetitivos procedimentos exploratórios e invasivos para o diagnóstico
do abuso alegado.
Apesar de Meadow (1995) considerar difícil determinar que uma falsa acusação de
abuso sexual de pais contra filhos no contexto da separação conjugal foi motivada pela SMP,
Parnell (1998), Rand (1990) e Schreier (1996) entendem que este pode ser um dos cenários
possíveis para o surgimento de declarações falsas desse tipo de violência a partir de disputas
pela guarda ou regulamentação de visitas, o qual denominaram “tipo-contemporâneo de
SMP” (RAND, 1990, p.83). Nesse caso, a mãe se engajaria em ações potencialmente danosas
à criança, seja pela indução e questionamentos repetitivos, seja provocando infecções
urinárias ou lacerações na genitália da criança, a fim de legitimar as alegações dirigidas à
polícia e aos serviços de proteção à criança, cujo procedimento é encaminhar as supostas
vítimas para avaliação psicológica e/ou psiquiátrica e médica para diagnosticar o abuso e
iniciar o tratamento.
116
Meadow (1985), Parnell (1998), Rand (1990) e Schreier (1996) concordam que, a
despeito de a mãe mostrar-se atenciosa com a criança, causando boa impressão à equipe de
saúde, os autores são claros ao afirmar que tal comportamento materno mascara um abuso
praticado contra a criança. Enfatizam, também, a necessidade de os profissionais de saúde,
justiça e educação trabalharem em cooperação, tendo em vista que tais casos, por serem de
difícil identificação, possam induzir a um erro de julgamento.
Diante do exposto, cabe destacar que todas as proposições teóricas apresentadas, por
não serem reconhecidas pela comunidade científica – na figura representativa dos manuais de
diagnóstico – não são consideradas entidades nosológicas e, portanto, não podem ser
empregadas para fins de diagnóstico clínico. Tais proposições teóricas, também, suscitam
idéias controversas, sendo passíveis de críticas e alterações futuras.
117
3 – Metodologia 3.1 Methodos de pesquisa
o labor científico caminha sempre em duas direções: numa, elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece seus resultados; noutra, inventa,
ratifica seu caminho, abandona certas vias e encaminha-se para certas direções privilegiadas. E ao fazer tal percurso, os investigadores aceitam os critérios da historicidade, da colaboração e, sobretudo, imbuem-se da humildade de quem
sabe que qualquer conhecimento é aproximado, é construído.
Minayo (1999, p.12).
Na operacionalização desta pesquisa consideramos dois aspectos: o ato de pesquisar
propriamente dito e seu methodos. Pesquisar é uma forma de produzir conhecimento que se
origina do ato de refletir sobre fatos da realidade com o propósito de construir, aperfeiçoar ou
corroborar a construção de saberes (VECINA, 2002). Methodos, que do grego significa
“caminho”, implica em seguir, sistematicamente, um determinado objetivo, problema ou
hipótese de pesquisa para que este possa ser alcançado. Portanto, método se traduz em um
recurso, um instrumento ou procedimentos para adquirir, demonstrar ou verificar
conhecimentos por meio da análise de dados (CASTRO, 1997).
Para Martins e Bicudo (1989, p.25),
“Uma característica interessante do método diz respeito às suas concomitantes naturezas teórica e prática, pois o pesquisador deve ter como ponto de partida tanto as teorias onde aprendeu sobre as observações empíricas, como as experiências por ele vividas”.
Segundo Minayo (1993, p.22), metodologia é “o caminho e o instrumental próprios de
abordagem da realidade”, que inclui, além das concepções teóricas e das técnicas de
apreensão da realidade, o potencial criativo do pesquisador.
Do mesmo modo entende Demo (1996), quando afirma que uma pesquisa científica
diz respeito a um “questionamento sistemático, crítico e criativo, (...) intervenção competente
na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”
(p.34) que, por intermédio da metodologia, conduz o pesquisador ao seu objetivo (DEMO,
1991).
Martins e Bicudo (1989, p.65) consideram que “toda pesquisa científica pressupõe
sempre uma posição, uma postura que torna possível investigar os fenômenos, a partir de uma
118
certa perspectiva, na qual habilita o pesquisador a encontrar resposta para sua problemática”.
Para Minayo (1993), essa postura que o investigador apresenta diante de seu objeto de estudo
é uma postura ideológica a qual permite que, tanto ele, quanto os atores sociais da pesquisa,
compartilhem suas visões de mundo.
Demo (1986), salienta que alguns critérios devem ser observados pelo pesquisador
para que um trabalho seja considerado científico. Critérios como: coerência, consistência,
originalidade e objetivação são fundamentais; assim como a intersubjetividade, significando
“a ingerência da opinião dominante dos cientistas de determinada época e lugar de
demarcação científica” (p. 17). Logo, o autor destaca a necessidade de reconhecer a ciência
como produto social, histórico e em processo de formação que provocará mais dúvidas que
soluções, uma vez que estas surgem apenas à medida que nascem novos questionamentos.
Ao propormos a realização de uma pesquisa sobre as práticas dos psicólogos em
atendimentos a casos de denúncia de abuso sexual envolvendo pais e filhos e a possível
identificação de falsas acusações desse abuso, levantamos, inicilmente, técnicas e métodos de
pesquisa com o propósito de avaliar o mais apropriado ao estudo em pauta. A partir da
definição do corpo teórico do objeto de estudo, foi possível determinar, dentre as várias
técnicas de coleta e de análise de dados existentes, a que melhor se amolda às nossas
intenções e objetivos.
Assim, na execução da pesquisa em pauta, partimos, inicialmente, da elaboração de
um referencial teórico compatível com os objetivos idealizados, capaz de nortear o trabalho a
este fim. Para isso, realizamos tanto uma revisão bibliográfica, quanto o reconhecimento do
campo de interesse, este último fundamental na verificação da viabilidade e definição da
amostra.
Apreciados os recursos e a viabilidade da pesquisa, optamos por dividir o trabalho de
campo em duas etapas: a primeira, referente ao levantamento, por meio de correio eletrônico,
da situação de pais que se declaram falsamente acusados de cometer violência sexual contra
seus filhos e a segunda – principal da pesquisa – referente à práticas de psicólogos que atuam
em instituições de atendimento a crianças, supostamente, vítimas de abuso sexual.
A primeira etapa foi de primordial importância à pesquisa, responsável por subsidiar a
segunda com informações acerca de como os pais acusados percebiam a intervenção dos
profissionais de Psicologia no processo de denúncia de abuso sexual. Tal etapa constou de um
questionário distribuído e respondido via e-mail.
119
Para a segunda etapa, um roteiro de entrevista foi elaborado a partir dos dados obtidos
na etapa anterior, possibilitando que informações fossem coletadas por meio de entrevista
individual com psicólogos em razão da versatilidade e empregabilidade desta técnica nas
diversas áreas do conhecimento. Na pesquisa em questão, optamos pelo viés de abordagem
qualitativa dos dados.
Por qualitativa, palavra originária do latim qualitas, entende-se essência; e por
essência compreende-se algo que não pode ser visto ou tocado, do mesmo modo que não pode
ser mensurado.
Segundo Minayo (1999), a abordagem qualitativa preocupa-se:
“...com um nível da realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (p.21).
Este tipo de estudo aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações
humanas, um lado não perceptível em números e estatísticas.
Minayo e Sanches (1993) propuseram trabalhar o embate quantitativo-qualitativo que
ocorre nas ciências sociais, ministrando elementos diferenciadores às abordagens. As autoras
assinalaram que a investigação quantitativa é aplicável quando os parâmetros analisados se
apresentam materializados aos sentidos, sejam estes tendências, fenômenos e/ou indicadores
observáveis. Na investigação qualitativa, são os valores, crenças, hábitos, atitudes,
representações e opiniões, os fenômenos eleitos à análise e o objetivo em vista é identificar a
complexidade de processos privados e a idiossincrasia de indivíduos e grupos.
De acordo com as autoras, as abordagens são, metodologicamente, consideradas
díspares, porém, não necessariamente excludentes, não havendo contradição ou correlação
entre si; enquanto que, epistemologicamente, ambas são consideradas científicas. Apenas
quando utilizadas dentro dos limites de suas especificidades é que as abordagens quantitativa
e qualitativa poderão contribuir efetivamente para o conhecimento (PAULILO, 1999).
Entretanto, algumas críticas são levantadas à abordagem qualitativa, questionando seu
rigor metodológico. Tendo em consideração que a produção intelectual é sempre um ponto de
vista a respeito do objeto, o envolvimento inevitável do pesquisador – seja com a realidade
cotidiana, seja com a realidade singular – implica em uma percepção peculiar do observador
para com o seu objeto de estudo, o que não invalida seu rigor científico, mas remete à
120
necessidade de percebê-lo enquanto objetividade relativa, ideológica e interpretativa
(PAULILO, 1999).
É nesse sentido que Bleger (1995) assevera que uma entrevista representa algo mais
que uma mera coleta de dados. O autor acrescenta que “... a entrevista psicológica é uma
relação, com características particulares, que se estabelece entre duas ou mais pessoas” (p.12)
e, por ser uma relação, ela se estrutura como um campo, no qual entrevistador e entrevistado
interagem e conhecimentos e significados são construídos.
Martins e Bicudo (1989) entendem a entrevista como um encontro social, cujas
características principais seriam a empatia, a intuição e a imaginação; e como um lugar de
troca mútua de percepções, sentimentos e emoções. Os autores concluem, desta forma, que
todas as entrevistas são formas especiais de conversação e, neste sentido, interativas. Assim
também caracteriza Gaskell (2002), quando afirma que “toda pesquisa com entrevistas é um
processo social, uma interação ou um empreendimento cooperativo, em que as palavras são o
meio principal de troca” (p.73).
“Nas ciências sociais empíricas, a entrevista qualitativa é a metodologia de coletas de dados amplamente empregada. Ela é, como escreveu Robert Farr (1982), essencialmente uma técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista” (GASKELL, 2002, p.64).
Após a realização das entrevistas com psicólogos, utilizamos o referencial de análise
de conteúdo, a fim de obter recursos para análise dos dados sob a forma de texto ou de um
conjunto de textos (BARDIN, 1977; BAUER & GASKELL, 2002).
Essa análise é, em regra, utilizada para estudos de crenças, valores e atitudes. A
análise de conteúdo permite colocar em evidência o conteúdo das mensagens, inserindo este
na comunicação entre os homens (TRIVIÑOS, 1992).
A técnica de análise de conteúdo é entendida por Chizzotti (1991) e Bauer e Gaskell
(2002) como um método de tratamento e análise de dados consolidados em um documento
escrito, desenvolvido dentro das ciências empíricas, oriundo de qualquer comunicação, seja
oral, visual ou gestual. Trata-se de uma categoria de procedimentos de análise textual para
fins de pesquisa social (BAUER & GASKELL, 2002).
Conforme a metodologia proposta por Bardin (1977), o conceito de análise de
conteúdo fica estabelecido por:
121
“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não), que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p.42).
Para Minayo (1993, p.203), a análise de conteúdo “relaciona estruturas semânticas
(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a
superfície dos textos descrita e analisada com os fatores que determinam suas características:
variáveis psicossociais, contexto cultural e processo de produção de mensagem”. Trata-se,
portanto, de uma técnica que tem por objetivo a inferência ou dedução de conhecimentos por
meio de índices ou indicadores, na medida que admite a passagem da descrição à
interpretação (BARDIN, 1977; BAUER & GASKELL, 2002).
O pesquisador pode, assim, ser capaz de manipular os dados por inferência de
conhecimentos acerca do entrevistado ou do assunto abordado, realçando um sentindo que se
encontrava em segundo plano e, assim, atingir outros significados de natureza psicológica,
sociológica, política, etc (BARDIN, 1977).
Finalmente, cabe salientar que, em pesquisa social, os resultados não podem ser
generalizados, mas devem ser compreendidos como um olhar inquiridor sobre um
determinado objeto de interesse e como um esforço do pesquisador para se aproximar da
realidade. Assim, é no questionamento constante e na refutação de resultados definitivos que a
renovação do conhecimento se processa (DEMO, 1992).
Completa Minayo (1999, p.67-68): “nada existe eterno, fixo, absoluto. Portanto não há
nem idéias, nem instituições e nem categorias estáticas. Toda vida humana é social e está
sujeita a mudança, a transformação; é perecível”.
122
3.2 A construção da pesquisa
A intenção de realizar uma pesquisa sobre falsas denúncias de abuso sexual contra
criança no contexto da separação conjugal surgiu mediante os atendimentos para avaliação
psicológica de casais separados. Nos casos atendidos, notou-se que a guarda da criança fora
concedida à genitora que, segundo o ex-marido, dificultava o acesso deste ao filho. Nessas
circunstâncias, os pais, que haviam ingressado na Justiça a fim de garantir o convívio com os
filhos, depararam-se com a acusação de abuso sexual e, conseqüente, suspensão de visitas
como medida judicial protetiva.
Ao pesquisarmos sobre o assunto na internet, tomamos conhecimento de um fórum de
discussão disponibilizado pelo site PaiLegal. O espaço, reconhecidamente, de caráter público,
permite que pessoas, com alguma afinidade com a proposta do site, estabeleçam um diálogo
sobre assuntos relacionados à separação e à obstrução do exercício da paternidade. Ao
ingressarmos na discussão, descobrimos que havia muitos pais passando por situações
semelhantes, perplexos e desorientados mediante à gravidade de denúncia imposta a eles.
No início da elaboração dessa pesquisa, mantivemos uma preocupação constante
acerca da melhor forma de tornar exeqüível o trabalho, haja vista que os processos que
investigam denúncias de violência intrafamiliar tramitam em segredo de Justiça e que
qualquer abordagem direta, seja com a parte denunciante, seja com a denunciada, poderia ser
compreendida como favorecimento.
Percebemos que entrevistar ambas as partes (e manter a eqüidade) não seria viável,
pois entendemos que, se procuramos investigar falsas denúncias, possivelmente, iríamos nos
deparar com uma resistência por parte da responsável pela acusação (em nosso caso, a mãe
guardiã), conforme experiência prévia tem nos mostrado.
Por outro lado, consideramos a necessidade de que o processo de investigação,
instaurado pelo Ministério Público esteja transitado em julgado62 para que se possa admitir
que a denúncia de abuso sexual infantil seja falsa, evitando-se, desta maneira, incorrer em erro
por inferência.
Portanto, foi preciso pensar em uma outra maneira de conciliar a participação dos pais
acusados, que, antecipadamente, forneceram elementos à pesquisa, sem expor conteúdos dos
processos que tramitam em segredo de Justiça. A solução desse impasse veio com a
62 Ter a sentença se tornado caso julgado.
123
convergência de um aspecto em comum entre todos os pais integrantes do fórum de
discussão: a intervenção do profissional de Psicologia.
Visando avaliar a viabilidade da pesquisa, solicitamos, inicialmente, a pais que
respondessem a perguntas, por meio de correio eletrônico, sobre o contexto em que foram
acusados e a atuação dos psicólogos nesses casos. A adesão foi plena, surpreendendo-nos pela
extensa participação, a partir de inclusão, espontânea, de fragmentos de suas histórias,
pedidos de orientação e sugestões para a discussão. Destarte, essa pequena amostra de
depoimentos foi considerada uma prévia da pesquisa que nos incentivou e guiou no
planejamento do questionário, cuja finalidade era mapear, pela ótica dos pais acusados, as
repercussões da denúncia e a intervenção realizada pelos psicólogos. Nesse sentido, o
questionário tornou-se o instrumento de auxílio na elaboração de pontos a serem tratados em
entrevistas junto aos psicólogos que atuam em instituições de atendimento a crianças.
Assim, traçamos a definição do objetivo da pesquisa: compreender como são
desempenhadas as práticas dos psicólogos nos atendimentos de avaliação de casos de
denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
O questionário63, respondido pelos pais via correio eletrônico, foi composto por dados
de identificação que continha as iniciais do nome, idade, escolaridade, estado civil, número de
filhos, data de nascimento da criança, sexo e estado onde ela vive e, na seqüência, foram
dispostas dez perguntas.
Desta forma, pesquisa foi organizada em duas etapas: a primeira, com a distribuição
do termo de consentimento aos pais e, posteriormente, do questionário, via e-mail; e a
segunda, considerada o trabalho de campo propriamente dito, com entrevistas presenciais, de
caráter individual e semidirigida. Esse estilo de entrevista, por pautar-se em questionamentos
básicos, apoiar-se em teorias e hipóteses e por oferecer interrogativas a partir das respostas
dadas, tende a valorizar a presença do pesquisador e oferecer perspectivas para que o
entrevistado obtenha liberdade e espontaneidade necessárias para locupletar a investigação
(TRIVIÑOS, 1992).
Utilizamo-nos das informações obtidas na primeira etapa da pesquisa como alicerce na
construção do roteiro de entrevista64 a ser empregada com os psicólogos, assim como, para
levantar, dentre as instituições destinadas ao atendimento a casos de crianças supostamente
63 Vide Anexo V. 64 Vide Anexo VI.
124
vítimas de abuso sexual, aquelas que poderiam integrar a pesquisa. A estas instituições, assim
como aos profissionais de Psicologia, também foram encaminhados termos de
consentimento65, solicitando a participação dos psicólogos na realização de entrevistas.
Neste caso, como pretendíamos verificar se os psicólogos e, por associação, os
serviços de Psicologia, identificavam a ocorrência de falsas denúncias de abuso sexual contra
a criança, era preciso apresentar, nos termos de consentimento dos psicólogos e das
instituições, um título que não anunciasse, de imediato, a finalidade do pesquisador.
Concordando com Gonçalves (2003), tal cuidado deveu-se a nossa preocupação em não
induzir ou conduzir o psicólogo entrevistado a discorrer sobre aquilo que possa não ter
identificado em sua prática, permitindo que relate livremente, alcançando ou não este aspecto
em particular, isto é, a ocorrência de falsas denúncias de abuso sexual contra a criança no
contexto da separação conjugal.
Assim, a partir das informações coletadas nos questionários respondidos pelos pais,
foram consideradas algumas instituições de referência para atendimento de denúncia de abuso
sexual na cidade do Rio de Janeiro – Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à
Infância e Adolescência (ABRAPIA), Centro de Atendimento a Crianças e Adolescentes
Vitimados (CACAV), Clínica da Violência, Conselhos Tutelares, Fundação para a Infância e
Adolescência (FIA), Programa Sentinela, Vara de Família, e Núcleo de Atenção à Violência
(NAV) – para integrar a segunda etapa da pesquisa.
Quanto à gravação das entrevistas, dispensamos esse recurso tendo em vista o respeito
à interação com os profissionais da Psicologia, assim como aos aspectos éticos envolvendo o
sigilo profissional das informações prestadas, mantendo apenas anotações em diários de
campo.
Minayo (1999) e Rizzini, Castro e Sartor (1999) consideram o diário de campo um
instrumento de importância ímpar para uso sistemático, responsável por conter informações
advindas da observação participante, de tal modo que o utilizamos para registrar todas as
impressões consideradas pertinentes durante a entrevista, assim como as respostas às
perguntas formuladas.
As entrevistas foram, posteriormente, descritas, fornecendo recursos para análise dos
dados conforme o referencial de análise de conteúdo (BARDIN, 1977; BAUER &
GASKELL, 2002).
65 Vide Anexo III e IV.
125
4. Discussão dos Resultados
Quem passou pela vida em branca nuvem E em plácido repouso adormeceu
Quem não sentiu o frio da desgraça, Quem passou pela vida e não sofreu...
Foi espectro de homem, não foi homem, Só passou pela vida e não viveu...
Francisco Otaviano
4.1 Palavras de pais: analisando os questionários
Antes de apresentarmos a análise dos questionários respondidos pelos pais,
gostaríamos de tecer alguns comentários acerca do que representou essa primeira parte da
pesquisa.
Inicialmente, como o contato com os pais foi estabelecido por e-mail, em função da
participação destes no fórum de discussão do site PaiLegal, detivemo-nos, exclusivamente, às
informações prestadas por esta via de comunicação. Contudo, alguns pais enviaram cópias
dos processos que enfrentavam na Justiça com a intenção de colaborar. As informações
contidas nesses documentos não serão objeto de estudo e não foram divulgadas na pesquisa
em questão.
Os pais que participaram do levantamento de dados são procedentes de vários estados
brasileiros, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, havendo
um que não vive no Brasil atualmente, mas responde pela acusação em Goiás e no Rio de
Janeiro.
Vale ressaltar que, ao remeterem o e-mail com o questionário preenchido em anexo, os
pais escreveram palavras de interesse e apoio à pesquisa. No entanto, muitos declararam sentir
dificuldade para responder, abalados com as lembranças dos filhos e de todos os obstáculos
interpostos pela mãe destes após a separação conjugal, o que incluía a denúncia de abuso
sexual.
Lembramos, ainda, que o objetivo dessa pesquisa é propor reflexões quanto à prática
profissional do psicólogo no atendimento de casos dessa natureza. Portanto, buscamos
colhetar informações a partir da experiência desses homens diante da acusação de abuso
sexual a fim de problematizar as discussões com os psicólogos.
126
Assim, o que pretendemos é analisar as respostas, destacando os pontos de
convergência e divergência, a lógica que rege as denúncias, com destaque para a descrição
dos atendimentos psicológicos e do funcionamento do nosso sistema judicial, sem a presunção
de criarmos regras ou generalizações.
Finalmente, para uma análise mais didática das respostas, optamos pelo agrupamento
em tópicos guia, em função da grande quantidade de informação recorrente, com
apresentação, simultânea, de fragmentos das declarações dos pais. Também, elaboramos uma
tabela para melhor apresentar os dados dos pais.
O Questionário
Como discutido no capítulo 3, o questionário foi composto por 10 perguntas,
respondidas por 10 pais identificados por números, quesito que garante o anonimato.
Os Pais
A Tabela 4.1.1 dispõe os seguintes elementos de identificação dos casos: número de
identificação do pai na pesquisa, idade; grau de instrução; idade da criança na ocasião da
denúncia; sexo da criança; tempo de afastamento do contato com a criança; ano de início e do
término do processo na Justiça.
Tabela 4.1.1 – Situação atual dos pais
Pai Idade Grau de
Instrução
Nº
Filhos
Idade da
criança
Sexo da
criança
Tempo de
afastamento
Início/término
do processo
01 33 Superior 01 03 M 01 ano 2003/
02 41 Médio* 02 04 F 07 meses 2003/
03 40 Superior 01 05 M 09 meses 2001/
04 46 Médio* 02 05 F 08 meses 2004/
05 33 Superior 02 03 M 03 anos** 2003/
06 28 Superior 01 03 F 03 anos*** 2002/2005
07 39 Superior 05 03 F 02 anos*** 2003/
08 44 Médio 05 05 F 01 ano*** 2004/
09 43 Superior 01 04 F 03 anos*** 2002/
10 52 Médio 03 03 F 03 meses 2002/2004
* Superior em curso ** visita monitorada ou assistida *** permanecem sem ter acesso ao filho.
127
“Tenho dois filhos.. um do meu primeiro casamento e que mora comigo desde 5 anos de idade,
tenho a guarda dele desde os 8 anos... (e uma menina de) 7
anos, do meu segundo casamento e que mora com a
mãe. A denuncia foi feita pela mãe.... O principal motivo da separação foi que a mãe não
aceitou o meu filho... eu teria que escolher entre ela e ele. Em
seguida nos separamos e começaram os problemas,
culminando no processo de abuso sexual”. (Pai 02)
“Aprendi que um homem não tem direito a filho quando a mulher, mãe de seus filhos, não o permitir. Não há instância a que recorrer. Contrariando leis claras, claríssimas” (Pai 10).
De acordo com a organização da tabela, podemos constatar que, em nossa amostra, a
idade dos pais varia entre 28 a 52 anos, com concentração na faixa dos quarenta anos e a
maioria apresenta nível superior completo ou em curso.
Digna de nota é a associação entre o número de filhos e os que foram considerados
vítimas de abuso. Na amostra de pais, todos foram acusados de abusar sexualmente de uma
única criança, não obstante, a maioria ter dois ou mais filhos. A observação dos dados nos
mostrou que apenas 3 pais tiveram mais de um filho com a mãe denunciante e que, nesses
casos, a criança mais nova fora o foco da suspeita de violência paterna, independentemente do
sexo. Portanto, nos demais 7 casos em que o pai tivera um único filho com a mãe
denunciante, a acusação ficou restrita a esta criança.
As crianças, consideradas vítimas de abuso sexual, encontravam-se na faixa de 3 a 5
anos na ocasião da denúncia, sendo 7 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, o que nos
remete aos estudos de Wallerstein e Kelly (1998) que abordam a possibilidade de haver uma
relação entre a idade da criança e sua capacidade para ser sugestionada e formar um
alianhamento com o genitor guardião (mãe).
I – Acusação:
Todos os pais que responderam ao questionário foram acusados
por suas ex-mulheres de abusar sexualmente dos filhos após o
rompimento conjugal, especificamente, após iniciarem processo na
Justiça para regulamentação de visitas e oferecimento de pensão
alimentícia e/ou para alteração da cláusula que determina a posse e
guarda dos filhos, em virtude da
obstrução persistente ao contato com as
crianças nas datas estipuladas para a
visitação.
Verificamos que, os pais acusados presumem a
intencionalidade das acusações feitas pelas ex-companheiras,
argüindo sobre a possibilidade de as mães de seus filhos
apresentarem distúrbios psiquiátricos e/ou ânsia de
vindicação.
128
“...meu advogado disse para passar no escritório dele antes, pois precisava me mostrar algumas coisas. Não entendi muito, mas ele adiantou que minha ex-esposa havia aberto um processo de destituição de pátrio poder. Não entendi nada e permaneci confiante, pois sabia que não havia motivos suficientes para sustentar tal tipo de processo” (Pai 03).
“...eu não sabia o que estava
acontecendo, o que é um absurdo pois a
minha ex-mulher fez essa falsa
denúncia em janeiro e eu só fui saber do
que estava sendo acusado no dia 18 de maio”! (Pai 04).
Observamos que, nos casos em que os pais tiveram filhos de
relacionamentos anteriores (ou posteriores), a acusação recaiu sobre
uma única criança, não existindo qualquer acusação ou impedimento
para visitação ou convívio com os demais filhos. O destaque ficou
para o fato de que alguns desses pais possuem a guarda exclusiva,
enquanto outros, a guarda compartilhada do(s) filho(s) do casamento
anterior.
As instituições que acolheram e notificaram a suspeita de
abuso sexual foram: Conselho Tutelar, Vara da Infância e
Juventude, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Delegacia
Criança e Adolescente Vítima (DCAV), Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente (DPCA).
Constatamos que não houve um procedimento padrão para a notificação dos pais
acerca da existência de denúncia de abuso sexual contra eles. Com exceção de dois homens
que foram notificados por um oficial de justiça e um que foi convocado a comparecer à
delegacia, os demais souberam ou pela mãe da criança ou por ocasião do descumprimento ao
acordo de visitação, quando foram prestar queixa por obstrução na
delegacia e o próprio delegado os informou. Houve, ainda, pais que
souberam junto a seus advogados (contratados para o processo de
separação), que havia algum processo contra eles, impedindo-os de ter
acesso à criança.
A partir da tomada de conhecimento do conteúdo da
notificação, todos os pais constituiram advogados para se defenderem
das acusações. Apenas um recorreu aos serviços de um defensor
público que, logo, foi substituído por um advogado particular.
II – Intervenção:
A decisão de intervir na privacidade de uma família é considerada um grande
complicador, sobretudo nas circunstâncias em que há denúncia de abuso sexual intrafamiliar.
Oliveira (2004) explica que a intervenção dos profissionais de entidades de proteção à criança
nos rumos da vida de uma família é, necessariamente, arbitrária, no sentido de que é
determinada de fora para dentro, “sem ter sido convivado” (p.66). Furniss (2002) demonstrou
129
ter a mesma sensibilidade ao lidar com a intervenção profissional na família com suspeita de
abuso sexual da criança: “a família deixa de ser autônoma. Os deveres legais e de proteção à
criança fazem com que as agências externas sejam responsáveis por intervir, uma vez que o
abuso sexual da criança foi revelado” (p.63).
Várias são as formas de intervenção profissional nos processos judiciais envolvendo
denúncias de abuso sexual contra criança. A primeira grande intervenção é a do Estado,
representado pelas delegacias, Conselhos Tutelares e outras organizações judiciais, como as
Varas da Infância e Juventude. Intervenções de ordem médica, psicológica e social, também
são requisitadas e, atualmente, consideradas imprescindíveis ao trabalho do Ministério
Público, assim como do próprio Juiz. A despeito das peculiaridades que caracterizam cada
área de atuação profissional, todos visam a auxiliar essas instâncias do poder judicial,
fornecendo um panorama da situação em que a criança, considerada vítima de abuso sexual,
está inserida.
Identificamos a atuação de profissionais de Psicologia em todos os casos analisados,
seja profissionais do Tribunal de Justiça (TJ), de instituições de referência para abuso sexual,
seja particulares, todos responsáveis na elaboração de laudos derivados de avaliações
psicológicas. Apesar de, em nosso questionário, não nos referirmos, diretamente, sobre o
estudo social e perícia médica, observamos, por meio do relato dos pais, a participação de
assistentes sociais e médicos legistas nos atendimentos às crianças e seus familiares.
1. Judicial
Partindo da perspectiva judiciária brasileira, Oliveira (2004) explica que a ação penal
de casos envolvendo denúncia de abuso sexual é de iniciativa da própria vítima ou de seus
responsáveis. Contudo, considerando a peculiaridade de crimes praticados contra crianças e
adolescentes, quando o suposto autor é aquele que tem responsabilidade legal por estes,
(genitores ou tutores), a ação penal torna-se pública, de iniciativa do Ministério Público.
“Assim, permite-se a proteção de crianças e adolescentes das arbitrariedades de seus
responsáveis e das limitações impostas pelo exercício do poder autoritário do agressor, por
muitas vezes, sobre os demais familiares que, a princípio, poderiam protegê-los” (OLIVEIRA,
2004, p.140).
A partir desse princípio, alguns procedimentos que visam à garantia dos direitos da
criança são postos em prática, desde o encaminhamento para a delegacia para registro de
130
“Não vejo meus filhos desde o dia em que sai de casa. Obtive alvará provisório, obtive decisão judicial, obtive dois mandados de busca e apreensão... nunca me foi negado o direito de estar com meus filhos... Mas todas essas medidas foram frustradas: a mãe, sempre consegue fugir”... (Pai 05).
“Os juizes em razão de defender os interesses da criança, deveriam manter pelo menos a visita assistida até que se reunissem todas as provas cabíveis para o real afastamento do pai” (Pai 09).
ocorrência e ao IML para exame de corpo de delito, até a determinação, por ordem judicial,
impondo a separação imediata do suposto abusador de sua vítima.
Nos casos em que as alegações de abuso sexual estão
inseridas no contexto da separação conjugal, constatamos que a
principal conseqüência é o total afastamento do genitor acusado,
normalmente o pai não-guardião, pela suspensão de visitas como
medida judicial preventiva.
Verificamos, também, que, para manter o afastamento,
algumas mães associam a suspensão de visitas a processos outros,
como: destituição do poder familiar e adoção por cônjuge.
De acordo com o promotor de justiça De Paula (2004), para haver o afastamento entre
pai e seu filho, durante o período de investigação de denúncias de abuso sexual, bastaria haver
ameaça ao direito da criança à convivência familiar saudável e a um desenvolvimento sexual,
também, saudável, como preconiza o Art.98 da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Segundo o autor, o próprio Conselho Tutelar pode determinar o
afastamento da criança como medida protetiva, enquanto outras resoluções como, por
exemplo, a perda ou modificação da guarda, suspensão ou destituição do poder familiar, são
prerrogativas do Poder Judiciário, por iniciativa do Ministério Público.
Porém, De Paula (2005) adverte: “não se deve pensar logo de início em medidas que
separem a criança ou o adolescente de sua família” (p.34). Tal advertência vai ao encontro
com a perspectiva do Princípio Constitucional da Presunção da Inocência, uma regra de
tratamento dirigida ao juiz que visa, entre outros objetivos, ao controle
do emprego de medidas de restrição ao exercício de direitos
fundamentais, como, por exemplo o do convívio entre pais e filhos.
Nesse sentido, um recurso plausível e sustentado por Cárdenas
(2000), sobretudo no contexto da separação do casal quando falsas
denúncias de abuso sexual emergem, é considerar a opção de visita
assistida ou monitorada66, até que não reste dúvidas quanto à
veracidade ou não das acusações.
66 Na França, existem os Pontos de Encontro, um programa que pais e filhos fiquem juntos em uma casa, especialmente, preparada para esses encontros. Profissionais de saúde acompanham a fim de promover esta relação.
131
“Ela se casou com um japonês e disse que queria ir morar no Japão.. meu filho não conseguiu visto... a mãe decidiu que eu deveria abrir mão da paternidade para que o padrasto adotasse meu filho. Não concordei... e a partir de então passei a ser hostilizado... As visitas passaram a ficar cada vez mais difíceis... Assim combinei com meu advogado de entrar com a ação de regulamentação de visitas... e logo em seguida houve a denúncia de ter feito sexo na frente do meu filho com outras pessoas” (Pai 03).
“A mãe mudou de cidade e parou de
levar meu filho ao atendimento do
CACAV, que assim ficou
impossibilitado de fazer qualquer
laudo” (Pai 01).
Em nossa análise dos dados, pais e filhos ficaram sem ter qualquer tipo de contato
durante um período que variou entre 07 meses a 03 anos.
Em um caso, único neste estudo, o pai acusado recebeu o direito à visita assistida ou
monitorada por um profissional determinado em juízo (assistente
social), contudo, as visitas não puderam ocorrer em razão das
constantes mudanças de domicílio da mãe com a criança.
Foi surpreendente constatar que, na maioria dos casos, a mãe
passou a residir com a criança em outra cidade ou estado, por vezes,
sem informar seu endereço. Tal estratégia pode ser compreendida como
uma forma de prorrogar ou obstruir o processo de investigação judicial,
seja não comparecendo aos atendimentos psicossociais, seja evitando citações pela Justiça,
conseqüentemente, postergando qualquer medida que beneficie ou facilite o acesso do pai à
criança.
Outro aspecto que nos atraiu o interesse residia no fato
de que a ação principal, movida contra dois pais de nossa
amostra, era de destituição do Poder Familiar cumulado com o
pedido de adoção pelo padrasto. Nesses dois casos, em
particular, a acusação de abuso sexual compunha uma ação
cautelar67. Percebemos, contudo, que os pais não apresentavam
grandes queixas em relação ao cumprimento das regras
estipuladas para as visitas até o momento em que as ex-
companheiras casaram-se novamente. Diante dessa nova
perspectiva, a alegação de abuso sexual pode ser entendida
como intencional, fator decisivo na separação entre pai e filhos,
por meio da ação de destituição do poder familiar.
67 Ação Cautelar visa prevenir a eficácia futura do processo principal com o qual se ache relacionada (Costa e Aquaroli, 2005).
132
“Houve uma avaliação com uma assistente social... a assistente
social fez um levantamento junto as
escolas que minha filha freqüentava, conversou
comigo, minha mãe, meu filho, minha filha e a mãe dela e fez uma avaliação solicitando
que deveria voltar a ter acesso a minha filha,
mesmo que acompanhado”
(Pai 02).
“Primeiramente, sabendo que o suposto abuso não tinha partido de mim e nem de minha família, preocupado pedi que fosse feito imediatamente um exame de corpo delito em minha filha para saber se ela realmente havia sido abusada, sendo comprovado que não” (Pai 06).
2. Médico Legal
Em nosso estudo, apenas 3 pais relataram haver, no processo,
solicitação para que a criança fosse submetida ao exame de corpo de
delito, indicação cumprida após a ingerência do advogado da parte
acusada, em virtude de a mãe guardiã não ter requerido o exame ou
não haver encaminhado a criança para realizá-lo. Mesmo quando os
resultados se mostram negativos para abuso sexual, o exame não é
considerado conclusivo, tendo em vista o intervalo de tempo
transcorrido entre a suposta ocorrência do abuso e a realização do
exame, assim como nas circunstâncias em que o abuso não gera
marcas, como nas carícias, por exemplo.
No entanto, nossa experiência tem apontado que, geralmente, as mães que declaram
falsas denúncias não percorrem clínicas ou hospitais em busca de
atendimento médico especializado para os filhos, pelo contrário,
tendem a evitar, inclusive, o exame de corpo de delito no IML,
indicado e requisitado – porém não obrigatório – pelo próprio
Conselho Tutelar.
3. Social
De acordo com Pizzol (2005), o estudo social é instrumento
pelo qual o assistente social analisa e apresenta seu trabalho técnico-
científico frente a uma realidade específica, vivida por sujeitos ou
grupos sociais.
Nosso estudo identificou a solicitação desse trabalho em 3
casos analisados. Isso não implica que os demais não tenham recebido atendimento
psicossocial: trata-se de um procedimento padrão em casos de suspeita de abuso sexual contra
criança, mormente, ordenado no campo judicial.
133
“FIA... elaborou um laudo parcial onde foram feitas algumas entrevistas somente com a minha filha e a mãe... a mãe utilizou-se deste para fundamentar a ação inicial para justificar o suposto abuso, já que o laudo concluía que minha filha “estaria vivenciando sensações de alto cunho sexual” (Pai 09).
“Eu senti na pele, como os profissionais... estão
despreparados. Minha Ex- mulher levou... a criança
para o Conselho Tutelar... li no relato do atendimento...
“A mãe pediu para que a criança me contasse como foi
e ela disse que tinha esquecido e que gostava do
pai e de ir para a casa dele”. Essa pessoa não poderia ter tomado outra atitude, como
me chamar lá e conversar comigo?.. isso não teria
tomado as proporções que tomou envolvendo tanta
gente, tanto sofrimento! No entanto a psicóloga insistiu
que a mãe fosse logo à delegacia prestar queixa...
Para ela, eu já estava condenado e teria que ser
preso”! (Pai 04).
4. Psicológica
Em relação à intervenção psicológica, foco de nossa
pesquisa, verificamos que a avaliação psicológica se trata de um
procedimento que ocorre, em algumas situações, mais de uma vez.
Chamou-nos a atenção o fato de que, em alguns casos, os processos
judiciais foram precedidos de avaliações psicológicas das crianças,
realizadas por psicólogos ou educadores conhecidos da mãe, em
consultórios particulares e/ou escolas. As mães denunciantes,
munidas dessas avaliações parciais, ao ingressarem na Justiça,
apresentaram os laudos como a principal prova da ocorrência de
abuso sexual.
O Conselho Tutelar, instituição para notificação de queixas
de abuso sexual, também foi citado como responsável pelos
encaminhamentos para avaliação psicológica.
Oliveira (2004) e Eich (2004) explicam que a atuação
do Conselho Tutelar deve estar baseada nas atribuições
designadas no artigo 136 do ECA. Segundo Eich (2004),
assistente social e conselheira tutelar no município do Rio de
Janeiro entre os anos de 1996 a 2002, apesar de os Conselhos
Tutelares receberem relatos de suspeita de abuso sexual, com
ou sem contato físico, a atribuição do diagnóstico é de
competência dos serviços técnicos especializados. A autora
esclarece que uma das atribuições do conselheiro “é estar
atento aos sinais, tendo sensibilidade para identificá-los em seu
atendimento e encaminhar os casos para profissionais
habilitados investigarem melhor” (p.96). Nesse sentido,
Oliveira (2004) enfatiza que, nas circunstâncias em que há
necessidade de um diagnóstico específico ou de uma
intervenção técnica, o conselheiro deve “encaminhar o caso
para um profissional, programa ou instituição competente para
realizá-lo/a” (p.61).
134
“Meu filho foi encaminhado pra ABRAPIA...Eu não fui procurado... Compareci voluntariamente porque eu “corri atrás” e descobri que meu filho estava lá. Fui muito mal atendido... a psicóloga disse que não tinha obrigação de fazê-lo “porque seu foco é a criança”. Com relação às denúncias, declarou estar plenamente convencida das alegações da mãe” (Pai 05).
“...pedi que fosse analisado pela
mesma psicóloga da FIA que me acusou
taxativamente de ter abusado minha
própria filha sem nunca ter me visto
na vida, pois nunca fui por ela
atendido”(Pai 06)
“Ele (filho) também já foi entrevistado pela
perita que detectou que ele está sendo incapaz de manifestar opiniões
próprias e ele tem se sentido como se fosse
um robô tendo que repetir frases prontas...
a perita foi a única pessoa que até o
presente momento me respeitou como pai de meu filho”. (Pai 03).
Desta forma, os Conselhos Tutelares podem encaminhar a mãe, juntamente com a
criança, suposta vítima de abuso sexual, para entidades de referência na avaliação de casos de
abuso sexual de crianças ou para os serviços de Psicologia das Varas
da Infância e Juventude.
De acordo com os dados da amostra, a partir da notificação e,
conseqüente, instauração de Pedido de Providências (investigação), os
casos foram encaminhados para (novos) estudo social e avaliação
psicológica, mormente, com profissionais funcionários do Tribunal de
Justiça (TJ) e/ou para as instituições de referência no atendimento a
casos de suspeita de abuso sexual contra crianças: ABRAPIA,
CACAV, Clínica da Violência, FIA, e SPA da UERJ. A exceção de um caso, em que foi
instaurado processo penal e determinada a prisão do acusado,
apenas com o laudo psicológico elaborado por uma psicóloga
particular e oferecido como prova na ocasião da notificação.
Após a execução do recurso de Habeas corpus, este pai teve
assegurado o direito de aguardar o julgamento em liberdade e
contratou um assistente técnico em Psicologia para contestar o
laudo apresentado.
No entanto, verificamos que o encaminhamento da
criança para avaliação psicológica nos referidos serviços de
referência não é garantia de que os pais acusados serão
atendidos, sendo que muitos declararam não haverem sido
convocados a comparecer para uma única entrevista. Diante dessas
circunstâncias, o trabalho do assistente técnico é requisitado pelo
advogado da parte acusada a fim de promover, posteriormente, a
análise desses documentos.
Relataram, os pais, que a solicitação feita para serem
atendidos pela mesma instituição que assistiu aos seus filhos, não
foi acolhida, o que não impossibilitou, ao profissional de Psicologia,
elaborar um laudo acusando-os. Entretanto, quando os casos foram
encaminhados aos psicólogos do Juizado da Infância e Juventude –
7 entre 10 pais – declararam terem sido entrevistados por psicólogos
135
“O atendimento feito pela psicóloga do fórum, não foi muito bom, pois o local era inadequado e
a forma que foi feita... não foi muito séria... tive problemas com o
Conselho Tutelar e na Delegacia da Criança e
do Adolescente onde fui registrar reclamações
sobre o impedimento de ver minha filha em dias
de visita e fui muito mal tratado, como se eu
não tivesse direito de reclamar e a mãe fosse soberana nas decisões,
apesar de estar infringindo uma
determinação judicial” (Pai 02).
“No Fórum sempre fui tratado como acusado... passei a perceber que a psicóloga do Fórum passava informações truncadas ao juiz e muitas vezes este se manifestou contra minha pessoa” (Pai 03).
judiciários.
A passagem das crianças e familiares, pelos serviços de referência, Conselhos
Tutelares e delegacias, permitui-nos observar que, em todos os casos relatados pelos pais,
havia a solicitação de inúmeros procedimentos e intervenções na assistência à mesma criança,
o que se configura na circulação desta pelo labirinto das acusações.
Um dos pais relatou a realização de 09 procedimentos de avaliação de sua filha em
instituições diversas, a citar: Conselho Tutelar; Vara da Infância e Juventude; Fundação para a
Infância e Adolescência (FIA); Instituto Fernandes Figueira; Clínica da Violência; Instituto
Médico Legal (IML); Delegacia da Criança e do Adolescente
Vítima (DCAV), Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (IPUB).
A capacitação profissional dos psicólogos que atuam no
atendimento a casos de suspeita de abuso sexual e a qualidade dos
laudos elaborados foram, portanto, tema merecedor de discussões
constantes pelos pais que responderam ao questionário.
III – Qualificação profissional e laudos
No levantamento que realizamos com os pais, predominou a
opinião quanto ao despreparo dos profissionais responsáveis pela
assistência a casos de suspeita de abuso sexual envolvendo
crianças.
Para Flores & Caminha (1994, p.158), há um “despreparo
generalizado envolvendo desde os profissionais da área de saúde,
educadores e juristas até as instituições escolares, hospitalares e
jurídicas, em manejar e tratar adequadamente os casos surgidos”.
Tal dado contrasta, no entanto, com a crescente atenção por parte
dos pesquisadores para o tema do abuso sexual de crianças
(AMAZARRAY & KOLLER, 1998).
Gonçalves (2004b, p.53) orienta que “deve haver uma
exigência de uma certa ampliação do olhar, de forma a que se possa
ver para além do ato abusivo e ser capaz de apreender, no padrão de
relacionamento familiar, qual é a demanda da criança, qual é a
136
“Foi feita uma avaliação do fórum... apesar de
todos os relatos e evidencias... a psicóloga
preferiu não se “queimar” com a colega de profissão
e fez um laudo dizendo que... não tinha condições
de emitir qualquer opinião.... Este laudo foi
tão tendencioso que a juíza o anulou” (Pai 02).
“No laudo da psicóloga... Ao contar sobre o histórico de minha experiência sexual na infância e juventude, ela resume...“estranha sexualidade”. Isso foi um choque. A mãe me acusara... de ter lhe sugerido sexo com um cão. Quando defendi meus direitos como pai, a psicóloga levantou o livrinho do ECA e me deu a entender que a mãe tinha plenos poderes” (Pai 10).
“Foi feito um laudo psicológico (em 2 sessões)
onde a psicóloga afirmava que eu tinha uma conduta
desviante. Nunca falei com esta psicóloga, ela
nunca entrou em contato comigo para comunicar
que iria fazer alguma avaliação ou
acompanhamento psicológico com a minha
filha” (Pai 02).
demanda dos adultos, e qual é a possibilidade de interlocução entre elas”.
De acordo com as informações prestadas, seriam muitos os
pais que não receberiam atendimento das instituições de
referências para avaliação de abuso sexual em crianças caso não
tivessem solicitado pessoalmente. Contudo, quando atendidos, a
postura dos profissionais era, segundo relatam, de considerá-los
culpados de antemão. Com poucas exceções, os pais, também
fizeram queixas a respeito do trabalho desenvolvido pelos
psicólogos judiciários, considerados, por muitos, como
tendenciosos.
No que se refere aos atendimentos prestados pelos
psicólogos do TJ aos pais, os relatos apontam para um grau de
satisfação, em virtude de terem sido ouvidos em sua versão da
história.
Em relação ao laudo psicológico, considerado o
fechamento do trabalho de avaliação psicológica desses
profissionais, o conteúdo expresso neste documento, conforme
explorado no capítulo 1.6 desse trabalho, deve ter respaldo nos
instrumentos e conhecimentos técnico-científicos,
comprovadamente reconhecidos pelo Conselho Federal de
Psicologia como pertencentes à função e prática dos psicólogos e
estar, adequadamente, fundamentados. Do mesmo modo, o
profissional deve se reportar ao Código de Ética profissional,
incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratando
todas as pessoas com dignidade.
Rauter (1989) faz uma crítica à avaliação psicológica com
base na reconstituição da história de vida do acusado ou
condenado. Descrita como “uma mirada em direção ao passado
do indivíduo” (p.13), este tipo de avaliação psicológica presta-se,
muitas vezes, a buscar a confirmação da existência de
acontecimentos na vida do acusado que, pela própria natureza,
são geradores de crime. Nesse sentido, a autora afirma que a
137
“...a promotora está tentando... colocar uma equipe de psicólogas que estiveram acompanhando o meu filho e afirmaram que eu sou culpado sem nunca haverem conversado comigo. Essa equipe emitiu um laudo e a partir de então abrimos uma representação no CRP... Está em andamento essa outra representação. A respeito dessa promotora” (Pai 03).
“Estou com processos no Conselho Regional de
Psicologia contra psicóloga... Os psicólogos, assim como os
conselhos de psicologia deveriam fazer um trabalho de
conscientização com os profissionais para que eles sejam mais cuidadosos na
emissão dos tais “laudos”. Na minha opinião sei que posso
encontrar algum psicólogo que fará o laudo que eu quiser com os termos que eu quiser, como
foi feito pela mãe de minha filha. Conheci muitos
psicólogos durante toda a minha caminhada para provar
o que não fiz, e estes são profissionais sérios e que
jamais fariam este tipo de coisa” (Pai 02).
história pregressa “é uma montagem, cuja finalidade é confirmar, no indivíduo, o rótulo de
criminoso” (p.13).
Muitos pais se queixaram de não haverem sido comunicados pelos psicólogos de que
os filhos estavam em terapia ou em avaliação psicológica, contrariando o que determinava o
Art. 2ª alínea “i” do Código de Ética do Psicólogo, Resolução CFP Nº002/1987, vigente à
época em que os pais situaram a realização dessas avaliações, o qual sustenta que o
atendimento a menor impúbere deve ser do conhecimento dos seus responsáveis.
Nessas condições, os pais têm buscado esclarecimento, punição e reparação nas
Comissões de Ética dos Conselhos Regionais de Psicologia, a partir de denúncias feitas contra
os psicólogos por emissão de laudos sem fundamentação
técnico-cintífica, cuja participação dos pais nas avaliações foi
inexistente ou mínima.
IV – Denúncia ao Conselho Regional de Psicologia
A forma de atuar do profissional é fundamental, pois
ele pode disponibilizar seus conhecimentos e sua escuta para
contribuir no esclarecimento desses casos. Entretanto, o
profissional que procede com a revelação do abuso sexual
com a criança a partir da escuta da
alegação da mãe, furtando-se a
receber os outros familiares e,
principalmente, o pai acusado, sob o
mero pretexto de que o abuso sexual
foi revelado pela criança, deve refletir
se foi capaz de exercer seu trabalho
com técnica, lisura e ética.
Assim, legitimar um trabalho em que se pretende avaliar a
ocorrência de abuso sexual contra uma criança e definir a identidade
do agressor, cuja participação do pai no processo de avaliação foi
excluída, dá margem para que ocorra a manutenção de velhos olhares
e paradigmas, de hábitos viciosos que, de acordo com Gonçalves
(2004b), nos faz autores da permanência. Para a autora, “...será
138
“Minha filha fez um acompanhamento
psicológico... por 5 meses, onde a mãe
solicitou o laudo e a psicóloga não emitiu por
não ter encontrado nenhum indicio de
abuso sexual. Com esta negativa a mãe,
orientada por uma advogada, entrou em
contato com outra psicóloga que fez o
laudo... com apenas 2 sessões... no período de uma semana” (Pai 02).
impossível pensarmos as singularidades, as novas alternativas. O hábito vicioso (...) aprisiona
a criança na reação esperada a partir da literatura, cristaliza suas reações e impede a nós,
técnicos, de vermos sua capacidade de reagir às situações particulares” (p.56).
Contudo, o que os pais nos trouxeram como informação foi que, sobre o pretexto de
que psicólogos não são obrigados a atender ao pai acusado, mas apenas a criança, eles não são
ouvidos antes e/ou durante o processo de acusação e investigação da denúncia.
Desta forma, alguns pais ingressaram com denúncia e pedido de abertura de processo
ético (Representação) contra os profissionais de Psicologia em função da elaboração de
laudos psicológicos, cujo conteúdo os implica como autores do abuso sexual dos próprios
filhos sem que tenham sido chamados a prestar sua versão dos fatos
ou simplesmente, serem entrevistados. O (mau) tratamento
oferecido a esses pais, por vezes, como se culpados fossem, também
foi merecedor de reclamações, conforme destacado anteriormente.
Outro aspecto relevante relatado pelos pais nos
questionários, foi que alguns psicólogos, cujo contrato com a
criança é, exclusivamente, terapêutico ou clínico, têm emitido
laudos psicológicos conclusivos para abuso sexual após solicitação
das mães. Nessas circunstâncias, o psicólogo responsável pelo
atendimento psicoterápico, ao emitir um laudo com informações
obtidas durante o processo terapêutico, estaria quebrando o contrato
terapêutico que prevê o sigilo entre paciente-terapeuta.
Apesar de a quebra de sigilo estar prevista no Código de Ética Profissional do
Psicólogo (Art.10), este deve se restringir às informações, estritamente, necessárias. Neste
caso, o que o terapeuta poderá fazer é encaminhar a criança para realizar avaliação
psicológica com profissional especilizado. Com esse procedimento, o psicólogo poderá
manter as responsabilidades e compromissos que assumiu com a criança, resguardando a
relação terapêutica.
Orientação que identificamos também em Ceci e Bruck (2002) e Ceci e Hembrooke
(2002). Os autores recomendam que, mesmo que os terapeutas estejam capacitados para tratar
de crianças sexualmente abusadas, podem não estar capacitados para investigar estas
ocorrências, tarefa esta da responsabilidade dos serviços especializados.
139
“Infelizmente as ações não se traduzem em mudanças imediatas o que tem acarretado muita expectativa e possibilidades de reviravoltas. Veja que já são muitos anos convivendo com um processo que não tem sentido e razão alguma para melhorar a qualidade de vida de quem quer que seja. Aparentemente é apenas um instrumento de vingança da mãe que acarreta sofrimento em todos envolvidos” (Pai03).
“E que a justiça seja mais rápida na
elucidação desses casos e não apenas atuando de
forma drástica e desumana como foi meu caso, me pré-julgando e
me aplicando por antecipação a mais cruel
das penas, a proibição por 3 anos de ver, ouvir e saber da minha filha”
(Pai 06).
No entanto, o relato de alguns pais apontou para a intenção de a mãe obter um
documento psicológico apenas para ingressar na Justiça com uma alegação de abuso sexual de
pais contra filhos, haja vista que, se o psicólogo não constatar a ocorrência de abuso e,
portanto, não emitir o documento, o tratamento psicoterápico é interrompido pela mãe da
criança e um novo psicólogo é contratado para os mesmos fins.
Em um dos casos relatados, a mãe teria retirado a criança do atendimento e, ainda,
prestado queixa da psicóloga ao plano de saúde após esta ter ser recusado a elaborar um
documento logo no início dos atendimentos, quando a queixa da criança era de outra ordem.
V – Morosidade da Justiça
Um aspecto apresentado nos questionários analisados foi a
queixa em relação ao tempo em que os processos tramitam na
Justiça.
A partir da notificação e, conseqüente afastamento dos
filhos, os pais alegam ficar meses ou anos sem poder vê-los, em
uma longa espera para recuperar o direito de conviver com suas
crianças. Nos casos em que há litigância de má fé, apelações e
recursos meramente protelatórios, também podem postergar, por
anos, o fim desses embates na Justiça. Intervenções e avaliações
psicossociais são solicitadas inúmeras vezes, em função da insatisfação das partes quanto aos
resultados alcançados pelos profissionais. Em determinados
casos, houve queixa de interferência das próprias mães que
deixaram de levar as crianças, consideradas vítimas de abuso
sexual, para a assistência terapêutica ou para os atendimentos
destinados à avaliação psicológica, assim como se ausentaram
de suas casas ou fugiram das intimações judiciais.
Segundo Rodrigues (2004), a morosidade da Justiça é
fator principal de injustiça, no sentido de que Justiça que tarda,
falha, contrapondo-se ao ditado de que a “Justiça tarda, mas não
falha”. Para o autor, o fator tempo é preponderante em relação a
outras garantias, o que implica em quanto maior o tempo entre o
fato a ser apurado e seu julgamento, menores condições o órgão
140
“Trata-se de um jogo de poder onde as forças têm se mantido equilibradas para
que a situação atual se prolongue. Somente quando
houver um desequilíbrio é que a situação vai se
modificar... Hoje existe uma postura... dos advogados onde se cria vencedores e perdedores, mas quando
envolve uma criança... somente teremos perdedores
independemente do processo” (Pai 03).
“Enfatizo que é um desespero... Aprendi que
um homem não tem direito a filho quando a
mulher, mãe de seus filhos, não o permitir.
Não há instância a que recorrer. Contrariando
leis claras, claríssimas” (Pai 10).
“Continuei telefonando todos os dias pra minha filha... Não falava com ela a respeito desse assunto. Não havia mais nada que pudesse fazer além de esperar a decisão da justiça” (Pai 04).
“Muita tristeza pela situação que meus filhos devem estar passando por causa da mãe; revolta, pelo despreparo das instituições e preconceito de juízes, promotores e entidades de assistência à criança; e um grande sentimento de impotência” (Pai 05).
julgador tem de solucionar com segurança e justiça o litígio.
VI - Sentimento de impotência e disputa de poder:
Chamou-nos a atenção o fato de o questionário haver
sensibilizado os pais, que trouxeram depoimentos carregados de
sentimentos conflitantes. Muitos alegavam que, ao mesmo tempo
em que tinham forças para enfrentar as adversidades para poderem
estar com os filhos novamente, havia uma
sensação de impotência que os paralisavam. Diante da incerteza, os
pais não poderiam planejar o futuro, porém aguardá-lo de forma
angustiante, indignada e deprimida: um futuro o qual os condenará ou
os absolvirá.
Apresenta-se, também,
preponderante, nas respostas emitidas
pelos pais, a presença de uma força que
os impulsiona ao ataque e à defesa, que os convoca para uma
disputa de poder com suas ex-companheiras, as quais parecem
recrutar, como aliados na batalha, os profissionais de Psicologia
e operadores do Direito.
Finalmente, apontam, com
indignação e revolta, para o resultado
desses embates: a injustiça gerada em
função do desconhecimento e falta de
capacitação dos profissionais responsáveis pelos atendimentos de
casos de denúncia de abuso sexual contra crianças e, principalmente,
o sofrimento dos próprios filhos.
141
4.2 Psicólogos no labirinto das acusações
Não é porque certas coisa são difíceis que nós não ousamos. É justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis
Sêneca (4AC-65DC)
Labirinto das Acusações, título desse trabalho, faz uma analogia ao Labirinto de
Dédalo, descrito na Mitologia Grega e representa um local de inúmeras passagens que
parecem conduzir ao mesmo lugar, sem começo, nem fim. Como um tributo a Minos, rei de
Tebas, pais e filhos, ao cruzarem por uma das portas de entrada do fluxo de defesa dos
direitos (FALEIROS et at., 2001) com uma queixa de abuso sexual, atravessam o pórtico do
labirinto, perfazendo caminhos marcados por uma linha de ordens judiciais, durante anos, até
quando os sucessivos procedimentos das áreas psicológica, social, médica, pedagógica e
jurídica exaurirem suas funções.
Os psicólogos, encarregados de atuar como peritos ou especialistas nesses casos,
construíram uma posição firme, de referência, assumindo o papel, quase missionário, de fazer
com que crianças revelem ou esclareçam as condições que envolvam o suposto abuso sexual
que teriam sofrido.
Considerando-os como parte integrante e fundamental dos processos que investigam
denúncias de abuso sexual de pais contra filhos, elaboramos nossa pesquisa com o propósito
de compreender como os psicólogos que atuam em instituições de referência à avaliação de
casos de suspeita de abuso sexual contra criança desempenham suas atividades. Para tanto,
dois aspectos fundamentais foram levados em consideração: a perspectiva do pai acusado e a
possibilidade de existirem falsas denúncias de abuso sexual de pai contra filhos no contexto
da separação conjugal.
Nossa primeira orientação quanto a qual psicólogo convidar para a pesquisa foi
providenciar uma seleção das instituições, privilegiando àquelas citadas pelos pais que
responderam ao questionário. Outro fator determinante na seleção das instituições foi o
reconhecimento e/ou notoriedade dessas no estado do Rio de Janeiro, na referência de
avaliação psicológica em casos de suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Portanto, foram pré-selecionadas 9 instituições, a citar: ABRAPIA, Centro de Atendimento a
Crianças e Adolescentes Vitimados (CACAV), Clínica da Violência, Conselho Tutelar68,
68 Não informamos qual a região do CT pertence a psicóloga a fim de garantir seu anonimato.
142
Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), Núcleo de Atenção à Vítima (NAV), Núcleo
de Psicologia das Varas de Família e Programa Sentinela de dois municípios69, em que
optamos por entrevista um psicólogo de cada uma das instituições destacadas.
O contato inicial com as instituições foi realizado de três diferentes formas: por e-mail,
telefone/fax e/ou pessoalmente. Dessas 9 instituições, duas não responderam as tentativas de
contato para solicitar e agendar uma entrevista com um de seus psicólogos. Uma instituição
respondeu por e-mail à solicitação, na qual recusou receber a pesquisadora, alegando questões
de cunho ético. Uma outra instituição, apesar de ter recebido a pesquisadora para entrevista,
suas atividades não se encaixavam no perfil de análise proposto neste estudo sendo, portanto,
os dados desconsiderados. Desta forma, entrevistamos, no total, 5 profissionais de Psicologia
(de 5 instituições diferentes), todos do sexo feminino. Cabe ressaltar que não houve
interferência da instituição quanto à escolha dos profissionais que participaram da pesquisa.
A pesquisadora foi muito bem recebida por todas as psicólogas, que se mostraram
bastante solícitas em colaborar com a entrevista e em discutir o tema, assim como de saber os
resultados após a conclusão da pesquisa.
As entrevistas levaram, em média, 1 hora de duração e foram agendadas pelos próprios
psicólogos entrevistados, com hora e dia pré-determinados. Apenas uma das entrevistas foi
realizada logo após o convite pessoal, por haver disponibilidade da psicóloga naquele
momento. Vale ressaltar que duas entrevistas ocorreram na instituição, as demais foram
marcadas em outros espaços a critério das psicólogas. Este fato mostrou-se relevante na
medida em que, no primeiro semestre de 2006, ou as instituições estavam, com as atividades
encerrradas em razão do término do financiamento do projeto, ou estavam reiniciando o
trabalho após um período de 6 meses de paralisação por ausência de repasse de verbas ou
pagamentos a serem feitos pelo Governo.
Por questões éticas, as psicólogas convidadas foram informadas, individualmente,
sobre os objetivos da pesquisa, concordando em serem entrevistadas. Autorizaram também,
por meio de um termo de consentimento fornecido em três vias (uma para o psicólogo, outra
para a pesquisadora e uma última para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do
Instituto de Psicologia da UERJ), a divulgação dos dados obtidos.
À semelhança da discussão das respostas dos questionários dos pais, incluímos trechos
das entrevistas com as psicólogas a fim de compor a discussão dos dados.
69 Os municípios não foram informados para garantir o anonimato das psicólogas.
143
“Tivemos 3 dias de treinamento... com
profissionais experientes no atendimento a
crianças abusadas” (Psi 05).
O roteiro de entrevistas
Como discutido no capítulo 3, o roteiro de entrevista foi composto por 19 perguntas
que foram feitas a 5 psicólogas identificadas por números (de 01 a 05), quesito que garante o
anonimato.
Os psicólogos
A Tabela 4.2.1 dispõe os elementos de identificação dos psicólogos entrevistados:
número de identificação do psicólogo na pesquisa; idade; ano de conclusão do curso de
Graduação em Psicologia e ano de início das atividades na instituição.
Tabela 4.2.1 – Perfil das psicólogas
Número Idade Graduação Início na instituição
01 33 1995 2003
02 37 1992 2005
03 50 1985 1990
04 26 2002 2004
05 35 1994 2005
I. Formação e Capacitação:
As psicólogas entrevistadas se encontram na faixa etária dos 26
aos 50 anos, havendo se graduado em Psicologia em período que varia
de 4 a 21 anos.
A maioria iniciou suas atividades em consultório particular ou
em instituições não relacionadas à violência contra crianças e
adolescentes. Após o término da graduação, algumas psicólogas deram continuidade aos
estudos, realizando formação ou especialização em Psicanálise, Psicologia Humanista e/ou
mestrado em Psicologia Clínica.
Quando ingressaram nas instituições de referência para avaliação de casos de suspeita
de abuso sexual contra crianças, a maioria das psicólogas respondeu não possuir capacitação
ou treinamento específico para o trabalho. Uma das psicólogas informou que, com a
substituição da primeira equipe que atuava na instituição, a qual havia recebido treinamento à
144
“Estou sempre lendo a respeito,
procurando me aprimorar, mas não
há capacitação. A capacitação, que
não é bem capacitação, não
capacita muita coisa” (Psi 01).
“Não tenho estrutura para atender os casos de denúncia de abuso sexual, de modo que encaminho para avaliação... Não gosto de fazer parecer, faço muito pouco porque sei que pode ser até considerado sem validade, porque não tenho estrutura” (Psi 01).
época de sua constituição, não houve oferta de treinamento para a
equipe nova, que ingressou tendo que assumir os atendimentos da
equipe anterior.
Corroborando a constatação de diversos autores
(AMAZARRAY & KOLLER, 1998; FLORES & CAMINHA, 1994;
NJAINE et al., 1997), assim com a queixa dos pais que responderam
ao questionário, pudemos perceber a capacitação profissional
necessária ao atendimento à violência sexual, por vezes, não se faz
acompanhar à necessidade e importância deste trabalho, muito em
função da falta de investimento da instituição na qualificação de seus
funcionários.
Costa (2000) e Dias (2005) enfatizam que o trabalho do profissional de Psicologia é
fundamental no âmbito jurídico, cujo conhecimento técnico auxiliará o magistrado em seu
julgamento, o que torna imprescindível a qualificação. De acordo com Costa (2000, p.113), é
preocupante saber que muitos psicólogos não se sentem aptos a elaborar um laudos em função
de pouca experiência de trabalho na área. Nas palavras da promotora de justiça: “Isso me fez
refletir sobre a importância de que os psicólogos (...) invistam em cursos de capacitação em
abuso sexual, pois o laudo de vocês é fundamental, é a prova que precisamos nesses casos”.
Todas as psicólogas relataram necessidade de buscar algum
curso de capacitação, de estarem participando de grupos de discussão,
fóruns e congressos sobre o tema, assim como, de se dedicarem aos
estudos com bibliografia especializada. Algumas já haviam se
queixado, junto à instituição, da carência de treinamento específico, de
modo que foi-lhes financiado alguns cursos especializados.
II. Atuação na área e atribuições
Todas as psicólogas têm por principal atividade o atendimento a menores de idade e a
seus responsáveis em casos de suspeita de abuso sexual da criança, cuja finalidade é a
avaliação psicológica da criança para verificação da ocorrência ou não do suposto abuso.
Algumas psicólogas acumulam outras funções, incluindo assistência terapêutica,
administrativa e/ou ensino e supervisão.
145
“Falta psicopedagogos, fono, mais psicólogos e até de advogado. Não há uma equipe grande para que possa ser chamada de equipe multidisciplicar” (Psi 01).
“Não há supervisão dos casos. A equipe se
reúne uma vez por mês para poder
discutir o trabalho e não os casos. Sinto
falta. Gostaria de ter mais tempo para
fazer essas reuniões, mas somos em
número pequeno e temos muitos casos
em atendimento” (Psi 04).
III. O trabalho em equipe multidisciplinar
De acordo com a maioria das psicólogas, os trabalhos são
desenvolvidos a partir do funcionamento de equipes
multiprofissionais compostas por assistentes socias, educadores e/ou
médicos. A despeito de existir atividades em equipe, algumas
psicólogas se queixaram do reduzido número de funcionários e da
carência de profissionais de outras áreas, como da Psicopedagogia,
Direito e Fonoaudiológia para complementar as atividades. Apenas
uma psicóloga relatou trabalhar em instituição que mantém uma
equipe formada, exclusivamente, por psicólogos. Acrescentou que esta equipe não mantém
uma rotina preestabelecida de reuniões entre seus profissionais para discussão dos casos
atendidos, exceto quando há necessidade ou quando o caso é atendido por mais de um
psicólogo. Portanto, reuniões de equipe seriam da iniciativa e necessidade dos próprios
psicólogos em casos pontuais.
As psicólogas informaram também, que realizam reuniões de equipe com
regularidade, para discussão dos trabalhos desenvolvidos na instituição. No entanto, uma das
psicólogas lamentou não dispor de tempo livre para promover reuniões mensais freqüentes em
razão da enormidade de casos em atendimento. Relatou sentir falta de trocar idéias e consultar
a opinião de outros colegas de trabalho, exatamente, quando mais precisariam estar se
reunindo.
Na opinião de Shine e Strong (2005, p.196), quando se fala em equipe
multidisciplinar, fala-se em uma “justaposição dos recursos de uma ou
várias disciplinas sem que haja um trabalho de equipe e coordenado”.
Tal a configuração que percebemos nos trabalhos das psicólogas
entrevistadas, cujas reuniões, além de escassas, assemelham-se a
encontros de especialidades, em que cada profissional apresenta como
está lidando com determinados casos.
IV. Supervisão
Apesar de a maioria das psicólogas participar de reuniões de
equipe, todas foram unânimes ao declarar que não recebem supervisão
dos atendimentos por pessoa qualificada na área, limitando-se às discussões dos casos em
146
“Antes do CT, as notificações vinham da delegacia, de médicos... Depois do CT, que chegou atrasado em 1995, pois já deveria ter CT desde 1990, passou a ser obrigatória a notificação pelo CT. Desde o início recebíamos encaminhamento da Vara da Infância e Juventude”. (Psi 02).
““Havia a procura espontânea, mas
eram muito poucos os casos e mandávamos
uma notificação para o CT, porque se
fôssemos enviar a pessoa para o CT,
estava arriscado de não voltar mais.”
(Psi 02)
atendimento entre os colegas da equipe de trabalho, muitas vezes, com formações
profissionais diversas.
V. Encaminhamento e demanda espontânea
Grande parte das instituições recebe encaminhamento de casos
de suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes pelos
Conselhos Tutelares (CT), Ministério Público (MP) e Vara da Infância
e Juventude após os mesmos terem notificado queixa em órgão
competente, como as delegacias e os próprios CT da região do Grande
Rio.
Quando há demanda espontânea para atendimento de crianças
com suspeita de abuso sexual, a maioria das psicólogas informou que é
procedimento solicitar para que as famílias dessas crianças retornem às
instituições somente após registrarem queixa no CT. Uma das
psicólogas explicou que, desta forma, é possível garantir que o MP
seja acionado e passe a tomar as devidas providências jurídicas ao
caso.
Uma psicóloga explicou que na instituição onde trabalha
chegam muitos pedidos espontâneos por atendimentos, mesmo sem a
notificação da queixa de abuso no CT, sendo os laudos, entregues às
famílias para que estas ingressem na Justiça portando tais documentos.
Nesse sentido, algumas psicólogas relataram que iniciam seus
atendimentos, normalmente sem avisar o pai de que a criança está em
avaliação psicológica. O que está relacionado com o fato de que não é
o procedimento das psicólogas chamar os pais para participarem das avaliações, o que acaba
determinando que essas instituições emitam parecer psicológico preliminar e unilateral. Para
Shine (2003a), este é o cenário mais comum: ver mães solicitarem tais avaliações para
psicólogos a pedido dos seus advogados com o propósito de subsidiar o início de um litígio
processual.
Outra psicóloga alegou que, por falta de estrutura material e de recursos humanos
devidamente qualificados, a instituição, que deveria atender a todos os casos que recebe de
suspeita de abuso sexual contra crianças, encaminha-os para que outras possam realizar a
147
““Os atendimentos destinam-se à
criança... Recebíamos o responsável pela
criança, normalmente era a mãe que fazia a denúncia... O pai não era chamado... porque
poderia ser perigoso, só quando fosse
extremamente necessário”
(Psi 02).
“os atendimentos são destinados às crianças vítimas de abuso sexual. A família vai para o serviço social... Atendemos as crianças sem as mães, mas, se houver necessidade, conversamos com a mãe também”(Psi 04)
entrevista de revelação desses menores de idade. Admitiu que muitos desses casos na
instituição passam por apenas uma entrevista preliminar por outro profissional (não
psicólogo), sem competência para avaliar uma situação de abuso sexual contra crianças.
VI. Atendimento psicológico
Todas as psicólogas disseram realizar entrevistas com crianças
e alguns familiares, normalmente a mãe, privilegiando os atendimentos
em que ficam a sós com as supostas vítimas. Apesar de atenderem as
mães e, ocasionalmente, as avós ou tias das crianças, três psicólogas
entrevistadas declararam que os atendimentos psicológicos são
destinados, exclusivamente, às crianças vítimas de abuso sexual, sem a
participação do provável abusador. São atendimentos que visam à
avaliação psicológica e têm por base o modelo da entrevista de
revelação, no qual crianças são ouvidas, ora junto às suas mães, ora em
separado.
Conforme explicações de uma das psicólogas, o procedimento
adotado pela instituição, a partir das informações passadas no
programa de treinamento e capacitação de profissionais para a
revelação do abuso sexual da criança, era o de não convocar os pais
acusados para participar da avaliação, pois poderia ser perigoso para o
psicólogo. Tal regra se estabeleceu sem questionamentos por algum
tempo, até que um pai acusado pediu para ser atendido. A partir desse
episódio, a equipe teria começado a repensar sua atuação frente aos
casos, concluindo que errou ao sustentar essa prática de exclusão. Na
percepção da psicóloga entrevistada, muitos casos tomaram rumo diferente após a realização
de entrevistas com os pais que se apresentavam na instituição.
No mesmo sentido, outra psicóloga, diante da discussão sobre a participação do pai
nos atendimentos, exclamou que não atendia o abusador porque só havia um segurança na
instituição, perfilhando a crença pessoal de que o acusado por um abuso sexual é, a princípio,
um agressor, logo, um risco, tanto para a criança quanto ao próprio profissional.
148
“Temos autonomia de trabalho. Eu
trabalho com o referencial
psicanalítico” (Psi 03)
“Os bonecos foram usados durante um ano, mas os resultados foram contraditórios. Eu peço a autorização dos pais
para usar os bonecos com as crianças... eles não permitem. Sem a autorização deles eu
não realizo a entrevista com os bonecos.
Deixamos de usar os bonecos anatômicos e
passamos a usar família de bonecos comuns.
Acho que os bonecos comuns funcionam
muito melhor que os outros”. (Psi 04).
Entrevista de revelação, bonecos anatômicos, desenho livre, fantoches, brinquedos, jogos. Tem que saber trabalhar com esses instrumentos. É preciso ter muita responsabilidade, pois pode acabar induzindo. Eu sei que, se você não está capacitado, pode acabar sugestionando. Mesmo capacitado, você pode errar”(Psi 02)
As demais psicólogas esclareceram que a rotina de trabalho da instituição determina a
realização de entrevistas com todos os envolvidos, porém o foco da atenção está nos
atendimentos com as crianças.
VII. Teoria e técnicas adotadas
A maioria das psicólogas afirmou que adota o referencial teórico
psicanalítico no tratamento de casos em que há
suspeita de abuso sexual de crianças. Quanto às
técnicas, a entrevista psicológica é eleita por todas as psicólogas
como a forma de abordagem de crianças e familiares em casos de
suspeita de abuso sexual.
Para os atendimentos destinados, exclusivamente, às
crianças, a avaliação do abuso recebe o nome de entrevista de
revelação e incorpora recursos como os bonecos anatômicos e os
desenhos livres e/ou da família. Pudemos constatar que os bonecos
anatômicos estão à disposição de todas as psicólogas, adquiridos
pelas instituições e oferecidos como recurso no trabalho com
crianças supostamente abusadas.
Em razão dessas técnicas serem controversas e não disporem de parecer oficial do
Conselho Federal de Psicologia quanto à admissibilidade de tais
recursos no exercício profissional, buscamos saber se as
psicólogas se informaram ou se possuíam conhecimento acerca da
matéria. O desconhecimento foi generalizado. Uma das
psicólogas justificou o uso dos bonecos anatômicos como um
recurso de apoio, situando o uso indiscriminado destes por
profissionais sem capacitação como o principal problema.
Esclareceu que o treinamento que recebeu foi administrado por
uma psicóloga norte-americana – responsável pela inserção dos
bonecos anatômicos no Rio de Janeiro – que inaugurou um curso
de Pós-Graduação no estado, no qual lecionou por alguns anos,
divulgando a técnica.
A despeito de haver a disponibilidade do recurso,
149
“A criança tem o direito de não querer
falar. O que você acha disso? Não dá pra ficar forçando a criança falar. Se ela
quer manter pra ela, é um direito dela, não
estou certa? Vou massacrar a criança com perguntas, ela vai se fechar ainda
mais ou vai responder aquilo que quero ouvir” (Psi 02).
“Enquanto não temos certeza de que ocorreu o abuso, se a criança ainda não falou, emitimos laudos parciais. Podem ser vários laudos parciais. E os conclusivos, quando a criança fala” (Psi 04).
percebemos que algumas psicólogas, após algum tempo de uso, optaram por dispensá-lo,
enquanto outras nem mesmo cogitaram em usá-lo por não lhes ser familiar. Essas psicólogas,
por outro lado, realizam entrevistas com a criança, ora na presença da mãe, ora na presença do
pai, com ela sozinha e com os irmãos, utilizando-se de desenhos e brinquedos diversos.
Os testes psicológicos, também, são outros instrumentos muito
pouco utilizados, com exceção do teste do desenho da casa-árvore-
pessoa (HTP).
Interessante destacar que só optaram pelo uso dos bonecos
anatômicos as psicólogas que não atendiam os pais acusados para
avaliação nos casos de suspeita de abuso sexual.
Segundo Njaine et al. (1997), a exclusão do pai acusado torna
esta intervenção psicológica propensa a erros de interpretação pelos
profissionais, em virtude de restringir-lhes o alcance do olhar somente
às informações que lhes são prestadas. Portanto, tal fato determina a
emissão de conclusões parciais, mesmo quando o psicólogo entende
que a criança revelou o abuso.
No tocante às entrevistas, pudemos observar que as psicólogas procuram valorizar a
palavra da criança, mesmo quando esta se recusa a falar. Foi mencionada a dúvida sobre o que
fazer quando a criança não revela o abuso. Ao trazer vários questionamentos sobre o silêncio
da criança e quanto à prática recorrente de insistir para que esta verbalize sobre o suposto
abuso, as profissionais se mostraram hesitantes, perguntando se estariam sugestionando ou
provocando na criança uma reação para que diga aquilo que, como avaliadoras do susposto
abuso, guardariam a expectativa de ouvir.
No mesmo sentido, outra psicóloga descreveu seus procedimentos, ressaltando que,
enquanto a criança não falar desse suposto abuso, tende a manter os
atendimentos. Nesse ínterim, explicou que costuma emitir vários
laudos parciais em que comunica ao MP o progresso da avaliação
psicológica, enquanto aguarda o momento em que obtém a revelação
do abuso pela criança para poder encaminhar o laudo conclusivo e
definitivo. Deixando entrever alguma insegurança, indagou até
quando deveria prolongar os atendimentos para que a criança tivesse
tempo suficiente para revelar o abuso e, ainda, que outros significados
150
“Os atendimentos ocorriam 1 vez por semana, em, no máximo, 10 entrevistas com a criança. Havia fila de espera. Com adolescente era mais rápido, em geral você fica com ele duas entrevistas” (Psi 02).
“somos obrigadas a marcar uma vez a
cada 15 dias ou 1 vez por mês, para poder
dar conta de atender a todos. Também,
muitas famílias têm problemas financeiros
ou vêm de muito longe e só podem vir
assim, nessas condições. Muitas têm uma questão
social muito forte” (Psi 04).
pode ter o silêncio da criança; como poderia diferenciar o silêncio do segredo daquele da
inexistência do abuso sexual e quais os limites que deve estabelecer para não prejudicar a
criança e o próprio processo de avaliação.
As psicólogas propuseram debater o conteúdo relatado pelas crianças, perguntando-se
quais fatos deveriam ser considerados como abusivos, porquanto há experiências em que a
criança demonstra não ter vivenciado dessa forma. Nesse sentido, dúvidas e falta de consenso
sobre que aspectos podem ser considerados determinantes ou prescindíveis ao examinar um
problema complexo como o da violência sexual pode resultar em intervenções de
credibilidade questionável, portanto, prejudiciais à condução e conclusão dos casos, além de
incompatíveis com a manutenção dos direitos das crianças e
familiares e deveres dos psicólogos (NJAINE et al., 1997).
VIII. Tempo das sessões e de elaboração dos laudos
Para a maioria das psicólogas entrevistadas, o tempo estimado
para a realização e conclusão dos trabalhos de avaliação psicológica
de suspeitas de abuso sexual ficou em torno de 2 a 3 meses, com
previsão de um encontro semanal. Contudo, segundo informação das
psicólogas, o planejamento das entrevistas leva em consideração
alguns aspectos como o número de pessoas a serem entrevistadas e as
condições socioeconômicas das famílias dessas crianças.
Neste caso, as famílias menos favorecidas economicamente, só podem levar as
crianças para as entrevistas quando possuem dinheiro para as passagens de ônibus, o que pode
significar uma única vez ao mês. Por outro lado, as instituições
carecem de estrutura material e pessoal para suprir a demanda por este
atendimento, havendo filas de espera pelo serviço, além de uma
sobrecarga pelo já reduzido número de profissionais.
Duas psicólogas informaram que aguardam o tempo da
criança para que ela faça a revelação, sendo que, quanto mais rápido
esta acontecer, mas brevemente encerra-se a avaliação. Porém, as
psicólogas costumam prolongar os atendimentos, em até 10 sessões,
nos casos em que a criança parece mais reservada ou resistente a falar.
151
“Isso é um problema, porque temos que fazer nosso trabalho e, por vezes, nossos laudos são contrários aos dessas instituições. Nós chamamos o pai pra entrevista, que, normalmente, comparece... O laudo... é um material que irá subsidiar a decisão do juiz. Há boa aceitação dos laudos” (Psi 02).
Em relação ao tempo para analisar o material obtido durante as entrevistas e a,
subseqüente, elaboração dos laudos, há um acréscimo de mais um ou dois meses ao prazo.
IX. Laudos
A elaboração dos laudos foi um tema bastante discutido pelas psicólogas. Sendo um
documento que irá consubstanciar o trabalho de avaliação psicológica, o laudo pode ser
oferecido à Justiça como uma prova técnica sobre a matéria em análise, uma posição ou
conclusão do trabalho desempenhado, propondo, por vezes, uma continuidade de atendimento
psicológico dos entrevistados na qualidade de assistência terapêutica.
Uma entre demais provas documentais, testemunhais e confissionais das quais o juiz
deverá analisar, o laudo psicológico é considerado elemento que auxilia na elucidação de
controvérsias e decisões judiciais, de modo que é possível haver vários laudos psicológicos,
conflitantes ou complementares, em um mesmo processo (BERNARDES, 2005).
Em nossa pesquisa, todas as psicólogas entrevistadas responderam elaborar laudos
com destino à Justiça. Enquanto uma informou que evita emitir laudos
para o MP, pois teme que o documento seja impugnado em razão da
falta de estrutura para garantir o sigilo das informações prestadas,
outra psicóloga relatou que é comum notar a existência de laudos
outros no processo judicial na ocasião em que recebe o
encaminhamento de casos de suspeita de abuso sexual contra crianças
para avaliação psicológica. Informou que muitos destes documentos
são emitidos por instituições ou por psicólogos particulares que só
atendem a mãe denunciante e a criança. Esta psicóloga explicou que,
como realiza entrevista com todos os envolvidos, o conteúdo do laudo
acaba sendo, muitas vezes, contrário às considerações expostas nos
demais.
Enquanto algumas psicólogas mostraram-se satisfeitas pelo fato de seus laudos terem
boa aceitação pelos magistrados, outras demonstraram descontentamento quanto ao fato de o
juiz emitir um julgamento contrário às conclusões da análise psicológica.
Analisando esse assunto, verificamos que, apesar de as psicólogas reconhecerem que o
laudo constitue uma das peças a compor o moisaico processual, existe muita confusão na
compreensão do que seja um laudo parcial e um laudo conclusivo. Como foi possível perceber
152
“O laudo é um problema. Quanto
vale um laudo para o juiz? Tenho muito medo do poder da
capacitação, do psicólogo se achar
capacitado, que sabe fazer um laudo
conclusivo” (Psi 04).
pelas explicações de algumas psicólogas, o termo laudo parcial parecer ser empregado em
situações as quais ainda não foi possível concluir pela ocorrência do abuso sexual da criança,
enquanto laudo conclusivo é usado para descrever quando as psicólogas emitem opinião
acerca do problema. Contudo, se o laudo está respaldado na análise exclusiva da palavra da
criança, entendemos que se trata de uma avaliação psicológica parcial com conclusões,
necessariamente, parciais.
Apesar da parcialidade dos laudos, as psicólogas que realizam avaliações das crianças
relataram guardar expectativas quanto à repercussão do laudo psicológico no âmbito
judiciário, representada na resolubilidade da investigação do caso.
Tal expectativa tem mão dupla, ao passo que os operadores do
direito, diante da necessidade de produzir provas, vêem, no laudo
psicológico, a possibilidade de serem liberados das incertezas.
Entretanto, não é da competência dos psicólogos retira-lhes as
dúvidas, tampouco redigir-lhes a sentença (BRITO, 2005).
Também, pudemos perceber que todas as psicólogas
apresentaram algum nível de preocupação quanto à emissão de
laudos, seja devido à estruturação deste, seja pela repercussão do documento no âmbito
jurídico e familiar. Relataram que, ao realizarem uma intervenção psicológica na família,
estão expondo as histórias de vida de cada um de seus membros, o que implica em um
comprometimento ético.
Na opinião de Bernardes (2005), o saber psicológico, expresso nos laudos, deve se
voltar, não apenas para as questões judiciais, mas sobretudo, aos compromissos sociais e
políticos para com as pessoas atendidas e à contrução da cidadania. “Os laudos devem,
portanto, ser indicativos das políticas de atendimento necessárias à garantia de direito das
pessoas atendidas e esmiuçar as possibilidades de mudança da situação-problema” (p. 78).
Nesse contexto, duas psicólogas informaram que têm conhecimento de profissionais
que foram ou estão sendo processados pela Comissão de Orientação e Ética do Conselho
Regional de Psicologia (CRP) em função dos laudos produzidos. Justificaram que os
advogados, na intenção de ganhar a causa, tentam, muitas vezes, impugnar os laudos
contrários aos seus interesses, recorrendo ao Conselho com alegações de possível infringência
ao Código de Ética. Uma dessas psicólogas deixou transparecer certa indignação ao falar que
o CRP só está disponível para os psicólogos na hora de processá-los.
153
“Têm psicólogos... que estão sendo processados no CRP por causa de laudos que são contestados. O advogado quer ganhar a causa e entra com representação no CRP, porque, se o psicólogo for processado ele pode pedir impugnação do laudo, mas se o laudo fosse favorável a ele, o processo no CRP não iria existir” (Psi 02).
Trata-se de um aspecto importante a ser debatido, em especial, porque tomamos
conhecimento, nesta pesquisa, de que os pais acusados estão procurando o CRP para prestar
queixa contra os psicólogos. Acreditamos que, mais que a vontade de o advogado ganhar a
causa na defesa do pai acusado de abusar sexualmente do filho, como propôs a psicóloga,
existe, todavia, algo dessa prática psicológica, representada nos laudos, que enseja a abertura
de processo ético.
O Conselho Regional de Psicologia, ao receber denúncia
contra psicólogos, executa uma série de procedimentos, a começar
pelo encaminhamento do pedido de abertura de processo ético para a
Comissão de Orientação e Ética que deverá, como parte de suas
atribuições, averiguar se há possível infração do Código de Ética
Profissional vigente. Procede, posteriormente, com a citação do
profissional para providenciar recursos de defesa que, mediante
análise, poderá propor pela exclusão liminar da denúncia,
determinando seu arquivamento ou solicitar instauração de processo
ético70.
Logo, se psicólogos estão sendo processados pelo CRP em
razão das declarações feitas nos laudos, podemos inferir que este seja o momento para que os
cursos de Graduação nas Faculdades de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia e a
categoria, de um modo geral, organizem-se com vistas a acentuar as discussões contribuindo
para a (re)construção de um saber fundamentado na ética.
Para duas psicólogas em particular, a responsabilidade implicada na avaliação de uma
suspeita de abuso sexual contra a criança foi assunto de inquietação, originando uma série de
considerações acerca das possíveis repercussões que os laudos poderiam gerar na vida de
crianças e dos acusados, especialmente, quando o abuso sexual pode não ter ocorrido.
Cogitaram na possibilidade de serem induzidas ao erro se ficarem restritas às interpretações
da palavra da suposta vítima criança e da mãe denunciante, contudo, admitiram que incluir o
pai acusado no processo de avaliação não faz parte da rotina de trabalho.
70 As explicações quanto à condução das denúncias no CRP foram extraídas do folder Ética e Psicologia, do CRP/RJ, gestão da XI Plenária (2004 a 2007).
154
“denúncias que surgiram dentro de processos de separação ou de disputa pela guarda e muitas dessas denúncias são falsas. São mães que querem impedir que a guarda vá para o pai... O que percebemos é que a mãe não considera o que isso pode causar na criança. Ela realmente usa a criança como objeto” (Psi 03).
“Em casos de denúncia anônima
envolvendo mães e, também, pais.
Algumas são os avós que acusam porque querem a
guarda. Também há casos de brigas entre
vizinhos” (Psi 04).
“Os casais separados que ficam brigando e colocam a criança no
meio fazem muitas denúncias de maus tratos ou que não
sabem cuidar, que a criança não toma
banho, esse tipo de coisa. Muitas denúncias são
vazias” (Psi 01).
X. Características dos casos atendidos
Ao solicitarmos quais as características da população atendida
para avaliação psicológica em razão de suspeita de abuso sexual,
recebemos dois tipos de resposta: uma em relação à criança – em
grande parte meninas com idade entre 3 e 5 anos – e outra em relação à
informação – muitas se originam de telefonemas anônimos.
A possibilidade de se prestar uma informação anônima é vista,
hoje, como uma forma de incentivo para pessoas que, com medo de
retaliação, silenciam diante de uma violência. Segundo duas
psicólogas, tal procedimento permite que o sistema de notificação receba inúmeras
informações sem fundamento, implicando em um aumento na demanda por atendimentos
especializados em uma rede que já se encontra saturada e precária por falta de estrutura
material e de qualificação profissional. Desta forma, o anonimato implicaria no risco de mau
uso do sistema por aqueles que não poderão ser responsabilizados pelo conteúdo informado.
Na experiência dessas psicólogas, vizinhos e avós – que tentam obter a guarda dos netos – são
os que mais fazem alegações de maus-tratos e negligência contra a mãe ou ambos os
genitores, enquanto escolas e médicos são os que mais procuram
essas instituições para denunciar uma suspeita de abuso sexual.
XI. Atendimento no contexto da separação conjugal
A maiorida das psicólogas relatou
haver um grande número de queixas de maus
tratos, negligência e, em menor quantidade,
de abuso sexual, no contexto da separação
conjugal, em que se verifica disputa pela
guarda ou problemas com a visitação dos filhos em razão de
desentendimentos entre os genitores. Uma das psicólogas explicou
que, em muitos casos, a criança é colocada no meio do conflito dos
pais e usada como objeto de negociação pelas mães guardiães. Nessas
circunstâncias, as informações de suspeitas de abuso sexual
envolvendo pais e filhos são apontadas como uma forma de
interromper o contato entre eles, surgindo, também, como forma de
155
“A mãe pega um fato como, por ex, o pai ter
tomado um banho com a criança ou ter dado um
beijo na boca e cria uma situação, acrescenta
eventos que não existiram e faz a criança acreditar
naquilo... já falou tão mal do pai para a criança que
ela acaba acreditando... É muito difícil pra criança
estar com o pai, porque ela tem muito medo dele,
também, depois de ouvir uma série de coisas ruins a
respeito dele” (Psi 02)
“A criança pode não ter vivenciado a experiência como um abuso e estar sujeita as interpretações dos psicólogos, seus valores, crenças, preconceitos. O psicólogo acaba se envolvendo demais” (Psi 02).
retaliar o pai por recorrer à Justiça a fim de garantir seus direitos. Essa psicóloga acrescentou,
ainda, que acredita que se não houvesse processo pela regulamentação de visitas ou reversão
de guarda tramitando na Justiça, em que a mãe é intimada a comparecer, quase a totalidade
das alegações de abuso sexual não existiriam.
Outra psicóloga lembrou que, apesar de haver mais denúncias de abuso sexual no
contexto da separação conjugal, sua preocupação incide sobre os casos em que o casal
permanece junto, dificultando o trabalho de avaliação e intervenção psicológica.
XII. Falsas denúncias
Todas as psicólogas declararam haver identificado a
ocorrência de falsas denúncias relativas à negligência e a maus-
tratos envolvendo genitores e filhos. Nessas circunstâncias, uma
das psicólogas explicou que, pelo fato de a queixa não ter
fundamento, encerra o trabalho, deixando de emitir parecer sobre
o caso. Mesmo admitindo que costuma encaminhar os casos de
notificação de abuso sexual para outras instituições, por não
apresentar condições de realizar a avaliação psicológica da
criança, mostrou-se cética quanto à possibilidade de uma mãe ser
capaz de fazer uma alegação de abuso sexual, justificando que
este tipo de denúncia é de extrema gravidade.
Diferentemente desta, para as demais psicólogas entrevistadas, a falsa denúncia de
abuso sexual de pais contra filhos é uma realidade a ser constatada, principalmente, nas
famílias em que houve separação conjugal e a mãe guardiã tenta obstruir o convívio entre o
ex-companheiro e os filhos do casal. Segundo uma das psicólogas, a mãe é capaz de criar uma
situação de abuso, a partir de fatos, como um banho ou uma
higienização íntima feita pelo pai, e acrescentar eventos que não
existiram, fazendo com que a criança – que mantém uma aliança
com a mãe – acredite e passe a relatar ou confirmar a história de
abuso sexual contada pela mãe. Explicou, em seguida, que esta mãe,
ao mesmo tempo em que reforça a aliança com o filho, denigre a
imagem do pai, provocando medo na criança, que se recusa a estar
com ele. Para a psicóloga, esse é o principal objetivo da mãe, que é
156
“não há como atender as crianças pequenas. Eu tenho que ter recursos, uma estrutura pra trabalhar com crianças, porque elas não verbalizam como nós, precisam de uma condição especial, própria pra elas” (Psi 01).
“estamos fazendo um projeto para fornecer
assistência terapêutica, algo que
não podíamos oferecer por falta de
estrutura. Era um problema, porque não
tínhamos como atender, mas também
não tínhamos para onde encaminhar”
(Psi 02).
incapaz de pensar nas conseqüências que essa situação pode causar ao menor de idade.
Cardoso (2002) também chama a atenção para este fato e afirma que certas denúncias
de abuso sexual não passam de argumentos falsos, que servem de palco para as contendas de
casais em processo de litígio e brigas pela posse do filho, sem que haja preocupação em
salvaguardar os sentimentos infantis.
Para uma das psicólogas, poderia haver momentos em que os profissionais, ao ficarem
envolvidos com os atendimentos, deixariam transparecer suas crenças, valores e preconceitos,
fazendo interpretações equivocadas a respeito de casos em que a criança não teria vivenciado
uma situação de abuso sexual.
XIII. Dificuldades na execução das atividades
A maioria das psicólogas entrevistadas declarou ter dificuldades na execução de suas
atividades profissionais. Algumas apontaram para a estrutura física das instituições onde
trabalham, por oferecerem salas muito pequenas ou inadequadas para
atendimento, que não asseguram o sigilo da conversação, seja porque
é a única sala disponível para todos os funcionários e, desta forma,
deve ser mantida aberta para circulação dos mesmos, seja porque a
sala foi projetada com uma abertura de ventilação entre o teto e a
porta por onde se pode ouvir os atendimentos.
Para outras psicólogas, a falta ou as
péssimas condições de conservação do
material gráfico e lúdico inviabiliza ou
prejudica os atendimentos de crianças. Associada a essa situação, as
instituições encontram-se saturadas, com demanda para atendimento
maior que a sua capacidade para oferecer serviços. Algumas
psicólogas relataram que, além de receberem um número de casos
acima do que a instituição comporta, ainda mantêm uma fila de espera
para atendimento psicológico. Há dificuldade, também, para os casos
em que se percebe necessidade de encaminhamento para assistência psicoterapêutica, em
razão da carência de vagas desse tipo de serviço em instituições públicas. A saturação de
serviço, por conseguinte, impede que as psicólogas possam se dedicar a outras atividades,
também relacionadas à instituição, como treinamento e reuniões com a equipe.
157
“O trabalho foi interrompido e a gente teve que estruturar tudo de novo pra começar. A equipe é nova e estamos na fase de fazer reuniões para colocar o trabalho em ordem” (Psi 05).
“A visita assistida é indicada em alguns
casos de denúncia de violência e abuso
sexual, principalmente,
quando suspeitamos de falsas acusações. Têm pais que ficam
anos sem ver os filhos. Nós propomos visita
assistida...para realizar esse primeiro
contato. Esse procedimento é
temporário... depois eles vão ter que se organizar na vida
deles” (Psi 03).
Verificamos que a precariedade de estrutura para atendimento psicológico das
instituições, incluindo o fechamento de duas delas por período de seis meses, diz respeito a
um problema maior e mais grave, pronunciado por uma das
psicólogas: a falta de financiamento dos governos tanto municipais,
quanto estadual e federal, não apenas para investir, mas para manter a
estrutura atual das instiuições. Tal abandono foi lastimado pela
psicóloga que teve que interromper o trabalho por não estar recebendo
salário.
Em resposta a estas dificuldades, as profissionais
manifestaram dois tipos de reação: enquanto umas pensavam em um
modo de contornar o problema, realizando cursos ou supervisões dos casos fora do expediente
de trabalho, outras pensavam em interromper suas atividades, tendo em vista que não podiam
oferecer condições dignas e apropriadas à natureza desses serviços, como determina o Código
de Ética71. Surpreendeu-nos saber que nenhuma psicóloga cogitou em consultar o CRP para
pedir orientação ou mesmo solicitar, por exemplo, uma fiscalização das instituições a fim de
exigir que sejam feitos investimentos, visando a melhores condições de trabalho e prestação
de serviço.
Outra dificuldade apontada por uma das psicólogas constitui a
visita assistida que, de acordo com sua opinião, deve ser indicada em
alguns casos de suspeita de violência sexual contra crianças, em
especial, quando tais alegações são provavelmente falsas. Para que a
proposta dê certo, a psicóloga orienta que a visita entre o pai acusado
e a criança ocorra no espaço do judiciário, pois a criança tende a
aparentar medo do pai, principalmente, se transcorreram anos de
separação entre eles, sentimento que será compreendido e
adequadamente manejado pelas psicólogas presentes. No entanto,
quando a visita fica a cargo de pessoas da confiança da mãe
denunciante, a psicóloga esclarece que o propósito de reaproximação
entre pai e filho tende a se frustrar.
71 Art. 1º, alínea “c” do Código de Ética Profissional do Psicólogo, CFP Nº 010/2005.
158
Finalmente, surpreendeu-nos ver que, mesmo diante das muitas adversidades e de
todos os impasses narrados, a luta por melhores condições de trabalho e por qualificação
profissional soa como tarefa solitária e estéril para as psicólogas entrevistadas.
Contudo, percebemos que todas – ao aceitarem nosso convite de entrevista – puderam
fazer um movimento de reflexão acerca da própria atuação frente a uma demanda por
atendimento psicológico. Uma atuação que entendemos ser necessária a fim de contribuir com
o judiciário de forma não dogmática e sem perder de vista os limites pessoais e profissionais,
fornecendo uma compreensão da situação a partir da perspectiva da dinâmica familiar
implicada em uma alegação de abuso sexual de pais contra filhos.
159
5 – Algumas Considerações a Título de Finalização
Nossa opinião é que convém ao homem supor que há algo de não-conhecível, mas que ele não deve pôr limite em sua busca.
Goethe
O presente capítulo se propõe a dar um fechamento, a título de finalização da pesquisa,
a algumas considerações levantadas ao longo desse trabalho que foram objeto de análise
durante as discussões dos dados obtidos pelos questionários e entrevistas.
Na introdução dessa pesquisa, expomos nosso interesse em investigar a existência de
falsas denúncias de abuso sexual contra a criança após havermos nos deparado com o
panorama de famílias que, com a separação conjugal, imergiam em contendas judiciais.
Acusações mútuas acerca da pouca competência de cada genitor para com os cuidados dos
filhos, assim como a exposição da intimidade da vida de cada um dos genitores, surgem como
alimento para agravar o litígio parental culminando, em alguns casos, com alegações falsas de
abuso sexual envolvendo pais e filhos.
Episódios em que mães guardiães se apresentam como as principais denunciantes dos
ex-companheiros surgem no sistema judiciário, desafiando profissionais a reconsiderarem
suas posturas diante de atendimentos a casos de suspeita de violência sexual contra crianças.
Como Brito (2002a) nos informou, há um entrelaçamento de problemas emocionais com
questões jurídicas, especialmente quando crianças são disputadas por seus genitores após o
momento da separação, o que provoca uma demanda pelo serviço do profissional de
Psicologia para que este aponte para uma solução, visando ao melhor interesse da criança.
Assim, à medida que cresce a inserção de psicólogo no âmbito judiciário, seu trabalho
torna-se parte integrante e fundamental na análise da matéria, o que nos remeteu ao estudo da
atuação profissional em instituições de referência para atendimentos de casos de suspeita de
abuso sexual de pais contra filhos.
Ao havermos iniciado nosso trabalho por meio de questionários com pais acusados de
abusar sexualmente dos filhos, pudemos coletar uma série de informações que contribuíram
na elaboração da entrevista com os psicólogos. Foi possível verificar, assim, congruências nas
informações prestadas, a começar pelo fato de o pai acusado, muitas vezes, não ser chamado
para participar de entrevistas de avaliação psicológica, o que o leva a contestar os laudos
160
psicológicos, solicitanto ao juízo a realização de novas e repetidas avaliações das crianças.
Esse fato por si só, justifica a constante indignação apresentada por muitos pais que
responderam ao questionário.
Como já apresentamos nas discussões da pesquisa, é comum haver vários laudos
psicológicos em um mesmo processo de investigação de alegações de abuso sexual contra
crianças. Algumas psicólogas reconheceram que as conclusões dos trabalhos realizados, via
de regra, por profissionais que atuam em consultórios particulares e/ou em instituições de
referência para avaliação de abuso sexual de crianças – que optam por não atender o pai
acusado – tendem a apresentar divergências em relação aos laudos elaborados a partir de
intervenções em que o pai participa da avaliação psicológica. Informação esta que vai ao
encontro do que os pais, que responderam ao questionário, perceberam ser uma tentativa de as
mães conseguirem laudos atestando para ocorrência de abuso sexual a partir de consultas
particulares feitas com as crianças. Laudos estes que, muitas vezes, serviram para respaldar as
decisões judiciais de afastamento preventivo entre pais e filhos.
O que se deduz que modelos diferentes de atendimento empregados pelos
profissionais na avaliação psicológica de casos de suspeita de abuso sexual contra crianças
produzem resultados diferentes quanto à observação e análise da mesma matéria. De modo
que, podemos depreender que esses modelos, que excluem o pai acusado dos atendimentos,
estão mais propensos a refletir a concepção dos profissionais acerca do que entendem ser o
fenômeno da violência sexual contra crianças, atravessada por valores e crenças pessoais, do
que a verdade dos fatos.
As psicólogas entrevistadas que optam por não realizar entrevistas com os pais
acusados admitiram certa dificuldade para perceber a existência de uma falsa alegação de
abuso sexual, a menos que as próprias crianças sinalizem que foram instruídas a repetir o
discurso das mães. Por outro lado, as psicólogas que optam por atender todos os familiares,
além da criança, relataram perceber, com maior freqüência, a existência de falsas alegações
desse tipo de violência no contexto da separação conjugal, especialmente quando os pais
recorrem à Justiça para regulamentação de visitas.
É preciso atentar para o fato de que, segundo o relato dos pais que responderam ao
questionário, muitas mães promoviam falsas alegações com vistas a destituir o genitor de seu
poder familiar para atribuí-lo ao novo companheiro, por meio da opção de adoção por
161
cônjuge. Fato que nos sugere haver intencionalidade da medida adotada pela genitora, como
apresentamos no capítulo anterior.
Portanto, a partir das entrevistas com as psicólogas, pudemos perceber que a atuação
profissional está atravessada por modelos de avaliação dessa modalidade de violência que
privilegiam a palavra da criança, creditando nesta todo o peso da responsabilidade pela
verdade e solução do conflito. Tal fato corrobora a declaração dos pais que responderam ao
questionário; na opinião deles, sentem-se atravessados por olhares e posturas de reprovação e
indignação dos profissionais que, em nome da proteção à criança, tendem a barrar o acesso
deles às instituições.
Nesse contexto, observamos que, enquanto os pais acusados declaravam se sentir
segregados e/ou julgados como culpados por antecipação pelos profissionais, algumas
psicólogas informaram sentir medo e insegurança de entrevistá-los, reforçando, exatamente, o
ponto de vista dos pais: que as alegações de abuso sexual envolvendo o pai da criança tendem
a ser presumidas verdadeiras pelos profissionais.
Segundo o depoimento das psicólogas, para que obtenham eficácia na intervenção,
precisariam atestar a veracidade de suas análises, recorrendo, para este fim, à fundamentação
teórica que lhes é familiar, além de entrevistas e técnicas de revelação para abuso sexual. Tais
recursos integram um modelo de avaliação psicológica que se propõe a fornecer dados –
pautados na revelação da criança – que solucionem o problema que ensejou a intervenção da
Justiça. Dentre esses recursos, as psicólogas apresentaram os bonecos anatômicos como parte
de um modelo de atuação.
Quanto a estes bonecos, apesar de serem utilizados por algumas psicólogas
entrevistadas e de não terem sido mencionados pelos pais, todas as instituições em que as
psicólogas trabalham têm o material disponível. Adquiridos para o trabalho de psicólogos,
conforme já discutido nesta pesquisa, os bonecos anatômicos tornaram-se parte de um modelo
de referência na avaliação de suspeita de abuso sexual, naturalizado pelos próprios
profissionais que, por sua vez, não possuem manejo técnico especializado para empregá-los
junto às crianças, conforme algumas psicólogas mencionaram.
São, portanto, modelos de avaliação psicológica que, ao excluírem a participação do
pai acusado para priorizar a criança, mantêm uma dicotomia entre a criança vítima, eleita o
interlocutor preferencial que deverá anunciar e qualificar a denúncia, apontando seu algoz, e o
pai acusado, suposto abusador que, por se constituir em uma ameaça social, não deve se
162
expressar. Nesses termos, os pais são silenciados, enquanto as crianças devem decidir
questões jurídicas em nome de seus direitos. Desta forma, concordamos com Brito (2002)
quando compreende que esta medida pode estar em desacordo com o direito que estes
menores de idade possuem de serem irresponsáveis juridicamente, dada a condição de
aprendizes das normas sociais e seus fundamentos.
Assim, entendemos que sustentar e priorizar a palavra da criança, nesses casos, pode
ser o equivalente a desconsiderar sua condição de sujeito, mediante à possibilidade de a
criança estar assujeitada ao pensamento materno por meio de alinhamentos ou fortes vínculos
estabelecidos, tornando-se objeto da mãe, opinião compartilhada tanto pelos pais que
responderam ao questionário, quanto por algumas psicólogas entrevistadas. O que nos leva a
deduzir que adotar o testemunho da criança na resolução do conflito é reduzir o problema a
seus termos mais simples, é, portanto, considerá-lo mais fundamental do que o próprio evento
do qual o profissional pretende avaliar, em nosso caso específico, a alegação de abuso sexual
de pai contra filhos no contexto da separação conjugal.
Face a estas observações, pareceu-nos aconselhável perguntar, durante as entrevistas
com as psicólogas, qual o entendimento que possuíam dos bonecos anatômicos em relação à
sua admissibilidade junto ao Conselho Federal de Psicologia. Diante da falta de conhecimento
acerca do assunto, como se aceitassem estes bonecos, sem críticas e questionamentos, como
modelo pronto de atendimento e portanto, naturalizados, fomos remetidos a outras questões
apresentadas pelas psicólogas que afetam, diretamente, o exercício profissional como: a falta
de capacitação e de atualização para atuar nos casos de denúncias de violência sexual contra
crianças, a ausência de supervisão dos atendimentos e a carência de recursos humanos e
materiais.
Acreditamos que todos estes aspectos estejam interligados e dizem respeito a uma
situação de cristalização ou de acomodação às condições e modelos de intervenção oferecidos
pelas instituições, assim como, ao insuficiente investimento dos governos para as questões
pertinentes à formação e estruturação dos serviços de atenção aos casos de suspeita de abuso
sexual contra crianças. Se formos mais além, ainda podemos incluir a fragilidade da parceria
entre os psicólogos e os seus Conselhos Regionais de Psicologia.
É preciso lembrar, portanto, que se os pais acusados nos informaram que estão
recorrendo aos Conselhos para prestarem queixas contra os psicólogos, faz-se mister que os
psicólogos também busquem os seus Conselhos para orientação acerca das possibilidades e
163
dos recursos técnicos reconhecidos e disponíveis para a atuação profissional. Devem também,
solicitar desta entidade que se posicione frente à categoria, com propostas de análise a
respeito de técnicas de revelação para abuso sexual, incluindo o Projeto Depoimento sem
Dano, que surge como uma nova atribuição à Psicologia Jurídica pelos operadores do direito –
sem debates e esclarecimentos sobre o que representa, para os psicólogos, esses novos lugares
de atuação. Novamente, mais um modelo pronto que pretende ser naturalizado pela prática,
sem a devida observância dos órgãos representativos da categoria.
Por sua vez, os Conselhos Regionais de Psicologia devem procurar facilitar o acesso e
o intercâmbio de informações, convidando seus profissionais a participarem de discussões
sobre as práticas, propostas e compromissos éticos. Principalmente, quando novos modelos e
oportunidades de atuação psicológica surgem, visando a oferecer soluções a problemas de
caráter dinâmico, como a violência sexual contra crianças.
Finalmente, entendemos que, à semelhança de Gonçalves (2003), se a realidade não
está correspondendo à teoria, logo as intervenções que ora são realizadas estão suscetíveis à
distorção, dissociando-se das questões as quais pretendem lidar, ignorando as razões que as
determinam e, por conseguinte, interferindo no núcleo familiar e na sociedade. De modo que
acreditamos ser da opinião das psicólogas e dos pais que responderam ao questionário, que há
muito por se fazer para rompermos com velhos paradigmas, sendo preciso propor um convite
para que o tema das falsas denúncias de abuso sexual desponte nas salas de atendimento
psicológico, nas academias e nos Conselhos de Classe, como uma realidade que, ao se colocar
face a face com os profissionais, pede para ser compreendida, a fim de que as famílias
encontrem a saída desse labirinto...
164
Referências
ABRAPIA – Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência. Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes, Mitos e Realidades. Coleção Criança Carinho, Petrópolis: Autores e Agentes e Associados, 2002.
ALAGGIA, Ramona. Many ways of telling: expanding conceptualizations of child sexual abuse disclosure. Child Abuse & Neglect, nº 28, 2004, p.1213-1227.
ALMEIDA, Angela M. Notas sobre a família no Brasil. In: ALMEIDA, A. (org.) Pensando a família no Brasil – da colônia à modernidade. Rio de Janeiro: Espaço e tempo/UFRRJ, 1987, p.53-66.
ALVES-MAZZOTTI, Alda J. O Método nas Ciências Sociais. In: ALVES-MAZZOTTI, A.J. & GEWANDSZNAJDER, F. O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2ª ed., 1999, parte II, p.109-187.
AMAZARRAY, Mayte R. & KOLLER, Sílvia H. Alguns aspectos observados no desenvolvimento de crianças vítimas de abuso sexual. Psicologia Reflexão & Crítica, vol. 11, nº 3, 1998, p. 559-578.
AMENDOLA, Marcia F. Avaliações Psicodiagnósticas em Situações de Abuso contra Crianças. Palestra proferida no XI Fórum de Psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto – A prática clínica na atualidade: algumas questões críticas sobre diagnóstico e terapêutica. HUPE/UERJ, Rio de Janeiro, nov. de 2002. Disponível em: <http://www.canalpsi.psc.br>.
_______. Mães que Choram: avaliação psicodiagnóstica de mães de crianças vítimas de abuso sexual. In: PRADO, M.C.C.A. (org.) O Mosaico da Violência – a perversão na vida cotidiana. São Paulo: Vetor, 2004, p.103-169.
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION – APA Council of Representatives. Statement on the use of anatomically detailed dolls in forensic evaluations. Washington: DC: American Psychological Association. February 8, 1991.
ANASTASI, Anne. Testes Psicológicos. São Paulo: EPU, 2ª ed., 1977.
ANCONA-LOPES, Sílvia. Psicodiagnóstico: processo de intervenção? In: ANCONA-LOPEZ, M. (org.) Psicodiagnóstico: processo de intervenção. São Paulo: Cortez, 3ª ed., 2002, p. 26-36.
ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Boletim nº 52, abril de 2003.
ARAÚJO, Maria de Fátima. Violência e abuso sexual na família. Psicologia em Estudo, vol.7, nº.2, jul./dez. 2002, p. 3-11.
165
ARIÈS, Philipe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981
ARZENO, Maria Esther Garcia. Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
ASSIS, Simone G. Crianças e adolescentes violentados: passado, presente e perspectivas para o futuro. Cadernos de Saúde Pública, vol.10 supl.1, 1994, p.126-134.
AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE. Child Protection Australia 2002 – 03. AIHW cat. Nº CWS 22. Canberra: AIHW – Child Welfare Series, nº 34, 2004.
AZEVEDO, Maria Amélia & GUERRA, Viviane N. A. A Violência Doméstica na Infância e na Adolescência. São Paulo: Robe, 1995.
_______. Infância e violência doméstica – módulo 1A/B. São Paulo: LACRI/IPUSP, 1998.
_______. (org.) Infância e Violência Doméstica: Fronteiras do Conhecimento. São Paulo: Cortez, 3ª ed., 2000.
AZEVEDO, Maria Amélia, GUERRA, Viviane N. A & VAICIUNAS, Nancy. Incesto ordinário: a vitimização sexual doméstica da mulher-criança e suas conseqüências psicológicas. In: AZEVEDO, Maria Amélia & GUERRA, Viviane N. A. (org) Infância e Violência Doméstica: Fronteiras do Conhecimento. São Paulo: Cortez, 3ª ed., 2000, p.195-210.
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
BALA, Nicholas & SCHUMAN, John. Allegations of sexual abuse when parents have separated. Canadian Family Law Quarterly, nº 17, 2000, p. 191-241.
BARBOSA, Hélia Maria Amorim Santos; BRAITENBACH, Isabella.; FREIRE, Maurício Alves & FARIA, Thaís Dumêt. Sociedade, Ética e Justiça – Uma Nova Concepção de Responsabilizar. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia: CEDECA/BA, 2003. Disponível em: <http://www.cedeca.org.br/publicacoes/socie_01.pdf>. Acesso em 20 abr. 2004.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BAUER, Martin W. & GASKELL, George (org). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002.
BERLINER, Lucy & BARBIERI, Mary K. The testimony of the child victim of sexual assault. Journal of Social Issues, vol.40, nº 2, Summer 1984, p. 125-137.
BERNARDES, Dayse César F. Avaliação psicológica no âmbito das instituições judiciárias. In: CRUZ, R.M.; MACIEL, S.K & RAMIREZ, D.C. (org.) O trabalho do psicólogo no campo jurídico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p.71-80.
BEVILAQUA, Clovis. Código Civil. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917.
166
BLEGER, José. Temas de psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
BORBA, Maria Rosi de M. O duplo processo de vitimização da criança abusada sexualmente: pelo abusador e pelo agente estatal, na apuração do evento delituoso. Jus Navigandi, ano 6, nº 59, 2002. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3246> Acesso em: 02 dez. 2004.
BOAT, Barbara W. & EVERSON, Mark D. Interviewing young children with anatomical dolls. Child Welfare, vol. 67, 1988a, p.337-52.
_______. Use of anatomical dolls among professionals in sexual abuse evaluations. Child Abuse and Neglect, vol.12, nº 2, 1988b, p.171-79.
BOWLBY, John. Apego: A natureza do Vínculo. Volume 1 da trilogia Apego e Perda. São Paulo: Martins Fontes, 3ª ed., 2002.
BRASIL. Código Penal Brasileiro, Decreto-lei n° 2.848 de 7 de dezembro de 1940. São Paulo: Saraiva, 9ª ed., 2003.
_______. Conselho Federal de Psicologia. Elaboração e a comercialização de testes psicológicos Resolução CFP N.º 002/2003. Brasília: CFP.
_______. Conselho Federal de Psicologia., Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo. Resolução CFP N.º 007/2003. Brasília: CFP.
_______. Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo, Resolução CPF Nº 010/2005, 27 de agosto de 2005. Brasília: CFP.
_______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946.
_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal. São Paulo: Ática, 1990.
_______. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Coleção Legislação Brasileira, vol. 11. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
_______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de Pesquisa, Departamento de População e Indicadores Sociais, Estatística do Registro Civil 2003. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 01 fev. 2006.
_______. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Brasília: MS; 1999.
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência Intrafamiliar: Orientações para práticas em serviço. Brasília: MS; 2001.
_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Notícias: Dia Nacional quer Combater Violência Sexual contra Menores. 2002. Disponível em:
167
<http://www.planejamento.gov.br/noticias/conteudo/geral/dia_nacional_contra_abuso.htm>. Acesso em 10 dez. 2004.
_______. Novo Código Civil: Lei 10.406/02. Organizado por José Guilhermes Soares Filho. Rio de Janeiro: DP&A, 2ª ed., 2003.
BRITO, Leila Maria T. Separando: um estudo sobre a atuação do psicólogo nas Varas de Família. Rio de Janeiro: Relume-Duramá, 1993.
_______. Descumprimento de visitação e a questão penal. Revista Brasileira de Direito de Família (IBDFAM), Doutrina, n° 8, 2001a, p.18-29.
_______. Palestra proferida na XXXI Reunião Anual de Psicologia/UERJ. Agência UERJ de notícias, 2001b. Disponível em: <http://www2.uerj.br/~aun/memo/memo2001/23.htm>. Acesso em 20 abr. 2004.
_______. De competências e convivências: caminhos da Psicologia junto ao Direito de Família. In: BRITO, L.M.T. (org.) Temas de Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 3ª ed., 2002a, p.171-186.
_______. Impasses na condição da guarda e da visitação – O Palco da Discórdia. In: Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, 2002b, p. 433-448.
_______. Reflexões em torno da Psicologia Jurídica. In: CRUZ, R.M.; MACIEL, S.K & RAMIREZ, D.C. (org.) O trabalho do psicólogo no campo jurídico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p.9-18.
BRUCK, Maggie; CECI, Stephen J.; FRANCOEUR, Emmett. Children's use of anatomically detailed dolls to report genital touching in a medical examination: Developmental and gender comparisons. Journal of Experimental Psychology, vol. 6, issue 1, Mar 2000, p. 74-83.
BRUCK, Maggie, CECI, Stephen J., & SHUMAN, Daniel W. Disclosure of child sexual abuse: What does the research tell us about the ways that children tell? Psychology, Public Policy and the Law. Vol 11, nº 1, 2005, p.194-226.
BULHÕES, Sueli. Desafios na definição e no diagnóstico do abuso sexual contra crianças e adolescentes. In: OLIVEIRA, A.C. (org.) Abuso sexual de crianças e adolescentes: desafios na qualificação profissional. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa, 2ª ed., 2004, p.11-12.
BUSTAMANTE, Humberto A.G. El abuso sexual infantil y la mala praxis psiquiátrico-psicológica. Argentina, 2002. Disponível em: <http://www.infanciayjuventud.com/anterior/DOC/abuso_sexual_infantil.pdf> e <http://www.infanciayjuventud.com/anterior/academic/academ_2b_2002.html>. Acesso em 17 de nov. 2005.
CAMINHA, Renato M. A Violência e seus danos à criança e ao adolescente. In: AMENCAR (org.) Violência Doméstica. Brasília: UNICEF, 2000, p.43-60.
168
CAMPBELL, Terence W. Indicators of child sexual abuse and their unreliability. American Journal of Forensic Psychology, vol. 15, nº 1, 1997, p.5-18.
_______. Smoke and Mirrors: the devastating effects of false sexual abuse claims. Insight Books: Spring Street, New York, N.Y., 1998.
CAPLAN, Nathan & NELSON, Stephen D. The nature and consequences of psychological research on social problems. American Psychologist, nº 3, 1973, p.199-211.
CÁRDENAS, Eduardo José. El Abuso de la Denuncia de Abuso. La Ley, ano XLIX, nº178, 2000, p.1-3.
CARDOSO, Tania G. Violência Sexual Intrafamiliar – relato de uma prática em Psicologia Judiciária. In: SILVA, Lygia M.P. (org.) Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Recife: EDUPE: 1ª reimpressão, 2002, p.101-113.
CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Makron, 1997.
CECI, Stephen J. Cognitive and social factors in children's testimony. Presentation at the 101th Annual Convention of the American Psychological Association, Toronto, Ontario. August, 1993.
CECI, Stephen J. & BRUCK, Maggie. The suggestibility of the child witness: A historical review and synthesis. Psychological Bulletin, Nº 113, 1993, p. 403-439.
_______. Jeopardy in the Courtroom: a scientific analysis of children’s testimony. American Psychological Association (APA): Washington, DC, 6ª ed., 2002.
CECI, Stephen J., BRUCK, Maggie. & ROSENTHAL, Robert. Children’s allegations of sexual abuse: forensics and scientific issues: a reply to commentators. Psychology Public Policy and Law, vol.1, nº2, 1995, p.494-520.
CECI, Stephen J. & HEMBROOKE, Helene. Expert witnesses in child abuse cases: what can and should be said in court. American Psychological Association (APA): Washington, DC, 1998.
CESCA, Taís Burin. O papel do psicólogo jurídico na violência intrafamiliar: possíveis articulações. Psicologia & Sociedade, vol. 16, nº 3, set/dez. 2004, p.41-46.
CHAUÍ, Marilena S. Participando do debate sobre mulher e violência. In: Perspectivas Antropológicas da Mulher: sobre mulher e violência. Rio de Janeiro: Zahar, vol.4, 1985, p. 25-62.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. Rio de Janeiro: Cortez, 1991.
CLAWAR, Stanley S. & RIVLIN, Brynne V. Children Held Hostage: Dealing with Programmed and Brainwashed Children. Chicago, Illinois: American Bar Association, 1991.
169
CID-10 – Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
COHEN, Cláudio. O incesto um desejo. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1993.
_______. O Incesto. In: AZEVEDO, M.A. & GUERRA, V.N.A. (org.) Infância e Violência Doméstica: Fronteiras do Conhecimento. São Paulo: Cortez, 2000, p. 211-225.
COHN, D.S. Anatomical doll play of preschoolers referred for sexual abuse and those not referred. Child Abuse Program, Children's Hospital, Columbus. Child Abuse & Neglect, vol. 15, nº 4, 1991, p.455-66.
COLEMAN, Lee. & CLANCY, Patrick E. Has a child been molested?: the disturbing facts about current methods of investigating child sexual abuse accusations. Berkeley Creek Productions: Walnut Creek, CA, 1999.
COMEL, Denise D. Poder familiar: titularidade. Inconstitucionalidade da primeira parte do caput do art. 1.631 do Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, nº 363, 5 jul. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5414>. Acesso em: 12 jan. 2005.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. Ministério da Justiça, CBIA, Unicef, 1991.
CORREIA, Alexandre & SCIASCIA, Gaetano, Manual de Direito Romano I. São Paulo: Saraiva, 1ª ed., 1949.
COSTA, Leila M. Violência Doméstica. I Encontro de Psicólogos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Núcleo de Psicologia da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, 2000, p. 111-117.
CRAMI & CEARAS. Cartilha Abuso sexual: que violência é essa?; 2000. Disponível em: <http://www.crami.org.br>. Acesso em: 10 nov. 2004.
CRAMI-ABCD. Pesquisa, agosto/93 a dezembro/97. Disponível em: <http://www.crami.org.br/estatisticas.asp>. Acesso em: 10 nov. 2004.
CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Direito Romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
CUNHA, Jurema A. & col. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
DAY,Vivian P., TELLES, Lisieux Elaine B., ZORATTO, Pedro Henrique, AZAMBUJA, Maria Regina F., MACHADO, Denise A., SILVEIRA, Marisa Braz, DEBIAGGI, Moema, REIS, Maria da Graça, CARDOSO, Rogério G. & BLANK, Paulo. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, vol.25 supl.1, abril 2003, p.9-21.
DELOACHE, Judy S. Mente Simbólica. Revista Viver Mente&Cérebro. Duetto Editorial, edição 160, maio 2006, p.76-81.
170
DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 5ªed, 1986.
_______. Avaliação qualitativa. São Paulo: Cortez, 1991.
_______. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1992.
_______.Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SKILLS – DfES. Referrals, Assessments and Children and Young People on Child Protection Registers: Year Ending 31March 2003. London: TSO, 2004.
DE PAULA, Fausto J. Aspectos Jurídicos da Definição de Abuso Sexual. In: OLIVEIRA, A.C. (org.) Abuso sexual de crianças e adolescentes: desafios na qualificação profissional. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa, 2ª ed., 2004, p.31-43.
DESLANDES, Suely F. Atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica: análise de um serviço. Cadernos de Saúde Pública, vol.10, supl.1, 1994, p.177-187.
DE YOUNG, Mary. A conceptual model for judging the truthfulness of a young child's allegation of sexual abuse. American J. Orthopsychiatry, vol. 56, nº 4, 1986, p.550-559.
DIAS, Mônica. A Construção do Casal Contemporâneo. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2000.
DIAS, Maria Berenice. Incesto: um pacto de silêncio. Boletim IBDFAM, nov/dez. 2005, p.11.
_______. Incesto – um Pacto do Silêncio. Jornada Psicanalítica – Incesto: Violência Sexual na Família. Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo – SBPSP, São Paulo, 08 abril de 2006.
DOBKE, Veleda. Depoimento sem Dano. III Jornada Estadual Contra Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Transformando Compromissos em Ações. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e Fundação Maurício Sirotski Sobrinho, dezembro de 2005. Disponível em < http://www.mp.rs.gov.br/imprensa/noticias/id6009.htm>. Acesso em: 13 dez. 2005.
DOLTO, Françoise. Quando os pais se separam. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
DONZELOT Jacques. A Polícia das Famílias. Rio de Janeiro: Graal, 2ª ed., 1986.
DREZETT, Jefferson. Aspectos biopsicossociais da violência sexual. Jornal da Rede Pública, nº 22, 2000, p.18-21.
DSM-IV. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. American Psychiatric Association. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
171
EICH, Doracy A. A experiência e o papel do Conselho Tutelar. In: OLIVEIRA, Antonio Carlos (org.) Abuso sexual de crianças e adolescentes: desafios na qualificação profissional. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa, 2ª ed., 2004, p.95-105.
ENGLISH, Diana J., MARSCHALL, David B., BRUMMEL, Sherry & ORME, Matthew. Characteristics of repeated referrals to child protective services in Washington State. Child Maltreatment vol. 4, nº 4, 1999, p. 297-307.
EVERSON, Mark D. & BOAT, Barbara W. Putting the anatomical doll controversy in perspective: an examination of the major uses and criticisms of the dolls in child sexual abuse evaluations. Child Abuse Neglect, vol. 18, nº 2, 1994a, p.113-129.
_______. Exploration of anatomical dolls by nonreferred preschool-aged children: comparisons by age, gender, race, and socioeconomic status. Department of Psychiatry, University of Cincinnati. Child Abuse Neglect, vol. 18, nº 2, 1994b, p.139-153.
FALEIROS, Eva Teresinha S. Apresentação. In: LEAL, M.F.P. & CÉSAR, M.A. (org.) Indicadores de Violência Intrafamiliar e Exploração Sexual Comercial de crianças e Adolescentes. Relatório Final da Oficina. CESE/Ministério da Justiça/CECRIA/Fundo Cristão Para Criança, 1998, p. 5.
_______. Aspectos Relevantes na Definição de Abuso Sexual. In: OLIVEIRA, A.C. (org.) Abuso sexual de crianças e adolescentes: desafios na qualificação profissional. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa, 2ª ed., 2004, p.13-19.
FALEIROS, Eva Teresinha S. & CAMPOS, Josete O. Repensando os conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. CECRIA, Departamento da Criança e Adolescente da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Brasília, 2000.
FALEIROS, Vicente de Paula. (Coord.) Fundamentos e Políticas Contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Relatório de Estudo. Brasília: Ministério da Justiça/CECRIA, 1997.
_______. Redes de Exploração e Abuso Sexual e redes de Proteção. Brasília: Anais do IX Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, vol. 1, jul. 1998, p. 267-272.
FALEIROS, Vicente de Paula.; FALEIROS, Eva Teresinha S.; CARDOSO, Clara Maria C.; PACHECO, Ludmila A. & CAVICCHIOLI, Fernanda R. Circuito e curto-circuitos no atendimento, defesa e responsabilização do abuso sexual contra crianças e adolescentes do Distrito Federal. CECRIA, 2001. Disponível em: <http://www.cecria.org.br> Acesso em: 10 de nov. 2004.
FALLER, Kathleen C. Anatomical Dolls. Their Use in Assessment of Children Who May Have Been Sexually Abused. J Child Sex Abuse, vol. 14, nº 3, 2005, p.1-21.
FARINATTI, Franklin.; BIAZUS, Daniel B. & LEITE, Marcelo B. Pediatria Social – a criança maltratada. Curitiba: Medsi, 1993.
172
FELDMAN Mark D. & BROWN, R.M. Munchausen by Proxy in an international context. Child Abuse & Neglect, Vol. 26, nº 5, May 2002, p.509-24.
FERENCZI, Sandor. Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança (A Linguagem da Ternura e da Paixão). In: Obras Completas. São Paulo: Martins Fontes, vol.4, IX, 1932/1992, p. 97-106.
FINKELHOR, David. What's wrong with sex between adults and children? Ethics and the problem of sexual abuse. American Journal of Orthopsychiatry, vol. 49, 1979, p. 692-697.
FINKELHOR, David. & BROWNE, A. The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: a conceptualization. American Journal of Orthopsychiatry, vol.55, nº 4, October 1985, p. 530-541.
FINKELHOR, David. & BROWNE, A. Impact of child sexual abuse: a review of the research. Psychological Bulletin, nº 99, 1986, p. 66-77.
FLORES, Renato Z. Definir e medir o que são abusos sexuais. In: LEAL, M.F.P. & CÉSAR, M.A. (org.) Indicadores de Violência Intra-familiar e Exploração Sexual comercial de crianças e Adolescentes (relatório final da oficina). CECRIA, 1998.
FLORES, Renato Z. & CAMINHA, Renato. M. Violência sexual contra crianças e adolescentes: Algumas sugestões para facilitar o diagnóstico correto. Revista de Psiquiatria do RS, vol.16, 1994, p. 158-167.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1 – A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 14ª ed., 2001.
_______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 19ª ed., 2004.
_______. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 30ª ed., 2005.
FREUD, Sigmund. Extratos dos documentos dirigidos a Fliess (1950 [1892-1899]). Edição Eletrônica Brasileira das Obras Completas de Sigmung Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1986, vol. 1, Carta 69 de setembro de 1897.
FORWARD, Susan. & BUCK, Craig. A traição da inocência: o incesto e sua devastação. Rio de Janeiro: Rocco, 1989.
FU I, Lee, CURATOLO, Eliana & FRIEDRICH, Sonia Transtornos afetivos. Revista Brasileira de Psiquiatria. vol.22 supl.2, 2000, p.24-27.
FURNISS, Tilman. Abuso Sexual da Criança: uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2ª reimpressão, 2002.
GABEL, Marceline. Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997.
GARBARINO, James & GILLIAM, Gwen. Understanding Abusive Families. Massachusetts: Lexing Books, 1981.
173
GARDNER, Richard A. Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited. Creative Therapeutics: Cresskill, New Jersey, 1991.
_______. The Parental Alienations Syndrome. A guide for mental health and legal professionals. Creative Therapeutics: Cresskill, New Jersey, 2ª edition, 1992.
GASKELL, George. Entrevistas Individuais e Grupais In: BAUER, M.W. & GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, p. 64-89, 2002.
GIFFIN, Karen. Exercício da Paternidade: Uma Pequena Revolução. In: SILVEIRA, P. (org.) Exercício da Paternidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p. 75-80.
GOMES, Romeu. Da denúncia à impunidade: um estudo sobre a morbi-mortalidade de crianças vítimas de violência. Cadernos de Saúde Pública, vol. 14, nº 2, 1998, p.301-311.
GOMES, Romeu, DESLADES, Suely F., VEIGA, Márcia M., BHERING, Carlos & SANTOS, Jacqueline F.C. Por que as crianças são maltratadas?: Explicações para a prática de maus-tratos infantis na literatura. Cadernos de Saúde Pública, vol.18, n°3, 2002, p.707-714.
GOMES, Reges C. Violência entre Pais e Filhos. VII Encontro Regional da Família – Violência no Casal & na Família. Rio de Janeiro: Núcleo-Pesquisas, 22 a 24 out. 2004.
GONÇALVES, Hebe S. Infância e violência doméstica: um tema da modernidade In: BRITO, L.M.T. (org.). Temas de Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999.
_______. Infância e Violência no Brasil. Rio de Janeiro: NAU editora e FAPERJ, 2003.
_______. A Notificação da Violência contra a criança: considerações, práticas e éticas. Sociedad Iberoamericana de Información Científica – SIIC, 2004a. Disponível em: <http://www.siicsalud.com/dato/dat041/04d13017.htm>. Acesso em 14 jan. 2005.
_______. Supervisão de Profissionais em Abuso Sexual. In: OLIVEIRA, A.C. (org.) Abuso sexual de crianças e adolescentes: desafios na qualificação profissional. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa, 2ª ed., 2004b, p. 49-56.
GONÇALVES, Hebe S. & MARQUES, Maria Aparecida B. Infância e violência doméstica: uma discussão acerca da intervenção na família. O Social em Questão, Rio de Janeiro: PUC-RJ, ano V, vol. 6, n°6, 2001, p. 51-68.
GONÇALVES, Hebe S. &, FERREIRA, Ana Lúcia. A notificação da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes por profissionais de saúde. Cadernos de Saúde Pública, vol.18 n°1, 2002, p. 315-319.
GREEN, Arthur H. True and false allegations of sexual abuse in child custody disputes. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, vol. 25, nº 4, 1986, p.449-56.
_______. Child sexual abuse: Immediate and long-term effects and intervention. Journal of the American Academy Child and Adolescent Psychiatry, vol.32, nº 5, 1993, p.890-902.
174
GRISARD FILHO, Walter. Guarda Compartilhada - Quem Melhor para Decidir? São Paulo, PaiLegal, 2002. Disponível em: <http://www.pailegal.net/TextoCompleto.asp?lsTextoTipo=Justica&offset=10&lsTextoId=1094972355>. Acesso em 03 ago 2004.
HABIGZANG, Luísa Fernanda & CAMINHA, Renato Maiato Abuso Sexual contra crianças e adolescentes – conceituação e intervenção clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
HABIGZANG, Luísa Fernanda; KOLLER, Sílvia H.; AZEVEDO, Gabriela Azen e MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: aspectos observados em processos jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol.21, n°3, 2005, p.341-348.
HAUGAARD, Jeffrey J. & REPUCCI, Dickon. The Sexual Abuse of Children: A Comprehensive Guide to Current Knowledge and Intervention Strategies (Social and Behavioral Science Series) San Francisco: Jossey – Bass Pub., 1988.
HENNIGEN, Inês e GUARESCHI, Neuza Maria F. A paternidade na contemporaneidade: um estudo de mídia sob a perspectiva dos estudos culturais. Psicologia & Sociedade, vol. 14, nº 1, jan./jun. 2002 p.44-68.
HERMAN, Judith, PERRY, Christopher & VAN DER KOLK, Bessel A. Childhood trauma in borderline personality disorder. Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Cambridge Hospital, Mass. American Psychiatric Association; vol.146, 1989, p.490-495.
HOLMES, Lori S. Using Anatomical Dolls In Child Sexual Abuse Forensic Interviews. American Prosecutors Research Institute (APRI), National Center for Prosecution of Child Abuse. UPDATE, vol. 13, nº 8, 2000.
HUSTEL, Françoise. As novas fronteiras da paternidade. Campinas: Papirus, 1999.
IENCARELLI, Ana Maria. Traumatismo Psicológico do Abuso Sexual. Boletim Científico da SPRJ. Rio de Janeiro, vol. XXVIII, nº3, 1997, p. 459-462.
JOHNSON Jeffrey G., COHEN Patricia, BROWN Jocelyn, SMAILES Elizabeth M. & BERNSTEIN David P. Childhood Maltreatment Increases Risk for Personality Disorders During Early Adulthood. Arch Gen Psychiatry, vol. 56, n° 7, 1999, p. 600-606.
JORNAL DE SANTA CATARINA. Inimigo Oculto, mas conhecido. Infância e adolescência/Caderno Geral, 2003, p. 2-B.
JUNQUEIRA, Maria de Fátima. O abuso sexual e a prática clínica: sexualidade e desamparo. Psicologia Clínica, Rio de Janeiro: PUC-RJ, vol. 10, nº 10, 1998, p.25-42.
KENDALL-TACKETT Kathleen A & WATSON, Meyer W. Use of anatomical dolls by Boston-area professionals. Department of Psychology, Brandeis University. Child Abuse & Neglect, vol. 16, nº 3, 1992, p.423-428.
KOLKO, David J. Characteristics of child victims of physical violence: research findings and clinical applications. Journal of Interpersonal Violence, vol.7, nº2, 1992, p. 244-276.
175
KOLLER, Silvia H. Violência Doméstica: uma visão ecológica. In: AMENCAR (org.) Violência Doméstica. Brasília: UNICEF, 2000, p.32-42.
KÜHN, Maria Leonor, REIS, José Eduardo S. & TRINDADE FILHO, Aluísio. Abuso Sexual na Infância. Trabalho apresentado como tema livre no XV Congresso Brasileiro de Medicina Legal, Salvador – Bahia, setembro de 1998. Disponível em: <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/6478/abusomlsk.html> Acesso em: 10 set. 2004.
LAMB, Michael E. The investigation of child sexual abuse: An interdisciplinary consensus statement. Child Abuse & Neglect, vol. 18, issue 12, 1994, p.1021-1028.
LAMBIE, Ian, SEYMOUR, Fred, LEE, Alan & ADAMS, Peter. Resiliency in the Victim-Offender Cycle in Male Sexual Abuse. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment. vol.14, nº1, Jan. 2002, p.31-48.
LAMOUR, Martine. Os abusos sexuais em crianças pequenas: sedução, culpa, segredo. In: GABEL, M. Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997, p. 43-61.
LIPP, Marilda E.N. Crianças Estressadas: causas, sintomas e soluções. Campinas: Papirus 2000.
LÔBO, Paulo Luiz Neto. A repersonalização das relações de família. In: BITTAR, C.A. O direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. Atualizado: Jus Navigandi ano 8, n° 307, 10 maio 2004. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5201>. Acesso em 10 set. 2004.
_______. Identidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte, 2002.
LOWRY, Rich. Creating Victims – False Charges of Sexual Abuse of Children. National Review, Dec 5, 1994.
MARTINS Joel & BICUDO, Maria Aparecida V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos. São Paulo: Moraes – EDUC, 1989.
MEADOW, Roy. Munchausen syndrome by proxy. Archives of Disease in Childhood, 57, Feb. 1982, p.92 - 98.
_______. False allegations of abuse and Munchausen syndrome by proxy Archives of Disease in Childhood, 68, Apr 1993, p. 444 - 447.
MENEGHEL, Stela N.; GIUGLIANI, Elsa J. & FALCETO, Olga. Relações entre violência doméstica e agressividade na adolescência. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro: vol. 14, nº 2, 1998, p.327-335.
MILLER, Dusty. Incesto: O Centro da Escuridão. In: IMBER-BLACK, E. & col. Os Segredos na Família e na Terapia de Família. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002, p. 185-199.
176
MINAYO, Maria Cecília S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 2ªed., São Paulo: Hucitec/ Abrasco, 1993.
_______. Violência social sob a perspectiva da saúde pública. Cadernos de Saúde Pública v.10 supl.1., 1994, p. 7-18.
_______.(org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 13ªed. Petrópolis: Vozes, 1999.
_______. Violência: um Velho-Novo Desafio para a Atenção à Saúde. Revista Brasileira de Educação Médica. Rio de Janeiro, v.29, nº 1, jan/abr. 2005, p.55-63.
MINAYO, Maria Cecília S. & SANCHES, Odécio. Quantitativo-Qualitativo: oposição ou complementaridade. Cadernos de Saúde Pública, vol.9, n° 3, 1993, p. 239-262.
MIRANDA Jr., Hélio Cardoso. Psicanálise e avaliação psicológica no âmbito jurídico. In: SHINE, S. (org.). Avaliação Psicodiagnóstica e Lei. Adoção, Vitimização, Separação Conjugal, Dano Psíquico e outros temas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p.159-174.
MIRABETE, Julio F. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 4ª ed., 2003.
MONTGOMERRY, Malcon. Breves Comentários. In: SILVEIRA, P. (org.) Exercício da Paternidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p. 113-118.
MUSZKAT, Malvina Ester. Violência de gênero e paternidade. In: ARILHA, M., RIDENTI, G.U. & MEDRADO, B. (org.) Homens e Masculinidades. Outras palavras. São Paulo: Editora 34, 1998, p.215-233.
MUZIO, Patricia A. Paternidade (Ser Pai)... Para que Serve? In: SILVEIRA, P. (org.) Exercício da Paternidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p. 165-174.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Understanding child abuse and neglect. Washington, DC: National Academy Press, 1993.
NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN – NSPCC. Department for Education and Skills – DfES, 2004.
NJAINE, Kathie, SOUZA, Edinilsa R., MINAYO, Maria Cecília S.; ASSIS, Simone G. A produção da (des)informação sobre violência: análise de uma prática discriminatória. Cadernos de Saúde Pública, vol.13 n° 3, 1997, p. 405-414.
NOLASCO, Sócrates. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.
NOETHER, Gottfried E. Introdução à Estatística – uma abordagem não-paramétrica. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1983.
NOGUEIRA, Susana E. & SÁ, Maria Luiza B. P. Atendimento psicológico a crianças vítimas de abuso sexual: alguns impasses e desafios. In: PRADO, M.C.C.A. (org.) O Mosaico da Violência – a perversão na vida cotidiana. São Paulo: Vetor, 2004, p. 47-102.
177
NUCCI, Guilherme S. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ª ed., 2003.
OLIVEIRA, Antonio Carlos. & AMERICANO, Naura S. Psicologia Jurídica e Violência Doméstica – algumas considerações. Seminário de Psicologia Jurídica. Laboratórios Temáticos: Os Labirintos da Demanda. Rio de Janeiro: UERJ e Núcleo de Psicologia da 1ª Vara da Infância e da Juventude, 16 de ago. 2002.
OLIVEIRA, Antonio Carlos. Qualificação no Processo de Intervenção e Atendimento. OLIVEIRA, A.C. (org.) Abuso sexual de crianças e adolescentes: desafios na qualificação profissional. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa, 2ª ed., 2004, p.57-71.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Genebra, 2002.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Resolução XIX: Violência e Saúde. Washington DC: OPAS; 1993.
PADILHA, Maria da Graça S. & GOMIDE, Paula I.C. Descrição de um processo terapêutico em grupo para adolescentes vítimas de abuso sexual. Estudos de Psicologia (Natal) vol.9 nº.1, 2004, p. 53-61.
PARNELL, Teresa F. Defining Munchausen by Proxy Syndrome. In: PARNELL, Teresa F. & DAY, Deborah O. (ed). Munchausen by Proxy Syndrome: Misunderstood Child Abuse. Caliornia, USA: Sage, 1998, p.9-46.
PAULILO, Maria Angela S. A Pesquisa Qualitativa e a História de Vida. Serviço Social em Revista, vol.2, n°1, 1999. Disponível em: <http://www.ssrevista.uel.br/c_v2n1_pesquisa.htm>. Acesso em 09 ago. 2004.
PEREIRA, Tania S. Abuso Sexual Contra a Criança e Adolescente: competência absoluta da Vara da Infância e Juventude. Jurisprudência Comentada. Revista Brasileira de Direito de Família, nº15, 2002, p.55-64.
PERRY, Christopher & HERMAN, Judith L. Trauma and defense in the etiology of borderline personality disorder. In: Borderline Personality Disorder: Etiology and Treatment (ed. J.Paris). Washington, DC: American Psychiatric Press, 1993.
PIRES, Ana Lúcia D., JAMAL, Eleny M., BRITO, Ana Maria M. & MENDONÇA, Rita de Cássia V. Maus-tratos contra crianças e adolescentes: avaliação das notificações compulsórias no município de São José do Rio Preto. Informe Mensal sobre Agravos à Saúde Pública, Ano 2, Nº 24, dez. 2005.
PIZZOL, Alcebir D. Estudo Socual ou Perícia Social? – um estudo teórico-prático na justiça catarinense. Florianópolis: Insular, 2005.
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.
RAMOS, Magdalena. & SHINE, Sidney K. A família em litígio. In RAMOS, M. (org.) Casal e família como paciente. São Paulo: Escuta, 1994, p. 95-122.
178
RAND, Deirdre C. Munchausen Syndrome by Proxy: Integration of Classic and Contemporary Types. Issues in Child Abuse Accusations, nº 2, 1990, p. 83-89.
RAUTER, Cristina O. Diagnóstico psicológico do criminoso: tecnologia do preconceito. Revista de Psicologia da UFF, p.9-22, 1989.
REIS, Jair N., MARTIN, Carmen C.S. & FERRIANI, Maria das Graças C. Mulheres vítimas de violência sexual: meios coercitivos e produção de lesões não-genitais. Cadernos de Saúde Pública, vol.20, n°2, 2004, p. 465-473.
REVISTA CRESCER – em família. Entrevista: Contra o abuso. Rio de Janeiro: Editora Globo, edição 128, jul. 2004.
REVISTA ESCOLA – Comportamento. Mentira ou fantasia? São Paulo: Editora Abril, edição 176, out. 2004.
RIBEIRO, Márcia Aparecida, FERRIANI, Maria das Graças C., REIS, Jair N. Violência sexual contra crianças e adolescentes: características relativas à vitimização nas relações familiares. Cadernos de Saúde Pública, vol.20, n° 2, 2004, p. 456-464.
RIZZINI, Irma, CASTRO, Mônica R. & SARTOR, Carla D. Pesquisando... Guia de Metodologias de Pesquisa para Programas Sociais. Série banco de dados - 6. Rio de Janeiro: Unicef/EDUSU, 1999.
RODRIGUES, Clóvis Fedrizzi. Antecipação de Tutela Recursal em sede de agravo e apelação – interpretação da Lei 10.352/0. Revista de Doutrina da 4ª Região, Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região – EMAGIS. Edição Nº1, 2004. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/artigos/proc_civil/clovis_rodrigues.htm>. Acesso em 20 fev. 2006.
ROUYER, Michèle. As Crianças Vítimas, conseqüências a curto e médio prazo. In: GABEL, M. Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997, p. 62-71.
SANDERSON, Christiane. Abuso Sexual em Crianças. São Paulo: M. Books, 2005.
SCHACTER, Daniel L. Os sete pecados da memória – como a mente esquece e lembra. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
SCHMEIDLER, James; GOLIER, Julia A.; YEHUDA, Rachel; BIERER, Linda M.; MITROPOULOU, Vivian; NEW, Antonia S.; SILVERMAN, Jeremy M. & SIEVER, Larry J.. The Relationship of Borderline Personality Disorder to Posttraumatic Stress Disorder and Traumatic Events. American Psychiatric Association, vol.160, 2003, p.2018-2024.
SCHMICKLER, Catarina M., RECH, Lilian K. & GOMES, Waldirene V. Denunciar pode significar incluir: reflexões sobre o espaço da denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Katálysis, vol.6, nº 1, 2003, p. 76-88.
179
SCHREIBER, Simone. O princípio da presunção de inocência. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, nº 790, 1 set. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7198>. Acesso em: 08 mar. 2006.
SCHREIBER, Elisabeth. Os direitos fundamentais da criança na violência instrafamiliar. Porto Alegre; Ricardo Lenz Editor, 2001.
SCHREIER, Herbert A. Repeated False Allegations of Sexual Abuse Presenting to Sheriffs: when is it Munchausen by Proxy? Child Abuse & Neglect, vol.20, nº 10, 1996, p. 985-991.
SEABRA, André S. Abuso Sexual Infantil. Edição especial, Caderno de Psiquiatria. Sociedade de Análise Existencial e Psicomaiêutica (SAEP), 2000. Disponível em: <http://www.existencialismo.org.br/jornalexistencial/andreseabraabusosexual.htm> Acesso em 10/11/2004.
SGROI, Suzanne. Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse. Lexington Press. Lexington, Mass Toronto. Lexington books. 1982.
SHINE, Sidney K. A Espada de Salomão. A Psicologia e a disputa de guarda de filhos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003a.
_______. Abuso sexual de crianças. In: GROENINGA, G.C. & PEREIRA, R.C. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma Nova Epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003b, p. 229-251.
SHINE, Shiney & STRONG, Maria Isabel. O laudo pericial e a interdisciplinaridade no Poder Judiciário. In: SHINE, S. (org). Avaliação Psicológica e Lei: adoção, vitimização, separação conjugal, dano psíquico e outros temas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
SILVA, Maria Amélia S. Violência contra crianças – quebrando o pacto do silêncio. In: FERRARI, D. & VECINA T. (org.) O Fim do Silêncio na Violência Familiar – Teoria e Prática. São Paulo: Ágora, 2002, p. 73-80.
SILVA, Simone S.C.; LE PENDU, Yvonnick.; PONTES, Fernando A.R. & DUBOIS, Michel. Sensibilidade materna durante o banho. Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol.18, n°3, 2002, p.345-352.
SILVEIRA, Márcia M., Abuso Sexual na Infância – dinâmica e terapêutica com adultos. Presença, Revista Vita de Gestalt Terapia, ano 2, nº3, 1996, p. 33-46.
SINGLY, François. O nascimento do “indivíduo individualizado” e seus efeitos na vida conjugal. In: PEIXOTO, C.; SINGLY, F. & CICCHELLI, V. (org.) Família e individualização. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 13-20.
SKINNER, Linda J. & BERRY, Kenneth. K. Anatomically detailed dolls and the evaluation of child sexual abuse allegations: Psychometric considerations. Law and Human Behavior, vol. 17, nº 4, 1993, p.399-421.
180
STEVENSON, William J. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981.
SUMMIT, Roland C. The child sexual abuse accommodation syndrome. Child Abuse & Neglect, vol. 7, nº2, 1983, p. 177-193.
_______. Abuse of the child sexual accommodation syndrome. Journal of Child Sexual Abuse, nº 1, 1992. p. 153-163.
SWANSON, L. & BIAGGIO, M. K. Therapeutic perspectives on father-daughter incest. American Journal of Psychiatry, vol. 142, nº6, 1985, p. 667-674.
SZYMANSKI, Heloisa. teorias e “teorias” de famílias. In: BRANT de CARVALHO, M.C. (org.) A família contemporânea em debate. SP: Edic/Cortez, 2000, p. 23-28.
TETELBOM, Miriam. Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes: Mitos e Fatos. Boletim Científico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, ano XXII, n° 1, janeiro/março, 2002.
THOENNES, Nancy & TJADEN, Patricia G: The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody/visitation disputes. Child Abuse & Neglect vol. 14, 1990, p. 151-163.
THOMPSON, Augusto. A Cifra Negra. In: THOMPSON, A Quem são os criminosos? Rio de Janeiro: Achiamé, 1983, p. 13-37.
THOUVENIN, Christiane. A palavra da criança: do íntimo ao social. In: GABEL, M. Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997, p. 91-102.
TIME Europe. In The Name Of The Fathers. Vol. 164, nº 12, September 27, 2004. Disponível: <http://www.time.com/time/europe/magazine/article/0,13005,901040927-699330,00.html.> Acesso em 13 out. 2004.
TORRES, Anália C. Aumento do divórcio, mudanças na família e transformações sociais. Actas dos V Cursos Internacionais de Verão de Cascais. Câmara Municipal de Cascais, vol.4, 1999, p. 71-94.
TORRES, José Henrique R. Consulta feita pelo Ministério da Saúde – Tema: Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência. Revista de Saúde Sexual e Reprodutiva. Informativo Eletrônico de IPAS Brasil, edição 6, julho 2003. Disponível na: <http://www.ipas.org.br/arquivos/Torres_2003.doc>. Acesso em 19 jan 2005.
TRIVIÑOS, Augusto N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1992.
TROCMÉ, Nico, MACLAURIN, Bruce, FALLON, Barbara, DACIUK, Joanne, BILLINGSLEY, Diane, TOURIGNY, Marc., MAYER, Micheline, WRIGHT, John, BARTER, Ken, BURFORD, Gale, HORNICK Joe, SULLIVAN, Richard, McKENZIE Brad. Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect: Final Report
181
(CIS, 1998). Ottawa, Ontario: Minister of Public Works and Government Services Canada, 2001.
TSAI, M. & WAGNER, N. N. Therapy groups for women sexually molested as children. Archives of Sexual Behavior, nº 7, 1978, p. 417-427.
TURKAT, Ira Daniel. Divorce-Related Malicious Mother Syndrome. Journal of Family Violence, vol. 10, Nº 3, 1995, p 253-264.
U. S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. National Center on Child Abuse and Neglect – Third National Incidence Study of Child Abuse and Neglect: Final Report (NIS-3). Washington, DC: Government Printing Office, 1996.
_______. Administration on Children, Youth and families. Child Maltreatment 2001. Washington DC: US. Government printing Office, 2003.
VECINA, Tereza C.C. A Pesquisa: uma experiência no Centro de Referência às Vítimas de Violência. In: FERRARI, D.C.A. & VECINA, T.C.C. (Org). O fim do silêncio na violência familiar: teoria e prática. São Paulo: Ágora, 2002, p. 272-276.
VIAUX, Jean-Luc. A perícia psicológica das crianças vítimas de abusos sexuais. In: GABEL, M. Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997, p.121-131.
VORCARO, Angela M.R. Compreender ou estranhar: incidências no psicodiagnóstico. In: ANCONA-LOPEZ, M. (org.) Psicodiagnóstico: processo de intervenção. São Paulo: Cortez, 3ª ed., 2002, p. 51-64.
WAKEFIELD, Hollida & UNDERWAGER, Ralph. Evaluating the child witness in sexual abuse cases: Interview or inquisition? American Journal of Forensic Psychology, vol. 7, nº 3, 1989, p.43-69.
_______. Sexual abuse allegations in divorce and custody disputes. Behavioral Sciences and the Law, 9, 1991, p.451468.
_______. Special Problems with Sexual Abuse Cases. In: ZISKIN, J. Coping With Psychiatric and Psychological Testimony, Los Angeles, CA: Law and Psychology Press, 5ª ed., 1995, p.1315-1370.
WALLERSTEIN, Judith S. & KELLY, Joan B. Sobrevivendo à separação: como pais e filhos lidam com o divórcio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
WALLERSTEIN, Judith S., LEWIS, Julia & BLAKESLEE, Sandra. Filhos do Divórcio. São Paulo: Loyola, 2002.
WHITLOCK, Katherine & GILLMAN, Ruth. Sexuality: a neglected component of child sexual abuse education and training. Child Welfare, nº 68, 1989, p. 317-29.
WIDOM, Cathy S. & MAXFIELD, Michael G. An Update on the “Cycle of Violence”. National Institute of Justice. U.S. Department of Justice, feb. 2001. Disponível em: <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/184894.pdf>. Acesso em 17 fev 2004.
182
WINSTON, Anthony P. Recent developments in borderline personality disorder. Advances in Psychiatric Treatment n° 6, 2000, p. 211-217.
YEHIA, Gohara Y. Reformulação do papel do psicólogo no psicodiagnóstico fenomenológico-existencial e sua repercussão sobre os pais. In: ANCONA-LOPEZ, M. (org.) Psicodiagnóstico: processo de intervenção. São Paulo: Cortez, 3ª ed., 2002, p.115-134.
ZANARINI, Mary C. Reported Pathological Childhood Experiences Associated With the Development of Borderline Personality Disorder. Am J Psychiatry, vol.154, 1997, p. 1101-1106.
ZANARINI, Mary C.; YONG, Lynne; FRANKENBURG, Frances R.; HENNEN, John; REICH, Bradford.; MARINO, Margaret F.; VUJANOVIC, Anna A. Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. The Laboratory for the Study for Adult Development, McLean Hospital, Massachusetts, USA. Nerv Ment Dis, vol. 190, nº6, jun. 2002, p. 381-387.
183
Anexo I INDICADORES DE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS
(principais itens coletados na literatura estudada)
Indicadores
Físicos ou Médicos Comportamentais Personalidade
Contusões Agressividade Alteração súbita de humor Dificuldade para caminhar ou
sentar Ansiedade e medo Ansiedade e medo
Dilatação himenal Apatia Auto-acusação Distúrbios na alimentação Baixa auto-estima Baixa auto-estima
Doenças sexualmente transmissíveis (DST) Comportamento anti-social Confusão de papéis
Dor pélvica ou abdominal aguda
Comportamento sexual inapropriado para idade e nível de desenvolvimento
Dificuldades com limites para si
Dor na garganta Comprometimento do apego Dificuldade de relacionamento interpessoal
Encoprese Compulsão Distorção da auto-imagem Edemas e hematomas Conduta auto-lesiva Raiva nos relacionamentos
Enurese Conduta regressiva Sensação de impotência
Gravidez em adolescentes Dificuldade de concentração e aprendizagem Sentimento de traição
Hímen rompido Distúrbio de apetite/sono Transtorno de Estresse Pós-Traumático
Lesões geniturinárias Fuga de casa Transtorno de Personalidade Presença de esperma na vagina,
reto, pele ou roupas Ideação suicida
Sangramento ou prurido na área genital, anal e/ou oral Imagem corporal distorcida
Secreções vaginais Isolamento social e afetivo Masturbação excessiva Promiscuidade Transtornos de conduta Tristeza ou depressão Uso drogas/álcool
184
Anexo II TERMO DE CONSENTIMENTO (PAIS)
A pesquisa “O Psicólogo na Fronteira entre Verdades e Mentiras – a falsa acusação de
abuso sexual de pai contra filho no contexto da separação conjugal” (título provisório)
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela psicóloga Marcia Ferreira Amendola,
pretende compreender a dinâmica que se processa nos casos de falsas denúncias de violência
sexual contra criança, procurando identificar as circunstâncias desta acusação.
Para alcançarmos os objetivos propostos, pais separados e acusados de abuso sexual
contra seus filhos são convidados a responder um questionário elaborado para a pesquisa.
A participação é voluntária, sendo considerada a possibilidade de desistência a
qualquer momento. As informações obtidas terão caráter confidencial e o participante terá sua
identidade preservada, não sendo revelada em qualquer publicação desta pesquisa. As
crianças citadas serão identificadas por filho (a) ou criança, incluindo a idade.
Caso seja de seu interesse participar da pesquisa, pedimos que date e coloque seu
nome e número da identidade e envie este termo de consentimento para o endereço eletrônico
da autora da pesquisa [email protected]. O prazo para devolução é de 07 (sete) dias a
contar da data de envio. Após o recebimento do mesmo, o questionário será enviado ao
participante. A pesquisadora se compromete em realizar a devolução dos resultados da
pesquisa após sua conclusão por meio de artigo a ser publicado no site do PaiLegal
(www.pailegal.net) e CanalPsi (www.canalpsi.psc.br).
É de fundamental importância que mantenha uma cópia desse documento consigo.
Concordo com os termos definidos acima e aceito participar desta pesquisa.
__________________________________, _____ de setembro de 2005.
Nome do participante RG
185
Anexo III TERMO DE CONSENTIMENTO (PSICÓLOGOS)
A pesquisa intitulada Psicólogos no Labirinto das Acusações desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social (Mestrado), Instituto de Psicologia,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pela psicóloga Marcia Ferreira Amendola,
pretende compreender a dinâmica que se processa nos casos de denúncias de violência sexual
contra criança, procurando identificar as circunstâncias desta acusação e como os serviços de
Psicologia costumam atuar em tais casos.
Para alcançarmos os objetivos propostos, convidamos profissionais de Psicologia que
atuam em parceria com o Sistema Judiciário da cidade do Rio de Janeiro para participar da
pesquisa por meio de entrevistas semidirigidas, a serem realizadas no ambiente de trabalho
dos respectivos participantes, com hora e dia pré-determinados.
Conforme dispõe o Art. 16, alínea “b”, “c” e “d” do Código de Ética Profissional do
Psicólogo (Resolução CFP Nº 010/05), garantimos o anonimato do profissional, assim como o
caráter voluntário da participação, sendo considerada a possibilidade de desistência a qualquer
momento.
A divulgação dos resultados será em forma artigo a ser publicado no site do PaiLegal
(www.pailegal.net) e CanalPsi (www.canalpsi.psc.br).
Concordo com os termos definidos acima e aceito participar desta pesquisa.
Rio de Janeiro, ____ de ___________________ de 2006.
Psicólogo Participante CRP 05/_________
Pesquisador CRP 05/24729
186
Anexo IV TERMO DE CONSENTIMENTO (INSTITUIÇÃO)
A pesquisa intitulada Psicólogos no Labirinto das Acusações desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social (Mestrado), Instituto de Psicologia,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pela psicóloga Marcia Ferreira Amendola,
pretende compreender a dinâmica que se processa nos casos de denúncias de violência sexual
contra criança, procurando identificar as circunstâncias desta acusação e como os serviços de
Psicologia costumam atuar em tais casos.
Para alcançarmos os objetivos propostos solicitamos o consentimento do responsável
legal pela Instituição para que autorize a participação de psicólogos que atuam no
atendimento a casos de denúncia de abuso sexual contra criança nesta instituição.
Conforme dispõe o Art. 16, alínea “b”, “c” e “d” do Código de Ética Profissional do
Psicólogo (Resolução CFP Nº 010/05), garantimos o anonimato dos profissionais, grupos ou
organizações, salvo interesse manifesto, assim como a participação voluntária dos mesmos.
A divulgação dos resultados será em forma artigo a ser publicado no site do PaiLegal
(www.pailegal.net) e CanalPsi (www.canalpsi.psc.br).
Concordo com os termos definidos acima.
Rio de Janeiro, ______ de _____________________de 2006.
Instituição
Autorização
Pesquisador CRP 05/24729
187
Anexo V QUESTIONÁRIO
Este questionário integra a pesquisa de Mestrado intitulada “Psicólogos no Labirinto
das Acusações – A denúncia de abuso sexual de pai contra filhos no contexto da separação
conjugal” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de
Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro pela psicóloga Marcia Ferreira Amendola.
O material é composto de 10 (dez) perguntas orientadas para casos onde houve
denúncias de abuso sexual contra a criança no contexto da separação conjugal dos pais, com o
objetivo de mapear, pela ótica dos pais acusados, as repercussões da denúncia e a intervenção
realizada pelos psicólogos responsáveis pela avaliação do caso.
As respostas serão tratadas dentro dos critérios do sigilo ético-profissional, permitindo
a livre expressão do entrevistado. Assim sendo, é possível desenvolver as respostas com
detalhes e fatos históricos considerados relevantes pelo participante.
O material deve ser respondido em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após o seu
recebimento, salvo com o nome do participante e enviado para o endereço eletrônico da
pesquisa <[email protected]>. O prazo de resposta deve ser respeitado para não haver
atraso no andamento da pesquisa, de modo que não haverá prorrogação de tempo.
Inicialmente, preencha os campos abaixo, em seguida responda as questões.
Iniciais do Nome Idade Escolaridade Estado civil Nº de filhos Estado onde vive a criança Data de nascimento da criança Sexo da criança 1. De quem partiu a acusação de abuso sexual e quais instituições registraram a denúncia? 2. Naquele momento havia algum tipo de solicitação judicial de regulamentação de visitas
ou de pedido de guarda, alimentos, ou outros? Em caso afirmativo, especifique. 3. Quantos anos a criança possuía na ocasião da denúncia? 4. Como você soube da denúncia? 5. Houve algum desdobramento jurídico? Em caso afirmativo, especifique. 6. Que providências foram tomadas por você? E em relação à criança? 7. Houve encaminhamento do caso para ser avaliado por alguma instituição para avaliação
psicológica? Qual? 8. Como foi seu atendimento na instituição? 9. No momento, como o caso está transcorrendo? 10. Gostaria de tecer algum outro comentário?
188
Anexo VI ENTREVISTA
1. Dados de identificação do entrevistado: nome, idade, estado civil, nacionalidade, registro
no conselho, telefone e e-mail para contato posterior.
2. Qual a instituição de ensino superior em que se graduou?
3. Realizou cursos como: capacitação/treinamento, especialização, pós-graduação?
4. Quanto tempo atua nesta área de trabalho e na instituição atual?
5. Quais as suas atribuições enquanto profissional de Psicologia nesta instituição?
6. O trabalho de Psicologia está integrado a uma equipe multidisciplinar? De que forma
ocorre essa integração?
7. Existe supervisão dos casos em atendimento? Como ocorre/ Qual(ais) os profissionais
que fornecem supervisão?
8. A instituição recebe encaminhamento de casos de suspeita de abuso sexual contra crianças
oriundos de outras organizações? Quais?
9. Existe a possibilidade de haver entrada de casos para uma primeira notificação
diretamente à esta instituição?
10. A quem se destina os atendimentos psicológicos em casos de suspeita de abuso sexual
contra crianças? (se houver a exclusão de algum integrante da família) Por quê?
11. Quanto tempo (média) ou em quantas sessões ocorre o atendimento?
12. Quais os procedimentos técnicos e teóricos adotados e por quê?
13. No caso de elaborarem laudos, a quem se destina o documento?
14. Em quanto tempo (média) os laudos são elaborados?
15. Em sua experiência de trabalho, quais as principais características dos casos atendidos?
16. Há alguma diferença nos atendimentos de crianças cujos pais vivem juntos daqueles casos
em que os pais são separados?
17. Durante seus atendimentos, percebeu a existência de falsas acusações? Como procedeu?
18. Quais as maiores dificuldades em seu trabalho?
19. Gostaria de comentar/criaticar algo mais?