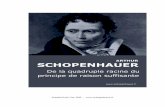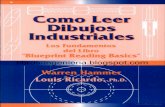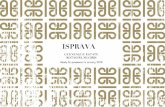PPGDA DEICY YURLEY PARRA FLÓREZ AUTODETE - (www ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PPGDA DEICY YURLEY PARRA FLÓREZ AUTODETE - (www ...
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE AMAZONAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL - PPGDA
DEICY YURLEY PARRA FLÓREZ
AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E O DIREITO AO
CONSENTIMENTO LIVRE, PRÉVIO E INFORMADO: ESTUDO COMPARADO
ENTRE CASOS NO BRASIL E NA COLÔMBIA ACERCA DOS PROTOCOLOS DE
CONSULTA.
MANAUS/ AM
2019
DEICY YURLEY PARRA FLÓREZ
AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E O DIREITO AO
CONSENTIMENTO LIVRE, PRÉVIO, E INFORMADO: ESTUDO COMPARADO
ENTRE CASOS NO BRASIL E NA COLÔMBIA ACERCA DOS PROTOCOLOS DE
CONSULTA.
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito Ambiental do Programa de
Pós-Graduação em Direito Ambiental (PPGDA)
da Universidade do Estado do Amazonas como
requisito parcial para obtenção do título de Mestre
em Direito.
Orientador: Prof. Dr. Edson Damas da Silveira.
MANAUS/AM
2019
Deicy Yurley Parra Flórez. Autodeterminação dos
Povos Indígenas e o Direito ao Consentimento Livre,
Prévio e Informado: Estudo comparado entre casos no
Brasil e na Colômbia acerca dos Protocolos de
Consulta. Dissertação apresentada como requisito parcial
para a obtenção do título de Mestre em Direito, da
Universidade do Estado do Amazonas, área de
concentração: Direito Ambiental. Linha de pesquisa:
Conservação dos recursos naturais e desenvolvimento
sustentável, realizado no 1°. semestre de 2020 (31 de
janeiro de 2020). Aprovada pela Comissão Examinadora
abaixo assinada.
__________________________________________________________
Orientador: Prof. Dr. Edson Damas da Silveira (UEA)
__________________________________________________________
Membro 2: Profª. Dra. Silvia Maria da Silveira Loureiro (UEA)
__________________________________________________________
Membro 3: Prof. Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho (PUC/PR)
Manaus, 19 de fevereiro de 2020.
Dedico este trabalho
A Sri Sri Radha e Krishna
Por sua misericórdia,
Ao meu Gurudeva,
Por guiar meus passos
Aos meus pais Ana e Ramón,
Pelo carinho, sacrifício e dedicação
Aos Povos Indígenas e Tribais,
que com seu exemplo,
me demostram que outro mundo
é possível.
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus Sri Sri Radha e Krishna, pois, com infinito amor e misericórdia me
deram coragem, força, determinação e luz para a conclusão deste trabalho, que representa uma
superação pessoal de luta contra aquilo que considerava impossível.
Ao meu Gurudeva e devotos da Consciência de Krishna, por sua sempre sincera
associação, sua inspiração, sua sabedoria e eterna dedicação por fazer deste um mundo melhor.
Aos meus pais, Ana e Ramón, que apesar da distância, me ensinaram que o carinho e
amor não conhece obstáculos, que todo esforço traz sua recompensa, além do apoio e ânimo
que me proporcionaram para chegar aqui.
Aos meus irmãos, Yuly, Edgar, Carlos e Nelson, por ser meu incentivo, minha força,
proteção e alegria, e me brindarem sempre com uma palavra doce e honesta.
À Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB), sob o Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC) pela
oportunidade de fortalecer minha formação acadêmica.
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq por ter
me concedido bolsa de estudos do Programa de Formação de Mestres em Universidades
Brasileiras.
Ao Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental (PPGDA) da Universidade do
Estado do Amazonas pelo amparo institucional e a confiança em mim depositada.
Ao Programa Waimiri Atroaria (PWA) pelo cordial acolhida e auxílio no subministro
da documentação e informação fundamental para a construção deste documento.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Edson Damas da Silveira pela ajuda proporcionada
possibilitando desenvolver esta dissertação com base em seu conhecimento.
À Profª. Dra. Silvia Maria da Silveira Loureiro por seu apoio incondicional, seu
assessoramento e paciência e por me demonstrar a importância e motivação pela qual fazemos
este belo trabalho.
Ao Prof. Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho por ter participado em minha banca
e ter contribuído enormemente com sua ampla experiência no melhoramento deste trabalho.
A todas(os) a(o)s professoras(os) que compõem o PPGDA, que com seu apoio,
experiência e conhecimento fortaleceram minha vida acadêmica, além de serem essenciais na
estruturação de cada tema.
Aos meus colegas e amigos, da turma do PPGDA, que tornaram esse caminho de dois
anos mais leve, mais divertido e cheio de crescimento pessoal, demonstrando que ouvir
novamente é mais valioso que a fala.
Aos meus amigos bolsistas da OEA que tive a oportunidade de conhecer, pois, graças a
sua amizade e entusiasmo os sentimentos de desânimo e preocupação foram eliminados.
Aos povos originários, que com sua resistência diária e sabedoria ancestral, me inspiram
a continuar nessa luta, que também é minha, cultivando cada vez mais consciência coletiva.
A todas e a todos que direta ou indiretamente participaram dessa caminhada, àqueles
que me deram uma palavra de força, um abraço de coração, àqueles que me ajudaram e me
apoiaram nos bons e não tão bons momentos, me impulsando a continuar e nunca desistir.
Gratidão de coração.
Libertad para los índios donde quiera que estén
em América y en el mundo, porque mientras
vivan vivirá un brillo de esperanza y un pensar
original de la vida!
Rigoberta Menchú
RESUMO
O território, a cultura e a autonomia como pilares fundamentais da existência dos povos
indígenas e tribais estão sendo fortemente violados ao ignorar o reconhecimento internacional
do direito à autodeterminação e à consulta e consentimento prévio, livre e informado, como
consequência do sistema neoliberal capitalista. Nesse contexto, a presente investigação
procurou responder se os procedimentos de consulta, especialmente da Colômbia e do Brasil,
são realizados de acordo com os princípios e critérios constitucionais, internacionais e com o
direito de autodeterminação dos povos indígenas e tribais, uma vez que, de acordo com os
interesses econômicos, a proteção de seus direitos é deslocada para dar passo à visão
colonizadora da exploração que desintegra a relação entre os povos e a natureza. Para tanto, a
pesquisa teve como objetivo descrever a consulta e o consentimento, principalmente o processo
de protocolização desses dois países. Objetivou-se da mesma maneira uma análise da transição
do reconhecimento do direito à consulta e seus principais avanços com a Convenção 169 da
OIT para, logo, examinar o quadro jurídico normativo nacional dos países em estudo,
determinar seu impacto e defesa dos direitos dos povos. Por fim, para analisar-se a consulta e o
consentimento dos protocolos autônomos de consulta do povo Arhuaco da Colômbia e do povo
Waimiri Atroari do Brasil, como uma reivindicação de seu direito à autodeterminação. Na
metodologia da investigação, a fim de atender ao primeiro objetivo, usaram-se o método
dedutivo, bibliográfico e documental, utilizando o método de estudo de caso nos dois objetivos
seguintes, sendo uma investigação puramente qualitativa. Assim, conclui-se e identifica-se
como os protocolos autônomos de consulta reafirmam o direito de autodeterminação dos povos
indígenas e tribais, estabelecendo, de acordo com seus princípios e valores ancestrais, os
limites, bases e termos em que a consulta deve ser realizada, atendendo aos padrões
internacionais e nacionais de cada país, essencialmente em seu direito de permanência sobre
seus territórios e sua própria existência.
Palavras-chave: Povos Indígenas e Tribais; Direitos Humanos; Consulta e
Consentimento prévio, livre e informado; Direito de autodeterminação; Protocolos autônomos
RESUMEN
El territorio, la cultura y la autonomía como pilares fundamentales de existencia para
los pueblos indígenas y tribales están siendo fuertemente violentados al ignorar su
reconocimiento internacional de derecho a la autodeterminación y consulta y consentimiento
previo, libre e informado como consecuencia del sistema neoliberal capitalista. En este
contexto, la presente investigación buscó responder si los procedimientos de consulta
especialmente de Colombia y Brasil se realizan conforme los principios y criterios
constitucionales, internacionales, y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas
y tribales. Una vez, que, de acuerdo con los intereses económicos la protección de sus derechos
se desplazan para dar abertura a la visión colonizadora de exploración que desintegra la relación
entre los pueblos y la naturaleza. Con tal fin, la investigación tuvo como objetivo describir la
consulta y consentimiento, especialmente el proceso de protocolización de estos dos países.
Objetivando de la misma forma, un análisis sobre la transición del reconocimiento del derecho
a la consulta y sus principales avances con la Convención 169 de la OIT; para seguidamente,
examinar el marco jurídico normativo nacional de los países en estudio, determinar su impacto
y defensa de los derechos de los pueblos. Para finalmente, analizar la consulta y consentimiento
desde los protocolos autónomos de consulta del pueblo Arhuaco de Colombia y del pueblo
Waimiri Atroari de Brasil, como reivindicación de su derecho a la autodeterminación. La
metodología utilizada en la investigación, a fin de atender el primer objetivo, fue el método
deductivo, bibliográfico, documental, haciendo uso del método estudio de caso en los dos
siguientes objetivos, siendo una investigación meramente cualitativa. Así, se concluyó e
identificó como los protocolos autónomos de consulta reafirman el derecho de
autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales, estableciendo conforme sus principios y
valores ancestrales los limites, bases y términos sobres los cuales la consulta se debe realizar,
atendiendo los estándares internacionales y nacionales de cada país, esencialmente en su
derecho de permanencia sobre sus territorios y su propia existencia.
Palabras claves: Pueblos Indígenas y Tribales; Derechos Humanos; Consulta y
Consentimiento previo, libre e informado; Derecho de autodeterminación; Protocolos
autónomos.
ABSTRACT
The territory, culture and autonomy as fundamental pillars of existence for indigenous
and tribal peoples are being strongly violated by ignoring their international right to self-
determination's recognition and prior, free and informed consent as a consequence of the
capitalist neoliberal system. In this context, the present investigation sought to answer if the
consultation procedures, especially of Colombia and Brazil, are carried out in accordance with
the constitutional international principles and criteria, and the right of self-determination of the
indigenous and tribal peoples. Once in accordance with economic interests, the protection of
their rights is shifted to open the colonizing vision of exploration that disintegrates the
relationship between peoples and nature. To this end, the research aimed to describe the
consultation and consent, especially the protocolization process of these two countries.
Objecting the same, an analysis of the transition of recognition of the right to consultation and
its main advances with ILO Convention 169; then, examining the national normative legal
framework of the countries under study to determine their impact and defense of the rights of
peoples. Finally, analyze the consultation and consent from the autonomous consultation
protocols of the Arhuaco people of Colombia and the Waimiri Atroari people of Brazil, as a
claim of their right to self-determination. The methodology used in the investigation, in order
to meet the first objective, was the deductive, bibliographic, documentary method, using the
case study method in the following two objectives, being a purely qualitative investigation.
Thus, it was concluded and identified how autonomous consultation protocols reaffirm the right
of self-determination of indigenous and tribal peoples, establishing according to their ancestral
principles and values the limits, bases and terms on which the consultation should be carried
out, meeting international standards and nationals of each country, essentially in their right of
permanence over their territories and their own existence.
Keywords: Indigenous and Tribal Peoples; Human rights; Consultation and prior
consent, free and informed; Right of self determination; Autonomous Protocols.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ANLA Autoridade Nacional de Licencias Ambientais
CADH Comissão Americana de Direitos Humanos
CCC Corte Constitucional Colombiana
CCJ Comissão Constitucional de Justiça e Cidadania
CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CEACR Comissão de expertos na aplicação e recomendações
CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos
CIEDR Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de
Discriminação Racial
CNPCT Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais
CNPI Conselho Nacional de Política Indigenista
CNTI Comissão Nacional de Território Indígena
CONAQ comunidades quilombolas e sua Coordenação Nacional
CONPES Conselho Nacional de Política Econômica y Social
CtIDH Corte interamericana de Direitos Humanos
DADPI Declaração Americana dos Direitos os Povos Indigenas
DADDH Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem
DCP Direção de Consulta Prévia
DNUDPI Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas
DUDH Declaração Universal dos Direitos Humanos
FILAC Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe
FUNAI Fundação Nacional do Índio
GTPI Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas
MAIS Movimento Alternativo Indígena Social
MPC Mesa Permanente de Concertação
OEA Organização de Estados Americanos
OIT Organização Internacional do Trabalho
ONIC Organização Indígena da Colômbia
ONU Organização das Nações Unidas
PIDCP Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
PIDESC Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
PNGATI Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas
POA Projeto, Obra ou Atividade.
SINA Sistema Nacional Ambiental
SPI Serviço de Proteção
SPILTN Serviço de Proteção indígena aos Índios e a Localização de Trabalhadores
Nacionais
LISTA DE TABELAS, MAPAS
Tabela 1: passos para a aprovação da convenção 169 da oit pelo brasil. 89
Imagem 1: menina atada de mãos no período capuchino 150
Mapa 1: limites geográficos da linea negra – linha petra snsm 153
Mapa 2: parques nacionais naturais e reserva indigena linha negra 158
Mapa 3: rastro do impacto humano nas áreas de proteção da snsm: desmatamento,
urbanização e infraestrutura vial 159
Imagem 2: mapa projetos dentro do território do povo waimiri atroari 171
Imagem 3: hora do ataque a maloca do povo waimiri atroari 175
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 17
1. PROCESSO HISTÓRICO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS
DESDE A COLONIZAÇÃO ATÉ A CONVENÇÃO 169 DA OIT DE 1989. 22
1.1. Origem da disputa jurídica dos direitos dos povos indígenas e seu
reconhecimento como sujeitos coletivos. 26
1.1.1. Consolidaçao dos Estados Nação. 29
1.2. Um antes e um depois da Convenção nº 169 da OIT de 1989 sobre povos
indígenas e tribais. 34
1.2.1. Antecedentes normativos do Direito Internacional e políticas na região sobre
os Povos Indígenas. 35
1.2.2. Surgimento da Convenção 169 da OIT de 1989 sobre os Povos Indígenas e
Tribais 38
1.2.3. Sujeitos da Convenção N. 169 da OIT: Povos Indígenas e Tribais 41
1.2.4. Estrutura norteadora da Convenção N° 169 da OIT de 1989. 43
1.3. Território, Autonomia, Cultura e Consulta prévia: Elementos estruturais
dos Povos Indígenas. 49
1.4. A Consulta Prévia como direito dos povos e dever do Estado. 54
1.4.1. Critérios Mínimos para uma Consulta Adequada 58
1.5. Direito ao Consentimento 69
2. DA CONSULTA AO CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E
INFORMADO DOS POVOS INDÍGENAS. 74
2.1. Instrumentos de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas e Tribais 75
2.1.1. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 75
2.1.2. Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas 77
2.2. Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos e Povos Indígenas 79
2.2.1. Jurisprudência Progressista sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Tribais
80
2.3. Incorporação da Convenção n° 169 da OIT de 1989 nos Sistemas Jurídicos
Nacionais 87
2.3.1. Brasil: Adoção da Convenção 169 da OIT sem grandes inovações 88
2.3.2. Proclamação da nova Constituição Colombiana e seus direitos indígenas. 92
2.4. Regulamentação complexa sobre os direitos dos povos indígenas e tribais
em países complexos 95
2.4.1. Colômbia: Uma Protocolização de Consulta Indefinida e inaplicável. 98
2.4.2. Brasil: Inexistência de um quadro regulamentar sobre o processo de consulta
117
2.5. Considerações finais sobre dois países cheios de contrastes e similitudes 130
3. PROTOCOLOS AUTÔNOMOS: RE-AFIRMAÇÃO DO DIREITO DE
AUTODETERMINAÇÃO E IDENTIDADE DOS POVOS INDÍGENAS. 131
3.1. A consulta desde a visão dos Povos 135
3.1.1. Consentimento ou Veto 138
3.2. Protocolos próprios ou autônomos: institucionalização dos povos
indígenas e tribais. 142
3.2.1. Para que servem os Protocolos de Consulta? 145
3.2.2. Qual é a função dos Protocolos de consulta? 145
3.2.3. Institucionalidade própria de cada povo 145
3.2.4. Plano de Consulta ou pré-consulta 147
3.2.5. Modo de fazer uma consulta adequada 147
3.3. Povo Arhuaco -Wintukwa da Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia 148
3.3.1. História e contextualização da situação do Povo Arhuaco 148
3.3.2. Linea Negra- Linha Petra 152
3.3.3. Projetos desenvolvidos no território Arhuaco 155
3.3.4. Protocolo Autonômo –Mandato do Povo Arhuaco- Para o relacionamento
com el mundo externo, incluyendo la Consulta y el Consentimiento prévio, libre e
informado 159
3.4. Povo Waimiri Atroari - Kinja do Roraima, Brasil 165
3.4.1. História e contextualização do povo. 167
3.4.2. Projetos de desenvolvimento que afetaram os Waimiri Atroari 170
3.4.3. Genocídio Waimiri Atroari 173
3.4.4. Protocolo de Consulta ao Povo Waimiri Atroari – Ie´xime ArynatyPy
nyPykWatyPy Waimiri atroari Behe taka 176
3.5. Re-afirmação do direito de autodeterminação e identidade dos povos
indígenas 178
CONSIDERAÇÕES FINAIS 182
REFERENCIAS 185
ANEXOS 203
PROTOCOLOS AUTONOMOS DE CONSULTA DO POVO ARHUACO E DO
POVO WAIMIRI ATROARI 203
17
INTRODUÇÃO
A consulta prévia de povos indígenas e tribais tornou-se uma das questões mais difíceis
e controversas do direito nacional e internacional dos direitos humanos. Com a promulgação da
Convenção 169 da Organização do Trabalho (OIT) de 1989 dos direitos dos Povos Indígenas e
Tribais, gerou-se um novo ponto de partida para sua proteção, destacando a consulta prévia
como uma ferramenta que faculta aos povos indígenas a participar nas decisões de diversa
índole que possam afetá-los.
Isso, porque embora a extração e a exploração não sejam uma questão recente por ser
um aspeto que se registra na história do ser humano, esta atividade tem aumentado
drasticamente, especialmente em terras indígenas por sua abundancia em recursos naturais, mas
que por conta de projetos de exploração iniciados nestes territórios historicamente ocupados
sem o devido processo e consulta prévia, gera-se uma incalculável violação de direitos
humanos, principalmente nos países da América que apresentam a exploração como estratégia
de desenvolvimento e progresso.
Nesse contexto, os critérios e normativa internacional e nacional não é respeitada,
ignorasse as condições mínimas de diligencia para a aplicação de procedimentos adequados que
protegem os direitos, violentando de forma direta o direito à autodeterminação, o direito ao
território e à autonomia dos povos, os quais estão vinculados a sua cultura, saúde, vida e
preservação da biodiversidade e recursos naturais.
No entanto, as dificuldades para implementar a consulta surgem pela falta de regulação,
corrupção, não pertinente aplicação ou não aplicação da mesma, ignorando a proteção dos
direitos humanos, evadindo o Estado o dever de consultá-los, ademais, do não respeitar o seu
direito de autogoverno que estabelece seus próprios mandatos de organização (ISA, 2009).
A questão da identidade étnica representa nessa ordem, um dos temas mais relevantes
dentro do estúdio do reconhecimento das comunidades e povos, uma vez que a complexidade
que envolve este conceito interfere no grau de visibilidade que se tem sobre eles.
Por tanto, no momento da consulta prévia a identidade étnica é um elemento essencial
e distintivo, já que cada povo como assevera a Convenção n. 169 tem direito a um processo
consultivo que se condicione a suas qualidades e características, com o objetivo de não vulnerar
ou prejudicar seus direitos de diversidade cultural, identidade étnica e autonomia.
Infelizmente, na maioria de medidas, atividades e projetos exploratórios que procuram
o acesso às terras e territórios indígenas a fim de não generalizar, como o expressou o ex-Relator
18
Especial das Nações Unidas Rodolfo Stavenhagen acabam vulnerando seus direitos, pois,
produz “desalojamento, migração”, “esgotamento de recursos necessários para a subsistência
física e cultural, destruição e contaminação do ambiente tradicional, desorganização social e
comunitária, impactos sanitários e nutricionais” e em alguns casos, “abuso e violência”
(Tradução livre- E/CN.4/2003/90, p.2).
Além da “fragilidade demográfica de muitos povos indígenas, que estão em risco de
desaparecimento físico ou cultural”, apresentando nos casos mais extremos una população
inferior a “50 pessoas indígenas em cada um dos povos” com uma “vulnerabilidade
socioambiental e territorial” (CEPAL, 2014, pp. 40-43) difícil de restaurar.
Cenário que foi se estruturando desde a colonização até hoje, por um ou outro fator, mas
que foram determinantes para posicionar os povos indígenas e comunidades tradicionais em um
enfoque diferenciado pouco respeitado e visibilizado na região, mesmo quando América é o
continente com mais população indígena de acordo com as cifras do CEPAL (2014), em que
existem 45 milhões de indígenas em 826 povos aproximadamente, dos quais, 305 se encontram
no Brasil, 102 na Colômbia e 85 no Peru (p. 41, 42).
Sob as premissas anteriores, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
como órgão promotor dos direitos recebe de forma continua relatórios que corroboram os
efeitos sociais, culturais, de salubridade e ambientais das atividades de extração e exploração
nos territórios dos povos indígenas e tribais, observando na maioria dos casos, que, os Estados
não implementam os mecanismos de prevenção plasmados na Convenção 169 da OIT e a
Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas (DNUDPI) que garantem seus
direitos.
Problemática que se enfrenta não na América Latina somente, senão em todo o
continente e em outras regiões do mundo, criando um panorama de degradação social e cultural.
Entretanto, dois países da região vão utilizar-se como base para o seguinte estudo, isso, porque
eles proporcionam uma serie de matizes dentro de seus processos consultivos que vai permitir
analisar os avanços, retrocessos e desafios do direito e mecanismo de consulta, consentimento
e participação.
O primeiro deles, é o Brasil, reconhecido por sua diversidade cultural e pelos impactos
ambientais e sociais consequência da não realização da consulta previa. E a Colômbia,
caracterizada por ser dos países com mais normas reguladoras sobre a Consulta Prévia e dos
principais com maior histórico na realização da consulta.
Ou que não significa que os demais países da região não tenham a mesma importância,
mas que por questões metodológicas a pesquisa vai se reduzir ao estudo destes dois países,
19
principalmente porque se determina passo a passo como deve ser o procedimento de consulta a
realizar.
Em quanto a este último elemento, de fixação do procedimento, existe uma forte
discussão de acordo com sua origem, já que se sua procedência não é indígena ou tribal, e
estabelece os alcances, prazos e intervenientes nas diferentes etapas, estaria vulnerando as
especificidades dos povos e seu direito de autodeterminação segundo os princípios
internacionais.
Embora, a criação de normas reconheça e defina elementos essenciais para os povos
étnicos, também é evidente que permanecem sujeitos a padrões impostos pelo Estado-Nação e
pelo poder hegemônico, reprimindo na maioria seus valores culturais indígenas para impor uma
modernidade baseada na exploração, produção e consumismo.
Por esse motivo, os povos indígenas e tribais estão se organizando e lutando pela
reinvindicação de seu direito à igualdade, território e autonomia, que confere poder sobre suas
decisões, especialmente sobre seu direito às terras e território que claramente demostra sua
existência.
A luta materializa-se então por meio de um instrumento comunitário, denominado
protocolo próprio ou protocolo autônomo de consulta, que garante não apenas seus direitos de
participação e de consulta, mas também garante que seus direitos mínimos sejam protegidos, e
o Estado cumpra com seu dever de consulta, prevenção e proteção.
Os protocolos de consulta integram todos os elementos característicos de cada povo
conforme suas tradições e organização, permitindo a construção de um diálogo aberto, prévio,
livre, informado e culturalmente adequado com o Estado e terceiros que tenham interesse em
desenvolver projetos ou aplicar medidas que possam eventualmente afetá-los.
Nesse sentido, os protocolos autônomos apresentam-se mais do que uma proposta, como
uma solução ao modo como é aplicada a consulta nas comunidades para evitar possíveis
afetações aos direitos, reafirmando ao mesmo tempo, o direito de autodeterminação e
diversidade por incorporar como eixo central na tomada de decisões, seus princípios e modos
de vida tradicionais.
De acordo com o exposto, a pesquisa tem como foco responder ao subsequente
questionamento: estão os procedimentos de consulta prévia da Colômbia e do Brasil conforme
os princípios Constitucionais, internacionais, da Convenção 169 da OIT e o direito à
autodeterminação dos povos indígenas?
Com o fim de responder, a pesquisa vai ter como suporte o objetivo geral de descrever
o direito e mecanismo de participação de Consulta e Consentimento Prévio, Livre e Informado,
20
especialmente seu processo de protocolização, com estudo comparado dos protocolos do Povo
Arhuaco da Colômbia e o Povo Waimiri Atroari do Brasil.
O anterior, com base em que os pressupostos constitucionais e lineamentos
internacionais, especialmente da Convenção 169 da OIT asseveram que se viola o direito de
autodeterminação dos povos indígenas ou tribais ao estabelecer normas que primeiramente não
contaram com sua participação para ser criadas, isto é, normas formalizadas sem a devida
consulta previa, seguido da imposição de procedimentos e prazos que indicam com deve
realizar-se a consulta ao ponto de desconsiderar a cultura e tradição dos povos.
Tomando como apoio para o desenvolvimento do estudo os seguintes objetivos
específicos: a). Interpretar a transição do reconhecimento dos direitos dos Povos Indígenas e
tribais, especialmente com a Convenção 169 da OIT de 1989 e a inclusão dos critérios mínimos
do direito à consulta prévia. b). Examinar o marco jurídico-normativo da protocolização da
consulta e consentimento prévio, livre e informado como direito dos Povos Indígenas e tribais
a nível regional e suas transformações na Colômbia e no Brasil; e c). Analisar a consulta e
consentimento dos povos indígenas e tribais e sua reinvindicação de seu direto de
autodeterminação por meio do estudo comparado dos protocolos de consulta do Povo Arhuaco
da Colômbia e do Povo Waimiri Atroari do Brasil.
Razão pela qual, busca-se estudar a implementação e o processo de protocolização da
consulta, mesmo que exista uma ampla variedade de normatividade que disse ser garante dos
direitos humanos, para analisar ao mesmo tempo as iniciativas que povos e comunidades estão
construindo como forma de resistência e autoafirmação de seus direitos e respeito a sua
diversidade étnica e cultural.
O estudo expõe componentes característicos de origem, evolução, alcance e novas
estratégias de organização da consulta prévia que serão divididos em três capítulos.
No primeiro, descreve-se o surgimento da problemática jurídica em relação aos direitos
dos povos indígenas e tribais, sua evolução e instrumentos internacionais que os reconhecem,
especialmente seu direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado, mencionando
além disso, os critérios e situações nos que deve ser aplicada.
No segundo capitulo, serão descritas de maneira ampla a DNUDPI e a DADPI, que
reafirmaram os direitos dos povos a nível universal e regional, aliás dos pronunciamentos do
Sistema Regional de Direitos Humanos (SIDH) que procuram salvaguardar os direitos e
liberdades dos povos e comunidades, para detalhar por fim, o marco regulador e princípios
constitucionais que orientam o Brasil e a Colômbia no processo da consulta.
21
Em relação ao terceiro, se discutira especificamente sobre o consentimento no processo
de consulta, os protocolos autônomos de povos indígenas e tribais, e como, por meio desses
instrumentos reafirmam seu direito à autodeterminação, realizando um estudo de caso entre a
Colômbia e o Brasil para determinar o nível de observância que cada país tem em relação à
salvaguarda dos direitos dos povos indígenas que, como sujeitos coletivos de especial proteção
merecem.
Com o propósito de atender os objetivos estabelecidos, cada um deles se desenvolvera
em um capítulo, adaptando uma metodologia específica de acordo com os fins. Nessa ordem,
para atender a especificidade do primeiro capitulo, vai ser utilizado o método dedutivo,
documental bibliográfico, com método de procedimento histórico.
Nos outros dois objetivos específicos, por tratar-se de um estudo comparado, se vá fazer
uso do método de pesquisa estudo de caso que permitirá entender as particularidades de cada
país e de cada povo, seus prós e contras, facilitando a análise do conteúdo.
Enquanto o procedimento de pesquisa para a coleta de informação evidenciasse
documentos, registros de arquivos, relatórios, estudos formais, documentos oficiais, jornais
comunitários, regionais, nacionais e internacionais, documentos administrativos,
jurisprudência, normas constitucionais e internacionais, e pesquisas acadêmicas.
Assim, para os fins da pesquisa o método utilizado será o qualitativo, considerando a
análise e interpretação dos fenômenos com foco no seu caráter subjetivo, e obtendo resultados
que reflitam de forma clara e precisa a realidade os casos objeto de estudo.
22
1. PROCESSO HISTÓRICO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS DESDE
A COLONIZAÇÃO ATÉ A CONVENÇÃO 169 DA OIT DE 1989.
Na literatura, documentos políticos, jornais, e estudos internacionais, fala-se de um
problema indígena que persiste, mesmo que existam dispositivos e instrumentos que
reconheçam seus direitos a nível internacional e nos Estados Nacionais.
Stanvenhagen (2010) expressa que “se existe um problema indígena para os ‘não
indígenas’ então para os ‘indígenas’ sempre houve um problema não indígena. Para eles, o
problema é o Estado fundamentalmente”, afirmando que o problema “tem sido poder político”
(tradução livre- p. 13).
Nesse caso, faz-se referência à relação entre os povos e o Estado, que, como se sabe,
iniciou com a colonização em 1492 e a denominação de “índio”, que foi erroneamente imposta
por pensar que haviam chegado à Índia. Segundo Stavenhagen (2010), esse foi o “primeiro
equívoco, pois a partir daí todas as contradições e falhas de comunicação que ocorreram entre
si. A partir daí começa uma concepção cheia de erros e ambiguidades” (p. 13).
Cenário que é observável desde o primeiro momento em que são catalogados,
declarados inferiores, intelectualmente e psicologicamente incapazes, simplesmente por não se
ajustar às transformações de um sistema focado em políticas econômicas de propriedade
privada, desenvolvimento e modernidade, e obstaculizar os objetivos de um progresso
econômico de consumo.
O processo histórico dos povos indígenas e tribais na América Latina é caracterizado,
mesmo que não seja mencionado, pela forte resistência e pelo empoderamento individual e
coletivo dos povos étnicos contra as estruturas de imposição e dominação, manifestada através
do discurso colonizador: o capitalismo, o pensamento e as projeções ideológicas que
desarticulam a ordem natural dos povos e comunidades com a natureza.
Apesar disso, o processo de luta encabeçada pelos povos tem tentado, através de cada
experiência, fato e possibilidade, reivindicar seus direitos, re-apropriar sua autonomia, sua terra,
seu território e sua autodeterminação. Como resultado da “conquista europeia”, as comunidades
sofreram fortes momentos de degradação social e cultural, a ponto de serem extintos em sua
totalidade, situação que ainda hoje é observada não só por meio da mesma manifestação física,
mas também através da realização de atividades exploratórias em seus territórios que atenuam
sua invisibilidade, discriminação, desigualdade e não-participação nas decisões que os afetam.
Subalternização e segregação mantidas dentro das estruturas sociais e políticas dos
processos históricos pelo poder hegemônico a que Quijano (2005) denomina de “colonialidade
23
do poder”. Além dos conceitos de colonialidade do conhecimento e colonialidade do ser, que
constituem a trilogia da colonialidade que subsiste no final do colonialismo.
Sobre o assunto, Maldonado-Torres (2007) destaca: “e se a colonialidade do poder se
refere à inter-relação entre formas modernas de exploração e dominação, e a colonialidade do
conhecimento tem a ver com o papel da epistemologia e as tarefas gerais da produção do
conhecimento na reprodução dos regimes coloniais de pensamento, a colonialidade do ser
refere-se, então, à experiência vivida da colonização e seu impacto na linguagem” (p. 130).
Enquanto que Silvia Cusicanqui (2010) trata está dominação como “colonialismo
interno”, definido assim por Pablo Gonzáles Casanova em 1969, em que a imposição de
estruturas de poder observa-se não apenas em “centros de poder”, como universidades,
fundações ou organizações internacionais, mas também nos pequenos cantos do “pequeno
poder” como nossas universidades, bibliotecas, palácios e centros de prestigio (p. 63).
O exercício da autodeterminação dos povos apresenta-se como resistência a essa
subjugação, em que por meio de sua forma de vida podem estabelecer livremente seu status
político, econômico, social, cultural e espiritual, onde o índio é o verdadeiro sujeito.
Infelizmente, essa prática manifesta-se sob o domínio estatal e interesse particular que
obstaculiza seus direitos, principalmente sobre suas terras, territórios e recursos naturais.
Percebe-se então como o pensamento colonial permanece nas elites1, que diferente da
interpretação feita pelos povos resulta sendo antagônico, uma vez que para os povos a
autodeterminação em palavras de Eduardo Viveiros de Castro (1982), significa:
[...] um direito essencial: o direito à diferença, direito difícil de se conceber e de se
conceder; de resto, direito que não se concede, e sim que se reconhece. Assim, em vez
de dizermos: “é nosso dever” (fazer isto e aquilo com e para os “nossos índios”),
passamos antes a reconhecer “não é nosso direito” decidirmos pelos índios o que é
melhor ou pior para eles. Não porque sejam puros, bons, respeitadores da ecologia ou
donos de sabedoria milenar, e sim porque são outros, outros Sujeitos, definidos por
uma interioridade irredutível, a menos que por violência, à nossa sociedade.
Há que reconhecer, porém, que a expressão “direito à diferença”, tanto conceitual
quanto praticamente, esconde atrás de si alguns paradoxos. E aqui começam os
problemas (p. 235).
Embora os direitos da população indígena fossem internacionalmente reconhecidos
tentando afastar teoricamente as perspectivas integracionistas, as concessões aos projetos de
exploração degradam seu bem-estar de forma direta, dificultando igualmente o exercício de seu
direito consuetudinário, que deveria ser protegido pelos Estados, mas que são eles
1 Estruturas de poder que trazem expressões como: ‘O que devemos fazer com nosso povo? ’ — perguntam, aliás,
os donos do poder”, “os índios são “nossos”, “seu destino está em ‘nossas’ mãos” (DE CASTRO, 1982, p. 235)”.
24
concomitantemente os geradores da consolidação da subordinação e as consequências do
crescimento capitalista.
Evidentemente, são estás algumas das características e pilares centrais das atuais
políticas estateles, especialmente nos países com maior riqueza natural, que se vê ameaçados
pelas atividades descontroladas de empresas extrativas (petroleiras, mineradoras, hidroelétricas,
madeireiras), e projetos de desenvolvimento (industrial, turístico, urbano, portuário) isolando o
meio ambiente e os modos de vida dos povos indígenas e tribais (STAVENHAGEN, 2006).
Com base no anterior, a política global encaminha a sociedade a um risco iminente, que
ignora alternativas para a conservação da biodiversidade2, mesmo quando ela tem íntima
conexão com a sobrevivência humana.
Os povos étnicos desempenham nessa ordem, um papel fundamental de preservação
ambiental, já que os povos que habitam somente dentro do território amazônico, abarcam
aproximadamente do 40% das áreas de importância biológica e 36% das áreas com maior
importância biológica, abrangendo as maiores reservas naturais (SANTILLI, 2005).
Porém, para as comunidades tradicionais a preservação da natureza representa mais que
uma responsabilidade, uma vez que a sabedoria ancestral está relacionada diretamente à
conservação dos territórios; razão pela qual são considerados como bens imateriais que
integram um conjunto de informações que os povos utilizam como forma de expressão e modo
de vida, definindo e desenvolvimento sua cultura, manifestada em seus artesanatos, cerimonias,
tradições, organização interna, e demais expressões da comunidade (CORDEIRO, 2018).
Complementando Idelcleide Cordeiro (2018) afirmar que a permanência dos povos nos
territórios simboliza a conexão direta com os direitos fundamentais, uma vez que a “diversidade
cultural é a previsão dos direitos à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação cultural,
à igualdade, à diferença, à vida dignidade, entre outros, [...]” (p. 36). Da mesma forma, Raul
Alcoreza, (2016, p. 79) acrescente:
No hay autonomía indígena sin territorio indígena, sin el espesor cultural que hace de
substrato a la comunidad. La autonomía indígena es autogobierno, autodeterminación,
libre determinación y gestión territorial propia. Todo esto supone lenguas propias,
instituciones propias, normas y procedimientos propios3.
2 Ainda quando definir de maneira objetiva resulta complexo, deve-se esclarecer que este termo não integra só
organismos vegetais ou animais, mas todos os diferentes tipos de organismos que tem vida no planeta. Para
Idelcleide Cordeiro (2018), a biodiversidade trata nesse sentido “a maneira a como eles estão organizados e como
interagem, isto é: as interações e processos que fazem os organismos, as populações e os ecossistemas preservarem
sua estrutura e funcionarem em conjunto” (p. 24). 3 Não há autonomia indígena sem território indígena, sem a espessura cultural que torna a comunidade
subserviente. A autonomia indígena é autogoverno, autodeterminação, livre determinação e gestão territorial. Tudo
isto supõe línguas próprias, instituições próprias, normas e procedimentos próprios (Tradução livre- ALCOREZA,
2016, p. 79).
25
Elementos exemplificados pelos povos de um modo particular em sua forma de
interação social,
A relação de cada povo indígena é peculiar, pois cada território revela características
únicas. Certo, contudo, é que os índios se relacionam com a terra que ocupam de uma
forma fundamentalmente diferente da apropriação levada pela forma de produção
capitalista [...]. A terra para o índio tem um valor superior ao da simples propriedades
individual. Ela é a base material da vida indígena, [...]. A terra é a base física, o meio
ambiente que sustenta as relações sociais e a cultura de um povo (VILLARES, 2009,
p. 113).
Neste contexto, o direito de autodeterminação dos grupos étnicos dentro do contexto
dos direitos humanos vem reivindicando-se contra os atos de discriminação, violência,
expropriação de terras e a interpretação do conceito de soberania (da corrente clássica 4), o que
permitiu a obtenção de várias conquistas ao longo do tempo, como a Convenção n° 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais de 1989,
reconhecida como o primeiro instrumento internacional vinculante que trata dos Direitos dos
Povos.
No entanto, “para os povos indígenas, a duração da transição é muito maior que a
duração das transições democráticas”. Isso, no sentido de que, para eles, a “transição tem a
duração mais longa: começa com resistência à conquista e ao colonialismo e só termina quando
a autodeterminação dos povos é totalmente reconhecida” (Tradução livre, SOUZA, 2010, p.
64).
Pelo antes exposto, antes de continuar e entrar no estudo normativo, é preciso fazer um
breve histórico dos fatos que construíram a atual figura de inferioridade e exclusão dos povos
indígenas, produto de distintas e múltiplas perspectivas geradas pelas “mudanças históricas,
depressões econômicas, violência, guerras civis e pressões do sistema econômico dominante
que durante séculos pressionou e confinou aos indígenas” (Tradução livre - CtIDH, 2001, p.
26).
Transições que edificaram uma imposição não só cultural e social, mas também
espiritual, econômica e política. Entretanto, apesar das situações de sofrimento e continua
imposição cultural, os povos têm conseguido grandes avanços, tais como o reconhecimento de
seus direitos enquanto sujeitos coletivos, sua autodeterminação e diversidade étnica e cultural.
4 Observada como um grande problema pelos Estados, decorrente do termo de autodeterminação definido no Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos
Sociais e Culturais (PIDESC) promulgados em 1966, uma vez que se foi expresso que todo Estado subjugado pelo
colonialismo tem o direito de tornar-se independiente e constituir um novo Estado (PANKARARU, 2019).
26
1.1. Origem da disputa jurídica dos direitos dos povos indígenas e seu reconhecimento
como sujeitos coletivos.
O primeiro encontro dos povos originários remonta-se aos séculos XV e XVI,
certamente com a ocupação dos europeus em sua expansão, descobertas e conquista da América
como é denominada hoje.
Esse encontro de povos originários de Abya Yala e de europeus transformou o contexto
natural em uma sociedade baseada em ideologias eurocêntricas que desarticularam a
ancestralidade das culturas e sua história de forma irreversível. O que significou o início de
uma identidade complexa, em que a imposição da linguagem, da religião, dos costumes e das
ideologias continua ainda em nossos tempos (CABRERA, 2009).
A sobreposição cultural, econômica e espiritual tem mais de 500 anos, e contínua
influenciando ao introduzir concepções que limitam o modo do ser, do saber e do pensar ao
estabelecer padrões homogêneos que intensificam a exclusão dos povos étnicos.
Daí surge o nome de América, o qual decorre do navegador italiano Américo Vespúcio,
que expressa com clareza a imposição colonial europeia adaptada ao conceito da descoberta5,
contrariando o significado dado pelos nativos ao continente, chamado de Abya-Yala6, para se
referir a “terra em plena maturidade ou terra de sangue vital”, que invoca espiritualidade, a
importância da terra e sua grandeza selvática (SEGOVIA, 2014).
No entanto, as alterações de suas tradições e o novo nome atribuído ao continente não
foi a única coisa que os europeus impuseram, pois devem-se adicionar a essa lista as mudanças
da base alimentar, a degradação de suas cultural, além das alterações relacionadas à quantidade
de povos que foram disseminadas e drasticamente eliminados.
O encontro entre os dois mundos obrigou os povos originários a obedecer aos mandatos
dos europeus, pois, como bem exemplifica Wolkmer (1998), “atrocidades, genocídio e
5 No entanto, o nome atribuído, como sabemos bem, não corresponde ao almirante Cristóbal Cólon a quem foi
atribuído o descobrimento de “novas terras”, uma vez que das expedições realizadas o marinheiro Américo
Vespúcio também participou e, ao contrário do que se acreditava, ele afirmou que as terras descobertas não se
tratavam das ilhas asiáticas, mas que era um continente inteiro desconhecido segundo escritos e geógrafos europeus
da época. Na atualização do mapa mundial, o famoso cartógrafo chamado Martin Waldseemüller, convencido
desse argumento, ilustrou um continente separado dos já conhecidos, que denominou América, acreditando
erroneamente que Américo Vespúcio havia sido a pessoa que descobriu as novas terras. O mapa de Waldseemüller
foi amplamente divulgado e copiado por muitos cartógrafos, razão pela qual o continente ficou conhecido por esse
nome (HARARI, 2014, p. 297).
6 Referida de acordo com o momento histórico como kualagum Yala, Tagargu Yala, Tinya Yala e Abya Yala,
sendo este último nome o que coincidiu com a chegada dos espanhóis. O termo foi utilizado pelos Kun, povo
originário da Colômbia e Panamá como símbolo de identidade e respeito para as raízes dos povos originários, tal
como o indica o título do poema Abya Yala Wawgeyjuna (MALDONADO & ROMERO, 2016, p. 12).
27
destruição das populações indígenas resultou na submissão de comunidades autóctones à
escravidão e ao confisco incontrolado de suas terras” (p. 76).
Confirma-se, portanto, como as ações dos colonizadores não estimaram a humanidade
dos índios, suas crenças, o seu conceito de território, nem sua relação com a natureza, pois,
entre vários objetivos, um deles era o aproveitamento dos recursos naturais.
Tanto os espanhóis como os portugueses fizeram uso para o cumprimento desses
objetivos do regime das ‘encomendas’7, por meio do qual os índios eram submetidos a trabalhos
forçados em compensação de um tributo, ao tempo, que deviam contribuir com o
desenvolvimento dos projetos coloniais, visíveis no arrebatamento de suas riquezas e recursos
gerando ainda mais pobreza, violência e morte.
Porém, a fim de compreender como brotou a discussão sobre os direitos dos povos
indígenas, deve-se mencionar um dos eventos mais importantes que levantaram questões sobre
o processo de expansão europeia, incluso quando o resultado nesse momento não foi o esperado.
Iniciou em 1510 com a declaração de Frei Antônio de Montesinos, escolhido entre
dezoito frades dominicanos de uma pequena comunidade para manifestar sua oposição ao
tratamento desumano que estavam aplicando sobre os índios. Naquele momento, os colonos
reagiram imediatamente ao sermão, mas, infelizmente não teve um efeito prolongado, já que
dias depois estavam-se autorizando os mesmos tratos cruéis contra os índios (HANKE, 1959,
p. 16-17).
Anos depois, o Frei dominicano o Bartolomé de las Casas, em seu livro “História geral
das Índias”, menciona que o sermão de Montesinos e a experiência de um dos massacres que
presenciou na ilha Fernandina fizeram que refletisse sobre a intenção do processo de
colonização, transformando seu pensamento, tanto assim que logo de um tempo foi reconhecido
como um dos maiores defensores dos direitos dos índios.
Las Casas defendeu a causa dos índios através da qual tentou dissipar a distinção de
“desigualdade combatida por uma outra, que, ao contrário, afirma a igualdade de todos os
homens”, uma vez que a “diferença se degrada em desigualdade” e a “igualdade em identidade”
(TODOROV, 1983, p. 127).
7 Caracterizada como a instituição imposta sobre o índio na qual seria vassalo livre da rainha e sua mão de obra
deveria ser renumerada, mas obrigado a trabalhar de forma intensa e longe de suas terras; ao contrário do
repartimento (usado antes da encomenda), os homens eram escolhidos para o trabalho escravo e forçados a
abandoar suas famílias. No entanto, na análise a encomenda, assim como o repartimento, passaram a ser quase
sinônimos por ter como base o memos objetivo (Cfr.: FERNANDEZ, Isacio Pérez. El derecho Hispano-Indiano:
dinámica social de su proceso histórico constituyente. Salamanca: Editorial San Esteban, 2001, p. 31-38).
28
Por conta disso, surgiu um debate sobre as posturas controvertidas em relação à dúvida
indianista que levou o rei Carlos V convocar oficialmente em 1550-1551 em Valladolid, uma
junta que desenvolveria essa discussão. Por um lado, a posição de Bartolomé de las Casas, que
defendia que os índios eram homens livres e que, sob essa condição, seu direito deveria ser
respeitado. Por outro lado, o bispo de Chiapas, franciscano Juan Genes de Sepúlveda, que
defendia a ideia aristotélica de que os reis por obrigação às escrituras sagradas deveriam
escravizar e autorizar guerra justa caso não obedecessem a lei (LOUREIRO, 2015 & SOUSA
FILHO, 2018).
A referida ‘guerra justa’ teve como coluna três causas justificáveis. A primeira,
sustentada no fato de o cristianismo ser desafiado, guerreado e perturbado ao ponto de ser
ofendido, configurando uma guerra mais que justa, uma guerra legítima e natural (CASAS,
1559, p. 136).
A segunda causa para ser considera justa, era que terem sido perseguidos ou impedidos
de espalhar a fé ou religião cristã, assassinando seus cultistas ou pregadores, ou mesmo quando,
pela força, os infiéis se recusassem a receber a lei religiosa (CASAS, 1559, p. 136).
Enquanto à última justificativa, era que, se algum infiel impedisse injustamente
ingressar a seus reinos, apropriasse-se, não restaurasse ou entregasse suas terras, por
autorização da lei natural e a causa de toda a nação chamada de guerra justa (CASAS, 1559, p.
137).
No entanto, frei Bartolomé de las Casas, reconhecido por seus escritos e ações em favor
dos índios e a quem foi conferido o título de “protetor dos índios”, enfatiza que todo ato
realizado pelos conquistadores era cruel e desumano
La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas
los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de
riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus
personas, conviene a saber: por la insaciable cudicia y ambición que han tenido, que
ha sido la mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan
ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no
han tenido más respecto ni dellas han hecho más cuenta ni estima (hablo con verdad,
por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo) no digo que de bestias, porque pluguiera
a Dios que como a bestias las hubieran tratado y estimado, pero como y menos que
estiércol de las plazas8 (CASAS, 2011, p. 17).
8 A causa por que eles morreram e destruíram tantas almas cristãs tem sido apenas por ter seu objetivo final em
ouro e riqueza em dias muito curtos e subir a estados muito altos e sem proporção de seu povo. Vale a pena saber:
por causa da insaciável ganância e ambição que tiveram, a maior que poderiam ter do mundo, por serem terras tão
felizes e ricas, e pessoas tão humildes, pacientes e fáceis de segurá-las, a que eles não mais respeitaram ou a eles
fizeram mais consideração ou estima (falo com verdade, pelo que sei e tenho visto o tempo todo). Não digo isso
de animais, porque ligou a Deus que, como os haviam tratado de animais e querido, mas como e menos que estrume
das praças (tradução livre – CASAS, 2011, p. 17).
29
Por estas e mais razões é que os povos sempre tiveram um motivo justo para se opor aos
cristãs, ao contrário da ‘guerra justa’ pronunciada pelos europeus baseada em ações injustas,
violentas e genocidas9, fundamentadas em que os índios não eram cristãos ou tinham vínculo
eclesiástico com a igreja.
Para compreender as transformações que estabeleceram a abertura para o conteúdo
humanista, assim como Montesinos e Bartolomé de las Casas, outro teólogo que também fez
parte da causa ameríndia foi Francisco de Vitoria, reconhecido por introduzir elementos
teóricos decisivos na tomada de decisões sobre o tema dos índios e o tema político e religioso,
reabilitar as tradições tomísticas conservadas pela Universidade de Salamanca excluídas por
séculos por sua contrariedade ao poder papal, reafirmando-as no final do século XVI e no início
do século XVII (LOUREIRO, 2015, p. 211).
Durante a discussão, não foram apresentados novos argumentos; pelo contrário, foram
apresentados os mesmos princípios aplicados na reunião com as gentes do Novo Mundo, cuja
base era: por um lado, que os nativos eram homens livres, com direito a receber fé, mas que sua
escravidão era proibida. Por outro lado, a posição cristã, baseada no fato de que os índios tinham
de ser convertidos ao cristianismo e empregados para a obtenção dos objetivos (LOUREIRO,
2015, p. 215).
No entanto, mesmo quando não foi apresentando um vencedor nessa disputa, a posição
que tinha o rei Carlos V permaneceu, já que “representava a corrente de forças em prol do
absolutismo monárquico e da consolidação do Estado-Nação aos moldes dos Estados
europeus”.
Apesar do resultado, é necessário destacar que o contemplar naquele momento a
abordagem política e normativa jus filosófica de legislar a favor dos ameríndios em seu
processo de colonização influenciou fortemente o crescimento do pensamento ibérico
(LOUREIRO, 2015, p. 214-217).
1.1.1. Consolidação dos Estados Nação.
O pensamento jus naturalista não impediu que, em meados do século XVII, surgisse um
novo processo de estrutura social e política, que, como James Anaya afirma, começa com o
9 De acordo com a Convenção de prevenção e a repressão ao crime de genocídio de 1948, artigo II - entende-se
por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo
nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: assassinato de membros do grupo; dano grave à integridade física
ou mental de membros do grupo; submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a
destruição física total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; transferência
forçada de menores do grupo para outro (Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, 1948).
30
Tratado de Paz de Westfália ao estabelecer Estados territoriais independentes que substituíram
a noção jus gentium para Estado, o principal ator e sujeito das relações (ANAYA, 2004).
A divisão do poder político não contemplava os povos indígenas por sua estrutura típica
de organização, o modelo westfaliano de distribuição de poder europeu dominante tinha como
base a designação de “grupos politicamente conscientes que foram consolidados por regras
monárquicas e ligados por características culturais, sociológicas e étnicas comuns” (ANAYA,
2004, p. 21).
A partir dessemomento, essa abordagem não foi compartilhada pelos povos, pois, como
assevera James Anaya (2004),
The concept of the nation-state in the post-Westphalian sense is based on European
models of political and social organisation whose dominant defining characteristics
are exclusivity of territorial domain and hierarchical, centralised authority. By
contrast, indigenous peoples of the Western Hemisphere and elsewhere, at least prior
to European contact, typically have been organised primarily by tribal or kinship ties,
have had decentralised political structures often linked in confederations, and have
enjoyed shared or overlapping spheres of territorial control10 (p. 22).
Evidencia-se portanto, como o processo histórico vivenciado entre os séculos XVI e
XVIII foi posicionando os povos indígenas em categorias excludentes, discriminatórias e sob
segmentos restritivos para o exercício de seus direitos, como se constatou na instauração dos
Estados-Nações.
Segundo Carlos Marés Silva Filho (2018), a integração dos povos indígenas significou
o melhor: “passou a ser o discurso culto dos textos e das leis, enquanto na pratica, a cordialidade
de integração se transformava na crueldade da discriminação” (p. 63).
Nessa ordem, entre os séculos XIX e XX, o enfoque jusnaturalista foi totalmente
ignorado, enaltecendo em seu lugar o viés positivista do direito entre os Estados territoriais
soberanos (LOUREIRO, 2015, p. 134). O que significou que para seu reconhecimento
internacional como povos independentes deviam estructurse em Estados, explanando que seus
governos e organização não eram legítimos.
Com a análise feita por James Anaya sobre as teorias positivistas do Direito
Internacional no período de meados do século XIX e início do XX, as “(...) tribos de índios e
outros povos indígenas, não se qualificando como Estados, não poderiam participar na
10 O conceito de Estado-Nação no sentido pós-westifaliano está baseado em modelos europeus de organização
política e social cujas características dominantes definidoras são exclusividade de domínio territorial e autoridade
centralizada, hierárquica. Em contraste, os povos indígenas do hemisfério ocidental e em outros lugares, pelo
menos antes do contato europeu, foram tipicamente organizados principalmente por vínculos tribais ou de
parentesco, tiveram estruturas políticas descentralizadas frequentemente ligadas em confederações e desfrutaram
do controle de territórios compartilhados ou de esferas de territórios sobrepostos (Tradução livre- ANAYA, 2004,
p. 22).
31
formação de Direito Internacional, nem poderiam olhar para ele para afirmar os direitos que
uma vez foram considerados inerentes a eles pelo direito natural ou divino” (Tradução livre-
ANAYA, 2004, p. 27).
Em razão disso, os Estados “não só moldaram as regras do Direito Internacional, mas
também usufruíram direitos sob ele, amplamente independente de considerações de direito
natural”, criando uma doutrina que afirmasse e aperfeiçoasse as reinvindicações sobre os
territórios indígenas “como se fosse uma questão de Direito Internacional e tratar os habitantes
indígenas de acordo com as políticas domésticas, blindados do escrutínio externo não solicitado
do próprio Direito Internacional” (Tradução livre- ANAYA, 2004, p. 27).
Assim, o enfoque jus internacionalista dos Estados imperialistas europeus foi
consolidado por meio de dois eventos especiais: a Conferência de Berlim, finalizada em 1885,
e o Pacto da Liga das Nações11 em 1919 pós Primeira Guerra Mundial, nascendo no mesmo
ano a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que regulamentaria todas as condições de
trabalho dos povos originais e que, no futuro, concretizaria questões mais específicas do direito
internacional dessa população (LOUREIRO, 2015).
Nos anos seguintes, identificou-se a OIT pelo avanço no reconhecimento individual e
coletivo dos povos ou também chamados “minorias”, em que se apresentava um processo
constante de construção e reconstrução no qual se desenvolveram diversos delineamentos de
promoção e proteção da dignidade humana, liberdade e fraternidade, enfrentando os povos por
outro lado, uma forte negativa internacional de discriminação e desigualdade.
Assim, com o intento de consolidar a dignidade humana individual, a igualdade e a
liberdade, fruto da luta revolucionaria francesa, foi somente em 1948 que se conseguiu
materializar uma nova perspectiva, positivando internacionalmente uma lista de direitos
inerentes ao ser humano pelo simples fato de existir.
Desse modo, foi depois da Segunda Guerra Mundial, em busca de uma reconstrução,
que se instalou um novo paradigma que induziu os Direitos Humanos à “legitima preocupação
internacional” que diluiu a Liga das Nações e criou a Carta das Nações Unidas em 1945, que
adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 10 de Dezembro de 1948
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (PIOVESAN, 2010).
11 Concebida após a Primeira Guerra Mundial em 1920, mediante a Convenção da Liga das Nações, que apontou
a necessidade de relativizar a soberania dos Estados com o objetivo de promover a paz, a cooperação, e segurança
internacional, ressaltando ao sistema de minorias e os parâmetros internacionais do trabalho (condições justas e
dignas, tanto para homens, como mulheres e crianças), incorporando as obrigações e compromissos com os direitos
humanos (PIOVESAN, 2010). Embora, após finalizada a Segunda Guerra Mundial e produto do impacto nas
divergências entre Nações, tal Convenção desapareceria para se formar uma nova Organização Internacional.
32
A Declaração estipulava que nem todas as pessoas são iguais, que têm diferentes
características e formas especiais de vida e que cada indivíduo possui direitos inalienáveis que
dão dignidade à vida, a fim de mitigar a abordagem desenvolvida pela Segunda Guerra Mundial,
que tinha como objetivo a subjugação e a completa eliminação de determinadas pessoas
consideradas inferiores.
Posicionamento expresso no artigo 2 da DUDH: “Todos os seres humanos podem
invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma,
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra,
[...]12”.
Fábio Comparato (2010) assinala “algumas diferencias humanas, aliás, não são
deficiências, mas, bem ao contrário, fontes de valores positivos e, como tal, devem ser
protegidas e estimuladas” (p. 241). Pois, como Hannah Arendt (1989) expressa em “Origens do
Totalitarismo”, no século XX “a privação de todas as qualidades concretas do ser humano, isto
é, de tudo aquilo que forma a sua identidade nacional e cultural, o torna uma frágil e ridícula
abstração” (p. 298). Pelo que a dignidade humana não pode é se limitar a um conceito só.
Da necessidade de garantir o reconhecimento e a aplicação de direitos foram
desenvolvidos dois tratados internacionais que, juntamente à Declaração Universal, constituem
a Carta Internacional dos Direitos Humanos, reconhecida por conceber uma visão sobre a vida
digna (PIOVESAN, 2010).
Há tratados conhecidos, como o Pacto Internacional de Direitos Cíveis e Políticos
(PIDCP)13 e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)14
ambos de 1966, os quais integram os direitos da Declaração avaliados essenciais para garantir
o exercício dos direitos e liberdades às pessoas, uma vez que constituem referência obrigatória
para sua proteção.
12 de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação Além disso, não será feita
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade
da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de
soberania. 13 O PIDCP relaciona-se com a obrigação por parte dos Estados de proteger às pessoas de todo tipo de violação de
seus direitos, responsabilidade que executa com o Comitê de Direitos Humanos através do protocolo facultativo
encarregado de monitorar os relatórios, petições e denuncias de violações de direitos recebidos por terceiros ou
organizações, para posteriormente emitir observações gerais e individuais, assim como recomendações
(PIOVESAN, 2010). 14 Sua aplicação procura assegurar os direitos e garantias não contemplados nos dispositivos internacionais
anteriores e alcançar sua realização de forma progressiva e adotar as medidas necessárias, não obriga a gerar efeitos
imediatos. Este Pacto também contempla um protocolo facultativo que permite ao Comitê de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais apreciar petições e comunicações, conduzir pesquisas e exigir aos Estados adotar medidas
rápidas de proteção dos direitos violados (PIOVESAN, 2010).
33
Dentro dessa mesma estrutura normativa de solidificação existe a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CEDR),
adotada pela ONU em 21 de dezembro de 1965, que reconhece os direitos e liberdades
fundamentais das pessoas sem distinção, exclusão, restrição ou preferência, ressaltando, assim,
através do preâmbulo, que “a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é
cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e que não existe
justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum”.
Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras disposições
internacionais baseavam-se em diferenças e características individuais para o respeito aos
direitos humanos. No caso dos povos indígenas, a Assembleia Geral das Nações Unidas,
mediante a Resolução 1514, aprovou a Declaração sobre a Concessão da Independência aos
Países e Povos Coloniais em 1960, através da qual buscou terminar com o colonialismo em
todas as suas manifestações e afirmar seus direitos de igualdade e livre autodeterminação às
coletividades.
Porém, a Convenção não foi direcionada de forma especial para povos originários, mas
focada genericamente nos Estados que ainda se encontravam sob o domínio colonial, tentando
acelerar o processo de descolonização e independência. Apesar disso, como Silvia Cusicanqui
(2010) assevera, “Hoje, a retórica da igualdade e da cidadania se torna um desenho animado
que oculta privilégios políticos e culturais tácitos, noções de senso comum que tornam tolerável
a incongruência e permitem a reprodução de estruturas coloniais de opressão” (Tradução livre-
p. 56, 57).
Em outro momento, mas o mesmo período, a Convenção 107 de 1957 é apresentada
como forma de organização especial para a proteção internacional dos direitos dos povos no
que diz respeito à proteção das populações indígenas e tribais e semitribais de países
independentes, além de trazer novos aspectos já contemplados nas convenções anteriores da
OIT, como a incorporação explícita sobre a melhoria do status político, econômico e social dos
povos.
Entretanto, a Convenção 107 como vai se observar mais adiante gerou mais
desconfortos que benefícios para os povos indígenas e tribais, pois, sua base estruturante se
baseava no integracionismo dos povos à sociedade, sempre que se abandonaram todas as
particularidades étnicas e culturais.
Como passarei a explicar de forma mais detalhada no seguinte capítulo, foi com a
aprovação da “Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais de 1989” que se plasmaram
de maneira direta e não integracionista seus direitos, ao contrário das décadas anteriores
34
baseadas em políticas liberais que buscavam civilizá-los, e momento em que a luta dos povos
pela autodeterminação ia além da independência territorial para exigir o seu reconhecimento
como nação.
Isso, porque o poder da classe hegemônica tem se escondido atrás de um “discurso do
multiculturalismo conservador, que se manifesta em reformas legais que reconhecem as
diferenças culturais das populações dos Estados, mas que continuam agindo como se não
existissem” (Tradução livre- BÁRCENAS, 2006, p. 426).
Os avanços normativos, portanto, são resultado do esforço constante das etnias pelo
reconhecimento de seus direitos anteriormente reconhecidos como indivíduos pela DUDH, mas
que, devido às condições sociais, culturais, econômicas e espiritais mereciam de critérios
especiais para seu respeito e amparo.
1.2. Um antes e um depois da Convenção nº 169 da OIT de 1989 sobre povos indígenas
e tribais.
Os povos indígenas e tribais, conscientes da ausência de medidas e programas em favor
de sua difícil situação sobre a violação de direitos humanos, nos anos de 1960 e 1970
organizaram-se para reivindicar seus direitos (identidade cultural e étnica, autogoverno e
autonomia), pois, após a adoção da Convenção n° 107 de 1957 da OIT sobre Povos Indígenas
cujo objetivo era melhorar seus direitos de acesso à terra, às condições de trabalho, à saúde e à
educação, seu efeito foi contrário, primeiro pelo aumento nos níveis de desamparo indígena e
sua abordagem integracionista.
Dessas ações reivindicatórias e de empoderamento originou-se a Convenção n°. 169 da
OIT sobre Povos Indígenas e Tribais de 1989, que agrega elementos essenciais para o
desenvolvimento integral das comunidades e sua proteção especial na conservação de suas
terras, territórios, autonomia, atividades culturais e formas de vida.
Incorporaram-se outros elementos fundamentais para os povos e comunidades, como o
direito à não discriminação, à autodeterminação, à participação e à consulta prévia, livre e
informada, apreciada como componente basilar por ser garante de outros direitos e liberdades.
A Convenção nº 169 assim como muitos outros instrumentos não está sozinha, ela conta
com outros dois instrumentos de natureza não vinculativa, mas igualmente importantes: a
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DNUDPI) de 2006 e a
Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas (DADPI) de 2017.
35
Porém, antes continuar, alguns tratados que precederam a Convenção nº 169 serão
levemente mencionados por sua contribuição na interpretação dos direitos dos povos indígenas
e tribais.
1.2.1. Antecedentes normativos do Direito Internacional e políticas na região sobre os Povos
Indígenas.
Dadas as circunstancias dos povos indígenas e tribais a nível mundial e sua precária
situação, foi somente em 10 de junho ano de 1930 que a Organização Internacional do Trabalho
(OIT)15, após vários anos de sua criação adota a Convenção n° 29 sobre trabalho forçado ou
obrigatório que entrou em vigor em 1932 ao se ratificar por 177 países, tendo como fim dissipar
toda influência do processo colonialista.
O tratado buscou melhorar as precárias condições de vida e erradicar ameaças,
obrigando todos os membros da OIT a “suprimir o emprego do trabalho forçado ou obrigatório
sob todas as suas formas no mais curto prazo possível” (OIT, 1930, art. 1).
Mais diante, para fortalecer as garantias dos povos nos países que continuaram usando
mão de obra indígena, nasceu a Convenção n° 50 de 1936, referente ao recrutamento de
trabalhadores indígenas, que entrou em vigor em 1939, ratificada por 33 países, seguida pela
Convenção n° 64 em 27 de junho em 1939, ratificada por 31 países, destinada à devida
retribuição econômica remuneratória pela prestação dos serviços aos trabalhadores indígenas
por parte do empregador em virtude do contrato de trabalho assinado.
Por outro lado, a Convenção n° 65, ratificada por 33 países e adotada ao mesmo tempo,
visava à abolição progressiva das sanções penais aplicáveis aos trabalhadores indígenas em
casos de quebra do contrato, corroborados pela Convenção n° 104, adotada em 21 de junho de
1955, que eliminava todas as sanções penais aplicáveis a trabalhadores indígenas por quebra de
contrato de trabalho “por meio de uma medida apropriada de aplicação imediata” (OIT, 1955,
art. 2).
15 Muitos preguntaram-se por que essa organização trata sobre o tema indígena? Pois bem, a OIT foi criada em
1919, muito antes da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), existindo em seu lugar, a Sociedade das
Nações ou Liga das Nações, que tinha uma Comissão Permanente de Mandatos, encarregada de definir algumas
missões para as organizações ou países. No ano de 1921 foi atribuída à OIT realizar uma pesquisa sobre as
condições de trabalho e vida das populações nativas, questão que foi fortalecida com a criação da Comissão
Permanente de Peritos, originando a primeira Convenção ainda vigente conhecida como a Convenção n° 29 em
1932 sobre trabalho forçado (VELOZ, 2009, p. 59, 60). Panorama que foi o ponto de partida para começar
trabalhar o tema indígena.
36
A Convenção n° 86, adotada em 11 de julho de 1947, que tentou diferente das anteriores
expandir a participação da população indígena para ter a possibilidade de assinar um contrato
como empregador e não como trabalhador, perfilhando sua integração na sociedade.
a) Convenção sobre o Instituto Indigenista Interamericana (III) de 1940
Já a nível regional, produto do movimento iniciado em 1917 no México, conhecido
como 'novo constitucionalismo social, que procurava reconhecer através de políticas as
características culturais dos povos indígenas e o interesse dos países da região se faz um estudo
sobre a legislação indigenista, para anos diante consolidar-se o Instituto Indigenista
Interamericano (YRIGOYEN, 2009).
Antes de sua criação, vários países da região em seu interesse de promover políticas
indigenistas não integracionistas desenvolvidas no século XIX, enfocaram-se na reformulação
dessa postura para a não marginalização dos indígenas, uma vez, que no do processo inicial
foram inferiorizados, gerando discriminação e exclusão, até do mesmo Estado.
Em 1940, com a realização da Convenção Internacional de Pátzcuaro, no México, no
que se analisaram políticas indigenistas assimilacionistas, e em que a coordenação de
investigações e capacitações para o desenvolvimento indígena por parte dos países promoveu
e consolidou a ideia do III.
Fruto dessa Convenção, nasceu o Instituto Indigenista Interamericano, para
posteriormente, em 1953, passar a ser uma das agências especializadas da Organização dos
Estados Americanos. O instituto, ao dia de hoje, é assinado por 16 países, que têm como objeto
a colaboração e coordenação de políticas indigenistas promovendo pesquisas e capacitações
dedicadas ao desenvolvimento das comunidades indígenas (ESPINOSA, 2009).
No entanto, depois de marcar pautas das políticas indigenistas a meados do século XX,
caiu em uma forte crise financeira que o levou a ser considerado, na atualidade, um acervo
documental orientador da política indigenista (YRIGOYEN, 2009). Ou que não significa que
abandono sua participação nos institutos da região na promoção dos direitos dos povos
indígenas.
b) Convenção 107 da OIT de 1957- Concernente à proteção e integração das populações
indígenas e outras populações tribais e semitribais
Com a Convenção n° 107 em 26 de junho de 1957 sobre a Proteção e Integração das
Populações Indígenas e outras Populações Tribais e Semitribais de Países Independentes
37
apresentou-se uma proposta como melhoria as condições da população indígena baseada na
difícil situação da América Latina, infelizmente o resultado não foi o esperado.
A Convenção realizou-se na Genebra após o final da Segunda Guerra Mundial e logo
do surgimento da Organização das Nações Unidas. Tratado que foi construído pela OIT em
conjunto a outros órgãos que buscavam atenuar as relações de poder e dominação que sobre os
indígenas mantinham, sujeitos a atos excessivos e discriminatórios que surgiram como
consequência do processo histórico.
O objetivo central da Convenção centrava-se em dois de seus artigos: 2.1 e 7.2, que
afirmavam claramente que
2.1. Competirá principalmente aos governos pôr em prática programas coordenados e
sistemáticos com vistas à proteção das populações interessadas e sua integração
progressiva na vida dos respectivos países.
7.2. Tais populações poderão conservar seus costumes e instituições quando estás não
foram incompatíveis com o sistema jurídico nacional ou com os objetivos dos
programas de integração (OIT, 1957).
Primeiramente, essa abordagem foi amplamente recriminada por criar um foco
integracionista, e extinguir a diversidade cultural, para homogeneizar, aplicando elementos que
aceleravam o processo na perda de suas características ancestrais e sua identificação étnica e
cultural de forma parcial ou total.
Seguidamente, embora o texto contemplasse aspetos como ao território, direitos sociais,
como sua situação política, saúde, educação etc., todos eles visavam à transformação e
integração do índio na sociedade como forma de retificando que a população indígena era
“selvagem” e precisava de ser educada.
Para Harmut-Emanuel Kayser (2010) a Convenção 107 sem dúvida alguma colocou às
comunidades em um nível de desenvolvimento inferior, uma vez que a formulação do objetivo
“parte do princípio de que, no caso dos indígenas, trata-se de uma parte da comunhão nacional
inferior, de pouco valor, em um estágio transitório de evolução, que deve ser superado o mais
rapidamente possível para o bem-estar dos indígenas” (p. 333).
O que significou que, apesar dos direitos dos indígenas transcenderem o campo
internacional para seu reconhecimento se abandonasse a visão colonizadora, pois persistia o
pensamento de considerá-los sem igualdade de condições frente ao resto da população.
Principalmente, porque a Convenção 107 de 1957 identificava os indígenas como
“populações” que estavam em seu processo de incorporação à sociedade, diferente da mudança
explanada anos depois com a Convenção 169 de 1989 que os reconheceu como “povos”
(ORTIZ-T, 2015, p. 103) para outorgar uma posição especial.
38
Aspeto categórico da Convenção, que, como expressa Silvia Loureiro (2015), “(...) não
centrou a identificação dos indivíduos protegidos por suas normas na sua peculiar condição de
trabalhadores sob a jurisdição de potências coloniais”, e, sim em reconhece-los como
populações indígenas tribais e semitribais existentes em países independentes (p. 141).
Ante esse cenário de integracionismo e discriminação, os movimentos indígenas em
todo o mundo demonstraram através de sua própria resistência e condições sociais, culturais e
políticas a necessidade de uma mudança regulatória de proteção.
Além do momento político particular existente e as fortes críticas à assimilacionismo
manifestadas não apenas pelas organizações indígenas, mas também pelos intelectuais, pelos
Relatores Especiais da Comissão de Direitos Humanos da ONU, especialmente o Relator
Martinez Cobo e as sessões do Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas (GTPI).
Como resultado das análises executadas na Convenção n° 107, no ano 1986, a Comissão
de Expertos convocada pelo Conselho de Administração da OIT concluiu que “A abordagem
integracionista da Convenção se tornou obsoleta e sua aplicação era prejudicial no mundo
moderno” (tradução livre - ORTIZ-T, 2015, p. 101).
Com todo o exposto, surgiu uma nova interpretação dos direitos dos povos indígenas e
reconhecimento como coletividades pela Convenção 169 de 1989, que procurou abordar todos
os vazios existentes com a Convenção 107 de 1957 para tentar extinguir toda classe de
discriminação e desigualdade entre os indígenas e não indígenas.
1.2.2. Surgimento da Convenção 169 da OIT de 1989 sobre os Povos Indígenas e Tribais
Em 27 de junho de 1989, na 76ª Secção da Conferência Geral da OIT, foi adotada a
Convenção 169 sob a denominação de “Convenção num. 169 sobre os Povos Indígenas e
Tribais”, que entrou em vigor em 05 de setembro de 1991. A Convenção foi criada como
solução para as lacunas e abordagens da Convenção n. 107, para tentar garantir e respeitar os
direitos dos povos indígenas fora dos parâmetros da homogeneidade e integracionismo (OIT,
2016).
O tratado afirma que os povos indígenas têm os mesmos Direitos Humanos e liberdades
fundamentais, que têm direito ao reconhecimento do uso, administração e conservação dos
recursos naturais, direito ao território, à pratica de suas atividades tradicionais, ao próprio
processo de desenvolvimento econômico e social, cultural e espiritual, e o direito a serem
consultados em casos de afetação, assim como a sua devida restituição ou indemnização.
Atualmente 23 países ratificaram a Convenção n° 169, dos quais 15 são membros do
continente Americano, ressaltando que México e Noruega estão entre os primeiros em ratificar
39
(1990), seguidos de Bolívia e Colômbia (1991), Costa Rica e Paraguai (1993) e Peru (1994);
continuando nos posteriores anos, Honduras (1995), Guatemala e Dinamarca (1996), Equador,
Fiji e Países Baixos (1998), Argentina (2000), Brasil, República Dominicana e Venezuela
(2002), Espanha e Nepal (2007), Chile (2008), República Centro-Africana e Nicarágua (2010),
e Luxemburgo (2019) (OIT, 2016).
A Convenção 169 é reconhecida como principal base para a integração dos interesses
dos povos indígenas e tribais, considerado como o único instrumento jurídico vinculante
amplamente utilizado pelos povos, organizações internacionais, organismos regionais,
defensores de Direitos Humanos e Tribunais da Justiça.
No corpo, especificamente no preâmbulo do Tratado, dois postulados fundamentais
ressaltam a importância dos povos indígenas
[...] assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida e de seu
desenvolvimento econômico e de manter e fortalecer suas identidades, línguas e
religiões no âmbito dos Estados nos quais vivem; [...].
Chamando atenção para as importantes contribuições de povos indígenas e tribais para
a diversidade cultural e a harmonia social e ecológica da humanidade e para a
cooperação e entendimento internacionais, [...] (OIT, 2014, p. 13).
O conteúdo destaca a relevância de proteger os povos indígenas, suas formas de
desenvolvimento para a permanência de seus costumes e identidade, sugerindo que as ações
que possam afetá-los também podem prejudicarmos, uma vez que possuem uma interconexão
direta com a conservação do meio ambiente.
O tratado busca conectar diferentes mecanismos para garantir os direitos dos povos em
seu relacionamento com o Estado e com terceiros, reconfigurando as estratégias que afetam a
integridade e desenvolvimento da pessoa e grupo com a intenção de recuperar sua cultura e
tradição dos processos de degradação bem definidos na América, resultado de uma história de
imposição e de dominação colonial.
Conforme expresa Calí Tzay (2015)
[…] constatando la situación de los pueblos indígenas y observando sus
reivindicaciones no era difícil afirmar que, en el continente, existía -con distintos
énfasis y bemoles– un cuadro generalizado (grave, sistemático y reiterado) de
violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
internacionalmente reconocidas. La discriminación (en todos los planos) figuraba
como “un problema mayor”; ésta era de iure o de facto y afectaba –directamente– a
pueblos, comunidades, organizaciones y personas indígenas16 (p. 29).
16 corroborando a situação dos povos indígenas e observando suas reivindicações, não foi difícil afirmar que, no
continente, existiam - com diferentes ênfases e planos - um quadro generalizado (grave, sistemático e reiterado)
de violações dos direitos humanos e liberdades fundamentais internacionalmente reconhecidas. A discriminação
(em todos os planos) foi listada como "um grande problema"; Isso foi de iure ou de facto o que afetou diretamente
os povos indígenas, comunidades, organizações e indivíduos (Calí Tzay, 2015, p. 29).
40
Porém, o prolongado surgimento de coletividades indígenas para se tornarem visíveis
construiu um panorama de mobilização social na América Latina, que configurou estruturas
constitucionais transformadoras em resposta às desigualdades sociais, injustiças e dominação
da classe hegemônica.
As transformações classificadas nos ciclos de reforma constitucional17 começaram antes
da adopção da Convenção N. 169 e estenderam-se até a adoção da Declaração Americana sobre
os Direitos dos Povos Indígenas (2017). São reformas decisivas para a constituição do que hoje
é conhecido como Novo Constitucionalismo Latino-americano, caracterizado por engendrar
visões que integram a pluralidade de nações, a interculturalidade e reivindicação dos povos.
A convenção n. 169 simboliza o surgimento de novos atores coletivos, a saber,
movimentos indígenas que questionaram o reconhecimento de sua identidade com base no
processo histórico. Instaurou-se o conceito de “povos”, que, apesar das divergências no uso da
linguagem entre os Estados, as organizações e as populações indígenas dentro da Convenção
n° 169 (OIT, 1989), abarcou o caráter de diversidade e multiplicidade dos destinatários para
definir os sujeitos sobre os quais o tratado é aplicado.
A Convenção procurou, portanto, se afastar da Conceição integracionista para se adaptar
a uma visão diferenciada, caracterizada pelo reconhecimento da multiculturalidade dos povos,
do respeito aos direitos humanos, suas culturas e seus modos de vida tradicional. Entretanto,
Raquel Yrigoyen Fajardo (2011) indica que essa mudança buscou “integrar aos indígenas ao
Estado e ao Mercado, mas sem quebrar a identidade Estado-nação nem o monismo jurídico”
(p. 140).
A pesar dessas circunstâncias, a conquista simbolizou para os povos indígenas a
inclusão de novos elementos essenciais na Convenção n. 169 da OIT, integrar os direitos de
participação, o direito à consulta e consentimento prévio, livre, e informado, o direito à livre
determinação e o direito ao autorreconhecimento (autoidentificação), inaugurando uma nova
linha de interpretação, especialmente por esse último direito que admite a identificação dos
indivíduos e grupos de forma expressa.
17 Classificadas em três ciclos. O primeiro ciclo, chamado Constitucionalismo Multicultural de 1982 a 1988,
reconheceu a diversidade cultural como uma tentativa de reconciliação com as populações indígenas, as
Constituições do Canada, Guatemala, Nicarágua e Brasil, se caracterizam por terem elementos incluídos na
Convenção. No segundo ciclo, Constitucionalismo Pluricultural (1990-2005), os grupos étnicos são reconhecidos
como una influencia da Convenção N. 169 e seus direitos sobre o território, as terras, a suas formas de participação,
entre outros elementos, presentes na Constituição da Colômbia, do México, Paraguai, Peru, Argentina e Venezuela.
E finalmente, o Constitucionalismo Plurinacional presente nas Cartas da Bolívia (2006-2009) e do Equador
(2008), que tiveram influência direta da aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas (2006-2007), destacando os direitos dos povos indígenas e suas nações ou nacionalidades originais com
autodeterminação para a tomada de decisões (YRIGOYEN, 2011, pp. 140-150).
41
1.2.3. Sujeitos da Convenção N. 169 da OIT: Povos Indígenas e Tribais
Contrariamente à Convenção anterior nº 107 da OIT que empregou o conceito de
“populações indígenas e tribais”, a Convenção nº 169 usa o termo “povos” apesar do amplo
debate antes de ser incluída, uma vez que a incerteza de se confundir com a lógica da separação
da soberania estatal preocupava os Estados, pois, concederia autonomia e direito coletivo de
propriedade sobre as terras tradicionais para o desenvolvimento integral dos povos.
Dita interpretação ocorreu porque no contexto do Direito Internacional, de acordo como
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) (1966) e o Pacto
Internacional de Direitos Cíveis e Políticos (PIDCP) (1966), os povos têm independência para
manter a gestão de sua administração e autorregulação sem interferência externa como
menciona o artigo 1.1: “Todos os países têm o direito à livre determinação. Em virtude desse
direito, eles estabeleceram livremente seu status político, e proporcionam seu desenvolvimento
econômico, social e cultural”.
Porém, a ampla discussão sobre o termo povo interferiu na redação do texto ao ponto
de incluir uma cláusula que eliminou qualquer entendimento relacionado com o direito
internacional de Estado independente, o que também não implicou limitação aos direitos dos
povos indígenas e tribais. A Delegação do Governo Australiano (1991) assevera que esse
vocábulo deveria
[…] considerarse en términos amplios, es decir, no sólo como la consecución de la
independencia nacional. Los pueblos buscan afirmar sus identidades, mantener sus
lenguas, culturas y tradiciones y lograr una mayor autogestión y autonomía, libre de
interferencias indebidas del Gobierno central18 (ANAYA, 2006, p. 38).
Isso por considerar que seu uso implicaria o chamado direito de secessão, ou seja, a
possibilidade de povos separarem-se do país que integram para constituírem países autônomos,
razão pela qual convieram acrescentar o artigo na Convenção (OIT, 1989) que explana a
diversidade de sujeitos a que se destina o tratado.
Artigo 1°
1. A presente Convenção aplica-se a;
a) povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e
econômicas os distingam de outros segmentos da comunidade nacional e cuja situação
seja regida, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por uma
legislação ou regulações especiais;
b) povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de descenderem
de populações que viviam no país ou região geográfica na qual o país estava inserido
no momento da sua conquista ou colonização ou do estabelecimento de suas fronteiras
18 [...] ser considerado em termos gerais, isto é, não apenas como a conquista da independência nacional. Os povos
procuram afirmar suas identidades, manter suas línguas, culturas e tradições e alcançar uma maior autogestão e
autonomia, livre de interferência indevida do governo central (ANAYA, 2006, p. 38).
42
atuais e que, independente de sua condição jurídica, mantêm algumas de suas próprias
instituições sociais, econômicas, culturais y políticas, ou parte delas.
2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como
critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da
presente Convenção.
3. A utilização do termo “povos” na presente Convenção não deverá ser interpretada
no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser
conferidos a esse termo no direito internacional (OIT, 1989).
Por conseguinte, a Convenção n° 169 não pretendeu criar parâmetros de distinção entre
povos indígenas e tribais, uma vez que instituiu características particulares de modos de vida
para os povos conforme o estudo realizado pelo Relator Especial Jose Martínez Cobo chamado
“el problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas” (1986/7, par. 379), ao
definir que:
[…] son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que
se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las
sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen
ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar,
desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales, y su
identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con
sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales19 (p.
30).
De acordo com a conceptualização a Convenção nº 169 referenciou no artigo 1.1.(b). os
critérios objetivos que reconhecem que uma pessoa pertence a um povo indígena ao cumprir
certos elementos definidos por sua tradição, cultura, por sua própria organização social, leis
tradicionais e “continuidade histórica da vida em uma determinada região ou antes que outros
foram ‘invadido’ ou chegado a ela” (OIT, 2003, p. 7).
Quanto aos elementos que caracterizam os povos tribais (art. 1.1.(a)), deve mencionar-
se que eles compartilham “características similares com os povos indígenas, como ter tradições
sociais, culturais e econômicas diferentes das outras seções da sociedade nacional”, que se
identificam com seus territórios originários “ao menos de forma parcial com suas próprias
normas e costumes” (CtIDH, 2007, par. 79), ou mesmo porque se lhes foi reconhecido como
povo (OIT, 2009, p. 9).
Por outro lado, destaca-se o critério subjetivo, segundo o qual a pessoa pode-se
identificar como pertencente a um grupo ou povo, ou um grupo identificar-se como indígena
ou tribal de acordo com a Convenção n 169; uma vez que este instrumento reconhece a nível
19 Comunidades indígenas, povos e nações são aquelas que, tendo uma continuidade histórica com as sociedades
pré-invasivas e pré-coloniais que se desenvolveram em seus territórios, são considerados diferentes de outros
setores das sociedades que hoje predominam nesses territórios ou em partes deles. Eles são agora setores não
dominantes da sociedade e estão determinados a preservar, desenvolver e transmitir às futuras gerações seus
territórios ancestrais, e sua identidade étnica como base de sua existência como povo, de acordo com seus próprios
padrões culturais, instituições sociais e seus sistemas legais (tradução livre).
43
internacional a importância da autoidentificação, complementada a sua vez com a DADPI art.
1., que a define “como critério fundamental para determinar a quem se aplica a presente
Declaração20” (OEA, 2016).
A autoidentificação é, portanto, um componente essencial, já que a ausência de estudos
e estatísticas sobre a quantidade, localização e situação dos povos originários é demasiada
escassa, facilitando a identificação dos povos definidos como indígenas e tribais invisivilizados.
Contudo, alguns dos termos podem mudar dependendo do ambiente, podendo se fazer
uso de outras expressões como: “habitantes da colina” na Ásia, ou “caçadores-coletores”, na
África. A diversidade conceitual em razão disso não exclui; pelo contrário, se ajusta ao local
onde os povos vivem, executam suas atividades e suas práticas sociais (OIT, 2009).
1.2.4. Estrutura norteadora da Convenção N° 169 da OIT de 1989.
A referida Convenção n° 169 da OIT de 1989, internacionalmente apreciada como dos
mais importantes instrumentos de proteção dos povos indígena e tribais por estabelecer como
pilar a obrigação dos Estados de consultar os povos indígenas e tribais em uma ampla gama de
situações que puder afetá-los, também traz o direito de autorreconhecimento
(autoidentificação), direito ao território e às terras, entre outros que de analisar-se de forma
ampla resultaria em demasia extenso.
Inicialmente, o conteúdo da Convenção concentra-se em conceitos chaves, tais como
direitos humanos, cultura, terra, autodeterminação, desenvolvimento, presentes no longo das
três partes principais, a Política Geral (artigos 1 a 12), as Questões Substantivas (artigo 13 a
32), e Administração (artigo 33); Disposições Gerais do Procedimento nos 10 artigos restantes
(34 a 44).
Da desigualdade existente entre os povos étnicos e a comunidade dominante, a
Convenção exige primeiramente que os governos garantam a proteção dos direitos
fundamentais dos povos, mitigando a discriminação (presente na educação, saúde, emprego,
etc.), para alcançar os objetivos estabelecidos no art. 2 da Convenção, desenvolvendo uma ação
coordenada e sistemática para eliminar as diferenças entre os povos e outros membros da
comunidade nacional e seus modos de vida (OIT, 2009).
Estratégias que devem executar-se através de projetos, programas e políticas construídas
com a participação das comunidades, apoiada no monitoramento que deverá incluir a
20 “Os Estados respeitarão o direito a essa autoidentificação como indígena de forma individual ou coletiva,
conforme as práticas e instituições próprias de cada povo indígena” (OEA, 2016, art. 1).
44
“planificação, coordenação, implementação e avaliação” (art. 33 da Convenção n° 169), para
proteger e promover todos todos os aspetos da vida (OIT, 2009).
Os direitos humanos fundamentais são por tanto inerentes e inalienáveis a todo ser
humano, independente de sua raça, religião, cultura, etc., aplicáveis a todos os povos indígenas
e tribais sujeitos a atos de trabalho forçado, discriminação, violência e marginação21restringindo
seus direitos a saúde, educação e trabalho22 (OIT, 2009 & OIT, 2003).
Reforçados pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
(DNUDPI) ao estabelecer em seus artigos 1, 2, 6, e 7 que todo indígena como indivíduo e como
povo tem direito ao goze pleno dos direitos humanos e liberdades, direito à vida, a integridade
física e mental, a liberdade, à convivência em paz e segurança (ONU, 2018).
Também referidos na Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas
(DADPI) em seus artigos, II, III, V e VI, os quais constituem um aspeto fundamental a ser
respeitado, que reconhece sua diversidade e reafirma sua autodeterminação livre de violência e
discriminação (OEA, 2017).
No entanto, surgem situações que violam os direitos dos povos23, razão pela qual devem
ser utilizadas medidas especiais que possam “salvaguardar as pessoas, instituições, bens,
trabalho, culturas e meio ambiente desses povos” sem contrariar sua vontade e gerar uma
violação em seus direitos (Convenção n° 169, art. 4).
O Comitê dos Direitos Humanos na Observação Geral núm. 23 sobre o artigo de 2724
do Pacto Internacional dos Direitos Cíveis e Políticos (PIDCP) indicou que: “todo Estado Parte
é obrigado a assegurar a realização e o exercício deste direito e a protegê-lo contra qualquer
recusa ou violação. […25]”26 (tradução livre- Observação núm. 23, 1994, par. 6.1).
21 Da mesma forma, reconhece que os povos devem estar livres de “qualquer impedimento ou discriminação” e
não estar sometidos a nenhum ato de “força ou coerção que viole os direitos humanos e liberdades fundamentais”
(Convenção n° 169, art. 3). 22 Já que o artigo 20.3 da Convenção n° 169 indica-se que “Os governos tomarão todas as medidas possíveis para
prevenir qualquer discriminação entre trabalhadores pertencentes aos povos interessados e outros trabalhadores
[...]”. 23 A convenção também estipula que os povos indígenas devem ter acesso ao uso do sistema jurídico com o
objetivo de assegurar a aplicação de seus direitos e poder começar procedimentos legais, seja pessoalmente ou
mediante seus órgãos representativos, conforme o expressado no artigo 12. 24 Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias
não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida
cultural de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua (PIDCP, 1966, art. 27). 25 Assim, as medidas positivas de proteção adotadas por meio de suas autoridades legislativas, judiciais ou
administrativas são apropriadas não apenas contra os atos do próprio Estado-Parte, mas também contra o ato de
qualquer pessoa que esteja no Estado-Parte (tradução livre- Observação núm 23, 1994, par. 6.1). 26 Todo Estado Parte está obligado a asegurar la realización y el ejercicio de este derecho ya protegerlo contra
cualquier denegación o violación. Así, las medidas positivas de protección adoptadas por conducto ya sea de sus
autoridades legislativas, judiciales o administrativas, son procedentes no sólo contra los actos del propio Estado
45
Neste sentido, o desenvolvimento de instituições políticas, culturais, econômicas e
sociais faz parte também de seus direitos como povos indígenas (art. 2(1), 4(1), 5, 6(1), 8(2) da
Convenção n° 169), (art. 5, 18, 20, 34 da DNUDPI) & (art. IX, X, XIII(2), XX, XXI, XXV,
XXXIX da DADPI) através do qual controlam suas práticas, costumes, direito consuetudinário
e sistemas legais (OIT, 2009) promovendo a implementação da consulta e participação nas
decisões que possa afetá-los.
O Estado deve então estabelecer um diálogo com os povos através de procedimentos
apropriado que garantam o direito à participação e à consulta prévia previstos nos artigos 6 e 7
da Convenção n° 169 da OIT.
Assim, como o tratado direciona seu interesse em “garantir que os povos indígenas
possam ter uma participação efetiva em todos os níveis da toma de decisões nos órgãos
políticos, legislativos e administrativos e nos processos que possa afetá-los diretamente” (OIT,
2009, p. 60), tentando harmonizar os conflitos e propor novas alternativas dentro do processo
de desenvolvimento econômico, social e cultural.
A consulta prévia configura-se então como direito dos povos tradicionais, e uma
obrigação do Estado que legitima aos povos como coletividade para apresentar sua postura
perante às distintas ações, atividades ou obras que possam danificá-los física, cultural ou
espiritualmente, especialmente em relação a sua cultura, sua tradição, suas terras e território.
Nesse sentido, a consulta prévia considerasse como um instrumento de diálogo entre os
povos e o Estado, essencial para o respeito e promoção da diversidade étnico-cultural em todas
suas dimensões, para o reconhecimento do desenvolvimento autônomo de suas formas de
organização e suas próprias autoridades.
Estimada como pedra angular da Convenção n. 169 a consulta prévia é um direito
fundamental dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais, intrinsecamente ligado ao direito
à livre determinação (ANAYA,2013), e o consentimento, pois como Liana Amin expressa “o
direito ao consentimento integra o direito de consulta prévia. Não existe um sem o outro”
(SOUZA FILHO, et.al, 2019, p. 70)
O instrumento denota atenção especial por tanto nos casos de medidas legislativas e
administrativas (art. 6(1)(a)); na prospecção e exploração dos recursos do subsolo (art. 15 (2));
na alienação das terras ou transmissão de terras a terceiros (art. 17); em caso de relocação –a
qual deverá ser executada com pleno consentimento- (art. 16); à organização e funcionamento
Parte, sino también contra el acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado Parte (Observação núm 23,
1994, par. 6.1).
46
de programas de formação professional (art. 22); e nos casos de ensinamento de sua própria
língua para crianças (art. 28).
Portanto, deve-se entender que a consulta não é um simples ato de comunicação, vai
além de uma reunião como foi expressa em diferentes legislações e jurisprudências
internacionais e nacionais, como será detalhado posteriormente como o objeto do presente
estudo.
Nos artigos seguintes são usados alguns termos para se referir ao direito de participação
que tem os povos, como no caso do art. 727, 2028, 22, 25, 27 e 38, partindo da obrigação de
‘cooperar’ com os povos indígenas; a obrigação de ‘não tomar medidas contrarias’ aos desejos
dos povos (art. 4); a obrigação de procurar ‘o consentimento dado livremente e com pleno
conhecimento de causa’ dos povos indígenas (art. 16); e o direito de ser consultado através de
‘instituições representativas’ (art. 6) (OIT, 2009, p. 61).
Reconhecimento de consulta também apontado na DNUDPI, mas esta vez, com o
propósito de obter “um consentimento livre, prévio e informado” segundo os artigos 4, 5, 18,
19, 23, e 32, indicados no mesmo sentido na DADPI nos artigos, XVIII, XX, XXIII, XXVIII,
XXIX.
Infelizmente, seja um princípio essencial e bastante discutido a nível internacional, a
imposição de interesses maiores de produção e consumo de políticas neoliberais e muitos outros
fatores financeiros prevalecem sobre o desenvolvimento coletivo dos povos étnicos
desconhecendo seus direitos.
Em relação à lei consuetudinária, a Convenção prevê que os povos têm o poder de
aplicar suas próprias práticas e costumes tradicionais, “desde que não sejam incompatíveis aos
direitos fundamentais previstos no sistema jurídico nacional e com direitos humanos
internacionalmente reconhecidos” (Convenção n° 169, art. 8).
Cenário que entra em conflito com os princípios ou tradições dos povos indígenas, pois
muitos de seus costumes não se enquadram nos parâmetros do sistema jurídico nacional ao qual
pertencem, o que causa uma série de perguntas difíceis de responder, colocando em risco a
existência cultural e física intimamente vinculada ao território dos povos.
27 Direito que tem os povos de escolher e definir suas próprias formas de desenvolvimento e sua avaliação dos
projetos que interfiram em seus territórios, assim como participar na elaboração dos programas e estudos sobre os
impactos ambientais e sociais. Neste artigo, apesar de não se referir diretamente, a Convenção 169 integrou o
direito de autodeterminação para os povos decidir sobre as condições de vida e as medidas externas que possam
afetá-los. 28 Direito dos povos contar com medidas especiais que garantam sua proteção efetiva no processo de contratação
e condições de emprego, caso não esteja especificado na legislação.
47
Em consequência, a perda de terras ancestrais, sustento da identidade cultural, do bem-
estar social, econômico e espiritual, ameaça a própria existência e sobrevivência das
comunidades e povos, na medida em que a conexão entre os povos e suas terras e território
supera o aspeto produtivo e econômico.
Para o ex Relator Especial das Nações Unidas Jose Martinez Cobo (1986/7):
Es esencial que se conozca y comprenda la relación especial profundamente espiritual
de los pueblos indígenas con sus tierras, como algo básico en su existencia como tales
y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura. Para los indígenas, la tierra
no es meramente un objeto de posesión y producción... la tierra no es mercadería que
pueda apropiarse sino un elemento material del que debe gozarse libremente29 (par.
196, 197).
Em outras palavras, as terras e territórios significam o espaço necessário para a
reprodução cultural, social e econômica, utilizado de forma permanente ou transitória acorde
com sua visão, sem restrição a um núcleo de casas e plantações que reafirma seu direito
consuetudinário e identidade, e seu direito de posse e propriedade sobre determinadas terras e
territórios 30.
Neste sentido, a Convenção n° 169, art. 13 estabelece que os “os governos respeitarão a
importância especial para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, sua relação
com as terras ou territórios, [...]”, distinguindo que “o uso do termo terras nos artigos 1531 e
1632 incluirá o conceito de territórios, que abrange todo o ambiente das áreas que esses povos
ocupam ou usam para outros fins”.
Por outro lado, nos artigos do 21 ao 23 formalizam-se os temas da formação profissional,
artesanato e indústrias rurais, e o direito que têm os membros dos povos indígenas de gozar das
mesmas oportunidades e programas especiais para a realização de suas atividades tradicionais.
Se estipulando a seguridade social e saúde conforme o planejamento do povo, sem
discriminação e utilização dos métodos de prevenção (arts. 24 e 25 da Convenção n° 169).
Nos artigos 26 a 31 da C-169 de 1989 menciona-se a educação e meios de comunicação
que deverão ser oferecidos pela autoridade competente com base nos conhecimentos e valores
29 É essencial conhecer e compreender a relação especial profundamente espiritual dos povos indígenas com suas
terras, como algo básico em sua existência como tal e em todas as suas crenças, costumes, tradições e cultura. Para
os índios, a terra não é apenas um objeto de posse e produção ... a terra não é mercadoria que pode ser apropriada,
mas um elemento material que deve ser desfrutado livremente (Tradução livre - Cobo, 1986/7, par. 196, 197). 30 Tradicionalmente ocupadas, em razão disso “medidas deverão ser tomadas para salvaguardar o direito dos povos
interessados de usar terras não exclusivamente ocupadas por eles às quais tenham tido acesso tradicionalmente
para desenvolver atividades tradicionais e de subsistência” Sendo obrigação dos governos tomarem “as medidas
necessárias para identificar as terras tradicionalmente ocupadas” e “garantir a efetiva proteção de seus direitos”
sob procedimentos adequados (Convenção n° 169, art. 14). 31 Direito dos povos gozar e participar da utilização, administração e conservação dos recursos naturais existentes
em suas terras. 32 Sujeito ao direito dos povos não ser retirados das terras que ocupam, e caso excepcional sejam retirados serão
com seu livre consentimento e conhecimento.
48
sobre a cultura do povo, garantindo a aprendizagem de sua língua nativa e a língua mais
comumente falada, a fim de eliminar todo preconceito criado das relações de poder.
Em geral, as questões discutidas na Convenção n° 169 da OIT responsabilizam as
autoridades governamentais pela existência e planejamento dos meios necessários para
assegurar a gestão dos programas nos povos (art. 33), sempre de acordo com a flexibilidade dos
países e a proteção dos direitos referidos (arts. 34 e 35).
Enfatiza o vínculo que deve conservar os países membros que ratifiquem o tratado (arts.
36 a 44), na melhora das situações e condições dos povos indígenas e tribais para contribuir no
exercício de sua autodeterminação e identidade sociocultural.
A Convenção 169 da OIT apresenta contudo, de forma abrangente, os elementos
fundamentais para o exercício dos direitos dos povos indígenas, edificando condições para o
bom gozo das liberdades e desenvolvimento dos grupos.
Porém sequelas do processo colonizador e imposição das lutas sociais ainda
permanecem, acopladas ao desenvolvimento das políticas neoliberais capitalistas que impedem
sejam usufruídos os direitos dos povos internacionalmente consagrados.
A partir desse estudo a líder indígena e conselheira técnica dos trabalhadores do Canada,
Sra. Sayers, afirmou durante a Reunião da Conferencia Internacional do Trabalho, OIT de 1989:
[...] Los términos «pueblos» y «territorios» han sido condicionados y clasificados.
Nuestras leyes consuetudinarias no se reconocen ni se respetan; nuestros derechos
inherentes al consentimiento se diluyeron en consultas. No, nosotros, como pueblos
indígenas, no tenemos que aceptar esto, y no lo aceptamos. Continuaremos
sobreviviendo junto con nuestras leyes e instituciones, pese al Convenio núm. 107.
Los objetivos de la revisión consistían en armonizar ese Convenio con los progresos
realizados en el derecho internacional y anular la orientación de asimilación. Estos
objetivos no se han logrado. El proyecto de convenio propende a la asimilación de
manera sutil mientras que el anterior lo hacía de manera muy flagrante. Y en vez de
ser un instrumento de vanguardia en el campo del derecho internacional, tenemos un
instrumento que no logra reflejar las tendencias nuevas del derecho internacional33
(HUACO, 2015, p. 52) 34.
33 [...] Os termos "povos" e "territórios" foram condicionados e classificados. Nossas leis consuetudinárias não são
reconhecidas ou respeitadas; nossos direitos inerentes ao consentimento foram diluídos nas consultas. Não, nós,
como povos indígenas, não temos que aceitar isso, e não aceitamos isso. Continuaremos a sobreviver junto com
nossas leis e instituições, apesar da Convenção No. 107. Os objetivos da revisão eram harmonizar essa Convenção
com os avanços do direito internacional e cancelar a orientação de assimilação. Esses objetivos não foram
alcançados. O acordo preliminar tende a assimilação sutil, enquanto o anterior o fez de uma maneira muito
flagrante. E, em vez de ser um instrumento de vanguarda no campo do direito internacional, temos um instrumento
que não reflete as novas tendências do direito internacional (Tradução livre - HUACO, 2015, p. 52). 34 Actas provisionales, No. 31. Trigésima Cuarta sesión. 76va Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
OIT, El Acta Provisional No. 31 constituye la presentación del Informe de la Comisión del Convenio No. 107
incluido en Actas Provisionales No. 25, y la cual concluye con la adopción por la Conferencia tanto del nuevo
Convenio No. 169 como con la Resolución de Acción de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Ginebra, 26
de junio de 1989, Em: HUACO, Actas provisionales no. 31, 34a sesión, 26 de junio de 1989, 2015 p .52.
49
Certamente, a Convenção nº 169 de 1989 em comparação com a Convenção Nº 107 de
1957 apresenta elementos relevantes na proteção dos direitos dos povos indígenas e tribais, só
que as estruturas jurídicas monísticas continuam presentes, com limitações e motivos
puramente ocidentais, superiores dentro da diversidade étnica e cultural (TACHA. 2016).
Em forma de sínteses, a Convenção Nº 169 representa a conquista dos “novos” direitos
dos povos indígenas, direito ao autorreconhecimento, direito ás terras, território e recursos
naturais, direito a sua própria lei consuetudinária, direito de participação, direito à consulta e
consentimento prévio, livre e informado, e o direito à autonomia e livre determinação.
Além de reconhecer a importância dos povos manter suas próprias instituições e formas
de vida, sua identidade, suas tradições e desenvolvimento econômico, para inaugurar Estados
pluralistas que se sustentem no respeito, participação e consulta.
Infelizmente, um dos principais problemas da Convenção Nº 169 é sua implementação,
a imposição de poder nas relações, o que impossibilita o adequado exercício, especialmente no
direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado, a omissão ou aplicação arbitraria
pelo próprio Estado ou incluso por terceiros -não facultados35- vulnerando os direitos
constituídos internacionalmente dos povos indígenas e tribais.
1.3. Território, Autonomia, Cultura e Consulta prévia: Elementos estruturais dos
Povos Indígenas.
A conexão dos povos indígenas com os recursos naturais, o meio ambiente, as terras e
o território são inegáveis. Como asseveração, a Convenção n° 169 da OIT, a DNUDPI e a
DADPI integram a consulta e consentimento prévio, livre e informado como instrumento
internacional que garante a participação e tomada de decisões nos eventos legislativos
(aprovação de leis), e administrativos, projetos de uso, prospecção ou exploração de recursos
naturais, entre outros que possam afetar esses direitos.
Após da Convenção n° 107, a Convenção n° 169 traz a consulta previa e a participação
por meio de seu artigo 6 e 7 inovando neste campo. Porém, esse direito não é isolado, uma vez
que procura o respeito à autodeterminação e autogoverno dos povos étnicos como direito
fundamental inerente, e que todo Estado deve promover dadas as condições sociais, econômicas
e políticas.
35 De acordo com os pareceres da OIT uma das práticas que desqualificam o processo de consulta é o fato de ser
terceiros interessados os principais interlocutores como se tratasse de bens privados e não princípios e valores
públicos que somente o Estado deve discernir.
50
Inicialmente, devido à ligação especial existente entre o direito à consulta prévia e o
território, por sua clara expressão cultural, passaremos a analisar o conceito de território dada
sua diversa variedade de termos que de acordo com as posições, vai reconhecer-se como direito
em maior e menor grau.
O “território” desde a conceição indígena representa a resistência ao modelo de
dominação estatal, se tornando restrito perante a possibilidade de atividades e projetos de
exploração de recursos naturais (LÓPEZ, 2006). Foca-se no sentido de que as atividades que se
realizem dentro das terras não devem gerar danos irremediáveis que depois seja impossível sua
restituição.
Nesse sentido, para uma maior compressão em termos gerais Sandro Lira (et.al) (2014)
conceitua que:
O território é uma categoria fundamental para se ter a abrangência e profundidade de
um processo de desenvolvimento. Ele é compreendido, não apenas como espaço
geográfico, embora também o seja, Ele é uma dimensão político, social e cultura. Ele
é simultaneamente um espaço material e simbólico (pp. 68, 69).
Além do simbolismo conceituado por Luciano (2006) ao considerar o território como
um reprodutor de vida, um “conjunto de seres, espíritos, bens, valores, conhecimentos, tradições
que garantem a possibilidade e o sentido da vida individual e coletiva” (p. 101).
Mas, que com o objetivo de evitar posicionamentos incompletos, diversos líderes
expressaram o que para eles significa território desde suas cosmovisões, tentando estabelecer
bases e fundamentos sólidos para a compressão e respeito de seu direito.
El territorio no es simplemente el espacio geográfico delimitado por convenio... El
territorio es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos
cohesiona como unidad de diferencias. El territorio, ámbito espacial de nuestras vidas,
es el mismo que debe ser protegido por nuestros pueblos del desequilibrio, pues
necesitamos de él para sobrevivir con identidad. Existe una reciprocidad entre él y
nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento
sustentable de los recursos de que nos provee este. El equilibrio social debe
manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones de
un espacio rico en recursos y lleno de memoria (PIÑAKWE, 1997, p. 34)36.
Em outras palavras, a conexão das comunidades ancestrais e o território é fundamental
para a sobrevivência física e sociocultural, e esse reconhecimento não se limita às condições de
tempo, já que a ocupação do território pelos povos étnicos e seu rasgo distintivo os converte em
36 O território não é simplesmente o espaço geográfico delimitado por acordo... O território é algo que vive e
permite a vida, nele a memória que nos une como unidade de diferenças se desdobra. O território, a esfera espacial
de nossas vidas, é o mesmo que deve ser protegido por nossos povos do desequilíbrio, porque precisamos dele
para sobreviver com identidade. Há uma reciprocidade entre ele e nós, que se manifesta no equilíbrio social que
permite o uso sustentável dos recursos que isso nos proporciona. O equilíbrio social deve se manifestar na proteção
do território para proporcionar às futuras gerações um espaço rico em recursos e repleto de memória (Tradução
livre - PIÑAKWE, 1997, p. 34).
51
sujeitos de direitos sobre as terras, o território e os recursos naturais, favorecendo a construção
e transmissão do conhecimento e saberes milenares.
Dailor Sartori Junior (2017), expressa que
a relação dos povos indígenas com o território tradicional que ocupam foi se
transformando desde a colonização: além de ser um elemento marcante de suas
cosmovisões, também a demanda por demarcação das terras com limites específicos
se constituiu como estratégia política de sobrevivência, construída a partir dos
recursos jurídicos e materiais à disposição dos povos indígenas do presente (p. 105).
Nessa ordem, o termo “terras” não apresenta a mesma confusão de interpretação, já que
se reconhece como as áreas específicas das comunidades para a realização de suas atividades
agrícolas, de caça, de recolecção e os locais para a manutenção da vida comunitária,
componentes da natureza como água, ar, mar, flora, fauna e demais recursos que
tradicionalmente usam ou possuem (LÓPEZ, 2006).
A relação dos povos com as terras e território torna-se, portanto, fundamento de
organização social, direito comunitário, não limitado ao direito de propriedade privada do artigo
21 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) que desintegra seus valores, seu
direito consuetudinário, seus rituais, costumes e tradições, patrimônio cultural imaterial e bens
coletivos. Para os grupos étnicos as terras e território não tem único proprietário, seu uso e gozo
são tanto individual como coletivo, sem centralismos.
Conforme com a interpretação indígena e os impactos que sobre os povos reincidem, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH), integrou em seus pronunciamentos que:
Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente
en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra
debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su
vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades
indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente,
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras37
(CtIDH, 2001, p. 78).
A partir da relação, povos-terra-território-recursos naturais, a CIDH sublinha que as
comunidades indígenas estão estruturadas em torno a esse vínculo, em que a terra constitui
segurança individual e conexão com os demais membros do grupo e seus antepassados. De
modo que se reconhece a obrigação do Estado de demarcar e registrar as terras em nome dos
37 Os indígenas, pelo fato de sua própria existência, têm o direito de viver livremente em seus próprios territórios;
a relação próxima que os povos indígenas têm com a terra deve ser reconhecida e entendida como a base
fundamental de suas culturas, sua vida espiritual, sua integridade e sua sobrevivência econômica. Para as
comunidades indígenas, a relação com a terra não é apenas uma questão de posse e produção, mas um elemento
material e espiritual que eles devem desfrutar plenamente, inclusive para preservar seu legado cultural e transmiti-
lo às futuras gerações (Tradução livre - CtIDH, 2001, p. 78).
52
povos a fim de garantir o seu direito de supervivência material, cultural e espiritual (CIDH,
2009).
Porém, as transformações sociais atuais obrigam a que suas tradições e costumes
estejam sujeitas a certa adaptabilidade, o que claramente evidencia uma degradação cultural,
principalmente quando obrigados pelas circunstancias devem abandonar seus territórios38 e
seus estilos de vida.
Como consequência, transformações e conflitos na autoidentificação individual e
coletiva surgem,
(…) la falta de acceso a los territorios ancestrales, y la inacción estatal al respecto,
exponen a los pueblos indígenas y tribales a condiciones de vida precarias o
infrahumanas39[…]. En esta medida, la falta de garantía por el Estado del derecho de
los pueblos indígenas y tribales a vivir en su territorio ancestral puede implicar
someterlos a situaciones de desprotección extrema que conllevan violaciones del
derecho a la vida40 (CIDH, 2009, p. 28).
Os estudos permanentes dos órgãos internacionais identificaram como as comunidades
indígenas são expropriadas arbitrariamente de seus territórios para a execução de projetos
extrativos e de desenvolvimento, muitos deles apoiados pelos Estados sem as devidas garantias
constitucionais.
La CIDH considera que muchos de los impactos por la imposición de proyectos
extractivos, explotación o desarrollo se relacionan estrechamente con el problema
estructural identificado en la región consistente en que concesiones, autorizaciones y
permisos de toda índole se otorgan sin cumplir con el derecho a la participación
efectiva, incluyendo la consulta y en su caso, el consentimiento previo, libre e
informado de los pueblos indígenas y tribales41 (CIDH, 2009, p. 29, 30).
Situação que obriga aos movimentos sociais indígenas na não aceitação desses projetos
e se opor às políticas de lógica neoliberal que degradam os territórios indígenas42, por colocar
38 Extinguindo grande parte de suas características ancestrais, costumes e práticas tradicionais produto das politicas
de assimilação e integração, pois, uma alta porcentagem de povos obrigados pela desesperação deslocam-se para
as cidades com a esperança de melhorar sua condição. Infelizmente, pela exclusão e marginação ainda presentes
sua situação não é diferente. 39 Principalmente no acesso à água, alimentação, moradia, saúde e serviços básicos, repercutindo diretamente no
aumento dos índices de desnutrição, doenças, maior vulnerabilidade e mortalidade (CIDH, 2001, par. 37). 40 (...) a falta de acesso aos territórios ancestrais e a inatividade do Estado nesse sentido expõem os povos indígenas
e tribais a condições de vida precárias ou sub-humanas [...]. Nesta medida, a falta de garantia por parte do Estado
do direito dos povos indígenas e tribais de viver em seu território ancestral pode submetê-los a situações de extrema
vulnerabilidade que acarretem violações do direito à vida (Tradução livre - CIDH, 2009, p. 28). 41 A CIDH considera que muitos dos impactos causados pela imposição de projetos de extrativismo, exploração
ou desenvolvimento estão intimamente relacionados ao problema estrutural identificado na região, que consiste na
aprovação de concessões, autorizações e permissões de todos os tipos, sem cumprir o direito à participação eficaz,
incluindo consultas e, quando fosse apropriado o consentimento prévio, livre e informado dos povos indígenas e
tribais (tradução livre- CIDH, 2009, p. 29, 30). 42 Posição que segundo Raul Alcoreza (2006) influencia na forma em como os povos são percebidos, [...] acusados
várias vezes como obstáculo ao progresso, não só pelos “conservadores”, não só pelos liberais e neoliberais, mas,
mesmo pela “esquerda” (p. 65). Nesse sentido, ou autor sublinha que não se trata de olhares “conservadores” ou
“revolucionários” no sentido moderno, que se requerem recomposições, reorganizações, repensar, em interação
ecológica, em interação social e em interação institucional (ALCOREZA, 2016, p. 67).
53
em risco suas vidas, suas terras e identidade cultural, produzindo um quadro uma luta de
reivindicação por sua autonomia e emancipação, como bem expressou o dirigente Yaqui na
terceira Assembleia Indígena Plural pela Autonomia em 1995,
La autonomía no es algo que tengamos que pedirle a alguien o se nos pueda conceder”,
[…]; poseemos un territorio en el que ejercemos gobierno y justicia a nuestra manera,
lo mismo que capacidad de autodefensa. Exigimos ahora que se reconozca y respete
lo que hemos conquistado43 (ESTEVA, 2016, p. 41).
A modo de exemplo, e apesar de conter componentes de dominação hegemônica e
centralismos, uma das maiores conquistas pelos povos indígenas a ser enfatizada é a Convenção
n 169 da OIT e a integração de seus direitos, que após alcançaram o reconhecimento com a
Declaração das Nações Unidas e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos
Indígenas.
A construção normativa foi caracterizada por um processo de debate e defesa, de
resistência e recomendações que consolidaram ferramentas essenciais que integraram seu
direito à terra e território, seu direito ao autogoverno e seu direito à autodeterminação. Direitos
conexos aos direitos humanos fundamentais que devem ser protegidos, e exigidos ao Estado
por meio do seu direito de consulta e consentimento prévio, livre e informado e dever do Estado
em sua relação com garante.
Infelizmente, no contexto atual da luta por garantir os direitos territoriais dos povos
indígenas e tribais, mesmo após diversas formas de reconhecimento legal terem sido
estabelecidas, quando diferentes atores e técnicas de implementação são utilizados e os Estados
reconhecerem sua responsabilidade, mesmo assim, a realidade continua mostrando as pressões
e ameaças que vulneram os direitos humanos fundamentais dos povos.
Dentro do contexto exposto, Felipe Isa & Mikel Berraondo (2013) explanam
Ese lado que nos ofrece un panorama que acoso, ocupación y desplazamiento forzados
en los territorios indígenas (...). Una nueva etapa, más cruel que las anteriores, si cabe
porque ahora los actores actúan con total impunidad, conscientes de estar provocando
violaciones de derechos humanos formalmente reconocidos que están poniendo en
cuestionamiento todos los sistemas, tanto nacionales como internacionales, de
garantía de derechos. (...) Además, ahora podemos añadir un nuevo elemento que, si
bien siempre ha estado presente, nunca se había hecho tan público como hasta ahora:
los gobiernos de los países de donde proceden las grandes empresas se sienten seguros
para actuar públicamente apoyando los intereses de sus empresas y actuar con total
convivencia frente a sus acciones, poniendo al servicio de las empresas todas sus
estructuras y recursos, sin importarles que las acciones de estas empresas puedan estar
al margen de la garantía de los derechos44 (p. 204).
43 “Autonomia não é algo que devemos pedir a alguém ou podemos nos conceder” [...]; possuímos um território
no qual exercemos o governo e a justiça à nossa maneira, assim como a capacidade de autodefesa. “Exigimos
agora que reconheçamos e respeitemos o que conquistamos” (Tradução livre-ESTEVA, 2016, p. 41). 44 Esse lado que nos oferece um panorama de assédio, ocupação e deslocamento forçado em territórios indígenas
(...). Uma nova etapa, mais cruel que as anteriores, se possível, porque agora os atores agem com total impunidade,
54
Por tudo, os povos não satisfeitos com a imposição e dominação, iniciaram por meio do
diálogo, o estabelecimento de novas formas de luta pela reinvenção de seus direitos, que
traduzido, se manifesta nas práticas locais que reafirmam suas particularidades, criando novas
formas de expressão em sua interação com o mundo capitalista globalizado, mitigando a
influência eurocêntrica para nutrir as raízes originarias de conexão com seus territórios e
saberes ancestrais.
Práticas de profunda transformação que têm como base a forte capacidade de
participação, organização e estrutura, de decisões baseadas na construção de suas prioridades,
definindo como mecanismo de participação e dialogo perante o Estado e terceiros, os protocolos
comunitários, protocolos próprios ou protocolos autônomos de consulta, a fim de responder ás
distintas instâncias que possam afetá-los.
1.4. A Consulta Prévia como direito dos povos e dever do Estado.
A Convenção 169 da OIT de 1989, diferente da Convenção 107 de 1957 que pretendia
educar e transformar povos indígenas em cidadãos, enfocou-se na proteção especial de
preservar e fortalecer as identidades e diversidades dos povos indígenas e tribais a nível
internacional ao sinalizar os direitos e liberdades fundamentais que garantem o
desenvolvimento das culturas, tradições e instituições.
Nessa ordem, a Convenção n° 169 configurou outra perspectiva que para Tzay (2015)
indicou como a “mais clara expressão da diversidade cultural de nosso planeta” (p. 30), por
reconhecê-los como coletividades com características culturais diferentes, e incorporar o
conceito de autoidentificação e tentar quebrar ou pelo menos atenuar a ideia forçada de
integração.
Infelizmente, seus direitos continuam sendo limitados, “os Estados têm um objetivo
claro de sujeição e controle, sob políticas diferenciadas de acordo com o grau de submissão ou
autonomia que os povos originais conservaram” (YRIGOYEN, 2011, p.6).
Dessa forma, o panorama impede o livre exercício de autogoverno e livre determinação,
mesmo que não seja explicitado, apresentado como uma nova forma de homogeneização que
se oferece como um reconhecimento a seu direito de diversidade étnica e cultural.
conscientes de estarem causando violações formalmente reconhecidas dos direitos humanos que estão
questionando todos os sistemas, nacionais e internacionais, de garantia de direitos. (...) Além disso, agora podemos
adicionar um novo elemento que, embora sempre presente, nunca foi tornado público como era até agora: Os
governos dos países de onde as grandes empresas vêm se sentem seguros para agir publicamente apoiando os
interesses de suas empresas e agem com total conluio com suas ações, colocando todas as suas estruturas e recursos
a serviço das empresas, independentemente das ações. dessas empresas podem estar fora da garantia de direitos
(tradução livre, ISA & BERRAONDO, 2013, p. 204).
55
Mesmo quando o multiculturalismo afirma que são todos iguais e incline-se, como
assevera Viviana Gutiérrez (2016) para a “eliminação do conflito e do antagonismo” (tradução
livre- p. 33). Daí a resistência dos povos e comunidades contra das estruturas e políticas de
repressão e cultura dominantes que mantêm as mesmas condições sociais, econômicas, políticas
e culturais.
Portanto, os conflitos sob o referido cenário são inevitáveis. O aumento nos programas
de exploração e aproveitamento dos recursos, os aspetos históricos e sociais de discriminação,
a predominância de um desenvolvimento econômico, e os interesses de grupos armados
traduzem-se em conflitos territoriais, em que camponeses, afrodescendentes, povos indígenas
e comunidades tradicionais fazem parte por ter o direito de usufruto e ∕ou de propriedade sobre
as terras, território e recursos naturais (a depender do reconhecimento de cada Estado).
O papel da consulta prévia representa de acordo ao panorama o instrumento de proteção
e preservação dos direitos dos povos contra as medidas administrativas ou legislativas que
possam afetá-los de maneira direta ou indireta como indica a Convenção 169 da OIT no artigo
6.
1. Na aplicação das disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em
particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
b) criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo menos
na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisórios de
instituições eletivas ou órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas
que lhes afetem;
c) estabelecer meios adequados para o pleno desenvolvimento das instituições e
iniciativas próprias desses povos e, quando necessário, disponibilizar os recursos
necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas em conformidade com o previsto na presente Convenção
deverão ser conduzidas de boa-fé e de uma maneira adequada às circunstâncias, no
sentido de que um acordo ou consentimento em torno das medidas propostas possa
ser alcançado.
E reforçada com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
(DNUDPI) artigo 19 e 32.2.
Art. 19. Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas
interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim de obter seu
consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas
legislativas e administrativas que os afetem.
Art. 32.2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos
indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim
de obter seu consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que
afete suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao
desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de
outro tipo.
56
Porém, a consulta prévia não deve má interpretar-se, segundo a Desembargadora do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Selena Almeida:
A consulta não é uma simples reunião, mas um processo que juntamente com a
participação das comunidades indígenas e tribais interessadas negociam com o Estado
suas formas propostas e intenções. É por esse motivo que se afirma que a consulta
prévia não é um único encontro, nem um fim em si mesmo, é apenas um instrumento
de diálogo. Antes de tudo, o lugar de reflexão e avaliação da medida legislativa ou
administrativa proposta pelo governo há de ser discutida primeiro na própria
comunidade, informada dos aspetos do projeto e de seus efeitos na vida da tribo (Caso
UHE Belo Monte, 2011:04).
Nesse sentido, o Estado está na obrigação mediante os procedimentos apropriados e
através de suas instituições representativas consultar o povo que possa ser afetado ou ameaçado
pela atividade, medida o projeto, objetivando a obtenção do consentimento como caráter
principal da consulta como derecho dos povos e dever do Estado de acordo com o previsto nos
artigos 6, 7, 15, 16, 17 e 22 da Convenção 169, e nos artigos 19 e 32 da Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DNUDPI).
Assim para Carlos Marés de Souza Filho (2019), “a obrigação da consulta deriva da
necessidade de os Estados nacionais preservarem os direitos dos povos- ou, dito de forma
inversa, a incolumidade dos direitos dos povos tradicionais gera aos Estados a obrigação de
consultar” (p. 30, 31).
E continua o autor,
A consulta à comunidade não é um acordo de duas partes, de dois direitos, o que está
em jogo é o direito de uma parte e a obrigação de outra, eis a proximidade com o
contrato. O Estado tem a obrigação de fazer a consulta ‘com o objetivo de se chegar
a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas’ nos exatos
termos da Convenção, artigo 6, numeral 2 (SOUZA FILHO, 2019, p. 33, 34).
A sua vez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH) asseverou que a
consulta é uma obrigação do Estado por garantir os direitos e liberdades reconhecidos na
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) estabelecendo por meio da construção
de normas e instituições a efetiva realização da consulta.
O Estado, portanto, como foi afirmado em contados pronunciamentos internacionais e
nacionais
(...) deve observar seu dever e obrigação de consultar os povos indígenas, (...) e
comunidades tradicionais bem como promover o direito desses povos e comunidades
de serem consultados, uma vez que o direito à consulta se sustenta no reconhecimento
dos seus direitos fundamentais e na garantia de sua livre determinação (YAMADA,
GRUPIONI & GARZÓN, 2019, p. 22).
Portanto, o direito à consulta deve ser exigido pelos povos quando sua integridade
territorial, econômica, cultural, física e /ou espiritual pudesse ser afetada direta ou
57
indiretamente, sabendo que é obrigação do mesmo Estado realizá-la, mas que segundo a CtIDH
só nos casos de atividades de alto impacto, a obtenção do consentimento dos povos é necessária.
Em relação a este último ponto, uma análise mais detalhada será feita posteriormente,
pois é um tópico fortemente discutido em relação ao direito que os povos teriam para recusar
tais projetos, além do direito de oposição ou poder de veto aos demais tipos de projetos que
resultarem altamente prejudiciais.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reafirma nessa ordem, o direito dos
povos à consulta prévia, livre e informada sem especificar o que ela deve conter dentro dos
sistemas nacionais, mas que por sua relação com outros direitos fundamentais a consulta é
essencial para garantir os direitos dos povos indígenas e tribais, especialmente o direito à
propriedade, território ancestral por seu vínculo espiritual, o direito ás terras e recursos naturais,
e o direito à identidade cultural.
Por outro lado, o Tribunal Constitucional da Colômbia, por meio de seus julgamentos,
expressou claramente o caráter de direito fundamental da consulta, exposto pela primeira vez
em 1997, e mantida até hoje.
O tribunal declarou, entre outros, através da sentença C-175 de 2009, que a consulta é
um direito fundamental “reconhecido e protegido pela ordem constitucional e,
consequentemente, legalmente exigível”. Que a consulta prévia “é um instrumento legal
essencial para evitar a afetação irreversível das práticas tradicionais das comunidades
diferenciadas, que constituem seus modos particulares de sobrevivência” (tradução livre).
Entretanto, a Comissão Interamericana assevera que o sujeito obrigado a cumprir o
dever de consultar é o Estado em todas as seus níveis, ao qual a CtIDH acrescenta que os
processos de ‘socialização’ e ‘entendimento’ que as empresas interessadas ou terceiros realizam
com povos indígenas em projetos específicos não devem ser confundidos com os processos de
consulta que devem ser realizados pelos Estados.
Conforme o expresso, o nos relatórios do Relator Especial para Direitos Humanos e
Liberdades dos Povos Indígenas sinalizasse que os Estados e as empresas devem seguir uns
critérios mínimos de devida diligencia que garantam os direitos dos povos, principalmente seu
direito à consulta prévia, livre e informada.
Segundo o Relator Especial existem dois tipos de responsabilidade: (a) deveres gerais;
e (b) a configuração do padrão mínimo para a proteção das comunidades indígenas (padrão de
devida diligência). Em qualquer caso, para a definição dessas questões, os determinantes são
(i) o dever de diligência em reconhecimento, (ii) o dever de diligência em terras, territórios e
58
recursos naturais e (iii) o dever de diligência em consulta (Informes A/HRC/15/37 de 19 de
julho de 2010 & A/HRC/21/47 de 6 de julho de 2012).
Os processos de consulta realizados pelo Estado devem por causa disso promover a
participação ativa e efetiva dos povos indígenas e tribais, buscando obter consentimento de
acordo com os interesses e intenções propostos, promovendo o direito de participação dos
povos, o direito ao território, a diversidade étnica e cultural e o direito à autonomia.
Isso, porque os direitos de participação e de consulta estão intimamente ligados com a
ideia dos povos ter igual dignidade e capacidade que o resto da população, e que, portanto, o
Estado deve consultar-lhes antes da tomada de decisões, respeitando sua capacidade e controle
sobre seu desenvolvimento, organização e estilo de vida.
Porém, esse processo de consulta não deve limitar-se somente ao campo processual,
senão que o conteúdo substantivo para em nem um caso promover a destruição cultural e física.
1.4.1. Critérios Mínimos para uma Consulta Adequada
Com o objetivo de garantir o direito de participação e consulta prévia, e evitar situações
desfavoráveis, a consulta deve atender determinados critérios estabelecidos, não apenas aos
estipulados nos tratados internacionais, mas também os desenvolvidos na jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH), os pronunciamentos da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e as diretrizes desenvolvidas pelos diferentes
tribunais dos países segundo seja o caso, a fim de não limitar sua interpretação apenas a um
tipo imutável de guia.
Nesse sentido, a CtIDH indicou de forma ampla o dever que têm os Estados com os
povos indígenas e tribais de consulta aos povos por meio do caso do Povo Saramaka vs.
Suriname (2007) ao descrever
(…) el Estado tiene el deber de consultar, activamente, (…) según sus costumbres y
tradiciones (supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde
información, (…). Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de
procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo.
Asimismo, se debe consultar de conformidad con sus propias tradiciones, en las
primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la
necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso
temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades
y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse
(…) tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y
de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con
conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta
los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones (para. 133)45.
45 O Estado tem o dever de consultar ativamente (...) de acordo com seus costumes e tradições (parágrafo 129
supra). Esse dever exige que o Estado aceite e forneça informações (...). As consultas devem ser conduzidas de
59
De acordo com o exposto, a Corte explana os princípios que a consulta para se
considerar adequada deve ter, indicando incluso o caráter da consulta, e os casos em que o
consentimento é obrigatório para a adequada aplicação da consulta.
Porém, vale mencionar que o Tribunal e a Convenção 169 da OIT fazem referência a
que os povos devem ser consultados mediantes procedimentos culturalmente apropriados,
através de suas instituições representativas, apesar disso, dito critério não deve ser sometido a
uma forma única de aplicação desentendo o contexto e a cultura de cada povo.
Isso, porque dentro do estudo da consulta, o avanço no entendimento dos povos
indígenas e tribais, e suas novas formas de participação através dos protocolos autônomos
(fortemente trabalhados no Brasil) “a aplicação deste direito deve atender à diversidade étnica
e sociocultural existente no país, sendo flexível tanto nos procedimentos para cada consulta
como no tempo necessário para sua execução” (YAMADA, GRUPIONI & GARZÓN 2019, p.
21).
Contraria à compressão dos Estados nacionais que sob a primeira reação foi estabelecer
um procedimento fixo, “criar leis gerais, muito de acordo com a representatividade moderna”
(SOUZA FILHO, 2019, p. 32), mas que certamente é incongruente com a ampla diversidade
étnica e cultural dos povos e seu governo e organização –como será detalhado mais adiante-.
Como Maria Grabner (2015) expressa: o “procedimento apropriado” referido na
Convenção 169 da OIT, “apenas terá seus contornos delineados diante do caso concreto,
pautado principalmente pelo princípio ético da boa-fé” (p. 31). O que deslumbra mais uma vez,
como o processo consultivo está submerso às estruturas estatais que, de acordo com os
interesses econômicos e políticos fundamentam sua tomada de decisões.
A razão disso, o presente estudo fara menção de maneira genérica a quatro (4) princípios
ou critérios que atendem ao direito de autodeterminação dos povos, sabendo que não existe uma
única fórmula aplicável em relação ao dever estatal de consultar os povos, já o artigo 34 da
Convenção 169 da OIT incorpora explicitamente o princípio da flexibilidade na sua aplicação
ao apontar que: “A natureza e alcance das medidas a serem adotadas para dar cumprimento à
boa fé, através de procedimentos culturalmente apropriados e devem ter como objetivo chegar a um acordo. Da
mesma forma, deve ser consultado de acordo com suas próprias tradições, nos estágios iniciais do plano de
desenvolvimento ou investimento e não apenas quando for necessário obter a aprovação da comunidade, se for o
caso. O alerta precoce fornece tempo para discussões internas nas comunidades e para fornecer uma resposta
adequada ao Estado. O Estado também deve garantir (...) que esteja ciente dos possíveis riscos, incluindo riscos
ambientais e de saúde, para que eles aceitem o plano de desenvolvimento ou investimento proposto com
conhecimento e de forma voluntária. Por fim, a consulta deve levar em conta os métodos tradicionais das pessoas
para a tomada de decisões (pará.133).
60
presente Convenção deverão ser definidos com flexibilidade, levando em consideração as
condições características de cada país”.
Assim, com o objetivo de não cair em arbitrariedades, extralimitações do poder e
orientar o processo consultivo, foram estabelecidos critérios a nível internacional que
favorecem a não vulneração dos direitos, a saber, o princípio de boa-fé, o caráter prévio, a
consulta informada- princípio de transparência-, e a obtenção de um acordo ou consentimento.
a) Princípio de Boa Fé
De acordo com o art. 6.2 da Convenção 169 da OIT, os arts. 19 e 32 da DNUDPI e arts.
23.2 e 29.4 da DADPI, as consultas devem realizar-se sob o princípio da boa-fé, o evitando
atitudes e comportamentos que interfiram na decisão das comunidades e povos a fim de obter
benefícios.
O princípio deve manter-se antes da negociação até o final, e deve ser recíproco entre
as partes. Em todos os casos, a verdadeira informação deve ser fornecida, sem engano, com
uma atmosfera de confiança e diálogo que apresente as implicações e benefícios reais da
realização do projeto (GARCIA, s.d.).
Do mesmo modo, o Guia de aplicação da Convenção n. 169 da OIT afirma que a
consulta deve se realizar de boa fé e com os meios apropriados,
En general, es necesario que los gobiernos reconozcan los organismos de
representación y procuren llegar a un acuerdo, lleven adelante negociaciones genuinas
y constructivas, eviten demoras injustificadas, cumplan con los acuerdos pactados y
los implementen de buena fe. Por otra parte, los gobiernos deben garantizar que los
pueblos indígenas cuenten con toda la información relevante y puedan comprenderla
en su totalidad (OIT, 2019, p. 62)46.
Em outras palavras, o princípio de boa-fé está relacionado com o fortalecimento dos
povos e lideranças indígenas, já que não é compatível com as práticas que procuram a
desintegração da população indígena ou tradicional, as negociações individuais e a tomada de
decisões já pré-determinadas.
Na consulta previa, a boa fé é fundamental para os resultados obtidos serem aprovados,
válidos e legítimos pelas partes, padrões internacionais de direitos humanos (CIDH, 2015), e
cumprir com a finalidade de chegar a um acordo. Caso contrário, “se for demonstrado que
46 Em geral, é necessário que os governos reconheçam órgãos representativos e tentem chegar a um acordo, realizar
negociações genuínas e construtivas, evitar atrasos injustificados, cumprir acordos acordados e implementá-los de
boa fé. Por outro lado, os governos devem garantir que os povos indígenas tenham toda a informação relevante e
possam entendê-la completamente (tradução livre - OIT, 2019, p. 62).
61
houve atitudes por parte do Estado que não foram investidas de boa fé, pode-se declarar que o
processo de consulta é nulo” (GARCIA, s.d., p. 229).
b) Consulta informada –Principio de Transparência-
O critério exige que o Estado forneça informações claras, verdadeiras, completas e
oportunas, a fim dos povos obterem todas as informações disponíveis, proporcionando um
espaço de diálogo. A CtIDH no Caso Saramaka vs. Suriname (2007) manifestou que o Estado
deve assegurar que as comunidades tenham conhecimento “dos possíveis riscos, incluindo
riscos ambientais e de saúde, a fim de aceitar o plano de desenvolvimento ou investimento
proposto” (par. 133).
De acordo como o Grupo das Nações Unidas sobre os assuntos indígenas para o
desenvolvimento (GNUD) ao fornecer informações relacionadas à consulta por parte do Estado
às comunidades indígenas devem levar em conta o seguinte:
i. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier
proyecto o actividad propuesto;
ii. La razón o las razones o el objeto del proyecto y/o la actividad;
iii. la duración del proyecto o la actividad;
iv. la ubicación de las áreas que se verán afectadas;
v. una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales,
culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de
beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de
precaución;
vi. el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto
propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado,
instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás
personas); y
vii. los procedimientos que puede entrañar el proyecto 47 (OIT, 2009, p. 63).
Elementos referidos que se complementam com a obrigação dos Estados informar às
comunidades sobre a situação dos procedimentos e adoção das decisões, permitindo-lhes acudir
ante o judiciário caso não sejam cumpridos adequadamente, pedindo de ser necessária a revisão
e analise aos mecanismos de controle (GARCIA, s.d., p. 244-245).
A consulta informada procura estabelecer um quadro geral de conhecimento que mostre
às comunidades os impactos do projeto ou medida a impor, a fim deles adotar a decisão mais
razoável conforme suas necessidades.
47 i. A natureza, a extensão, o ritmo, a reversibilidade e a alcance de qualquer projeto ou atividade proposta. ii. A
razão ou razões ou o objeto ou objetos do projeto e / ou atividade; iii. A duração do precedente; iv. Os lugares nas
áreas que seriam afetados; v. Uma avaliação preliminar dos prováveis impactos econômicos, sociais, culturais e
ambientais, incluindo os possíveis riscos e uma distribuição justa e equitativa dos benefícios, em um contexto que
respeite o princípio da precaução; vi. Pessoal com probabilidade de intervir na execução do projeto proposto
(incluindo povos indígenas, pessoal do setor privado, instituições de pesquisa, funcionários do governo e outros);
vii. Procedimentos que o projeto pode perder (OIT, 2009, p. 63).
62
c) Deve ser prévia
O caráter prévio que caracteriza a consulta implica obter antes do início de qualquer
atividade ou medida, o consentimento, respeitando a ordem no processo de consenso dos povos
(OIT, 2009).
Com base no art. 15.2 da Convenção 169 da OIT, o art. 32.2 da DNUDPI, e art. 29.4 da
DADPI, a consulta em relação aos projetos de exploração e aproveitamento de recursos naturais
deve ser prévia e oportuna, realizada antes da aprovação de licenças e permissões ambientais,
conforme declarado pela Comissão de Expertos na Aplicação e Recomendações (CEACR), pela
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
(CEDR), pelo Comitê de Direitos Humanos e pela CIDH (MORRIS, 2009).
Por outro lado, no que se refere aos planos de desenvolvimento ou investimento, a
Convenção 169 da OIT, art. 7 estabelece que os povos têm o direito de participar regional ou
nacionalmente na formulação, implementação, e avaliação nos processos que possam afetá-los
diretamente.
No caso da adopção de medidas legislativas e administrativas, e o momento em que
devem ser aplicadas não é especificado na Convenção 169, mas, mesmo assim, o CEACR
(2007) especifica que a consulta deve ser “feita antes da adoção das medidas”, agregando o
Comitê de Direitos Humanos (2000) que a admissão das medidas só será válida quando os
povos “tiverem tido a oportunidade de participar no processo de tomada de decisão” (párr. 9.5).
Neste aspeto, nos relatórios entregados pelos relatores das Nações unidas expressam que
em todas as fases de produção da norma deve ser consultada os povos indígenas de acordo com
suas características culturais, com o objetivo de discutir e adotar uma decisão antecipada para
a realização do projeto, reforma legislativa ou gestão administrativa para garantir o exercício
dos seus direitos e ter igualdade de oportunidades para debater o projeto (GARCIA, s.d., p. 237,
238).
A Corte Constitucional Colombiana manifesta que “a consulta prévia deve ser
caracterizada pela realização de um processo pré-consultivo, ou seja, o principal processo de
consulta exige uma consulta para que as autoridades do Estado saibam como realizar o processo
consultivo” (C-030 de 2008, par. 420). Caso contrário, o Estado não demostre o curso da
consulta anterior à aprovação, isso se traduziria a uma mera notificação de algo que já foi
decidido (GARCIA, s.d., p. 238).
O estabelecimento dos princípios que norteiam a consulta em nível internacional deve
ser considerado como os eixos principais do processo, uma vez que a construção de regras e
63
regulamentos fixos não responde facilmente à diversidade cultural e sua adaptação social. A
consulta prévia representa neste sentido um mecanismo que reconhece os direitos humanos e
prevê sua proteção e não violação
d) Chegar a um acordo ou consentimento
Dentro dos elementos mais controvertidos e debatidos encontra-se o propósito de chegar
a um “acordo” ou lograr o “consentimento”, já que não se trata meramente de brindar
informação, senão de receber a aprovação do povo que vai sofrer alterações dentro de seu
território ou em seu estilo de vida.
De acordo com a Convenção nº 169, art. 6,7, 15, 16, 17 e 22; art. 19 e 32 da DNUDPI,
e art. 23, 28, 29 da DADPI48, o objetivo da consulta é chegar a acordos ou obter o consentimento
que permita encontrar uma solução adequada da situação em questão que envolve o bem-estar
e a sobrevivência dos povos indígenas.
Dessa forma, os procedimentos indígenas para a tomada de decisões devem ser
considerados como garantias processuais, para que todos os membros da comunidade
participem do processo de consulta de acordo com sua estrutura organizacional e, assim, atingir
o objetivo da consulta (RODRIGUEZ, 2014).
Nesse contexto, apesar da complexidade e amplitude, e dos diferentes entendimentos e
posições que podem ser apresentados, Raquel Yrigoyen Fajardo (2011), refere:
Por este derecho, el Estado no sólo está obligado a hacer una consulta o garantizar la
participación indígena en caso de políticas, planes, programas o medidas, sino que,
dado el derecho en juego (existencia, integridad), no puede adoptar una decisión sin
el expreso consentimiento de los pueblos (p. 29)49.
Portanto, o que procura o consentimento é que o Estado assuma uma posição de boa fé,
na qual a medida proposta não seja apenas uma questão de 'interesse geral', mas também um
benefício para o povo em questão. No entanto, aqui dois aspetos são distinguidos, por um lado,
o consentimento como finalidade, e o outro, o consentimento como requisito.
Em relação ao primeiro, “o Estado deve organizar os procedimentos de forma que sejam
orientados para a obtenção do consentimento ou acordo” (YRIGOYEN, 2011, p. 16), embora,
se esse objetivo não for alcançado, o Estado terá poderes para tomar uma decisão de boa-fé sem
o consentimento do povo sendo completamente válida.
48 Aqui, vale ressaltar o avaço que a DADPI fez em relação ao consentimento dos povos indígenas e tribais, uma
vez que a Convenção coloca o consentimento como o fim ultimo da consulta, e não como o objetivo ser alcançado. 49 Por esse direito, o Estado não é apenas obrigado a consultar ou garantir a participação indígena no caso de
políticas, planos, programas ou medidas, mas, dado o direito em jogo (existência, integridade), não pode tomar
uma decisão sem o consentimento expresso dos povos (p. 29).
64
Por outro lado, no caso do consentimento como requisito na tomada de decisões do
Estado e algumas outras situações os direitos fundamentais dos povos podem ser afetados, nos
seguintes eventos: 1) transferência de população, referida na convenção 169, art. 16, a) e b), na
Declaração da ONU art. 10, a) e b); 2) Medidas especiais de salvaguarda indicadas no art. 4 da
Convenção 169; 3) Armazenamento ou descarte de materiais perigosos no artigo 29 da
Declaração da ONU; 4) Desenvolvimento de atividades militares, previstas na Declaração das
Nações Unidas, art. 30, a), b) e c); e 5) megaprojetos que podem afetar o modo de vida ou de
subsistência dos povos, estabelecido no julgamento da CIDH, caso Saramaka v. Suriname
(2007).
Assim, nesses casos, a Convenção 169 e a Declaração indicam as situações em que o
Estado é obrigado a obter o consentimento prévio, livre e informado dos povos indígenas e
tribais antes da tomada uma decisão, a fim de evitar a violação de direitos constituídos
internacionalmente.
No entanto, existem muitas dúvidas e questões que surgem em relação a esse direito,
isso porque para os povos indígenas e tribais, os eventos em que foi estabelecido a
obrigatoriedade do consentimento, não é executada, não integra os elementos essenciais para a
realização da consulta apropriada e o respeito dos mínimos direitos, além de não se contemplar
outro tipo de situações que afetam na mesma dimensão.
1.4.2. Em que casos a Consulta se aplica?
O cumprimento da obrigação dos Estados garante que os povos indígenas participem
nas decisões que possam ser suscetíveis50 de lhes causar dano, protegendo seus direitos
culturais, econômicos, sociais e territoriais. Assim, a Convenção 169 da OIT aplica-se tanto aos
povos indígenas quanto tribais como sujeitos ativos na construção dos programas e medidas
que os involucre.
No entanto, é necessário esclarecer que a sistematização do conteúdo e alcance da
consulta prévia estabeleceu uma distinção que lhe permite alcançar os objetivos de proteção
dos direitos fundamentais.
50 O sentido de este vocábulo “suscetível” encontra-se relacionado com os princípios internacionais do direito
ambiental, especialmente com o principio 15, “principio de precaução” da Declaração das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, segundo o qual a ausência de absoluta certeza cientifica não pode ser utilizada
como óbice para a adoção de medidas para prevenir possíveis danos ambientais (ONU, 1992); a diferença do
principio de prevenção em que os Estados ou autoridades têm certeza científica quanto ao tipo de impactos que
podem ser causados e as medidas a serem implementadas para evitá-los ou mitigá-los.
65
Segundo Amparo Rodriguez, os povos indígenas possuem dois mecanismos aplicáveis
que permitem sua participação. No primeiro deles, a participação51, centrada de maneira geral
na adoção de políticas de Estado que integram elementos que caracterizam sua cultura,
condições conferidas à demais população mas com caráter diferenciador (RODRIGUEZ, 2014).
Por outro lado, a consulta prévia relacionada às condições e procedimentos, concentrada
especificamente nos direitos constitucionais dos povos e grupos em situações em que podem
ser particularmente afetados pela provisão de atividades (RODRIGUEZ, 2014).
Ressalta-se que este último não é aplicável somente em casos de execução de exploração
de recursos naturais em territórios indígenas como é normalmente atribuído, e embora seja dos
mais consultados, também são tratadas outras questões não territoriais relativas às medidas
administrativas e legislativas, com trabalho, formação profissional e saúde.
Para Raquel Yrigoyen Fajardo (2011), existem pelo menos quatro direitos atribuíveis
que os povos têm para a tomada de decisões em situações que possam afetá-los.
(1) El primer derecho es el referido a la atribución para decidir autónomamente o
determinar de modo libre su modelo de desarrollo (derecho a la libre determinación
del desarrollo). Los demás derechos están referidos a formas de relación entre el
Estado y los pueblos indígenas: (2) Participación en todo el ciclo de las políticas,
(3) Consulta previa a medidas legislativas o administrativas, y, (4) Consentimiento,
previo libre e informado cuando se puede poner en riesgo derechos fundamentales de
los pueblos, como la integridad o el modo de vida y desarrollo52 (p. 10).
Nessa ordem, as diretrizes da Convenção núm. 169 da OIT de 1989 são de inteira
responsabilidade dos Estados aplicar a consulta, sem que ela seja transferida a particulares ou
empresas nas seguintes situações,
Ao prever medidas legislativas ou administrativas (artigo 6.1, a);
Na formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de
desenvolvimento regional e nacional (artigo 7).
Antes de proceder à prospecção ou exploração de recursos do subsolo (artigo 15.2);
Ao considerar a alienação das terras dos povos indígenas ou a transferência de seus
direitos sobre as terras para estranhos a sua comunidade (artigo 17);
Antes da realocação dos povos indígenas, o que só deve ser feito com o consentimento
dado livremente e com pleno conhecimento da causa (artigo 16);
Na organização e operação de programas especiais de formação profissional (artigo
22);
51 Ver pagina 40, paragrafo 1. 52 (1) O primeiro direito refere-se à atribuição de decidir autonomamente ou livremente determinar seu modelo de
desenvolvimento (direito à autodeterminação do desenvolvimento). Os outros direitos se referem a formas de
relacionamento entre o Estado e os povos indígenas: (2) Participação em todo o ciclo político, (3) Consulta prévia
de medidas legislativas ou administrativas e, (4) Consentimento, antes gratuito e informado, quando os direitos
fundamentais das pessoas, como integridade ou modo de vida e desenvolvimento, puderem ser comprometidos
(tradução livre, YRIGOYEN, 2011, p. 10).
66
Em medidas destinadas a ensinar as crianças a ler e escrever em sua própria língua
indígena (artigo 28.1).
Ao igual que delimitou os eventos especiais que requerem de consulta, aliás das
situações contempladas em regulamentos internacionais, como o Sistema Interamericano de
Direitos Humanos (SIDH), a DNUDPI e a DADPI.
Abaixo, apresentaram-se a nível geral os principais às duas medidas principais de
consulta que involucrariam os direitos indígenas, a saber, as: a). Medidas legislativas, e b).
Medidas administrativas.
a) Medidas Legislativas
Os povos étnicos suscetíveis de serem prejudicados devem ser consultados quando se
pretenda emitir uma medida nacional, regional, local ou planos de governo que contemplem
programas, projetos e orçamentos com relação a eles. Em outras palavras, significa que as
normas ou leis que pudessem afetá-los diretamente ao estabelecer políticas gerais, definições
ou critérios sobre os povos indígenas, seus territórios ou modos de vida (cultura, tradições,
economia) devem ser consultados (RODRIGUEZ, 2010).
Dentro deste contexto, o Tribunal Constitucional Colombiano mediante a sentença C-
030 de 2008, indicou que existe afetação direta: “quando a lei altera o status da pessoa ou da
comunidade, seja porque impõe restrições ou gravames ou, pelo contrário, confere benefícios”
(párr. 4.2.2.2.1.).
O anterior referido com o propósito de esclarecer a dimensão do termo afetação, visto
que o objeto da consulta se delimita a todas aquelas medidas que possam influir nas
comunidades, seja de forma negativa ou positiva, determinando o nível de comprometimento
do Estado em sua devida restituição ou indemnização fosse o caso.
Para o SIDH, uma lei contrária à Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH)
não pode ser considerada favorável para os direitos indígenas e tribais, pois seria contrária às
normas e obrigações adquiridas pelos Estados, incumprimento sua responsabilidade
internacional (GARCIA, s.d.), razão pela qual não deveria nem ser consultada com os povos,
com o fim de respeitar sua integridade.
b) Medidas administrativas
Caracterizam-se por ser emitidas pelo Poder Executivo, direcionadas para a satisfação
do interesse dos cidadãos em geral, que buscam a realização de atividades destinadas
principalmente à exploração de recursos naturais e estritamente sujeitas à consulta caso estejam
previstas ser realizadas dentro dos territórios indígenas.
67
Neste caso, a consulta prévia deve ser realizada nos seguintes casos: assuntos de meio
ambiente; erradicação de cultivos ilícitos53; transferência comunitária; entrada de forças
militares; processos de pesquisa54; e adoção de menores (RODRIGUEZ, 2010).
Em relação aos assuntos de meio ambiente Gloria Amparo Rodriguez (2010) contempla
os seguintes casos: os projetos de exploração, prospecção e exploração de recursos naturais não
renováveis; as licenças ambientais para a realização de projetos, obras ou atividades; as licenças
ambientais para o uso de recursos naturais; a adopção de regimes especiais de gestão; a
aprovação dos Planos de Gestão Ambiental; os processos de pesquisa científica (recursos
biológicos: coletar, captura, caça, pesca, manipulação de recursos, mobilização); o acesso a
recursos genéticos; e qualquer decisão ambiental que afete diretamente os povos ou territórios
indígenas (Tradução livre- p. 42, 43)
Na transferência das comunidades, a Convenção No. 169 e a DNUDPI (art. 10)
enfatizam que os povos não podem ser transferidos de suas terras e territórios, porém, reconhece
que em casos excepcionais esta possibilidade é possível, sempre que o 'consentimento' seja livre
e voluntario por parte dos povos.
Nesta situação a consulta e consentimento são fundamentais, porque como expressa
Amparo Rodriguez (2010), o território “permite-lhes acessar coletivamente a seus recursos
naturais, controlar os processos sociais, culturais, políticos e econômicos que ocorrem dentro
desse espaço. Eles têm direito de possuir, desenvolver, controlar e usar suas terras e territórios.
O mais importante para eles é o território” (p. 44).
A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas expressou que a omissão de
consultas nos casos de exploração dos recursos naturais viola e degrada o direito dos povos e
sua própria cultura contemplada no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP)
artigo 2755. Assim como o advertem os relatórios da Comissão Interamericana e jurisprudência
da CtIDH no caso do Povo Saramaka vs. Suriname em 2007 na construção da hidroelétrica no
território indígena Saramaka forçando-os a sair de suas terras tradicionalmente adquiridas sem
a devida consideração de suas necessidades e prioridades.
53 Em relação a este tipo de consulta, deve-se mencionar previamente que foi desenvolvida pela Corte
Constitucional Colombiana através do julgamento SU-383 de 2003, mediante a qual manifesta que os povos
deverão ser consultados com antecedência quando se decidam erradicar culturas de uso ilícito em seus territórios
ou próximos. 54 Da mesma forma, apesar de não mencionar-se de forma literal, deve-se ressaltar que, quando estudos de
pesquisas científicas ou arqueológicas sejam planejados, os povos devem ser consultados antes do inicio de suas
atividades (RODRIGUEZ, 2010). 55 Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias
não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida
cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua (PIDCP, 1966, art. 7).
68
Como resultado dessa omissão, a Corte estabeleceu que:
[…] el Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de
concesiones para exploración y extracción de recursos naturales que se hallan dentro
del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los
beneficios del pueblo Saramaka, si realiza o supervisa evaluaciones previas de
impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin
de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras
tradicionales Saramaka y a sus recursos naturales […]56 (CtIDH, 2007, párr. 158).
Na sentença de interpretação a Corte aclarou que o dever de fazer valer os direitos dos
povos sobre seus territórios e propriedade ancestral intimamente ligado ao desenvolvimento
integral e a vida, o Estado deve realizar o processo de consulta em seis casos específicos:
i).Quando se trata de delimitar, demarcar e titular territórios tradicionais; ii). quando não é
possível restaurar as terras ancestrais reivindicadas pelos povos por razões justificadas; iii). pela
adoção de medidas legislativas ou outras destinadas a reconhecer, proteger, garantir e realizar
o direito dos povos étnicos a ser titulares de direito sobre o território que tradicionalmente
ocupam e usam; iv). quando se quiser afetar o direito de propriedade e desfrute de territórios
ancestrais através de planos de desenvolvimento, investimento, exploração ou extração; v). para
definir medidas legislativas ou administrativas destinadas a reconhecer e garantir o direito à
consulta; e vi). para reconhecer o status legal dos povos indígenas e tribais (CtIDH, 2008).
A consulta como direito fundamental dos povos e obrigação do Estado deve nesse
sentido se realizar com antecedência, perante qualquer decisão suscetível de causar-lhes dano.
Como manifestou a Direção Geral de Assuntos Indígenas,
Os povos indígenas e outros grupos étnicos têm direito à participação e consulta, além
de um direito, é um processo público, especial e obrigatório, intercultural e
interinstitucional, que deve ser realizado previamente, sempre que for adotado, decidir
ou executar qualquer projeto administrativo, legislativo ou público ou privado que
possa afetar diretamente as formas e sistemas de vida dos povos indígenas, ou sua
integridade étnica, cultural, espiritual, social e econômica. É também um mecanismo
que permite aos Estados nacionais cumprir sua responsabilidade e dever de proteger
a diversidade étnica e cultural dos povos indígenas, respeitando seus direitos de
identidade, território, autonomia, participação e desenvolvimento próprio.
(RODRÍGUEZ, 2010, p. 105).
A consulta é mais do que um procedimento administrativo, é um direito fundamental
em si mesmo, que devido à sua estreita relação com os princípios e direitos internacionais de
diversidade étnica e cultural, direito de participação, direito à propriedade, à terra e o território,
o direito ao autogoverno e à autodeterminação, o direito à vida e à integridade econômica, social
56 [...] o Estado pode restringir esse direito concedendo concessões para exploração e extração de recursos naturais
que estejam dentro do território Saramaka apenas se o Estado garante a participação efetiva e os benefícios do
povo Saramaka, se realiza ou supervisiona avaliações de impacto ambiental ou social e se implementa medidas e
mecanismos apropriados para assegurar que estas atividades não produzam um grande impacto nas terras
tradicionais dos Saramaka e nos seus recursos naturais (tradução livre- CtIDH, 2007, párr. 158).
69
e cultural deve ser respeitada e exigida, especialmente porque os povos apresentam os maiores
índices de exposição nos casos de violação a seus direitos humanos.
1.5. Direito ao Consentimento
O consentimento apresenta-se sob dois aspectos principais, como objetivo a ser
alcançado, e como requisito na realização das consultas prévias. Nessa ordem, será realizado
um estudo mais detalhado sobre esses aspectos.
Surge então o questionamento de se o consentimento é apenas o propósito da consulta
a ser alcançado, um requisito para determinados eventos, ou um direito em si mesmo? Uma vez
que os Estados têm plena capacidade de decidir sob o princípio de proporcionalidade, caso os
povos indígenas e tribais expressem seu desacordo com as medidas a serem aplicadas.
Pois bem, embora pareça que as causas do problema são variadas, o cenário é dividido
em dois. Por um lado, o interesse dos Estados em promover o desenvolvimento econômico por
meio de políticas extrativistas, enquanto, por outro lado, existem os direitos dos povos indígenas
à terra, território, recursos naturais e sua cultura -reconhecidos internacionalmente,
principalmente na América Latina como de obrigatória implementação.
A consulta e consentimento prévio, livre e informado constituem neste panorama, a
abertura ao diálogo que permite de boa convivência entre o Estado e os povos indígenas
alcançar um acordo mútuo em decisões que afetam o desenvolvimento, integridade cultural e
física dos povos.
Nessa perspectiva, em 2018 apresentou-se o informe do Estudo Mecanismo de Peritos
da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas que indicou:
El consentimiento es un principio fundamental que permite a los pueblos indígenas
ejercer su derecho a la libre determinación, incluso respecto de una actividad de
desarrollo que entrañe el control sobre sus tierras, recursos o territorios o los afecte de
otra manera. En ese entendimiento se considera que los pueblos indígenas participan
en las propuestas que les afectan y tienen derecho a dar o no dar su consentimiento.
(…) La decisión de los pueblos indígenas de dar o no dar el consentimiento a una
propuesta es resultado de su propia evaluación de su interés superior y el de las
generaciones futuras57 (A/HRC/39/62, 2018, p.8, para 24, 25).
Sublinhando o mesmo relatório que,
El consentimiento libre, previo e informado es una manifestación del derecho de los
pueblos indígenas a determinar por sí mismos sus prioridades culturales, sociales,
57 Consentimento é um princípio chave que permite aos povos indígenas exercerem seu direito de
autodeterminação, inclusive sobre projetos de desenvolvimentos que afetem as terras, recursos e territórios ou o
controle dos povos indígenas sobre estes. Dentro deste entendimento, os povos indígenas têm o direito de oferecer
ou negar o consentimento sobre propostas que os afetem. (...) Se os povos indígenas dão ou retêm o consentimento,
isso é um resultado de sua análise a partir do que consideram seus melhores interesses e para as futuras gerações
com relação à proposta (Tradução livre- A/HRC/39/62, 2018, p.8, para 24, 25).
70
económicas y culturales. Se trata de tres derechos relacionados entre sí y
acumulativos: el derecho a ser consultados, el derecho a participar y el derecho a sus
tierras, territorios y recursos. Según la Declaración no puede haber consentimiento
libre, previo e informado si falta uno de esos componentes (A/HRC/39/62, 2018, p.5,
para 14)58.
Nesse sentido, o consentimento como manifestação dos direitos dos povos deve ser
considerado essencial dentro do processo de consulta, isto, porque os Estados devem assegurar-
se de que o processo atenda todas as necessidades, respeitando as suas práticas e organização,
procurando em todas as circunstancias possíveis o reconhecimento de seus direitos indígenas,
incluso na declaração de sua oposição a determinadas medidas ou projetos.
Lamentavelmente,
(...) experiences on the ground demonstrate that where national laws and regulations
fail to provide adequate recognition and protection to the rights of indigenous peoples
and local communities, where international human rights instruments are poorly
enforced, and where national and international legal frameworks are not harmonised59
(...)(RSPO, 2015, p. 11).
O cenário leva novamente ao discurso colonial e a construção de “outro” como inferior,
pois de fato, a identificação e diferençarão racial, cultural e classista reproduze uma condição
subalterna que inclui aos povos indígenas e tribais, degenerando sua posição internacional de
sujeitos coletivos de especial proteção.
Como consequência, os povos acabam se posicionando de duas maneiras. Por um lado,
com a não aceitação por meio ao processo consultivo, o que leva a que o Estado materialize as
pretensões iniciais. E por outro lado, quando o povo a recusa de forma direta à medida, criando
um conflito de interesses entre o Estado e as comunidades, o que impossibilita chegar a um
diálogo aberto (GARCIA, s.d.).
Em relação ao primeiro caso, quando se faz referência ao consentimento como proposito
na realização da consulta conforme com os estandartes nacionais e internacionais, os Estados
devem procurar o consentimento, mas caso não consiga acordo com os povos, estão facultados
para tomar a decisão de iniciar o projeto ou atividade sempre que esteja livre de arbitrariedades,
não estar viciado e baseada sob o princípio de boa-fé.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, exterioriza de igual forma que
58 O consentimento livre, prévio e informado é uma manifestação do direito dos povos indígenas de determinar
por si mesmos suas prioridades culturais, sociais, econômicas e culturais. Esses são três direitos relacionados e
cumulativos: o direito de ser consultado, o direito de participar e o direito a suas terras, territórios e recursos. De
acordo com a Declaração, não pode haver consentimento livre, prévio e informado se um desses componentes
estiver faltando (A / HRC / 39/62, 2018, p.5, para 14). 59 (...) experiências no terreno demonstram que, as leis e regulamentos nacionais falham em fornecer
reconhecimento e proteção adequados aos direitos dos povos indígenas e comunidades locais, onde os
instrumentos internacionais de direitos humanos são pouco aplicados e onde os marcos legais nacionais e
internacionais não são harmonizados (...) (Traduçao livre- RSPO, 2015, p. 11)
71
(…) las decisiones que adopten los órganos internos, que puedan afectar los derechos
humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían
decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que
han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes…Asimismo, la
motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas (CtIDH, 2008, para
78(e))60.
A Corte Constitucional da Colômbia corrobora esse posicionamento através da decisão
SU-123 de 2018
(…) el Estado puede tomar e implementar la medida, mediante decisión motivada,
siempre y cuando su decisión: (i) esté desprovista de arbitrariedad y autoritarismo, (ii)
esté basada en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad respecto del
deber de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación;
(iii) tome en consideración, hasta donde sea posible, las posiciones expresadas por las
partes, y en especial el pueblo étnico, durante la consulta; (iv) respete los derechos
sustantivos reconocidos en el Convenio 169 OIT; y (v) prevea mecanismos eficaces,
idóneos y eficientes para atenuar los efectos negativitos de la medida61 (COLOMBIA,
SU-123-2018, para. 17.14).
Dessa forma, a CtIDH sublinha que sob o principio de boa fé, se dá credibilidade ao
processo e às decisões democráticas, oferecendo aos povos a possibilidade de criticar a
resolução e acudir a instancias superiores, garantindo o direito ao devido processo.
Completamente diferente à situação do Estado que está obrigado a obter o
consentimento dos povos, pois, como foi referido no item anterior, por meio de legislação e
jurisprudência no momento existem cinco situações especiais, que protegem a integridade dos
povos, suas terras, territórios e recursos naturais.
Na primeira das situações em que o consentimento é obrigatório, é quando as
populações indígenas são retiradas das terras que ocupam, Convenção 169 da OIT art. 16.2.
16.2. Quando a retirada e o reassentamento desses povos forem considerados
necessários como uma medida excepcional, eles só serão realizados com seu livre
consentimento e conhecimento. Não sendo possível obter seu consentimento, essa
transferência só será realizada após a conclusão dos procedimentos adequados
previstos na lei nacional, inclusive após consultas públicas, conforme o caso, nas quais
os povos interessados tenham oportunidades de ser efetivamente representados.
E confirmado pela DNUDPI em seu art. 10,
Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou territórios. Nenhum
traslado se realizará sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos
60 (...) As decisões adotadas pelos órgãos internos, que podem afetar os direitos humanos, devem ser devidamente
fundamentadas, caso contrário, seriam decisões arbitrárias. Nesse sentido, a argumentação de uma decisão deve
mostrar que as alegações das partes foram devidamente levadas em consideração ... Da mesma forma, a motivação
demonstra às partes que elas foram ouvidas (CtIDH, 2008, para 78 (e)). 61 (…) O Estado pode tomar e implementar a medida, por decisão fundamentada, desde que sua decisão: (i) seja
desprovida de arbitrariedade e autoritarismo, (ii) seja baseada em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e
objetividade em relação ao dever de reconhecimento e proteção da diversidade étnica e cultural da nação; (iii) leve
em conta, na medida do possível, as posições expressas pelas partes, e especialmente as etnias, durante a consulta;
(iv) respeite os direitos substantivos reconhecidos na Convenção 169 da OIT; e (v) prevea mecanismos efetivos,
apropriados e eficientes para mitigar os efeitos negativos da medida (Tradução livre- COLOMBIA, SU-123-2018,
para. 17.14).
72
indígenas interessados e sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e
equitativa e, sempre que possível, com a opção do regresso.
No tocante à segunda situação, referisse nos casos em que sejam aplicadas medidas
especiais para salvaguardar os povos, artigo 4 (1) e (2) da Convenção 169 da OIT.
1. Medidas especiais necessárias deverão ser adotadas para salvaguardar as pessoas,
instituições, bens, trabalho, culturas e meio ambiente desses povos.
2. Essas medidas especiais não deverão contrariar a vontade livremente expressa
desses povos para “salvaguardar as pessoas, instituições, bens, trabalho, culturas e
meio ambiente desses povos”.
Embora, neste ponto não se refira à noção de consentimento, não significa que as
medidas a serem aplicadas devam ignorar e contrariar vontade dos povos.
Assim como na situação aludida no artigo 29.2 da DNUDPI ao afirmar que: “Os Estados
adotarão medidas eficazes para garantir que não se armazenem, nem se eliminem materiais
perigosos nas terras ou territórios dos povos indígenas, sem seu consentimento livre, prévio e
informado” (DNUDPI, 2007).
Por outro lado, na mesma Declaração artigo 30 obriga-se a obtenção do consentimento
na ocupação militar nos territórios indígenas, pois, mesmo não esteja contemplada
expressamente na Convenção 169, a DNUDPI indica que “Não se desenvolverão atividades
militares nas terras ou territórios dos povos indígenas, a menos que essas atividades sejam
justificadas por um interesse público pertinente ou livremente decididas com os povos”62.
Por último, mas não menos importante, já que se foi dos temas nos últimos anos mais
controversos, a realização de megaprojetos ou projetos a grande escala, declarado pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos no Caso de Saramaka vs.Suriname (2007) como se mostra
abaixo
[…] cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían
un mayor impacto63 dentro del territorio (…), el Estado tiene la obligación, no sólo de
consultar a los (…), sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y
previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones (CtIDH, 2007, párr. 134)64.
62
Nesta situação, o Estado Colombiano manifestou-se perante a Assembleia Geral das Nações Unidas sua
abstenção em favor deste instrumento por questões de segurança nacional, que garante a todos os cidadãos a
necessária proteção contra o conflito armado que vive o país. 63 Si bien es cierto, que la Corte no define con precisión la definición de planes de desarrollo, “inversión a gran
escala” o “mayor impacto”, El Relator Especial Rodolfo Stavenhagen menciona en el informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, los criterios de que trata
este tipo de proyectos: i) la pérdida de territorios y tierra tradicional, ii) el desalojo, iii) la migración y el posible
reasentamiento, iv) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, v) la destrucción y
contaminación del ambiente tradicional, vi) la desorganización social y comunitaria, vii) impactos sanitarios y
nutricionales negativos y de larga duración, o vii) abuso y violencia (PATIÑO, 2010, p. 11). 64 No caso de desenvolvimento em grande escala ou planos de investimento que teriam um impacto maior dentro
do território Saramaka, o Estado tem a obrigação, não apenas de consultar os Saramakas, mas também de obter
seu consentimento livre, informado e prévio de acordo com seus costumes e tradições (Tradução livre- CtIDH,
2007, párr. 134).
73
Com referência a este tipo de projetos de grande escala, e determinar se o projeto adquire
essa denominação, a Comissão Interamericana considera que as características do projeto
devem ser estudadas, ou seja, sua magnitude ou dimensão e o impacto humano e social, a fim
de determinar a obrigatoriedade ou não do consentimento.
Panorama que certamente vai depender dos estudos de impacto ambiental e social que
sejam realizados, da importância que outorguem aos povos indígenas e tribais, suas terras,
território e recursos naturais.
Em razão disso, o consentimento indudavelmente favorece a proteção dos povos, a sua
integridade física e cultural, influencia na preservação do meio ambiente, e consequentemente
na supervivência da humanidade.
Para finalizar, um ponto relevante a mencionar é que a Declaração Americana de
Direitos dos Povos Indígenas (DADPI), entende de forma diferenciada a abordagem de
consentimento, uma vez que para a Declaração os povos indígenas teriam a possibilidade de
vetar projetos que estão em seus territórios na ausência de acordos; resultando inaceitável para
alguns dos Estados, pois, isso implica a limitação de processos de grande interesse econômico.
Embora o DADPI não seja de caráter vinculante, ele traz uma série de contribuições
para os direitos dos povos indígenas que merecem ser analisadas com o objetivo de questionar
as normas reguladoras dos direitos, a fim de abordar a teoria e a prática descobrindo os incertos
e vantagens.
Em resumo, embora a consulta não estabeleça formalmente poder de veto, isso não
significa que os Estados tenham total discrição para aprovar medidas ou projetos por estar
sujeitos a princípios internacionais que proíbem arbitrariedades e abuso.
Assim como também não se impede que os povos tenham que aceitar todo projeto sob
os condicionamentos do Estado, desconhecendo seus direitos constitucionais e direitos
humanos, pois de serem violentados ou ignorados, podem os povos levar está vulneração a
tribunais internacionais para o cumprimento de sua obrigação
74
2. DA CONSULTA AO CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E INFORMADO
DOS POVOS INDÍGENAS.
Nesta oportunidade, serão mencionados os tratados que integram a consulta,
consentimento e demais direitos que reconhecem ainda dentro das relações de poder a relação
dos povos indígenas e povos tribais com a natureza.
Abordagem acompanhada de uma análise jurisprudencial que integra disputas legais em
defesa dos direitos dos povos contra os Estados e terceiros. Para após entrar no estudo dos
marcos normativos existentes ou inexistentes nos países da Colômbia e do Brasil, detectando
as características e elementos fundamentais que constroem seu ordenamento jurídico nacional,
sua posição constitucional e jurisprudencial em relação à defesa e promoção dos direitos dos
povos indígenas e tribais na atual sociedade caracterizada por suas múltiplas contradições e
desigualdades.
Em primeiro lugar, deve-se mencionar que a visibilidade dos povos étnicos, assim como
seus direitos assumiram uma transformação parcializada, especialmente de suas garantias
fundamentais, em razão de que seus interesses coletivos se encontram em contraste com os
interesses econômicos capitalistas que limitam seu exercício.
Infelizmente, a ausência de vontade por parte dos Estados, e em ocasiones a falta de
coordenação por parte das organizações da sociedade civil, refletem um cenário de retrocessos,
“[...] manifestam-se, sobretudo, quando se constatam grupos com formas especificas de
apropriação e relacionamento com a terra que escapam aos termos do direito de propriedade
individual clássico [...]” (CAMERINI, 2007, p. 177).
Neste sentido, o Relator Especial das Nações Unidas Stavenhagen, (2008) sinalou que:
As normas dão reconhecimento cultural, mas restringem o acesso a territórios e
recursos naturais; refere-se a contra-reformas que limitam os direitos previamente
reconhecidos; e indica problemas acusados na administração pública, como a forte
burocracia, o formalismo rígido e o autoritarismo, entre outros. (tradução livre-
MARTINEZ, et.al., 2018, p. 16).
O desconhecimento do direito à terra e ao território contradiz o reconhecimento de seu
direito à diversidade cultural, em virtude de que é somente através do uso e posse de seus
territórios que os povos e comunidades desenvolvem seus costumes e tradições ancestrais,
adquirindo e mantendo seus conhecimentos que fortalecem os laços de geração em geração.
Na América Latina uma parte importante da terra rica em recursos naturais, fontes de
água e alta biodiversidade encontra-se dentro dos territórios indígenas, o que significa maior
preservação, mas ao mesmo tempo, uma luta constante pela apropriação do território pela
75
implementação de políticas neoliberais, projetos de extração, conflito interno, deslocamento
forçado e exploração ilegal (IPDRS, 2018).
Nessa ordem, a adopção de distintas normativas e declarações sobre o tema indígena e
consulta gera confusões por não existir uma conciliação em suas definições, especialmente no
relacionado com os alcances sobre o processo consultivo e a definição do consentimento prévio,
livre e informado estabelecido na DNUDPI do ano 2007 (OIT, 2016, par. 319), e na Americana
DADPI do ano de 2016.
A consulta e consentimento prévio, livre e informado, se traduz então, em fortes tensões,
principalmente pelas disputas do território e recursos naturais, e pela não participação dos povos
na criação de atos legislativos e administrativos que podem afetá-los de maneira direta.
2.1. Instrumentos de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas e Tribais
Das questões que constantemente surgem, encontra-se o assunto da relação entre o
conteúdo das normas e a práxis, pois a divergência entre eles na realidade tornou-se quase
palpável, resultado das inconsistências e contradições cada vez mais evidentes no momento de
garantir a proteção dos direitos dos povos indígenas.
A criação de mecanismos, programas e estratégias pelos Estados e seu papel na
elaboração de formas efetivas de proteção de grupos étnicos, muitas vezes denominados
'minorias' não estão estruturadas conforme suas necessidades, gerando na maioria dos casos
inconsistências devido à falta de reconhecimento do seu direito à diversidade cultural, território
e autodeterminação.
Fruto do cenário exposto, a resistência das comunidades tradicionais e os povos têm
como objetivo a recuperação de sua autonomia, livre de vertentes e esquemas de dominação,
de políticas de exploração e degradação de suas terras e cultura para encontrar nas ações
imediatas mobilizadas pelas práticas sociais uma forma de reinvindicação a sua cultura,
conhecimento e ser inferiorizado e subjugado.
2.1.1. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
Das lutas reconhecidas a nível internacional, -sem deixar de mencionar outros
momentos históricos para os povos indígenas como foi a mobilização indígena de 1992 que se
apresentou como rechaço há os 500 anos de conquista colonial e a rebelião neozapatista em
Chiapas de 1994-, a Declaração de Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
(DNUDPI) em 2007 simbolizou outro dos triunfos mais significativos, claro após da Convenção
169 da OIT.
76
A Declaração que foi construída pelas organizações internacionais e povos indígenas
com a disposição de contribuir ao respeito dos direitos dos grupos étnicos, fundamentou-se nos
dispositivos internacionais antes mencionados como a DUDH (1948), a CEDR (1965), o
PIDCP (1966), o PIDESC (1966), a CADH (1969) e a Convenção núm. 169 da OIT (1989).
A Assembleia Geral aprovou a Declaração com o objetivo de confirmar a proteção dos
direitos dos povos, ainda quando alguns dos países manifestaram sua postura de forma implícita
sobre sua preocupação na amplitude e abrangência nas disposições da Declaração,
especialmente no relacionado com o direito ao uso e administração dos recursos naturais e
controle do território.
Mesmo assim, na construção da DNUDPI o Grupo de Trabalho sobre Populações
Indígena (GTPI) liderado pelo Conselho Econômico e Social incorporou direitos para a
proteção de sua cultura, suas tradições e costumes de acordo com seu desenvolvimento e
autogoverno, enfatizando a não discriminação, não violência, a autodeterminação, o território,
e direito de participação (ONU, 2018).
Assim como a Convenção da OIT, a Declaração das Nações Unidas também proclama
que os povos indígenas têm direito aos recursos naturais de suas terras, ao gozo, à sua
conservação e administração.
Direitos associados de acordo com a líder indígena Ana Bentancour com diversidade
étnica e identidade cultural ao enfatizar a Organização Indígena da Colômbia (ONIC) que esses
direitos são expressos subjetivamente, uma vez que
[…]Entraña el derecho a seguir siendo como son, culturalmente diferentes, a tener
idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho
es un derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él porque
todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen, se relacionan
y recrean su cultura. […]Aunque es subjetivo este derecho, tiene implicaciones
prácticas muy importantes porque es la base para definir qué cosas no se pueden hacer
por introducir cambios bruscos o no deseados en la forma de vida y pensamientos
indígenas. Es la base de los demás derechos”65 (RODRIGUEZ, 2010, p. 14,15).
Apesar disso, o conceito de desenvolvimento dentro do sistema global capitalista,
dificulta a harmonização entre as instituições públicas, as entidades privadas, as comunidades
tradicionais e os povos indígenas, isso, porque das diferentes perspectivas que o termo traz,
especialmente em relação às atividades que envolvem a terra e os recursos naturais, mesmo
65 Implica o direito de permanecer como são, culturalmente diferentes, de ter diferentes linguagens e formas de
governo e de suas próprias relações sociais. Este direito é um direito social não exclusivamente referido ao
território, mas ligado a ele porque todos os povos têm o seu próprio e particular território onde eles existem,
relacionam e recriam a sua cultura. [...] Embora este direito seja subjetivo, tem implicações práticas muito
importantes, porque é a base para definir o que não pode ser feito introduzindo mudanças súbitas ou indesejadas
no modo de vida e nos pensamentos indígenas. É a base dos outros direitos (Tradução livre - RODRIGUEZ, 2010,
P. 14, 15).
77
quando a existência de um marco regulatório internacional claramente dilatado reconhece as
estratégias de implementação para abordar divergências por meio de programas e métodos,
surgindo resultados pouco favoráveis e alentadores.
2.1.2. Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas
No nível regional, diante dos problemas e de sua tentativa de reunir visões e realidades,
de respeitar os direitos dos povos indígenas e reiterar o compromisso com seu bem-estar, a
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou a Declaração
Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DADPI) em 14 de junho de 2016.
A Declaração reafirma, assim, a importância de integrar os princípios de preservação e
proteção dos povos indígenas e tribais, exigindo aos Estados adotarem medidas que evitem a
transgressão dos direitos humanos de maneira indiscriminada, registrados em diversas
ocasiones pela CtIDH e a CIDH.
Embora a DADPI não represente e não tenha caráter obrigatório, é importante observar
que a Declaração vai além do DNUDPI e de outras disposições, uma vez que integra o direito
à paz e à segurança, componentes considerados essenciais para o desenvolvimento dos povos
indígenas (DADPI, 2016).
E ainda mais significativo, é observar como a Declaração inclui o direito a uma consulta
prévia, livre e informada, como a Convenção 169, mas que o termo “consentimento” é
apresentado como uma ferramenta que poderia considerado como o direito ao veto perante a
exploração de recursos naturais em seus territórios indígenas (arts. 13, 23, 28 e 29) (OEA,
2016).
Com o apoio dos relatórios do Grupo Internacional de Trabalho sobre Povos Indígenas
(GTPI) (2017) e muitos outros estudos que informam as condições precárias dos povos
indígenas e tribais, a falta de implementação de políticas públicas pró-indígenas e o não-
comprometimento dos governos para respeitar seus direitos internacionais confirmam que,
[...] os principais desafios enfrentados pelos povos indígenas continuam relacionados
ao reconhecimento e implementação de seus direitos coletivos à terra, território e
recursos, os obstáculos ao acesso à justiça, à falta de consulta e consentimento e
flagrante violação de seus direitos humanos fundamentais (p. 10).
A América Latina, por exemplo, apresenta as maiores taxas de população indígena
segundo o relatório publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(CEPAL) (2014) correspondente a 8,3% da população global, com aumento anual de 1,3%
alcançando aproximadamente 45 milhões de indígenas em 826 comunidades, liderando o Brasil
78
em diversidade de povos indígenas com 305 povos, seguido da Colômbia com 102, e do Peru
com 85 (pp. 41, 42).
Os números mostram claramente como os povos indígenas estão aumentando em
população, mas com tudo, os inconveniências e problemas em seus territórios por apropriação,
aproveitamento de terras e recursos naturais entre outras situações, dificulta a permanência nos
territórios. O Brasil, a Colômbia, a Bolívia e o Peru são, por exemplo, alguns dos países mais
vulneráveis em relação à população indígena, uma vez que existem comunidades com uma
população de menos de 100 habitantes e com alto risco de extinção e perda cultural e física (pp.
40-42).
O direito à consulta prévia livre e informada, portanto, representa para os povos
indígenas uma ferramenta fundamental para sua sobrevivência, um instrumento para combater
qualquer atividade, trabalho ou ação que possa afetá-los; especialmente porque afronta os
eventos e transformações sociais e ambientais que degradam seu ambiente.
Neste contexto, representantes de organizações internacionais afirmam a importância
dos povos indígenas, não apenas como sujeitos coletivos de proteção especial devido ao risco
de extinção, mas também por sua riqueza cultural e seus ensinamentos para promover o
desenvolvimento sustentável, manter os ecossistemas e a biodiversidade e conhecer as formas
de combater as alterações climáticas.
O presidente do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina
e Caribe (FILAC) expressou que:
Para enfrentar a mudança climática, devemos recorrer à sabedoria dos nossos
antepassados e, nesse esforço, cada um de nós, sejamos indígenas ou não, temos que
levar a sério os seus ensinamentos, o que esperamos para os nossos descendentes e a
responsabilidade que todos nós temos, ao longo do tempo e no mundo, de atuar no
presente (ONU, 2019).
Desafortunadamente, esse posicionamento não influencia interesses particulares ou
externos aos povos indígenas, já que os sistemas políticos se concentram em políticas públicas
voltadas à exploração minera, à produção agroindustrial, no desmatamento, entre outras
situações, reestruturando o pensamento ocidental que fortalece o conhecimento eurocêntrico de
exploração e mantem a distinção de classes sociais.
79
2.2.Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos e Povos Indígenas
Ao lado do sistema global, existem os sistemas regionais de proteção (na Europa, na
África e na América66) que buscam internacionalizar os direitos no plano regional, que de forma
diferenciada buscam intensificar a proteção dos direitos, adicionando novos conteúdos
normativos que aperfeiçoam as estratégias de proteção à satisfação dos direitos, ou pelo menos
isso procura.
Com base nesses elementos, a análise se limitará ao Sistema Interamericano de Direitos
Humanos (SIDH), que consta de dois instrumentos normativos regionais, a Declaração de
Direitos e Deveres do Homem (DADDH) (1948), e a Convenção Americana de Direitos
Humanos (CADH) (também denominada como Pacto de San José da Costa Rica) (1969).
A sua vez, o Sistema Interamericano está constituído por dois órgãos independentes,
mas complementares, destinados à proteção e promoção dos direitos, a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CtIDH).
Nesse sentido, vale a pena destacar que nem todos os Estados que fazem parte da
Organização dos Estados Americanos67 (OEA) ratificaram a Convenção Americana68, nem
aceitaram a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos69.
O acima exposto, fundamenta-se no fato de que a OEA aprovou a Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem (DADDH) em 1948 (considerado o primeiro documento
internacional de Direitos Humanos de natureza geral), criando a CIDH em 1959, que se reuniu
apenas em 1960, para anos depois em 1969 criar a CADH que entrou em vigor em 1978, e
66 Atualmente aparte dos três sistemas regionais principais existe de forma incipiente o Sistema Árabe com a Liga
dos Estados Árabes criada em 1945 e a Carta Árabe dos Direitos Humanos de 1994, e a a proposta de criação do
Sistema Regional Asiático em 1997 com a Carta Asiática dos Direitos Humanos. 67 É o mais antigo organismo regional do mundo, com uma data de origem de 1889, mas que foi fundada na cidade
de Bogotá apenas no ano de 1948. A Carta da OEA, que entrou em vigor em 1951, foi emendada pelo Protocolo
de Aires (1967), Protocolo de Cartagena das Índias (1985), Protocolo de Manágua (1996) e Protocolo de
Washington (1997) (OEA, 2919). Os Estados que fazem parte da OEA são: Antigua y Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 68 Os Estados que tem ratificado a Convenção Americana são: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. 69 Vinte Estados reconheceram a jurisdição contenciosa da Corte, para dizer: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Y los países miembros da OEA que aún no
reconocen la competencia de la Corte son: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Belice, Canadá, Dominica, Estados
Unidos, Grenada, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
80
ratificada em 1997 por 25 países, criando a sua vez a Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
Dito isto, deve-se agregar que a CADH é considerada como o instrumento de maior
importância no sistema interamericano, e apenas os Estados membros da OEA tem direito a
adotá-la. A Convenção por ser um tratado Internacional
[...] consagra en su primera parte la obligación de los Estados de respetar los derechos
y libertades en ella reconocidos, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho
interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos (CtIDH,
2018, p. 4)70.
Da mesma forma, a Convenção estabelece que a Comissão e a Corte são os órgãos
competentes para ouvir as questões relativas ao cumprimento dos compromissos contraídos
pelos Estados Partes da Convenção e regular o seu funcionamento.
A CIDH é um órgão principal e autônomo da OEA, a Comissão Interamericana promove
a observância e vela pela proteção dos direitos humanos na região e atua como órgão consultivo
nessa área. Enquanto a CtIDH é uma instituição judicial autônoma, que aplica e interpreta a
CADH e exerce uma função contenciosa, consultiva e provisória (CtIDH, 2018).
Nesse sentido, pretende-se analisar as decisões proferidas pela SIDH em relação aos
direitos dos povos indígenas da região e, principalmente, as decisões proferidas pela CtIDH,
devido ao elevado número de sentenças, mesmo quando a questão é bastante recente no Sistema
Regional.
2.2.1. Jurisprudência Progressista sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Tribais
O SIDH com as atribuições e competência previstas tem a propósito de efetivar as
garantias fundamentais, de velar pela proteção dos direitos humanos proporcionando vias de
ação para obter os propósitos da Carta da OEA (1948) e “lograr uma ordem de paz e de justiça”
através da “consolidação da democracia, prevenção e solução pacifica de controvérsias” (art.
1).
No marco normativo dos direitos dos povos indígenas, a Corte Interamericana tem
manifestando-se amplamente apesar da questão da consulta prévia e da participação com povos
e comunidades ser relativamente nova. Até agora, o tribunal emitiu várias sentenças sobre esta
questão que continua construindo uma série de parâmetros sobre sua interpretação, sua relação
com outros direitos e sua forma de implementação.
70 (...) prevê direitos e liberdades que devem ser respeitados pelos Estados partes. A Convenção Americana
estabelece em sua primeira parte a obrigação dos Estados de respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos,
bem como o dever de adotar disposições de direito interno que sejam necessárias para garantir o gozo de tais
direitos (tradução livre- CtIDH, 2018, p. 4).
81
Por sua vez, a Corte Interamericana não interpreta esse direito isoladamente, pois
considera que ele está intrinsecamente conectado aos direitos de território, propriedade,
identificação étnica e cultural e ao direito de autonomia. De acordo com esta análise, deve-se
notar que a base primária em que o tribunal se baseia é o direito internacional no campo dos
direitos humanos e direito dos povos indígenas com a Convenção 169 da OIT.
Como segundo ponto, ressalta o reconhecimento das mesmas condições de igualdade
com outras pessoas, a fim de assegurar sua efetiva proteção e não exclusão, enfatizando o
significado da terra e do território para os povos indígenas, que como direito essencial poderia
afetar o desenvolvimento dos outros direitos, incluso sua própria supervivência (GARCIA,
2012).
Nesse sentido, para a Corte Interamericana, a consulta prévia é um direito dos povos
interessados e uma obrigação correlata dos Estados de fazer valer seus direitos, principalmente
sobre seu território, terras ancestrais, propriedade e demais conexos à identidade cultural e de
permanência como povo.
Em outras palavras, a consulta envolve múltiplos direitos humanos, entre esses o direito
à propriedade coletiva, que encontra relacionado com o artigo 21 da CADH71, mas que dita
interpretação de propriedade coletiva foi introduzida no Caso da Comunidade Mayagna (Sumo)
Awas Tingni vs. Nicarágua (2001) com o voto razoado dos Juízes Cançado Trindade, Pacheco
Gómez e Abreu Burelli, sob entendimento que a terra é de todos os membros da comunidade,
é coletiva, e portanto um direito comunal.
Consideramos necesario ampliar este elemento conceptual con un énfasis en la
dimensión intertemporal de lo que nos parece caracterizar la relación de los indígenas
de la Comunidad con sus tierras. Sin el uso y goce efectivos de estas últimas, ellos
estarían privados de practicar, conservar y revitalizar sus costumbres culturales,
que dan sentido a su propia existencia, tanto individual como comunitaria. El
sentimiento que se desprende es en el sentido de que, así como la tierra que ocupan
les pertenece, a su vez ellos pertenecen a su tierra. Tienen, pues, el derecho de
preservar sus manifestaciones culturales pasadas y presentes, y el de poder
desarrollarlas en el futuro72 (CtIDH, 2001a, para. 08).
71 Artigo 21 - Direito à propriedade privada. 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode
subordinar esse uso e gozo ao interesse social. 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante
o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma
estabelecidos pela lei. 3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem, devem
ser reprimidas pela lei. 72 Consideramos necessário ampliar este elemento conceitual com ênfase na dimensão intertemporal do que nos
parece caracterizar a relação dos povos indígenas da Comunidade com suas terras. Sem o uso e o gozo efetivo
destas últimas, eles seriam privados de praticar, conservar e revitalizar seus costumes culturais, que dão sentido à
sua própria existência, tanto individualmente quanto como comunidade. O sentimento que se segue é no sentido
de que, assim como a terra que ocupam pertence a eles, eles, por sua vez, pertencem à sua terra. Eles têm, portanto,
o direito de preservar suas manifestações culturais passadas e presentes, e o de poder desenvolvê-las no futuro
(tradução livre -CtIDH, 2001a, par. 08).
82
No presente caso, a Corte, por meio de uma interpretação evolucionista do “artigo 21
da Convenção protege o direito à propriedade em um sentido que inclui, entre outros, os direitos
dos membros das comunidades indígenas no âmbito da propriedade comunal” (CtIDH, 2001,
p. 148) fruto das características e a relação entre os povos com suas terras ancestrais.
Cenário que se ressalta no Caso do Povo Indígena Kichwa Sarayaku vs. Equador (2012)
ao considerar que
[…] la estrecha relación de las comunidades indígenas con su territorio tiene en
general un componente esencial de identificación cultural basado en sus propias
cosmovisiones, que como actores sociales y políticos diferenciados en sociedades
multiculturales deben ser especialmente reconocidos y respetados en una sociedad
democrática73 (para.159).
Direito de propriedade comunal que incluiu igualmente os recursos naturais que estão
dentro dos territórios indígenas como foi expresso no Caso da Comunidade Indígena Yakye
Axa v. Paraguai (2005) por estar relacionados com a cultura dos membros da comunidade,
Una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de
su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se
encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además
porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por
ende, de su identidad cultural (para.135). […] En consecuencia, la estrecha
vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos
naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos
incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21
de la Convención Americana74 (para. 137).
O relacionamento que está ligado ao artigo 13 da Convenção 169 da OIT (1989), no
sentido que os “governos respeitarão a importância especial para as culturas e valores espirituais
dos povos interessados, sua relação com as terras ou territórios” e “particularmente, os aspectos
coletivos dessa relação”.
Nesse sentido, os Estados têm a obrigação de fazer valer o direito à propriedade coletiva
de acordo com considerações internacionais, sendo responsáveis pela violação do direito à
propriedade coletiva ou comunal, quando as terras e territórios indígenas são afetados sem a
adequada consulta ou não realização da mesma75.
73 a estreita relação das comunidades indígenas com seu território tem, em geral, um componente essencial de
identificação cultural baseado em suas próprias cosmovisões, e que, como atores sociais e políticos diferenciados
em sociedades multiculturais, devem ser especialmente reconhecidos e respeitados numa sociedade democrática
(Tradução livre- CtIDH, 2012, par. 159). 74 A uma forma modo de vida particular do ser, ver e atuar no mundo, constituído de sua estreita relação com seus
territórios tradicionais e os recursos que ali se encontram, não apenas por serem estes seu principal meio de
subsistência, mas também porque constituem um elemento integrante de sua cosmovisão, religiosidade e, deste
modo, de sua identidade cultural (párr. 135). (...) Consequentemente, a estreita vinculação dos povos indígenas
com seus territórios tradicionais e os recursos naturais ligados à sua cultura que ali se encontrem, bem como os
elementos incorpóreos que se desprendeam deles, devem ser protegidos pelo artigo 21 da Convenção Americana
(párr. 137) (CtIDH, 2005, para. 135, 137). 75 O Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil (2018), traz o exemplo da violação do direito de
propriedade e integridade pessoal, especialmente no caso de demarcação e titulação do território. Território que
83
Dentro do julgamento da Corte Interamericana nesse campo, como no Caso do Povo
Kaliña e o Lokono vs. Suriname (2015), declarou-se que o Estado do Suriname era culpável
pela violação dos direitos de propriedade coletiva, identidade cultural e o fenômeno conhecido
como dupla afetação, ou seja, a degradação entre as áreas dos povos e as áreas ambientais em
razão a sua compatibilidade.
Por outro lado, de acordo com o artigo 23 da CADH76 todos os cidadãos têm o direito
de “participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes
livremente eleitos”, materializando-se no contexto dos povos indígenas, conforme a
interpretação do caso Yatama vs. Nicaragua (2005) no “direito de participar em condições de
igualdade no processo de tomada de decisões sobre questões e políticas que afetam ou podem
influenciar seus direitos e o desenvolvimento dessas comunidades”, assim como “fazê-lo a
partir de suas próprias instituições e de acordo com seus valores, usos, costumes e formas de
organização, desde que sejam compatíveis com os direitos humanos consagrados na
Convenção” (tradução livre- pár. 225).
A CIDH (2004) expressa que, além do direito de participação do artigo 23 da CADH
ser essencial, "o direito de ser consultado é fundamental para o direito à propriedade comunal
dos povos indígenas e tribais nas terras que tradicionalmente utilizaram e ocuparam” (tradução
livre- párr. 142).
O direito dos povos indígenas a serem consultados deve ser garantido facilitando o
exercício de suas atividades, costumes e cultura, desenvolvidos graças às terras e territórios,
que, por sua vez, reafirma sua identidade, autonomia e sobrevivência77.
Das múltiplas decisões nas quais as comunidades indígenas, povos e seus territórios
podem verse involucrados, a Corte afirma que, de acordo com o nível de dano causado, a
garante a conservação do patrimônio natural transmitido de geração em geração entre os membros do povo ou
comunidade assegurando sua a existência cultural e física. Afirmação que foi reconhecida na Declaração do Rio
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em virtude dos povos terem (principio 22) “o papel no gerenciamento
ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e suas praticas tradicionais”, concedendo seu
direito de permanência e demarcação de seus territórios. 76 Artigo 23 - Direitos políticos. 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: a) de
participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos; b) de
votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto
secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e c) de ter acesso, em condições gerais de
igualdade, às funções públicas de seu país. 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se
refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução,
capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal. 77 No Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay a Corte sinala que os Estados devem promover as
medidas de proteção necessárias para garantir pelo menos o mínimo de condições de vida humana para a
subsistência para as comunidades que se encontrem sem terras. Sendo também responsabilidade do Estado criar
as estratégias necessárias para fornecer e entregar materiais ou recursos necessários para as comunidades ou povos
sem terra, e evitar incorrer em responsabilidade internacional pela desatenção ao direito à vida, de acordo com os
termos do artigo 4 da CADH, enquanto e processo de devolução ou realocação se faz efetivo.
84
consulta poderia não ser necessária antes de iniciar as atividades, mas que o consentimento será
necessário nos casos de grande escala, conforme expresso no Caso do Povo Saramaka vs.
Suriname (2007).
Caso em que o Tribunal a modo explicativo e de proteção dos direitos dos povos
indígenas e de sua própria existência, apresentou os pontos nos quais a consulta deve ser
realizada, destacando que o processo consultivo deve sempre estar acompanhado do princípio
de boa-fé, ser prévia, informada, aplicada através de procedimentos apropriados e chegar a um
acordo e consentimento.
Em relação a este último ponto, criou-se um precedente, reconhecendo aos povos o
direito à propriedade, território e participação, especialmente em projetos de desenvolvimento
de grande escala. Enfatizando o fato de que não é apenas o dever de consultar as comunidades
como um ato de mera informação, mas que seu consentimento deve ser obtido78.
Algo fundamental é que a consulta não pode ser observada como um ato independente
e singular, mas como um diálogo, uma negociação que integra elementos indispensáveis para a
compreensão dos povos em todas as etapas do processo.
O Relator Especial da ONU expressa nessa ordem que,
[…] When such developments occur in areas occupied by indigenous peoples, it is
likely that their communities will undergo profound social and economic changes that
are frequently not well understood, much less foreseen, by the authorities in charge of
promoting the projects. Large-scale development projects will inevitably affect the
living conditions of indigenous peoples. […] The principal human rights effects of
these projects for indigenous peoples relate to loss of traditional territories and land,
eviction, migration and eventual resettlement, depletion of resources necessary for
physical and cultural survival, destruction and pollution of the traditional
environment, social and community disorganization, long-term negative health and
nutritional impacts as well as, in some cases, harassment and violence (ONU,
E/CN.4/2003/90, p. 2)79
78 Asseverando neste sentido, Caio Paiva (2017) que a Corte IDH fez a aclaração das noções sobre o tipo de
consulta sobre comunidades tradicionais a fim de evitar confusões, indicando que “a consulta prévia deve ser
realizada antes da imposição de qualquer tipo de politica publica que possa afetar os membros da comunidade”.
Que a consulta deve ser realizada de forma livre. “Os membros da comunidade tradicional não podem ser coagidos
no momento do ato. A anuência ou não deve ser realizada de forma libre, sem qualquer vicio de vontade por parte
dos membros da comunidade tradicional”; e por ultimo que a consulta deve ser realizada de boa-fé, de modo que
os membros da comunidade tradicional entendam o assunto em pauta. Assim, o ato deve ser dialógico e
culturalmente situado, de modo que a população da comunidade tradicional consiga internalizar a controvérsia (p.
373). 79 […] Quando tais desenvolvimentos ocorrem em áreas ocupadas por povos indígenas, é provável que suas
comunidades sofram profundas mudanças sociais e econômicas que freqüentemente não são bem compreendidas,
e muito menos previstas, pelas autoridades encarregadas de promover os projetos. Projetos de desenvolvimento
em larga escala afetarão inevitavelmente as condições de vida dos povos indígenas. […] Os principais efeitos
dos direitos humanos desses projetos para os povos indígenas estão relacionados à perda de territórios e terras
tradicionais, despejo, migração e eventual reassentamento, esgotamento dos recursos necessários à sobrevivência
física e cultural, destruição e poluição do ambiente tradicional, social e social. desorganização da comunidade,
impactos negativos à saúde e nutricionais a longo prazo, bem como, em alguns casos, assédio e violência (ONU,
E/CN.4/2003/90, p. 2)
85
Em sínteses, determinou-se que, para a execução de grandes projetos de
desenvolvimento, é necessário obter o consentimento livre, prévio e informado para a proteção
dos direitos humanos dos povos indígenas e que, no caso de executar-se um plano de
desenvolvimento os benefícios deverão ser compartilhados através da indemnização
reconhecida no CADH artigo 21.2.
La Corte considera que el derecho a recibir el pago de una indemnización conforme
al artículo 21.2 de la Convención se extiende no sólo a la total privación de un título
de propiedad por medio de una expropiación por parte del Estado, por ejemplo, sino
que también comprende la privación del uso y goce regular de dicha propiedad
(CtIDH, 2007, párr. 139)80.
Direito de restituição mencionado também no artigo 28.2 da DNUDPI ao declarar que
caso o consentimento dos povos não for obtido nos eventos de posse, ocupação e uso das terras,
territórios e recursos naturais não poderão ser confiscados e danificados, mas que caso o dano
aconteça, “os povos indígenas têm direito à reparação, por meios que podem incluir a restituição
ou, quando isso não for possível, uma indenização justa, imparcial e equitativa, pelas terras,
territórios e recursos que possuíam tradicionalmente” (DNUDPI, 2007).
Outro caso, igualmente relevante, o Caso do Povo Indígena Kichwa Sarayaku v.
Equador (2012), que continua com a mesma linha do caso Saramaka e a obrigação de consulta
e consentimento prévio, livre e informado com os povos a serem afetados pelas decisões por
meio de processos especiais e diferenciados de acordo com os interesses dos povos.
“Esses processos devem respeitar o sistema específico de consulta de cada povo, ou
comunidade, para que possa haver um relacionamento adequado e efetivo com outras
autoridades estatais, atores sociais, ou políticos, além de terceiros interessados”
(JURISPRUDÊNCIA, CtIDH, 2014, p. 466).
Del mismo modo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT señaló que la expresión “procedimientos apropiados”
debe entenderse con referencia a la finalidad de la consulta y que por tanto no hay un
único modelo de procedimiento apropiado, el cual debería “tener en cuenta las
circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como [contextualmente de]
la naturaleza de las medidas consultadas”. Así, tales procesos deben incluir, según
criterios sistemáticos y preestablecidos, distintas formas de organización indígena,
siempre que respondan a procesos internos de estos pueblos. La adecuación también
implica que la consulta tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende de las
circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las
formas indígenas de decisión. En ese mismo sentido, la jurisprudencia y la legislación
interna de varios Estados se refieren a la necesidad de llevar a cabo una consulta
‘adecuada (CtIDH, 2012, párr. 202)81
80 A Corte considera que o direito de receber indenização, de acordo com o artigo 21.2 da Convenção, estende-se
não apenas à privação total de uma escritura por expropriação por parte do Estado, por exemplo, mas também
inclui a privação do uso e gozo regular da referida propriedade (Tradução livre-CtIDH, 2007, párr. 139). 81 Da mesma forma, o Comitê de Peritos da OIT sobre a Aplicação de Convenções e Recomendações indicou que
o termo “procedimentos apropriados” deve ser entendido com referência ao objetivo da consulta e que, portanto,
86
Com base nos processos de participação e nos diferentes Tribunais Nacionais, a consulta
deve, portanto, ser devidamente fundamentada para que as comunidades conheçam os riscos
ambientais, culturais e de salubridade para que possam chegar a um acordo em conformidade
com a Convenção 169 (art. 6.2) e Declaração das Nações Unidas (artigos 19 e 32.2).
El reconocimiento del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas
y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia
o identidad cultural […], los cuales deben ser garantizados, particularmente, en una
sociedad pluralista, multicultural y democrática (CtIDH, 2012, párr. 159)82
No Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras (2015) a
Corte Interamericana indicou que o Estado deve garantir a consulta em todas as fases de
planejamento e desenvolvimento de um projeto que possa afetar o território ou outros direitos
essenciais para sua sobrevivência como povo.
Nesse sentido, esses processos de diálogo e busca de acordos devem ser realizados
desde os estágios iniciais da elaboração ou planejamento da medida proposta, para
que os povos indígenas ou tribais possam verdadeiramente participar e influenciar o
processo decisório, de acordo com as normas internacionais relevantes (CtIDH, 2015,
párr. 216).
Somando uma vez mais a Corte, nesta oportunidade a través do Caso Comunidad
Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras (2015) que:
[…] la obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales está en relación
directa con la obligación general del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de
los derechos reconocidos en el artículo 1.1 de la Convención. Esto implica el deber
del Estado de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y de estructurar
sus normas e instituciones de tal forma que la consulta a las comunidades indígenas y
tribales pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares
internacionales en la materia. Lo anterior es necesario para posibilitar la creación de
canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas y
tribales en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones
representativas (CtIDH, 2015a, párr. 159)83.
não existe um modelo único de procedimento apropriado, que deveria "levar em consideração as circunstâncias
dos povos nacionais e indígenas, bem como [contextualmente] a natureza das medidas consultadas". Assim, esses
processos devem incluir, de acordo com critérios sistemáticos e pré-estabelecidos, diferentes formas de
organização indígena, desde que respondam aos processos internos desses povos. A adequação também implica
que a consulta tenha uma dimensão temporal, que novamente depende das circunstâncias precisas da medida
proposta, levando em consideração o respeito pelas formas de decisão indígenas. Na mesma linha, a jurisprudência
e a legislação interna de vários Estados referem-se à necessidade de realizar uma consulta adequada (tradução
livre- CIDH, 2012, parágrafo 202). 82 O reconhecimento do direito à consulta às comunidades e povos indígenas e tribais está fundamentado, entre
outros, no respeito aos seus direitos à sua própria cultura ou identidade cultural, [...] que devem ser garantidos,
particularmente, em uma sociedade pluralista. , multicultural e democrático (tradução livre- CIDH, 2012, parágrafo
159). 83 [...] A obrigação de consultar povos indígenas e tribais está diretamente relacionada à obrigação geral do Estado
de garantir o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos no artigo 1.1 da Convenção. Isso implica o dever do
Estado de organizar adequadamente todo o aparato governamental e estruturar suas normas e instituições de modo
a que a consulta às comunidades indígenas e tribais possa ser realizada de maneira eficaz, de acordo com os padrões
internacionais do assunto. O exposto é necessário para permitir a criação de canais de diálogo sustentados, eficazes
e confiáveis com os povos indígenas e tribais nos procedimentos de consulta e participação por meio de suas
instituições representativas (tradução livre- CtIDH, 2015a, par. 159).
87
Nesse sentido, é obrigação do Estado garantir o direito à consulta e participação em
todas as fases do projeto ou medidas optando pela realização antes da preparação e
planejamento do projeto para que os grupos étnicos possam influenciar no processo de adoção
de decisões de acordo com as normas internacionais (CtIDH, 2015a, párr. 160).
Por último, a Corte expresa:
[…] es deber del Estado, y no de los pueblos indígenas, demostrar que en el caso
concreto estas dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente
garantizadas. El incumplimiento de la obligación de consultar, o la realización de la
consulta sin observar sus características esenciales, pueden comprometer la
responsabilidad internacional de los Estados (CtIDH, 2015a, párr. 163)84.
Observa-se não apenas através desses casos, mas também através dos múltiplos casos
internos dos países que os Estados e particulares interessados ignoram os sistemas jurídicos
internos e os tratados adotados que visam integrar os princípios universais de respeito e
preservação dos direitos humanos, o que leva à afetação e degradação da dignidade humana.
Aqui, é inegável que o papel do Tribunal como uma organização internacional
representa para os povos indígenas uma forma de proteção e salvaguarda de seus direitos, já
que a falta de compromisso dos Estados condena os princípios essenciais dos direitos dos povos
e sua relação com a terra, o território.
Analise de interpretação que também pode ser observado nos seus direitos de
participação e consulta, mas que também são ignorados por produzir não uma ação só, senão
uma sequência generalizada de situações inconstitucionais e de violações descontroladas dos
direitos humanos.
2.3.Incorporação da Convenção n° 169 da OIT de 1989 nos Sistemas Jurídicos
Nacionais
Dos países que ratificaram a Convenção n° 169 de 1989 da OIT de 1989 como uma
ferramenta internacional de proteção para povos indígenas, 15 países são do continente
Americano, isto porque a construção do dito tratado estava relacionada ao panorama que os
povos da região estavam vivenciando.
Embora países como México, Bolívia, Costa Rica, Paraguai e outros tenham sido os
primeiros a ratificar Convenção n° 169, foram com as reformas constitucionais (1982-1988)
que o Brasil junto com o Canadá, Guatemala e Nicarágua integraram o Multiculturalismo nas
84 [...] é dever do Estado, e não dos povos indígenas, demonstrar que, no caso específico, essas dimensões do
direito à consulta prévia foram efetivamente garantidas. O não cumprimento da obrigação de consultar ou de
realizar a consulta sem observar suas características essenciais pode comprometer a responsabilidade internacional
dos Estados (tradução livre- CtIDH, 2015a, para. 163).
88
normas constitucionais. Diferente do Peru, Argentina, Venezuela e Colômbia que realizaram
suas reformas na década de 90, incorporando o Pluriculturalismo em suas Cartas Magnas.
Nesta oportunidade, nos referiremos a esses dois processos constitucionais, já que o
último ciclo de reformas, chamado como Constitucionalismo Plurinacional entra dentro de
outra interpretação no nível latino-americano por trazer conceitos não contemplados na
Convenção 169 da OIT.
O estudo vai fundamentar-se em dois países com particularidades e semelhanças, mas
identificados por sua alta biodiversidade, riqueza cultural e problemas socioambientais.
O primeiro é o Brasil, reconhecido a nível global por seu amplo e variado ecossistema,
por ter o maior número de indígenas no mundo e identificado também pelos impactos
contraproducentes que tem gerado a nível ambiental e social. E, por outro lado, a Colômbia,
caracterizada por ser um dos países do continente com mais normas reguladoras sobre a
consulta prévia e dos primeiros com maiores conflitos socioambientais.
De acordo com o acima exposto, o Brasil e a Colômbia serão o sustento dos seguintes
tópicos no presente estudo, mais do que pelo fato de incluir dentro de sua soberania parte das
maiores florestas tropicais do mundo e cruzar correias de rios, por suas estruturas
constitucionais e normativas que funcionam como contraste para estabelecer resultados sólidos
às questões que surgem diariamente sobre a garantia dos direitos dos povos indígenas na região.
2.3.1. Brasil: Adoção da Convenção 169 da OIT sem grandes inovações
A adopção da Convenção n° 169 sobre povos indígenas e tribais no Brasil, contrário de
outros países teve um longo e extenuante processo, pois depois de onze anos de debate
principalmente no Senado Federal foi ratificada.
Em 2002, finalmente através do Projeto de Decreto do Senado (PDS) n° 34/1993
submetido ao Plenário do Senado foi aceito para sua adesão e aprovação com o Decreto
Legislativo n°. 143 de 20 de junho de 2002 (LACERDA, 2010).
O instrumento de ratificação foi registrado pelo Governo Brasileiro junto com o Diretor-
Geral do Secretariado Internacional do Trabalho da OIT em Genebra em 25 de julho de 2002,
entrando em vigor de acordo com as diretrizes da mesma Convenção em 25 de julho de 2003,
para ser promulgado pelo Executivo através do Decreto n° 5.051 em 19 de abril de 2004, e
publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte 20 de abril de 2004.
Cabe ressaltar que o processo, além de apresentar um alto grau de debate, as posições
contra sua adoção também eram incompatíveis. Em 1993, a Convenção foi processada perante
a câmara que aprovou por unanimidade nas duas comissões, bem como pelo plenário, mas
89
somente quando foi apresentada perante o Senado foi observada a existência de uma divisão
quanto à adoção e rejeição em relação a certas partes e artigos presentes no texto da convenção
por serem considerados incompatíveis com as disposições da Constituição Federal de 1988,
como se mostra a tabela a seguir:
Tabela 1: passos para a Aprovação da Convenção 169 da OIT pelo Brasil.
Fonte: Lacerda, Rosane, 2015.
Dentro da controvérsia que nasceu e os artigos que mantiveram viva essa discussão por
anos encontram-se o 16, 17 e 32, bem como os artigos 14 e 15 da Convenção. Isso, porque de
acordo com o artigo 14 da Convenção que estabelece que: “Os direitos de propriedade e posse
de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos interessados deverão ser reconhecidos. (...)”,
contraria à Constituição Federal de 1988 que contempla as terras dos índios como patrimônio
da nação, assegurando aos índios somente a posse permanente das terras que tradicionalmente
ocupam (art. 231) (WAGNER, (s.d.), & KAYSER, 2010).
De acordo com a posição do Senado na época, a Convenção era inconstitucional e
incompatível, e portanto, não podia ser ratificada, motivo pelo qual solicitou-se usarão os
termos de "povos" e “território” do texto da Convenção.
Assim, com o objetivo de ratificar a Convenção, a avaliação feita pela Comissão do
Senado para Relações Internacional e Defesa Nacional recomendou que fosse feita uma
90
ratificação com reservas dos artigos 16 e 17 sobre os direitos da terra, de acordo com o artigo
32 da Convenção (KAYSER, 2010, p. 349).
“No entanto, esta aceitação de reserva havia, todavia, infringido o Direito da OIT, pois
este proíbe após longa práxis, ratificações com reservas”, já que as Convenções da OIT não
podem ser negociadas somente entre os governos, por tratar-se de uma organização tripartite
(KAYSER, 2010, P. 249).
Pois, bem, em relação ao direito de propriedade e posse que a Convenção 169 reconhece
aos povos indígenas e tribais, com palavras do deputado Luiz Gushiken, relator da Comissão
de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados se faz aclaração do enfoque trazido pelo
artigo 14 pela Convenção ao afirmar que:
A Convenção não exige que se reconheça a “propriedade” e a “posse”,
simultaneamente; o que se deve, é reconhecer os direitos dos povos interessados sobre
tais terras, seja através da propriedade, seja através da posse. Esta interpretação é mais
evidente no texto original em inglês, cuja tradução ao espanhol traiu a precisão
gramatical. De fato, em inglês, o “caput” do art. 14 diz: “The rights of ownership and
possession of the peoples concerned [...] shall be recognized..”.”[...] Vê-se, portanto,
que a palavra “direitos” está no plural, e assim indica, indistintamente, tato a
propriedade como a posse, conforme seja mais adequado... (Parecer à mensagem nº
367, de 1991, do Poder Executivo)” (2001, p. 9)
Com tudo, o comentário do senador Jefferson Pérez o dia da aprovação do PDS 19 de
junho de 2002, menciona que:
[...] finalmente, após uma tramitação de onze anos no Senado Federal desta
Convenção: foram dois anos na Câmara Federal e nove anos no Senado Federal, isso
ocorreu talvez, por força de temores infundados a respeito da propriedade de terras
indígenas, alguns entendiam que prevaleceria sobre a Constituição Federal (SALES,
2015, p. 40).
Claramente a dúvida que surgiu nos Estados sobre o conceito de autodeterminação e
propriedade dos povos sobre o território repercutiu na decisão sobre a admissão da Convenção
169 ao ponto de prolongar por mais de uma década sua aprovação no país.
Panorama que também refletiu na aprovação da Convenção n 169 na 76ª Conferência,
na qual o Brasil e outros 48 países se abstiveram de votar, contra 328 votos a favor e um contra,
sob entendimento de que o instrumento produziria efeitos jurídicos imediatos no sistema
constitucional, criando incerteza sobre os impactos que poderia ocasionar.
Outro aspecto que prolongou sua aprovação deriva do fato do Brasil ter instituído o
Estado democrático na Constituição Federal de 1988, ou seja, quase paralelamente com a
Convenção n° 169, que levou a inclusão de vários elementos e princípios determinantes em
relação à proteção dos povos indígenas em consonância com o tratado, mas que dita
incorporação foi produto da participação e forte influencia da população indígena.
91
Em resumo, considera-se que a Convenção 169 não gerou um impacto significativo em
aspectos legislativos, como esclareceu Antônio Barbosa (2001):
Frente ao direito brasileiro, relativo às populações indígenas, a Convenção 169, grosso
modo, não apresenta grandes inovações, posto que não podemos nos esquecer da
Constituição brasileira de 1988 que ultrapassou os pontos mais criticados da antiga
Convenção 107 e agora também superados pela Convenção 169 [...]. A Constituição
brasileira antes mesmo da Convenção em apreço já extirpara de nosso sistema jurídico
objetivos injustos, inatingíveis e indesejáveis pelas populações indígenas, como por
exemplo a sua assimilação (p. 227).
O comentário encontra fundamento na Carta Federativa de 1988, especialmente em seu
capitulo VIII, titulado Dos Índios, artigo 231 ao reconhecer “sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam”, restringindo a remoção dos indígenas de suas terras com a exceção nos caso de
catástrofe natural o risco iminente.
Também detalhando o direito à terras para uso em “atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos naturais ambientais necessários a seu bem-estar e
as necessárias a sua reprodução física e cultural” com “caráter permanente” (CF/88, art. 231, §
1.º), concedendo apenas o direito de usufruto.
Embora a Convenção 169 e a Carta Federativa reconheceram apenas os povos indígenas
e povos tribais o direito ás terras e território, as comunidades remanescentes dos quilombolas
conseguiram constitucionalmente reconhecimento territorial através do Artigo 68 do Ato de
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) do Decreto n. 4.887 de 20 de novembro de
2003, e o Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, obrigando o Estado emitir os respectivos
títulos para a proteção de seus direitos.
Por outro lado, a Constituição Brasileira integrou à participação dos povos indígenas
contra eventos que possam afetá-los, como resultado do aproveitando dos recursos naturais, -
que ao contrário do que internacionalmente foi estabelecido, são propriedade da União- (art.
176, Emenda Constitucional –EC- n° 6/95), tendo o direito a ser ouvidas (art. 231, § 3.º)
podendo acudir a instancias judicias para a defensa de seus direitos e interesses de acordo com
seu artigo 232.
Um item a observar é que a propriedade das terras é reconhecida na Constituição como
propriedade da União (art. 232), diferentes daquelas contempladas pela Convenção n 169 (art.
14) que concede o direito de propriedade para os povos e comunidades. Seção fortemente
controvertida junto com outros tópicos especiais que foram esclarecidos com a Emenda n° 1
/1993 da Comissão Constitucional de Justiça e Cidadania (CCJ) ao aprovar a admissão do
tratado.
92
Nesse sentido, o sistema jurídico do Brasil através da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu em seu art. 5º, § 2o que “os direitos e garantias
expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime [...] ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, aceitando a adesão aos
instrumentos internacionais que estão conforme com suas normas constitucionais.
No entanto, foi com a Emenda Constitucional n°. 45/2004 que os tratados internacionais
deixaram de possuir status de lei ordinária para serem incorporar com status normativo
supralegal, isto é, adquirir uma estimativa de normas infraconstitucionais, através do art. 5º, §
3º: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” (BRASIL, 1988).
Sob esse entendimento, deve ser afirmar, como bem se sabe, que a Convenção adquiriu
um status internacional favorável para a tutela dos direitos dos povos indígenas, mas que a
norma Constitucional Brasileira mesmo com suas limitações no reconhecimento de seus
direitos territoriais já tinha apresentado a nível nacional.
Desta forma, se estará gerando um tipo de prejuízo e opressão sobre os povos indígenas,
quilombolas e comunidades tradicionais ao reconhecer unicamente sua posse e não propriedade
do território, e mesmo ainda possa haver divergência enquanto a precisão de vários não
reconhecidos, se tenta corrigir uma forte discriminação, exclusão, e inferioridade que leva mais
de cinco séculos.
2.3.2. Proclamação da nova Constituição Colombiana e seus direitos indígenas.
No caso da Colômbia, diferente do Brasil, foi um dos primeiros países em aprovar e
ratificar a Convenção n° 169 de 1989, considerando que a Constituição Política da Colômbia
foi instalada e proclamada a de 1991. Cenário que influenciou e permitiu colocar entre seus
títulos constitucionais elementos da Convenção como direito ao território, autogoverno,
consulta previa e participação, entre outros.
Algo a destacar no caso da Colômbia é que a aplicação da Convenção 169 aborda como
sujeitos os Povos Indígenas e as Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales,
93
Palenqueras e aos Povos Ciganos85 reconhecidas em 2014 por sentença judicial86 após
ratificado o tratado.
Com a incorporação e aprovação da Convenção n 169 sobre Povos Indígenas e Tribais,
o Estado Colombiano promulgou a Lei 21 em 4 de março de 1991 por meio do Congresso da
Republica, publicando no Diário Oficial N° 39.720 em 6 de março de 1991 para posteriormente
ser ratificar pelo Governo Nacional em 07 de agosto de 1991.
Antes de continuar e mencionar alguns dos itens que a Carta Constitucional comtempla
em relação aos povos indígenas, vale ressaltar que a construção do texto normativo foi é fruto
da luta e resistência que os mesmos povos indígenas criaram depois de anos de discriminação,
segregação, expropriação, etc., incorporando com impulso de organizações sociais e estudantis
o respeito por sua autonomia, diversidade e autogoverno.
Nesse sentido, a Constituição Política tentou em seu texto normativo cobrir diferentes
problemas sociais e políticas para a construção e organização de um Estado Social de Direito,
tornando conhecidos os direitos e deveres do cidadão, as obrigações do Governo Nacional e das
instituições, e seu compromisso na gestão do desenvolvimento.
A carta apresenta-se segundo Zapata (2007) como:
[…] una especie de borrón y cuenta nueva, algo así como olvidar las negaciones,
ausencias y exclusiones del pasado -en materia de construcción de la noción de la
ciudadanía y de sus implicaciones sociales, políticas y culturales–, para instalar un
proyecto de modernidad democrática, en resumen, con nueva constitución se
estrenaba ciudadanía. De esta manera se inaugura implícitamente el pacto de cercar la
relación Estado, ciudadano y organización social en el terreno de lo jurídico87 (p. 33,
34).
Por isso a Constituição Política de 1991 é defina através de seu art. 1° como uma
República democrática, participativa e pluralista, perfilhando em seu art. 7° e 8° o
reconhecimento e proteção à diversidade étnica, cultural e natural como obrigação do Estado,
ressaltando no art. 10 a existência de outras as línguas tradicionais fora da língua oficial e seu
dever de conservação.
Nos artigos 63 e 329 manifesta o direito dos povos indígenas sobre as terras tradicionais
garantindo que sejam de propriedade coletiva, “inalienáveis”, “imprescritíveis” e
85 Hoje, existem dois clanes ou grupos do povo ciganos no país, representados pelas organizações Union Romaní
e pela Prorom (Proceso Organizativo del Pueblo Rrom). 86 Corte Constitucional. Sentencia C-576 de 2014. Afrocolombianos y sus comunidades como titulares
individuales y colectivos de derechos fundamentales. Disponível em:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-576-14.htm>. 87 [...] uma espécie de apagão e nova conta, algo como esquecer as negações, ausências e exclusões do passado -
em termos de construir a noção de cidadania e suas implicações sociais, políticas e culturais-, instalar um projeto
de modernidade democrática, em resumo, uma cidadania foi inaugurada com uma nova constituição. Dessa forma,
inaugura-se pacto para enquadrar a relação Estado, cidadão e organização social no campo jurídico (Tradução
livre- Zapata, 2007, p. 33, 34).
94
“impenhoráveis”. Agregando o direito a um ambiente saudável (art. 79), e o controle dos
recursos naturais e dos fatores de deterioro ambiental para garantir o desenvolvimento
sustentável (COLÔMBIA, 1991. art. 80).
Outro aspecto, mesmo não seja uma questão meramente étnica, é a integração do art. 86
da Carta que contempla o direito à ação de tutela, procedimento preferencial para a proteção
imediata dos direitos constitucionais fundamentais quando sejam violados ou ameaçados,
fazendo só uso exclusivo dela nos casos de não existir outro meio de defensa judicial.
O exercício deste mecanismo de acesso à justiça representa, portanto essencial para
qualquer pessoa, especialmente para os povos indígenas ou comunidades tradicionais que estão
em um estado de desamparo e vulnerabilidade constante. Permissão outorgada pela Corte
Constitucional88 para ser interposto pelas comunidades em pro da proteção de seus direitos
territoriais e culturais.
O artigo acompanhado pelos dois seguintes (COLOMBIA, 1991. 87 a 89), os quais
contemplam o direito às ações populares, de grupo e demais necessários, com o objetivo de
proteger os direitos e interesses coletivos que prejudiquem “[...] o espaço público, segurança e
saúde, moral administrativa, meio ambiente [...]”.
No que diz respeito à relação à representação, a Carta contempla a recepção de dois
representantes das comunidades indígenas no Senado da República dos cem membros eleitos
(art. 171). Adicionando a isso, a capacidade das autoridades dos povos indígenas exercerem
funções jurisdicionais dentro de seu âmbito territorial de acordo com seus procedimentos, desde
que não contrariem os princípios constitucionais (COLOMBIA, 1991. art. 246).
No tema territorial, a Carta contempla a conformação de “entidades territoriais
indígenas” para delimitar segundo a Lei Orgânica de Ordenamento Territorial com a
participação do governo e das comunidades indígenas suas terras, sopesando que “os resguardos
são de propriedade coletiva e não alienável” (COLOMBIA, 1991, art. 329).
Além disso, seu artigo 330 estabelece que as comunidades indígenas têm a aptidão de
desenhar programas para seu próprio desenvolvimento econômico e social, garantindo a
preservação dos recursos naturais, asseverando que “a exploração dos recursos naturais nos
territórios indígenas fara-se sem prejudicar a integridade cultural, social e econômico das
comunidades indígenas”, e que as decisões para a referida exploração feita dentro de seus
88 Máximo órgão da Jurisdição Constitucional no sistema da justiça ordinária, encargado de salvaguardar a
integridade da Constituição nos termos estritos e precisos dos artigos 241 a 244 da Constituição Política. “A
jurisdição constitucional também exerce, excepcionalmente, para cada caso específico, os juízes e corporações
tomar as decisões de tutela ou decidir ações ou recursos previstos para a aplicação dos direitos constitucionais”
(Corte Constitucional de Colombia, 2015).
95
territórios deve incluir o direito das comunidades a ser consultadas (COLOMBIA, 1991, art.
330).
A Corte Constitucional reconheceu mediante a sentença SU-039/1997 a consulta prévia
como direito fundamental, ordenando à realização nas comunidades cujo impacto possa afetá-
las, garantindo seu direito de participação na mesma medida que o resto da população em
conformidade com a Convenção n° 169 da OIT, a Declaração das Nações Unidas e Declaração
Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
E por último, outro dos aspectos incluídos na Carta e diferenciadores com a Constituição
do Brasil, que é a integração dos Tratados de Direitos Humanos e Direito Internacional
Humanitário no bloco de constitucionalidade89. Isso significa que os Tratados nesses temas
adquirem o mesmo nível ou se encontram hierarquicamente iguais que às normas da
Constituição (arts. 93 e 94), funcionando como um guia para o cumprimento dos deveres e
direitos.
Para sintetizar, a Constituição da Colômbia de 1991 mostra uma diversidade de aspectos
que deram aos povos indígenas o reconhecimento de sua cultura e garantia mínima de seus
direitos, embora não amplamente conforme com a visão dos povos, incluso porque a existência
do pensamento inferioriza e continua discriminando ao ponto de degradar as estruturas de
proteção estabelecidas.
2.4. Regulamentação complexa sobre os direitos dos povos indígenas e tribais em
países complexos
A partir do final da década dos oitenta na maioria dos países de América Latina começou
o ciclo de movimentos que instalaram uma série de reformas Constitucionais que introduziram
o reconhecimento dos direitos dos Povos Indígenas e tribais, e a obrigação dos Estados de
garantir sua proteção em todas suas dimensões.
A extensão desse reconhecimento mudou de acordo com as disposições constitucionais
de cada país e, segundo sua interpretação, logrando maior ou menor alcance nas medidas ou
estratégias de proteção dos direitos. Cada país e sua Constituição adotou uma série de definições
que demonstraram que o Estado reconhecia a diversidade cultural dos povos existentes em seus
89 Definido como as regras e princípios, que sem aparecer formalmente no texto da Constituição, eles são usados
como parâmetros de controle de constitucionalidade das leis, porque eles têm sido normativamente integrados na
Constituição de várias maneiras e mandato da própria Constituição. Portanto, são verdadeiros princípios e regras
de valor constitucional, ou seja, são normas situadas no nível constitucional, embora às vezes possam conter
mecanismos de reforma que diferem das normas da articulação constitucional stricto sensu (Corte Constitucional.
Sentencia C-225 de 1995).
96
territórios (RAMÍREZ, 2009), sob a designação de “Estado Multicultural”, “Estado
Pluricultural” e “Estado Plurinacional”.
O avanço normativo Latino-americano permitiu que os povos adquirissem uma série
de direitos que foram complementados pela Convenção 169 da OIT, a DNUDPI, a DADPI,
entretanto, a implementação dos direitos continua sendo um desafio que parece interminável.
A Comissão Interamericana informa que os povos indígenas são vítimas de sérios impactos
sociais e culturais resultantes das atividades de extração, exploração e desenvolvimento ao
reiterando que
[...] reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la
prosperidad de los pueblos del hemisferio, el cual puede implicar hacer uso de la
libertad que tiene todo Estado de explotar sus recursos naturales, a través del
otorgamiento de concesiones e inversiones privadas o públicas, nacionales o
internacionales. Pero al mismo tiempo, la Comisión advierte que estas actividades
deben llevarse a cabo junto con medidas adecuadas y efectivas que permitan asegurar
que no se realicen a expensas de los derechos humanos de las personas, comunidades
o pueblos donde se realizan90 (CIDH, 2015, p. 9).
No relatório publicado pelo Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial das Nações Unidas
sobre Direitos Humanos e liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas apresenta-se um
panorama desanimador, quem descreve que, apesar dos avanços regulatórios, “não há
legislação secundária que desenvolva esses direitos e que um grande número de normas que
contradizem fortemente os princípios constitucionais persiste; que em muitos casos são
incentivadas pelos próprios governos” (MARTÍNEZ, 2018, p. 14).
Enquanto às normas nacionais ou legislação secundária como também é chamada, torna
a tarefa ainda mais difícil de implementar, primeiro porque muitos Estados não possuem essa
regulamentação, ou porque mesmo existindo não atendem as necessidades dos povos indígenas,
nem respeitam os fundamentos normativos essenciais.
Perceba-se, como a fragilidade governamental democrática que a América Latina
enfrenta cria um cenário de fácil imposição de poder, especialmente nos setores sociais mais
vulneráveis em condições de desvantagens em relação a outros povos, através de estratégias e
políticas que recorrentemente levam à erosão dos direitos humanos, onde há exclusão, e não há
um mínimo de diálogo intercultural, nem comunicação horizontal que respeite a dignidade
humana e sua diversidade cultural.
90 (...) reconhece a importância que tais empreendimentos podem ter para a prosperidade dos povos do hemisfério,
o que pode envolver o uso da liberdade que cada Estado tem para explorar seus recursos naturais, através da
aprovação de concessões e investimentos privados ou públicos, nacionais ou internacionais. Mas, ao mesmo
tempo, a Comissão adverte que estas atividades devem ser realizadas em conjunto com medidas adequadas e
efetivas para assegurar que elas não sejam realizadas à custa dos direitos humanos das pessoas, comunidades ou
povos onde elas são realizadas (Tradução livre- CIDH, 2015, p. 9).
97
E para avaliar os assuntos mais recorrentes no esforço de promover uma solução
eficiente para a violação sistemática dos direitos humanos dos povos indígenas, o ex Relator
Especial (2007) Rodolfo Stavenhagen afirma que “incompetência, corrupção, e os conflitos
internos” apresentam-se como uns dos obstáculos, mas que a mais reiterada de todas é a falta
de vontade política, a qual “está diretamente relacionado às tensões na sociedade como um
todo, como a ideologia, o racismo e a necessidade de educação. A intolerância aos direitos
indígenas é maior que o racismo” (p. 54).
Consequentemente surgem inúmeras questões sobre os numerosos problemas
socioculturais, cada vez mais enraizados nos aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos,
sendo este último o de maior impacto na relação com os povos e comunidades, (mesmo quando
a resposta é óbvia), já que “a vontade política está relacionada às ideologias dominantes, forças
econômicas e falta de memória histórica” (RELATOR ESPECIAL, 2007, p. 53).
Pertinente é perguntar, “em que ponto do sistema podemos enfrentar a vontade política?
De quem vontade política? E para que? Como os povos indígenas e as ONGs de apoio podem
responder a esse obstáculo?” (RELATOR ESPECIAL, 2007, p. 53).
Para após perguntar, caso sejam minimizados os obstáculos ou efeitos negativos iniciais
das estruturas hegemônicas, quando se consideraria que a implementação dos instrumentos
internacionais e estratégias nacionais obtiveram sucesso na efetivação dos direitos humanos
fundamentais desde uma perspectiva social? Qual foi o impacto da aplicação na vida dos grupos
étnicos? E quais foram os resultados de acordo com os métodos implementados?
Para os povos indígenas existe, como foi expresso pelo relator especial das Nações
Unidas, uma brecha de implementação. Entre os problemas que mais se destacam em relação
aos povos indígenas são os resultantes de um processo histórico e, é claro, do fortalecimento de
políticas públicas neoliberais que se traduzem na marginalização e desapropriação.
Como resultado de um longo processo de reinvindicação de seus direitos, os povos
indígenas alcançaram o acesso nacional e internacional à demanda pelo respeito e proteção de
seus direitos, embora seja um pouco limitado, conseguiram alcançar e desenvolver
conjuntamente grandes espaços de diálogo, programas de capacitação em políticas públicas,
mesas de negociação, representação política nacional, entre outros.
O que não significa que os ataques frequentes a sua autonomia, cultura,
desenvolvimento econômico e vida não continuem, pois ainda existem desafios reais tanto para
os povos, como para as organizações, empresas, população em geral e os Estados, pois antes de
estes últimos denominar-se “Estados multiculturais” “Estados pluriculturais”, devem primeiro
repensar a gêneses de sua estrutura.
98
Nessa ordem de ideias, será realizada uma análise nacional normativa e jurisprudencial
da Colômbia e do Brasil sobre suas disposições, defesa e implementação sobre os direitos dos
povos, especialmente seu direito à consulta e consentimento prévio, livre, informado e
culturalmente apropriado, como instrumento para garantir o exercício dos outros direitos em
situações que afetam sua identidade física, social, econômica, espiritual e identidade étnica e
cultural.
Desse cenário que a Corte Interamericana considere
[…] que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza
colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad
multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de
garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos
que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores,
usos, costumbres y formas de organización (CtIDH, 2012, párr. 217)91.
Nesta dinâmica o território, a cultura e a autodeterminação dos povos, articula-se à
necessidade de cada povo, definindo de fato suas visões e características nos processos de
reinvindicação, que conforme com as dinâmicas sociais, políticas, econômicas e ambientais vai
se adaptando para fixar seus valores e interpretação no diálogo com os conhecimentos jurídicos.
2.4.1. Colômbia: Uma Protocolização de Consulta Indefinida e inaplicável.
A nova Constituinte em 1991 simbolizou para os povos indígenas o início de um novo
caminho, antes de sua aprovação os grupos étnicos estavam sob a visão assimilacionista da
Convenção da OIT 107 de 1957.
A Constituição define à Colômbia como um Estado pluralista, que regula os direitos dos
povos e abre a possibilidade de os povos fazerem suas próprias normas e manterem seu caráter
cultural tradicional por meio de resguardos indígenas e outras figuras constituídas.
Um aspecto que não pode passar despercebido é que a Colômbia é amplamente
reconhecida por seu passado violento, caracterizado pelo assassinato de líderes sociais e
indígenas, sequestros, extorsão, mortes em massa da população civil e muitos outros atos que
demonstram a crueldade que foi vivenciada no país, e que hoje em face de um pós-conflito, a
91 A Corte considera que o direito à identidade cultural é um direito fundamental e coletivo das comunidades
indígenas, que deve ser respeitado em uma sociedade multicultural, pluralista e democrática. Isso implica a
obrigação dos Estados de garantir aos povos indígenas que sejam devidamente consultados sobre assuntos que
afetem ou possam influenciar sua vida cultural e social, de acordo com seus valores, usos, costumes e formas de
organização (CIDH, 2012, para. 217).
99
situação não é diferente, o país enfrenta uma situação incontrolável de assassinatos contra
líderes sociais e indígenas e violência desmedida nas regiões92.
a) Mandatos Constitucionais para um reconhecimento nacional
Legalmente a população indígena foi negada praticamente até 1991, com exceção de
algumas conquistas que as próprias comunidades puderam ganhar, mas que pela configuração
do Estado seu status social e político era considerados inferiores, ignorando seus direitos. Desde
o século XVII, as autoridades governamentais, estavam sob o mandato eclesiástico que
promulgou a Lei 89 de 1890 (ainda em vigor) que determinou as maneiras pelas quais os
“selvagens” e “sociedades incipientes” devem ser governados”93.
No entanto, foi na década de 1980 e depois das conjunturas sociais que os povos
indígenas realizaram grandes progressos, pois na década de 1940 o poder legislativo aprovou a
lei 81 de 1958 que decretou “sobre a promoção das vieses indígena”, permitindo passar de uma
abordagem reducionista para uma abordagem integracionista na vida econômica nacional.
Para Carlos Zapata (2007) a verdadeira mudança na política administrativa foi abordada
na construção do:
La construcción de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes), la extensión del territorio titulado en resguardos, el reconocimiento de las
autoridades indígenas como autoridades legítimas de la nación, el fortalecimiento de
la institucionalidad oficial encargada del tema, el impulso a la etnoeducación y la
salud, son algunos de los resultados que dan cuenta de una nueva forma de
relacionamiento con el Estado, y de la capacidad de la resistencia indígena para ver el
reconocimiento progresivo de sus derechos y, finalmente, su elevación a principios
esenciales de la nación en la Constitución Política de 1991 (p. 39)94.
Graças a esses avanços, acompanhados pela organização dos povos indígenas e outros
grupos sociais, foi construída a Constituição de 1991, impulsionada pela necessidade de gerar
verdadeiras mudanças sociais, políticas e econômicas que reconhecessem a diversidade,
autonomia e a igualdade de todos os membros da sociedade.
92 Mesmo com a existência de acordos de paz que preveem um sistema integral de verdade, justiça, reparação e
não repetição com as vítimas do conflito nas violações dos direitos humanos, e o direito internacional humanitário
que visa acabar com o conflito e construir uma paz estável e duradoura. De acordo com dados documentados pela
promotoria desde 2009 e até 2017, 563 homicídios foram registrados contra líderes sociais, incluindo membros de
grupos étnicos. Para saber mais, ver <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/agresiones-contra-
lideres-sociales-antes-y-despues-del-acuerdo-de-paz-articulo-857176> 93 Artigo 1, 5 e titulo da lei que foram declarados inexequível só até 1996 que ainda continua vigente pela Corte
Constitucional mediante a sentença C-139/96 em 9/04/96, M.P. Carlos Gaviria Diaz. 94 Conselho Nacional de Política Econômica e Social (CONPES), a extensão do território intitulado em resguardos,
o reconhecimento das autoridades indígenas como autoridades legítimas da nação, o fortalecimento da instituição
oficial responsável pela questão, a promoção da etno-educação e saúde, são alguns dos resultados que dão conta
de uma nova forma de relação com o Estado, e da capacidade da resistência indígena de ver o reconhecimento
progressivo de seus direitos e, finalmente, sua elevação aos princípios essenciais da nação na Constituição de 1991
(Tradução libre- p. 39).
100
Através da constituição, o Estado colombiano menciona no artigo 2 que, dentro dos
propósitos do Estado está: “[...]garantir a eficácia dos princípios, direitos e deveres consagrados
na Constituição; facilitar a participação de todos nas decisões que os afetam [..]” e por meio das
autoridades da república “[...]proteger todas as pessoas residentes na Colômbia, em sua vida,
honra, propriedade, crenças e outros direitos e liberdades[...]” (Tradução livre- COLOMBIA,
1991).
Em outras palavras, o Estado colombiano reconhece o dever de promover a proteção
dos direitos humanos em conformidade com os tratados ratificados, promovendo e respeitando
a dignidade humana, os vários modos tradicionais de vida e o direito consuetudinário. Cenário
que funciona como ponto de partida para a incorporação de outros elementos regulatórios sobre
o mesmo assunto.
Assim, o artigo 330 da Constituição de 1991 e a ratificação da Convenção 169 de
cumprimento obrigatório, aprovada pela Lei 21/1991, mostram um grande avanço no
reconhecimento dos direitos dos povos especialmente os direitos à participação, o direito à
autodeterminação, à identificação étnica, diversidade cultural y direitos sobre a terra e o
território.
O direito de participação que favoreceu os povos na tomada de decisões, pois foi criada
a Lei 99 de 1993, pela qual se cria o Ministério do Meio Ambiente (atual Ministério do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) (art. 76), que também organiza o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SINA) responsável pelos processos administrativos ambientais de consulta
prévia.
No entanto, como resultado da forte crise humanitária nos territórios, a morte de líderes
indígenas e o não cumprimento do Estado do positivado na Carta Magna, no ano de 1996, os
movimentos indígenas, sob os princípios da unidade, terra, cultura e autonomia exigiram a
concretização do que foi acordado por meio de um processo de mobilização a nível nacional
que deu origem à emissão de dois decretos (ARIAS, 2013) criando espaços de diálogo e
consulta para participar das decisões que os integram.
O primeiro deles foi o Decreto 1396 de 1996, “Por meio do qual a Comissão de Direitos
Humanos dos Povos Indígenas é criada e o programa especial de atenção para os Povos
Indígenas é criado”, sendo responsáveis pela execução das seguintes funções:
a) Velar por la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos
indígenas y de los miembros de dichos pueblos, y especialmente de sus derechos
a la vida, a la integridad personal y a la libertad;
b) Definir medidas para prevenir las violaciones graves de los derechos humanos
101
y propender por su aplicación;[...]95 (art. 2).
Por outro lado, o Decreto 1397 de 1996 “Por meio da qual a Comissão Nacional de
Territórios Indígenas (CNTI) e a Mesa Permanente de Concertação (MPC), com povos e
organizações indígenas são criados e outras disposições são emitidas”. Dentro da Comissão
Nacional, ela tem em suas funções:
1. Acceder a la información consolidada sobre gestión del INCORA respecto de
resguardos indígenas durante el período 1980-1996.
2. Acceder a la información y actualizarla, sobre necesidades de las comunidades
indígenas para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de
resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardo;
solicitudes presentadas, expedientes abiertos y estado de los procedimentos
adelantados […]96 (art. 2).
Para os fins deste decreto, menciona o concerto será realizado de acordo com os padrões
constitucionais e internacionais. Com respeito a licenças ambientais, ou artigo 7 declara que
“nenhuma licença ambiental pode ser concedida sem estudos de impacto econômico, social e
cultural sobre povos indígenas ou comunidades, que farão parte de estudos de impacto
ambiental” e que nenhum “obra, exploração, extração ou investimento pode ser realizado em
território indígena sem acordo prévio com autoridades indígenas, comunidades e suas
organizações” (tradução livre- Dcto 1397/96 art. 8).
A Mesa Permanente de Concertação tem como objeto, “estabelecer entre eles e o Estado
todas as decisões administrativas e legislativas que possam afetá-los, avaliar a execução da
política indigenista do Estado, sem prejuízo das funções do Estado, e monitorar o cumprimento
dos acordos ali alcançados” (tradução livre - Dcto 1397/96, art. 11).
E por último, outro aspecto a levar em consideração, segundo o artigo 16 é que “Nos
processos de consulta e consulta de qualquer medida legislativa ou administrativa que possa
afetar certas comunidades ou povos indígenas, os membros indígenas da MPC ou seus
delegados poderão participar” (tradução livre - Dcto 1397/96).
Indudavelmente, esses espaços fortalecem a participação das comunidades indígenas,
por meio do qual possibilitam a comunicação com o Estado, garantindo o respeito a seus
95 a) Assegurar a proteção e promoção dos direitos humanos dos povos indígenas e membros de tais povos e,
especialmente, seus direitos à vida, integridade pessoal e liberdade; b) Definir medidas para prevenir graves
violações dos direitos humanos e promover sua aplicação; (...) (tradução livre- Dcto 1396 de 1996, art. 2).Ver
Artigo 2 e SS do Decreto 1396 de 1996 para observância das outras funções e diretrizes gerais do decreto-lei. 96 1. Acessar informações consolidadas sobre a gestão do INCORA em relação às reservas indígenas [...] 2. Aceder
e atualizar a informação sobre as necessidades das comunidades indígenas para a constituição, expansão,
reestruturação e saneamento de reservas e reservas indígenas e a sua conversão em proteção; aplicações
submetidas, arquivos abertos e status de procedimentos avançados. (tradução livre- Dcto 1396 de 1996, art, 2).
Ver do artigo 2 a 9 do Decreto 1397 de 1996 para observância das outras funções e diretrizes gerais da Comissão
Nacional de Territórios Indígenas.
102
Direitos Fundamentais Constitucionais com a representação das lideranças das diferentes
organizações que propõem as medidas, programas e estratégias adequadas a suas necessidades
e seus territórios indígenas.
Esse tipo de participação, como expressa Luís Arias, Secretário Geral da Organização
Nacional Indígena da Colômbia (ONIC), “depende da vontade do governo nacional e dos povos
indígenas”, como o diálogo que resultou do antigo governo de Juan Manuel Santos em 96
acordos relacionados ao plano de desenvolvimento e a formulação de uma política específica
para a reparação e restituição das vítimas do conflito armado (ARIAS, 2013, p. 59).
No entanto, o conflito surge devido aos problemas estruturais, uma vez que os acordos
que derivam desses espaços para consulta e concerto não são realmente implementados. Para
Arias (2013) são necessárias “políticas públicas efetivas e concertadas, oportunas, com recursos
adequados e diferenciados para a atenção dos povos e comunidades indígenas” (p. 76).
b) Crescimento jurisprudencial e normativo do reconhecimento ao direito de
consulta
Paralelamente foi se construindo uma linha Jurisprudencial emitida pela Corte
Constitucional em relação aos povos indígenas e tribais e seus direitos, principalmente de seu
direito à consulta prévia, livre e informada.
A primeira das sentenças em abrir a discussão, apesar de ser meramente enunciativa
sobre a consulta foi a T-428 de 1992, interposto pelo resguardo indígena de Cristianía do
departamento de Antioquia que pediu a suspensão na ampliação da carreteira Andes-Jardín por
vulnerar o direito à vida e propriedade, resolvendo a Sala nesta oportunidade e pela gravidade
da situação tutelar os direitos constitucionalmente conferidos a os grupos étnicos97.
Em 1997 que a consulta foi considerada como um direito fundamental, vinculado aos
direitos humanos fundamentais como o direito à vida, ao território, à autodeterminação, à
participação, adquirindo essa conotação essencialista com a sentença de unificação SU-039-
1997.
Esta ação começou com a tutela apresentada pelo grupo étnico indígena U'WA contra o
Ministério do Meio Ambiente e a Companhia Ocidental. Decisão que configura uma posição
decisiva no procedimento da Consulta, ao indicar que os trabalhos de exploração que afetam o
97 Um ano depois, no ano de 1993, duas sentenças que corroboraram a legitimidade dos povos de decidir nas
decisões que pudessem afetá-los foram a T- 405 e a T-428, expressando neste ponto que se tratava de casos com
choque de interesses coletivos sem consideração de direitos absolutos, limitando-se nestes pronunciamentos a uma
mera socialização dos trabalhos das obras.
103
território dos grupos indígenas devem ser submetidos a consulta, de acordo com o art. 40-2, art.
330 da Carta e a Convenção 169 da OIT.
A participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas
en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el
hecho o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participación, a
través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho
fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la
integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas
y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De este modo la
participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación
administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar
afectados con la autorización de la licencia ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69,
70, 72 y 76 de la ley 99 de 1993), sino que tiene una significación mayor por los
altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del
destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades (CCC, SU-
039/97, párr 3.3)98.
A declaração da Sala é acompanhada de diretrizes que orientam as relações de
comunicação entre as comunidades e as autoridades públicas baseadas em mutuo respeito e
boa-fé, procurando: i) brindar a os grupos étnicos pleno conhecimento sobre o projeto a ser
executado no território; ii) comunicar a maneira em como vai ser desenvolvido manifestando
que isso pode gerar uma degradação em suas características como grupo. iii) As comunidades
devem participem ativamente nas decisões que possam afetá-las, conhecendo as vantagens e
desvantagens do projeto para a defensa dos interesses com seu apoio ou repudio de forma
consciente. Acrescentando que, na ausência de acordo, a decisão recairia sobre a autoridade que
deve ser desprovida de qualquer autoridade e arbitrariedade para fornecer proteção
constitucional aos grupos étnicos segundo sua cosmovisão (Sentença SU-039/ 1997).
A Sala enfatiza que a consulta prévia
No tiene por consiguiente el valor de consulta la información o notificación que se le
hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de
recursos naturales. Es necesario que se cumplan las directrices antes mencionadas,
que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad y que
finalmente ésta se manifieste, a través de sus representantes autorizados, su
conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su
identidad étnica, cultural, social y económica (COLOMBIA, SU-039/ 1997) 99.
98 [...] a participação das comunidades indígenas nas decisões que podem afetá-los em relação à exploração dos
recursos naturais oferece como particularidade o fato ou a circunstância observada no sentido de que a participação
acima mencionada, através do mecanismo de consulta, adquire a conotação de direito fundamental, pois é um
instrumento fundamental para preservar a integridade étnica, social, econômica e cultural das comunidades
indígenas e, assim, garantir sua subsistência como grupo social. Desta forma, a participação não se reduz apenas
a uma intervenção em ação administrativa visando assegurar o direito de defesa daqueles que serão afetados com
a autorização da licença ambiental (arts. 14 e 35 da CCA, 69, 70, 72 e 76 da lei 99 de 1993), mas tem um significado
maior para os altos interesses que ela procura proteger, como os que dizem respeito à definição do destino e à
segurança da subsistência das comunidades acima mencionadas (tradução livre- SU-039/97, párr. 3.3). 99 Portanto, a informação ou notificação que é feita à comunidade indígena sobre um projeto de exploração ou
exploração de recursos naturais não tem o valor de consulta. É necessário que as orientações acima mencionadas
sejam cumpridas, que fórmulas de concertação ou acordo com a comunidade sejam apresentadas e que finalmente
se manifeste, através de seus representantes autorizados, sua conformidade ou não conformidade com o referido
104
Com base no exposto, a Consulta representa sob o pressuposto da Convenção, a Carta e
da Jurisprudência um direito fundamental que se encontra ligado ao desenvolvimento integral
dos outros direitos fundamentais, principalmente ao direito da diversidade cultural, identidade
étnica e direito à vida.
i. Dcto 1320 de 1998: Regulamentação da consulta como solução?
Outra das normas mais controversas emitida um ano após a sentença que declarou
consulta prévia como um direito fundamental, é o Decreto 1320 de 1998 “pelo qual se
regulamenta a consulta previa com as comunidades indígenas e negras para a exploração dos
recursos naturais dentro de seu território”.
Com o decreto 1320 a consulta prévia começa a ser discutida pela primeira vez, na
medida em que define em seus primeiros artigos o objetivo e momento de realização da mesma:
Art. 1. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental,
social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la
explotación de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la definición del
artículo 2o. del presente decreto, y las medidas propuestas para proteger su integridad 100.
Art. 2. La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda
desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en
propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa
cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y
habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o
negras101.
Contemplando em matéria de licencias ambientais ou estabelecimento de planos de
manejo ambiental (cap. II); frente ao documento de evacuação e manejo ambiental (cap. III); e
em matéria de permissão do uso, aproveitamento, ou afetação de recursos naturais renováveis
(cap. IV) deve realizar-se a consulta com as comunidades indígenas e negras.
No mesmo decreto indica-se que é responsabilidade do Ministério do Interior ou do
Instituto Colombiano de Reforma Agrária, conforme o caso, certificar a presença das
comunidades ou povos, cabendo à pessoa responsável pelo projeto a realização da consulta
prévia, de acordo com os prazos estabelecidos e condições que evitam violar o direito
constitucional dos povos (art. 3, Dcto 1320 de 1998).
projeto e a maneira como sua identidade étnica, cultural, social e econômica é afetada (COLOMBIA, SU-039/
1997, párr. 15.2.(c)). 100 O objetivo da consulta prévia é analisar o impacto econômico, ambiental, social e cultural que possa ser causado
a uma comunidade indígena ou negra pela exploração de recursos naturais em seu território conforme à definição
do artigo 2 do presente decreto, e as medidas propostas para proteger sua integridade (COLOMBIA, Dcto 1320 de
1998, art. 1). 101 A consulta prévia será realizada quando o projeto, trabalho ou atividade destinasse a ser desenvolvido em áreas
protegidas ou reservas indígenas ou em áreas adjudicadas como propriedade coletiva para comunidades negras.
Da mesma forma, a consulta prévia será realizada quando o projeto, trabalho ou atividade destinasse a ser
desenvolvido em áreas não tituladas e habitadas em uma base regular e permanente por essas comunidades
indígenas ou negras (COLOMBIA, Dcto 1320 de 1998, art. 1).
105
Além disso, estabelece a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), com os
termos para sua realização (art. 5) de acordo com o tipo de projeto (art. 7). Detalhando no art.
10 o conteúdo do estudo de impacto em relação ao componente socioeconômico e cultural.
Nos artigos 12-13, 14, 16-17 delineia os prazos para a organização da reunião da
consulta, os passos para o desenvolvimento da mesma e seus respectivos prazos de tempo
ajustados a cada passo.
Observar-se como o Decreto 1320 de 1998 delineia o processo de consulta prévia nos
casos de exploração dos recursos naturais para as comunidades indígenas e negras,
regulamentando, ou melhor, impondo prazos e passos para a realização da consulta em
determinados grupos étnicos, sem distinção.
Porém, após do estudo do caso da Barragem Urrá do Rio Sinú Córdoba que involucrou
o povo indígena Emberá-Katío de Alto Sinu, a Corte Constitucional declarou que esse decreto
era contrário aos princípios constitucionais e normas internacionais introduzidas pela Lei 21 de
1991, isto é, contrário à Convenção 169 da OIT (Sentencia, T-652 de 1998).
Expressou que esta norma era contraria por indicar no seu art. 2 que: “A consulta prévia
será realizada quando o projeto, obra ou atividade se destina a ser realizado em zonas de reserva
indígena ou resguardos ou em áreas designadas em propriedade coletiva para comunidades
negras”.
O que em outras palavras significaria, a limitação ao direito de consulta somente ás áreas
mencionadas sem endossar os territórios indígenas não identificados, vulnerando da mesma
forma o direito à consulta ao impor prazos para os povos e comunidades, já que uns dos
princípios para a realização de uma consulta valida é o ajuste dos procedimentos de consulta a
sua cultura (art. 5).
Nesse contexto,
[…] el Informe del Comité de Expertos de la Oficina Internacional del Trabajo de la
OIT aceptará unas reclamaciones presentadas por la Asociación Médica Sindical
Colombiana y la Central Unitaria de Trabajadores, en la que recomendó al Gobierno
nacional modificar el decreto 1320 de 1998, adecuándolo al Convenio 169, para lo
cual deberá consultar de manera previa con los pueblos indígenas de Colombia.
Igualmente instó al Gobierno para que estableciera “consultas en cada caso concreto,
conjuntamente con los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, o antes de
emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los
recursos existentes en sus tierras”102 (COLOMBIA, T-737-05).
102 O Relatório da Comissão de Peritos da Repartição Internacional do Trabalho da OIT aceitará as denúncias
apresentadas pela Associação Médica da União Colombiana e pela Central Unitária de Trabalhadores, na qual
recomendou que o Governo Nacional modificasse o Decreto 1320 de 1998, adaptando-o à Convenção 169, para o
qual deverá consultar com antecedência os povos indígenas da Colômbia. Ele também instou o governo a
estabelecer “consultas em cada caso específico, juntamente com os povos interessados, sempre que se espera que
106
Outro ponto fundamental, é que o decreto infringe através de seu artigo 12.1 o direito à
consulta informada e livre, ao contemplar que “várias comunidades indígenas e negras
realizarão uma única reunião de consulta, exceto quando não for possível fazê-lo juntos porque
existem conflitos entre eles”.
Pois bem, é claro que não é regra realizar mais de uma reunião para que o processo seja
valido, entretanto, isso impediria a participação de alguns membros do povo por questões de
localização, restringindo sua atuação e tomada de decisão de forma coletiva.
Devido aos elementos anteriores, a Corte, por meio de um julgamento T-652 de 1998,
declarou a inconstitucionalidade do decreto 1320 de 1998, ordenando ao Ministério do Interior
e do Meio Ambiente que não aplicasse o decreto por contradizer o Bloco de Constitucionalidade
e não se consultar com as comunidades.
O decreto continua aplicando-se. A razão, é porque a inconstitucionalidade aplica-se só
para leis e não para decretos, ficando em mãos do Ministério do Interior e do Meio Ambiente
não considerar esse processo de consulta.
Uma onda de sentenças foi desencadeada pelo Tribunal Constitucional após a T-652.
As decisões declararam em várias ocasiões a inconstitucionalidade de projetos como o Código
de Mineração, através do julgamento C-891 de 2002, pela não realização da consulta previa nos
povos indígenas e comunidades negras que podiam verse afetados pelas atividades dentro de
seus territórios.
A Corte Constitucional sublinha com base na Guia de Aplicação da Convenção 169 da
OIT e pelo Centro Internacional para os Direitos Humanos e o Desenvolvimento Democrático
de Montreal que: “[...] nenhum segmento da população nacional de qualquer país tem o direito
de vetar políticas de desenvolvimento que afetam todo o país”.
O que também não significa que, projetos e políticas que afetam os povos indígenas não
sejam consultados, desobedecendo aos parâmetros internacionais para a proteção dos direitos
dos povos indígenas.
Nesta ordem, a Corte Constitucional estabeleceu uma linha de interpretação surgida pelo
julgamento SU-039 de 1997 através do qual estabelece que de não haver acordo, as autoridades
deveram tomar decisões livres, não arbitrárias e proporcionais às condições dos grupos étnicos
para evitar progredir sua integridade. Acrecentando o Tribunal no mesmo pronunciamiento:
Como ya se dijo, el derecho de consulta indígena no es absoluto, pues, si bien la
Constitución ordena que se propicie la participación de las respectivas comunidades
medidas legislativas ou administrativas os afetem diretamente, ou antes de empreender ou autorizar qualquer
programa de exploração ou exploração de recursos existentes. em suas terras” (tradução livre - COLOMBIA, T-
737-05).
107
en los asuntos relacionados con la explotación de recursos naturales en los territorios
indígenas, de ninguna manera puede entenderse que deba necesariamente llegarse a
un acuerdo como requisito sine qua non para radicar el proyecto del ley. A decir
verdad, la irreductible exigencia de un tal acuerdo sólo haría nugatoria la iniciativa
legislativa del Ejecutivo en la materia vista. Conforme a lo anterior, por principio
general el Gobierno está obligado a propiciar mecanismos efectivos y razonables de
participación en los asuntos que afecten a las comunidades indígenas (COLMBIA, C-
891 de 2002)103.
A sentença semeia a base de que a consulta deve promover e incentivar a participação,
mas que em nenhum momento sua decisão vai ser definitiva por não se considerar como um
direito irrefutável e imutável. Surge então a dúvida: a consulta é um instrumento que garante
os direitos dos povos? A consulta prévia é eficaz para combater a violação dos direitos
humanos? Obsevada para o Estado e terceiros como um obstáculo?
No ano seguinte, foi emitida a sentença de unificação SU-383 de 2003 a qual integrou
vários pontos já mencionados. O processo girou em torno aos direitos vulnerados dos membros
dos povos indígenas da região do Amazonas relacionada à erradicação dos cultivos ilícitos em
seus territórios.
A Corte expressou que os povos deviam de ser consultados e que efetivamente se
procurariam as medidas necessárias para garantir os direitos, pois contrário da sentencia T-405
de 1993 já não se trataria de um conflito de interesses, senão que:
La protección de los valores culturales, económicos y sociales de los pueblos
indígenas y tribales, que aún subsisten en el territorio nacional, es un asunto de interés
general en cuanto comporta el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana, y la existencia misma del Estado social de derecho (COLOMBIA,
SU-383 de 2003)104.
Embora este caso não trate sobre exploração e extração de recursos naturais em
territórios indígenas, é um assunto sobre medidas a serem tomadas para evitar a afetação direta
sobre os povos e comunidades.
A Sala no mesmo processo faz menção a algumas fases que devem se levar em
consideração para a proteção dos povos e a erradicação de cultivos ilícitos em seus territórios
conforme o disposto na Convenção 169 da OIT e a Lei 21 de 1991. Na primeira etapa, devera-
103 Como já foi dito, o direito à consulta indígena não é absoluto, porque, embora a Constituição determine a
participação das respectivas comunidades em questões relacionadas com a exploração dos recursos naturais em
territórios indígenas, de modo algum pode ser entendida que um acordo deve necessariamente ser alcançado como
um requisito sine qua non para apresentar o projeto de lei. De fato, a exigência irredutível de tal acordo só
invalidaria a iniciativa legislativa do Executivo no assunto visto. De acordo com o acima exposto, em geral, o
Governo é obrigado a promover mecanismos efetivos e razoáveis de participação em questões que afetam as
comunidades indígenas (Tradução livre-CCC, Sentença C-891 de 2002). 104 A proteção dos valores culturais, econômicos e sociais dos povos indígenas e tribais, que ainda existem no
território nacional, é uma questão de interesse geral, pois implica o reconhecimento da diversidade étnica e cultural
da nação colombiana, e a existência mesmo do estado social de direito (Tradução livre-CCC, SU-383 de 2003,
párr. 6.2.(a)).
108
se consultar o procedimento a ser utilizado para a realização da consulta, e segunda, determinar
o melhor método para a erradicação sem que prejudique os direitos fundamentais105
(COLOMBIA, SU- 383 de 2003).
Com a questão da exploração dos recursos naturais, foi através do julgamento C-620 de
2003 que se declarou a inconstitucionalidade um dos artigo da Lei 773 de 2002106, ao afirmar
que a consulta prévia deve ocorrer quando a exploração dos recursos naturais está dentro do
território indígena, adotando as medidas e condições pertinentes para sua execução.
Portanto, as medidas que serão aplicadas nas consultas como compromisso do Estado
não podem ser interpretadas com indiferença e rigidez por causa das circunstâncias,
[…] que dado que el derecho a la consulta tiene por objeto garantizar la participación
en la adopción de las decisiones que afectan a las comunidades, no puede consistir en
una simple información a dichos entes colectivos, sino que debe propiciar espacios de
concertación en la escogencia de las medidas107 (COLOMBIA, C-620 de 2003, párr.
15 (e)).
Por conseguinte, as medidas a ser empregadas para o desenvolvimento da consulta
devem estar sujeitas às comunidades, adoptando-se o melhor processo de participação para
garantir o direito de autogoverno e diversidade cultural.
A Corte Constitucional em vários de seus julgamentos assevera que toda medida
legislativa e administrativa a ser inserida no ordenamento que afete ou modifique o status dos
grupos étnicos deve que ser consultado obrigatoriamente.
Posicionamento confirmado com as sentenças T- 382 de 2006, e a C-030 de 2008,
relacionadas com a “Lei Geral Florestal”, e a T-175 de 2009 que demanda a Lei 1152 de 2007
sobre o “Estatuto de Desenvolvimento Rural”, as quais foram declaradas inconstitucionais pela
não realização do processo consultivo antes de sua concepção.
Consequentemente, a Corte acrescenta por meio da T-769 de 2009 que em casos de
afetação direta para surtir o direito de participação dos grupos étnicos nos casos relacionados
com atividades de grande escala como a CtIDH no Caso do Povo Saramaka vs Suriname tinha
asseverado, não basta simplesmente consultar, senão que é essencial o consentimento livre,
prévio e informado para a devido proteção dos direitos dos povos indígenas.
105 Para Ludy Fajardo (2017) estas duas etapas foram denominadas como “preconsulta” e “consulta” na devida
ordem (p. 28). 106 “Por quais normas são emitidas a respeito da administração, fabricação, transformação, exploração e
comercialização de sais que são produzidos nas minas de sal marinho localizadas no município de Manaure,
Guajira e Salinas de Zipaquirá e outras disposições são emitidas”. 107 Uma vez que o direito à consulta visa garantir a participação na adoção de decisões que afetam as comunidades,
ela não pode consistir em informações simples para essas entidades coletivas, mas deve fornecer espaços para
consulta na escolha de medidas (Tradução livre- CCC, C-620 de 2003, párr. 15 (e)).
109
ii. Portaria presidencial 01 de março do 2010
Com a necessidade do governo colombiano regular a consulta prévia e os
inconvenientes que poderiam surgir pela não aplicação ou indevida aplicação da mesma como
aconteceu em anos anteriores, no ano de 2010, foi emitida a Portaria Presidencial 01 em 26 de
março de 2010, direcionada ao vice-presidente da República, Ministros de Gabinete, Diretores
dos departamentos administrativos, superintendências, diretores, gerentes e órgãos do setor
Central e Descentralizado da ordem Nacional, com o fim de criar os meios e os mecanismos
necessários para assegurar a aplicação da consulta, sendo os organismos do sector central e
descentralizados os responsáveis pelo cumprimento da norma em questão e as diretrizes da
Convenção 169 da OIT.
A Portaria Presidencial, refletiu um dos elementos mais importantes, que é o
reconhecimento de Grupos Étnicos em todas suas dimensões, integrando os Povos Indígenas,
Comunidades Negras, Afrodescendentes, Raizales, Palenqueras e o Povo Rom (p. 2). Daí que
na Colômbia sejam denominados como grupos étnicos a todos os povos a fim de não gerar
exclusão ou confusões.
Entre outros aspectos108, a Portaria afirma que o Ministério do Interior e da Justiça são
os responsáveis pela forma em como se desenvolve o processo consultivo de cada caso em
particular, delimitando nesta oportunidade as ações que requerem da consulta109 e que ações
não requerem110 da Consulta Prévia como direito fundamental.
108 O protocolo detalha, por um lado, a responsabilidade dos Ministérios do Interior e da Justiça (inc. D), a emissão
de resoluções ou atos administrativos quando o processo de consulta não é desenvolvido (inc. C). Estabelece “as
características técnicas que os documentos devem ter para estabelecer um diálogo” com as comunidades (inc. E),
e indica que as entidades, organizações e empresas devem ter o pressuposto relevante para financiar os projetos
que garantem o direito de consulta (inc) f). 109 a) Cuando se expidan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directa y específicamente
a los Grupos Étnicos Nacionales, y que requieran en el ámbito de su aplicación la formulación de enfoque
diferencial. b) Programas de prospección o explotación de los recursos naturales en sus territorios. e) Decisiones
sobre enajenación de tierras o de transferencia de sus derechos sobre las tierras, en el evento que las disposiciones
de aplicación nacional puedan dificultar de alguna manera los procesos de titulación colectiva, ampliación o
saneamiento de tierras. d) Organización y funcionamiento de programas de formación profesional de aplicación
general. e) Enseñanza a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en
la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. t) Cuando se pretenda desarrollar,
incrementar o transformar la malla vial en territorios étnicos. g) Formulación, diseño o ejecución de proyectos de
investigación adelantados por Entidades Públicas que estén relacionados con los recursos naturales, bióticos,
económicos, culturales, religiosos, etc., de los grupos étnicos y puedan generar una afectación por la ejecución o
la publicación de los mismos. h) Cuando se planeen acciones de erradicación de cultivos ilícitos que puedan afectar
a los grupos étnicos. i) Cuando se estime tomar medidas sobre la salud y la enfermedad de los Grupos Étnicos
Nacionales. Excepto en situaciones de emergencia que comprometan el derecho a la vida. j) Cuando se pretenda
tomar alguna medida prioritaria respecto al proceso de desarrollo de algún Grupo Étnico Nacional. k) Cuando en
el ámbito de aplicación de alguna medida legislativa general se requiera incorporar particularidades según las
costumbres o el derecho consuetudinario de los Grupos Étnicos Nacionales, en el ámbito de aplicación de alguna
medida legislativa general. 1) Demás casos en que la legislación así lo disponga expresamente. 110 NO requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa a Grupos Étnicos: a) Medidas legislativas o
administrativas que no afecten a los Grupos Étnicos Nacionales. Tal es el caso de medidas fiscales que no los
110
De acordo com os elementos especificados, observa-se que as atividades identificadas
para a realização da consulta são bastante limitadas, embora muitas delas sejam produto da
jurisprudência, uma lacuna gigantesca é deixada em aberto, especialmente porque, se a lei não
estabelece um caso particular, tal consulta não seria necessária, o que impediria de igual forma
o processo de consulta em outras circunstâncias que o legislador ainda não contemplou.
A portaria procura garantir o direito fundamental da Consulta, considerado como
obrigatória pelo bloco de constitucionalidade, citando “as regras para o manejo dos impactos
ambientais” que deverão cumprir os atores involucrados conforme às características do projeto,
e ilustrando os elementos gerais as fases que a Consulta deve cumprir (tópico. 4).
Os seguintes mecanismos devem ser usados nos processos de consulta:
a) El proceso de Consulta Previa siempre deberá cumplir las siguientes fases: a)
Preconsulta111, 2 b) Apertura del proceso, c) Talleres de identificación de impactos y
definición de medidas de manejo, d) Pre-Acuerdos, e) Reunión de Protocolización, f)
Sistematización y seguimiento al cumplimiento de acuerdos, g) Cierre del proceso de
Consulta Previa. Estas fases se entenderán como un protocolo sugerido por el
Grupo de Consulta Previa, y su aplicación estará supeditada a los acuerdos
establecidos por la comunidad en consulta y el interesado (Portaría Presidencial
01-2010, p. 5,6)112.
Além disso, a Diretiva 01/2010 ressalta,
Embora seja verdade que a condução do processo de Consulta Prévia nos casos
previstos em acordos internacionais é obrigatória, os Grupos Étnicos Nacionais, no
exercício desse direito fundamental, não podem vetar o desenvolvimento de
projetos (tradução livre- p. 5).
Deve-se mencionar que ainda que a Portaria Presidencial 01 de 2010 tenha maior
alcance no processo de Consulta Prévia, sofreu a mesma deficiência do Decreto 1320 de 1998,
uma vez que não foi consultado com grupos étnicos para sua construção, o que prejudica seu
direito de consulta e participação, sua etnia, cultura e autonomia (RODRIGUEZ, 2014).
cobije; penales, procesales y civiles de la jurisdicción ordinaria; medidas comerciales, industriales y de servicios
de carácter urbano; laborales; y medidas sobre seguridad social, siempre y cuando no reduzcan la calidad de vida
de los grupos étnicos. b) Actividades para el mantenimiento de la malla vial existente, siempre y cuando se surta
concertación de los planes de manejo para mitigar los impactos de los trabajos específicos en los tramos que puedan
afectar a los grupos étnicos. En todo caso, se deberá hacer solicitud de certificación ante la oficina de Consulta
Previa, quien determinará las actividades, que en el marco del desarrollo del proyecto vial, requieren la garantía
del derecho de Consulta Previa e) Cuando se deban tomar medidas urgentes en materia de salud, epidemias, índices
preocupantes de enfermedad y/o morbilidad, desastres naturales y garantía o violación de Derechos Humanos. d)
Cuando el proceso de consulta previa no sea obligatorio de conformidad con ley expresa. 111 Fase de Preconsulta definida por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 461 de 2008. 112 Os seguintes mecanismos devem ser usados para processos de consulta: a) O processo de Consulta Prévia deve
sempre cumprir as seguintes fases: a) Pré-consulta, 2 b) Abertura do processo, c) Oficinas de identificação de
impactos e definição de medidas de gestão, d) Pré-Acordos, e) Reunião do Protocolo f) Sistematização e
monitoramento do cumprimento dos acordos; g) Encerramento do processo de Consulta Prévia. Essas fases serão
entendidas como um protocolo sugerido pelo Grupo de Consulta Prévia, e sua aplicação estará sujeita aos acordos
estabelecidos pela comunidade em questão e à parte interessada (Tradução livre- Portaria Presidencial 01-2010, p.
5,6).
111
No entanto, hoje ainda é utilizada como instrumento norteador para a realização da
consulta mesmo que seu estado de inconstitucionalidade e indisposição por normas
internacionais persista.
iii. Portaria presidencial 10 de 2013
Outra das disposições também questionada é a Portaria Presidencial nº 10 de 2013,
apresentada como um “Guia para consulta prévia”, através do qual são definidos os
procedimentos a serem seguidos para o desenvolvimento da consulta, desde o estágio inicial
até o final da consulta, com menção das responsáveis e devidas intervenções. Esta guia refere-
se aos detalhes de cada fase ou etapa, o objeto, as medidas a serem tomadas de acordo com a
situação, os prazos, a metodologia e a coleta de evidências.
A guia foi criada com o objetivo de protocolizar a consulta e garantir a integração das
competências das entidades, cuja aplicação deve ser usada como uma ferramenta de
coordenação interinstitucional nos processos de consulta prévia de comunidades étnicas para o
desenvolvimento de projetos, como obras ou atividades (DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10
de 2013, p. 1).
Em outras palavras, é um protocolo expedido que:
[…] busca regular la coordinación interna de. las entidades públicas involucradas, a
efectos de garantizar la integración de las competencias correspondientes y la
distribución eficaz de los recursos, así como la eficiente circulación de la información
relevante, la transparencia en los procesos, y permitir el seguimiento al cumplimiento
de los deberes de las entidades responsables (DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10
de 2013, p. 1)113.
Como afirma a Portaria 10, é dever do Estado garantir “o gozo efetivo dos direitos das
comunidades étnicas e a implementação da Consulta Prévia como um mecanismo para sua
proteção e sobrevivência” (p. 1). Da[i que a Guia114 criou-se um processo de cinco etapas
especificamente115: 1) Certificação da presença de comunidades, 2) Coordenação e preparação,
3) Preconsulta; 4) Consulta Prévia e; 5) Seguimento de acordos.
113 [...] procura regular a coordenação interna de. as entidades públicas envolvidas, a fim de garantir a integração
das competências correspondentes e a efetiva distribuição dos recursos, bem como a circulação eficiente das
informações relevantes, a transparência nos processos e permitir o acompanhamento do cumprimento das
obrigações das entidades responsáveis (DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10 de 2013, p. 1) 114 Guia pra realização da consulta com Comunidades Étnicas, como foi chamado, apresenta um processo de etapas
e seguimento de acordos. Processo de protocolo que é acompanhado pelo decreto 2613 do mesmo ano sobre
Protocolos Interinstitucionais 115 Nesta ocasião, o processo das etapas definidas será observado de maneira geral, porém, para maior informação
ou ampliação sobre o assunto, ver: DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10 de 2013, Disponível em:
<https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/12_directiva_presidencial_ndeg_10_del_07_de_noviembre_2
013_4.pdf>
112
Na primeira etapa, chamada “certificação da presença de comunidades étnicas”, será
determinada a área do projeto, obra ou atividade (POA) e o possível impacto nas comunidades
ou povos, de acordo com as informações fornecidas pelo Diretor de Consulta Prévia (DCP)116
em seu banco de dados.
Na análise desta primeira etapa, leva-se em conta os territórios coletivamente titulados,
resguardos indígenas e sem título para verificar a relação dos territórios com as comunidades
e sua presença dívida em 7 passos117.
Na segunda etapa, chamada “coordenação e preparação”, está destinada à identificação
de entidades públicas que tenham competência relacionada ao POA para consultar, identificar
e definir o nível de intervenção, e se for necessário o consentimento de representantes de grupos
étnicos, e assim antecipar qualquer evento administrativo.
Esta fase visa “coordenar a realização de uma única consulta abrangente para cada
POA”. Porém, essa expressão deixaria de ser adequada para garantir o tratamento completo da
consulta prévia, já que chegar a um acordo na primeira reunião é quase impossível.
Na terceira etapa, denominada “preconsulta”, procura o diálogo com os representantes
das comunidades étnicas envolvidas, é a etapa da consulta que visa definir o caminho
metodológico que o executor do POA deve seguir, definir prazos, eliminar dúvidas,
Informações claras, completas e transparentes sobre o POA e seus impactos nos territórios.
Nesta fase também existem 5 passos118 a seguir com o fim de conseguir o objetivo.
Na quarta etapa, chamada “Consulta prévia” o objetivo é criar um diálogo entre o
Estado, o órgão executor do POA e os Grupos Étnicos para garantir a participação real e o
direito de consulta sobre decisões que possam afetá-los, protegendo sua integridade ou pelo
menos reduzindo a afetação em caso ocorra.
116 responsável pela aplicação e coordenação nos processos de consulta organizada e suas respectivas funções de
assessorar, dirigir assuntos indígenas, estabelecer diretrizes, metodologias e protocolos de consulta previa, entre
outras (art. 16). Direção que foi criada pelo Decreto Lei 2893 de 2011 que estabelece formalmente o Ministério de
Interior e seu setor administrativo (modificado pelo Decreto 1140 de 2018) (COLÔMBIA, Decreto 1140 /2018). 117 Etapa 1: Estudo do pedido de certificação de presença ou não de comunidades étnicas: Recepção e análise do
conteúdo do pedido de certificação. Etapa 2: consulta no banco de dados da DCP. Etapa 3: Verificação em campo,
somente se o DCP tiver determinado a necessidade de realizá-lo e dentro do período determinado por ele. Etapa
4: Verificação de possível incidência em territórios que não possuem assentamentos permanentes. Etapa 5:
Determinação final da necessidade de consulta prévia. Etapa 6: Projeção e emissão da certificação de presença ou
não de comunidades étnicas. Etapa 7: Resolução do recurso para substituição de acordo com o procedimento e o
prazo estabelecido na legislação vigente (tradução livre- DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10 de 2013, p. 5-9). 118 Etapa 1: Designação de uma equipe responsável por cada consulta. Etapa 2: convocar reuniões de pré-consulta.
Etapa 3: Reuniões Pré-Consulta: Apresentação do marco legal da consulta prévia aos representantes das
comunidades. Etapa 4: Apresentação do POA e gerenciamento de informações para os representantes da
comunidade. Etapa 5: Determinação do objeto e construção da rota metodológica da consulta (tradução livre-
DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10 de 2013, p. 13-17).
113
O DCP tem o dever de convocar, por escrito ou por outros meios, os representantes das
comunidades, do Executor, das entidades públicas, do Procurador Geral da Nação e do Ouvidor,
possibilitando sua participação e observância no processo119.
Na última etapa, mas não menos importante, “acompanhamento do acordos,” que
“garante que o protocolo na consulta prévia seja realmente realizado pelas partes, conforme
acordado pelas comunidades étnicas”, especifica duas etapas: 1) requisitos periódicos para os
responsáveis pelos termos acordados com as comunidades, e 2) fechar a consulta.
Nesta fase, o DCP convocará o Gabinete do Procurador, a Defensoria do Povo e outras
autoridades que considere apropriado para fechar a devido processo de consulta como uma
avaliação do cumprimento dos acordos acordados na etapa anterior.
A Portaria Presidencial 10 de 2013 delimita e enumera etapa a etapa, passo a passo os
procedimentos a executar no processo da Consulta Prévia, assim como as responsabilidades dos
órgãos públicos ao momento de participar, podendo favorecer sua aplicação e seu compromisso
com os povos especialmente na última etapa de seguimento dos acordos.
Embora, seja um instrumento que direciona todos os passos a seguir para garantir o
devido processo, também é certo que não está dentro das diretrizes internacionais indicadas,
afetando de maneira direta às comunidades e grupos étnicos não somente por ser o único
modelo de consulta para todas as comunidades, mas também por não haver realizado a consulta
para sua construção, deficiência da qual sofrem todas as normas anteriores.
No mesmo ano, adotado treze dias após da emissão da Portaria 10 de 2013 foi expedida
também sem a consulta aos grupos étnicos o Decreto 2613 de 2013 “pelo qual se adota o
Protocolo de Coordenação Interinstitucional para a Consulta Prévia”, que visa regular a
coordenação interinstitucional em caso de consultas prévias relativas a projetos de interesse
Nacionais e Estratégicos-PINHOS, como “mecanismo de coordenação entre entidades públicas,
destinadas a facilitar a conexão das responsabilidades correspondentes e compartilhar critérios
e informações atualizados” (tradução livre-art. 1).
Com base no anterior, cabe dizer que os acordos consultivos que possam desenvolver-
se não atendem aos padrões internacionais e a ausência de responsabilidade do Estado não
cumpre com os compromissos estabelecidos, dificultando a coordenação do processo
consultivo.
119 Passo 1: Convocatoria para a (s) reunião (ões) de consulta. Etapa 2: Desenvolvimento de reuniões para análise
e identificação de impactos e formulação de medidas de gestão. Etapa 3: Desenvolvimento de reuniões para a
formulação de acordos. Etapa 4: Protocolização (tradução livre- DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 10 de 2013,
p. 18-23).
114
Até agora, podemos ver como a tentativa de criar normas nacionais gerais que inclua
todos os grupos étnicos não foi benéfica para nenhuma das partes. O fato de questionar as
normas para a não realização da consulta pode ser um aspecto sem importância para o Estado.
Enquanto, como se trata de uma relação direta com os povos e comunidades tradicionais,
a falta de consulta para as regras que vão ser implementadas para o processo consultivo viola o
direito internacional de autogoverno e autodeterminação dos povos por não terem
conhecimento total dos padrões que regem a consulta e o que isso implica para a tomada de
decisões que vai modificar seu status.
iv. Características essencial para uma consulta adequada.
A sentença T-660 de 2015 faz um analises abrangente sobre diversos pontos da consulta,
ou características essenciais que devem ser feitos para cumprir com os estandartes nacionais e
internacionais, definindo que um dos elementos essências da consulta perante as medidas
legislativas e administrativas é o consentimento livre, prévio e informado.
Realizar-se antes do início de toda atividade ou obra, sob o princípio da boa-fé,
garantindo o acompanhamento das autoridades da Defensoria do Povo e da Procuradoria Geral
da República, a fim de se desenvolver como um verdadeiro diálogo.
O Tribunal manifesta por tanto três casos representativos nos quais o Estado deve obter
o consentimento dos grupos étnicos, o primeiro: caso “envolva a transferência ou deslocamento
de comunidades pela obra ou pelo projeto” realizado dentro de seus territórios; os “relacionados
ao armazenamento ou despejo de lixo tóxico em terras étnicas”; e /ou quando “representam um
alto impacto social, cultural e ambiental em uma comunidade étnica, o que implica colocar em
risco a sua existência” (COLOMBIA, T- 129 de 2011).
Observa-se que as decisões da Corte estão baseadas na CtIDH, a CADH, a Convenção
169 da OIT, e a DNDPI, o que permite ver com claridade os pontos, deficiências ou
inconsistências que surgem em relação ao processo consultivo a nível nacional.
Por outro lado, um dos julgamentos a ressaltar é a T- 376 de 2012, que contou com a
participação da Comunidade Negra da Boquilha, contra a Direção Marítima da Capitânia do
Porto de Cartagena através do qual a Corte estabeleceu a distinção de participação das
comunidades em níveis de acordo a seu grau de intensidade,
(i) la “participación simple” frente a medidas que supongan un interés indirecto y sólo
accidental para la comunidad; (ii) la consulta previa frente a medidas que las afecten
directamente; y (iii) el consentimiento previo, libre e informado en relación con
115
aquellas que suponen una afectación especialmente intensa, según la ha definido la
jurisprudencia constitucional (COLOMBIA, T- 376 de 2012, párr. 78)120.
Essa classificação foi feita com o objeto de esclarecer que perante cada caso ou situação
deve se fazer um analises especifico, e determinar o tipo de participação das comunidades.
Infelizmente, esta classificação não é nem considerada, já que segundo as cifras apresentadas
no ano de 2012 dos processos de consulta prévia por sectores foi relativamente baixa em
comparação com o número de projetos.
Foram realizadas em total 1422 consultas, correspondentes a 835 medidas
administrativas, 537 para projetos com hidrocarburos, 58 de infraestrutura, 15 energéticos, 4
para projetos de mineração e 4 para projetos ambientais (Ministério de Interior: Dirección de
Consulta Prévia, 2012).
No ano 2014, a sentença C-576 cria um panorama confuso para os grupos étnicos
nacionais. A Corte Constitucional constitui que as comunidades negras, afrocolombianas,
raizales e palenqueras do país devem ser consultadas quando medidas administrativa ou
legislativa pudessem afetá-las, mas, sempre que estivessem organizadas sob um conselho
comunitário rural ou urbano.
Cenário que de forma geral é favorável, pois reconhece seu direito constitucional, porém
emerge novamente o condicionamento integracionista cultural e étnico, limitando o exercício
de seu direito a estrutura hegemônica do poder senão cumpre com as exigências por eles
estabelecidas.
Após 21 anos de jurisprudência proferida pela Corte Constitucional em 2018, o
julgamento SU-123 unificou sua posição com relação ao direito à consulta e consentimento,
integrando conceitos básicos sobre o que eles são, sua natureza , sua finalidade, o significado
de ‘afetação direta’ e as situações em que se enquadra, mencionando também sobre o dever do
Estado, sua relação com a noção de justiça ambiental, entre outros aspectos.
De forma sucinta, o tribunal Constitucional indicou:
[...] la consulta previa es un derecho fundamental, que protege a los pueblos indígenas
y tribales y tiene carácter de irrenunciable. Esto implica que: (i) el objetivo de la
consulta previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo intercultural el
consentimiento con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que las
afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes; (iii) por
medio de la consulta se debe asegurar una participación activa y efectiva de los
pueblos interesados; (iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en el
que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias para reducir las
desigualdades fácticas de poder que puedan tener los pueblos étnicos; (v) en este
120 (i) “participação simples” em face de medidas que envolvem um interesse indireto e apenas acidental para a
comunidade; (ii) consulta prévia sobre medidas que os afetam diretamente; e (iii) o consentimento prévio, livre e
esclarecido em relação àqueles que supõem uma afetação especialmente intensa, conforme definido pela
jurisprudência constitucional (Tradução livre- CCC, T-376 de 2012, par. 78).
116
diálogo intercultural ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder
arbitrario de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser flexible, es
decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto; (vii) la consulta debe ser informada,
esto es dispensar a los pueblos indígenas y tribales la información suficiente para que
ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe respetar la diversidad étnica y cultural
lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes121
(COLOMBIA, SU-123-2018, para. 17.2).
Diante do exposto, são observados os esforços do Tribunal para interpretar
adequadamente o conteúdo e o escopo da consulta, sem tentar criar um padrão em relação à
consulta e ao consentimento prévio e livre e informado.
Mas, a Sala aclara que os povos indígenas e tribais não têm poder de veto, o que limita
o direito de autodeterminação dos povos internacionalmente contemplado por não ter a
possibilidade real de decidir sobre as circunstancias que possam afetá-los. Não há dúvida de
que a ação e a omissão continuam violando direitos fundamentais, seja por interesses políticos,
econômicos e/ou ambientais, ou porque o processo de consulta não cumpre com toda a
informação ou simplesmente não é realizado adequadamente.
Como resultado desse analises, Maria Clara Galviz, (s.d.) expressa que o direito da
Consulta na Colômbia
[…] sigue siendo una asignatura pendiente y que, por tanto, este país tiene el desafío
de lograr que los avances normativos y jurisprudenciales alcanzados y los recursos
institucionales con que cuenta le permitan convertir la consulta previa en el eje
conductor de su relación con los pueblos indígenas y afro-descendientes. Igualmente,
que Colombia tiene el desafío de aprobar una ley concertada con los pueblos
indígenas, que regule el procedimiento de las consultas y defina un marco legal y
práctico en esta materia; para ello debe poner en marcha un proceso legislativo que
asegure un espacio verdaderamente intercultural y participativo (p. 10)122.
121(...) a consulta prévia é um direito fundamental, que protege os povos indígenas e tribais e é inalienável. Isso
implica que: (i) o objetivo da consulta prévia é tentar genuinamente e pelo diálogo intercultural obter
consentimento com as comunidades indígenas e tribais sobre as medidas que as afetam; (ii) o princípio da boa fé
deve orientar as ações das partes; (iii) mediante consulta, deve ser assegurada uma participação ativa e efetiva dos
povos envolvidos; (iv) a consulta deve ser um processo intercultural de diálogo, no qual o Estado deve tomar as
medidas necessárias para reduzir as desigualdades factuais de poder que os povos étnicos possam ter; (v) nesse
diálogo intercultural nem o povo tem direito de veto nem o Estado possui poder arbitrário para impor a medida
planejada; (vi) a consulta deve ser flexível, ou seja, adaptar-se às necessidades de cada questão; (vii) a consulta
deve ser informada, ou seja, para fornecer aos povos indígenas e tribais informações suficientes para que eles
possam emitir seus critérios; (viii) a consulta deve respeitar a diversidade étnica e cultural, o que permitirá
encontrar mecanismos de satisfação para ambas as partes (Tradução livre- COLOMBIA, SU-123-2018, para.
17.2). 122 [...] Ainda é um assunto pendente e, portanto, este país tem o desafio de assegurar que os avanços regulatórios
e jurisprudenciais alcançados e os recursos institucionais disponíveis permitam converter a consulta prévia no eixo
condutor de sua relação com os povos indígenas e afrodescendentes. Da mesma forma, a Colômbia é desafiada a
aprovar uma lei concertada com os povos indígenas, que regulamenta o procedimento de consulta e define uma
estrutura legal e prática nesta matéria; Para fazer isso, um processo legislativo que garanta um espaço
verdadeiramente intercultural e participativo deve ser lançado (GALVIS, s.d., p. 10).
117
O direito de consulta como mecanismo de participação para os povos indígenas, mesmo
que avança também posse alguns limitantes nas formas como a Corte e as entidades
governamentais realizam este papel, como Silvina Ramirez (2009), agrega:
Até o presente e, com exceção da destacada jurisprudência da Corte de
Constitucionalidade colombiana, que busca aplicar em suas decisões os dispositivos
da norma constitucional, o certo é que não foi possível avançar no desenvolvimento
de medidas que promovam a consolidação do reconhecimento, elevando-o de sua
dimensão declaratória até transformar-se em planos concretos de ação (p. 218).
A Colômbia apresenta-se como um país com alta discussão, o que é verdade, mas que
em sua intenção de atender as necessidades dos grupos étnicos, as distintas entidades e terceiros
interessados, encontra-se em um labirinto sem saída.
O Estado procura atender as diretrizes nacionais e internacionais, entretanto descarga
todo o peso sobre a Corte Constitucional; que se integra critérios essenciais para a elaboração
da consulta, também não consegue eliminar os vazios e lacunas existentes, agradar aos povos e
os interesses econômicos, nem efetivar os direitos dos grupos étnicos nacionais, fortemente
ignorados e vulnerados em sua totalidade
2.4.2. Brasil: Inexistência de um quadro regulamentar sobre o processo de consulta
No caso do Brasil, pode-se dizer que ele contrasta com o caso da Colômbia devido à
abordagem da consulta previa, primeiramente porque o Brasil adoptou a Convenção 169 da
OIT no ano de 2002, após de um longo processo em que a Constituição de 1988 já previa a
incorporação em seus artigos 231 e 232 os direitos dos povos indígenas a ser ouvidos.
Apesar do Estado Brasileiro não ter a mesma discussão e amplitude de normatividade e
jurisprudência do Estado Colombiano ele conseguiu delinear muito antes da Convenção 169
dentro de seu próprio sistema jurídico o tema dos povos indígenas.
Do longo recorrido que iniciou com a colonização por toda América Latina e logo a
imposição do império no território, o Estado conseguiu estabelecer os direitos dos povos
indígenas como indivíduos livres de toda ideia de homogeneização ou integração social,
respeitando sua diversidade cultural e identidade étnica.
Na luta contra a perdida de identidade, a integração forcada ao campo social, da
violência e agressão, e o forte genocídio experimentado por eles, induziu entre outras
circunstancias econômicas, políticas y sociais a realizar drásticas transformações no sistema e
estrutura da administração nacional para avançar para uma Republica e Estado moderno.
No caso do Brasil a proteção dos direitos dos povos e comunidades indígenas não
estabelece uma base solidas de proteção normativa e jurisprudencial sobre a consulta previa,
118
simbolizando a Convenção 169 o pilar de exigência para a proteção dos direitos dos povos da
mão com a DNUDPI, a DADPI e a CADH quem salvaguarda com a CtIDH segurança aos seus
direitos já reconhecidos, seja para sua proteção ou para sua reparação.
a) Surgimento da consulta previa no sistema normativo nacional
No Brasil não há fluxograma ou normas explícitas que definam o processo de consulta
prévia, nem normas sobre as etapas do protocolo que devem ser seguidas, até o momento as
diretrizes descritas na Convenção 169 da OIT orientam o procedimento em diferentes casos que
envolvem medidas administrativas e legislativas e a exploração de recursos nos assentamentos
de povos indígenas.
Nesse sentido, a formação do Estado permitiu que a questão dos povos indígenas tivesse
maior impacto no nível social e estadual, favorecendo a criação do órgão de proteção Federal
chamado Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e a Localização de Trabalhadores Nacionais
(SPILTN) em 1910 mediante o decreto n° 8.072123 depois da acusação publica de massacre dos
índios Coroado- Kaingang e Xokleng no período colonial (VILLARES, 2009). No entanto, no
ano de 1918 através do decreto-lei n°. 3.454, de 6 de janeiro foram separados e o SPI
permaneceu só.
O Serviço de Proteção do Índio (SPI) cuja missão era proteger os índios e promover o
desenvolvimento dentro do território, criou o Decreto 5.484 de 27 de junho de 1928 que “regula
a situação dos índios nascidos no território nacional”, em conjunção com o antigo código civil
dos Estados Unidos do Brasil de 1916 e a lei de 7 de novembro de 1831 que declara libertar
todos os escravos que vinham de fora do Império.
O SPI que por elementos e interesses foi substituído pelo Dec.-lei 5371 de 5 de
dezembro de 1967 que instituiu a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no período do regímen
militar, disfarçado com foco de maior proteção e qualidade, mas que teve como objetivo separar
os grandes indigenistas que participaram do SPI e obter mais recursos econômicos
(VILLARES, 2009).
Mediante o decreto se lhe assignou à fundação segundo o art. 1:
I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada
nos princípios a seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais;
123 Órgãos que se encargariam de proteger a os povos indígenas que se encontravam em estado de transição (ISA,
2018), em conjunto com o Conselho Nacional de Políticas Indigenistas (CNPI) encarregado de promover estudos
e investigações sobre os índios, indicar as zonas adequadas para o assentamento dos povos, apoiar ao Museu
Nacional nos estudos etnográficos, entre outras funções; atividades que foram descontinuadas pela extinção em
1967 pela ditadura militar (MEMORIAL, 1939).
119
b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos
recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes
c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a
sociedade nacional;
d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução sócia
econômica se processe a salvo de mudanças bruscas;
II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e
valorização;
III - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e
os grupos sociais indígenas;
[...]
Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência
jurídica inerente ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil
comum ou em leis especiais.
Ao reconhecer a diversidade cultural entre as muitas sociedades indígenas, a FUNAI
(2018) “tinha o papel de integrá-las, de maneira harmoniosa, na sociedade nacional.
Considerava-se que essas sociedades precisavam ‘evoluir’ rapidamente, até serem integradas,
o que é considerado na prática como uma negação da riqueza da diversidade cultural” (p. 2).
O artigo também fez inclusão de outros elementos essenciais que garantem a proteção e
a sobrevivência de povos indígenas e tribais como assistência médica, educação e proteção em
áreas reservadas para focalizar os interesses em suas necessidades.
Com a criação da FUNAI, são estabelecidos componentes decisivos, como a criação de
políticas de assuntos indígenas, a proteção e demarcação de terras e a responsabilidade pelo
desenvolvimento de programas indígenas. Vale ressaltar que a FUNAI é a única no mundo
responsável pela proteção indígena isolada da sociedade. No entanto, um detalhe a ser levado
em consideração é seu caráter, uma vez que é considerado como demasiado paterno, deslocando
a promoção da autodeterminação dos povos124.
Posteriormente, em 1973, o Estatuto do índio foi criado pela Lei nº 6.001 de 19 de
dezembro, que estabelece a competência dos povos não apenas como uma questão da União,
mas como uma obrigação, dos “Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas
administrações indiretas, nos limites de sua competência” (ESTATUTO DO ÍNDIO, 1973)
conforme expressa o artigo 2.
O exposto, com o objetivo de garantir a proteção de seus direitos, preservar as
comunidades indígenas, prestar assistência, respeitar seu desenvolvimento, garantir seu pleno
exercício civil, cultural, econômico e político, assegurar o uso de bens e proporcionar meios de
vida e supervivência, uma vez que o Estatuto é considerado a principal lei indigenista ainda em
vigor.
124 Sem ser isso seja suficiente, com o atual Governo de Jair Bolsonaro, a FUNAI, que pertencia ao Ministério da
Justiça, agora faz parte no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o que representaria um
retrocesso na proteção dos direitos dos povos indígenas.
120
Mesmo estatuto indica que “as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento
ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela
comunidade indígena” (art. 18), que “serão administrativamente demarcadas, de acordo com o
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo” de acordo com o disposto no título III
denominado das Terras dos Índios (ESTATUTO DO ÍNDIO, 1973).
O estatuto afirma também que as terras ocupadas são bens inalienáveis da União, e que
inclui os índios “o direito de posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades
existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas
naturais e utilidades” (ESTATUTO DO ÍNDIO, 1973. art. 24).
Embora o artigo 33 do Estatuto do Índio mencione “O índio, integrado ou não, que
ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinquenta hectares,
adquirir-lhe-á a propriedade plena”, deveram ser consultados quando atividades ou medidas
que afetem o território, as terras, a integridade física, cultural ou econômica.
Apesar do progresso no Estatuto que contribuiu para o processo de civilização dos
índios, Luis Villegas (2009) afirma que o Estatuto é visto hoje com “certo desconforto pelas
organizações indígenas, por antropólogos, pelo movimento indigenista, por muitos juristas e
pelo Estado” (p. 63).
Como muitas de suas normas foram revogadas, foi declarado inconstitucional, de modo
que sua compressão e intepretação ficaram sujeitas concepções lineais para tentar “adaptar o
texto da lei à realidade da vida, nascendo daí a norma em sua completude” (VILLEGAS, 2009,
p. 64).
No entanto, se os povos indígenas tinham um quadro regulatório delineado, foi com o
estabelecimento da atual constituição com interesse civil e empoderamento indígena que um
novo paradigma sobre os direitos dos povos indígenas foi incorporado à Carta Federal de 1988.
Em palavras de Carlos Marés (2018), “a constituição de 1988 abriu, sem dúvida, um
novo capítulo na história das relações entre o Estado e os povos indígenas”, uma vez que
reconhece “aos índios o direito a ser índio”, rompendo com “a repetida visão integracionista”
(p. 106, 107).
Uma Constituição que adere o reconhecimento da diversidade étnica e cultual e o direito
das comunidades a permanecer dentro das terras sempre que elas fossem devidamente
demarcadas, uma situação que persiste até hoje, infelizmente pela falta de estabilidade
institucional e diversas reformas sobre esta questão surgem desafios que impedem a integração
de programas que consolidam o investimento e desenvolvimento das necessidades indígenas.
121
Embora sejam novos desafios, a participação do indígena é mais evidente na
Constituição e na conformação do Estado Democrático de Direito em seus artigos 231, inc. 3 e
art. 232 que estabelece tacitamente:
Art. 231, § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério
Público em todos os atos do processo.
Isso com base nos princípios gerais de participação estabelecidos no art. 1, incs. II, III,
V, e 3°, incs. I e IV, art. 5°, inc., XXXIII e LXXII; conjuntamente com o princípio
administrativo da publicidade, no qual deve conhecer e publicar todo ato ou ação
administrativas que garanta a participação dos povos ou comunidades, com o fim de exercer
sua devida anulação caso afete a moralidade administrativa, patrimônio público histórico ou
cultural e o meio ambiente (VILLEGAS, 2009).
Na Constituição de 1988 –ao contrário de algumas normas antigas125- os indígenas
deixaram de ser proprietários das terras e território para ter seu desfrute, uma vez que Carta
Magna de 1988 inclui em seus artigos que os recursos subterrâneos, recursos naturais, as fontes
hídricas, as terras devolutas, entre outros bens pertencem à União e os indígenas só tem direito
ao seu gozo.
Ao analisar a ausência e a falta de harmonia entre sua regulamentação pode-se observar
claramente porque a Carta e o Estatuto se referem a diferentes direitos de propriedade e posse
sobre a terra e território para os povos e comunidades tradicionais, já que a compressão da
propriedade ou domínio sobre as terras é indispensável para o aproveitamento dos recursos
naturais, especialmente porque o direito à consulta prévia está intimamente relacionada com o
direito ao território, autodeterminação, identidade cultural e a autonomia.
b) Aspectos normativos pós-construção da Constituição Federal de 1988
Após da Constituição de 1988, outros elementos normativos começaram a ser criados,
como foi a Comissão Nacional de Política Indigenista126 pelo Decreto s/n de 22 de março de
125 Como a Constituição 1934, por exemplo, através d seu art. 129 explicitamente elevou esse direito de terras à
dominação indígena. Cenário que foi apresentado também em 1680 por Alvára Régio reconhecendo que a terra
concedida aos particulares estará reservada para o direito dos indígenas (VILLEGAS, 2009). 126 Beneficiou os vínculos de comunicação entre os povos indígenas e órgãos governamentais que atuam em temas
específicos da politica indigenista realizando no ano 2015 a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista,
na qual a CNPI é criada no âmbito do Ministério da Justiça.
122
2006 na chefia da FUNAI que após do longo trabalho na execução sobre a política indígena se
originou novamente o Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI)127 mediante o Decreto
n° 8.593 de 17 de dezembro de 2015 que substituiria à Comissão Nacional de Política
Indigenista pelas mesmas siglas (FUNAI, 2018).
Consequentemente, o objetivo do Conselho era ampliar o escopo de participação para
funcionar como “órgão consultivo responsável pela elaboração, acompanhamento e
implementação de políticas públicas voltadas aos povos indígenas” (Dcto. 8.593 /2015).
Acrescentando a FUNAI (2018), que a criação do CNPI “possibilitará uma maior transparência
e o estabelecimento de instrumentos de acompanhamento e controle da execução das ações do
Estado brasileiro por parte dos povos indígenas e da sociedade civil”.
Ao indicar o Decreto n° 8.593 que o Conselho deveria promover princípios e políticas
voltadas aos povos indígenas contribuiu na construção de estratégias para a implementação de
programas de saúde, educação, territorialidade, enfatiza como objetivo final, mas não menos
importante “acompanhar propostas normativas e decisões administrativas e judiciais que
possam afetar os direitos dos povos indígenas” (art. 1).
Outro dos órgãos consultivo que também deve ser mencionar é a Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, criada pelo Decreto 27 de
Dezembro de 2004, e revocada pelo decreto de 13 de julho de 2006, para novamente se
estabelecer como Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) através
do Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016 sob a estrutura do Ministério de Direitos Humanos.
Como responsabilidade do Conselho conforme o art. 2 cabe implementar políticas que
atendam o desenvolvimento dos povos indígenas, reconhecendo suas diferencias e organização,
articulando políticas para a eliminação dos preconceitos, propor e acompanhar
[...] a criação de políticas públicas que resguardem a autonomia e a segurança
territorial dos povos e comunidades tradicionais e seus direitos frente a ações ou
intervenções públicas ou privadas que afetem ou venham a afetar seu modo de vida
e/ou seus territórios tradicionais; (art. 2, XIX)
[...] e participar da construção de protocolos que visem à mediação de conflitos
socioambientais que envolvam povos e comunidades tradicionais; (art. 2, XXI).
Nessa ordem, se prevê que desde a criação e designação das funções dos órgãos e sua
participação com as comunidades e povos indígenas representa um componente fundamental
para a dignificação dos direitos mencionados na Constituição e os tratados, que buscam a
eliminação ou pelo menos a redução da discriminação e violação da dignidade humana.
127 Criado por primeira vez no ano de 1939 durante o período de Getúlio Vargas.
123
No ano 2012, mediante o Decreto n° 7.747 de 5 de junho cria-se a Política Nacional de
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, considerada como ferramenta
essencial que visa (art. 1):
[...] garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável
dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do
patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de
reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas,
respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente.
Pois bem, com base no artigo e com o apoio da Convenção 169 a PNGATI indica que é
responsabilidade dos Estados criar e fornecer meios adequados para beneficiar os povos
indígenas, garantindo seu direito ao desenvolvimento integral e proteção ambiental, territorial
e cultural.
No contexto brasileiro, observa-se que a regulamentação dos povos indígenas e
comunidades tradicionais em relação à terra, ao uso e aproveitamento dos recursos, as
organizações responsáveis pelos programas e estratégias e os meios de participação e
intercambio de informação tem uma base quase que estruturada, mas o direito de participação
ao contrário não possui uma estrutura normativa diferente da Constituição.
c) Jurisprudência: interesses políticos particulares ou interesses políticos gerais?
Por outro lado, no aspecto jurisprudencial após de ratificada a Convenção Americana
de Direitos Humanos (CADH) pelo Brasil em 1992, e reconhecendo a competência contenciosa
da Corte IDH em 1998, o Supremo Tribunal Federal foi ampliando suas decisões com base na
CADH como no caso de prisão do depositário infiel, o uso de algemas, a presunção de
inocência, entre outras (JURISPRUDÊNCIA, 2014).
No que diz respeito à questão indígena e ao direito de Consulta Prévia, existem várias
decisões jurisprudências que definem seu status dentro da norma nacional. Um dos casos mais
conhecidos não apenas nacional, mas internacionalmente, foi a construção da Usina
Hidrelétrica Belo Monte no Rio Xingu por gerar um efeito ambiental e cultural negativo, o que
levou a apresentar uma Ação Civil Pública nº. 2006.39.03.000711-8 em busca da proteção dos
direitos.
No presente caso alegou-se que considerando a dimensão do projeto, catalogado como
“megaprojeto” que afetou diretamente a vida e territórios de muitos assentamentos tradicionais,
não foi realizada a devida consulta prévia aos povos e comunidades próximas da construção.
No entanto, o presente caso destaca-se de forma evidente por fazer uso do instrumento político-
124
processual denominado Suspensão de Segurança (SS)128, utilizado para suspender a “eficácia e
efeitos de decisão judicial colegiada”, sob ordem do Presidente do Tribunal (SILVA, 2007).
Em outras palavras quer dizer que, o Tribunal Regional pode suspender por questões de
“ocorrência de grave lesão à ordem, a saúde, à segurança e à economia pública” “decisões de
instancia inferior”, nesta oportunidade, suspender o direito à consulta prévia, direito que tinham
as comunidades ou povos indígenas de ser ouvidos como o determina a Constituição art. 231,
§3° e o art. 6 da Convenção 169 da OIT, por motivos de ordem nacional (SILVA, 2017, p. 221).
Daí que o discurso e o fundamento do presidente do STF para suspender a decisão “que
determinava que os povos indígenas atingidos pela usina hidrelétrica fossem ouvidos, como
determina a Constituição Federal”:
[...] mesmo diante de procedimentos nulos de licenciamento ambiental é de que o
projeto é importante para a manutenção da ‘ordem e economia públicas’, mesmo não
cumprindo as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos socioambientais,
ignorando a supremacia do interesse público ambiental (SILVA, 2017, p. 221).
Nesse mesmo sentido, outro caso também relevante que deve ser referido e a construção
da hidroelétrica do caso do Complexo Hidroelétrico do Tapajós (UHE São Luiz do Tapajós,
Pará) promovida pelo Ministério Público Federal em face de União, IBAMA, ANEEL,
Eletrobrás e Eletronorte, que reconhece a obrigação de consultar as comunidades tradicionais
de Montanha e Mangabal entre muitas outras afetações pelos impactos que o projeto ocasionou.
Recurso da Suspensão de Segurança (SS) que também foi empregado para a paralização
das obras e processo de licenciamento ambiental, “até que fosse realizada pelo Congresso
Nacional a oitiva constitucional dos povos indígenas [...] sendo demostrada a violação ao direito
de consulta livre, prévia e informada”, em razão a que “a decisão atenta por se tratar de local
sagrado e a irreversibilidade dos impactos da obra os povos indígenas e seus territórios,
demonstrando que a paralisação não geraria apagão energético no Brasil [...]” (SILVA, 2017,
p. 222).
Infelizmente nesse contexto foi que a “Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e
a União interpuseram pedido de suspensão da segurança concedida, afirmando que a
paralisação da obra acarreta lesão grave à ordem econômica e administrativa” (SILVA, 2017,
p. 222). Acrescentando Flavia Trindade (2016) que “o instituto da SS vem sendo utilizado pelo
Estado brasileiro na contramão da efetivação de direitos fundamentais, camuflando-se na
justificativa de atender o bem comum quando, em realidade, está atendendo interesses
meramente econômicos” (p. 268-270).
128 Instrumento que foi criado pela Lei 4.348 de junho de 1964, sob consideração de controlar as decisões contrarias
ao regímen militar, recriado novamente em 2016 mediante a Lei n° 12.016 de 07 de agosto (Silva, 2007).
125
Caso que se caracterizou pela aplicação não sou do SS, senão também da “Suspensão
de Liminar e Antecipação de Tutela” (SLAT)129, com a mesma função que a anterior, que
“permite ao presidente de um tribunal suspender a execução de sentenças e liminares proferidas
por juízes de instância inferior”.
As suspensões estão sendo questionadas pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) por ser “declarada sua incompatibilidade com a Convenção Americana de
Direitos Humanos (CADH)” (SILVA, 2017, p. 223).
Antes de discutir um dos casos mais controversos da jurisprudência é essencial referir-
se à transposição do Rio São Francisco, outro dos casos reconhecidos pela afetação de 38
territórios habitados por povos indígenas, uma vez que esta atividade gerou fortes
deslocamentos como consequência da exploração nessas zonas, vulnerando mais uma vez seu
direito a consulta (ROJAS, 2016).
Mesma situação apresenta na construção da Linha de Transmissão Manaus- Boavista na
Terra indígena Waimiri Atroari, que foi projetada sem a consulta aos povos indígenas, com
apoio no plano governamental chamado “Aceleramento do Crescimento” (PAC) que visa
aumentar o desenvolvimento na região norte do país (ROJAS, 2016).
Em relação ao caso Raposa Serra do Sol, considerado como precedente para as decisões
que envolvem a demarcação de terras dos povos indígenas e a consulta prévia, que traça
diretrizes constitucionais muitas delas contraditórias com os princípios internacionais,
estabelece 19 condições para a utilização das terras e os direitos territoriais.
Entre as condicionantes no julgamento da Petição 3.388 Roraima enuncia-se:
1. O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras
indígenas (art. 231, § 2º, da Constituição Federal) pode ser relativizado sempre
que houver, como dispõe o art. 231, 6º, da Constituição, relevante interesse
público da União, na forma de lei complementar.
2. O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e
potenciais energéticos, que dependerá sempre de autorização do Congresso
Nacional.
3. O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e lavra das riquezas minerais, que
dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional assegurando-lhes a
participação nos resultados da lavra, na forma da Lei.
4. O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se
for o caso, ser obtida a permissão de lavra garimpeira.
5. O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política de defesa
nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais
intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de
alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de
cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes (Ministério da Defesa e
Conselho de Defesa Nacional), serão implementados independentemente de
consulta às comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI.
129 Regulado pela Lei 8.437 de 30 de junho de 1992.
126
6. A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito
de suas atribuições, fica assegurada e se dará independentemente de consulta às
comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI.
7. O usufruto dos índios não impede a instalação, pela União Federal, de
equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte,
além das construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União,
especialmente os de saúde e educação.
8. O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a
responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
9. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela
administração da área da unidade de conservação também afetada pela terra
indígena com a participação das comunidades indígenas, que deverão ser
ouvidas, levando-se em conta os usos, tradições e costumes dos indígenas,
podendo para tanto contar com a consultoria da FUNAI.
10. O trânsito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na área
afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
11. Devem ser admitidos o ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios no
restante da área da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela
FUNAI.
12. O ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios não pode ser objeto de
cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das
comunidades indígenas.
13. A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não poderá
incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, equipamentos
públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos
e instalações colocadas a serviço do público, tenham sido excluídos
expressamente da homologação, ou não.
14. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato
ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta
pela comunidade indígena ou pelos índios (art. 231, § 2º, Constituição Federal
c/c art. 18, caput, Lei nº 6.001/1973).
15. É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou
comunidades indígenas, a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como
de atividade agropecuária ou extrativa (art. 231, § 2º, Constituição Federal, c/c
art. 18, § 1º. Lei nº 6.001/1973).
16. As terras sob ocupação e posse dos grupos e das comunidades indígenas, o
usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras
ocupadas, observado o disposto nos arts. 49, XVI e 231, § 3º, da CR/88, bem
como a renda indígena (art. 43 da Lei nº 6.001/1973), gozam de plena
imunidade tributária, não cabendo à cobrança de quaisquer impostos, taxas ou
contribuições sobre uns e ou outros.
17. É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada.
18. Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas são
inalienáveis e indisponíveis (art. 231,§ 4º, CR/88).
19. É assegurada a participação dos entes federados no procedimento
administrativo de demarcação das terras indígenas, encravadas em seus
territórios, observada a fase em que se encontrar o procedimento.
Embora a decisão do Tribunal trate sobre a demarcação de terras, ele integrou o usufruto
dos recursos naturais das terras e de sua propriedade pelos povos indígenas. O caso em concreto
girou entorno ao Parque Nacional Do Monte Roraima, criado dentro da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol habitado pelas etnias Ingarikó e Macuxi no lado brasileiro, pois o Monte Roraima
pertence também ao Estado da Venezuela, da Guiana e do Brasil (SILVEIRA, 2010).
127
A ocupação e usufruto das terras da Raposa foram inicialmente reconhecidas aos povos
indígenas pelo Governo do Amazonas, porém com o estabelecimento de fazendas, aumento de
rebanhos, a produção de garimpo, arroz, entre outras atividades levaram à expulsão dos
indígenas para outras terras, gerando mais inconvenientes e oposição na instalação de unidades
militares pelo Exército Brasileiro (SILVEIRA, 2010).
Foi somente com a decisão da Reclamação 2.833 que Supremo Tribunal Federal
ampliou sua jurisdição e deu início ao caso sobre a demarcação da Terra Indígena Raposa,
enfrentando daí em diante ações jurídicas como a Petição 3.388- Ação Popular com decisão em
20 de maio de 2005 contra a União (SILVEIRA, 2010).
No caso concreto, houve vários os votos, entre eles o voto do Ministro Carlos Ayres
Brito que argumentou principalmente que a demarcação das terras indígenas deveria ser feita
sempre que os povos indígenas tivessem a posse e a ocupação das terras no dia da promulgação
da Constituição, isto é, o dia 5 de outubro de 1988, criando o que foi chamado de “Marco
Temporal”.
Além de realizar a demarcação com base na existência de uma relação real e efetiva do
uso de forma permanente e não temporário de acordo com suas tradições, costumes e
caracterizados pela preservação dos recursos naturais deve ressaltar, constituindo o que foi
definido como “marco da tradicionalidade da ocupação” (SILVEIRA, 2010).
O problema é que, até a data da promulgação da constituição muitos dos povos e
comunidades indígenas não estavam nas terras, resultados de muitas circunstâncias externas
que os obrigou a abandoná-las. Tentando depois da promulgação retomar a seus territórios, mas
que isso representou de acordo ao marco temporal outro problema como foi a apropriação
ilegítima de território (STRECK, 2018).
Ao considerar que muitos dos povos indígenas não estavam nas terras, o magistrado
Ayres Brito configura uma exceção denominada “renitente esbulho”, situação caracterizada
pelo efetivo conflito possessório demarcado desde o passado até o marco temporal definido,
isto é, até o momento da promulgação da Constituição em 05 de outubro de 1988 (SILVEIRA,
2010).
Para os povos interessados na titulação das terras deve-se, por conseguinte demostrar
desde o momento em que encontravam em disputa pela posse, ou que haviam sedo despojados
em breve, pois caso contraria não aplicaria a exceção. No entanto, o caso da Raposa Cerro do
Sol é uma exceção ao renitente esbulho, uma vez que as terras foram declaradas indígenas
mesmo que os nativos não tivessem a posse da terra dentro do marco temporal (SILVEIRA,
2010).
128
O Caso da Raposa Serra do sol, por tanto, não se trata de um caso isolado, uma vez que
seus efeitos sobre o entendimento de que as terras devem ser demarcadas conforme os 19
princípios vai orientada para todos os demais processos que tratam o mesmo tema, outorgando
aos povos indígenas uma limitação territorial que desarmoniza com os aspectos internacionais.
Em suma, as decisões judiciais apresentaram avanço no reconhecimento dos direitos
dos povos e comunidades, principalmente no Brasil, onde a interação judicial é menor em
relação à Colômbia, no entanto, se observou como destacam-se os interesses políticos e
econômicos com Políticas neoliberais por sobre a proteção das liberdades indígenas.
Cenário visível não apenas da adoção de decisões impostas que favorecem a
implementação de projetos, mas também de outros tipos de medidas que justificam sua
implementação, agravando a vulneração dos direitos dos povos indígenas em situações de
grande impacto.
d) Novas iniciativas como forma de resistência e reinvindicação de seus direitos
Por todo o anterior, em 2012, as comunidades indígenas e quilombolas apresentaram
perante a OIT denúncias sobre a marcada violação dos direitos humanos, a omissão e a falta de
aplicação de seu direito a consulta, a execução de atividades que estavam degradando o meio
ambiente e ás comunidades, extinguindo suas tradições, seus costumes e incluso fisicamente;
razão suficiente que incentivou à formação de um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI).
O GTI tentou criar um processo de regulamentação de consultas prévias composto por
diversos órgãos e entidades governamentais que meses depois foi discutido com representantes
indígenas e quilombolas (BRASIL, 2015).
No debate sobre a iniciativa de criar um marco regulatório para as comunidades
indígenas, apresentou uma fortemente oposição, inicialmente pela alteração da Portaria nº 303
da Procuradoria Geral da União (AGU)130, que invocou a incorporação dos componentes do
caso Raposa Serra do Sol relacionada à demarcação de terra.
Isso, porque como foi estabelecido de acordo com o Supremo Tribunal Federal na
Petição 3.388 - Roraima (Caso Raposa Serra do Sol) afeta diretamente os direitos dos povos
indígenas sobre suas terras, territórios e consequentemente sobre suas vidas.
Com as atribuições, a AGU resolve, portanto, na petição de seu art. 1º, “Fixar a
interpretação das salvaguardas às terras indígenas, a ser uniformemente seguidas pelos órgãos
130 “órgão que tem a incumbência de defender juridicamente a administração pública federal e a defesa dos
direitos coletivos indígenas” (ROJAS, 2016, p. 17).
129
jurídicos da Administração Pública Federal direta e indireta” fixando os 19 pontos mencionados
(Portaria nº 303, de 2012).
Para Biviany Rojas (2016), a Portaria nº 303, de 2012,
[...] não tem status de lei, ela reflete no posicionamento institucional da AGU e acaba
por restringir diversos direitos indígenas na medida em que limita a linha de defesa
pelos Advogados da União nos casos judiciais e extrajudiciais (p. 17).
Essa decisão é restritiva por muito para as organizações indígenas e quilombolas, pois
é contrária aos padrões internacionais estabelecidos na Convenção 169 da OIT ratificada pela
Constituição Federal de 1988. A regulamentação a esse respeito mina os direitos dos povos e
também degrada o espírito do direito de consulta prévia o qual deve ser feito de boa fé.
Das manifestações e oposições por parte dos movimentos indígenas contra o processo
de regulação, diversos espaços de conversação foram criados, expondo pontos que evidenciam
a regressão na integração dos direitos dos povos indígenas, ao mesmo tempo que estimularam
o apoio em processos de participação e autônoma no processo de consulta.
Com base nas críticas feitas pelos povos indígenas e quilombolas ao GTI, admitiu-se
que foram realizadas várias reuniões com as comunidades quilombolas e sua Coordenação
Nacional (CONAQ), totalizando nove reuniões informativas em 24 estados, com
aproximadamente 800 representantes, estudos que foram concluídos em 2014 com a
apresentação de algumas recomendações para a criação de uma regulamentação adequada para
as consultas (ASCOM, 2015).
Assim como os povos indígenas, a ASCOM (2015) também relatarou que a relação entre
a GTI e a FUNAI foi bastante positiva, uma vez que” defendeu a importância dos povos
indígenas discutirem protocolos internos às suas comunidades, que seriam pontos de partida
para um regramento geral de procedimentos de consulta”.
O processo permitiu o surgimento de iniciativas que buscam o fortalecimento de sua
autodeterminação, cultura, etnicidade e seus território através de um documento próprio
realizado pelos povos denominado “protocolo autônomo de consulta prévia”. Texto que até o
momento vem se manifestando como um processo de autodeterminação dos povos étnicos,
perante a todas as medidas que possam afetá-los.
Isso, porque os povos indígenas no Brasil estão sendo afetados pela falta de interesse do
Estado, a falta de cumprimento e compromisso com as responsabilidades constitucionais e
internacionais. Os povos indígenas não têm a proteção necessária ou apoio suficiente para lutar
contra grandes projetos que possam afetá-los, porque os interesses vão além de sua proteção.
130
Surpreendentemente, apesar da agoniante realidade que vivem os povos e comunidades
no Brasil, eles continuam resistindo e construindo novas formas legais de luta pela proteção de
seu território, pois desde tempos imemoriáveis os povos sempre tem mantido una ligação direta
com a natureza, não só pelo aspecto econômico ou de supervivência, se não também pelo
aspecto cultural, ancestral e sagrado que intensifica sua existência e das gerações futuras,
simbolizando a luta pela autonomia e identidade étnica.
2.5. Considerações finais sobre dois países cheios de contrastes e similitudes
Nesse contexto, o avanço legal da proteção dos direitos indígenas apresentou em toda a
América Latina mecanismos importantes para o reconhecimento de suas terras, território,
recursos naturais, identidade étnica e cultural, organização interna, governo e espiritualidade.
Concepções que tentaram dissipar aspectos colonizadores de dominação, de
discriminação e exclusão, para integrar elementos que fortalecimento de suas tradições,
costumes, crenças e autodeterminação, a fim de garantir suas liberdades, sua integridade e
dignidade.
Nessa lógica, a legislação e a jurisprudência foram baseadas no direito de
autodeterminação dos povos e tribais indígenas para garantir a proteção desses direitos. No
entanto, a construção dessa estrutura, dadas as condições, limitações e lutas de cada povo, levou
ao estabelecimento de um paradigma claramente verificável, como foi a permanência de um
sistema jurídico que configura novas formas de reconhecimento, mas que continua dentro dos
padrões coloniais capitalistas de limitação, unificação e individualismo.
Por isso mesmo, Carlos Marés (2018) menciona:
(...) os Estados até admitem que existe um Direito próprio dos povos indígenas, mas
inferior porque deve se pautar pelos direitos estabelecidos pelo sistema jurídico
nacional ou pelos direitos humanos internacionalmente reconhecidos. (...) o Direito
estatal é furto de uma sociedade profundamente dividida, onde a dominação de uns
pelos outros é o primado principal e o individualismo, o marcante traço característico.
A distância que medeia o Direito indígena do estatal é a mesma que medeia o
colectivismo do individualismo (p. 74).
Nesse contexto, considerando a situação da Colômbia, do Brasil, e a região Silvina
Ramírez (2009) acrescenta,
É por isso que, quando tudo apontava – uma vez alcançado esse reconhecimento nas
Cartas Magnas dos Estados – para um inevitável e iminente processo de
transformação das “práticas”, o certo é que com quase duas décadas desse movimento,
não foram produzidas mudanças perceptíveis e capazes de traduzir as inovações
constitucionais em ações concretas. Seja por interpretações ambíguas que exigem uma
legislação secundária, seja por não existir o compromisso ou a vontade política para
a implementação do conteúdo das normas constitucionais, esse reconhecimento não
tem se mostrado efetivo a ponto de garantir os direitos dos povos indígenas. As
promessas que expressavam esse movimento constitucional não puderam ser
cumpridas em um prazo razoável (RAMÍREZ, 2009, p. 217).
131
Em resumo, certamente as regulamentações demostram as acentuadas lacunas. Os
Estados hão avançando no reconhecimento multicultural e pluricultural, porém o enfoque
hegemônico ainda prevalece e se faz sentir, especialmente na relação com os povos indígenas
e tribais que com frequência são deslocados pelos interesses econômicos e governamentais da
cultura dominante marcada pelo eurocentrismo, pela distinção social classista, que exclui e
discrimina pelo ser ‘diferentes’.
132
3. PROTOCOLOS AUTÔNOMOS: RE-AFIRMAÇÃO DO DIREITO DE
AUTODETERMINAÇÃO E IDENTIDADE DOS POVOS INDÍGENAS.
No primeiro e segundo capítulo, além da apresentação e discussão do marco teórico,
incluindo a discussão sobre o direito de consulta e consentimento prévio, livre e informado,
consideradas a análises do objeto de estudo, também foi realizada uma aproximação com os
direitos dos povos historicamente afirmados a nível internacional e nacional (Colômbia e
Brasil) identificados por fortes transformações normativas.
Com isso, observou-se como o quadro normativo atual pretendeu superar toda noção e
posicionamento integracionista ou reducionista dos povos indígenas e tribais, no intuito de
superar os erros das décadas anteriores, especialmente em sua negação ao direito à diferença,
cultura, território e autonomia, nos quais a noção de colonialismo ainda se encontrava muito
presente.
Em razão desse cenário, normas, jurisprudência e políticas atuais têm procurado por
meio de padrões internacionais, garantir um diálogo entre povos indígenas, comunidades
tradicionais e Estado, a fim de que o ponto central seja o reconhecimento de seus direitos, assim
como sua proteção e seu fortalecimento.
Infelizmente, a permanência do sistema neoliberal, o aumento de políticas econômicas
e a degradação ambiental têm gerado um grande desconforto social pelo fato de que a concepção
de desenvolvimento incentiva a exploração e impacta nas comunidades e povos de forma direta.
Como Rodolfo Stavenhagen (2010) assevera: “E é que por trás desses debates
encontram-se diferentes concepções de desenvolvimento. Para a civilização ocidental
capitalista, a natureza são apenas ‘recursos naturais’ (...). Ao contrário da concepção dos povos
originários, que sabem que “sua relação com a natureza não é apenas econômica, mas cultural
e espiritual. (...). Eles sabem que, se seus territórios são destruídos ou esgotados, sua própria
sobrevivência mesma que corre o risco” (p. 7).
O cenário que foi se construindo como resultado dos processos de reconhecimento
cultural, pois, por trás desse pluralismo cultural, enfatizam-se características que ampliam a
desigualdade. A ideologia capitalista elimina por tanto toda hierárquica idêntica possível
constituída por sujeitos sociais que possa gerar uma cultura global (GALFISA, 2017).
Ou, dito de outra forma:
Es un proceso de imposición mediante el cual la cultura homogeneizada occidental
pretende borrar las demás culturas. Nadie escapa a esta lógica transnacional. A diario
los pueblos más remotos son obligados a subordinar su organización económica y
133
cultural a los mercados nacionales, que a la vez son convertidos en satélites de las
transnacionales131 (GALFISA, 2017, p. 16).
Além de fortalecer seu poder manifesto na homogeneização de valores e conceitos
disfarçados como "verdade e tolerância, unidade e pluralidade, democracia e competitividade,
liberdade e igualdade (GALFISA, 2017, p. 15). Isso porque, o modernismo sob a lógica do
capitalismo procura a consolidação de uma personalidade individualista, voltada às
necessidades, interesses e desejos subjetivos, reprodutores de mais dominação, exploração e
exclusão (GALFISA, 2019, p. 17).
Na América Latina, diferente do continente europeu, experimentam-se uma série de
fatores que intensificam a gama de precariedades sócias e culturais, destacando-se dentro deles,
a militarização, desterritorialização, ameaças, assassinatos, etc., que ressaltam a relação de
poder e imposição sobre os grupos sociais e indígenas.
A situação de violência está ligada e especialmente agravada nos povos indígenas pelo
reconhecimento, restituição e proteção do seu direito à terra, território e recursos naturais, que
por sua vez estão intimamente ligados ao seu direito à autodeterminação.
Na Colômbia, esse estado de violência, permanente há mais de um século, atravessa
uma situação muito delicada, mesmo depois da assinatura do acordo de paz. Nas cifras do ano
de 2019, no período entre janeiro e novembro, foram contabilizados um “total de 10.468
homicídios, 2,34% a mais que no mesmo período do ano passado, quando se registraram
10.229, segundo dados oficiais” (NODAL, 2019, pp), dentro dos quais, de acordo com a
Organização Nacional Indígena da Colômbia (ONIC), até outubro, havia sido registrado “um
total de 120 assassinatos indígenas132, equivalente, em média, ao crime de 1 indígena a cada 72
horas” (EL TIEMPO, 2019, p.p).
Embora a lista seja longa, essa vitimização sistemática vincula entre os principais fatores
a recusa de participar do narcotráfico, a defesa no âmbito de um modelo extrativo de
desenvolvimento econômico, a presença e a reconfiguração de atores armados, e o controle
territorial.
Por outro lado, a situação do Brasil não é indiferente, o Relatório publicado pelo
Conselho Indigenista Missionário (Cimi) em 2017: Violência contra os povos indígenas no
131 É um processo de imposição através do qual a cultura ocidental homogeneizada visa apagar outras culturas.
Ninguém escapa dessa lógica transnacional. Todos os dias, os povos mais remotos são obrigados a subordinar sua
organização econômica e cultural aos mercados nacionais, que ao mesmo tempo são convertidos em satélites
transnacionais (Tradução livre- GALFISA, 2017, p. 16). 132 Isto é, uma taxa de crescimento de 77% registrada em comparação com o ano de 2018. Os povos indígenas que
foram os mais afetados pelo aumento da violência são o povo da N asa, com 37% das vítimas, seguido pelo povo
Awá, com 31%, e a nação Emberá, com 20% dos casos (CNTI, 2016, pp).
134
Brasil, evidenciou-se que a agressão continua. Nesse ano, foram registrados 110 assassinatos,
14 casos de ameaças, 12 lesões corporais dolosas, entre outros tipos de violência confirmada
pela Secretaria Especial de Saúde (SESAI) (CIMI, 2017, p. 82-107).
Entre as razões que permitem esta vulnerabilização de direitos humanos, encontram-se
a pressão feita por indivíduos que ocupam ilegalmente as parcelas de terras indígenas,
traficantes de drogas e fazendeiros insatisfeitos com o direito dos povos indígenas a seu
território e sua livre circulação (CIMI, 2017). Além de consolidar-se outro tipo de violência,
contra a regularização de terras, invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais,
grilagem e danos diversos ao patrimônio (CIMI, 2017).
Porém, os povos indígenas continuam em constante luta e resistência há séculos, contra
os diversos eventos que impedem o exercício de seus direitos com leviandade, seja por ação ou
omissão do Estado na proteção de seus direitos constitucionais.
Quer isto dizer,
(...) A negligência premeditada dos que vivem dentro dos poderes públicos, por ações
e omissões, são as sementes nefastas geradoras da morte e da miséria daqueles que
clamam por Justiça em nosso país. A mera existência dos povos e das comunidades
tornou-se um fardo pesado para os que administram o país com as lentes da
exploração, expropriação e expansão. Enxergam na vida e nos bens da natureza apenas
possibilidades para consumir e enriquecer, em detrimento dos direitos humanos,
ambientais, culturais (CIMI, 2017, p. 9).
Com a necessidade de se afastar de padrões globais, os povos indígenas e tribais, por
meio da desconstrução de perspectivas e de elementos sob a lógica civilizatória capitalista,
procuram a construção de novas formas de comunicação em que suas próprias práticas comuns
possam visualizar um horizonte de transformação possível.
Isso porque depois de muitas crises, surgem “algumas alternativas reais e firmes que
recuperam a possibilidade de sonhar com um mundo melhor” desde os lugares menos esperados
do planeta, principalmente de presença indígena, para contemplar “um mundo onde todos os
mundos se encaixam”, para abandonar a rígida ideia de construir uma sociedade com línguas e
culturas únicas (STAVENHAGEN, 2010, p.6).
Os protocolos próprios ou protocolos autônomos dos povos indígenas e comunidades
tradicionais surgem então, como o objetivo de melhorar o diálogo com o Estado. Ou melhor
dito por Carlos Marés (2019), “os protocolos são a tradução escrita dos consensos internos de
cada povo para se relacionar com os Estados Nacionais” (p. 39).
Isso, com o objetivo de evitar a vulneração dos direitos dos povos que estão atualmente
sendo vulnerados como direitos territoriais, direito à identidade étnica e cultural, direito ao
governo próprio, à autodeterminação, e à consulta e consentimento prévio, livre e informado,
135
que se relacionam de forma directa com os direitos fundamentais à liberdade, igualdade,
educação, saúde, e vida, responsáveis de sua proteção perante a todo tipo de medidas que
interfiram em seu desenvolvimento e vida com terceiros e o Estado.
3.1.A consulta a partir da visão dos Povos
Nesse sentido, antes de continuar o estudo, e passar a analisar a importância dos
protocolos autônomos para os povos indígenas, sua estrutura e natureza vinculativa, é
necessário fazer alusão à consulta desde a visão dos povos e comunidades e sua compreensão
espiritual.
Pois bem, desde o primeiro contato, os europeus sempre mantiveram um tratamento de
inferioridade para com os povos originários, discriminando, unificando, mas ao mesmo tempo
excluindo, descartando e criando preconceito, além do desejo de eliminar qualquer tradição,
religião, cultura, organização ou identificação evidente.
Certamente, hoje é reconhecido que os povos indígenas e comunidades tradicionais têm
suas formas de organização, identidade, diversidade cultural, língua, costume, direito próprio,
etc., em comparação com a discussão que questionava a existência ou não de um direito e
organização entre eles.
O reconhecimento deste último foi resultado de uma luta para exercer seu direito à
propriedade coletiva do território, à participação, à autodeterminação e propor um novo modelo
de sociedade que integrasse a diversidade cultural e distintas perspectivas de desenvolvimento.
Para os povos, embora essa identificação normativa torne-se fundamental com a
consolidação dos Estados Nacionais, é através do reconhecimento da lei de origem de
observância obrigatória que a comunicação deles com os indivíduos e com o Estado têm
sentido, pois, estabelece-se como o ponto de partida para esse relacionamento.
La Ley natural es a) un orden establecido en la naturaleza, vigente e invariable para
todos; b) con su cumplimiento se contribuye al orden y al equilibrio de la vida -visible
e invisible-, y la permanencia del saber y del conocimiento; c) es un mecanismo de
defensa de la cultura, de la autonomía, del territorio y del gobierno propio: es “un
camino que marca el destino humano tanto a nivel individual como colectivo”; d) es
anterior y rige antes que las Leyes escritas promulgadas por el Estado y; e) es superior
a las normas nacionales, en tanto es Ley de principio, dada desde la misma creación
del mundo “para crear nuevas leyes superiores se necesitaría crear un nuevo mundo”
(Protocolo del pueblo Embera)133 (OACNUDH, 2013, p. 14, 15).
133 A lei natural é a) uma ordem estabelecida na natureza, em vigor e invariável para todos; b) sua realização
contribui para a ordem e o equilíbrio da vida - visíveis e invisíveis - e a permanência do conhecimento e do
conhecimento; c) é um mecanismo de defesa da cultura, autonomia, território e autogoverno: é "um caminho que
marca o destino humano, individual e coletivamente"; d) é anterior e rege as leis escritas promulgadas pelo Estado
e; e) é superior às normas nacionais, pois é uma lei de princípio, dada desde a própria criação do mundo "para criar
novas leis superiores, seria necessário criar um novo mundo" (Protocolo do Povo Embera) (Tradução livre-
OHCHR, 2013, p. 14 15).
136
Assim, enfatiza-se a conexão que os povos indígenas têm com a natureza, também
chamada de Mãe Terra, PachaMama, Gaia, e a concepção de que todo o universo está vivo, não
entendido como partes separadas, mas como um tudo em sua totalidade, a terra, o território, a
água, as plantas, os rios, a comunidade humana, é sagrada e, portanto, merece respeito.
De acordo com Victor Pinto (2012), a compreensão da natureza e do mesmo Deus no
Ocidente está separado, pois, “o Antigo Testamento diz: 'nascemos para ser os donos do
mundo'. O mito indígena diz que somos a própria terra, a consciência da terra, os olhos da terra
e a voz da terra, o Ñuke mapu, o Pachamama” (Tradução livre -p. 103). O que claramente
demostra a ausência da consciência da Natureza como entidade que completa a existência no
mundo atual de acordo com a compreensão indígena.
Assim, nas palavras de Gladys Vargas Cervantes de Arequipa-Perú o desafio no
entendimento de identidade e cultura não deve ser realizada de forma superficial,
No podemos hablar de la cultura sino comprendemos la espiritualidad sino conocemos
la cosmovisión. Nosotros la vivimos. La cosmovisión es la relación frente a lo que
nos rodea. Es una energía en potencia. Es la divinidad que aún no está del todo
manifiesta. Para nosotros se manifiesta como una haz de luz al que representamos
como el Inti, el Sol, el Taita y su complemento la Luna Quilla134 (PINTO, 2012, p.
84).
Por essa razão, para povos indígenas, o território, os recursos, a natureza, tudo em suas
diversas dimensões, vai além do material, do tangível, tudo tem um objetivo, e por isso deve
ser protegido e preservado.
Bom, é claro que tal entendimento depende da cosmovisão de cada povo, mas
majoritariamente alguns deles realizam um ritual de consulta ou diálogo com a Mãe Terra, que
nas palavras dos povos étnicos da Colômbia “sempre existiu”, pois é um “processo espiritual,
próprio e autônomo, [...] que é feito à natureza e seus espíritos e cuja resposta é assumida e
cumprida. Não é negociada” (OACNUDH, 2013, p. 21).
Certamente, uma consulta deve cumprir alguns ritos e requisitos especiais, além de
serem os sábios, mamos e palabreros os executores da consulta, para eles não é um processo
que possa ser condicionado ou com o interesse de se obter benefício.
Isso ocorre porque “quando os povos fazem perguntas espirituais perguntam ou pedem,
elas já sabem que a resposta para a mesma pergunta sempre será a mesma, porque o mandato
espiritual não muda”, ou que quer dizer é que eles compreenderam é que “a consulta é um
134134 Não podemos falar sobre cultura a menos que entendamos a espiritualidade, a menos que conheçamos a visão
de mundo. Nós vivemos isso. A visão de mundo é a relação com o que nos rodeia. É uma energia potencial. É a
divindade que ainda não está totalmente manifesta. Para nós, ela se manifesta como um raio de luz que
representamos como Inti, o Sol, o Taita e seu complemento, Quilla a Lua (Tradução livre- PINTO, 2012, p. 84).
137
mandato para gerar ordem, para não danificar o território” (Tradução livre- OACNUDH, 2013,
p. 22).
Para os povos, a consulta é um espaço autônomo com dimensões culturais e espirituais,
através da qual resolvem situações ou conflitos internos, como casamentos, permissão para
ocupar terras, situações ou conflitos entre famílias, desobediência etc. (OACNUDH, 2013).
No entanto, existem casos especiais, que devido ao tamanho de seu impacto não são
consultáveis, por exemplo, os povos da Serra Nevada de Santa Marta expressam que: “No le
podemos pedir permiso a la madre tierra para sacarle sus órganos vitales”, uma vez que, são
consultadas questões que beneficiam os interesses coletivos, que não causam danos à
integridade espiritual, cultural, social e ambiental dos povos (OACNUDH, 2013, p. 22).
Por tudo isso, é que os povos indígenas observam a consulta do Estado,
independentemente das condições que foram se consolidando no processo, como forma de
proteger seus direitos, especialmente seus direitos ancestrais. Infelizmente, como produto da
construção social, econômica, política, cultural, espiritual e a combinação de muitos outros
fatores, a natureza tem sido observada como um recurso de exploração.
No último ciclo de transformações constitucionais, conhecido como Novo
Constitucionalismo Latino-Americano, presente no Equador e na Bolívia que estabeleceu
conceitos como Buen Vivir-“Sumak Kawsay” e Vivir Bien- “Suma Qamaña”, baseados no
respeito à Mãe Terra e a distinção da diversidade de nações que procuram frear o extrativismo,
apresentam-se várias incongruências referentes aos textos constitucionais e a realidade.
Então a questão aqui é, até que ponto é realmente reconhecida a natureza como entidade
viva sob os interesses capitalistas e até onde se limita sua exploração?
Silvia Cusicanqui expressa que se apresentaram alguns avanços importantes na
Constituição da Bolívia, não somente com a integração das palavras com seus significados, mas
também nos fatos, ocorre que a incorporação desses conceitos foi seletiva ao ponto de tornar-
se a palavra um emblema, uma espécie de mostra que os declarasse como Estados pluriculturais
por não incorporar conceitos ocidentais (ALICE CES, 2014).
Entretanto, na realidade não é necessário nenhum esforço para entender seu significado,
nem origem
Vivir bien, quiere decir, hablar como gente y caminar como gente. Y hablar como
gente quiere decir escuchar antes de hablar, dos, decir cosas que sabes y no hablar de
lo que no sabes, y tres, refrendar tus palabras con tus actos. Y bueno, eso a nadie le
interesa saber eso, porque es justamente lo que los gobernantes no hacen, no escuchan,
138
no compatibilizan sus actos con las palabras y hablan de lo que no saben135 (ALICE
CES, 2014, min. 26:04– 26:40).
Certamente cada governo procura o desenvolvimento econômico e interesse geral, mas
a questão é até que ponto essa incessante busca de lucros no sistema neoliberal capitalista afeta
os povos, alimentando um sistema predatório,
Hoy la estrategia del sistema capitalista no se limita a cuestiones de propiedad y
distribución, sino que incorpora, con más fuerza, nociones como autodeterminación
y soberanía. El objetivo no es solo lograr el control sobre las posibilidades de vida
humana, sino también sobre los modos de (re)configurar la propia vida individual136
(GALFISA, 2017, p. XI).
3.1.1. Consentimento ou Veto
Inicialmente, deve-se lembrar, como foi mencionado, que cinco situações nas quais o
consentimento é obrigatório são reconhecidas internacionalmente: 1) a transferência de
populações, 2) medidas especiais de salvaguarda, 3) armazenamento ou permissão de materiais,
4) desenvolvimento de atividades e 5) Megaprojetos que possam afetar ou subsistência ou
subsistência.
Pois bem, em relação ao consentimento, a Declaração das Nações Unidas elevou o nível
de proteção dos direitos dos povos indígenas no processo da consulta prévia, uma vez que das
cinco (5) situações, três (3) estão explícitas em seus artigos, além de incorporar a obrigação do
Estado de reparar os danos feitos sem consulta (art.11), e de consultar e obter o consentimento
em qualquer projeto que afete as terras, territórios ou recursos dos povos (art. 32).
Entretanto, se a medida ou o projeto não encaixa nesse quadro, o Estado deve continuar
com sua obrigação e consultar, sem que a obtenção do consentimento seja requisita dentro do
processo. Mas é claro que essa consulta deve ser prévia, ou seja, deve ser realizada antes do
planejamento da medida ou atividade a ser executada, pois do contrário estaria vulnerabilizando
direitos fundamentais.
Por outro lado, há também hoje um consenso de que a Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB) exige a observância do princípio do consentimento livre, prévio e informado
como elemento fundamental da proteção jurídica conferida aos conhecimentos tradicionais
135 Viver bem, quer dizer, falar como pessoa e caminhar como pessoa. E falar como pessoa significa ouvir antes
de falar, dois, dizer coisas que você sabe e não falar sobre o que você não sabe, e três, endossar suas palavras com
suas ações. E bom, ninguém está interessado em saber isso, porque é exatamente o que os governantes não fazem,
não ouvem, não conciliam suas ações com palavras e falam sobre o que não sabem (Tradução livre- ALICE CES,
2014, min. 26:04– 26:40). 136 Hoje, a estratégia do sistema capitalista não se limita a questões de propriedade e distribuição, mas incorpora,
com mais força, noções como autodeterminação e soberania. O objetivo não é apenas obter controle sobre as
possibilidades da vida humana, mas também sobre os modos de (re)configurar a própria vida (Tradução livre-
GALFISA, 2017, p. XI).
139
associados à biodiversidade, fazendo uso de outras expressões, tais como “aprovação e a
participação dos detentores desse conhecimento” (artigo 8º, “j”), “consentimento prévio
fundamentado” (artigo 15) e “concordância prévia fundamentada” (artigo 19) (MARIA
GRABNER, 2015, p. 16), que em suma buscam o consentimento.
Em relação ao primeiro caso, de chegar a um acordo no processo de consulta, que
implica a existência do consentimento livre e expresso, a Corte Constitucional Colombiana tem
relatado que
El “consentimiento” entendido como una regla ha producido resistencia entre ciertos
sectores ajenos a los indígenas, que han manifestado que la consulta entendida como
un dialogo entre las partes iguales donde existen obligaciones reciprocas, no debe
entenderse como un derecho de veto a favor de las comunidades indígenas, ya que
esto podría dar pie a una contradicción normativa en un caso concreto donde al no
alcanzar un acuerdo, ni la aceptación de la comunidad indígena, se ha manifestado
que en esta situación existe el ejercicio de un derecho de veto por parte de la
comunidad (COLOMBIA, C-461-2008, 284)137.
Aqui, é fundamental elevar o contexto da Convenção 169 da OIT, pois, como Alan
Garcia (s.d.) assevera, o Tratado 169 da OIT, art. 6
[…] no incluye dentro de sus requisitos para que la consulta sea válida, la obtención
del consentimiento, aunque este si exige que la consulta tenga el objetivo de alcanzarlo
[…]. Dicho de otra forma, el consentimiento de la comunidad no es un elemento
crucial que otorgue valides o no a la consulta, son los medios y su aplicación los que
lo determinan138 (GARCIA, s.d., p. 247-248).
O que, por sua vez, não indica, segundo Maria Bragner (2015), que na realização da
consulta no âmbito da Convenção n. 169 da OIT, os “povos interessados” não disponham da
possibilidade de se opor, radicalmente ou dizer “não” às medidas legislativas e administrativas
que lhe são propostas pelos Estados nacionais (p. 29, 30).
À vista disso, o Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
referiu que:
[…] varios países y partes interesadas han adoptado una política por la cual no han de
seguir adelante con el proyecto si los pueblos indígenas no dan su consentimiento. El
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en su guía de referencia sobre la Declaración,
aconseja a sus miembros no dar curso a un proyecto si los pueblos indígenas no han
dado su consentimiento. El Estado o la parte que decide seguir adelante después de
que los pueblos indígenas no hayan dado su consentimiento entra en una zona gris
desde el punto de vista legal y se expone a una revisión judicial o a otro tipo de
137 O "consentimento" entendido como regra produziu resistência entre certos setores fora dos indígenas, que
afirmaram que a consulta entendida como um diálogo entre partes iguais, onde há obrigações recíprocas, não deve
ser entendida como um direito de veto em favor de Comunidades indígenas, pois isso poderia levar a uma
contradição normativa em um caso específico em que, por não chegar a um acordo, nem pela aceitação da
comunidade indígena, afirma-se que nesta situação existe o exercício do direito de veto a comunidade (Tradução
livre- COLOMBIA, C-461-2008, 284). 138 não inclui em seus requisitos a validade da consulta, obtendo o consentimento, embora isso exija que a consulta
tenha como objetivo alcançá-la [...]. Em outras palavras, o consentimento da comunidade não é um elemento
crucial que conceda validade ou não à consulta, são os meios e sua aplicação que a determinam (tradução livre -
GARCIA, s.d., p. 247-248).
140
mecanismo de recurso, que puede incluir tribunales internacionales, nacionales y
regionales, o ante las propias instituciones de los pueblos indígenas (ONU,
A/HRC/39/62, 2018, para. 28).
Isto porque, é inegável, o Consentimento possui uma “fundamentalidade intrínseca,
baseada no princípio da dignidade da pessoa humana”, principalmente porque essa dignidade
reside nos valores próprios e coletivos desses povos à autonomia e à autodeterminação
(GRABNER, 2015, p. 54).
A obtenção do não consentimento é o resultado de várias razões, entretanto
La circunstancia de no dar el consentimiento puede indicar también una falta legítima
de confianza en el proceso de consulta o en la iniciativa nacional. Así ocurre por lo
general en los países en que el reconocimiento de los pueblos indígenas o la protección
de sus derechos sobre tierras, recursos y territorios son insuficientes. Existen
numerosos casos de pueblos indígenas que son hostigados o detenidos o a los que
incluso se da muerte por resistirse a ofrecimientos de consulta que pueden hacerles
caer en una trampa139 (A/HRC/39/62, 2018, p.9, para 26.(c)).
É claro que a decisão não é a mesma para todos os povos por causa de suas
peculiaridades culturais, mas é inegável que em muitas ocasiões as consultas tornam-se uma
espécie de acordo com benefícios unilaterais ou fragmentados que impactam no
desenvolvimento, na unidade e equilíbrio das comunidades.
Para alguns povos, a oposição a determinado projeto ou medida não representa um veto
de forma explícita. Um diálogo mantido entre povos indígenas do Puerto Carreño, Colômbia
[…] exigen su derecho a la objeción cultural y la objeción ambiental. “Cuando
decimos no, nosotros estamos tomando una posición cultural, que se ve como veto,
pero no lo es; se dice cultural porque estamos tomando medidas para que no se nos
afecte la madre tierra, no nos afecten la cultura, nuestros derechos…”. El principio de
objeción cultural está ligado al derecho a opciones propias de desarrollo (OACNUDH,
2013, p. 47).
Nessa lógica, foi apresentado um caso reconhecido internacionalmente por sua oposição
não apenas ao consentimento, mas também ao processo de consulta prévia, livre e informada.
O povo U'wa dos departamentos de Arauca, Boyacá, Santander e Norte de Santander passou
por um caso especial que deu origem a importantes contribuições no entendimento sobre a
consulta.
Em 1992, o primeiro pedido de exploração sísmica foi apresentado pela empresa de
petróleo ocidental da Colômbia (OXI) e seus parceiros, a empresa Shell, para exploração uma
área, chamada de o bloco “Samoré”. Em 1995 o Ministério do Meio Ambiente concedeu licença
139 A circunstância de não dar consentimento também pode indicar uma legítima falta de confiança no processo de
consulta ou na iniciativa nacional. Geralmente é o caso em países onde o reconhecimento dos povos indígenas ou
a proteção de seus direitos sobre terras, recursos e territórios é insuficiente. Existem numerosos casos de povos
indígenas que são perseguidos ou detidos ou mesmo mortos por resistir a ofertas de consulta que podem levá-los
a cair em uma armadilha (A / HRC / 39/62, 2018, p.9, para. 26.(c)).
141
a Ecopetrol e o OXI, momento a partir do qual a ação de tutela foi iniciada pelo povo U'wa dos
departamentos de Boyacá, Santander e Norte de Santander (GRUESO CASTELBLANCO,
Libia & OACNUDH, 2009, p. 61, 62).
Como resultado de sua oposição ao projeto, as denúncias por negligência do Estado e
pelas ameaças de acabar com suas próprias vidas como último recurso, chegou a mãos
internacionais, a -CIDH-, -Escritório na Colômbia do Alto Comissariado da Colômbia das
Nações Unidas-, -OIT- e o -Programa de Sanções Não-Violentas e Sobrevivência Cultural da
Universidade de Harvard (Ponsacs)- Comissão da OEA-Harvard.
Após várias ações, discussões, relatórios e estudos, a missão OEA-Harvard apresentou
uma série de recomendações que buscaram proteger os direitos do povo Uw'a, uma vez que
manifestaram que:
[…] la consulta no es algo propio de ellos sino algo impuesto por la “ley del blanco”.
Los indígenas U’wa manifiestan que siempre han dicho no a la consulta, por un
mandato espiritual leído de la tierra por los sabedores. Públicamente, han dicho al
gobierno a las empresas, a Colombia y al mundo: “No a la consulta previa, porque
nosotros tenemos nuestros principios y las leyes propias. A nosotros nuestros
legisladores ancestrales y divinos nos enseñaron que el territorio es sagrado y no es
negociable. […] Nuestra ley no está escrita en papel, no se lee en papel; nuestra ley
está escrita en la tierra, en el aire, en el agua, en las plantas, en cada animal; por eso
nuestra ley se conoce y se lee con la espiritualidad U’wa”. Agregan que “La consulta
previa es un cuchillo de doble filo, por eso nosotros cada día tenemos que buscar la
defensa y para nosotros no está en los papeles, ahí está es el engaño, para nosotros la
defensa está en el espíritu. […] Nosotros no nos guiamos por lo que dice la
constitución, ni el convenio de la OIT; los U’wa nos guiamos por lo que dice la madre
tierra […] y nosotros ya le dijimos a Colombia y al mundo su respuesta “No a la
Consulta Previa140”141 (OACNUDH, 2013, p. 26).
Assim, dentro desse contexto, as recomendações referiam-se à suspensão da execução
dos planos de exploração com o fim de criar condições de proteção para o povo, a normalização
do processo de extensão do abrigo dos U'wa, o respeito pelas pessoas em qualquer caso de
negociação e diálogo e, finalmente, a concretização de uma norma especial para o processo de
consulta no país (GRUESO CASTELBLANCO & OACNUDH, 2009, p. 63).
140 Os povos expressam que deve ser especificado que, quando diz NÃO à consulta prévia, é porque o próprio
processo de consulta já foi realizado, ou seja, você já tem uma posição sobre o consentimento para fazer os
processos de consulta (Tradução livre- OACNUDH, 2013, rodapé 26). 141 (...) a consulta não é algo próprio, mas algo imposto pela "lei do branco". Os índios u'wa afirmam que sempre
disseram não à consulta, por um mandato espiritual lido da terra pelos conhecedores. Publicamente, eles disseram
ao governo para as empresas, a Colômbia e o mundo: “Não à consulta prévia, porque temos nossos próprios
princípios e leis. Nossos legisladores ancestrais e divinos nos ensinaram que o território é sagrado e não é
negociável. [...] Nossa lei não está escrita no papel, não é lida no papel; nossa lei está escrita na terra, no ar, na
água, nas plantas, em cada animal; é por isso que nossa lei é conhecida e lida com a espiritualidade de U'wa. " Eles
acrescentam que “a consulta prévia é uma faca de dois gumes, é por isso que temos que buscar defesa todos os
dias e para nós não está nos jornais, há o engano, para nós a defesa está no espírito. [...] Não somos guiados pelo
que a constituição diz, nem pelo acordo da OIT; Os U'wa são guiados pelo que a Mãe Terra diz [...] e já dissemos
à Colômbia e ao mundo sua resposta "Não à consulta prévia" (Tradução livre- OACNUDH, 2013, p. 26).
142
Para Gloria Amparo Rodriguez (et.al) (2010) a luta dos povos e os resultados alcançados
foram produto de uma resistência não apenas legal, mas também física, com bloqueios e
confrontos com a força pública (p. 140) para defender o que eles consideram deles desde muitos
séculos atrás, e que lhes permite seu desenvolvimento e exercício de sua cultura.
Porém, é válido afirmar que os Estados nem sempre respeitarão os procedimentos de
consulta ou mesmo os direitos, especialmente pela tensão entre o interesse geral econômico e
os direitos e liberdades fundamentais dos povos, considerada das contradições mais importantes
ainda não resolvidas em torno dos processos de consulta e consentimento prévio, livre e
informado.
Isso porque para os povos indígenas e comunidades tradicionais, sua cosmovisão e
compreensão do que significa Mãe Terra, o dever e o respeito que se deve ter para com ela
supera toda norma imposta. Perguntam-se então para os não indígenas; por acaso é costume do
homem branco vender sua mãe? Uma vez que não existe um respeito mínimo para com a
natureza e sentido de preservação.
Construção que é possível por meio da união e convivência, para consolidar um
“conjunto de movimentos e forças sociais que desafiam o capitalismo neoliberal globalizado”
(GALFISA, 2017, p. 17), articulando identidades desde o respeito a sua diversidade e
identidade, para novas formas de organização, participação e diálogo.
Nesse sentido, os protocolos autônomos como instrumento de exercício do direito
coletivo de autodeterminação propõem formas de interação, sem limitar a identidade de outros
povos e comunidades, fortalecendo sua autonomia individual e coletiva, respeitando suas
tradições e organização para de pouco a pouco descolonizar as práticas e saberes alterados pela
lógica mecanicista.
3.2.Protocolos próprios ou autônomos: institucionalização dos povos indígenas e
tribais.
No início do trabalho foram mencionados os protocolos autônomos de dois povos
indígenas que afirmam seu direito à autodeterminação e fortalecem suas tradições e costumes,
suas formas internas de organização, desenvolvimento e interpretação do mundo.
Antes de detalhar alguns aspectos, deve-se mencionar que os protocolos surgem como
iniciativa dos povos indígenas pelo aumento na violações de seus direitos humanos em
decorrência do desenvolvimento de projetos de extração e a necessidade de proteger seus
territórios e tradições.
143
No âmbito internacional, começou a ser discutida a questão dos protocolos dos povos e
comunidades como alternativa aos avanços que o sistema econômico e seus impactos estavam
gerando nas terras, principalmente nos territórios indígenas, e assim garantir seus direitos não
apenas de consulta e participação, mas também territoriais, culturais, espirituais e direito à vida.
Em 2010, os protocolos já estavam em andamento em algumas comunidades,
fortalecendo sua participação, conforme mencionado no informe do Mecanismo de Especilistas
sobre os direitos dos Povos Indígenas (A/HRC/EMRIP/2010/2)
Este critério produziu resultados satisfatórios em algumas circunstâncias, e é
necessário que as comunidades indígenas tenham acesso à formação que lhes permita
continuar desenvolvendo protocolos culturalmente adequados e procedimentos de
consulta relevantes para suas comunidades (para. 90)
Os protocolos de pesquisa comunitária e gerenciamento de recursos foram
desenvolvidos por comunidades indígenas como Sabah (Malásia) e Raika na Índia, bem como
comunidades na Austrália, na Nova Zelândia, no Quênia e na Colômbia.
Hoje, alguns desses protocolos estão sendo implementados de forma ativa nas
comunidades Raika, Maldhari, Pashtoon y Samburu, sob a denominação de Protocolos
Comunitários Bioculturais (PCBs) que procuram desenvolver estratégias que permitem
enfrentar o desafio a face dos riscos de megaprojetos, a falta de proteção de seus direitos e o
rápido avanço da violência (SHRUMM H & JONAS H, 2012).
O que os PCBs142 pretendem evidenciar a situação do povos e as comunidades, gerar
um diálogo que demostre quem eles são, qual é sua origem e qual é seu papel no
desenvolvimento do ecossistema e biodiversidade, para criar um entendimento mútuo de acordo
com as leis tradicionais e os interesses particulares (SHRUMM H & JONAS H, 2012)
Além de capacitar e empoderar os membros dos povos indígenas em seu direito de
expressão, principalmente, perante aos sistemas que não garantem a proteção de seus direitos,
dessa forma, em vez de solicitar reposta logo das atividades exploratórias “os PCBs podem
servir como plataforma para envolver as comunidades e informá-las dos processos de
planificação antes das decisões a serem tomadas” e usá-los para construir planos de ação contra
o aquecimento global e os impactos ambientais, harmonizando as ecologias com as economias
(SHRUMM, H & JONAS, H. 2012).
Assim como os PCBs, muitos outros protocolos estão sendo construídos em distintos
países do mundo buscando a proteção dos povos, fortalecer suas formas de organização e
desenvolvimento antes da execução de medidas que possam afetá-los. Os protocolos autônomos
142 Os protocolos comunitários são reconhecidos como leis vinculativas no direito ambiental internacional, e seu
reconhecimento nos níveis nacional e governamental também aumentou.
144
de consulta previa, mesmo sob diferentes objetivos e estruturas, procuram igualmente sob o
objetivo principal a participação por meio de consultas e acordos dos povos indígenas e
comunidades tradicionais.
Cenário que foi corroborado pelo Alto Comissionado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos em 2017, ao mencionar que vê os protocolos indígenas do Brasil como uma
das experiências mais importantes para fazer valer e respeitar os direitos dos povos indígenas,
quilombolas e tribais.
Com base no exposto, inicialmente será feita uma apresentação conceitual do que os
protocolos significam, qual é seu objetivo e qual é seu caráter, para analisar posteriormente dois
protocolos de diferentes países que permitirão dimensionar sua inovação e importância,
principalmente para os povos e comunidades que exercem seu direito à autodeterminação e
fortalecem suas práticas.
Por conseguinte, os protocolos base deste estudo serão os desenvolvidos principalmente
no Brasil e na Colômbia, embora sua existência seja encontrada em vários países da América e
o mundo, para fins de corte epistemológico limitar-se-ão a esses dois países.
Desse modo, os protocolos de consulta são “as próprias regras indígenas para fazer as
coisas e para falar entre si e com os não indígenas. Essas regras já existem, os protocolos só as
colocam no papel para que os não indígenas e o Estado possam ler e se informar sobre as regras
indígenas” (YAMADA, GRUPIONI & GARZÓN, 2019, p. 33).
Ou dito de outra forma: “Os protocolos são, assim, a tradução escrita dos consensos
internos de cada povo para se relacionar com os Estados nacionais” (SOUSA FILHO, 2019, p.
39). Ou mais simples, são a expressão da autonomia dos povos indígenas e de sua abertura para
o diálogo de boa-fé com agentes do Estado.
Nesse sentido, o Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
também assevera que:
[...] These protocols are an important tool in preparing indigenous peoples, States and
other parties to engage in a consultation or free, prior and informed consent process,
setting out how, when, why and whom to consult. The establishment of these
protocols is an instrument of empowerment for indigenous peoples, closely linked to
their rights to self-determination, participation and the development and maintenance
of their own decision-making institutions143 (ONU, A/HRC/39/62, 2018, para. 57).
143 [...]. Estes protocolos são uma ferramenta importante para preparar os povos indígenas, Estados e outras partes
a fim de participarem de um processo de consulta ou de consentimento livre, prévio e informado, afirmando como,
quando, por que e com quem se tem que consultar. O estabelecimento dos protocolos de consulta é um instrumento
de empoderamento dos povos indígenas, intrinsicamente relacionado aos direitos de auto-determinação,
participação, desenvolvimento e manutenção de suas instituições de tomada de decisões (Tradução livre- ONU,
A/HRC/39/62, 2018, para. 57).
145
3.2.1. Para que servem os Protocolos de Consulta?
Um aspecto que é fundamental levar em consideração segundo o expressa Yamada,
Grupioni & Garzón (2019) é que “Os povos manifestam seu interesse em colocar por escrito
suas regras tradicionais ou costumeiramente existentes para evitar a repetição de erros do
passado”, além de “evitar situações de tensão, conflito e de tentativas de divisão das
comunidades” (p. 29).
Da mesma forma asseveram que: “os protocolos têm sido construídos como instrumento
de exercício de direitos, e como alternativa à regulamentação genérica e restritiva do direito
(YAMADA, GRUPIONI & GARZÓN, 2019, p. 35).
Em relação a este último ponto, os protocolos evitam a criação de uma regra geral que
ajuste o processo de consulta prévia como já aconteceu em vários países de América Latina
(Peru, Colômbia, Bolívia...) violando suas formas de organização e costumes, unificandoa
periocidade, seus representam e metodologia. Sua finalidade é, portanto, evitar cair em qualquer
procedimento de homogeneização. Os protocolos surgem então como uma alternativa para esse
grande dilema.
3.2.2. Qual é a função dos Protocolos de consulta?
Os protocolos autônomos contêm as regras básicas e fundamentais que os povos e
comunidades estabelecem e exteriorizam para o Estado, explicitando suas instituições
representativas, seus princípios orientadores e métodos mais aptos conforme com sua
cosmovisão. Dessa forma,
Os protocolos têm uma dupla função: por um lado, devem servir para ajudar aos povos
e comunidades a chegarem a acordos internos com relação a quem os representa e
como devem ser conduzidos os processos de tomada de decisão autônomas nas
consultas realizadas pelo Estado, e, por outro lado, os protocolos servem para informar
aos representantes do Estado as regras que eles devem respeitar quando pretendem
realizar processos de consulta com os povos [...] (YAMADA, GRUPIONI &
GARZÓN, 2019, p. 35).
Assim concebidos, os protocolos cobrem de maneira ampla, mas particularmente de
acordo com cada povo o diálogo com o Estado, garantindo seus direitos a fim de chegar a um
acordo que reflete os interesses de ambas partes e outorgando mais clareza e segurança sobre a
forma como deve ser feita a consulta e sua previsibilidade.
3.2.3. Institucionalidade própria de cada povo
146
Os protocolos incluem em sua grande maioria os elementos necessários para balizar um
processo de consulta. De acordo com Yamada, Grupioni & Garzón (2019), cada povo em seu
esforço indica umas diretrizes gerais:
a) quem são os representantes legítimos para falar em nome daquele povo e
comunidade; b) o contexto e as condições em que devem ocorrer as reuniões de
consulta; e c) os passos necessários para se obter uma decisão que seja legitima e
reconhecida por aquele povo e comunidade, com a qual se obrigam a respeitar e
cumprir (p. 30).
Em outras palavras, os protocolos abordam as formalidades estabelecidas internamente
por cada povo para a realização de consultas prévias, livres e informadas, sendo sua
característica essencial a obtenção do consentimento.
Isso porque, os povos tradicionais, especialmente no Brasil passaram a entender que
estes protocolos não poderiam ser tratados como atos bilaterais, mas como normas
internacionais elaboradas livremente que estabeleceriam as formas e procedimentos de como
chegariam uma decisão quando o Estado fosse consultá-los (SOUZA FILHO, 2019, p. 35).
O que quer dizer, nas palavras de Souza Filho, que:
(...) as formas e procedimentos são estabelecidos sem possibilidade de contestação
pelo Estado, quer dizer, o procedimento de consulta estará previamente definido e,
seguindo esse procedimento ou roteiro, o Estado fará a consulta, esta sim bilateral. E
assim deve ser porque se trata da institucionalidade própria de cada povo (SOUZA
FILHO, 2019, p. 35).
Quando o autor se refere à institucionalidade de cada povo, deve-se entender que se
refere a cada um deles posse suas próprias formas de organização, linguagem, interpretação e
relacionamento com a natureza -material ou espiritual- tradições, costumes e ritos especiais,
compressões do tempo diferentes, prioridades e necessidades particulares, além do fato de que
apenas o indígenas conhecem seu modo de ser, de existir e permanecer no mundo.
O autor continua,
[...] os Estados Nacionais estão obrigados a aceitar os procedimentos estabelecidos
pelos povos porque quem consulta é o Estado cujas medidas afetarão ou poderão
afetar direitos não apenas materiais, mas intangíveis dos povos, que o Estado
desconhece [...]. Como só o povo pode dizer que é um povo, só ele pode dizer como
forma sua vontade coletiva, [...]. Só ele pode consentir em mudar sua vida (p. 45).
É por isso que os protocolos são considerados vinculantes. Primeiro, porque os Estados
ignoraram as normas internas dos povos, e, agora, eles devem não apenas aceitá-las, mas
também adotá-las para sua aplicação, de acordo com o que é estabelecido por cada povo.
Outrossim, porque sua construção está livre de interferências e interesses externos contrários
(SOUZA FILHO, 2019).
147
Segundo, porque a natureza obrigatória do protocolo, em vez de obedecer a padrões
internacionais, subsiste por si só, isso significa que ele não depende e, portanto, é autoaplicável,
além de suas formas e procedimentos particulares influenciar no caráter da consulta,
responsabilizando ao Estado caso quisesse não aceitar seus procedimentos violar direitos dos
povos indígenas e tribais (SOUZA FILHO, 2019).
3.2.4. Plano de Consulta ou pré-consulta
O processo de consulta há de ser guiado por uma metodologia cultural adequada.
Portanto, deve ser realizada uma etapa anterior ao processo de consulta, denominada etapa de
pré-consulta ou plano de consulta.
Nesta etapa, de acordo com as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos e dos quadros normativos estabelecidos no nível internacional, se estabelece que, para
cumprir todas as regras próprias dos povos, compreender sua organização e relação com o
contexto circundante, deve-se ser promover o diálogo para alcançar um acordo com o povo
sobre como a consulta será realizada.
Embora todas as etapas sejam importantes, isso é especialmente fundamental, pois esse
plano de consulta “É o que garante os procedimentos apropriados ao processo de consulta, não
somente em relação as características especificas e peculiares do povo a comunidade a ser
consultado, mas também da medida ou proposta em questão”.
Este plano não difere do critério anterior estabelecido na Convenção 169 e a DNUDPI,
o aspecto favorável é
(...) apenas o protocolo de consulta, construído pela própria comunidade, pode aclarar
a legitimidade daquele que fala pelo grupo e o procedimento a ser seguido. Tudo em
prol da qualidade da manifestação efetiva, para afastar a possibilidade de um
consentimento alienado e buscar uma tomada de decisão consciente, esclarecida e
qualificada (YAMADA, GRUPIONI & GARZÓN, 2019, p. 30-31).
3.2.5. Modo de fazer uma consulta adequada
A consulta deve garantir inicialmente o exercício de seus direitos de participação aos
povos indígenas e tribais conforme com suas instituições ou representantes para se tornar uma
consulta adequada.
148
Deve-se realizar com espírito de boa-fé, confiança mútua, sem ameaça, coerção, deve
garantir as comunidades a compreensão do discutido por meio de traduções, ser transparente e
o Estado deve garantir que a consulta tenha todos os recursos necessários para sua execução.
Ao respeito disso, o Ex Relator da ONU James Anaya, assinalou neste contexto que:
[…] se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del país
puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en
las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y
sociales […] si estos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir con los requisitos
fundamentales de la consulta previa y la participación (ONU, A/HRC/12/34/Add.6,
2009, para. 33).
Daí a importância na aplicação desses, pois, atualmente, o reconhecimento dos direitos
dos povos indígenas apresenta várias divergências, principalmente pela falta de visibilidade dos
povos, a falta de reconhecimento de seus direitos e dificuldade na sua aplicação, a imposição
de um sistema dominante e a ausência do diálogo entre os povos e os Estados.
3.3.Povo Arhuaco -Wintukwa da Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia
“La Sierra es nuestra casa sagrada, la forma como está distribuida
geográficamente con sus fuentes de agua, sistema montañoso, tipos de
minerales, especies botánicas y animales, conforman un cuerpo vivo que son
la relación de nuestro razonamiento lógico con la naturaleza”.
Mamo Crispín Izquierdo Torres.
3.3.1. História e contextualização da situação do Povo Arhuaco
Na formação do vice-reinado no século XVIII na Nova Granada, e a necessidade de
manter o controle territorial sobre regiões e populações, o cenário da “ordem civilizada” foi
rapidamente aplicada, alinhando a distribuição do território com os programas comerciais
europeus, gerando consequentemente uma perda de direitos indígenas (DUQUE, 2009, p. 105).
No entanto, esse panorama começou no final do século XV com a exploração e
subjugação imposta sobre as comunidades nativas, além do desejo insistente de evangelizá-las
(DUQUE, 2009, p.106), modificou claramente as características econômicas, culturais e
espirituais dos povos indígenas.
Na Serra Nevada de Santa Marta a diferença do resto de povos do território nacional
caracterizou-se por duas razões especiais. A primeira, por seu estreito contato europeu que
favoreceu um fluido comercial, e a segunda, pela relação com o território e suas crenças
sagradas indígenas (DUQUE, 2009, p. 167, 168).
Além disso, José Agustín Blanco (1996) assevera que a Serra Nevada representa uma
das grandes lacunas da história colombiana pela falta de elementos característicos da dinâmica
149
econômica da colônia em seu território, o que leva inclusive até que surjam dúvidas quanto ao
interesse que os colonizadores tinham sobre o território indígena.
Panorama que não significou que o processo de colonização não tenha influenciado os
nativos, já que desde o século XVI, eles passaram por uma série de situações que começaram
com a submissão ao trabalho forçado, treinamentos nos trabalhos de guerra e um período de
conflitos.
Em relação aos números exatos de indígenas existentes na Colômbia para o momento
da conquista, e mais especificamente na Serra Nevada de Santa Marta existem muitas dúvidas,
uma vez que os dados apresentados variam surpreendentemente.
No entanto, Jaime Jaramillo (2001) com base nos escritos da expedição enviada por
Garcia Lerma menciona que uma vez que eles saíram para atender os conquistadores mais de
“vinte mil selvagens, comandados pelo cacique Morocando” forçaram aos espanhóis a se
retirar. "Por serem duzentos castelhanos ou pouco mais de nossos peregrinos, e dos naturais da
região cerca de noventa mil a mais próximos" (JARAMILLO, 2001, p. 259).
Nos séculos XVII e XVIII, o Pablo Duque (2009) afirma que não é possível afirmar
com certeza as condições pelas quais os povos passaram, mas que há uma certa probabilidade,
segundo a carta do bispo de Santa Marta do ano de 1628, de que a quantidade dos povos
indígenas diminuiu por conta do deslocamento para outras áreas (p. 169).
Al inicio, con la llegada de los españoles, fuimos los pueblos indígenas los que nos
vimos afectados. Cuando ellos llegaron nosotros vivíamos en las tierras bajas, en la
sabana, y ellos fueron ocupando esos territorios y nos tocó huir a las zonas altas. Dicen
los mayores que nosotros vivíamos en la planicie y subíamos a la montaña a hacer
nuestras ofrendas. Ellos se adueñaron de toda la sabana, y a nosotros nos dejaron la
parte de las montañas, y ahora que nosotros vivimos en las montañas también quieren
subir para acabar todo lo que existe acá (IWGIA, 2018, min. 2:06 – 3:18)144.
Nesse momento, observa-se que, independentemente do tempo e do contexto, a situação
se repete várias vezes, na qual os povos indígenas sofrem inúmeras discriminações, exclusões
e violência, ignorando sua cultura e autonomia, ao ponto de desumanizá-los para instalar
projetos sob o conceito de desenvolvimento nacional.
No início do século XX, em 1916, os capuchinhos chegaram ao território indígena,
motivados por um pedido que o povo havia feito, embora sua solicitude não foi atendida de
forma apropriada, uma vez que foi instalada a missão capuchinha em São Sebastião em 1920.
144 No início, com a chegada dos espanhóis, foram os povos indígenas que foram afetados. Quando eles chegaram,
morávamos nas terras baixas, na savana, e eles estavam ocupando esses territórios e tivemos que fugir para as
terras altas. Os maiores dizem que vivemos na planície e escalamos a montanha para fazer nossas oferendas. Eles
tomaram conta de toda a savana e nos deixaram a parte das montanhas, e agora que vivemos nas montanhas, eles
também querem escalar para terminar tudo o que existe aqui (IWGIA, 2018, min. 2:06 – 3:18).
150
Mamo Silveiro Suarez (filho do fundador de Serankwa) diz que, no início do século XX,
eles pediram ao presidente um professor técnico, mas em nenhum momento pediram a presença
dos capuchinhos.
[…] "todo eso comenzó así". La presencia de los misioneros, significaba el fin de sus
tradiciones, pues hace mucho tiempo atrás, los mamos ya habían vaticinado.
Realmente creo que hemos vivido un proceso de acabamiento ((min. 11:09-12:03).
[…] es que desde un principio nos prohibieron el uso del poporo (12:42) […] no
podíamos comer nuestro alimento tradicional. Todo era malo. Nuestra única
obligación era aprender a leer y escribir (min.12:58-13:04)145 (NABUSIMAKE,
2018).
Manuel Chaparro, membro do antigo Conselho de Nabusimake, revela fotograficamente
as difíceis condições que experimentaram os índios como imposição da missão capuchinha.
Entre eles, o caso de povos indígenas em linha de treinamento para guerra, e uma garota que
tentou escapar e foi atada pelas mãos.
Imagem 1: Menina atada de mãos no período capuchino
(Fonte: NABUSIMAKE, 2018).
Nesse mesmo sentido, o mamo José Romero, (liderança da resistência) diz que:
"obligatoriamente tenían que dejar el poporo y el marunsama. Decían los curas que
teníamos que quemarlos. Había orden de que les cortaran la mano a quienes seguíamos
las tradiciones. y los lugares donde hacíamos pagamentos fueron quemados. Todo
145 (...) "Tudo começou assim." A presença dos missionários significou o fim de suas tradições, porque há muito
tempo os mamos já haviam previsto. Eu realmente acredito que experimentamos um processo de finalização (min.
11: 09-12: 03). (...) é que desde o início fomos proibidos de usar poporo (12:42) (...) não podíamos comer nossa
comida tradicional. Tudo estava ruim. Nossa única obrigação era aprender a ler e escrever (min.12: 58-13: 04)
(NABUSIMAKE, 2018).
151
esto ocurrió en Nabusimake. La situación era cada vez más agobiante. Practicamente
no se podía vivir (NABUSIMAKE, 2018, min. 14:51- 15:28)146.
Além do relato da Damiana Crespo, ex-aluna do treino Capuchinos, que coloca de
manifesto os tratos violentos que vivenciavam
El que tenía una actitud más agresiva era el padre José María de Alfara. Era muy
exigente en todo. Quien hablara en lengua era castigado. También nos prohibían tejer
mochilas. Y uno no entendía los motivos de ellos. Seguramente nos estaban
infundiendo la pereza. Así pensábamos en ese tiempo. […] Los castigos eran
impuestos según las faltas cometidas y consistían en permanecer arrodillados sobre la
arena o nos daban latigazos con rejo. Si la falta era mayor, nos aislaban del grupo de
niñas o nos encerraban147 (NABUSIMAKE, 2018, min. 06:32- 07:24).
Situação também documentada por Juan Friede (1963), que analisa criticamente que os
tratamentos que a missão de San Sebastião oferecia aos nativos cultivava a desintegração e a
completa aculturação de maneira prejudicial.
Apesar da forte tensão vivida nos anos anteriores, somente a partir de 1936 começa o
período de distensão, no qual os missionários gradualmente começam a fazer amizade com os
nativos, que inicia com a substituição do padre Lorenzo pelo padre Guillermo Rozo, e em 1969
com o padre Javier Rodriguez, que contribuiu na desestruturação do internato indígena em 1970
(NABUSIMAKE, 2012a).
No entanto, nesse mesmo período, no ano de 1968, a reserva indígena de Arhuaco foi
criada pela resolução 204 de 16 de dezembro, com base na necessidade de harmonizar interesses
particulares e o objetivo de proteger as florestas da Serra Nevada.
Para Javier Rodriguez esse período representou para os povos indígenas o
reconhecimento do valor de sua identidade e o começo de sua luta pela defesa de sua cultura e
território de forma evidente e através do diálogo direto com o governo nacional.
A saída da comunidade religiosa da Serra não representou o ganho definitivo nas formas
de subjugação e dominação, uma vez que outro tipo de atividades ameaçava a subsistência do
povo Arhuaco, como a apropriação de terras por grupos armados, narcotráfico, concessões para
projetos de exploração, a erradicação de culturas ilícitas, mono cultivos. etc.
Pablo Duque (2009) assevera que os povos indígenas sofrem quando
146 "eles tiveram que deixar o poporo e o marunsama. Os padres disseram que tivemos que queimá-los. Havia uma
ordem para cortar a mão daqueles que seguiam as tradições" e os lugares onde fizemos os pagamentos foram
queimados, tudo isso aconteceu em Nabusimake, a situação estava se tornando cada vez mais avassaladora,
praticamente não se podia viver (Tradução livre, NABUSIMAKE, 2018, min. 14: 51-15: 28). 147 O que teve uma atitude mais agressiva foi o padre José Maria de Alfara. Foi muito exigente em tudo. Quem
falasse na língua seria punido. Também fomos proibidos de tecer mochilas. E não se entendiam seus motivos.
Certamente eles estavam nos infundindo com preguiça. Pensamos naquele momento. (…) As punições foram
impostas de acordo com as ofensas cometidas e consistiam em ficar ajoelhados na areia ou nos dar chicotadas com
ralar. Se a falha era maior, eles nos isolavam do grupo de garotas ou nos trancavam (NABUSIMAKE, 2018, min.
06: 32- 07:24).
152
os grupos armados que servem a mercenários de traficantes de drogas e políticos e
terra tenentes corruptos recriminá-los a usar sua força ilegal para proteger as terras
dos grandes proprietários, em um sério processo de usurpação ilegal de terras que
cada vez mostra-se mais dramático porque é mediado, por sua vez, pelo deslocamento
ou desaparecimento de grande parte da população indígena (tradução livre- p. 128).
Como resultado da difícil situação, os povos indígenas durante a década de 1990
optaram por permanecer dentro de seus territórios como uma forma de resistência civil,
exercendo seu direito sobre o território (CORTÉS, 2002). Infelizmente, sua sobrevivência é
altamente prejulgada por aquele que tem o dever constitucional de protegê-los, que incentivado
pelos programas e políticas neoliberais permite a exploração de territórios indígenas, que por
seu alto potencial natural aumenta a realização de projetos de desenvolvimento.
A Constituição de 1991 trouxe consigo vários componentes148 focados na eliminação da
integração indígena por meio do reconhecimento da territorialidade, uso e usufruto das terras e
o aspecto cultural e espiritual das comunidades, além da formação da Associação de Cabildos
e ou das autoridades indígenas tradicionais e entidades territoriais que buscavam romper com
componentes históricos da dominação.
No entanto, como resultado do conflito armado e dos interesses particulares, das
potências dominantes, as políticas capitalistas neoliberais, o cenário permanece intacto como
faz 500 anos, afetando não somente seus direitos de organização, participação e acesso à justiça,
mas também seus direitos de autonomia, libre determinação e território.
3.3.2. Línea Negra- Linha Petra
Quando o povo Arhuaco é mencionado, ele se relaciona principalmente à Línea Negra
-Linha Preta, conhecida apenas por sua fronteira geográfica ou fronteira que divide o espaço
físico, mas que, segundo a visão de mundo Arhuaco, é o espaço com a função específica de
garantir o equilíbrio natural dos seres existentes no universo.
De acordo com a visão de mundo dos povos da Serra Nevada de Santa Marta (SNSM),
quando mães e pais ordenaram que a lei de origem criasse fronteiras entre o mundo material e
o mundo espiritual, originaram-se esses limites que foram chamados de: Línea Negra -Linha
Preta (C.I.T, 2017, p. 42).
148 De acordo com François Correa (1993), destacaram-se quatro elementos fundamentais na Carta
Política: 1. O direito à existência dos povos indígenas - o direito de ser diferente- 2. O direito ao território como
garantia da sobrevivência dos povos indígenas; 3. O direito de exercer a diferença - não só para ser diferente, mas
para agir como tal; 4. O direito de garantir que essa diferença seja exercida em meio a um contexto social relutante
(Tradução livre- p. 319-334).
153
Nesse sentido, a Linha Preta foi definida segundo a ordem da Lei da Origem, que
enquadram áreas visíveis e invisíveis para o cuidado do território ancestral nos departamentos
de Cesar, La Guajira e Magdalena, reconhecido como o território espiritual e cultural ancestral
dos povos da Serra mediante a resolução nº 002 de 1973149 e modificado pela a resolução nº
0837 de 1995150 do Ministério do Interior (C.I.T, 2017, p. 42).
Mapa 1: Limites geográficos da Línea Negra – Linha Petra SNSM
(Fonte: PEREZ-VALBUENA, MEDIETA & MEJÍA, 2017, p. 4).
Hoje, no atual cenário político, a Linha Preta foi redefinida e ampliada em sua
delimitação geográfica através do decreto 1500 do 06 de agosto de 2018151, que reafirma a
proteção especial do território por seu valor espiritual, cultural e ambiental, de acordo com os
princípios e fundamentos da Lei da Origem.
149 “Por el cual se demarca la Linea Negra o Zona Teologica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta” 150 Modifica a resoluçao anterior 002 de 1973 para establecer conforme com a lei 21 de 1991 novos limites
geográficos não incluídos, garantindo a relação intercultural dos povos com o território ancestral, seus pagamentos
e ritos ceremonias. 151 “Por el cual se redefine el território ancestral de los pueblos Arhuacos, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra
Nevada de Santa Marta, expresando en el sistema de espacios sagrados de la “Linea Negra”, como ámbito
tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme con los principios y
fundamentos de la ley de origen, y la ley 21 de 1991, y se dictan otras disposiciones”.
154
O decreto foi resultado da decisão jurisprudencial T-547 de 2010152 emitida pela Corte
Constitucional que amparou os direitos dos povos da SNSM à consulta prévia, devido processo
legal, e a sua integridade econômica e espiritual, ordenando ao Governo reconhecer a relação
especial dos povos e ajustar conforme as necessidades dos povos a denominada Linha Petra.
Do mesmo modo, junto ao julgamento anterior, a sentença T-849 de 2014 da mesma
Sala corrobora a proteção especial, devido ao valor cultural e espiritual que deve ter o Estado
Colombiano com a Linha Negra- Linha Petra.
Deve-se compreender que para o povo Arhuaco, a relação com a natureza vai além de
representações materiais, para manifestar-se por meio das ações e pensamentos,
La naturaleza se alimenta de las acciones y los pensamientos de la gente. De lo que se
concluye que si el territorio está desordenado y enfermo es porque las personas no
hemos sabido mantener una relación equilibrada y dañamos su ordenamiento con
nuestro propio desorden. Por ejemplo, cuando se hacen desagües, cuando se desvían
los ríos, se destruyen cerros para sacar piedras o cal, se están generando conflictos
entre las personas y entre los gobiernos sagrado 153(C.T.I., 2017, p. 31, 32).
Entre os aspectos que definem e caracterizam o povo Arhuaco, é inicialmente a sua
territorialidade, uma vez que a relação que mantêm com o território se conecta com as estruturas
espirituais de seu próprio governo.
Também porque a estrutura de governança do povo Arhuaco é caracterizada nessa
ordem, por manter e perpetuar os valores do território, do governo próprio, autonomia e
unidade, que visam preservar, cultivar e fortalecer a cultura e as características do povo (C.T.I.,
2017, p. 58).
Assim, os povos étnicos da Colômbia, não somente os Arhuacos, manifestam
coincidimos en que el territorio es la esencia de la vida, que es un todo, es la ley de
origen, es más que un pedazo de tierra y lo legalmente constituido. Nuestro territorio
está formado por el entorno natural, espiritual, ancestral y cultural, es articulador de
la vida organizativa de los pueblos, no puede dividirse ni fraccionarse, no es un
concepto, es nuestro pensamiento. Para nosotros el territorio no es productor de
riquezas económicas, es productor de vida. Sin territorios negros e indígenas no somos
nada154 (OACNUDH, 2013, p. 33).
152 Tutela que surgiu com o objetivo de proteger seus direitos culturais e espirituais contemplados dentro da linha
Preta, uma vez que se começo um projeto portuário sem a devida consulta prévia e afetando de forma irreparável
22 sitios sagrados das comunidades. 153 A natureza se alimenta das ações e pensamentos das pessoas. Pelo que se conclui, se o território está
desordenado e doente, é porque as pessoas não sabem como manter um relacionamento equilibrado e danificamos
sua ordem com nosso próprio distúrbio. Por exemplo, quando drenos são feitos, quando rios são desviados, colinas
são destruídas para remover pedras ou cal, conflitos estão sendo gerados entre pessoas e entre governos sagrados
(Tradução livre- C.T.I., 2017, p. 31, 32). 154 Concordamos que o território é a essência da vida, que é um todo, é a lei de origem, é mais do que um pedaço
de terra e o que é legalmente constituído. Nosso território é formado pelo ambiente natural, espiritual, ancestral e
cultural, é o articulador da vida organizacional das pessoas, não pode ser dividido ou dividido, não é um conceito,
é o nosso pensamento. Para nós, o território não é produtor de riqueza econômica, é produtor de vida. Sem
territórios negros e indígenas, não somos nada (Tradução livre- OHCHR, 2013, p. 33).
155
E continuam os membros do povo Arhuaco, “não entendemos como eles não podem ver
o dano que causam na natureza e que isso não nos afetará apenas. A falta de vida também será
para eles, para os povos não indígenas” (tradução livre- IWGIA, 2018, min. 9:20- 9:33).
3.3.3. Projetos desenvolvidos no território Arhuaco
Na Serra Nevada de Santa Marta, assim como em outros povos indígenas, - dependendo
de sua visão de mundo – o espaço, a terra e o território, representam a unidade da vida, através
da qual eles podem estruturar e organizar sua vida em comunidade, de acordo com suas leis,
suas crenças e tradições espirituais.
Infelizmente, nem sempre é como deveria ser, primeiro porque, como observou-se nos
capítulos anteriores, os territórios indígenas são especialmente ricos em recursos naturais, o que
para multinacionais, instituições, empresas privadas, inclusive para o mesmo Estado resulta
atraente, o que reproduz uma infinidade de relações de poder e dominação colonial que atendem
as demandas do capitalismo.
O povo Arhuaco, junto com os outros três povos da Serra, -Kogui, Wiwa- kankuamo-
passaram por uma série de eventos que colocaram em risco sua sobrevivência e permanência
no território sagrado, como foi explanado. No entanto, devido à dimensão quantitativa de
situações que se apresentam, serão mencionados alguns dos mais discutidos.
Na Serra Nevada estão localizados dentro dos limites da Linha Preta 3 megaprojetos,
que tiveram uma discussão rígida pelo impacto gerado nos povos da região, como foi a represa
de “Besotes”, embalse da “Rancheria”, e o Porto Multiproposito “Brisa” em Dibulla.
a) A represa de Besotes
O projeto hidrelétrico de Besotes, localizado na bacia do rio Guatapurí, começou em
1969, quando o INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agrária) solicitou o estudo de
viabilidade do projeto de irrigação do município de Valledupar à empresa estrangeira Tahal
Consulting Engineers, que incluíram a análise de uma área de aproximadamente 10.000
hectares.
Apesar das medidas e demandas dos povos indígenas em relação ao projeto, o
representante da Câmara do Departamento de Cesar, Alfredo Cuello Baute, conseguiu aprovar
a inclusão do artigo 179 no Plano Nacional de Desenvolvimento em 4 de maio de 2007, que
declarou o projeto dos Besotes como utilidade pública e estratégica.
De acordo com o projeto, o reservatório permitiria o fornecimento de água para o
município de Valledupar nos próximos 30 anos e energia elétrica para a região, no entanto,
156
como o projeto é observado, foi submetido a uma série de estudos que questionam a
favorabilidade tanto para as comunidades afetadas quanto para todo o município, porque,
embora não seja apresentado como um projeto de grande impacto, as modificações ambientais
são claras, assim como a vontade política de realizá-lo.
b) Rio Ranchería
A barragem de esgrima no rio Ranchería caracteriza-se por ser um projeto de
multipropósito concluído em 2010, com quatro objetivos fundamentais: abastecer nove
municípios de Guajira com água, ter o controle de enchentes, o abastecimento de água para
atividades agrícolas e a produção de energia elétrica. Desses quatro propósitos, apenas os dois
primeiros estão funcionando por falta de recursos e financiamento.
Por outro lado, desconsiderando os povos da Serra Nevada de Santa Marta, em 7 de
abril de 2007, foi destruído com fines ajenos ao povo o local sagrado SEKUMUKUI lugar de
pagamentos e ritos cerimoniais, violando seu direito de consulta; razão pela qual eles
ingressaram com uma ação de tutela (GRANADOS, et.al, 2012)
A Corte Constitucional emitiu uma decisão negando o seu direito, justificando primeiro,
por não usar os mecanismos administrativos adequados e, segundo, por não agir de forma
imediata perante a afetação.
Entretanto, os habitantes das comunidades afetadas tiveram que se mudar para outras
áreas, pois foram forçados pela inundação de suas casas. Martha Loperena, deslocada por essa
enchente, expressa que: “Vivemos do cultivo e não passamos pelas necessidades que são
passadas aqui. Ficamos sem cultivo, sem casa, sem teto; tudo estava perdido, ficamos sem nada”
(GRANADOS, et.al, 2012).
Por tudo isso, e mais, o projeto Rancheria é incluído como outro exemplo do que as
políticas estaduais e programas internacionais promovem, um desenvolvimento baseado no
aspecto econômico, deslocando o aspecto socioambiental manifesto no aumento de violação de
direitos humanos e a degradação ambiental a ponto de obter mais problemas do que soluções.
c) Embalse de “El cercado”
O projeto começou com o desvio do rio Rancheria para construir o reservatório do rio
Rancheria, mais conhecido como "El Cercado", localizado nos municípios de San Juan de Cesar
construído por uma grande barreira de 110 metros de altura aproximadamente.
Inicialmente, observou-se os benefícios que a comunidade receberia, pois não apenas os
trabalhadores seriam os beneficiários, mas também a comunidade em geral. No entanto, após o
157
início do projeto, um dos maiores impactos abrandados foi o aparecimento de mais de 3.000
peixes mortos, além dos povos indígenas que informavam não terem sido consultados
previamente (DUQUE, 2009).
Atualmente, os impactos gerados pelo projeto são claramente visíveis, pois minaram
lentamente o território das aldeias e comunidades tradicionais, o aumento de terras secas e a
destruição do ambiente em que milhares de animais viviam. Portanto, as prometidas iniciativas
de desenvolvimento e exploração acabam apresentando níveis mais altos de desigualdade,
violência e exclusão.
d) Porto multi-propósito de brisa em Dibulla
Com o projeto do porto polivalente da Brisa, foram consolidadas as principais disputas
entre os interesses econômicos estaduais, terceiros interessados e os povos indígenas ao afirmar
que o porto seria necessário para melhorar a competitividade do país perante o mercado
internacional, por ser o único porto do Mar do Caribe que permitiria o intercâmbio com outros
continentes.
Os povos indígenas que foram afetados pela interferência em seus territórios se
opuseram completamente ao projeto por não terem sido consultados, além de haverem invadido
seus lugares sagrados, impondo-se por força maior dos interesses econômicos, permitindo a
construção de obras de engenharia que causaram danos irreparáveis ao meio ambiente.
Algo a ressaltar, é que, o projeto durante sua construção foi questionado, porque de
acordo com o pactuado, os nativos tinham o direito de se mudar para seus lugares sagrados e
realizar seus rituais sem problema de serem afetados.
Razão pela qual se perguntaram como era possível que a licença ambiental fosse
autorizada em JUKULWA, lugar sagrado, dentro da Línea Negra (El Espectador, 2006).
Foi por esses projetos que a Corte Constitucional mediante decisão judicial amparou os
direitos dos povos indígenas da SNSM, e obrigou ao Estado a respeitar seus direitos à consulta
prévia, devido processo e integridade cultural. Tanto que entre os anos de 2013 e 2016 os povos
participaram da construção do PES (Plano Especial de Salvaguardai).
O Plano é um acordo social e administrativo que funciona como instrumento para
administrar a inclusão do patrimônio natural na lista de patrimônio cultural imaterial.
Resultando desse processo a resolução n. 3760 de 2017 emitida pelo Ministério de Cultura
reconhecendo a inclusão do conhecimento ancestral dos povos da SNSM, Kogui, Wiwa,
Arhuaco e Kankuamo na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial (LRPCI).
158
Entretanto, antes de continuar, deve-se explanar que este território conta com uma
proteção especial a nível nacional por várias razões, a primeira como foi exposta, por seu caráter
espiritual e cultural, segundo por sua proteção étnica (resguardo indígena) e terceiro por sua
importação ambiental, Parques Nacionais Naturais (PNN).
Mapa 2: Parques Nacionais Naturais e Reserva Indígena Linha Negra
(Fonte: PEREZ-VALBUENA, MEDIETA & MEJÍA, 2017, p. 7).
As áreas definidas são especiais por brindar proteção à flora e fauna, estimular as
atividades educativas e de pesquisa, de turismo e conservação. Além de serem de propriedade
coletiva permitindo o desenvolvimento integro das comunidades.
Embora possa mostrar aspectos significativos ao momento de comprar as áreas se
observa que primeiramente até o momento a Linha Preta não tem impedido a realização de
projetos, e que de alguma forma a relação dos PNN e o Resguardo a permitido a afetação direta
sobre o território (Ver Mapa 3).
É importante ressaltar que devido as restrições e permissões de cada um, se gera uma
série de conflitos diante do que é permitido e o que não é permitido, vulnerabilizando
claramente na maior dos casos os direitos dos povos indígenas, inclusive quando seu território
conta com tripla proteção. Embora isso aconteça, não significa que a Linha Petra perca
importância, já que através da Sentença T-849/14 fundamentada nas limitações desta proteção
se evitou a construção de um projeto de exploração dentro de seu território.
159
Mapa 3: Rastro do impacto humano nas áreas de proteção da SNSM:
desmatamento, urbanização e infraestrutura
(Fonte: PEREZ-VALBUENA, MEDIETA & MEJÍA, 2017, p. 11).
Em síntese, o caso da Serra simboliza um cenário de disputa territorial, mas que para os
povos indígenas simboliza o espaço espiritual por meio do qual constroem suas diferentes
formas de organização para resistir às formas de imposição e dominação que buscam o
extermínio cultural e espiritual.
Protocolo Autônomo –Mandato do Povo Arhuaco- Para o relacionamento com el
mundo externo, incluyendo la Consulta y el Consentimiento prévio, libre e
informado155
Em virtude dos impactos gerados na SNSM, o povo Arhuaco criou o Protocolo
Autonomo –Mandato del Pueblo Arhuaco-Para el relacionamiento con el mundo externo
incluyendo la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, além de procurar a
proteção, conservação e existência integral da Serra Nevada de Santa Marta; para o bem do
planeta e da humanidade entre o mês de junho de 2016 e junho de 2017 em Nabusimake, SNSM.
Dessa forma, o protocolo constitui para o povo Arhuaco um instrumento de seu próprio
governo para estabelecer seu relacionamento com terceiros e o seu próprio dentro do ancestral
e sagrado (niwi úmuke) que limita a Linha Preta (U'munukunu) habitada e compartilhada pelos
155 Protocolo de consulta completo, ver Anexos. E para acesso digital do Protocolo Autonomo do Povo Arhuaco
ver: <https://www.hchr.org.co/files/eventos/2017/PROTOCOLO-AUTONOMO-PUEBLO-ARHUACO.pdf>
160
quatro povos - Wintukwa (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa e Kankuamo - irmãos e
guardiões do SNSM.
Seu protocolo está baseado na Lei de Origem e na Lei de Proteção Territorial, que por
sua vez se baseia nos Kunsam -princípios próprios que governam a cultura, a Ánugwe
(espiritualidade) e a vida de todos os seres humanos e todas as expressões da natureza
(PROTOCOLO AUTONOMO DEL PUEBLO ARHUACO, 2017).
a) Lei de Origem
O presente protocolo, conforme à cosmovisão do povo Arhuaco, indica as diretrizes
necessárias para a conservação e proteção de todos os elementos e manifestações naturais que
garantem o bem-estar da vida no planeta, tanto física quanto espiritual, e, tanto dos povos, como
de todos os seres que o habitam.
É por essa razão que o protocolo do povo Arhuaco se torna especial, uma vez que sua
relação com o espaço circundante excede o material para adquirir conotações espirituais e
sagradas sustentadas em sua lei de origem.
Para os Wintukwa, Kággaba, Wiwa e Kankuamo, a lei de origem “nunca muda, não
expira ou prescreve, é eterna”, “é o princípio, base e norma que governa tudo, que não exclui
nenhuma sociedade ou grupo humano”. A Lei de Origem existe “antes da criação, antes do sol
e da lua aparecerem, antes que a luz do dia brilhasse sobre nós, quando ainda era escuridão, já
havia homens, mulheres, pedras, animais e plantas, tudo à nossa volta, mas em áugwe
(PROTOCOLO AUTONOMO DEL PUEBLO ARHUACO, 2017, p. 9).
Com esse entendimento, aos quatro povos da Serra ficaram responsáveis por cumprir a
Lei de Origem, do dever de sustentar o coração do mundo, garantir a coexistência, harmonia e
equilíbrio de todas as espécies ou seres do mundo e o universo, se tornando esta lei a máxima
guia para todos os eventos, atividades que influenciem a vida e seres que habitam a terra.
Para a manutenção do equilíbrio, o universo deve evitar que as forças opostas (forças
negativas-ánugwe gunsinna) se imponham em energia positiva (duna de anugwe), a fim de
evitar doenças, secas, furacões, inundações, etc. Por esse motivo os irmãos menores devem
cumprir os mandatos das autoridades e respeitar a natureza, especialmente os lugares sagrados
que mantêm o equilíbrio de seres e elementos, relacionados à harmonia de forças.
Isso significa que quando qualquer um dos elementos (Je Zukunsam - Lei da água,
Ka'gm Zkunsam - Lei da terra, Kunsamu Geyzey - Lei do fogo, Buntikunu zukunsamu- Lei do
ar, kKunsam knkunu Junazey - lei da vegetação A lei de kunsamu A'nanuga Jina dos animais)
161
é alterado, manipulado, contaminado, desviado gera-se doenças, guerras, fome, secas, etc., por
sua relação com a ordem natural.
Além de compreender que cada um de nós é a réplica do universo e da Terra, não apenas
simbolicamente, mas também real, evidenciado desde nossa concepção, gravidez e processo de
nascimento. Se as pessoas entendessem que o comportamento delas é o mesmo que o de seu
território, agiriam de forma diferente.
Para considerar a lei de origem, seu conhecimento, sabedoria, idioma, símbolos,
entender que a Serra Nevada é um espaço sagrado e não deve ser destruído, que a Linha Preta
constitui e delimita o território ancestral no qual os pagamentos são feitos, que não é possível
negociar com os elementos para a manutenção do equilíbrio, que a Serra Nevada e os povos
fazem parte da Terra e do Universo, que os usos do território definem a harmonia e que o mesmo
território define a estrutura da liberdade do direito à autodeterminação, e que o processo de
consulta e consentimento é aprimorado de acordo com as princípios dos povos, incluindo seu
próprio desenvolvimento, que a vida e a dignidade não são negociáveis e que os princípios
culturais do direito de origem devem prevalecer como autoproteção, o povo Arhuaco construiu
o protocolo de consulta como forma de proteção e resistência.
Pelo que foi exposto, a seguir, será feita uma descrição dos elementos que compõem o
protocolo autônomo -mandato do povo Wintukwa- Arhuaco da Serra Nevada de Santa Marta-
SNSM, destacando apenas alguns aspectos essenciais no processo de consulta devido à
extensão do documento (ver anexos).
b) Estrutura Geral do Protocolo
O protocolo está dividido em 9 tópicos principais, divididos da seguinte forma:
i) Objeto do protocolo: Lei de origem e território sagrado.
ii) Considerações e fundamentos do protocolo: sua relação com os mandatos
superiores, tempo e territorialidade a partir de sua cosmovisão, governo próprio e
estrutura de governo.
iii) Princípios e critérios orientadores para o relacionamento e o diálogo intercultural
do povo Arhuaco com terceiros, incluindo consulta e consentimento prévio
gratuitos e informados.
iv) Procedimento para o relacionamento do povo Arhuaco com terceiros no processo
de consulta.
v) Procedimento para o processo de consulta com o povo Arhuaco - das medidas,
obras, projetos e atividades que podem ser consultados-: que inclui a aproximação
162
preliminar entre as partes, a realização da consulta ancestral e interna do povo
Arhuaco, o consentimento para iniciar ao processo de consulta externa, os
participantes no processo de consulta, à pré-consulta e à realização da consulta
externa.
vi) Consulta externa para medidas administrativas e legislativas: participação nas
autoridades nacionais.
vii) Declaração de consentimento para iniciar o projeto, trabalho, atividade ou medida
legislativa ou administrativa: concertação dos acordos.
viii) Estratégias transversais -monitoramento, aconselhamento e acompanhamento:
garantias na realização com terceiros no âmbito da proteção de direitos coletivos
durante o processo de consulta, incluindo a aproximação preliminar.
ix) Disposições fináis.
Ao detalhar sobre o procedimento de consulta com base no protocolo de consulta,
observa-se que o povo inicialmente estabeleceu que tipo de obras, atividades ou projetos não
são consultados, aqueles que não têm consentimento e aqueles que não são realizáveis dentro
do SNSM.
Nesta ordem, as atividades ou projetos que não estão autorizados e não contam com o
consentimento por colocar em sério risco a sobrevivência física e cultural do povo Arhuaco e
de outros povos nativos correspondem a:
Represas e hidroeléctricas; centrales eléctricas y sus tendidos hacia la parte alta de la
SNSM; explotación minera, puertos, nuevas carreteras, exploración y explotación de
hidrocarburos; antenas de telecomunicaciones; bases militares; desviación de ríos;
desecamiento de lagunas y ciénagas; monocultivos agro industriales; distritos de
riego; distritos mineros; infraestructura y programas turísticos– tales como teleféricos
y construcciones hoteleras-; sectas y centros religiosos; investigaciones y explotación
de recursos genéticos y biológicos; depósitos de basureros municipales o regionales;
depósitos de desechos tóxicos y todo aquello que pueda traer desarmonía entre la parte
espiritual y física de las personas; no serán permitidos dentro de la Línea Negra –
territorio ancestral – incluyendo los 9 niveles del mar que hacen parte del territorio de
los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta156 (p. 95).
156 Barragens e usinas hidrelétricas; usinas e sua colocação na parte alta do SNSM; mineração, portos, novas
estradas, exploração e exploração de hidrocarbonetos; antenas de telecomunicações; bases militares; desvio de rio;
dessecação de lagoas e pântanos; monoculturas agroindustriais; distritos de irrigação; distritos de mineração;
programas de infraestrutura e turismo – como teleféricos e construções de hotéis; seitas e centros religiosos;
pesquisa e exploração de recursos genéticos e biológicos; depósitos de lixões municipais ou regionais; depósitos
de resíduos tóxicos e tudo o que pode trazer desarmonia entre a parte espiritual e a física dos povos; não será
permitido dentro da Linha Petra – território ancestral - incluindo os 9 níveis do mar que fazem parte do território
das quatro povos nativos da Serra Nevada de Santa Marta (p. 95).
163
À lista adicionam-se outro tipos de atividades e comportamentos proibidos que não têm
consentimento, como: caça e pesca indiscriminadas, corte e queima de florestas, fumigação
com glifosato, produtos químicos e uso de agroquímicos e a prática da guaquería157 (p. 99-102).
Enunciando no mesmo sentido, o que pode ser consultado ao povo Arhuaco de acordo
com a lei de origem, como “as obras de infraestrutura destinadas para o serviço público e o
bem-estar das comunidades, especificamente aquelas destinadas à educação, à prestação de
serviços de saúde e de habitação, que serão construídas respeitando os costumes e costumes do
povo Arhuaco” (p. 102, 103).
Assim, de acordo com a proteção especial aplicável na SNSM, o protocolo de consulta
intensifica a proteção, reafirma seu direito de autodeterminação e assegura que todas suas
prioridades e necessidades sejam garantidas, isso porque o fato do protocolo contemplar os
projetos que são consultáveis e quais não, não determina um poder de veto, senão que pelo
contrário, de acordo a convenção 169 da OIT destaca os aspectos culturais, respeita e valora
suas tradições e princípios espirituais para o exercício pleno de sua vida em dignidade.
i) Procedimento para o processo de consulta
Conforme as diretrizes dos povos indígenas, o processo de consulta é dividido em vários
pontos centrais, a saber:
a) Abordagem preliminar: Esta etapa no faz parte do processo de consulta, portanto, é
uma etapa anterior que garante o direito de participação. Nesse sentido, se realizam os
seguintes passos: i) Apresentação dos interessados e seus antecedentes; ii)
Apresentação do Protocolo Autônomo do Povo Arhuaco aos interessados; iii)
Apresentação preliminar da medida, obra, projeto ou atividade por parte dos terceiros
interessados; iv) Identificação da proposta, trabalho, projeto ou atividade como assunto
consulta e declaração de viabilidade da consulta; v) Estudo de impactos ambientais,
culturais, espirituais, econômicos e sociais do trabalho, projeto, atividade ou medida
administrativa.; vi) Socialização de danos possíveis, afeção das estratégias de medida,
trabalho, projeto ou atividade e mitigação identificadas pelos terceiros interessados;
vii) Decisão de viabilidade ambiental e cultural do trabalho, projeto ou atividade de
acordo com os resultados do estudo de impacto. –Consentimento ou objeção cultural-
(p. 106-112).
157 É conhecida na Colômbia como a prática que busca sepulturas indígenas, também chamadas de guacas ou
huacas, para se beneficiar economicamente de suas descobertas.
164
b) Realização da Consulta Ancestral e Interna do Povo Arhuaco: Uma vez que a Diretiva
Geral estuda a viabilidade do projeto, se envia as autoridades espirituais Mamos para
obter sua decisão em respeito à viabilidade cultural e espiritual do projeto de acordo
com seus princípios. Os Mamos dos quatro principais Kankurwa se reunirão a pedido
da diretiva e eles definirão por consenso a conveniência ou não do projeto.
c) Consentimento para o início da consulta externa ou também é chamado de pré-
consulta: Existem dois caminhos a tomar nesta etapa: i) rejeitar por ser contrário aos
princípios e lei de origem, ou ii) aceitar por considerá-lo viável conforme os critérios
estabelecidos. Neste último caso, a data e o local de instalação e realização da pré-
consulta são definidos como o início da consulta externa, concertados com a Diretoria
eral.
d) Participantes do povo Arhuaco no processo de consulta externa: As seguintes
autoridades e instâncias participarão do povo Arhuaco: * A Diretiva Geral da
Confederação Indígena Tayrona - Organização do Povo Arhuaco. *Os Conselhos de
governo da reserva de Arhuaco ou seu delegado; de resguardo de Kogui-Malaio-
Arhuaco, setor Arhuaco. *As autoridades Maiores *A Assembleia do Povo Arhuaco.
*Os assessores próprios e externos delegados pela Diretoria Geral. *Representantes do
Governo Nacional com capacidade de tomada de decisão -instituições, ministérios
responsáveis ou responsáveis pelo assunto. *Representantes do projeto, trabalho,
atividade ou iniciativa das partes interessadas.
e) A Pré-Consulta: Seu principal objetivo é apresentar a terceiros e ao governo os
requisitos e recomendações das autoridades, como Pueblo Arhuaco definido na
consulta ancestral e interna. Com base neles, organizar as atividades, os horários -
enquadrados na própria dinâmica, os locais e custos para o desenvolvimento da
consulta externa.
f) Execução da consulta externa, com as instâncias de Governo Nacional e com terceiros
interessados. Serão definidos a data, o local e as horas da reunião de instalação do
processo de consulta em que as autoridades tradicionais participarão plenamente
governo do povo Arhuaco - Assembleia de Autoridades.
ii) Declaração de consentimento para iniciar o projeto, trabalho, atividade ou
medida legislativa ou administrativa
O início do trabalho, projeto, atividade ou medida somente será permitido quando a
Diretoria Geral em nome de nossas autoridades, como Pueblo Arhuaco, tiver emitido a
165
Declaração de Consentimento para o início do trabalho, projeto, atividade ou medida
consultada.
iii) Estratégias transversais; - monitoramento, conselhos e acompanhamento.
O processo de consulta e consentimento deve contribuir para o fortalecimento
organizacional, governança e autonomia do povo Arhuaco, de acordo com sua visão, em
conformidade com a Lei de Origem.
O acompanhamento do cumprimento dos acordos, princípios e critérios estabelecidos
neste protocolo autônomo do Povo Arhuaco, durante o processo de consulta, o início das
medidas, trabalho, projeto ou atividade será realizado por suas autoridades frente da Diretiva
Geral e para este fim as reuniões periódicas de acompanhamento serão realizadas a cada três
meses ou quando fossem necessárias pelas autoridades.
Como foi demonstrado, o presente protocolo integra não apenas elementos essenciais
para o desenvolvimento e a sobrevivência do povo Arhuaco, mas integra princípios orientadores
sobre sua cosmovisão e relação com o território e os demais elementos próximos.
Infelizmente, algo a ser mencionado aqui é que, os protocolos que foram desenvolvidos
no país158 não foram implementados, não tiveram o impacto esperado, pois desde a
apresentação dos protocolos no ano de 2014, os diversos governos têm negado sua aplicação,
obtendo, por outro lado, mais projetos de lei para a regulamentação da consulta prévia.
aqui que Surge então, a questão: a Colômbia é realmente um país que salvaguarda os
direitos dos povos indígenas e respeita seu direito à autodeterminação conforme as iniciativas
indígenas e o estabelecido constitucional e internacionalmente?
3.4.Povo Waimiri Atroari - Kinja do Roraima, Brasil
Como se constatou, o Brasil não está localizado nos países com maior número de
regulamentações sobre consultas e consentimentos prévios, o que significa que exista forte e
sistemática violação dos poderes do Estado sobre povos indígenas, quilombolas e comunidades
tradicionais, mostrando um desinteresse estatal no estabelecimento de diálogos interculturais.
Consequência do não consenso após dois anos dentro do governo em seu dever de
regular a consulta, a Secretaria Geral da Presidência da República e o Itamaraty, o Grupo de
158 A continuação referenciasse os protocolos que existem na Colombia, mas que não são aplicados: i) Protocolo
comunitario del pueblo negro de las cuencas de los ríos mayorquín, raposo y anchicayá. ii)Protocolo para el
relacionamento del y com el Puebo Nasa del Resguardo de Cerro Tijeras, Municipio de Suarez, departamento del
Cauca. iii) Protocolo para la consulta y Consentimiento previo libre e informado del Pueblo Negro Norte-Caucano
de los Consejos Comunitarios de los municipios de Suarez y Buenos Aires del departamento del Cauca. Para
acesso aos documentos completos, aqui: <https://www.hchr.org.co/index.php/presentacion-protocolos-
autonomos-de-los-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes>
166
Trabalho Interministerial e os ministros, além do sentimento de desconfiança e receio dos povos
indígenas por instalar um regulamento genérico e prejudicial, várias organizações e parceiras
indígenas propuseram avançar de forma independente, surgindo a proposta de elaborar os
próprios protocolos de consulta (YAMADA, GRUPIONI & GARZÓN, 2019, p. 12).
Os protocolos manifestam-se nesse contexto com o objetivo de que “as comunidades
expressam sua voz e seu direito próprio, como exercício da jusdiversidade e autodeterminação”
(SILVA, 2019, p.11), além de constituir um marco de regras mínimas de diálogo entre o povo
e o Estado.
Nesse sentido, em 2014 o Protocolo de Consulta e Consentimento Wajápi de Amapá
foram o primeiro no Brasil, norteando a aplicação desses direitos e inspirando outros povos a
continuar esse caminho como aconteceu na região do Tapajós: o dos Munduruku e de Montanha
e Mangabal.
Em 2017, os povos que habitam o Parque Indígena do Xingu foram os que prosseguiram
na construção do protocolo, seguidos pelos Juruna da Terra Indígena Paquiçamba de Volta
Grande do Xingu (2017), os Krenak de Minas Gerais (2017), os Waimiri Atroari (2018) e os
Kayapó associados no Instituto Kabu (2019).
Alem dos Protocolos de consulta da comunidade quilombola de Abacatal Aura, a
comunidade ribeirinha Pimental e São Francisco, Pará e a comunidade tradicional de Ponta
Oeste, Paraná159.
Em sistesis, observa-se como os protocolos de consulta elaborados até o momento,
como instrumento de autodeterminação destes povos ilustram sua voluntade de proteger seus
direitos territoriais, culturais e coletivos, assim como o impulso por criar melhor meios de
comunicação entre eles mesmos, entre povos e comunidades, e no diálogo com particulares
interessados e o Estado.
Cada um dos protocolos, como reflexo dos povos, possui características únicas e
diferentes formas em relação à forma como o processo de consulta deve ser desenvolvido, razão
pela qual qualquer um deles representaria a essência do que significa um protocolo de consulta.
No entanto, por razões metodológicas, apenas um deles será analisado, neste caso o
protocolo de consulta do Povo Waimiri Atroari, o qual foi escolhido por sua história, luta e
especial resistência contra todos os tipos de violência e agressões vivenciadas há séculos.
159 Acesso aos Protocolos autônomos de consulta do Brasil completos: <https://rca.org.br/consulta-previa-e-
protocolo/>
167
3.4.1. História e contextualização do povo.
Os Waimiri Atroari como são mais conhecidos160, os quais também se autodenominam
como "kinja" vivem hoje no norte da Amazônia e no sul de Roraima, antigamente habitados na
região do rio Urubu- à margem esquerda do rio Negro-, até o foz do rio Jauaperi subindo até
sua principal afluente, o rio Alalaú, que hoje é considerado como o maior ponto de concentração
do povo (CARVALHO, 2015, p. 59).
Um aspecto interessante a ressaltar é que as pessoas que vivem na área de influência do
rio Camanau, Jauaperi, Santo Antônio de Abonari, chamam os índios que vivem perto da área
dos rios Alalaú e Jauaperi, de Atroari, enquanto, denominam os índios que vivem perto dos rios
Camanau e Jauaperi, de Waimiri.
O referido, se justifica no fato de que o disponível sobre o primeiro contato do povo
Waimiri Atroari remontam a 1856 com o etnólogo Barbosa Rodriguez (1895) que aponta o
início de um episódio de invasão e violência que relata muito bem em seu livro chamado
“Jauaperi, pacificação dos Crichanás”, denominando dessa forma aos Waimiri.
Antes do século XIX, o relacionamento do povo Kinja com a sociedade colonizada não
apresentava grandes inconvenientes, somente no início e meados do século XIX que surgiram
problemas com alguns dos produtores e coletores de Castanha que, na época, procuravam
atender os mais altos padrões de produção (CARVALHO, 2015, p. 16).
Como resultado da extinção da aldeia em 1768, os únicos sobreviventes nas cabeceiras
do rio Jauaperi foram os Crichanás que, em 1845, disseram começaram a descer até chegar ao
rio Negro.
Sob a ordem de obter a submissão dos índios com fins comerciais e eles permitirem aos
castanheiros fazer suas coletas sem serem incomodados, o Major Manoel Pereira De
Vasconcellos, em 29 de abril de 1859, juntamente com 50 guardas armados atacaram
violentamente e agressivamente as aldeias dos índios Crichanás ou mais conhecidos como
Waimiri (CARVALHO, 2015 & (RODRIGUES, 1885).
Ataque que na época deixou um total de 300 índios mortos, incluindo crianças e idosos,
malocas em cinzas e uma intensa guerra especialmente entre os índios Crichanãs e o homem
branco que durou quase 30 anos, pois ao contrário de outras tribos de Carvoeiro, Ayrçao não
exerceram esse tipo de ofensa (RODRIGUES, 1885).
160 Entre outros como: Crichanás, Juaperi, Alalaus e Waitemiris (CARVALHO, 2015, p. 59).
168
A partir daí, iniciaram ataques contínuos de ambas as partes, já que como bem indica
Rodrigues (1885) “apenas o civilizado avistava um índio, fazia-lhe fogo. O índio nunca
encontrava o branco sem que o ferisse” (p. 11).
Desde 1856, ano em que nasceu o primeiro grande confronto, houve inúmeros combates
entre os dois lados que criaram um mapa de violência e morte. Entre muitos dos eventos mais
marcantes foi o ocorrido em 12 de outubro de 1873, quando a vila de Moura foi atacada pelos
Waimiri Atroari, que horas depois foram atacados e mortos sistematicamente.
Ao conhecer a situação, o presidente da época, Epaminondas de Mello, autorizou a
artilharia a ir imediatamente a Moura e apreender os índios que já haviam se deslocado
momentos antes. Porém, os dois barcos enviados para a captura dos índios em momentos
diferentes iniciaram sua caçaria, para dar começo a um período de intenso massacre indígena
que evidenciou o ataque e morte de mais de 100 índios, que após algumas expedições chegaram
a 500 (RODRIGUEZ, 1885 & CARVALHO, 2015).
No entanto, as situaciones não pararam por aí, porque em outubro de 1874, o
comandante militar Antonio de Oliveira Horta somou a essa lista a morte de um total de 200
índios Waimiri Atroari que estavam sendo perseguidos (CARVALHO, 2015).
Como os fatos citados, muitos mais aconteceram, em menor ou maior grau, mas todos
igualmente violentos e desumanos. Carvalho (2015) afirma que os atos realizados pelos índios
eram considerados como crimes, eram publicados, enquanto os atos cometidos pelos brancos
nunca se tornavam conhecidos. “Ou seja, nessa guerra desigual os índios sempre levavam a
pior, o que fatalmente provocava neles maior ira contra os colonizadores” (p. 18).
Conforme com o exposto CIRINO & SILVEIRA, (2016) asseveram que
a história de resistência ao contato, consequentemente, a não inserção nas atividades
econômicas que se expandiam na região e a recusa à evangelização já se configurava
numa luta em defesa dos seus territórios, processo histórico de contato completamente
diferente de outras étnicas indígenas da região (p. 179).
Em 1911, depois de várias tentativas de expedição para encontrar os índios, que haviam
se deslocado, fruto do ataque violento por parte de um grupo policial que destruiu todas as
malocas e morreram ao parecer 280 índios e outros tantos presos, as atividades por fim pararam
(CARVALHO, 2015), ao mesmo tempo em que a falta de religiosos para catequizar.
O presidente da providência do Amazonas optou pelos postos militares “visando a
proteção dos segmentos da sociedade colonizadora que já invadiam o território indígena à
procura de riquezas naturais” (p. 25) uma vez que “a imagem alegórica de índios bravos,
atribuída aos Waimiri Atroari, foi se reproduzindo ao logo dos anos” (CIRINO & SILVEIRA,
2016, p. 181).
169
a) Processo de pacificação pelo SPI
Com a criação do Serviço de Proteção aos Índios – SPI, em 1910, como órgão
responsável da execução da política indigenista, que reconhecia como dever do Estado a
concepção de condições para a evolução dos povos até serem absorvidas pela sociedade
nacional em decorrência da expansão extrativista no rio Jauaperi, iniciaram-se em 1911, em
cabeça do tenente Alípio Bandeira (2009) no Estado do Amazonas e Acre as atividades da sede
administrativa da 1ª Inspetoria Regional que em sua fase inicial tinha como objetivo
Os principais objetivos do SPI no Amazonas em sua fase inicial foram: impedir os
ataques armados contra os Waimiri Atroari por parte dos caucheiros e seringueiros eu
exploravam o vale do Rio Uatumã, conter a evolução dos conflitos entres esses índios
e a sociedade regional do baixo Rio Negro que insistiu a invasão do Rio Jauaperi e
evitar a violência do Governo do Estado e de seus policias militares (p. 71).
Durante os dois primeiros anos, realizaram-se duas expedições, a primeira delas com
completo sucesso, já que permitiu a instalação de um grupo de servidores do órgão na localidade
de Tauacuéra e o desenvolvimento de atividades agrícolas como plantação de milho, café,
mandioca, cana, para o consumo e a comercialização, o que facilitou a comunicação e relação
com os índios (Bandeira, 2009).
Já num segundo momento, a Inspeção Regional com o objetivo de impedir a invasão
das terras indígenas, requereu ao Estado a Concessão de posse de terras aos Waimiri Atroari. O
Governo respondeu a esse pedido um ano depois através da Lei n. 941, de 16 de outubro de
1917:
[...] conceder como posse imemoriais havidas por ocupação primaria, todas as terras
possuídas atualmente por índios selvagens ou semicivilizados, para seu domicilio e
aproveitamento (art. 1 da cit. Lei n 941), devendo as concessões ser promovidas por
intermédio do Serviço de Proteção aos Índios (art. 3 da dita lei n 941), e cumprindo
ao governo da União effectuar as medições e demarcações respectivas dentro do prazo
de seis anos a contar da promulgação da mesma lei (lei 6 da lei 941 combinado com
o art. 1 da lei estadoal n 1053 de 24 de setembro do anno de 1920).
Foi com a criação desta lei que o território dos Waimiri Atroari foi delimitado a
princípio161, concedendo162 aos indígenas 50 quilômetros de terras para seu usufruto por parte
do Estado, mas também deve mencionar-se que essa concessão somente foi possível pela queda
no monopólio da borracha e aumento no comércio da castanha.
Ações que os índios utilizaram como meio de resistência para evitar ser ultrajados e
mortos novamente. Infelizmente, iniciaria uma vez mais um ciclo de violência contra sua
161 Já que algum tempo depois essa lei foi revogada e novas demarcações foram feitas, e nem sempre atendendo
às necessidades dos indígenas. 162 Neste sentido, Paulo Monte (1992) disse que por falar-se de posse imemorial não há porque se falar em
concessão, mas que dita concessão foi possível por questões econômicas.
170
integridade física e cultural, pois anos depois uma empresa Penha & Bessa estava focada ao
financiamento para a coleta de castanha e borracha.
Assim, muito indígenas eram mortos quando encontrados pelos invasores e coletores de
castanha e borracha da empresa Penha & Bessa que levavam a coleta para Manaus, além da
ausência do SPI que tinha se mudado para o rio Camanau para evitar os atritos entre os invasores
do Jauaperi e os servidores do SPI (CARVALHO, 2015).
Como resultado desse evento, os Waimiri Atroari ficaram praticamente desprotegidos,
tanto que no ano de 1949, 70 índios foram massacrados por interesses econômicos, o que se
estendeu até meados dos anos 50 refletindo claramente a situação da crise política indigenista
brasileira, o que tornou a acontecer em 1958 com a construção da Rodovia Manaus\Rio Branco
que atravessava suas terras (CIRINO & SILVEIRA, 2016).
b) A FUNAI e o Waimiri Atroari.
No capítulo II do presente trabalho, a FUNAI, se apresentou como um órgão que
procurava melhorar as condições dos indígenas, no entanto, em varias ocasiões foram
demostradas que muitos povos sofreram atrocidades por causa da não atenção do órgão, entre
eles os Waimiri Atroari.
Em 1970 começou-se a demarcação de terras que só até 1976 foi aprovada mediante
Decreto n. 999, período em que a FUNAI criou grupos de trabalho para propor a demarcação
das terras das Reservas Indígenas, Parques, Colônias, etc... Porém o surgimento do GT ao
mesmo tempo
Fez parte integral das políticas que o regime militar idealizou e implementou ainda no
final da década de 1960, complementando, entre outros, os planos de instalação de um
“polo industrial” em Manaus, a construção de uma hidroelétrica (Balbina) e a
mineração industrial em território Waimiri Atroari (Baines, 1992), assim como a
construção da BR174, com conexão terrestre (rápida) entre o centro da Amazônia
(Manaus) e os mercados norte-americanos e do Caribe (CIRINO & SILVEIRA, 2016,
p. 195)
Em síntese, esses projetos e outros, como a mineradora Pitinga e Parapanema,
representam para o povo Kija um exemplo claro da finalidade que o Estado teve de impor em
seus territórios o poder, além de invadir independentemente das consequências. Entretanto, o
povo Waimiri manifestou claramente que “preferiam morrer lutando a abandonar o que restava
de seu território e suas terras” (DAVIS, 1978, P. 123).
3.4.2. Projetos de desenvolvimento que afetaram os Waimiri Atroari
171
Imagem 2: Mapa projetos dentro do território do Povo Waimiri Atroari
(Fonte: Protocolo autônomo do povo Waimiri Atroari, 2018)
a) A Rodovia BR 174
A iniciativa da rodoviária surgiu, entre outras razões163, de um acordo internacional
firmado com outros países que tinham como objetivo a realização de um sistema rodoviário que
ligasse a região da Prata aos Andes, conhecida como BVB, que incluía Buenos Aires,
Montevidéu, Brasília, Caracas e Bogotá (CARVALHO, 2015, p. 62).
Portanto, a construção da BR174 foi a iniciativa desse projeto, porém, sua realização,
como sabemos, teve que atravessar a terra dos Waimiri Atroari gerando danos irreversíveis,
mesmo que em sua primeira tentativa, eles não tenham conseguido "pacificar os índios" como
um plano para sua construção.
Como Carvalho (2015) assevera, infelizmente, no final de 1969 e no início de 1970,
começaram as obras de construção da estrada, bem como seu plano de “pacificação dos índios”.
163 “os documentos do início da sua construção comprovam que o objetivo do governo militar era outro,
ou seja, ou acesso às minas de Pitinga, seguidos dos interesses em fontes de energia e ocupação de uma área
considerada pelo governo e empresários ’vazio demográfico’” (SCHWADE, 2012, p. 21).
172
Os avisos não foram seguidos, o que desencadeou uma série de ações. A primeira delas,
evidenciado na morte de três pessoas encarregadas de manter o contato com os índios, resultante
da intrusão de um deles na aldeia e seus atos inapropriados com uma das mulheres da vila
(CARVALHO, 2015, p. 65).
Após esse evento, o conflito entre os índios e os trabalhadores da estrada foi mais
intenso. O uso de armas de fogo que haviam sido proibidas desde o início já estava sendo
utilizado, de acordo com o General Comandante para sua defesa, porque, como ele afirmou:
“Tenho também uma missão, a de construir a estrada Manaus-Caracaraí-Boa Vista e terei que
cumpri-la. Mesmo que para isto tenha que enfrentar à bala os índios” (CARVALHO, 2015, p.
75).
Apesar da dimensão do que foi expresso pelo Comandante em relação ao uso da
violência, o evento que mais influenciou o panorama dois Waimiri, a FUNAI e a construção da
obra, de acordo com Carvalho (2015), foi a morte de Gilberto Pinto Figueiredo no dia 29 de
Dezembro de 1974, supostamente atribuída aos índios, fato que até hoje está envolto em
mistério.
Após a morte de Gilberto, a metodologia de comunicação com os índios foi modificada,
a FUNAI permitiu-lhes mobilidade e permanência no ponto de controle na estrada sem tomar
as medidas necessárias, que consequentemente suscitou doenças, entre elas o sarampo contraído
pelo relacionamento com os transcendentes que deixou um total de 22 mortos Kijas
(SCHWADE, 2012, p.53).
No entanto, esta não foi a única razão pela qual aumentou a mortalidade dos índios
Waimiri Atroari durante toda a construção da BR174, já que resultado de uma disputa
interminável que começou com a interferência nos territórios indígenas surgiram situações
delicadas que incrementaram as cifras.
b) Mineradora PITINGA
Como os interesses militares e econômicos da construção da Rodoviária BR-174, desta
vez o interesse pela mineração se manifestou novamente como ocorrera em 1944. Nessa
ocasião, em 30 de julho de 1967, o Coronel Mauro Carijó, diretor do DER / AM (Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem do Amazonas) solicitou a PETROBRAS informação do
potencial mineral do Estado em vista do plano rodoviário previsto (SCHWADE, 2012, p.23).
Conforme este pedido, a mineração obteve a aprovação para lavrar nas terras indígenas.
Assim quando as obras da BR-174 foram concluídas, o Grupo Paranapanema iniciou suas
atividades de forma invasiva em 1979 pelo lado Leste do território indígenas (BAINES, 2002).
173
Tal foi o impacto que, no ano de 1982, foi autorizada a construção de uma via de acesso à
mineradora Paranapanema, repercutindo igualmente na sociedade que iniciou uma ação civil
pública contra a União que exigia interdição da estrada, mas que, para interesses particulares,
não obteve um resultado positivo (JORNAL DO COMÉRCIO, 1986).
c) Hidroelétrica Balbina
Por outro lado, com o enfoque de desenvolvimento para Amazônia, o governo decide
começar estudos prévios para a construção da hidroelétrica Balbina no ano de 1968 no Rio
Uatumã, iniciando suas obras no ano de 1981, com previsão para ser finalizada em 1982, mas
só concluída em 1 de outubro de 1987 e o reservatório cheio em julho de 1989 (RODRIGUES,
2013, p. 52).
Assim como muitas outras usinas fizeram parte do projeto do Estado do Amazônia para
concluir a geração do sistema Furnas do Electrobras, a hidrolétrica de Balbina também entrou
nessa lista, que visava a venda de energia elétrica para empresas e residências, atendendo a
meta de suprir mais de 50% das necessidades da capital.
Nesse sentido, Renan Rodrigues (2013) agrega que a falta de diálogo do Estado com as
comunidades e o surgimento constante de divergências funcionaram como catalisador
suficiente para a população manifestar seu descontento, não só pela falta de animais para caça,
pesca e florestas para cultivo, que coloca em risco a subsistência dos povos tradicionais e
indígenas, mas também pelo não cumprimento do artigo 231 da Constituição e o direito dos
indígenas a serem consultados frente às medidas que pudessem afetá-los.
Como resultado dos impactos gerados pela hidrelétrica de Balbina na população
indígena164 e como forma de mitigá-los, a Electrobras, através da Electronorte e FUNAI,
assumira a responsabilidade de melhorar as condições de vida dos índios criando um programa
de apoio, denominado Programa Waimiri Atroari (PWA).
Na atualidade, o programa desenvolve: “o conjunto de ações indigenistas e de
assistência aos Índios Waimiri Atroari nas áreas de saúde, educação, apoio a produção e defesa
do território indígena dessa etnia” (PWA, (s.d.), p. 1).
3.4.3. Genocídio Waimiri Atroari
164 Já que na época atingida pela UHE da Balbina antes da formação do reservatório, os Waimiri Atroari
“habitavam 10 aldeias assim distribuídas: 3 aldeias na região do Rio Camanáu e Curiaú, 3 aldeias no Rio Alalau e
4 aldeias nas proximidades da BR 174 (Manaus-Boa Vista). As aldeias atingidas, diretamente, pelo reservatório
foram Tapupunã Taquari e precisaram ser deslocadas” (PWA, (s.d.), p. 5).
174
Durante o período da ditadura militar vivida entre os anos de 1980 no Brasil, o povo
Waimiri Atroari, como muitos outros grupos étnicos, sofreu uma forte violação dos direitos
humanos, que no caso dos Kija começou com a BR-174, passando pela UHE de Balbina, até a
ação dos mineiros e garimperos em seus territórios.
Tudo isso em nome do Plano de Integração Nacional (PIN), decretado pelo general
Emilio Garrastazu Médici, que buscava aproveitar os recursos da região amazônica.
Infelizmente, e considerando que os projetos referidos geraram um alto impacto
socioambiental, principalmente de deslocamento forçado, e aumento na manutenção dos índios,
a construção da BR -174 como objetivo de desenvolvimento econômico durante o período
militar foi dos eventos mais delicados, fortes, violentos e sangrentos que o povo Kija já viveu.
No relatório apresentado pela Comissão Nacional da Verdade em 2014 que destinou um
capítulo para a violação dos direitos humanos dos Povos indígenas165, e que inclui os Waimiri
Atroari demonstra através dos números a diminuição da população indígena desta etnia, já que
no ano de 1968 havia um total de 3 mil pessoas, ao passo que, anteriormente, no ano de 1905,
a população total era de 6 mil pessoas. Valor que permaneceu até 1972, porque, de acordo com
a Funai em 1983, havia apenas um total de 350 pessoas (CNV, 2014, p. 234).
Sob a perspectiva de integração dos índios, as forças militares desempenharam um papel
claro, como explana o Relatório da Comissão da Verdade (2014, (p. 234). ), referindo-se ao
ofício assinado pelo General de Brigada Gentil Paes em 1974 que expressou “Esse Cmdo., caso
haja visitas dos índios, realiza pequenas manifestações de força mostrando aos mesmos os
efeitos de uma rajada de metralhadora, de granadas defensivas e da destruição pelo uso de
dinamite”
A intenção das forças militares em relação ao posicionamento do Povo Waimiri Atroari
e sua oposição ou não aceitação na construção da Rodoviária BR -174 são claramente
observadas.
Os encontros entre o Batalhão e os Waimiri deixaram inúmeras mortes, tanto
funcionários, como oficiais como índios. Um evento a ser mencionado foi o ataque aéreo em
terras indígenas, que, como Viana Womé Atroari confirmou por ser vítima, foi um massacre
Foi assim tipo bomba, lá na aldeia. O índio que estava na aldeia não escapou ninguém.
Ele veio no avião e de repente esquentou tudinho, aí morreu muita gente. Foi muita
maldade na construção da BR-174. Aí veio muita gente e pessoal armado, assim,
165 O capitulo inclui as graves violações experimentadas pelos povos no período de 1946 e 1988 como resultado
das políticas do Estado nas que cerca de 8.350 indígenas foram mortos pela ação ou omissão de agentes
governamentais. E continua afirmando que: “O número real de indígenas mortos no período deve ser
exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi
analisada e que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas” (CNV,
2014, p. 205).
175
pessoal do Exército, isso eu vi. Eu sei que me lembro bem assim, tinha um avião assim
um pouco de folha, assim, desenho de folha, assim, um pouco vermelho por baixo, só
isso. Passou isso aí, morria rapidinho pessoa. Desse aí que nós via. (TV Brasil, 2011,
17:47 – 18:37).
Imagem 3: Hora do ataque a Maloca do povo Waimiri Atroari
(Fonte: Carvalho, 2015, p. 64)
Além das “chacinas a tiros, esfaqueamentos, decapitações e destruição de locais
sagrados” que se manifestaram a partir de 1974. Por essas razões, em 28 de fevereiro de 2018
foi realizada na terra indígena (TI) uma audiência Pública do Ministério Público Federal (MPF)
no que se procurou obter os relatos dos sobreviventes desse forte período.
Por tudo, confirma-se que os Waimiri Atroari, após seu relacionamento com o homem
branco, foram colocados em uma posição de subjugação e dominação. O cenário que se
intensificou com o desejo de integração e incorporação dos índios na sociedade, mas que por
interesses econômicos e militares, os efeitos resultaram maiores, uma vez que foram
brutalmente assassinados, a ponto tal de eliminá-los quase completamente.
Em outras palavras, período da ditadura civil-militar foi a “atualização do colonialismo
brasileiro” que procurava o extermínio físico e cultural (TIERRA LIVRE, 2018) dos povos
indígenas, claramente visível com o Povo Waimiri Atroari.
Satisfatoriamente, esse cenário não teve sucesso, os povos indígenas resistiram a todo
tipo de ataques, -mesmo que sua quantidade diminuísse de forma drástica-, eles continuam
resistindo hoje ao capitalismo e a todas suas formas de exploração e dominação.
176
3.4.4. Protocolo de Consulta ao Povo Waimiri Atroari – Ie´xime ArynatyPy nyPykWatyPy
Waimiri Atroari Behe taka166
Como resultado da história sempre marcada por violações à identidade, modo de vida e
território, com um registro muito desolador, em que passaram cerca de 3.000 indígenas a menos
de 400 do impacto gerado pela construção da Estrada BR 174, e outros tantos projetos o povo
Waimiri Atroari ou Kinja, exigem ser consultados.
Na atualidade, o povo Kinja encontra-se preocupado pela intenção do Governo Federal
em construir uma linha de transmissão por dentro de suas terras. Segundo descrevem eles:
Isso não pode mais acontecer. Temos o direito de ser consultados antes do
empreendimento ser aprovado pelo Governo. Várias reuniões sobre a linha foram
realizadas conosco, com o Governo e com o empreendedor, onde sempre perguntamos
por que deve passar por nossa Terra. Disseram-nos que era a melhor alternativa de
traçado. As outras não eram boas. As reuniões nunca tiveram um caráter consultivo.
Parecia ser sempre uma imposição do Governo. Não tínhamos opção (PROTOCOLO
AUTONOMO DO POVO WAIMIRI ATROARI, 2018, p.9).
O povo Kinja se diferencia de outros povos por tomar as decisões que envolvam
território, identidade e organização social por todos os membros das aldeias. Que em poucas
palavras quer dizer que: “Sempre deve haver um só pensamento” como símbolo de resistência
aos incontáveis anos de violência.
Em relação ao protocolo Waimiri Atroari, não existe um extenso índice que defina
detalhes sobre o processo de consulta, o que não significa que ele não tenha em suas páginas a
mesma essência do protocolo do povo Arhuaco, pois eles levantam questões importantes e
fundamentais para esse processo.
Assim, eles estruturaram o protocolo da seguinte maneira:
1. Por que escrevemos este documento
2. Quem são os Waimiri Atroari
3. Por que devemos ser consultados
4. Quando devemos ser consultados
5. Como queremos ser consultados
6. Reuniões internas plano de consulta
7. Como se encerra o processo de consulta
Passando diretamente ao terceiro ponto, o povo especifica que, de acordo com o estatuto
da Índia, Lei 6001, artigo 6 da Convenção 169 da OIT, artigo 231 da Constituição Federal, seu
166 Ver protocolo Autonomo de Consulta completo no Anexo. Para ver protocolo autônomo do Povo Waimiri
Atroari: digital em: <https://rca.org.br/wp-content/uploads/2018/08/PROTOCOLO-WAIMIRI-ATROARI-capa-
e-miolo-baixa-para-site.pdf>
177
direito de consulta deve ser garantido antes de “todo empreendimento que afeta nossa terra,
cultura, tradições, identidade no interior e no entorno da Terra Waimiri Atroari” (p. 15).
Exigindo que devem ser consultados, que “deve acontecer antes de qualquer decisão do
Governo”, uma vez que o atual projeto do Governo quer passar por seu território sem nunca
haver consultado o povo, quando “Tudo já estava concertado, planejado, parecendo que nós
não podíamos questionar, decidir sobre nossas vidas, sobre nossa Terra e sobre a implantação
do empreendimento” (p. 17).
Na etapa de Como queremos ser consultado o povo Kinja indica que o governo e
particulares devem respeitar seus direitos, i) permitir clareza sobre o projeto, ii) apresentando
os impactos negativos e positivos e os riscos tanto territoriais, coletivos, econômicos e culturais,
iii) ao brindar informação simples e sem pressa, “Devendo sempre ter um intérprete para
traduzir logo em seguida a exposição”, iv) sabendo “o porquê de tal empreendimento. Por que
tem de ser feito dentro de nossa terra?”. v) Garantindo a presença de todas as lideranças Waimiri
Atroari, presença da FUNAI de Brasília, MPF, ACWA (Associação Comunidade Waimiri
Atroari) e PWA (Programa Waimiri Atroari) e, vi) facilitando o devido registro com atas, com
áudio e vídeo, sendo somente o povo Waimiri Atroari quem pode fazer o registro, áudio e vídeo
(p. 19-20).
Por último, o Povo Waimiri detalha a realização de uma reunião que terá caráter
informativo, apenas ouvindo as ideias, projetos ou empreendimentos de interesse a serem
realizados dentro de seu território. “A primeira reunião será marcada por nós em local escolhido
também por nós, sendo preferencialmente na Terra Indígena Waimiri Atroari”. Gastos de
transporte, alimentação, material de expediente financiado pelo governo (p. 21).
Enquanto as Reuniões Internas – Plano de Consulta, após a reunião geral, eles irão
realizar reuniões internas em cada uma das aldeias e depois uma reunião geral em presença das
lideranças, FUNAI de Brasília, MPF, ACWA e PWA. Um aspecto extremamente especial do
Povo Kinja, sobre os demais povos é que a forma de tomada de decisão sobre os assuntos é
diferenciada, representando de forma perfeita seu direito de participação ao manifestar,
Nós, Waimiri Atroari, não decidimos absolutamente nada por votos, mas todos devem
concordar sobre o assunto em pauta. Tem de haver um só consenso. Temos o nosso
tempo, onde informamos e explicamos a todas as aldeias as ideias propostas pelo
governo ou interessados (PROTOCOLO AUTONOMO DO POVO WAIMIRI
ATROARI, 2018, p. 23).
Assim, após decisão de consulta interna pelos líderes do povo Waimiri Atroari será
encaminhada o plano de consulta ao órgão governamental em questão, a FUNAI e o MPF.
178
Para finalmente, na última reunião encerrar o processo de consulta com presença do
povo Waimiri Atroari e os representantes interessados expressando a decisão de todas as
aldeias, cabendo a todos respeitar sua decisão, for positiva ou negativa a favor do projeto. De
esta forma, “O processo de Consulta pode terminar com acordo ou sem acordo. Será feita uma
ata de acordos de consulta que é vinculante entre as partes”.
Em síntese, o protocolo de consulta do povo Waimiri Atroari apresenta aspectos
fundamentais para o desenvolvimento do processo, além de incluir um aspecto único em
comparação aos demais protocolos autônomos, o consenso, sem o qual não é possível
prosseguir com a realização de projetos ou obras, sem antes por unanimidade todos os membros
das aldeias aceitar e aprovar a modificação de seus status.
3.5. Reafirmação do direito de autodeterminação e identidade dos povos indígenas
Com base nos tópicos acima, é necessário então, considerar que embora o
estabelecimento de políticas, normas e jurisprudências internacionais tenham sido construídas
com base nas comunidades locais para novas formas de entendimento e relacionamento entre
os Povos Indígenas e os Estados, é preciso mudar a lente de enfoque dos direitos humanos como
localismo globalizado, para ser parte de um projeto com igualdade, inclusão social e
apropriação do direito de autodeterminação e práticas interculturais.
Ao fazer uma análise comparativa entre a compreensão dos direitos humanos e os
direitos dos povos indígenas a partir da perspectiva de Souza Santos, a máxima universalista
torna aos primeiros como ‘localismos globalizados’, impondo essa mesma visão sobre os
direitos dos povos indígenas no momento em que se quer generalizar su cosmovisão a uma só,
quebrando com sua estrutura e cultura própria.
Para Silvia Cusicanqui, é preciso descolonizarmos, tanto coletiva como
individualmente, descoloniza para criar, para nos reconhecermos, nos identificarmos e
lembrarmos de nossa história, impulsionando assim as lutas emancipatórias. Ao contrário com
os povos indígenas, eles ainda continuam com suas práticas tradicionais e próprias que
naturalmente reafirmam sua identidade cultural e étnica, mas que com as novas formas de
desenvolvimento colocam-se em risco.
Neste sentido,
Es imprescindible potenciar lo comunitario en la (re)construcción de lo identitario
como proceso de articulación armónica e integración coherente del sujeto a una
totalidad. (...) La cultura pasa entonces a ser el fermento para el fortalecimiento de las
identidades ancestrales y nuevas. (...) La riqueza del mundo nuevo es la riqueza de la
diversidad. Y esta incluye, en un nivel de igualdad y desde el respeto, la diversidad
179
de enfoques, comportamientos, sensibilidades, maneras de participar, opciones de
vida167 (GALFISA, 2017, p. 20).
De forma tal que se possa diminuir a força das políticas focadas em estruturas que
atendem o interesse econômico e favorecer o aspecto territorial indígena.
Segundo Duque (2009), o século XIX, foi então caracterizado pelo “cúmulo das
ambições pessoais e regionais”, a falta de interesse na recuperação dos valores culturais e
esquemas dos povos indígenas, para consolidar o programa estadual de colonização dos
territórios inconquistados, para alcançar o progresso e a civilização, mas que os povos indígenas
por suas características e manifestações culturais, sociais e econômicas “não poderiam ser nada
além de um obstáculo para o país e para si mesmos” (p. 118).
¿Qué hacer entonces? ¿Eliminarlos? Esa era una alternativa por la que muchos
optaron y de la que no pocos se valieron cruentamente. Otra, una tal vez menos
culposa, era la estrategia de borrar de las memorias de los sobrevivientes todo rastro
de tradición extraña a los esquemas civilizadores del nuevo orden. Incorporarlos al
progreso: ésa sería la demostración de que el Estado y la sociedad se preocupaban por
ellos, y resultaba una mejor estrategia que reconocer, abiertamente, que les resultaba
desagradable y vergonzoso su exotismo. Se hizo urgente convertirlos en ciudadanos
para que pudieran disfrutar de los beneficios de igualdad, borrando de paso cualquier
vestigio de impresentable salvajismo en tan considerable parte de la nueva sociedad
nacional.168 (DUQUE, 2009, p. 118, 119).
Hoje não é muito diferente, de fundo os países ainda continuam e permanecem sob uma
visão colonialista, de inferiorizar os princípios básicos ancestrais que tem os povos indígenas
com o seu território, autonomia e espiritualidade.
Para Silvia Cusicanqui, esse cenário é então produto do medo do poder hegemônico, do
medo ao empoderamento, a pluralidade e as transformações, do medo à deliberação, e ao
reconhecimento como indivíduos e como coletividades que podem através de seus
conhecimentos ancestrais fundar e retomar um pensamento que fortalece as diferenças (ALICE
CES, 2014).
167 É essencial fortalecer o comunitário na (re)construção da identidade como um processo de articulação
harmônica e integração coerente do sujeito a uma totalidade. (...) A cultura torna-se o fermento para fortalecer
identidades ancestrais e novas. (...) A riqueza do novo mundo é a riqueza da diversidade. E isso inclui, em um
nível de igualdade e de respeito, a diversidade de abordagens, comportamentos, sensibilidades, modos de
participar, escolhas de vida (Tradução livre- GALFISA, 2017. p. 20). 168 O que fazer então? Excluí-los? Essa foi uma alternativa pela qual muitos optaram e que poucos valeram
cruelmente. Outra, talvez menos culpada, foi a estratégia de apagar das lembranças dos sobreviventes todos os
traços de tradição estranhos aos esquemas civilizadores da nova ordem. Incorporá-los ao progresso: essa seria a
demonstração de que o Estado e a sociedade cuidavam deles, e era uma estratégia melhor do que reconhecer,
abertamente, que o exotismo deles era desagradável e embaraçoso. Tornou-se urgente torná-los cidadãos para que
pudessem usufruir dos benefícios da igualdade, apagando qualquer vestígio de selvageria representável em uma
parte tão considerável da nova sociedade nacional. (Tradução libre- DUQUE, 2009, p. 118, 119).
180
Daí que “a criação de referentes de sentidos para emancipação, a partir do cotidiano
dos sujeitos, é essencial para superar as formas tradicionais de dominação” (Tradução livre-
GALFISA, 2017, p. 14). Mas que antes disso, deve-se
Entender nuestra diversidad como riqueza, rescatar los valores de las culturas
originarias, rurales, de identidades aún más jóvenes, incorporarlas a la lucha de clases
para romper exclusiones, dicotomías, autosegregaciones y crear un sujeto colectivo y
a la vez plural, son elementos imprescindibles a lorar en el camino hacia una unidad
real169 GALFISA, 2017, p. 47).
Pois é claro, por outro lado, que apesar da criação de instituições, programas e
organizações para a participação das comunidades, a realidade não se ajusta às necessidades
indígenas, criando uma série de lacunas.
Depois de muito tempo, a letra das normas internas continua morta, os programas do
Estado desconhecem as particularidades dos povos indígenas, e contradizem completamente os
direitos constitucionais, principalmente os direitos de território e autodeterminação.
Isso, porque
El corpus de derechos indígenas tiene su fundamento en el derecho inherente de los
pueblos a existir de determinada manera. Del derecho de existencia es que se
desprende su derecho a la libre determinación del desarrollo. Y, de tales derechos -de
existir y determinar libremente su modelo de desarrollo- es que surgen las
obligaciones del Estado de crear los espacios de consulta, participación y
consentimiento, para que tales pueblos puedan hacer parte de la toma de decisiones
de las políticas de desarrollo nacional o regional que les puedan afectar (YRIGOYEN,
2011, p 1)170.
O direito dos povos a existir como um direito intangível (além de sua integridade física,
integridade cultural) deve constituir a base na qual todo Estado deve confiar para garantir o
direito dos povos indígenas à participação e consulta e consentimento prévio e livre e
informado, que também se constituem como um direito intangível mínimo.
Uma vez que simultaneamente, os povos vêm desenvolvendo de forma autônoma
formas de diálogo com o poder hegemônico e de dominação, construindo desde eles, desde
abaixo estruturas que favorecem suas práticas, suas tradições e cosmovisões coletivas.
Os protocolos de consulta, são concebidos até o momento como instrumentos que
afirmam essa autodeterminação dos povos, que tem demostrando resultados muito favoráveis,
169 Compreender nossa diversidade como riqueza, resgatar os valores das culturas rurais originais, de identidades
ainda mais jovens, incorporando-os à luta de classes para romper exclusões, dicotomias, auto-segregações e criar
um sujeito coletivo e ao mesmo tempo plural, são elementos essenciais para alcançar no caminho para a verdadeira
unidade (Tradução livre- GALFISA, 2017, p. 47). 170 O corpus de direitos indígenas baseia-se no direito inerente dos povos a existir de uma certa maneira. O direito
à existência é que segue seu direito à autodeterminação do desenvolvimento. E, de tais direitos - se eles existem e
determinam livremente seu modelo de desenvolvimento - é que surgem as obrigações do Estado de criar espaços
de consulta, participação e consentimento, para que esses povos possam fazer parte das políticas de tomada de
decisão desenvolvimento nacional ou regional que possa afetá-los (YRIGOYEN, p. 1).
181
contribuindo na legitimidade como sujeitos de direitos e a organização interna dos povos,
inclusive reconhecendo juridicamente o caráter vinculante do mesmo como aconteceu no caso
do povo Juruna, que por meio de decisão judicial emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região em dezembro de 2017 se ressaltou o dever do Estado de consultar o povo, conforme
suas regras estabelecidas no protocolo de consulta.
Os protocolos representam além de uma forma diferenciada de comunicação com o
Estado nos projetos, atividades ou outro tipo de medidas que possa afetá-los, uma forma de
controlar também os impactos e resultados do processo como foi observado em cada um desses
documentos –protocolos autônomos de consulta- refletindo em sua organização, prioridades,
necessidades e cosmovisão com o fim de estabelecer limitantes ao sistema neoliberal capitalista
extrativo.
182
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a convenção 169 da OIT, os povos indígenas conseguiram um grande logro a nível
internacional que permitiu seu reconhecimento como coletividade e como indivíduos de
especial proteção, não só pelo território que habitam, mas pela cultura e diversidade étnica
positivada na maioria de constituições, definindo os Estados como multiculturais,
pluriculturais, e plurinacionais.
No entanto, a luta não concluiu aí, uma vez que em 2006 a ONU emitiu a DNUDPI
reafirmando os direitos dos povos indígenas e seu direito de autodeterminação, e em 2017 foi
apresentada a DADPI que apresentou ainda maiores avanços em seu reconhecimento como
coletividades, sendo igualmente corroborando pelo SIDH por meio da CIDH e CtIDH em
algumas de suas decisões.
Neste sentido, os instrumentos internacionais e julgamentos reafirmam a importância da
consulta prévia e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas em todo tipo de
decisões que possam afetá-los, sendo essencial obter seu consentimento nos casos especiais em
que sua integridade física, cultural, econômica e espiritual se veja especialmente afetada, mas
que de forma tácita especifica os casos em que se deve obter de forma obrigatória esse
consentimento.
Pelo anterior, os povos indígenas têm manifestado que dito consentimento está
condicionado às decisões que o Estado e terceiros interessados consideram mais favoráveis
adotar, uma vez que muitos dos projetos são classificados como de menor impacto para a
obtenção do consentimento, mas que na realidade as realizações desses projetos prejudicam
fortemente a supervivência dos povos.
Aqui, é importante ressaltar então vários pontos importantes, primeiro, que de acordo
com as normas internacionais a consulta é um dever do Estado e um direito dos povos. Segundo,
que o consentimento é obrigatório em determinados casos segundo os lineamentos
internacionais, mas que não é exceto de ser aplicado em outros casos.
Terceiro, que mesmo que os povos indígenas não estejam de acordo com o projeto as
medidas a executar, o Estado tem a faculdade de decidir se continua com o projeto ou medida,
negando o veto ou oposição por parte dos povos como é fortemente mantida na Colômbia.
Quarto, que se é certo que os Estados negam o veto, não existe instrumento internacional
algum que indique que os povos indígenas não podem vetar as medidas legislativas ou
administrativas. Quinto, que o fato dos povos não consentir com a consulta, não significa que
estejam vetando a medida, mas que exigem que pelo menos sejam contemplados seus princípios
183
culturais e espirituais a fim de não afetá-los ao ponto de provocar sua extinção. Entretanto,
como foi exposto, alguns países estão adotando uma posição receptiva perante as decisões dos
povos, com o objetivo de respeitar seus direitos e autodeterminação.
Sexto, que os povos como forma de resistência e luta, estão organizando seus próprios
instrumentos de consulta com o objetivo de que o Estado e terceiros possam respeitar suas
decisões muito antes de iniciar algum tipo de projeto. Sétimo, que ditos instrumentos chamados
de protocolos autônomos de consulta reafirmam esse direito de autodeterminação por ser
construídos por eles mesmos, e integrar todos os elementos e características de cada povo,
incluindo além disso, o caráter vinculante e simbolizar a institucionalização dos povos.
Por tudo o anterior, deve então se dizer que a consulta é ou deveria ser sinônimo de
consentimento, e que os Estados têm o dever de consultar os povos indígenas e tribais, e que o
protocolo autônomo representa a autodeterminação do povo indígena ou comunidade que o
apresenta.
Assim é possível afirmar que no caso da Colômbia, mesmo que se destaque por ser um
pais altamente normatizado na consulta prévia, ainda apresenta várias lacunas e desafios na
defesa dos direitos dos povos indígenas e tribais, especialmente pela regulamentação do
processo de consulta que limita e impede que cada povo possa realizar dito processo conforme
a suas tradições; regulando o processo com normas gerais de consulta e ignorando o
desenvolvimento dos protocolos autônomos de consulta construídos pelos próprios povos.
Cenário que consequentemente gera uma violação a seus direitos de autonomia,
identidade, diversidade e claramente os outros direitos fundamentais que encontram ligação
com a consulta.
Por outro lado, no caso do Brasil, mostra-se um grande esforço por respeitar os direitos
dos povos indígenas e seus costumes e tradições, isso porque como foi observado os protocolos
autônomos dos povos indígenas e tribais encontram-se em crescimento e expansão, ao integrar
todos os elementos que cada povo considera devem ser essenciais para respeitar seus direitos,
e de como deve se realizar a consulta de forma que ela seja prévia, livre, informada e
culturalmente adequada, sem imposições, nem arbitrariedades.
Pelo anterior, vale agregar que os Estados têm o dever de consultar, e deveriam
conforme os lineamentos internacionais incentivar aos povos na criação de protocolos
autônomos de consulta, levando em consideração que essa mesma consulta significa
consentimento, e que, portanto, deve se respeitar a decisão dos povos e comunidades sem tentar
invadir ou manipular sua posição sob interesses econômicos neoliberais coloniais que
intensificam a brecha existente entre os povos e o Estado.
184
Por essa razão, os Altos tribunais devem continuar no fortalecimento e reconhecimento
dos direitos dos povos indígenas com o objetivo de intensificar a salvaguarda e prevenção nos
casos majoritariamente de exploração em territórios indígenas sem o devido procedimento de
consulta ou não realização da consulta aos povos e comunidades.
Uma vez que os povos realizam também um tipo de consultas com a Mãe Terra ou
natureza que devem-se executar conforme com os lineamentos e regras adequadas, e só em
determinados casos, pois, nem todos os casos devem ser consultados pela dimensão e gravidade
que representam para a comunidade. Razão pela qual, a consulta aos povos por parte do Estado
também deve respeitar e integrar todos esses elementos que para o povo são fundamentais.
Para finalizar, deve mencionar-se, que os procedimentos atuais atendem e definem
alguns aspetos de forma geral, mas que, só os protocolos autônomos de consulta respeitam ao
direito de autodeterminação, de identidade, de diversidade cultural e étnica, de autonomia, de
autogoverno e respeito de sua espiritualidade.
De essa forma, poderia se considerar que o processo de consulta e consentimento prévio,
livre e informado que realmente se adequa e tem sucesso, é aquele que ressalta as
particularidades de cada povo, que extrai a essência de cada coletividade, como é o mesmo
protocolo de consulta de cada povo.
185
REFERENCIAS
ACP. Asociación Colombiana del Petróleo. Buenas prácticas en Consulta Previa Un
camino hacia el entendimiento intercultural y el reconocimiento a un derecho humano y
étnico. VII Congreso Internacionalde Minería, Petróleo y Energía,Cartagena deIndias, 2013.
ALCOREZA, Raul. Autonomías y descolonización. In: Pueblos originarios en lucha
por las Autonomías: experiencias y desafíos en América Latina, GARCÍA Guerreiro
Luciana; PAVEL Camilo (Coord.). 1a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo;
CLACSO; La Paz: CIDES/UMSA. Posgrado en Ciencias del Desarrollo, 2016, p. 59-87.
ALICE CES. Conversa del Mundo - Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura de
Sousa Santos. Centro de Estudos Sociais. Universidad de Coimbra. Março, 2014. Disponível
em: <https://www.youtube.com/watch?v=xjgHfSrLnpU&t=3405s> Acesso: 13-12-2019.
ANAYA, James. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
pueblos indígenas. Consejo de derechosHumanos. 15 de julio de 2009. A/HRC/12/34, 2009.
Disponível em:
<https://especiais.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/sites/util.socioambiental.org.ins
t.esp.consulta_previa/files/El%20deber%20estatal%20de%20realizar%20consulta_anaya_inf_
cdh.pdf> Acesso: 18-07-2019.
ANAYA, S. James. Indigenous Peoples in International Law. Nova York: Oxford
University Press, 2004.
ARAÚJO, Ana, et. alii. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade; LACED- Museu Nacional, 2006. 208p.
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Roberto Raposo (Trad.). Companhia
das Letras: 3ª Edição, São Paulo, 1989.
ARIAS, Ana & YAGARI María. Seguimiento a la consulta de medidas legislativas y
administrativas con los pueblos indígenas en Colombia: La Mesa Permanente de
Concertación. In: Consulta previa y modelos de desarrollo: juego de espejos. Reflexiones a
propósito de los 25 años del Convenio 169 de la OIT.Puyana Aura (Comp.). Programa
Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina, Pro indigena de la GIZ,
GbmH, Gente Nueva: 1ra. Edi, 2016, pp. 105-124. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/profile/Fady_Ortiz_Roca/publication/313554591_Consulta_Pr
evia_y_Modelos_de_Desarrollo_Juego_de_espejos_Reflexiones_a_proposito_de_los_25_ano
s_del_Convenio_169_de_la_OIT/links/589dedaa45851598bab43bde/Consulta-Previa-y-
Modelos-de-Desarrollo-Juego-de-espejos-Reflexiones-a-proposito-de-los-25-anos-del-
Convenio-169-de-la-OIT.pdf> Acesso em: 07/03/2019.
ARIAS, Luis Fernando. Agenda Indígena y su incidencia en la acción del Estado. In:
Seminario Internacional Ciudadanía Indígena: Retos y nuevos desafíos para la Institucionalidad
Pública. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Ford. 1ª Ed.
186
Santiago de Chile, Agosto, 2013. p. 52-60. Disponível em:
<http://www.onu.cl/es/pdfs_inter/politicas_publicas_pueblos_indigenas_interculturalidad/10.
pdf> Acesso em: 07/04/2019.
BAINES, Stephen G. É a FUNAI que sabe: a frente de atração Waimiri-Atroari. Belem:
MPEG-CNPq-SCT-PR, 1990.
BAINES, Stephen Grant (Departamento de Antropologia / UNB). A política
governamental e os waimiri-atroari: administrações indígenas, mineração de estanho e a
construção de "autodeterminação indígena" dirigida. Série Antropologia 126, Brasília,
1992.
BANDEIRA, Alípio. Jauapery. Manaus: Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
2009.
BARBOSA, Marco Antônio. Autodeterminação: Direito à Diferença. Plêiade:
Fapesp, São Paulo, 2001, p. 452.
BÁRCENAS, Francisco. Autonomías indígenas en América: de la demanda de
reconocimiento a su construcción. In: Berraondo Mikel (Coord.), Pueblos indígenas y
derechos humanos, Instituto de Derechos Humanos Universidad de Deusto, serie Derechos
Humanos, Vol. 14, Bilbao, 2006, p. 423-450. Disponível em:
<https://www.goredelosrios.cl/cultura2/wp-content/uploads/2016/02/Pueblos-
Ind%C3%ADgenas-y-Derechos-Humanos-Mikel-Berraondo-Coordinador.pdf> Acesso em:
07/03/2019.
BARONA, Guido y ROJAS. Tulio. Falacias del pluralismo jurídico y cultural en
Colombia. Ensayo crítico. Popayán: Universidad del Cauca, 2007.
BLANCO BARRO, José Agustín. Dos colonizaciones del siglo XVIII en la Sierra
Nevada de Santa Marta. Bogotá: Archivo General de la Nación- Colombia, 1996.
BRASIL, Senado Federal. Diário do Senado Federal. Ano LVII, n° 83, 20 jun. 2002.
Brasília, 2002, Em: SALES, Isabela. Consulta Livre, Prévia e Informada: Garantia de Direitos
dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e a Constituição Federal de 1988, Dissertação
de Mestrado, Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2015.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas
Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e
pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições
Técnicas, 2016, 496p. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>.
Acesso em: 09/03/2019.
BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio.
Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm> Acesso em: 22/03/2019.
BRUIT, Hector H. Bartolomé de Las Casas e a simulação dos vencidos. Campinas:
UNICAMP/ São Paulo: Iluminuras, 1993, 228 p. Disponível em:
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/281347> Acesso em: 07/03/2019.
187
C.I.T., Confederación indígena Tayrona. Organización del pueblo arhuaco protocolo
Autónomo – Mandato del Pueblo Arhuaco- Para el relacionamentocom el mundo externo
incluyendo la consulta y el consentimentoprévio, libre e
informado.Ga’kunamuikuzeyniwiumukeparia’chunabunachusinuzoriukumungwaunkuncho’s
iwazeyngwa, u’munukunuo’kayzanusineyawir. Nabusimake, Sierra Nevada de Santa Marta
junio 2016 – junio de 2017.
CABRERA, Lizandro A. América Latina y la globalización. Opinión Jurídica, Vol. 8,
No. 16, Julio-diciembre, 2009, p. 33-46. Medellín, Colômbia. Disponivel em:
<http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v8n16/v8n16a02.pdf> Acesso em: 24 de junho de 2018.
CALÍ TZAY, José Francisco. Notas sobre el Convenio 169 y la lucha contra la
discriminación, en Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas -IWGIA,
Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en América Latina a 25 años de
su aprobación, José Aylwin y Leonardo Tamburini (Eds.), Copenhague: IWGIA, 2015, p. 28-
45. Disponível em:
<https://www.iwgia.org/images/publications/0701_convenio169OIT2014.pdf> Acesso em:
18/02/2019.
CAMERINI, João. As raízes epistêmicas da interpretação Jurídica fragmentada da
realidade sócio-ambiental e a “invisibilidade” das comunidades tradicionais. Revista
Hileia de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 5, n. 8 UEA- Edições Governo do Estado do
Amazonas, Secretaria de Estado da Cultura. Universidade do Estado do Amazonas, 2007. 191p.
CARVALHO, José Porfírio Fontenele de. WAIMIRI ATROARI- A história que ainda
não foi contada. 3ª Edição. Manaus: BK Editora. 2015. 230p.
CASAS, Fray Bartolomé de las. Historia de las Indias. Tomo I. Historia del Nuevo
Mundo (HDNM). SAINT-LU, Andre (Edición, prologo, notas y cronología), Biblioteca
Ayacucho, 1559, 796p.
CASO UHE BELO MONTE, TRF1, Apeleção Cível 2006.39.03.000711-8-PA, Voto
da Relatora Desembargadora Selene Almeida, 2011.
CEACR Observación Individual Argentina sobre el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT, 2005.
Disponível em:
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMME
NT_ID:2243437> Acesso em: 11/05/2019.
CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Os Povos Indígenas
na América Latina, Avanços na última década e desafios pendentes para a garantia de
seus direitos. ONU, Fevereiro 2014, Santiago, Chile. Disponível em:
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37773/S1420764_pt.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y> Acesso em: 18/02/2019.
CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos
Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc.
56/09, 30 de diciembre de 2009, párrs. 273 a 297.
188
CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en
el contexto de actividades de extracción, exploración y desarrollo. Organización de los
Estados Americanos OEA/ Ser.L./v/II. Doc. 47/15. 31 de diciembre 2015. 191p.
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito
de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004.
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc.
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001.
CIDH. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos de
los pueblos indígenas y tribales Sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas
y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.
56/09, 30 diciembre 2009.
CIMI, Conselho Indigenista Missionário. RelatórioViolência contra os Povos
Indígenas no Brasil – Dados de 2017. Rangel Lúcia (Coord.). 2017. 168p. Disponível em:
<https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Relatorio-violencia-contra-povos-
indigenas_2017-Cimi.pdf> Acesso: 28-12-2019.
CNTI. Comisión Nacional de Territorios Indígenas. La violencia contra los Pueblos
Indígenas en tiempos de Paz. 6ta Sesión CNTI, Bogotá. 2016. Disponível em:
<http://cntindigena.org/la-violencia-contra-los-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-paz/>
Acesso: 28-12-2019.
CNV, Comissão Nacional da Verdade. Relatório – volume II - textos temáticos - Texto
5 - Violações de direitos humanos dos povos indígenas, dezembro de 2014. p. 204-262.
Disponível em:
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-
%20Texto%205.pdf> Acesso: 14-09-2019.
COBO, José R. Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones
Indígenas. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/1986/7 & Adds. 4. Disponível em:
<http://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASH0151/8c042321.dir/EstudioCob
o_conclus_es1.pdf> Acesso em: 27/03/2019
COLOMBIA. Constitución Política de Colombia: Secretaria General del Senado,
Senado de la Republica, Congreso de la Republica de Colombia. Edición corregida publicada
en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Bogotá, 2018. Disponível em:
<http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica> Acesso em:
11/03/2019.
COLOMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia SU-039 de
1997.Referencia: expediente T- 84771. Magistrado ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Bogotá, 03 de febrero de 1997. Disponível em:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU039-97.htm> Acesso em:
11/04/2019.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-461 de 2008. Referencia:
expediente D-6984. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá, 14 de
189
mayo de 2008. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-461-
08.htm> Acesso em: 11/04/2019.
COMITÉ de Derechos Humanos, Apirana Mahuika vs. Nueva Zelanda. Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 70º período de sesiones, 16
Oct- 3 Nov 2000. Disponível em: <http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/547-
1993.html>Acesso em: 11/05/2019.
COMPARATO, Fábio. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Editora
Saraiva: 7ª Edição, São Paulo, 2010. 589 p.
CORDEIRO, Idelceide Rodrigues Lima. Diversidade biológica: regulamentação
jurídica do patrimônio genético. 2015.
CORREA, Rubio François, A manera de epilogo. Derechos étnicos: Derechos
Humanos. Em: François Correa Rubio, ed. Encrucijadas de la Colombia Amerindia. Bogotá:
Instituto Colombiano de Antropologia, 1993.
CORTE IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie
C No. 182, Sentencia de 5 de Agosto de 2008.
CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.
CORTE IDH. Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua.
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2001 (2001a). Série C, n. 79. Voto
Razonado Conjunto dos juízes Cançado Trindade, Pacheco Gómez e Abreu Burelli.
CORTE IDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos ABC de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: El qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de la Corte
Interamericana. Preguntas frecuentes / Corte Interamericana de Derechos Humanos. - San
José, C.R.: CorteIDH, 2018. 25 p. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABCCorteIDH.pdf> Acesso em:
18/02/2019.
CORTE IDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2001.
CORTE IDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka
vs. Suriname. Sentencia de mérito de 28- Nov, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Costa Rica, 2007.
CORTE IDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso del Pueblo Indígena
Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27- Jun, Fondo y Reparaciones. Costa Rica,
2012.
CORTE IDH., Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de
agosto de 2008. Serie C No. 185. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_esp.pdf> Acesso: 18/05/2019
190
CORTÉS Lombana, Pedro. Relación del conflicto armado en Colombia con el
desplazamiento y la resistencia indígena. In: Carlos Vladimir Zambrano, ed., Etnopolíticas y
racismo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2002.
DAVIS, Shelton. Vítimas do milagre. O desenvolvimento e os índios do Brasil. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1978.
DE CASTRO, Eduardo B. Viveiros. A autodeterminação indígena como valor.
Anuário Antropológico, 1982, vol. 6, no 1, p. 233-242. Disponível em:
<http://www.dan.unb.br/images/pdf/anuario_antropologico/Separatas1981/anuario81_viveiro
sdecastro.pdf> Acesso em: 15/05/2019.
DE LA SIERRA, Resguardo Indígena Arhuaco et al. Cabildo Arhuaco de la Sierra
Nevada, NiwiU’munukunuchwamunarigun re´ no’kwamuEntendimiento mutuo para el
cuidado de nuestro territorio. Guía de relacionamiento y diálogo entre el sector minero
energético y el pueblo Arhuaco. 2019, 68p. Disponível em:
<https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/23873954/6.+Guia+de+Relacionamiento
+Arahuaco.pdf/4acaa2a1-d9fc-4bd0-8862-54f92cc789e3> Acesso: 12-11-2019.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO del Perú y la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO). El Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. El rol de los
Ombudsman en América Latina. Memoria del Encuentro Extraordinario de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman, Lima, Perú, abril de 2013. 119 p.
DUQUE, J. P. Lo sagrado como argumento jurisdiccional en Colombia. La
reglamentación de tierras indígenas como argumento de autonomía cultural en la Sierra
Nevada de Santa Marta. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009.
E/CN.4/2003/90. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
and fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo Stavenhagen, submitted in
accordance with Commission resolution 2001/65*.Human rights and indigenous issues.
ONU, Commission on human rights. 59 session. 21 January 2003. Disponível em:
<https://undocs.org/E/CN.4/2003/90> Acesso: 27-11-2019.
EL ESPECTADOR, Crónica de un pagamento frustrado. En: el Espectador, Bogotá
(Semana el 24 al 30 de septiembre de 2006); p. 1A- 10A.
EL RELATOR ESPECIAL. Los Derechos de los Pueblos Indígenas Experiencias y
Desafíos. Centro Internacional De Derechos Humanos Y Desarrollo Democrático – Grupo
Internacional De Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) - Fundación Tebtebba - Canadian
Friends Service Committee (Quakers). Copenhague, Dinamarca. 2007.
ELTIEMPO. En Colombia asesinan a un indígena cada 3 días; van 120 este año.
Unidad investigativa. 30 de octubre 2019. Disponível em: <https://www.eltiempo.com/unidad-
investigativa/cuantos-indigenas-asesinan-cada-dia-en-colombia-
428886?fbclid=IwAR2vGOS4ryCbWaqlK7PD_dArJJ6pvaCBjRl3IbDfTEJFqh3pM3DsaOV
VTA0> Acesso: 27-12-2019
ESPINOSA, Guillermo. Instituto Indigenista Interamericano (III). ISUMA TV.
2009. Disponível em: <http://www.isuma.tv/es/instituto-indigenista-interamericano-iii>
191
ESTEVA, Gustavo. La hora de la autonomía. In: Pueblos originarios en lucha por las
Autonomías: experiencias y desafíos en América Latina, GARCÍA Guerreiro Luciana; PAVEL
Camilo (Coord.). 1a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo; CLACSO; La Paz:
CIDES/UMSA. Posgrado en Ciencias del Desarrollo, 2016, pp. 29-53.
FRIEDE, Juan. Problemas sociales de los Arhuacos. Monografías sociológicas.
Bogotá. N’16, 1963.
GALFISA. Desafíos del Movimiento Social en América Latina y el Caribe. Instituto
de Filosofía. QUIALA, Féliz& MANZANO, Yohandry (Editores). Editorial [email protected].
Habana, Cuba. 2019.
GALFISA. Identidad y diversidad ¿Para qué? Instituto de Filosofía. QUIALA,
Féliz& MANZANO, Yohandry (Editores). Editorial [email protected]. Habana, Cuba. 2017.
GALVES, Maria & RAMÍREZ, Angela. Digesto de jurisprudencia latinoamericana
sobre los derechos de los pueblos indígenas a ala participación, la consulta previa y la
propiedad comunitaria.DPLF. Fundación para el Debido Proceso. Washington D.C. 2013.
279p.
GALVIS, Maria Clara. El Derecho a la consulta previa, libre e informada de los
pueblos indígenas, la situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. DPLF, Due Processo
f Law Foundation. Washington, s.d.
GARCIA, Alan. El Derecho a la consulta Previa a Pueblos y Comunidades Indígenas.
In: El Derecho a la Consulta Previa a Pueblos y Comunidades Indígenas. A la luz de los
Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos y las Decisiones de los
Tribunales Constitucionales. Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.
Editorial Porrúa. s.d. p. 179-277.
GARCIA, Olga. El derecho fundamental a la consulta previa: línea jurisprudencial
de la Corte Constitucional en la materia. Romero, Marco (Director).CODHES, Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Editorial Kimpres Ltda: Junio, Bogotá, 2012.
Disponível em:
<https://www.academia.edu/14963283/Linea_jurisprudencial_en_Colombia_sobre_Consulta_
Previa> Acesso: 18/04/2019
GRABNER, Maria Luiza. O direito humano ao consentimento livre, prévio e
informado como baluarte do sistema jurídico de proteção dos conhecimentos tradicionais.
Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 14- n. 45, jul-dez, 2015, p. 11-65.
GRANADOS, Margarita, RODRIGUEZ, Enyel, RODRIGUEZ, Luisa & TEHERAN
Sandra. Represa del río Ranchería: falsas promesas de desarrollo. CINEP. Cien Días vistos
por CINEP- PPP. Desarrollo. No. 75. Mayo-Julio. 2012.
GRUESO CASTELBLANCO, Libia & OACNUDH, Oficina, en Colombia del alto
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Derecho de los Pueblos
indígenas a la Consulta Previa, Libre e informada. Una guía de información y reflexión
para su aplicación desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 2009.
GTPI, Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, et al. El Mundo
Indígena. Lima, Peru, abril 2017, p. 10-32, 226-230. Disponível em:
192
<https://www.iwgia.org/images/documentos/mundo-indigena-2017.pdf> Acesso em:
18/02/2019.
GUTIÉRREZ, Viviana. Del sujeto diverso al sujeto político. Los dilemas de la
diferencia cultural en el Convenio 169 de la OIT. In: Consulta previa y modelos de
desarrollo: juego de espejos. Reflexiones a propósito de los 25 años del Convenio 169 de la
OIT.Puyana Aura (Comp.). Programa Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en
América Latina, Pro indigena de la GIZ, GbmH, Gente Nueva: 1ra. Edi, 2016, pp. 19-42.
Disponível em:
<https://www.researchgate.net/profile/Fady_Ortiz_Roca/publication/313554591_Consulta_Pr
evia_y_Modelos_de_Desarrollo_Juego_de_espejos_Reflexiones_a_proposito_de_los_25_ano
s_del_Convenio_169_de_la_OIT/links/589dedaa45851598bab43bde/Consulta-Previa-y-
Modelos-de-Desarrollo-Juego-de-espejos-Reflexiones-a-proposito-de-los-25-anos-del-
Convenio-169-de-la-OIT.pdf> Acesso em: 07/03/2019.
HANKE, Lewis, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America.
PhiladelphiaUniversity of Pensilvania Press: 1959.
HARARI, Yuval. Sapiens- Uma breve História da Humanidade.Best-Seller
Internacional. LPM Editors. Marcoantonio Janaina (Tradução). 2014, 452p.
HUACO, Marco Antonio. Los trabajos preparatorios del Convenio no. 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Fundación Konrad Adenauer
(KAS), Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) en América Latina. Lima,
2015. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/31577.pdf> Acesso em: 27/03/2019.
IPDRS, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Informe 2017. Acceso a la
tierra y territorio en Sudamérica. Ruth Bautista Durán; Oscar Bazoberry Chal; Lorenzo Soliz
Tito.La Paz, Bolivia, 2018. 278 p. Disponível em: <https://www.servindi.org/actualidad-
noticias/20/09/2018/publican-informe-acceso-la-tierra-y-territorio-en-
sudamerica?fbclid=IwAR0_O3kj4EBWvoi__ZxAmucsjvo59MKxYScWHLzs9cNhRxkXHq
HZhh4uMJk> Acesso em: 07/04/2019.
ISA, Felipe Gómez & BERRAONDO, Mikel. Los derechos indígenas tras la
Declaración, el desafio de la implementación. Universidad de Deusto. Serie Derechos
Humanos, vol. 20, Bilbao, 2013.
IWGIA. Voces de las Montañas Sagradas - Pueblo Arhuaco. Ore Media y Canejo
Producciones. Colombia, 2018. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=BEp8V93WlKs&t=577s> Acesso em: 07-10-2019.
JARAMILLO, Jaime. La población indígena de Colombia en el momento de la
conquista y sus transformaciones posteriores. En: Ensayos de Historia Social. Obras
completas de Jaime Jaramillo Uribe. México: D.F, Alfaomega, 2001.
JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS. CIMI protesta. FUNAI foge à sua função para
apoiar interesses do governo. Manaus, 27 de setembro de 1986.
JORNAL DO COMÉRCIO. Denúncias contra DNPM e Mineradora. Manaus, 27 de
setembro de 1986.
193
JURISPRUDÊNCIA da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Direitos dos Povos
Indígenas v2 / Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Tradução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília:
Ministério da Justiça, 2014.
KAYSER, Hartmut-Emanuel. Os direitos dos povos indígenas do Brasil:
desenvolvimento histórico e estágio atual; tradução Maria da Gloria Lacerda Rurack, Klaus –
Peter Rurack. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris ed,. 2010. 615p.
KEPPI, Jandira. A ratificação da convenção nº 169 da organização internacional do
trabalho pelo brasil. Universidade Católica de Mina Gerais. Rio Branco, 2001.
LA LINEA NEGRA. Documental, (Parte 1) Canal ISA Conexiones. Realización:
Manigua Tan Tan& ISA. 2014. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ovTa_4C9Yl0> Acesso em: 12-11-2019.
LACERDA, Rosane. A convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais:
origem, Conteúdo e mecanismos de supervisão e aplicação, 2010. Disponível em:
<https://es.slideshare.net/zazab023/a-conveno-169-da-oit-sobre-povos-indgenas-e-tribais-
origem-contedo-e-mecanismos-de-superviso-e-aplicao?from_action=save> Acesso em:
07/03/2019.
LIMA, Liana. Sujeitos da Convenção N.169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e o Direito à Consulta e ao Consentimento Prévio, Livre e Informado
(CCPLI. In: SOUSA FILHO, Carlos, OLIVEIRA, Rodrigo, LIMA, Liana e MOTOKI,
Carolina. Protocolos de Consulta Prévia e o direito à livre determinação. GLASS, Veronica
(Org.) – São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; CEPEDIS, 2019. p.47-107.
LIRA, Sandro; COSTA, Daniel; FRAXE, Therezinha e WITKOSKI, Antonio.
Sustentabilidade e Territorialidade: Dilemas, Desafios e Possibilidades de vida para as
Populações Rurais Amazônicas. In: WIKOSKY, Antonio Carlos. Território e
Territorialidades na Amazonia: formas de sociabilidades e participação política.
Organizado por Antonio Carlos Witkoski; Therezinha de J. Fraxe; Kátia Viana Cavalcante.
Manaus: Editora Valer, 2004. pp. 55-86.
LÓPEZ, Mikel Berraondo. Tierras y territorios como elementos sustantivos del
derecho humano al medio ambiente. Em Berraondo Mikel (Coord.), Pueblos indígenas y
derechos humanos, Instituto de Derechos Humanos Universidad de Deusto, serie Derechos
Humanos, Vol. 14, Bilbao, 2006. Disponível em: <https://www.goredelosrios.cl/cultura2/wp-
content/uploads/2016/02/Pueblos-Ind%C3%ADgenas-y-Derechos-Humanos-Mikel-
Berraondo-Coordinador.pdf> Acesso em: 07/03/2019.
LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os
povos indígens no Brasil hoje. Brasília: LACED-Museu Nacional, 2006.
Manejo comunitario del agua y la resistencia civil frente a la privatización.
Organización Semilla. Disponible em: <http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w1-1--
&x=20154554>Acesso: 12-11-2019.
MARTÍNEZ, Juan C., Martínez, Víctor L., & Andrés Violeta H. Derechos indígenas,
entre la norma y la praxis, Reflexiones a partir del Seminario Internacional: Cerrando la
brecha de implementación. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación
194
Konrad Adenauer y PLURAL. Programa de Pluralismo Jurídico y Vigencia de Derechos del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Bogotá, Colombia.
2018. Disponível em: <https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=88c8701b-45e6-
3729-2fda-dbea87a9144d&groupId=252038> Acesso em: 16-04-2019.
MONTE, Paulo Pinto.Etno-historia Waimiri Atroari (1663-1962). Dissertação.
Programa de Estudos de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, PUC:SP, 1992.
MORRIS, Meghan; Garavito, César; Salinas, Natalia & Buriticá, Paula. La consulta
previa a pueblos indígenas: los estándares del derecho internacional. MOURAILLE,
Camila (Coord.). Programa De Justicia Global y Derechos Humanos. Universidad de los Andes.
Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009.
NABUSIMAKE, Memorias de una independencia 1.2. Documental. 2012. Min.
21:12. Disponívelem: <https://www.youtube.com/watch?v=1ZTl79VhLIs>Acessoem: 11-10-
2019.
NABUSIMAKE, Memorias de una independencia 1.3. Documental. 2012a. Min.
16:27. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FjoOgERYeNg> Acesso em: 11-
10-2019.
NODAL. Noticias de América Latina y el Caribe. Colombia cierra 2019 con más de
10 mil homicidios y 230 líderes de DDHH asesinados.Colombia. 30 diciembre, 2019.
Disponível em: <https://www.nodal.am/2019/12/colombia-cierra-2019-con-mas-de-10-mil-
homicidios-y-230-lideres-de-ddhh-
asesinados/?fbclid=IwAR1MhT9HYMPFrFKxpofz_p4v8s1_36DxVx_iKqZvfuflzWOeffid0u
q1Hk8&utm_source=tr.im&utm_medium=www.facebook.com&utm_campaign=tr.im%2F1q
bbJ&utm_content=link_click> Acesso: 27-12-2019.
OACP. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sistema integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no Repetición.Prensa. Bogotá, 2019. Disponível em:
<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-
con-las-farc-ep/Paginas/PR-Sistema-integral-de-Verdad-Justicia-Reparacion-y-no-
Repeticion.aspx> Acesso em: 20/06/2019.
OBSERVACIÓN general núm. 23, Derecho de las minorías (artículo 27)Pacto
Internacional dos Derechos Civiles e Políticos (PIDCP), 50º período de sesiones,
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) 1994. Disponível em: <https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20Der
Hum%20%5BCCPR%5D.html#GEN23>Acesso em: 22/05/2019.
OEA, Carta de la Organización de los Estados Americanos. Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, 1948. Disponível em:
<http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20I> Acesso: 18/04/2019.
OEA, Organización de Estados Americanos. Declaración americana sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Aprobada en la 3ª Sección Plenaria, Asamblea General da
OEA, 15 de jun. 2016. Disponível em: <https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-
16-es.pdf> Acesso em: 18/02/2019.
195
OEA. Organização dos Estados Americanos. CIDH. Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, 2019. Disponível em: https://cidh.oas.org Acesso em: 18/02/2019.
OEA/SER.L/V/II.DOC.56/09. Derechos de los pueblos indígenas y tribales. Sobre
sus tierras ancestrales y recursos naturales. Diciembre, 2009. Disponívelem:
<https://www.cidh.oas.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Indice.htm>Acesso: 28-12-2019
OIT, Organização Internacional do Trabalho. Convenção N. 104 sobre Abolição das
Sanções Penais no Trabalho Indígena. Genebra, 1955. Disponível em: <
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235194/lang--pt/index.htm> Acesso em:
07/05/2019.
OIT, Organização Internacional do Trabalho. Convenção N. 107 sobre Proteção e
Integração das Populações Indígenas e outras Populações Tribais e Semitribais de Países
Independentes. Genebra, 1957. Disponível em:
<https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235197/lang--pt/index.htm> Acesso em:
07/05/2019.
OIT, Organização Internacional do Trabalho. Convenção N. 29 sobre Trabalho
Forcado ou Obrigatório. Genebra, 1930. Disponível em:
<https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235021/lang--pt/index.htm> Acesso em:
07/05/2019.
OIT, Organização Internacional do Trabalho. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. OIT/Oficina Regional para América
Latina y el Caribe, Ed. Conmemorativa 25 años. Lima, 2014, p. 134. Disponível em:
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf> Acesso em: 18/02/2019.
OIT, Organización Internacional del Trabajo. Convenio núm. 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la consulta previa a los pueblos
indígenas en proyectos de inversión: Reporte Regional Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Chile. Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2016. 112 p.
OIT, Organización Internacional del Trabajo. Convenio número 169 sobre pueblos
indígenas y tribales: un manual, proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales, 1ª Ed, 2003, 112p.
OIT, Organización Internacional del Trabajo. Los Derechos de los Pueblos Indígenas
y Tribales en la Práctica. Una guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT. Programa para
promover el Convenio núm. 169 de la OIT (PRO 169) Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo, 2009. 201p
OIT, Organización Internacional del Trabajo. Reporte regional: Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Chile. Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de
inversión. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016. 112 p.
Disponível em: < https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_507556.pdf> Acesso: 16/03/2019.
ONIC, ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA. El derecho
fundamental a la consulta previa de los Pueblos Indígenas en Colombia. Cartilla Consulta
196
Previa. Autoridad Nacional de Gobierno. [s.d]. 38p. Disponível em:
<https://www.asfcanada.ca/documents/file/cartilla-consulta-previa-onic-final.pdf>Acesso em:
11/05/2019.
ONU, A/HRC/15/37. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Promoción y
protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo. ONU, Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos,
35º período de sesiones, 13 septiembre de 2010. Disponível em:
<https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.37.Add.7_AV.p
df> Acesso: 27-11-2019.
ONU, A/HRC/21/47. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Promoción y
protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo. ONU, Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos,
21º período de sesiones, 04 de julio de 2012. Disponível em: <acnudh.org/wp-
content/uploads/2012/09/Informe-del-Relator-sobre-derechos-de-pueblos-indígenas-misión-a-
Argentina-2012.pdf> Acesso: 27-11-2019.
ONU, A/HRC/24/41. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas, James Anaya, Las industrias extractivas y los pueblos indígenas. Informe del
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Consejo de Derechos
Humanos. 1 de julio 2018. Disponível em: <https://undocs.org/sp/A/HRC/24/41> Acesso: 27-
12-2019.
ONU, A/HRC/39/62. Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado
en los derechos humanos. Estudio del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas..Human rights bodies and mechanisms. ONU, Genereal Assembly. 10
august 2018. Disponívelem: <https://undocs.org/en/A/HRC/39/62>Acesso: 27-11-2019.
ONU, A/HRC/EMPIR/2010/2. Informe provisorio del estudio sobre los pueblos
indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones. Informe del Mecanismo
de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Consejo de Derechos Humanos. 17
de mayo 2010. Disponível em:
<https://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/3rd/docs/A_HRC_EM
RIP_2010_2_sp.doc> Acesso: 27-12-2019.
ONU, E/CN.4/2005/88/Add.2. Derechos humanos y cuestiones indígenas Informe
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Misión a Colombia. Comisión de
Derechos Humanos, 61 periodo de sesiones. Tema 15 del programa provisional, 10 de
noviembre de 2004, 25p.
ONU, Organização das Nações Unidas- Povos indígenas. Declaração sobre os
Direitos dos Povos Indígenas. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. 2018.
Disponível em: <https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-
sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html> Acesso em: 18/02/2019.
ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em:
197
ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração sobre os Direitos dos Povos
Indígenas. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. 2018. Disponível em:
<https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-
derechos-de-los-pueblos-indigenas.html> Acesso em: 18/02/2019.
ONU. A/HRC/12/34/Add.6. Informe del ex Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. James Anaya, 5 de
octubre de 2009.
ONU. Informe del ex Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/12/34/Add.6,
Apéndice A, 5 de octubre de 2009.
ORTIZ-T, Pablo. Justicia comunitaria y pluralismo jurídico en América Latina: una
panorámica de cuarto de siglo, In: Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su
implementación en América Latina a 25 años de su aprobación, Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), José Aylwin y Leonardo Tamburini (Eds.),
Copenhague: IWGIA, 2015, p. 98-117. Disponível em:
<https://www.iwgia.org/images/publications/0701_convenio169OIT2014.pdf> Acesso em:
18/02/2019.
OUU, A/HRC/39/62. Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado
en los derechos humanos. Estudo de Mecanismos de Peritos da ONU sobre os Direitos dos
Povos Indígenas. ONU, Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos, 39º período de
sesiones, 10 a 28 de septiembre de 2018. Disponível em: <https://undocs.org/es/A/HRC/39/62>
Acesso: 27-11-2019.
PANKARARU, Paulo Celso de O. Povos Indígenas e reconhecimento da Autonomia.In:
Fortalecimento dos povos e das organizações indígenas. PANKARARU, Paulo Celso de O.
(Org.), DE SOUZA, Aline Gonçalves (Col). São Paulo: FGV Direito SP, 2019, 88 p.
PATIÑO, Maria. Consulta, Consentimento y veto. Revista de la Fundación para el
Debido Proceso Legal (DPLF). Número 14, Año 3, septiembre de 2010. p. 11-13.
PEREZ-VALBUENA, Gerson, MEDIETA Iván & MEJÍA, Leonardo. La Línea Negra
y otras áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta: ¿han funcionado? Banco
de la Republica, Centro de estudios Económicos Regionales (CEER)- Cartagena, núm. 253,
abril, 2017.
PIDCP, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Assembleia Geral em sua
resolução 2200 A (XXI), de 16 de dezembro de 1966.Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm> Acesso: 18/04/2019.
PINTO, Victor M. El pensamiento en espiral, El paradigma de los pueblos
indígenas. Workingpaper series 40. Ebook producción, 2012, 172p.
PIÑAKWE, J. Del Olvido surgimos para traer nuevas esperanzas. La jurisdicción
especial indígena. Imprenta nacional, Dirección general de asuntos indígenas DGAI- Ministerio
del Interior, Consejo Regional Indígena del Cauca y Ministerio de Justicia y del derecho, Santa
Fe de Bogotá, 1997.
198
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11.
Ed. Ver. E atual. Editora Saraiva: São Paulo, 2010. 608 p.
PWA. Programa Waimiri Atroari. Informações sobre o Programa WaimiriAtroari.
Convenio FUNAI / ELECTRONORTE. (s.d.). Manaus.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.
Edgardo Lander (org). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. Setembro 2005. pp. 227-278. Disponível em:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/Quijano.rtf>
RAMÍREZ, Silvina. Sete Problemas do Novo Constitucionalismo Indigenista: as
matrizes constitucionais latino-americanas são capazes de garantir os Direitos dos Povos
Indígenas? In: Povos Indígenas Constituições e Reformas Políticas na American Latina.
Verdum, Ricardo (Org). Ines, Instituto de Estudos Socioeconômicos: Brasília, 2009, pp. 213-
236.
RANGEL, Jesus Antonio. Direitos dos povos indígenas: da Nova Espanha até a
modernidade. In: Direito e Justiça na América Indígena: da conquista à colonização,
WOLKMER, Antonio (Org.); RIVERA, Claudia, et.al (Col.), Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998, p. 219-240.
RCA Rede de Cooperação Alternativa. A Obrigação do Estado de consultar os Povos
indígenas. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=resH-K3iY4A> Acesso:
13-07-2019.
RECLUS, Eliseo. Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá: Colcultura, 1992.
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Contactos y cambios culturales de la Sierra
Nevada de Santa Marta. En: Gerardo y Alicia Reichel –Dolfmatoff. Estudios Antropológicos.
Bogotá: Biblioteca BasicaColoambiana, 1977.
Represa del Río Ranchería. 2010. Min. 8:35. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=eTLoL0hcTpU> Acesso: 12-11-2019.
REVISTA SEMANA. El dilema de la consulta previa. Nación. Bogotá 27 de febrero
de 2012. Disponível em: <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-dilema-consulta-
previa/254088-3> Acesso: 22/06/2019.
RIVERA, Cusicanqui, Silva. Ch’ixinakax utxiwa : una reflexión sobre prácticas y
discursosdescolonizadores - 1a ed. - Buenos Aires : Tinta Limón, 2010.80 p.
RODRIGUES, João Bardoza. Pacificação dos Crichanás. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1885. 294p. Disponível em: <http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--
files/biblio%3Arodrigues-1885-crichanas/rodrigues_1885_crichanas.pdf> Acesso: 18-07-
2019.
RODRIGUES, Renan Albuquerque. Vidas despedaçadas impactos socioambientais
da construção da usina hidrelétrica de Balbina (AM), Amazônia Central. 2013. 369 f. Tese
(Doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas,
Manaus, 2013.
199
RODRIGUEZ, Gloria Amparo. De La Consulta Previa Al Consentimiento Libre,
Previo e Informado a Pueblos Indígenas En Colombia. 1 Colección Diversidad Étnica y
Cultural. 1ra Edición, Bogotá. 2014. Disponível em:
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8716/24867399-
2014.pdf?sequence=1> Acesso em: 11/02/2019.
RODRIGUEZ, Gloria Amparo. La Consulta Previa con Pueblos Indígenas y
Comunidades Afrodescendientes en Colombia. 1ra Edición, Bogotá, octubre de 2010.
RODRIGUEZ, Gloria, IBAGON, Claudia & VARGAS Alejandro. El laberinto
juridico de los U’was En ejercicio del derecho a la Resistencia. In: RODRIGUEZ, Gloria.
La consulta previa con pueblos Indígenas y comunidades Afrodescendientes en Colombia.
Bogotá, 2010. p. 115-141.
ROJAS Garzón, Biviany. Direito à consulta e consentimento de povos indígenas,
quilombolas e comunidades tradicionais / Biviany Rojas Garzón, Erika M. Yamada, Rodrigo
Oliveira. -- São Paulo: Rede de Cooperação Amazônica – RCA; Washington, DC : Due Process
of Law Foundation, 2016.
ROLDAN, Roque (comp.) Fuero indígena colombiano. Bogotá: Presidencia de la
Republica. 1990.
RSPO (2015). Free, prior and informed consent Guide for rspo members.
http://www.rspo.org/articles/download/d57294a05493ff6
SANTILLI, Juliana. Patrimônio imaterial e direitos intelectuais coletivos. In:
MATHIAS, Fernando; NOVIUON, Henry de (org.). As encruzilhadas da modernidade:
debate sobre a biodiversidade, tecnociência e cultura (serie documentos do ISA 9). São
Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.
SARTORI, Junior, Dailor. Pensamento descolonial e diretios indígenas: uma critica
à tese do “Marco temporal da ocupação”. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 260p. ]
SCHWADE, Egydio; REIS, Wilson Braga. 1º Relatório do Comitê Estadual da
Verdade- O genocídio do povo Waimiri-Atroari. Comissão da Verdade, à Memória e à
Justiça do Amazonas.Manaus, 17 de outubro de 2012. 92 p.
SEGOVIA, Fausto. Abya-Yala antes de la llegada de Cristóbal Colón, el 12 de
octubre de 1492. La silla vacía, Grupo EL COMERCIO. Octubre de 2014. Disponivel em:
<http://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-vacia/abya-yala-llegada-cristobal-colon.html>
Acesso em: 26 de junho de 2018.
SEMPER, Frank. Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. En: Anuario de Derechos Constitucional
Latinoamericano. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stifung, 2006.
SEÑAL MEMORIA. Pueblo Arhuaco en 1958.- Archivo Señal Memoria. RTVC.
Sistema de Médios Público. Min. 2:29. 2018. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=dKlAZRC_0qc> Acesso em: 11-10-2019.
SHRUMM, H & JONAS, H. (eds). Protocolos Comunitarios Bioculturales: Kit de
Herramientas para Facilitadores Comunitarios. Natural Justice: Ciudad del Cabo, 2012.
200
SILVA, Liana Amin Lima da. Consulta prévia e livre determinação dos povos
indígenas e tribais na américa latina: re-existir para co-existir. Souza Filho, Carlos
Frederico Marés de (Orientador), Tese (doutorado), Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
Curitiba, 2017.
SILVA, Liana Amin Lima da. Jusdiversidade e autodeterminação: a força
vinculante dos protocolos autônomos de consulta prévia. Versão do artigo revisada com
base em: SILVA, Liana Amin Lima da. Sujeitos da Convenção n. 169 da OIT e o direito à
consulta e ao consentimento prévio, livre e informado. Segunda Parte. In: GLASS, Verena
(org.). SILVA, Liana Amin Lima da. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés (coord).
Protocolos de consulta prévia e o direito à livre determinação. São Paulo: Fundação Rosa
Luxemburgo; CEPEDIS, 2019. Disponível em:
<file:///E:/Mestrado%20Direito%20Ambiental/Disserta%C3%A7ao/CAP%20III/Protocolos%
20Brasil/Protocolos%20de%20consulta_Jusdiversidade_LianaLima_ENADIR.pdf> Acesso:
28-12-2019
SILVEIRA, Edson Damas da. Meio Ambiente, terras indígenas e defensa nacional:
direitos fundamentais e tensão nas fronteiras da Amazônia Brasileira. Brasil, Curitiba:
Juruá, 2010.
SOUSA FILHO, Carlos. A Força vinculante do protocolo de consulta. In: SOUSA
FILHO, Carlos, OLIVEIRA, Rodrigo, LIMA, Liana e MOTOKI, Carolina. Protocolos de
Consulta Prévia e o direito à livre determinação. GLASS, Veronica (Org.) – São Paulo:
Fundação Rosa Luxemburgo; CEPEDIS, 2019. p.19-45.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o
Direito. 1ª. Ed. 7º reimpr. Curitiba: Juruá. 2010.
SOUZA, Santos, Boaventura de. Refundación del Estado en América Latina
Perspectivas desde una epistemología del Sur.Instituto Internacional de Derecho Sociedad e
Programa Democracia y Transformación Global. Lima, Julio de 2010. 156p.
STAVENHAGEN, Rodolfo. Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas,
logros y reclamos. In: Berraondo Mikel (Coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos,
Instituto de Derechos Humanos Universidad de Deusto, serie Derechos Humanos, Vol. 14,
Bilbao, 2006, p. 21-28. Disponível em: <https://www.goredelosrios.cl/cultura2/wp-
content/uploads/2016/02/Pueblos-Ind%C3%ADgenas-y-Derechos-Humanos-Mikel-
Berraondo-Coordinador.pdf> Acesso em: 07/03/2019.
STAVENHAGEN, Rodolfo. Los pueblos Originarios: el debate necesario. Colección
pensamientos. Compilado por Norma Fernández. - 1a ed. - Buenos Aires: CTA Ediciones:
CLACSO:Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Septiembre 2010. Disponível em:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20101117084419/Stavenhagen.pdf?fbclid=
IwAR14GE2o8l-TY7pg8jNBTy7HDMJ2yR6AaxYIeQarog_A1a_ya8Pk6m04zEc> Acesso:
13-11-2019.
STRECK, Lenio. Terra Indígena. Direito & Literatura, Eloísa Capovilla, Alfredo
Culleton e Fernanda Bragato (Convidados). Tv e Rádio Unisinos. 2018, Bloco 1-3 (c/u aprox.
14 min.).
TACHA, Viviana. Del sujeto diverso al sujeto político. Los dilemas de la diferencia
cultural en el Convenio 169 de la OIT. EM: Puyana Aura (Comp.) Consulta previa y modelos
201
de desarrollo: juego de espejos del Convenio 169 de la OIT. Programa Fortalecimiento de
Organizaciones Indígenas en América Latina, Proindigena de la GIZ, GbmH, Gente Nueva:
1ra. Edi, 2016. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/profile/Fady_Ortiz_Roca/publication/313554591_Consulta_Pr
evia_y_Modelos_de_Desarrollo_Juego_de_espejos_Reflexiones_a_proposito_de_los_25_ano
s_del_Convenio_169_de_la_OIT/links/589dedaa45851598bab43bde/Consulta-Previa-y-
Modelos-de-Desarrollo-Juego-de-espejos-Reflexiones-a-proposito-de-los-25-anos-del-
Convenio-169-de-la-OIT.pdf> Acesso em: 07/03/2019.
TERRA LIVRE. Genocídio e Etnocídio dos povos originários na ditadura civil-
militar brasileira. Biblioteca virtual.2018 Disponível em:
<https://bibliotecaterralivre.noblogs.org/post/author/ahagon/> 14-09-2019.
TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. Tradução de
MOI, Beatriz, São Paulo: Martins Fontes, 2ª Edição, 1983.
TV Brasil. AmazôniaAdentro. Primeiro Episódio: Waimiri-Atroari. 2011.
Disopnível em:<https://www.youtube.com/watch?v=lbDkac9Nz9k> Acesso: 14-11-2019.
TZAY, José. Notas sobre el Convenio 169 y la lucha contra la discriminación. In:
Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en América Latina a 25 años
de su aprobación, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), José
Aylwin e Leonardo Tamburini (Eds.), Copenhague: IWGIA, 2015, p. 28-45. Disponível em:
<https://www.iwgia.org/images/publications/0701_convenio169OIT2014.pdf> Acesso em:
18/02/2019.
UN NUEVO SIGLO. “No somos obstáculo para desarrollo”. Nación. Bogotá 20 de
Noviembre de 2014. Disponível em: <https://elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2014-no-
somos-obstaculo-para-desarrollo> 22/06/2019.
VELOZ, Christian R. A Convenção N. 169 da OIT, seu conteúdo e alcance.In:
Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais: oportunidades e desafios para sua
implementação no Brasil / [organizadora Biviany Rojas Garzón]. -- São Paulo: Instituto
Socioambiental, 2009. (Série documentos do ISA; 12), p. 59-65.
VILLARES, Luiz F. Direito e Povos Indígenas. Curitiba: Juruá Editora, 2009, 350p.
WAGNER, Daize Fernanda. Dez anos após a entrada em vigor da convenção 169 da
OIT no Brasil: um olhar sob a perspectiva da efetividade. Direito Internacional dos Direitos
Humanos II: XXIII Encontro do Conselho Nacional de Pós-Graduação em Direito.
Florianópolis, (s.d.), p. 247-263. Disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=acf73df8e44ed30b>Acesso: 11/03/2019.
WOLKMER, Antonio. Pluralidade jurídica na América Luso-Hispânica. In: Direito e
Justiça na América Indígena: da conquista à colonização, WOLKMER, Antonio (Org.);
RIVERA, Claudia, et.al (Col.), Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
YAMADA, Erika, GRUPIONI, Luis & GARZÓN, Biviany. Protocolos autônomos de
consulta e consentimento. Guia de orientações. YAMADA, Erika (Org.) – São Paulo: RCA,
2019.
202
YAMADA, Erika, GRUPIONI, Luis & GARZÓN, Biviany. Protocolos autônomos de
consulta e consentimento. Guia de orientações. YAMADA, Erika (Org.) – São Paulo: RCA,
2019.
YRIGOYEN Fajardo, Raquel. Aos 20 anos do Convênio 169 da OIt: Balanço e desafios
da implementação dos direitos dos Povos Indígenas na América Latina.In:Povos Indígenas:
Constituições e reformas Políticas na américa Latina/ [organizador Ricardo Verdum]. -
Brasília: Instituto de Estudos socioeconômicos (Iness), 2009. P. 9-62.
YRIGOYEN Fajardo, Raquel. El derecho a la libre determinación del desarrollo, La
participación, la consulta y el consentimiento. Instituto Internacional del Derecho y
Sociedad-IDDS. 2011.
YRIGOYEN Fajardo, Raquel. El horizonte del constitucionalismo pluralista: del
multiculturalismo a la descolonización. In: El derecho en América Latina: un mapa para el
pensamiento jurídico del siglo XXI, Rodríguez, César (Coord.). Siglo Veintiuno Editores,
Buenos Aires, 2011.
ZAPATA, Carlos. Las políticas públicas vistas desde la organización social: el caso
indígena en Colombia. Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos
Étnicos, Em: Centro de Cooperación al indígena – CECOIN, Indígenas sin derechos, situación
de los derechos humanos de los pueblos indígenas, 1ra Ed, 2007, pp. 10-87. Disponível em:
<http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/descarga/anuarioweb.pdf>Acesso em:
11/03/2019.