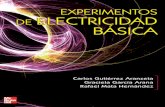Peça radiofônica e plasticidade verbal: investigação e composição de experimentos...
Transcript of Peça radiofônica e plasticidade verbal: investigação e composição de experimentos...
LUCAS MARTINS NÉIA
PEÇA RADIOFÔNICA E PLASTICIDADE VERBAL INVESTIGAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE EXPERIMENTOS RADIOTEATRAIS
LONDRINA
2013
LUCAS MARTINS NÉIA
PEÇA RADIOFÔNICA E PLASTICIDADE VERBAL INVESTIGAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE EXPERIMENTOS RADIOTEATRAIS
Trabalho desenvolvido para conclusão do curso de
Artes Cênicas da Universidade Estadual de
Londrina; apresentado como requisito para
obtenção do título de Bacharel em Artes Cênicas.
Orientadora: Prof.a Dr.
a Heloisa Helena Bauab
LONDRINA
2013
LUCAS MARTINS NÉIA
PEÇA RADIOFÔNICA E PLASTICIDADE VERBAL INVESTIGAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE EXPERIMENTOS RADIOTEATRAIS
Trabalho desenvolvido para conclusão do curso de
Artes Cênicas da Universidade Estadual de
Londrina; apresentado como requisito para
obtenção do título de Bacharel em Artes Cênicas.
BANCA EXAMINADORA
________________________________________
Prof.a Dr.
a Heloisa Helena Bauab
Departamento de Música e Teatro
(MUT – UEL)
________________________________________
Prof.a M.
e Sandra Parra Furlanete
Departamento de Música e Teatro
(MUT – UEL)
________________________________________
Prof.a Dr.
a Sonia Pascolati
Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas
(LET – UEL)
Londrina, 28 de novembro de 2013.
A todos aqueles que, de alguma forma, já se lançaram
ao desafio de tornarem reais os seus devaneios.
(Se obtiveram sucesso ou não, aí já é outra história...)
AGRADECIMENTOS
Aos meus amados pais, Antônio Néia e Margarida
Martins Néia, que não só me incentivaram e estiveram ao meu
lado nestes quatro intensos anos, como por toda uma vida; este
trabalho é o fruto da nossa vitória! Ao meu querido Pic, que
iniciou esta jornada comigo, mas, infelizmente, não pode
chegar até aqui. E à minha Magali, companheirinha inseparável
e remédio para meus males quando estou em Jacarezinho. À minha
prima, Maria Lúcia Giavina de Almeida Leite, pela amizade e
cumplicidade de velha data – e que se manteve mesmo a
distância.
À minha orientadora, Heloisa Bauab. Não somente pelo
empenho e afinco com que se dedicou a este trabalho, mas por
ter sido meu alicerce no curso de Artes Cênicas desde meu
primeiro ano de graduação e ter me permitido estar ao seu lado
em projetos e monitorias. Imensurável é o aprendizado que tive
contigo, Bauab – equivalente a toda a admiração que tenho por
ti!
À professora Sandra Parra, imprescindível na
construção deste trabalho; por estar sempre disposta a ouvir
minhas inquietações; pela generosidade de suas respostas e
pelas palavras sempre francas e sinceras – e por dar à
Clarinha o título de primeiro bebê que peguei no colo!
À professora Sonia Pascolati, responsável por minha
primeira incursão na pesquisa acadêmica; por sempre me receber
com um abraço afetuoso e confiar no meu trabalho – apesar de
meus procedimentos caóticos.
À Janete El Haouli, por ter me recebido de braços
abertos na TOCA e me fornecido vasto material para pesquisa
acústica.
Aos grandes e queridos professores que marcaram tanto
a minha trajetória na Universidade quanto o meu coração – sim,
sou descaradamente piegas: ao José Francisco Quaresma, à
Raimunda de Brito Batista e à Adriane Gomes, pessoas que não
me deixaram esmorecer em momentos de dificuldade. À Ceres
Vittori, à Fátima Carneiro dos Santos, ao Jailton Santana, à
Thais D'Abronzo, ao Mauro Rodrigues e à Cláudia Saito,
docentes também importantes nesta jornada. À Silvia Maria
Rodrigues, pelas conversas, risadas e acolhidas constantes na
secretaria do MUT.
À Camila Sanae, ao Jeferson Mendes, à Otávia Silla, à
Paula Regina e à Vanessa de Campos, meus queridos colegas e
grandes amigos, sempre dispostos a ajudar no que der e vier.
Às que não chegaram até aqui de "corpo presente", tenham a
certeza de que muito deste trabalho tem um pouquinho de vocês,
minhas lindas.
A toda a gente louca que eu conheci nessa Londrina
falabelliana: à Luciane Pedroso, à Sheila Mariano, à Leticia
Botelho, à Melina Uchida; à Nádia Ferrari de Abreu – que diria
que nos reencontraríamos nestas circunstâncias, minha filha?
Ao Giovanni Orsi. Ao Alan Macedo Gomes.
Ao Alef Garcez, à Amanda Tamarozzi, à Carol
Martineli, à Gisele Brito, ao Lucas Brandão, à Renata Torres e
à Thay Alves, companheiros da Primeiro Encontro. Ao Riccardo
Paglia, a quem muito devo pela oportunidade de estágio, e à
grande Edna Aguiar, belíssima referência na minha formação
teatral. À Meire Valin, sempre doce e com um sorriso de
esperança para nos dar. À minha turminha do Colégio José de
Anchieta, que me deu a oportunidade de encenar um Shakespeare
– e aos queridos Amanda Micheletti e Leonardo Capeletti
Ferreira.
E, por último – mas nunca, jamais menos importante
(pelo contrário!): a todos os colegas atores que aceitaram
participar dessa empreitada comigo. À Amarilis Irani, à Ananda
Ribeiro, à Camila Sanae – olha ela aí de novo! –, ao Danilo
Gomes Neiva, ao Gabriel Franco Rodrigues, ao José Paulo
Brisolla, à Julia Versoza, ao Marco Antonio Paixão, à Mary
Delgado, à Sofia Pellegrini, à Tainara Caroline e à Tica
Mehuta. Este trabalho não seria absolutamente nada sem a
dedicação, a disponibilidade e o carinho de todos vocês. À
Anna Dulce, uma querida que caiu de paraquedas na minha vida e
me ensinou diversos exercícios de voz e respiração. À Nani
Vasques, pelo delicado olhar sobre o trabalho – demonstrado
através das ilustrações. Ao João Lopes, grande figura da Rádio
UEL, sempre receptivo para as gravações e para uma boa prosa
sobre os tempos em que ele mesmo produzia radionovelas! Ao
Eddy Ieger, por nos ter aberto as portas do Estúdio de Música
da UEL. E ao Bruno Cardial, estagiário do Laboratório de
Radiojornalismo da UEL, que chegou aos quarenta e cinco do
segundo tempo para auxiliar na edição de As rubianadas.
A todos, enfim, com quem cruzei por estas estradas –
ora tortuosas, ora de tijolos amarelos. E continuo a busca
pelo pote de ouro ao final do arco-íris!
NÉIA, Lucas Martins. Peça radiofônica e plasticidade verbal:
investigação e composição de experimentos radioteatrais. 2013.
98 p. Trabalho de conclusão de curso (graduação em Artes
Cênicas) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013.
RESUMO
A peça radiofônica, na condição de território de exploração da
plasticidade verbal, é a proposta desta pesquisa. Investiga-se
tanto o histórico do gênero e seus preceitos estéticos como,
na prática, a composição de experimentos radioteatrais a
partir de diferentes materiais textuais. Nesse ínterim, toma-
se a palavra como elemento plástico: palavra que pode ser
esculpida, moldada, trabalhada como ação via elocução –
resultado do encontro do vocábulo com o universo peculiar de
seu emissor.
Palavras-chave: Peça radiofônica. Experimentos radioteatrais.
Elocução.
NÉIA, Lucas Martins. Radio drama and verbal plasticity:
research and composition of radiotheatrical experiments. 2013.
98 p. Trabalho de conclusão de curso (graduação em Artes
Cênicas) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013.
ABSTRACT
The proposal of this research is the radio drama while being
explored in the field of verbal plasticity. It is investigated
the historic of the genre and its asthetical precepts, as well
the composition of radiotheatrical experiments from diferent
textual materials. In the meantime, the word is taken as a
plastic element: the word that can be carved, molded and
worked as action by elocution - the result of the gathering
between the word and the particular universe of its
transmitter.
Key-words: Radio drama. Radiotheatrical experiments.
Elocution.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Pedi o oceano .................................. 49
Figura 2 – Janela para Juparassu .......................... 70
Figura 3 – Telegrama ...................................... 76
Figura 4 – Ba-o-Bárbara ................................... 85
Figura 5 – Azul como a, azul como a ....................... 90
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................ 12
1 FICÇÃO RADIOFÔNICA: UM APANHADO HISTÓRICO ............... 16
1.1 A FICÇÃO RADIOFÔNICA NO BRASIL ............................. 27
2 ELOCU(A)ÇÃO: DELÍRIOS DE UMA VOZ-CORPO .................. 33
2.1 PARA QUE O CORPO SONHE EM FORMA DE VOZ ....................... 34
2.2 PALAVRA E VOZ, O ENCONTRO DE MUNDOS ......................... 36
2.3 SOPROS ................................................. 41
2.4 RÉQUIEM PARA SÔNIA ....................................... 45
3 RUBIANADAS .............................................. 50
3.1 ACERCA DE RUBIÃO ......................................... 51
3.2 DA ADAPTAÇÃO ............................................ 52
3.3 DO TRABALHO COM OS ATORES .................................. 58
3.4 DOS RECURSOS E TÉCNICAS ACÚSTICOS ........................... 59
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................... 63
REFERÊNCIAS ............................................... 65
APÊNDICES ................................................. 69
APÊNDICE A – TEXTO AS RUBIANADAS ............................... 71
APÊNDICE B – CARTAZ AS RUBIANADAS ............................... 95
APÊNDICE ACÚSTICO ......................................... 96
APÊNDICE ACÚSTICO A – AS RUBIANADAS ............................. 97
INTRODUÇÃO
[...] me vejo em torno de um antigo aparelho de
rádio ouvindo e imaginando personagens, situações,
cenários, tempos e histórias (SPRITZER, 2005, p.
19).
Este trabalho nasceu de minhas inquietações acerca do
mundo da palavra. No curso de Artes Cênicas, creio que só
tomei um contato mais denso com este universo em momentos
pontuais; exemplos destes momentos: as aulas de Literatura
Dramática, ministradas pela professora Sonia Pascolati em meu
primeiro ano; a iniciação científica que desenvolvi –
novamente Sonia em minha vida, agora como orientadora! –
acerca de elementos da poética do dramaturgo italiano Luigi
Pirandello presentes no texto dramático Pirandello nunca mais,
do brasileiro Ricardo Hofstetter; e quando ingressei na
Oficina de Dramaturgia e Roteiro, coordenada pela professora
Heloisa Helena Bauab. Nestas instâncias, comecei a me
interessar pelo métier da carpintaria do verbo.
A Oficina fora meu "bálsamo benigno" durante três
anos de graduação. Por muitas vezes, sentia-me deslocado das
propostas sugeridas nas disciplinas regulares; ali, no
entanto, encontrava-me impelido a mergulhar sem culpa no mundo
das palavras. Foi aqui que constatei que não há uma receita a
ser seguida para dar forma a um devaneio. As palavras têm sua
própria voz, ditam seu ritmo; não devemos domá-lo – nem nos é
dado este poder -, mas sim navegar para além dele; buscar o
extracotidiano das palavras: eis um dos desafios.
13
Veio ao encontro destas ideias uma citação feita pela
professora Sandra Parra Furlanete durante uma conversa
informal em determinada rede social – isto quando eu ainda
moldava o projeto deste estudo – sobre como lidar com as
palavras em determinadas situações: elas são deliciosas; é
necessário, porém, saber ouvir seu fluxo para, aí sim, tentar
enquadrá-las em propostas e pensamentos. Não é uma questão de
domínio, mas de compreensão e troca.
Muitos destes pontos só se tornaram evidentes para
mim no correr de 2012, quando cursava a terceira série de
Artes Cênicas. Passei a me interessar por esse jogo de sedução
com as palavras e suas proposições de articulações poéticas
devido às disciplinas Direção Teatral I e Iluminação; ao
pensar em um mapa de luz para cena desenvolvida durante a
primeira matéria citada, lancei-me ao desafio de compô-lo a
partir dos acontecimentos e situações presentes na estrutura a
qual eu possuía. Para tal, iniciei uma escrita cênica. Com
este exercício, acredito que expandi meus horizontes no que
tange a questões ligadas a dramaturgia e composição.
Meu desafio, então, era: como partir da palavra para
construção de algo vinculado às Artes Cênicas que justificasse
este trabalho?
Ao refletir sobre o assunto, veio-me à mente o
trabalho da professora Bauab vinculado ao meio radiofônico.
Ora, o rádio me pareceu um meio extremamente propício aos meus
anseios, ao teor desta pesquisa no universo das palavras –
além de, a mim, soar extremamente atraente toda a aura "retrô"
que paira sobre o veículo.
Segundo Bauab (1990, p. 106), o ouvinte radiofônico
está inserido em um tempo-e-espaço autônomo: não há um objeto
específico ligado ao que está sendo dito para ser contemplado
pela visão, o que acarretará em um trânsito livre de imagens e
sensações. É exatamente por incitar isto que os sons têm o
poder de ir à mais obscura gaveta da memória.
14
Este fenômeno, esta característica primordial do
rádio, me apaixona. Esta possibilidade de falar a
cada um com a sua particularidade e ao mesmo tempo
a todos que estão ouvindo rádio. E na certeza de
que estes muitos não ouvem a mesma coisa, não ouvem
a mesma voz, não veem o mesmo corpo e se sentem
provocados nas suas memórias e nas suas imagens, de
maneiras totalmente diversas (SPRITZER, 2005, p.
21).
Foi por estes aspectos que me vi estimulado a
articular para as ondas radiofônicas uma "engenharia do verbo
e do som" (BAUAB, 1990, p. 105) enquanto experiência estética.
Ansioso como sou, recrutei doze atores e os dividi em três
práticas, visando a um mesmo objetivo para as três: a
composição de peças radiofônicas – partindo, porém, de
diferentes referências, diferentes materiais textuais como
alicerce dos trabalhos. O percurso, percalços e resultados
destas experiências estão devidamente relatados nas próximas
páginas.
No primeiro capítulo deste trabalho, traça-se um
histórico da ficção radiofônica, abordando seu desenvolvimento
na Europa em diversas instâncias, o terror causado nos Estados
Unidos por A guerra dos mundos, versão de Orson Welles, e o
Brasil das lacrimosas radionovelas e dos experimentos
artístico-sonoros desenvolvidos a partir da década de 1970.
No segundo capítulo, são introduzidas as já citadas
práticas, elaboradas por meio de reflexões acerca do encontro
da palavra – em todas as suas camadas – com o universo
particular ao seu emissor; tem-se a noção de palavra como
elemento plástico: palavra que pode ser esculpida, moldada,
trabalhada enquanto ação via elocução – poética resultante do
encontro anteriormente citado.
Por fim, bloco contendo relato do processo de As
rubianadas, peça radiofônica construída e elaborada por mim a
partir de jogos e improvisações realizados entre três atores
estimulados por tramas e personagens de contos de Murilo
15
Rubião; o material acústico resultante desta empreitada,
levado a público no dia 28 de novembro de 2013 no Centro
Cultural SESI/AML, encontra-se no CD – apêndice acústico – que
acompanha este trabalho.
Ainda como apêndices, estão dispostos a versão final
do texto radiodramático As rubianadas e o cartaz do evento da
apresentação supracitada.
Que a leitura, enfim, seja agradável!
1 FICÇÃO RADIOFÔNICA: UM APANHADO HISTÓRICO
Esta seção se propõe a levantar um histórico acerca
das ficções radiofônicas; seu escopo reside nas obras que
procuraram forjar um elo entre ouvintes e aparelho de rádio
por meio da voz de um emissor, tais como peças radiofônicas,
radionovelas e radioseriados; poemas sonoros, para os quais a
classificação "ficção" pode soar inadequada, também serão
pontualmente abordados.1
Historicamente, os primeiros escritos, experiências e
registros de autores interessados na criação de uma gramática
dramática específica para o rádio datam da Alemanha da década
de 1920, quando o veículo vive ainda sua "primeira infância".
(MONTAGNARI, 2004, p. 147).
A comedy of danger (1924), de Richard Hughes, é
considerada a primeira obra de ficção criada expressamente
para o meio radiofônico; como sua ação se passava em uma mina
de carvão, a sonoplastia se aproveitava de explosões, passos,
barulho de água e efeitos de eco. Era um primeiro passo para o
que se chamaria de Dunkelstil, estilo "no escuro", no qual as
personagens se encontravam em uma situação dramática cuja
visão lhes era privada; representavam-se realisticamente os
1 Adota-se, aqui, classificação proposta por Mirna Spritzer (2005, p.
45-46), na qual a categoria ficcional abrigaria os gêneros
radionovela, seriado e peça radiofônica; dentro deste último,
estariam contidos esquetes, contação de histórias, leituras
dramatizadas, radiodramas (peças radiofônicas dramáticas de cunho
realista), peças radiofônicas épicas, monólogos interiores, poemas
sonoros e criações experimentais.
17
sons, poupando os ouvintes de maiores esforços ou devaneios
imaginativos. (BAUAB, 1990, p. 107). Na obra SOS Rao-Rao-Foy
(1928), de Friedrich Wolf, é utilizado pela primeira vez um
recurso que ficaria famoso posteriormente com Orson Welles e
sua A guerra dos mundos: a dramatização de uma reportagem
transmitida ao vivo. (CORONATO; COLLAÇO, 2008, p. 3).
Em 1930, Alfred Döblin, mestre da literatura alemã,
vê sua obra Berlin Alexanderplatz – Die Geschichte vom Franz
Biberkopf (Berlim Alexanderplatz – A história de Franz
Biberkopf) alcançar significativa repercussão ao adaptá-la
para o veículo radiofônico. Esta peça se tornaria um marco
para a nascente radiofonia alemã. (LEÃO, 2003, s/p). Döblin,
conforme Heloisa Bauab (1990, p. 108), acreditava que o rádio
solicitava uma espécie de retomada do meio acústico, matriz de
toda a literatura.
O avanço tecnológico obtido nos anos seguintes entre
os alemães, ao abrir perspectivas criativas para as técnicas
de gravação, consolidará e colocará no ar as intenções
inovadoras e artísticas da peça radiofônica, gênero que, "ao
reunir em si os elementos do audível, para além do material
musical, busca[rá] uma gramática própria que a diferencie de
outras linguagens." (MONTAGNARI, 2004, p. 147). Janete El
Haouli (2002, s/p) afirma que os conceitos de rádio-arte ou
arte acústica são decorrências diretas da intervenção de
artistas de vanguarda daquele período da República de Weimar:
Fruto de uma simbiose entre arte e técnica, as
peças radiofônicas experimentariam um florescimento
ímpar naquele país, chegando a ser sistematicamente
criadas por literatos, dramaturgos, diretores de
teatro e pelos próprios diretores das primeiras
rádios alemãs.
Esta preocupação revela a concepção do rádio como um
meio de efetiva comunicação, pressuposto que Bertolt Brecht
assinalou com muita clareza em seus escritos. O autor realizou
diversas adaptações de suas obras para o veículo radiofônico.
18
No entanto, sua obra dramática escrita especificamente para o
rádio se resume à cantata Der ozeanflug (O voo sobre o oceano,
1928); com músicas do compositor Kurt Weill, a peça tratava
sobre a primeira travessia aérea do Atlântico realizada por
Charles Lindenbergh em 1927.
Os estudos teóricos de Brecht sobre o rádio revelam
claramente o posicionamento do dramaturgo acerca de um veículo
cuja vocação está na comunicação, não apenas na transmissão de
informações de forma unilateral; o processo de plena
efetivação desta vocação passa, necessariamente, pela
consolidação da linguagem radiofônica a partir da exploração
de seus próprios recursos expressivos. (SILVA, 2005, s/p).
Será a exploração desses recursos que marcará o
Hörspiel — "jogo ou peça para o ouvido" em tradução literal
ou, mais propriamente, "peça radiofônica" – alemão. Descobriu-
se, por exemplo, o poder simbólico que os sons possuíam ao
exercitar a imaginação do ouvinte. El Haouli (2002, s/p) cita
o exemplo de Der Narr mit der Hacke (O tolo e o picareta),
peça de 1930 escrita por Eduard Reinacher. Nela, um monge
japonês cava obstinadamente um túnel através da face de
granito de uma montanha que isola do mundo exterior um
vilarejo da costa. Por anos, o único sinal que os habitantes
têm do monge é o som da sua picareta, que é ouvido como um
leitmotiv através de toda a peça. Quando o monge consegue
abrir, com suas últimas forças, a passagem que servirá para o
povo do vilarejo, descobrimos que, em sua juventude, esse
trabalhador solitário matou um homem com aquela picareta. "O
trabalho é a expiação de seu pecado, e o som da picareta
contra a pedra é o símbolo acústico de sua culpa", explicita
El Haouli (2002, s/p).
Experimentos mais radicais, contudo, marcariam em
definitivo o conceito de Hörspiel. Algumas práticas,
enxergando a peça radiofônica como meio para experimentações
sonoras de fato, romperam com a literatura convencional e
19
propuseram uma expansão do meio rádio. Peça com transmissão
datada de outubro de 1924, em Frankfurt, Zauberei auf dem
Sender (Microfone mágico), de Hans Flesch, desafiava as então
nascentes convenções de transmissão radiofônica com
interrupções, efeitos sonoros e distorção dos tempos musicais,
demonstrando aos ouvintes as propriedades "mágicas" do novo
meio. (EL HAOULI, 2002, s/p).
Em 1926, a peça radiofônica Der tönende Stein (A
pedra sonora), de Alfred Braun, então diretor da Rádio Berlim,
é denominada por ele de "filme acústico" – "cinema sonoro" ou
"cinema para ouvidos". Neste campo, também merece destaque o
cineasta alemão Walther Ruttmann, que apresentaria a obra mais
bem-acabada do gênero: Wochenende (Fim de semana), cuja
gravação foi comissionada em 1928 por Hans Flesch; a peça se
vale da banda sonora da película cinematográfica para
registrar sons produzidos em estúdio e manipulá-los em
montagem primorosa; seria então apresentado especialmente
através de radiodifusão. (EL HAOULI, 2002, s/p). Do repertório
de Ruttmann, destaca-se ainda Berlin, Symphonie einer
Grosstadt (Berlim, sinfonia de uma grande cidade, 1927), banda
sonora que, composta para documentário fílmico homônimo,
também fora transmitida no rádio.
É, aliás, do cinema – conforme bem frisa Bauab (1990,
p. 107) – que o rádio toma termos e técnicas emprestados para
a composição de ficção radiofônica, tais como fade in, fade
out, fusão e flashback, além do próprio conceito e prática de
montagem. Isto ocorreu à medida que a peça radiofônica "foi se
libertando da forte herança teatral que fazia por confinar a
todos – personagens e ouvintes – no espaço fixo de um palco
imaginário." (BAUAB, 1990, p. 107). El Haouli (2002, s/p)
corrobora este apontamento ao afirmar que o cinema ajudou a
alargar o conceito de Hörspiel e a lançar as bases para o
surgimento de uma linguagem e uma estética da arte acústica.
20
A dramaturgia de Wochenende é um bom exemplo disso:
estimulava a imaginação auditiva do ouvinte, fazendo-o criar
espaços onde a ação do filme sonoro transcorre. "O ouvinte
percebe a transição de um atordoante dia de trabalho para um
suave dia de descanso (um domingo) ao ar livre. Terminado o
repouso semanal, volta-se à dura realidade do trabalho numa
barulhenta metrópole moderna." (EL HAOULI, 2002, s/p). Tudo
isso ocorria através da lógica da montagem cinematográfica,
via cortes, fusões e justaposições.
Em 1928, Hans Flesch, junto a Friedrich Walther
Bischoff, comissionaria um segundo trabalho na linha dos
filmes acústicos: Hallo! Hier welle Erdball! (Alô! Aqui fala
Rádio Terra!), "sinfonia sonora" de acordo com o próprio
subtítulo. Conforme aponta El Haouli (2002, s/p), a julgar
pelas informações remanescentes, a obra era um mosaico
acústico mais voltado a demonstrações estéticas e técnicas do
novo veículo, porém sem a mesma envergadura do trabalho de
Ruttmann.
Ainda na Alemanha do período, destaca-se o trabalho e
o pensamento do filósofo Walter Benjamim sobre o veículo.
Autor de cinco peças radiofônicas, dentre as quais O que os
alemães liam enquanto seus clássicos escreviam se apresenta
como a de maior expressão, Benjamim foi responsável por uma
espécie de "ensaios ao microfone", dirigidos aos adolescentes
e abordando os mais variados temas: de mitologia a teatro de
marionetes, passando até mesmo por experiências próprias de
sua infância e juventude. Benjamim acreditava que a
popularização do rádio seria um importante meio para dirigir o
público ao saber. (BAUAB, 1990, p. 108).
Nos Estados Unidos, são os anos 1930 que registram os
primeiros radiodramas. É neste período e local que florescem
as pioneiras radionovelas, baseadas nos fragmentos de romances
publicados nos rodapés de jornais diários. Era o início das
soap operas (óperas de sabão), afinal, eram patrocinadas por
21
empresas de produtos de limpeza. (MONTAGNARI, 2004, p. 147).
Aprofundar-nos-emos sobre o gênero posteriormente, ao
discorrermos sobre seu desenvolvimento na América Latina.
Também é dos Estados Unidos a peça radiofônica de
maior impacto de todos os tempos: The war of the worlds (A
guerra dos mundos), "livre adaptação" de Orson Welles do
romance homônimo de H. G. Wells. Na noite de 30 de novembro de
1938, durante o programa Mercury theater – homônimo da
companhia de teatro comandada por Welles –, transmitido a
partir de Nova Iorque pela CBS, parte considerável do público
ouvinte de todo o país entrou em pânico ao acreditar que a
terra estava realmente sendo invadida por marcianos – assunto
da ficção científica armada por Wells. (MONTAGNARI, 2004, p.
146).
A transmissão se iniciou com o aviso de que se
tratava apenas de uma peça; em seguida, a emissão foi retomada
normalmente, tendo sido interrompida por boletins de notícias
cada vez mais frequentes, que davam conta dos impressionantes
acontecimentos que estavam a ocorrer. As intervenções de
vários "peritos" e o verniz dramático com que foram levadas a
cabo contribuíram para a credibilidade da reportagem.
A CBS calculou na época que o programa foi ouvido
por cerca de seis milhões de pessoas, das quais
metade passaram a sintonizá-lo quando já havia
começado, perdendo a introdução que informava
tratar-se do radioteatro semanal. Pelo menos 1,2
milhões tomaram a dramatização como facto verídico
[...]. E, desses, meio milhão tiveram certeza de
que o perigo era iminente, entrando em pânico (LÉ,
2012, p. 43-44).
Na França da década de 1940, destaca-se a censura a
Antonin Artaud. Em novembro de 1947, o diretor das emissões
dramáticas e literárias da Radio France, Fernand Pouey,
encomendou a Artaud uma emissão para o ciclo intitulado Voz
dos poetas; garantira total liberdade na elaboração do
trabalho. O contundente título, Pour en finir avec le jugement
22
de Dieu (Para acabar de vez com o juízo de Deus), fora
escolhido à etapa da aceitação do projeto. (JORGE; GOMES,
1975, p. 161-162).
Glossolalias perpassam toda a obra, cujo conteúdo
abarca guerra, crueldade, repressão, fecalidade e dicotomias
tais como o finito e o infinito, o Cristo que aceitou viver
sem corpo, o invisível, a consciência, o desejo sexual; ao
fim, um caminho possível: a emasculação e a evisceração do
homem. (PROFETA, 2006, s/p). As palavras e locuções utilizadas
não se apresentam para serem interpretadas em seu sentido
usual ou através de uma trama específica que supostamente
alinhavaria toda a tessitura acústica, mas são trabalhadas
enquanto potências poéticas e sonoras, tão pungentes quanto o
próprio conteúdo.
Após a escuta de uma primeira montagem – já em
janeiro de 1948 –, Artaud realizou pontuais cortes e
regravações. A emissão, no entanto, programada para 02 de
fevereiro de 1948, não foi ao ar por determinação da direção
da Radio France – expedida horas antes da estreia.
Curiosamente, a data é aproximadamente um mês anterior à morte
de Artaud. (LEÃO, 2003, s/p).
A Alemanha do pós-guerra veria – ou melhor, ouviria –
o renascimento da peça radiofônica literária em 1947, com o
extraordinário sucesso de Draussen vor der Tür (Do lado de
fora da porta), drama de Wolfgang Borchert sobre um soldado
alemão que retorna à sua casa. Em 1951, o Hörspiel teria novo
impulso com a produção de Träume (Sonhos), de Günter Eich, que
encabeçaria uma leva de criação de "peças-sonho" de outros
artistas. Durante os anos 1950 e início dos anos 1960, surgem
textos de Günter Eich, Ingeborg Bachmann, Max Frisch,
Friedrich Dürrenmatt, Ilse Aichinger, Heinrich Böll, Peter
Hirche, Fred von Hoerschelmann, Wolfgang Hildesheimer, Leopold
Ahlsen e Wolfgang Weyrauch, entre muitos outros escritores,
cujos trabalhos foram discutidos enquanto obra literária. Tem-
23
se, aqui, a era clássica da peça radiofônica alemã. (EL
HAOULI, 2002, s/p).
Expoente do teatro, Samuel Beckett também desenvolveu
um profícuo trabalho no território das peças radiofônicas. Sua
primeira experiência no gênero data de 1956: All that fall
(Todos os que caem), escrita a pedido da BBC. Words and music
(Palavras e música), de 1961, se apresenta, segundo Heloisa
Bauab (1990, p. 107), como
uma fabulação perfeita do processo criador em rádio
(ou em poesia?) Inicialmente, Palavra e Música,
personagens típicos do universo do autor, são
confrontados em sua solidão e mútua intolerância.
Intervém uma espécie de diretor - seu senhor
(poeta) - que não apenas lhes implora para
"entrarem num acordo" como, para isso, lhes fornece
um instrumento de grande utilidade: o tema. O tema,
o próprio Beckett o oferece ao compositor que
deverá preencher "as falas" de Música - nada além
de música - enquanto o autor irlandês segue o mote
proposto, se incumbindo de Palavras. [...] A
cantata de Words and music, porém, só se efetiva
nos momentos finais, depois de acompanharmos cada
etapa de sua construção a partir do jogo dialético
entre as palavras e a música, motivos celulares de
qualquer emissão radiofônica.
Voltando à Alemanha, a partir dos anos 1960, a peça
radiofônica seria repensada em seus fundamentos, passando a
abrigar diferentes correntes de pesquisa. Surgia assim o Neues
Hörspiel, ou a nova peça radiofônica. (BAUAB, 1990, p. 107).
Alguns acontecimentos foram determinantes para a
retomada das discussões em torno do Hörspiel. O primeiro, em
1961, foi a publicação de Das Hörspiel: Mittel und
Möglichkeiten eines totalen Schallspiels (A peça radiofônica:
meios e possibilidades de uma peça sonora total), livro de
autoria do austríaco Friedrich Knilli que abalaria a
instituição do Hörspiel clássico. Knilli afirmava que tal
modelo estava exaurido por se tratar de um discurso
eminentemente literário, e não genuinamente sonoro, alertando
para a necessidade da criação de um peça radiofônica total.
24
Diante desse "ataque", críticos e praticantes tradicionais do
Hörspiel reagiriam com desdém, considerando Knilli um mero
apologista dos ideais de Friedrich Wolf e Bertolt Brecht. (EL
HAOULI, 2002, s/p).
Outro acontecimento que contribuiu para a retomada
das discussões sobre o Hörspiel foram as experimentações de
Paul Pörtner. Entre 1964 e 1969, Pörtner realizaria os seus
Schallspielstudie, estudos de jogos sonoros — obras nas quais,
de acordo com El Haouli (2002, s/p),
[Pörtner] se valia de processos de compressão,
extensão e abstração de sons não-verbais a partir
de material verbal (palavras), filtrando-os,
modulando-os, permutando-os em técnicas de
manipulação sonora como material acústico puro.
Assim, Paul Pörtner abria um novo leque de
possibilidades criativas, bem como rompia, na base,
com a tradição literária, ao desconstruir a
semântica e o discurso verbal organizado.
Em 1968, a Rádio Sudoeste Stuttgart transmitia Fünf
mann menschen (Cinco homens humanos), de Ernst Jandl e
Friedericke Mayröcker, que receberia o importante Prêmio dos
Cegos de Guerra para Peça Radiofônica. (EL HAOULI, 2002, s/p).
Jandl e Mayröcker eram autores do concretismo alemão; por
vezes, engajaram-se diretamente na produção e gravação de seus
poemas fonéticos e sonoros. (BAUAB, 1990, p. 107).
Os jogos de linguagem, a poesia sonora, princípios da
colagem, citações, ready-made acústicos e uma nova relação com
a língua, o ruído e o som se tornariam ferramentas à
disposição de dramaturgos, críticos e literatos praticantes do
Neues Hörspiel. Era a peça radiofônica dialogando com as
experimentações poéticas da poesia concreta, que tem como
expoentes os brasileiros Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de
Campos e o suíço Eugen Gomringer. (EL HAOULI, 2002, s/p).
A partir daí, a peça radiofônica passou a contar com
a contribuição de compositores atraídos por essa nova
dramaturgia sonora não-dogmática. El Haouli (2002, s/p) afirma
25
que, "para alguns compositores de Música Nova, a criação de
peças radiofônicas era algo imediato, um ato quase instintivo
devido às inestimáveis contribuições de Pierre Schaeffer e
John Cage".
Por volta de 1970, a cidade de Colônia era polo de
experimentação do Hörspiel e também de música experimental. No
Seminário de Música Nova de Colônia, promovido em conjunto com
o departamento de Hörspiel da WDR, Mauricio Kagel discorreria
sobre o tema "Música como peça radiofônica", defendendo o
apagamento das fronteiras entre as duas formas artísticas para
benefício de ambas. Kagel, na verdade, atualizava o que Kurt
Weill já havia dito em 1925: a busca, através da paisagem
acústica como um todo, de fontes e meios — quer sejam
denominados de música ou sons — a fim de estruturar sua
própria arte. (EL HAOULI, 2002, s/p).
Caberia, entretanto, ao diretor do setor de Arte
Acústica da WDR, Klaus Schöning (1980, p. 172) cunhar o
conceito para a nova peça radiofônica:
No conceito de peça radiofônica cabem muitos
aspectos. A peça radiofônica funde os gêneros
tradicionais. Nela se fundem a literatura, a
música, a arte dramática. A peça radiofônica pode
ser a realização acústica de texto e partitura. Mas
também a montagem de materiais acústicos originais
(documentários): a literatura de fita magnética.
Nela diluem-se o lírico, o épico, o dramático. Nela
fundem-se fala, ruído, música. A peça radiofônica
como produto artístico autônomo e também desligável
do meio de comunicação em que nasceu.
Como exímia síntese de linguagens para a radiofonia,
Bauab ressalta o trabalho de Heinz von Cramer, compositor,
dramaturgo e diretor que habilmente fundia palavra, música,
ruído e tecnologia do som. Na avant-garde das grandes
renovações estéticas submetidas ao gênero por mais de quatro
décadas na Europa, Heinz dedicou-se à adaptação de clássicos
da literatura mundial – até o brasileiro Morte e vida
26
severina, de João Cabral de Melo Neto, mereceu tratamento
acústico em 1972. Essa transição da literatura para o rádio
ocorria como uma espécie de tradução sonora, dramatúrgica e
oral; ou seja, "ao invés de empobrecer o código poético
daquelas obras, ele fez por bem valorizá-lo." (BAUAB, 1990, p.
108).
El Haouli (2002, s/p) aponta que, a partir dos anos
1980, a peça radiofônica alemã começaria a ganhar relevância
na vida e na consciência sociocultural das pessoas, merecendo
um status semelhante ao da literatura, dos filmes ou dos
programas televisivos.
Colônia manteria por muito tempo o status de núcleo
experimental. Bauab (1990, p. 107-108) dá como exemplo dois
trabalhos veiculados pela WDR como arte acústica: Le Corpsbis
(O Corpobis), de Henry Chopin - referência francesa no que
tange à poesia sonora -, é uma cadeia de sons provindos do
corpo e da boca ("poesia física", segundo o próprio); e Ponte
Sonora Colônia-São Francisco, do norte-americano Bill Fontana,
experimento que mixou ao vivo sons captados de ambientes de
ambas as localidades.
Em novembro de 1989, representantes de emissoras de
rádio estatais da Europa, América e Austrália se comprometeram
a desenvolver e pesquisar a linguagem artística do rádio.
Nascia, assim, o grupo Ars Acustica, fórum internacional de
investigação, produção e difusão de arte acústica, apoiado
pela European Broadcasting Union–EBU.
Atualmente, os avanços tecnológicos permitem a mais
variada gama de experimentações. Ora, qualquer um, munido de
um gravador, computador ou celular, pode gravar sons e editá-
los com programas de fácil manutenção. Pela internet,
proliferam sites com experimentos sonoros – obviamente a
quantidade se sobrepõe enormemente à qualidade, mas ainda
assim se encontram materiais interessantes, alguns mais
27
antigos e que, graças a este recurso, têm seu acesso
compartilhado.
Nesse panorama, o estabelecimento de uma espécie de
tipologia das poéticas radiofônicas, como esboça Mirna
Spritzer (2005, p. 44-47), se torna uma tarefa cada vez mais
delicada. Se já na análise de diversas das obras mencionadas
neste panorama histórico deparamo-nos com certa dificuldade ao
tentar enquadrá-las em gêneros específicos de ficção
radiofônica, na contemporaneidade, cujas formas artísticas são
fortemente marcadas pelo hibridismo e por diálogos
multimídias, muitos dos termos utilizados outrora podem soar
demasiadamente reducionistas.
1.1 A FICÇÃO RADIOFÔNICA NO BRASIL
O gênero das radionovelas, surgido nos Estados
Unidos, ganhava contornos cubanos ao privilegiar o "lado
trágico e lacrimoso da vida" – já se desenhava o estilo que
seria adotado em quase toda a América Latina. (MONTAGNARI,
2004, p. 147).
No Brasil, inicialmente, foram as produções
radiofônicas de natureza melodramática realizadas "ao vivo"
que fizeram a popularidade do radioteatro. Essas irradiações
conquistaram enorme popularidade nos anos 1940, 1950 e, a
partir dos anos 1960, em melodramas que construíram o padrão e
o sucesso das radionovelas. Estas, inspiradas nos folhetins
dos jornais, tornaram-se as grandes mentoras das atuais
telenovelas. (CALABRE, 2006, p. 31-36).
Neste tipo de radiodrama, os autores evidenciavam os
dramas amorosos. Os ruídos como pano de fundo possuíam a
função de instigar a imaginação do ouvinte; eram eles que
faziam a ligação entre o texto e a imaginação: prendiam a
atenção, chamavam o ouvinte a continuar participando da
28
radionovela, provocando-lhe a imaginação para tornar "real" na
mente, pelos ouvidos, a história que se passava. (VENSON,
1991, p. 20).
A Rádio Nacional foi, à sua época, a emissora mais
importante do país. Com uma ação homogênea, chegou a atingir
uma audiência de 50,2% em 1952. A PRE8 (prefixo da emissora)
alcançou seu ápice entre os anos de 1945 a 1956. Durante este
período, possuía uma infraestrutura financeira e
administrativa invejável; com verbas publicitárias, tinha uma
capacidade para manter uma equipe extraordinária, com salários
excelentes. (GOLDFEDER, 1980, p. 20).
Durante os anos em que ocupou o primeiro lugar de
audiência, a Rádio Nacional manteve em seu corpo de
funcionários um contingente de 8 diretores, 240 funcionários
administrativos, 10 maestros e arranjadores, 30 locutores, 124
músicos, 55 radioatores, 40 radioatrizes, 50 cantores, 45
cantoras e 18 produtores. (CALABRE, 2006, p. 126-127). Nesse
quadro de funcionários, estavam nomes como Amaral Gurgel, Max
Nunes, Haroldo Barbosa, Mário Lago, Elza Gomes e Paulo
Gracindo, ator bem-amado muito antes de protagonizar a
telenovela homônima.
Paulo Gracindo fora alçado, em 1951, ao status de
estrela nacional ao protagonizar o retumbante sucesso O
direito de nascer. De autoria do cubano Felix Caignet, a trama
se arrastou por diversos capítulos ao contar a história de
Albertinho Limonta, homem que, criado por uma escrava negra,
saía em busca de sua verdadeira mãe e descobria que a mesma se
encontrava enclausurada num convento. A mesma trama ganharia
três versões produzidas pela televisão brasileira
posteriormente.
No entanto, como frisa Rudyard Leão, não foram
somente os "folhetins para senhouras" que alçaram o sucesso
nas rádios brasileiras daqueles tempos. Os seriados de
aventura, saídos do mundo da pulp fiction – e ainda
29
majoritariamente importados – atraíam ouvintes masculinos. O
sombra, do escritor Walter Brow Gibson, foi um dos títulos que
mais chamou a atenção dos homens: dotada de poderes
sobrenaturais adquiridos no Oriente, a personagem-título
conseguia simular invisibilidade – característica favorecida
pela exibição radiofônica –, infiltrando-se nos esconderijos
dos bandidos. Nos Estados Unidos, o Sombra recebeu a voz de
Orson Welles; em São Paulo, coube ao radialista Octávio Gabus
Mendes. O programa se iniciava com a indefectível epígrafe:
"quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra
sabe..." (LEÃO, 2003, s/p).
Seriados policiais e de aventura passaram a
proliferar nos mais variados horários, buscando capturar a
audiência masculina. Nesta safra, destacam-se As Aventuras de
Dick e Peter, radioseriado de Jerônymo Monteiro iniciada em
1937, e O anjo (1948), de Álvaro Aguiar. (LEÃO, 2003, s/p).
Também merece atenção o título Jerônimo, o herói do
sertão, criação nacional de Moysés Weltman fortemente
influenciada pelo faroeste americano. A trama, criada para a
Rádio Nacional em 1953, permaneceu 14 anos no ar; ganhou,
ainda, duas adaptações televisivas no formato novela nas
décadas de 1970 e 1980. Outras autoras que possuíam destaque
no universo das radionovelas eram Janete Clair e Ivani
Ribeiro; ambas migraram para a televisão e reeditaram, com o
advento do vídeo, diversos dos títulos que lhes outorgaram
prestígio à época do rádio.
O declínio da Rádio Nacional marca o esvaziamento do
período áureo do rádio no Brasil. Para Miriam Goldfeder (1980,
p. 22), "a falta de apoio do governo Kubitschek e a utilização
de formas demasiadamente repetitivas, tornando-as exaustivas,
culminaria em um processo lento de decadência."
Aos poucos a emissora foi perdendo a infraestrutura
que sustentava tanto as radionovelas como os programas de
auditório e humorísticos. Com isso, a mais famosa rádio dos
30
anos 1950 teve sua ascensão e queda marcadas pelas mudanças
políticas e pelo aparecimento da televisão, que conseguiu
absorver o contingente profissional e as fórmulas que fizeram
o mito da rádio PRE8 - mais um claro sinal a demonstrar que a
televisão brasileira tem suas raízes intrinsecamente
arraigadas no rádio. (CALABRE, 2006, p. 213-218).
O produto ideológico vendido e transmitido para o
público foi, durante o auge da Rádio Nacional, as ideias e
concepções políticas do Governo que sustentava seu arsenal
produtivo. (VENSON, 1991, p. 18). Em primeiro lugar estava o
nacionalismo exagerado de Vargas, junto com seu
intervencionismo estatal e o populismo como base de governo;
depois Dutra, que não trouxe grandes modificações. A Rádio
Nacional continuou recebendo suas verbas. Somente com
Juscelino Kubitschek é que as verbas sofreram cortes
consideráveis, revelando, então, uma estrutura abalada da
PRE8. (CALABRE, 2006, p. 215).
Ainda merece destaque o desenvolvimento do rádio no
Rio Grande do Sul, onde foi profícua a produção de
radioteatros, principalmente nos idos da década de 1940. O
período mereceu terna e saudosa análise por parte de Mirna
Spritzer no livro Bem lembrado, histórias do radioteatro em
Porto Alegre (2002).
Segundo El Haouli (s/d, s/p), as primeiras
experiências artísticas em rádio no Brasil datam da década de
1970, a partir da realização de seminários e concursos de
peças radiofônicas com a colaboração e o apoio do Instituto
Goethe, Grupo Opinião e Fundação Konrad Adenauer. Como
resultado desta iniciativa, os dramaturgos Fernando Peixoto,
Germano Blum e João das Neves foram convidados a estudar o
gênero peça radiofônica na Alemanha (Westdeutscher Rundfunk -
WDR, Colônia).
Em 1985, já com a realização do IV Concurso
Brasileiro de peças radiofônicas, a peça Noturno a duas vozes,
31
escrita, gravada e produzida por Heloisa Bauab, foi premiada
em primeiro lugar. (EL HAOULI, s/d, s/p). A atriz, diretora e
dramaturga, então, também recebeu da Fundação Konrad Adenauer
– uma das promotoras do concurso – uma bolsa para estagiar por
um ano na emissora alemã. Lá, a peça foi traduzida por
Berthold Zilly, produzida e transmitida pela WDR e
retransmitida por várias emissoras do país. A convite da
emissora de Colônia, Heloisa ainda escreveu e produziu um
ensaio/documentário radiofônico sobre a poesia concreta
brasileira. Ao retornar ao Brasil, ministrou diversas oficinas
e coordenou, ainda, o projeto AUdioFICções&ritMOS, núcleo de
Linguagem Radiofônica das Oficinas Culturais Três Rios.
Outra contribuição importante é a da musicista e
radiomaker Regina Porto, que trabalhou 11 anos na Radio
Cultura FM de São Paulo e foi comissionada, em 2002, para
fazer a peça Metrópole - São Paulo, um retrato acústico da
cidade de São Paulo, para a WDR. El Haouli (s/d, s/p) ainda
ressalta as importantes produções radiofônicas de Julio de
Paula, Roberto D'Ugo, Cynthia Gusmão, entre outros, da Rádio
Cultura FM de São Paulo.
No Rio de Janeiro, tem-se o reconhecido trabalho de
Lilian Zaremba, produtora do programa Rádio Escuta, produzido
e apresentado pela Rádio MEC. Há, ainda, as iniciativas de
Mauro Costa no trabalho com rádio comunitária. E, em 2003,
surge, por parte da radialista e idealizadora Francisca
Marques, o Núcleo de Rádio Arte, coletivo de pesquisa e
produção radiofônica que desenvolve projetos nas áreas de
documentação, radiodramaturgia, ecologia sonora e design de
som. (EL HAOULI, s/d, s/p).
Também é muito importante ressaltar o trabalho de
dramaturgos que buscaram a renovação da linguagem radiofônica,
entre eles as já citadas Heloisa Bauab e Mirna Spritzer, além
de Bosco Brasil, Sylvia Lohn, Mara Lúcia Cardoso, Ricardo
Milan, Jorge Rein, entre outros. Como ressalta El Haouli (s/d,
32
s/p), imprescindíveis foram as parcerias com as rádios alemãs,
que ofereceram financiamento para produção de peças
radiofônicas e de arte acústica.
Ressalta-se, ainda, o trabalho da própria Janete El
Haouli, uma das pesquisadoras-pilares deste capítulo – como
bem se pode observar nas citações. Na década de 1990, Janete
foi convidada pela WDR - Studio Akustische Kunst para realizar
o projeto Stratosound, retrato acústico do pesquisador e
performer da voz Demetrio Stratos. Em 1999, a DeutschlandRadio
de Berlin a convidou para desenvolver a peça de arte acústica
intitulada Brasil universo, em parceria com o músico
brasileiro Hermeto Pascoal e com a coprodução da WDR de
Colônia.
A participação de artistas-criadores empenhados nas
mais diversas experimentações acerca do som se faz vital para
a manutenção – e até mesmo a reforma – do espaço radiofônico
enquanto meio aliado à arte. Daí a importância de práxis
vinculadas ao tema. "Só assim, talvez, os conteúdos poderão
ser transformados, deixando o rádio de funcionar como mero
escravo do capitalismo globalizante, do trabalho e do lazer
cronometrados". (EL HAOULI, 2001, p. 251).
2 ELOCU(A)ÇÃO: DELÍRIOS DE UMA VOZ-CORPO
As páginas a seguir contemplam as fundamentações-
guias para as três práticas que propus ao decorrer deste meu
último ano de graduação em Artes Cênicas. Todas tiveram um
mesmo ponto de partida conceitual no que tange a jogos e
exercícios radioteatrais2 propostos nos primeiros ensaios – no
entanto, partiu-se, em cada grupo, de diferentes textos
literários; possuíam, ainda, um mesmo objetivo: a composição
de peças radiofônicas. Devido a imprevistos, falta de tempo e
curvas no meio do caminho, entretanto, algumas questões foram
readaptadas para a obtenção e finalização de materiais
acústicos de qualidade até o término deste ano.
Com o primeiro grupo, desenvolveram-se experimentos a
partir de diferentes materiais textuais – escolhidos pelos
próprios atores; o relato do processo e resultados obtidos
estão dispostos no tópico Sopros. Outro grupo tomou Valsa n°
6, peça teatral de Nelson Rodrigues, como alicerce – a parte
que lhe tange é abordada no subcapítulo Réquiem para Sônia. O
terceiro e último grupo – único no qual prevaleceu a proposta
inicial da concepção de uma peça radiofônica – teve como base
três contos de Murilo Rubião; este trabalho merecerá
aprofundamento no capítulo subsequente.
Mesmo partindo de proposições equivalentes, é
necessário frisar que as três práticas sofreram constantes
2 Acerca dos procedimentos da prática, o ator "apoia-se na estrutura
criativa que o teatro lhe oferece para ousar o acontecimento da
voz." (SPRITZER, 2005, p. 51).
34
adaptações conforme necessidades para além de questões
relativas a tempo ou a número de ensaios: levaram-se em conta
os componentes do grupo em sua individualidade artística e no
estabelecimento de uma identidade coletiva; desde o início, a
intenção não era sistematizar um método a ser aplicado a todo
e qualquer ator/grupo que venha a trabalhar com rádio, mas
sim, a partir de práticas e procedimentos radioteatrais,
investigar as possibilidades de um corpo que, no dizer de
Mirna Spritzer (2005, p. 55), "sonha em forma de voz" a partir
de materiais textual, sonoro, imagético ou audiovisual que lhe
servissem de impulso. Não se fixaram técnicas: suscitaram-se
estímulos que incentivaram os atores a desenvolverem seu
próprio caminho no que se refere à identidade do grupo no qual
estavam inseridos – identidade gerada pelo encontro dos
materiais pertinentes a cada núcleo (aos atores apresentados
e/ou por eles coletados) com o universo particular de seus
integrantes e através dos jogos e relações estabelecidos entre
eles em salas de ensaio.
Neste sentir, este trabalho, como também propõe
Spritzer (2005, p. 26), reconhece "a oralidade como expressão
individual e como experiência criativa coletiva".
2.1 PARA QUE O CORPO SONHE EM FORMA DE VOZ
Em sua tese de doutorado, intitulada O corpo tornado
voz, Mirna Spritzer aponta que, se no palco há um corpo a
explorar todas as suas potencialidades, no rádio a única
corporeidade presente, acessível ao espectador (ouvinte), é a
voz. Pensa-se, portanto, nesta voz como senhora absoluta da
ação; deve-se trabalhá-la de modo a, através de sua
manifestação física, representar todos os signos e identidades
visuais relativos ao corpo presentes em um espetáculo teatral.
(SPRITZER, 2005, p. 22).
35
Spritzer (2005, p. 24-26) crê que a experiência
radiofônica propicia aos atores a sensibilização da voz; esta
sensibilização proporciona um conhecimento vocal voltado para
o "efeito da voz, sua dimensão temporal e espacial, e o
estatuto de corpo que [a voz] assume nessa instância".
Ao abordar questões relativas ao dizer e ouvir, a
autora frisa as potências existentes por trás da fala: dizer é
reinventar o real e afirmar a palavra enquanto acontecimento
criativo; inclui o gesto, a melodia dos vocábulos, um olhar...
Existe um dizer no corpo, como há, também, um corpo no ouvir.
Isto se torna evidente no exercício radiofônico, no qual a
mera elocução e articulação de sons estabelece um mundo para o
ouvinte; um mundo sonhado através do acontecimento concreto da
voz. (SPRITZER, 2005, p. 29-30).
As práticas radiofônicas tornam clara a
impossibilidade de pensar e trabalhar a voz como um elemento
separado do corpo, afinal o ator será confrontado à
necessidade de ser presença através do ato da elocução. Será
através desta busca pela presença, da necessidade de manter a
fala viva, que o ator, ao mergulhar em seu próprio mundo à
procura de substratos particulares que sustentem as palavras,
criará
um texto feito de carne, sons, silêncio, movimento,
respiração e sangue. [...] O ator é um artista que
precisa da intimidade das palavras. Palavra-corpo,
dizer-corpo, escuta-corpo, voz-corpo (SPRITZER,
2005, p. 54).
"Não há dizer sem corpo e nem ouvir descarnado."
(SPRITZER, 2005, p. 35). A partir desta máxima, pressupõe-se o
dizer enquanto resultado do encontro da palavra com o universo
peculiar ao seu emissor. Procurar-se-á, agora, investigar a
noção de palavra como elemento plástico: palavra que pode ser
esculpida, moldada, trabalhada enquanto ação via elocução.
36
2.2 PALAVRA E VOZ, O ENCONTRO DE MUNDOS
Os procedimentos sugeridos para o início de todos os
experimentos práticos residiam na investigação das palavras –
palavra que, na definição de Armin P. Frank (apud KLIPPERT,
1977, p. 59), é "um campo de forças complexo e multipolar, que
se estende entre as suas funções de corpo sonoro, denotação
conceitual, evocação imagética e carga afetiva".
Nestas investigações, propôs-se o estabelecimento de
variados jogos com as palavras a fim de explorar seus mais
diversos níveis: forma, sonoridades, memória, conceituação,
abstração e tudo o que surgisse disso – outros sons, imagens,
até mesmo outras palavras.
[...] existe uma relação do ator com a palavra que
antecede o veículo, que não pressupõe
necessariamente a cena. [...] as experiências da
fala expressiva oportunizam exercitar uma voz-corpo
que é constitutiva do ofício do ator. Exatamente
por ter como sua arte o saber sensível dos sentidos
e fazê-los significar em seu corpo instrumento, o
ator possui a vocação para a palavra, para o dizer,
para encontrar, na composição das frases, a beleza
dos sons e dos andamentos (SPRITZER, 2005, p. 51).
Diversas experimentações rondaram o fenômeno da
palavra no início do século XX. Klippert (1977, p. 58-73) faz
um interessantíssimo apanhado histórico, rememorando desde a
radicalidade do Movimento Futurista italiano de 1909 – imbuído
do ímpeto da desconstrução agressiva da sintaxe – às operações
com os vocábulos utilizadas em peças radiofônicas alemãs de
caráter experimental desenvolvidas no correr da última metade
do século. Nestas peças, como explanado no primeiro capítulo,
buscava-se não explorar uma história linear, composta de
situações e personagens, e sim um mundo próprio às palavras –
teoria presente no tratado Rundfunkdrama und Hörspiel,
publicado por Arthur Pfeiffer em 1942.
37
Bachelard (1976, p. 115), ao discorrer sobre o sonho
da linguagem e sugerir uma analogia entre palavra e casa,
impele-nos a trafegar pelos mais diversos "cômodos" dos
vocábulos:
As palavras – eu o imagino frequentemente – são
pequenas casas com porão e sótão. O sentido comum
reside no nível do solo, sempre perto do "comércio
exterior", no mesmo nível de outrem, este alguém
que passa e nunca é um sonhador. Subir a escada na
casa da palavra é, de degrau em degrau, abstrair.
Descer ao porão é sonhar, é perder-se nos distantes
corredores de uma etimologia incerta, é procurar
nas palavras tesouros inatingíveis.
Ao citar o exemplo do Poema das trincheiras, "peça
radiofônica curta" de Ernst Jandl, Klippert (1977, p. 69-72)
sinaliza para o desaparecimento da separação entre a palavra e
o que ela denota; o que se quer dizer apresenta-se de forma
acústica – o propósito da teoria de Pfeiffer.
O instrumento dessa concretização é a voz do autor-
leitor, o qual, através dela, não invoca apenas a
porção do universo em questão, mas também
transmite, ao mesmo tempo, a sua posição diante da
mesma. Desta forma, embora não surja um jogo de
papéis, de personagens, surge um jogo com os sons
da fala, que "corporificam" um mundo, diante do
qual o autor assume uma posição de representação e
valorização (KLIPPERT, 1977, p. 71-72).
Esta posição citada por Klippert vai ao encontro das
ideias de Gaiarsa tangentes ao sentido universal e singular da
palavra. Cada palavra possui seu universo, desdobrável em
diversos níveis; de acordo com o modo como ela é dita,
contudo, revelando a existência de um emissor, apresentará um
significado particular, tangente àquele que a alçou à dimensão
da fala. (GAIARSA, 2010, p. 321).
O autor prossegue: considera que nenhuma palavra
exista sem contexto. A partir do momento em que ela toma forma
– seja sob o signo da escrita, da voz ou até mesmo do
38
pensamento –, estará subjugada a uma série de mecanismos
relativos àquele universo. A abstração da mesma também não se
livra disso: é a palavra simplesmente explorada em outra
"realidade", a qual funciona sob regras e parâmetros próprios.
(GAIARSA, 2010, p. 321).
Klippert também só vê a palavra a vivenciar toda a
sua capacidade na elocução. Mesmo subordinada aos sistemas
linguísticos, inserida em uma frase pré-modulada, ela
apresenta algo de próprio quando dita. (KLIPPERT, 1977, p. 75-
76).
A elocução é o encontro, a convergência de aspectos
universais da palavra a aspectos particulares do interlocutor;
é a palavra a preencher toda a definição de Armin P. Frank
citada anteriormente; é letra-música-dança, mágica que ocorre
a partir de um centro: o ser humano. A partir do ser humano
que trafega do porão ao sótão.
APENAS
Palavras.
São letras – palavras articuladas.
São música – pontuação – entonação...
São dança – gestos – caras – atitudes
Numa cena.
A palavra, pois, está – ou pode estar – no corpo
todo,
e então ela se faz
seu espírito – na letra;
sua alma – na música;
seu modo de estar no mundo – na atitude∙gesto∙dança
Numa cena!
O centro – inspirador...
(GAIARSA, 2010, p. 332-333).
A palavra que se torna concreta, material através da
voz. Palavra que, por meio da elocução, transforma-se em ação.
Na unidade da palavra e da voz, a palavra se torna
um elemento funcional de categoria especial. Ela
aparece como tendo sido escolhida por esta voz, em
combinações realizadas por esta voz. [...] No ato
de uma tal fala, a palavra torna-se acontecimento.
39
Ultrapassa o anonimato do sistema de línguas e
passa a ser palavra de expressão, que é falada a
partir do centro de uma pessoa. Assim, pode tornar-
se palavra-ação, seja que apenas o processo de
manifestação dessa voz apareça como ação, seja que
também tenha um efeito "exterior" ou procure tê-lo,
na medida em que ordena, adverte, solicita,
admoesta, promete, etc (KLIPPERT, 1977, p. 76).
O termo elocução já aparece na Poética de
Aristóteles; para o filósofo grego, a elocução constitui,
juntamente com a fábula, os caracteres, o pensamento, o
espetáculo e o canto, os seis elementos da tragédia. É
consenso na literatura teatral que a elocução envolve o
sentido do texto pronunciado pelo ator; a este texto, o ator
empresta uma enunciação. (PAVIS, 2001, p. 121).
O pensamento de Marlene Fortuna acerca do trabalho do
ator com a oralidade caminha por vias muito próximas às
reflexões de Klippert, Bachelard e Gaiarsa: ela recomenda o
aprofundamento na "essência" da palavra – seu verdadeiro
significado naquele contexto –, termo que designa como
significante, "no qual o ator vai especular causas, objetivos,
gêneses, consequências, circunstâncias propostas, cronogramas
e fluxogramas da expressão." (FORTUNA, 2000, p. 119).
Neste sentido, o ator deve se deixar levar por um
"estado de entrega" em que se portará como uma criança a
desvendar os primeiros vocábulos; a procurar o entendimento
destes no jogo com sons, ritmos e os objetos que o originaram.
(FORTUNA, p. 119-120). Uma espécie de dissecação das palavras
pela qual os experimentos práticos já citados ousaram se
aventurar.
Esta é a mola propulsora para que o ator ultrapasse
uma interpretação equivocada do vocábulo naquele contexto e
obtenha uma visualização ou corporeidade do significante,
momento em que o ator faz convergir seu ritmo interno com o
resgate da sonoridade poética do texto – tudo a realizar-se,
assim, de forma orgânica.
40
Trabalhar com a visualização do sensório-verbal é,
enfim, predispor-se à criação de um fecundo campo
magnético em que a expressividade sonoro-vocal
advém da transformação oportuna da palavra em
elemento plástico. Daí vincular-se a gestualidade
corporal à imagética da palavra, em que o caráter
da visualização é complementado pela expressão
corporal (FORTUNA, 2000, p. 122).
Como no rádio a única expressão corporal a se
apresentar é a sonora, deve-se aprofundar esta questão
plástica da palavra. Ora, a palavra é material do ator; é
necessário, portanto, dilacerar seu "mero efeito decorativo
[...] para geri-la em ações viscerais." (FORTUNA, 2000, p.
119). Trabalhando-a enquanto ação, pode-se esculpi-la, moldá-
la.
Sobre a visualização do sensório-verbal, Fortuna
(2000, p. 122) aconselha o ator a "ouvir" imagens e a
investigar sons que possam ser representados corporalmente,
vivenciados sensorialmente e reproduzidos diagramaticamente –
o que é possível por meio da vinculação da gestualidade
corporal à imagética das palavras. Algumas destas proposições
foram abordadas nos exercícios práticos de modo a se pensar
como estes sons podem se refletir no corpo e, após,
manifestarem-se pela voz – não a mera reprodução do que foi
ouvido, mas como um som torna-se voz após todo este processo.
Fortuna (2000, p. 122) ainda considera que "o ator
deve falar com tamanha luz, como se estivesse pintando uma
tela – imagem cromática viva – em sua mente, projetada na
mente do outro (plateia)"; o discurso necessita, portanto,
produzir imagens, o que só será possível se este discurso for
proferido de forma viva e vigorosa.
Nos ensaios das práticas, foi utilizado o termo
"leitura cromatizada do texto", que consiste justamente nesta
leitura viva, no entendimento das sístoles e diástoles das
palavras, da pulsação e do ritmo próprios daquele discurso,
41
das sentenças e períodos a serem explorados por todos os
melismas da voz – não se esquecendo dos jogos com as palavras
anteriormente propostos, muito pelo contrário, sempre
procurando aprofundá-los.
O colorido e a matização obtida serão únicos, pois se
trata do encontro do universal e do particular, referente ao
momento mágico vivenciado por palavra-e-ator: a elocução.
2.3 SOPROS
Esmiúça-se, neste tópico, o trabalho realizado com o
grupo cujos componentes escolheram os próprios materiais
textuais. Nossas reuniões semanais em salas de ensaio se
iniciaram em março de 2013 e tiveram um fim em junho deste
mesmo ano. O objetivo era, no decorrer do processo, encaminhar
as práticas para a formulação e gravação de uma peça
radiofônica. O tempo, no entanto, foi escasso. E conduzir seis
vozes não é tarefa das mais fáceis!
Os procedimentos foram os mais diversos: desde
exercícios de escuta de material radiofônico, de sons do
ambiente – no caso, a praça do CECA, UEL – e, obviamente, o
trabalho a partir dos textos. A intenção era investigar todos
os níveis da palavra, decompô-la, se preciso, para a busca por
sonoridades. O trabalho com sons de objetos também ocorreu.
Improvisações em grupo e no escuro também foram
proposições executadas. O interessante é notar que os atores
pouquíssimas vezes trabalharam parados, fixos somente em um
lugar da sala. Os exercícios no escuro foram excelentes no
início ao permitirem certa desinibição dos componentes do
grupo para explorarem suas vozes-corpos, e eles não se
limitaram a pequenos espaços: trafegaram por toda a sala e
passaram por diversos níveis.
42
Foi por meio destas improvisações que passaram a se
estabelecer ligações entre os textos individualmente
trabalhados; de anotações realizadas durante os ensaios, foi
possível visualizar aproximações, afinidades e até mesmo
contraposições entre os integrantes do grupo e suas formas de
trabalho.
Os atores, então, passaram a desenvolver "leituras
cromatizadas" – a leitura viva destacada no tópico anterior –
dos textos que escolheram. Minha função aqui era investigar o
método de trabalho de cada um em particular para, assim,
orientá-los na elocução, na expressão sonoro-verbal do texto
de forma que esta soasse como o efetivo encontro de mundos
citado anteriormente – o do texto e o do ator. Para isso, por
intermédio da observação de seus métodos de trabalho e de uma
apurada leitura dos relatos produzidos em sala, mergulhei em
seus universos com o intuito de descobrir elementos poéticos
intrínsecos a cada um e como estes elementos dialogavam com os
textos trabalhados.
A atriz Amarilis Irani optou por trabalhar com um
trecho do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Em sua
articulação, contrapôs uma menina e uma pessoa mais velha,
ambas defronte às sensações causadas por um chocolate. Em seus
escritos, revelava certa agonia ao procurar os sons, além de
ter se dedicado a uma espécie de classificação das risadas dos
transeuntes do CECA quando realizou a escuta do ambiente;
revelou-se com medo, angústia diante do assovio do vento e, em
outro momento, chegou à conclusão de que o metafísico se
manifesta no escuro. Propus que, para desenvolver seu
experimento, ela procurasse se aproveitar da facilidade que
possuía para transformar escuta em imagem poética na
articulação do som.
Camila Sanae selecionou o texto O amor acaba, de
Paulo Mendes Campos, como objeto de trabalho. Em seus
escritos, Camila se questionava sobre sua capacidade de
43
elocução; sentia que esta caminhava a passos minúsculos, tal
qual uma proposição do primeiro encontro do grupo. No entanto,
foi no escuro que as coisas lhe pareceram claras e ela pôde
explorar sua própria voz. Na desarmonia das vozes-corpos que
se manifestavam na escuridão, enxergou o sentido do caos;
sentia vontade de sua voz e da voz do outro, do som do outro.
O texto de Paulo Mendes Campos pontuava momentos nos quais o
amor parecia se findar para algumas pessoas – mas não do ponto
final para o mergulho no abismo eterno do silêncio, e sim no
traçar de um novo começo. Sugeri-lhe que explorasse esta
sensação de finitude e o medo de um recomeço no jogo das
palavras, avivando esta sensação concretamente no plano da
elocução ao descobrir cada palavra, cada nuance.
Danilo Neiva, em seus escritos, demonstrava a ânsia
por personificar devaneios – devaneios que se manifestavam em
formas de vozes, muitas vozes ou imagens áridas; e o som do
vento. O texto sobre o qual se debruçou consistia na letra de
uma música: Eternas ondas, de Zé Ramalho. Poderia, então,
personificar devaneios através de sua voz; poderia
personificar o vento. Como seria a ação do mesmo expressa por
palavras áridas? Como o vento passa a influenciar os outros
membros do grupo? – foram indagações que lancei ao ator.
Estrada, de Alexandre Sansão, foi o texto pinçado de
um blog da internet por Gabriel Franco Rodrigues. Tanto o
texto citado quanto os escritos de Gabriel – bem como suas
experimentações sonoras em salas de ensaio – jogavam com
subjetividade e fluxos de pensamento; mencionou, em certo
escrito, um mundo vastíssimo explorado pelo pensamento, mas
longe do alcance tangível. Propus ao ator que se deixasse
levar pelo fluxo das palavras na leitura, brecando naquelas
que mais o instigavam para uma investigação das mesmas.
Julia Versoza selecionou Circuito fechado, de Ricardo
Ramos, como objeto de estudo prático. O texto é construído
somente por substantivos, narrando um cotidiano que parece se
44
repetir ad eternum. Paradoxalmente, seus escritos manifestavam
uma enorme vontade de se expressar para além do tangível, ou
do que pode ser mensurado. Em um de seus primeiros textos,
aponta que é um privilégio grande demais somente sua "cabeça"
ter voz; ansiava por abrir a boca que possuíra no pé – e isto
ia ao encontro do exercício que sugeria investigar como a voz
ressoava pelas mais diversas partes do corpo (como seria uma
voz "de cuca", "da barriga", "do joelho"...). O caminho que
optou por guiar sua elocução é dos mais interessantes:
manifestava as sensações da pessoa por trás deste cotidiano –
uma pessoa aprisionada às palavras e que sonha se libertar.
O grupo contou, ainda, com Mariana Delgado, que
infelizmente se desligou do trabalho por motivos pessoais. Sua
participação, contudo, foi determinante para traçar uma
identidade ao conjunto, e muitos dos jogos que desenvolveu com
os outros atores permaneceram. Já ausente nos últimos ensaios,
escolhera fragmento de Eu não, de Samuel Beckett, para estudo.
Não foi possível, porém, um desenvolvimento a contento deste
trabalho de elocução no curto período em que Mariana ainda
frequentou as práticas.
Cheguei a formular uma pequena sinopse para
desenvolvimento de peça radiofônica a partir do material que o
grupo me fornecera. Intitulada Te espero na estrada, procurei
traçar uma linha dramática que unisse e justificasse o
trabalho de lapidação anterior de leitura dos textos. Questões
como a personificação do vento e o fascínio (e medo) que este
exerce sobre as pessoas – ainda mais em uma alma inocente e
que anseia por poesia – seriam contrapostas a pessoas que
procuram uma espécie de fuga do cotidiano através de uma
abstração – pessoas que querem se transformar em vento. A
esperança que pode residir ao fim destes processos
antagônicos, considerando esse fim um recomeço e uma nova
chance. O enigma, a aflição e o prazer existentes em não saber
o que se passou: se uma combustão de corpos ou o leve toque de
45
uma brisa. Tudo isto seria organizado não em atos, mas em
sopros, efêmeros como o próprio vento – enxergava nestes
acontecimentos intangíveis grandes possibilidades de
exploração em um veículo acústico. No entanto, a constatação
de que o tempo seria escasso para a obtenção de um resultado
satisfatório me fez abortar a ideia.
Infelizmente, houve um único contato dos atores com o
microfone, ainda no início do processo – abril de 2013. Os
registros, anteriores aos caminhos que propus a cada um na
exploração de seu material textual, apresentam leituras cruas,
que pouco evidenciam a questão do "encontro de mundos"
sugerida pela elocução. Posteriormente, houve uma
significativa melhora nos trabalhos, porém o prazo que
havíamos acordado para a finalização das atividades já havia
expirado, e todos tiveram que se desligar deste núcleo de
pesquisa para se dedicar a outros compromissos da graduação.
Um último fator ainda a se destacar deste conjunto é
o desenvolvimento do conceito de "tipografia poética" dos
textos trabalhados – como a elocução, em sua forma plena,
seria traduzida em verbo (ou mesmo em traços)? Vê-se aqui uma
aproximação do conceito de "partitura" para a sonorização que
Haroldo de Campos enxergava na poesia concreta – "o que foi
depois confirmado pelas inúmeras versões musicais de poemas
concretos e pelas edições em CD de interpretações
orais/musicais/sonoras feitas pelos próprios poetas."
(MACHADO, 2000, p. 218).
2.4 RÉQUIEM PARA SÔNIA
O grupo encarregado de trabalhar Valsa n° 6 foi
formado por três atrizes: Ananda Ribeiro, Tainara Caroline e
Tica Mehuta. Devido a incontáveis imprevistos, os ensaios se
deram praticamente de forma mensal entre março e setembro de
46
2013. Por meio das práticas, o objetivo era pensar na
transposição de um texto dramático para o veículo radiofônico;
o que motivava o trabalho era pensar em como se dariam as
mudanças de códigos e signos no trânsito teatro-rádio.
Segundo Mariana Oliveira, Valsa n° 6 se propunha mais
a levantar questões acerca da fábula do que a construí-la de
forma convencional, visto que
a peça apresenta elementos recorrentes de
perturbação que atrapalham a leitura a partir da
chave dramática tradicional: há inúmeros cortes,
fragmentações e mudanças repentinas de assunto que
interrompem o fluxo da recepção (OLIVEIRA, 2010, p.
80-81).
Ao recompormos os estilhaços que Nelson Rodrigues nos
apresenta, constatamos que a trama de Valsa n°6 trata de uma
menina de quinze anos, Sônia, que fora assassinada por golpes
de faca vindos de seu médico, o "gagá" (RODRIGUES, 1993, p.
212) Dr. Junqueira; sem se lembrar de seu passado, nem mesmo
de seu próprio nome, Sônia tenta recordar quem era e o que
acontecera, falando consigo mesma durante toda a peça e se
debatendo com as lacunas de sua memória. Foi destas lacunas
que nos aproveitamos.
Os encontros se iniciaram com a investigação das
possibilidades sonoras presentes no texto de Nelson Rodrigues.
Após algumas leituras, cada uma das atrizes foi sublinhando as
frases e circunstâncias que mais lhe chamavam atenção; cada
uma foi buscando a faceta de Sônia que mais dialogava consigo.
Após essa seleção de falas e algumas "leituras cromatizadas",
partimos, então, para improvisações no escuro, no intuito de
fazer com que aquelas Sônias dialogassem.
Para o desenrolar das experimentações, as meninas
necessitavam andar pela sala e realizar movimentos e
partituras corporais – exercícios de caráter puramente
teatral; sentiam-se, assim, mais à vontade para o trabalho de
exploração da voz: primeiramente acessavam outras
47
corporeidades, deixando, assim, que a voz surgisse no fluxo do
movimento e das relações que pouco a pouco iam estabelecendo.
No primeiro ensaio, começaram cercadas por um
retângulo dividido em três partes – cada qual ocupava uma; em
cada uma destas partes, uma cadeira. Andavam freneticamente,
sentavam-se em diversas posições, resignificavam as cadeiras.
Em outro encontro, as cadeiras foram dispostas de forma
diferente e sem restrições de espaço – as seis, cadeiras e
meninas, ocupavam o mesmo local. As luzes estavam apagadas,
porém feixes incidiam por frestas da sala; formou-se um
verdadeiro umbral por onde se viam almas a vagar à procura de
Sônia. Sons, cadeiras a se arrastarem... Não havia uma
estruturação de ordem das falas e nem as mesmas seguiam o que
originalmente estava posto no texto, mas a atmosfera de Valsa
n° 6 ali estava instaurada.
Importante o comentário de uma das meninas ao término
do ensaio: "parece que conseguimos traduzir todo o texto em
sons". Foi neste momento que percebi certo equívoco em minha
proposta original: ora, por que deveríamos necessariamente
seguir à risca o texto dramático, obedecendo à ordem postulada
e, quando possível, atendendo às necessidades de suas
rubricas?
Acabávamos de encontrar um caminho que ia exatamente
ao encontro da proposta maior do trabalho: um corpo que sonha,
delira em forma de voz. Com isso, nossa Valsa não seguiria
precisamente o texto embrionário do processo.
Não podia desperdiçar, ainda, o rico material que
possuía em mãos, fruto das anotações de ensaios das meninas.
Para além de registros de fala e descrições dos ensaios, ricos
devaneios poéticos foram construídos: cada uma desdobrou,
estilhaçou Sônia em ainda mais facetas e nuances do que
pressupunha o texto. Riquezas nas construções de sentenças e
encaixes de pensamentos gritavam que seria uma verdadeira
heresia desperdiçar aqueles materiais.
48
Novos desencontros para ensaios e correrias
cotidianas, porém, inviabilizaram o registro acústico deste
trabalho em sua etapa final, quando optamos pela construção de
uma pequena cena a partir da esquizofrenia rodrigueana em
relação à passagem de Sônia deste mundo para o outro. Do
contato das três com o microfone, há apenas esboços das
primeiras "leituras cromatizadas" de trechos do texto
original.
Acerca da dramaturgia de Valsa n° 6,
[...] o que incita o leitor/público a acompanhar
esse jogo é a permanente caminhada por percursos
tão deslizantes e movediços. O público quer jogar
com essa situação, quer, num movimento ativo, ser
parte da narrativa, à medida que vivencia aquela
mente conturbada que é o personagem. Interessa
menos a sua essência e mais o universo no qual se
adentra juntamente ao personagem, quando se povoa,
então, outra lógica, a das incertezas (SOUZA DE
OLIVEIRA, 2011, p. 88).
A partir disso, para além de fragmentos, frases do
texto original empregadas em um ambiente soturno e incerto,
tencionava construir uma espécie de mosaico de Sônia,
miscelânea de uma das personagens mais instigantes da
dramaturgia brasileira. Se no texto original vamos, pouco a
pouco, desnudando o passado e os acontecimentos que permearam
a vida de Sônia anteriormente àquele momento, em nosso
processo trabalhávamos o incerto; dúvida que pairava, incidia
na vida de todos nós, seres que formavam – e ainda formam – um
todo ilógico e fragmentado, dividido entre reminiscências,
lembranças, memórias e devaneios do que nos ocorrera. Afinal,
o que é a memória senão estilhaços de acontecimentos e dúvidas
que nos levam inconscientemente à fantasia e à reformulação do
que de fato acontecera?
49
Figura 1 – Pedi o oceano
Fonte: Ilustração de Nani Vasques realizada especialmente para a
peça radiofônica As rubianadas.
3 RUBIANADAS
Este capítulo trata da composição da peça radiofônica
As rubianadas, construída por mim – trafegando entre as
funções de diretor, dramaturgo e montador, as quais se
encaixam na corruptela metteur-en-son (BAUAB, 1985, p. 3) – e
por mais três atores: José Paulo Brisolla de Oliveira, Marco
Antonio Paixão e Sofia Pellegrini. Ensaios e gravações-piloto
ocorreram desde o início do ano pelas salas do Departamento de
Música e Teatro e nos estúdios da Rádio UEL FM – contando com
a preciosíssima colaboração e disponibilidade do técnico João
Lopes. As gravações finais se deram em novembro de 2013 na
própria Rádio UEL e no Laboratório de Radiojornalismo do
Departamento de Comunicação – aqui sob a supervisão do técnico
Bruno Cardial, que gentilmente me auxiliou na execução da
montagem sonora.
O capítulo contempla, consequentemente, todo o
processo de elaboração da obra: desde as primeiras
investigações de possibilidades sonoras a partir de tramas e
personagens fantásticas de Murilo Rubião às várias etapas de
construção do texto radiodramático, passando pelas diversas
experimentações práticas – em salas de ensaio e ao microfone –
e culminando nos últimos ajustes para as gravações finais;
apresenta, ainda, meu trabalho na condução destas etapas e no
desenho de edição final do material captado, além das
pertinentes intervenções de minha orientadora, Heloisa Bauab.
51
Para tanto, aborda técnicas, recursos e fundamentação teórica
utilizados para composição da tessitura acústica.
Há, como nos trabalhos já mencionados, uma matriz
calcada na palavra. Como ponto de partida da prática, foram
selecionados três contos de Murilo Rubião; a cada ator coube
um conto específico – por mim escolhido – para as primeiras
investigações: O ex-mágico da Taberna Minhota ficou a cargo de
Marco Antonio; Bárbara foi designado a Sofia; A noiva da Casa
Azul, a José Paulo. Os textos se apresentavam como se
"contados" por um narrador-personagem, fator que contribuiu
para a escolha deste material e foi substancial para a
composição. Ora, estes discursos estão, certamente, destinados
a alguém – um leitor ou um ouvinte.
3.1 ACERCA DE RUBIÃO
Sempre aceitei a literatura como uma maldição.
Poucos momentos de real satisfação ela me deu.
Somente quando estou criando uma história sinto
prazer. Depois, é essa tremenda luta com a palavra,
é revirar o texto, elaborar e reelaborar, ir para a
frente, voltar. Rasgar (RUBIÃO, 1974, p. 5).
Murilo Eugênio Rubião nasceu em Carmo de Minas, sul
de Minas Gerais, em 1916, e morreu em Belo Horizonte, em 1991,
quatro dias antes da organização de uma exposição sobre sua
obra no Palácio das Artes. Formado em Direito, foi um dos
fundadores da revista literária Tendência. Trabalhou como
jornalista e ocupou altos cargos públicos, sendo Chefe do
Gabinete do Governador Juscelino Kubitschek e adido da
Embaixada do Brasil na Espanha. Idealizou, ainda, o Suplemento
Literário do jornal Minas Gerais em 1966.
Rubião possui, no total, trinta e três contos
originais. Costuma-se atribuir sua pouca produção ao trabalho
meticuloso com a linguagem – uma busca obsessiva pela palavra
exata, pela clareza do texto, pelo correto encadeamento dos
52
fatos. Não é à toa que ele tenha reescrito muitos de seus
contos em vida: entre reelaborações e republicações, tem-se um
total de oitenta e nove textos. (COSTA, MORAIS, 2008, s/p).
Os contos de Rubião estão posicionados em um novo
conceito de fantástico. Se as narrativas fantásticas dos
séculos anteriores apresentavam vampiros, mortos que
retornavam à vida, demônios – seres diferenciados do humano –,
o fantástico do século XX se incumbiu de revelar os mecanismos
que afligiam o homem e que se encontravam entranhados em sua
consciência e em suas ações. É neste panorama que as
personagens murilianas, aprisionadas a um sistema opressor que
as condena ao tédio, à solidão e ao sofrimento, sem chances de
fuga, (sobre)vivem. (ALEIXO, 2008, p. 197).
Virgínia Carvalho Costa e Márcia Marques de Morais
apontam para as lacunas e a transgressão de tempo e espaço no
universo muriliano, o que o aproximará dos sonhos; este
insólito, no entanto, é inserido no cotidiano habitual,
construído através de uma primorosa organização semântica e
sintática (muito devido à reescritura das obras) – indo na
contramão dos sonhos sob a óptica da psicanálise, tendo em
vista as dificuldades em se relatar verbalmente e com clareza
os produtos destes e de outros processos do inconsciente.
(COSTA, MORAIS, 2008, s/p).
3.2 DA ADAPTAÇÃO
Segundo a pesquisadora Lidia Camacho, há três formas
de adaptação da literatura para o rádio. A primeira é o que
ela toma por adaptação literal, e consiste em reproduzir, no
meio acústico, a obra original o mais fielmente possível; a
segunda é nomeada como adaptação livre, na qual o texto
literário que gerara o processo serve apenas como guia para a
tessitura sonora; a terceira recebe o título de transposição
53
radiofônica, e representa a transformação da obra de um meio
para o outro através de técnicas análogas – os procedimentos
sonoros escolhidos para a composição da obra radiofônica
seriam equivalentes aos linguísticos utilizados na obra
original. Como exemplo deste último tipo de adaptação, Camacho
cita A guerra dos mundos de Welles. A autora também reconhece
que as adaptações radiofônicas comumente transitam entre as
três formas registradas, apresentando, contudo,
características sobressalentes de uma nomenclatura específica,
a qual as classificaria. (CAMACHO, 2000, p. 61-65).
No que tange a As rubianadas, inicialmente houve a
preservação da integridade de diversos trechos dos contos de
Rubião. Contudo, ao decorrer das várias versões do texto,
foram necessárias diversas mudanças estruturais – muitas delas
recomendadas por Heloisa Bauab, orientadora deste trabalho,
diretora e dramaturga cuja obra para o meio radiofônico
mereceu destaque no primeiro capítulo –, todas visando à
elaboração dramatúrgica para junção dos três contos, bem como
à construção e à fluidez de diálogos entre as personagens;
pode-se dizer ainda que alguns dados, mínimos no material
textual, receberam uma espécie de lente de aumento. Por
conseguinte, As rubianadas se encaixa na categoria de
adaptação livre: diversas situações foram criadas
especialmente para a peça, tais como o encontro de personagens
de contos diferentes no trem que vai para Juparassu e toda a
sequência do pesadelo sonoro.
O processo de adaptação ainda se apresenta muito
arraigado às raízes do dramático; as saídas dramatúrgicas
utilizadas justificam e dão uma unidade coesa ao todo (mesmo
com este todo a se passar no terreno do fantástico). A peça,
contudo, foge de certos traços caros a uma obra dramática pura
(ROSENFELD, 2000, p. 30), tais como as unidades de tempo e
espaço.
54
[...] exige-se no drama o desenvolvimento autônomo
dos acontecimentos, sem intervenção de qualquer
mediador, já que o "autor" confiou o desenrolar da
ação a personagens colocados em determinada
situação (ROSENFELD, 2000, p. 30).
Sob esse prisma, As rubianadas apresenta
características épicas. Ora, há um narrador a intervir
constantemente na história apresentada; um mediador a truncar
o desenrolar da ação e o desenvolvimento autônomo dos
acontecimentos.
Percorramos as sequências propostas por As
rubianadas, cenas que procuram dar voz e cor aos devaneios da
personagem-narradora de A noiva da Casa Azul – conto que serve
como fio condutor para toda a adaptação. No texto
radiodramático, esta personagem recebe o nome de Pedro.
Há três momentos que demonstram a trajetória
maravilhosa de Pedro na busca por sua amada Dalila; três
"rubianadas" que, conforme seus desenvolvimentos, penetram
cada vez mais no onírico. Optou-se pela divisão destas
rubianadas em sequências – em detrimento do termo cenas –,
pois essas possibilitam idas e vindas pelo tempo e pelo
espaço, ainda que apresentem o desenvolvimento de uma só ação.
Estas rubianadas, gradativamente, mergulham no
insólito muriliano. A primeira, ao se passar na repartição na
qual Pedro trabalha, apresenta um homem comum, atordoado por
uma provável traição de sua noiva, Dalila. A segunda tem como
local-base um trem; revela um movimento, e, como tal,
apresenta suas consequências: o encontro de Pedro com seres
que possuem características maravilhosas.
É no trem que Pedro se encontra com a figura de
Galateu, seu chefe (na verdade, Galateu é a alcunha de uma
personagem do conto O lodo, também de Rubião). Na repartição,
Galateu era outro a soar como mais um homem comum a habitar a
terra; no entanto, nesta viagem, ele revela que fora mágico e
está a se tratar para reobter seus poderes com um tal de dr.
55
Pink (outra personagem originalmente d'O lodo); quando Pedro
está prestes a revelar suas desconfianças acerca de Dalila
para aquele homem, o trem para no ponto de descida de Galateu;
antes de se retirar do vagão, no entanto, o ex-mágico confessa
que aquela locomotiva, cheia de criaturas estranhas, saiu do
seu próprio bolso.
Nesta estação, adentra a robusta Bárbara, carregando
junto ao coração o seu filho, "raquítico e feio". Falastrona e
mal-educada, Bárbara não dá voz a Pedro ao vomitar sua
história: está a caminho de Juparassu para se encontrar com
seu marido, que lhe trará o presente que mais ambiciona: a
lua!
Bárbara é o conto que maior transformação sofre em
sua transposição para o meio acústico. O emissor do conto
original é, justamente, o marido de Bárbara; na tessitura
acústica, quem narra os fatos ocorridos é a mulher. Para isso,
foi realizado um intenso e profícuo trabalho de "mudança de
ponto de vista" junto à atriz Sofia Pellegrini, substancial
neste câmbio. Outra mudança – mas esta nos rumos da narrativa
– é o fato de ela pedir a Lua, sim, ao seu marido, e não mais
uma reles estrela. Este detalhe fora transmutado para atender
às necessidades da adaptação, principalmente na construção da
cena final – quando a Lua, ao se aproximar da Terra, leva as
marés para as Minas Gerais.
Esta rubianada já adentra no que há de mais insólito
no universo muriliano – e nos devaneios de Pedro. Seriam estes
seres todos delírios do namorado embriagado pelas lembranças
da moça da Casa Azul? "Apesar das coisas me aparecerem com
extrema nitidez, espelhando uma realidade impossível de ser
negada, resistia à sua aceitação". (RUBIÃO, 2010, p. 167). O
mesmo homem atordoado que constatará que a namorada há muito
já morrera – mesmo antes de ele cogitar a viagem a Juparassu,
mesmo antes de ele conhecê-la adulta! E aquelas personagens
56
curiosas, peculiares? Existiriam ou seriam frutos de sua
imaginação?
A terceira rubianada é, enfim, a imersão definitiva
no onírico. Ora, Juparassu é local para o devaneio; "Juparassu
é entrelugar do factual e da fantasia, onde presente e passado
se confundem, num tempo especial, que pode bem ser o tempo do
inconsciente." (COSTA; MORAIS, 2008, s/p). Será dentre os
escombros do passado de Pedro que se consolidará a fantasia
engordativa de Bárbara e que voltarão, em definitivo, os
poderes do mágico! Será esta pequena cidade do sertão da
Farinha Podre, coração de Minas, invadida pelo mar! Sim, Minas
virará mar. "Chuá, chuá, chuá..."
Pode-se dizer, desta forma, que estas rubianadas
acompanham o movimento do trem: vão do real ao ilusório em
fragmentações espaciais, temporais, tal qual o percurso do
conto original A noiva da Casa Azul. Costa e Morais (2008,
s/p) comparam esta fragmentação psíquica do narrador-
personagem do conto à própria Casa Azul, lugar da verdade e do
desejo, mas constituído de fragmentos.
Neste As rubianadas, a loucura incessante desta
personagem é acentuada através de seu contato com outros
seres, que podem ser somente figuras a imergir de sua
imaginação. Estas figuras, ainda, apresentam anseio semelhante
ao seu: querem alcançar algo. Pedro, narrador de A noiva da
Casa Azul e também de As rubianadas, ambiciona "recuperar o
desejo alienado nos estilhaços que lhe sobram." (COSTA;
MORAIS, 2008, s/p); Galateu deseja o mesmo no que tange aos
seus poderes; Bárbara é composta pelos seus próprios anseios,
sentindo-se incompleta – e realmente perdendo "pedaços", massa
corporal, no caso – quando estes não são realizados. Em As
rubianadas, essas figuras estilhaçadas se tornam evidentes e,
quando alcançam o que querem, o mundo que as abriga já não é
mais o mesmo.
57
O mais importante: toda esta articulação não se deu
na mera associação de ideias enquanto pensamentos intangíveis
a serem postos em um papel, e sim através das práticas
realizadas em sala de ensaio: da relação que os atores
propuseram para as personagens nos experimentos é que surgiram
os encontros destes seres e seu alinhavo na dramaturgia. E as
possibilidades nascidas no plano da escrita foram testadas em
sala de ensaio para se firmarem em definitivo como parte da
obra.
O diálogo com a orientadora também foi vital para a
construção da peça. Conforme já explanado, Bauab me aconselhou
a quebrar as enormes sequências literárias que eu trazia dos
textos de Rubião nas primeiras versões de As rubianadas; desta
forma, eu poderia criar e fazer fluírem diálogos e situações
que não cansassem os ouvintes. Também sugeriu, para não soar
tão óbvio, que os sons e ruídos não fossem ilustrados, somente
apresentados no momento de sua menção, e sim que surgissem em
outros pontos da peça – conferindo-lhe, assim, maior riqueza
acústica.
Como exemplo concreto desta criação coletiva, o
próprio texto radiodramático, em constante aprimoramento. A
primeira versão foi concebida, após vários encontros e
trabalhos radioteatrais, a partir dos contos de Murilo e das
primeiras experimentações dos atores; após revisão de Heloisa
Bauab, voltei a trabalhar com o grupo, que ora me fornecia
subsídios para a resolução de antigas questões e ora me
entregava novos materiais brutos – novos problemas a
solucionar! Houve momentos em que foi necessário um real
trabalho de dramaturgo – não de alguém que apenas coleta
material e o organiza, mas que também concebe elementos para
melhor articulação do todo. E assim formou-se a tríade atores-
autor-supervisora, responsável pelo resultado final.
58
3.3 DO TRABALHO COM OS ATORES
A intensa participação dos atores durante todo o
processo teve como finalidade a manutenção da identidade do
trabalho deste grupo específico, e aí se enquadra a questão da
elocução como encontro único entre enunciador e enunciado –
tão alardeada no capítulo anterior. Fosse este trabalho
realizado desde o início com outros atores, não só o resultado
final seria diferente, mas certamente o seriam também diversas
passagens do texto radiodramático. Ora, não foi um trabalho de
composição realizado somente a partir dos textos de Rubião,
mas sim de todas as possibilidades trabalhadas pelos atores,
do material levantado por aqueles indivíduos em ensaios. Ou
seja, não fui somente eu como dramaturgo que "rubianei": os
atores também sonharam concretamente Murilo Rubião através dos
sons.
Os atores começaram o processo brincando com as
estruturas e sonoridades das palavras e frases articuladas dos
contos murilianos, trabalhando a partir daquelas referências e
jogando, estabelecendo contato um com o material do outro. Foi
do ensaio que surgiu o barulho do trem, a decisão por adaptar
o conto Bárbara sob a óptica da personagem-título.
Iniciei o caminho de composição das personagens na
contramão do que o próprio Murilo Rubião propunha em sua
poética: a objetividade de sua linguagem e a constante busca
da clareza acabavam por intensificar o fantástico em sua
literatura (ALEIXO, 2008, p. 191); ou seja, ele tomava
potências distintas na forma e no conteúdo justamente para
acentuar o insólito.
Sempre propus que os atores trabalhassem no limiar do
exagero, do rebuscado, a fim de que fossem construídas
caricaturas com as vozes. Acreditava que isso soaria bem na
exploração das variadas possibilidades acústico-teatrais que o
59
fantástico abrange; o resultado ao microfone, porém, não ficou
a contento.
Por sugestão da orientadora, os atores desceram um
pouco o tom carregado das personagens; por vezes, a palavra
não precisa ser sublinhada no plano da expressão para se fazer
entender – já possui potência suficiente no fluxo do texto.
Optou-se, então, por se trabalhar com o tom natural dos atores
pontuado por momentos de exagero – exagero este que chega ao
máximo na sequência do pesadelo sonoro.
Outra sugestão de Heloisa Bauab foi a escalação de
outros atores para darem conta da polifonia de personagens. No
desenho inicial do trabalho, pensava que os três estudantes
poderiam se responsabilizar por todas aquelas vozes em um jogo
com o farsesco e o exagero; quando esta articulação estética
caiu, porém, este jogo não mais se justificava, e José e Sofia
– conforme alertou Bauab –, possuem timbres muito
característicos, o que poderia confundir o público se os dois
aparecessem repetidamente, mesmo em personagens com uma só
fala. Recorri, então, a nomes que me acompanharam nos outros
experimentos e não me negaram assistência.
3.4 DOS RECURSOS E TÉCNICAS ACÚSTICOS
A miscelânea de formas de composição acústica
proposta por As rubianadas – ora a peça é guiada pela fala,
ora somente por música, ora por ruídos – procura destoar do
que se cristalizou como ficção radiofônica devido à herança
das radionovelas.
O exagero proposto pontualmente no plano da expressão
sublinha algumas características murilianas, enquanto a opção
por evidenciar alguns ruídos – a música do circo, o barulho do
mar – vindos de fonte sonora humana, deixando assim explícito
60
o fato de que toda aquela ilusão é artificial, marca a
exposição dos dispositivos de composição radiofônica.
Para a edição final, conforme sugestão da
orientadora, procurou-se a espacialização das personagens no
espectro sonoro; cada personagem e cada situação dramática
também mereceu um tratamento acústico diferenciado. A narração
de Pedro se localiza ao centro – conforme modelo tão caro às
peças radiofônicas clássicas. Seu discurso enquanto vivencia
os fatos narrados, no entanto, está posicionado ao lado
esquerdo do espectro (o lado da lógica e da razão no cérebro
humano), enquanto personagens como Galateu e Bárbara estão ao
lado direito (o lado da criatividade e das artes). Quando
tomam a posição de narradores de suas histórias, Galateu e
Bárbara vão para o centro do espectro.
O trem trafega pelos polos esquerda-direita, o que,
além de indicar o movimento do veículo, dá a ideia de que o
mesmo é uma espécie de elo entre esses dois mundos: o
concreto, crível aos ouvidos humanos, e o insólito. Há, ainda,
sobreposições de discursos quando estes estão em consonância –
ou, por vezes, até mesmo em dissonância, como no estonteante
prólogo. Como exemplo mais claro deste efeito, o momento da
leitura que Pedro faz da carta deixada por Dalila – aqui,
percebe-se que o discurso é idêntico no plano da forma, mas
não referente às intenções dos emissores, já que Pedro, em um
primeiro momento, mesmo desconfiado de que Dalila ficara
balançada ao encontrar o ex-noivo, não vê maldade no ato de
ela ter dançado com o cavalheiro por educação, enquanto que,
através da elocução de Dalila, já localizada no "plano do
fantástico" do espectro acústico, nota-se claramente certa
perfídia no aceite do convite. As diversas variações de polo
no espectro por parte de Pedro se tornam constantes quando,
atordoado pelas figuras com que trombou no decorrer deste
caminho, por todas as informações que lhe foram despejadas
61
sobre Dalila e sobre si mesmo, ocorre o que está intitulado no
roteiro como "pesadelo sonoro".
Quanto à exploração das diversas formas de
composição, é bom ressaltar que não há uma intenção meramente
expositiva: cada movimento foi pensado de forma a se construir
uma dramaturgia sonora, pertinente – obviamente – ao universo
muriliano e às peculiaridades de cada conto e personagem. No
que tange à parte do ex-mágico, também intitulada de
"elucubrações circenses", optou-se por apresentar aquela
história como um grande espetáculo de circo, com direito a
plateia, risos, exagero na forma da expressão, construção de
momentos de tensão, a música e outros elementos ora a ilustrar
exatamente o que está se dizendo na fala – momentos de
melodrama circense –, ora a ditar o ritmo da mesma, ora a se
contrapor ao discurso. "Da voluptuosidade ou do apetite
desenfreado da vida" é muito forte nos jogos de palavras,
surgidos a partir do improviso dos atores. As partes
conduzidas por Pedro variam entre momentos de extrema lógica e
racionalidade – tradicionais, na elaboração da tessitura
acústica – a puros devaneios sonoros.
Nesta fusão (e confusão!) entre o que é o real ou
ilusório para Pedro, são expostos os recursos acústicos na
forma da expressão: é notório, conforme já frisado, que as
vozes dos atores são as responsáveis pelo trem – vozes que se
convertem no barulho da máquina propriamente dito por um
processo de fusão, bem como as ondas do mar ora são
realisticamente mostradas, ora não passam de um "chuááá,
chuááá" pronunciado. Há, ainda, diversas interrupções de
ruídos que remetem ao (des)sintonizar e às mudanças de estação
de um antigo aparelho de rádio, o que não deixa o público se
esquecer de que está a acompanhar uma ficção radiofônica. A
opção pela utilização destes recursos, muito característicos
do meio acústico, reforça a ideia de que se está contando
algo.
62
Ao final, o encontro definitivo: a voz de Pedro passa
por um processo de transformação, como se o mesmo fosse
gradativamente aprisionado a um aparelho radiofônico – o que
acontece de fato! Aqui não haveria mais dúvidas de se estar
ouvindo uma tessitura acústica para rádio, de estar-se vivendo
uma ilusão. Seria o equivalente, se estivéssemos falando de
teatro, à explicitação da caixa preta e dos dispositivos
teatrais – no decorrer, em pequenas porções; agora em
definitivo. Sim, os ouvintes foram expostos a uma pulsão
contínua de devaneios articulados traduzidos sob forma
acústica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Infelizmente não consegui cumprir a meta inicial que
tracei para cada um dos três grupos. O quarto ano de Artes
Cênicas, por si só, muito exige dos alunos – bem como os
outros anos, e dez destes atores eram discentes regulares do
curso. Vistos estes percalços, não há Hércules que enfrente os
desafios aos quais me propus de maneira satisfatória em um ano
letivo.
Devo, no entanto, muito a todos os atores que
integraram os experimentos práticos. Nos momentos de maiores
angústias e em espinhosas encruzilhadas teóricas, pegava-me a
refletir sobre nossas práticas e nossas tão frutíferas
discussões - e assim conseguia visar caminhos viáveis;
diversas das frases que eles disseram, muitas em um ímpeto
pós-exercício, foram essenciais para me guiar nesta jornada.
Além de me ajudarem a compreender a voz como potência
artística e criativa plena e a elocução como ação legítima a
ser investigada no trabalho do ator, não recuaram em me
auxiliar por uma última vez nas etapas finais das gravações de
As rubianadas.
Descobri que não precisava elucubrar ou ir muito além
para escrever estes relatos; não foi necessário sistematizar
métodos que servirão de guias para outros trabalhos
radiofônicos - até porque isso, além de soar muito
pretensioso, é algo que não existe; cada processo, por mais
que se aproveite de conceitos já estabelecidos, apresenta suas
64
singularidades (assim como as palavras!) e traça seu próprio
caminho. Bastou, então, que eu me concentrasse nas práticas em
andamento para que todos estes escritos surgissem.
Este trabalho, portanto, também é de responsabilidade
dos atores; atores que compartilharam comigo este fascínio
pelas palavras e pelo meio acústico. Os tijolos desta casa
foram eles que produziram; fui apenas um pedreiro a passar
cimento para interligá-los.
E, graças à realização de As rubianadas, pude tomar
contato com a gramática acústica e seus meandros: a partir da
convergência e articulação de signos sonoros – voz, música e
ruídos –, procurei explorar as possibilidades do rádio como
veículo de arte acústica em todas as suas dimensões. Apesar de
o ponto de partida ser a palavra escrita – e eu correr o risco
de ela se sobrepor como recurso mais significante na obra
final devido a isso –, busquei integrá-la aos outros elementos
sonoros de forma a obter uma sintaxe radiofônica plena.
REFERÊNCIAS
ALEIXO, Sandra Elias. O universo fantástico de Murilo Rubião.
In: Trama. Volume 4, número 8, 2° semestre de 2008, p. 187-
198.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução de Antônio da
Costa Leal e Lídia do Valle Santos Leal. Rio de Janeiro:
Livraria Eldorado Tijuca, 1976.
BAUAB, Heloisa. AUdioFICções&RitMOS (engenharias do verbo e do
som). Revista USP. São Paulo: USP, mar./abr./mai. 1990, p.
105-108.
______. Noturno a duas vozes: melos-drama para rádio. Catálogo
SBAT, 1985.
BENTES, Ivana; ZAREMBA, Lílian. Rádio nova: constelações na
radiofonia contemporânea. Rio de Janeiro: UFRJ/Publique, 1999.
BRECHT, Bertolt. O voo sobre o oceano. In: ______. Teatro
completo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, v. 3.
CALABRE, Lia. O rádio na sintonia do tempo: radionovelas e
cotidiano (1940-1946). Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui
Barbosa, 2006.
CAMACHO, Lidia. La imagen radiofónica. México: Ediciones Mac
Graw Hills, 2000.
CORONATO, Vivian de Camargo; COLLAÇO, Vera (orientadora).
Radioteatro e o direito de sonhar. In: XVII CONGRESO
INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO Y ARGENTINO. Buenos
Aires: 2008.
COSTA, Virgínia Carvalho; MORAIS, Márcia Marques de. Entre
ruínas e escombros: um passeio pela subjetividade muriliana.
In: IX CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIC – TESSITURAS,
INTERAÇÕES, CONVERGÊNCIAS. São Paulo: 2008.
EL HAOULI, Janete: Mordendo a própria cauda: peça radiofônica
alemã e experimentação de vanguarda. In: BALOGH, Anna Maria;
ADAMI, Antonio; DROGUETT, Juan; CARDOSO, Haydèe Dourado de
Faria (Org.). Mídia, cultura, comunicação. São Paulo: Editora
Arte & Ciência, 2002.
66
______. Rádio: arte do espaço sonoro. In: XIII ENCONTRO DA
ANPPOM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM
MÚSICA. Belo Horizonte: 2001, p. 247-252.
______. Rádio arte no Brasil. In: Guia do mercado brasileiro
da música. Disponível em
<http://www.guiadamusica.org/conteudo/reflexoes/reflexoes.php?
id_reflexao=3>. Acesso em 08 jul. 2013.
FERRARETTO, Luis Artur. Rádio: o veículo, a história e a
técnica. Rio Grande do Sul: Editora Sagra-Luzzatto, 2000.
FORTUNA, Marlene. A performance da oralidade teatral. São
Paulo: Annablume, 2000.
GAIARSA, José Ângelo. Respiração, angústia e renascimento. São
Paulo: Ágora, 2010.
GOLDFEDER, Mirian. Por trás das ondas da Rádio Nacional. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
JORGE, Luiza Neto; GOMES, Manuel João. Extractos da imprensa
da época. In: ARTAUD, Antonin. Para acabar de vez com o juízo
de Deus (seguido de O teatro da crueldade). Lisboa: Editora &
etc, 1975, p. 159-188.
KLIPPERT, Werner. Elementos da linguagem radiofônica. 1977.
In: SPERBER, George Bernard (Org.). Introdução à peça
radiofônica. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária,
1980.
LÉ, António Jorge Rocha. Rádio Foz do Mondego: um percurso do
passado ao presente. 2012. 70 p. Dissertação (Mestrado) –
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2012.
LEÃO, Rudyard. Ficção radioativa: é possível contar histórias
potencializadas pelos efeitos excepcionais do áudio
eletrônico. In: Klepsidra: revista virtual de historia, n° 18,
2003. Disponível em
<http://www.klepsidra.net/klepsidra18/ficcaoradioativa.htm>.
Acesso em 02 set. 2013.
MACHADO, Arlindo. A poesia na tela. In:______. A televisão
levada a sério. São Paulo: Ed SENAC, 2000, p. 207-224.
67
MEDITSCH, Eduardo (Org.). Rádio e pânico: A guerra dos mundos,
60 anos depois. Florianópolis: Ed. Insular, 1998.
MONTAGNARI, Eduardo Fernando. Rádio e teatro: memória e
possibilidades. Acta scientiarum: human and social sciences.
Maringá: v. 26, n°. 1, 2004, p. 145-149.
OLIVEIRA, Mariana. O movimento da valsa: entre a fábula e a
estrutura. In: Folhetim: especial Nelson Rodrigues. Rio de
Janeiro: Pequeno Gesto, 2010/2011.
PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Tradução dirigida por
Jacob Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva,
2001.
PROFETA, Gilberto Rabelo. A palavra como ideograma em Antonin
Artaud. In: Agulha: revista de cultura. Fortaleza – São Paulo:
n° 51, mai./jun. 2006. Disponível em
<http://www.revista.agulha.nom.br/ag51artaud.htm>. Acesso em
02 set. 2013.
RODRIGUES, Nelson. Valsa n° 6. In: ______. Teatro completo.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993, p. 169-214.
ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva,
2000.
RUBIÃO, Murilo. Obra completa. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010.
______. O pirotécnico Zacarias. São Paulo: Ática, 1974.
SCHÖNING, Klaus. Ouvir peças radiofônicas: em defesa de uma
criança abandonada. In: SPERBER, George Bernard (Org.).
Introdução à peça radiofônica. São Paulo: Editora Pedagógica e
Universitária, 1980, p. 167-188.
SILVA, Júlia Lúcia de Oliveira Albano. A peça radiofônica e a
contribuição de Werner Klippert. In: XXVIII CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. Rio de Janeiro: 2005.
SOUZA DE OLIVEIRA, Lígia. O personagem contemporâneo: alguns
pensamentos sobre o precursionismo da Valsa nº 6, de Nelson
Rodrigues. In: Scripta alumni. Uniandrade, n° 6, 2011, p. 82-
92.
68
SPERBER, George Bernard (Org.). Introdução à peça radiofônica.
São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1980.
SPRITZER, Mirna; GRABAUSKA, Raquel. Bem lembrado: histórias do
radioteatro em Porto Alegre. Porto Alegre: AGE/Nova Prova,
2002.
SPRITZER, Mirna. O corpo tornado voz: a experiência pedagógica
da peça radiofônica. 2005. 192 p. Tese (Doutorado) – Programa
de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
VENSON, Mônica. O ruído, o sentido e a radionovela. 1991. 39
p. Trabalho de conclusão de curso (graduação em Comunicação
Social – Jornalismo) – Universidade Estadual de Londrina,
Londrina, 1991.
70
Figura 2 – Janela para Juparassu
Fonte: Ilustração de Nani Vasques realizada especialmente para a
peça radiofônica As rubianadas.
71
APÊNDICE A
AS RUBIANADAS
peça radiofônica de
LUCAS MARTINS NÉIA
a partir de tramas e personagens fantásticas de
MURILO RUBIÃO
e jogos e improvisações dos atores
JOSÉ PAULO BRISOLLA DE OLIVEIRA
MARCO ANTONIO PAIXÃO
SOFIA PELLEGRINI
supervisão dramatúrgica
HELOISA BAUAB
(Versão original gravada em novembro de 2013 nos estúdios da Rádio
UEL FM e do Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de
Comunicação, Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade
Estadual de Londrina, Brasil.)
72
AS RUBIANADAS
PRÓLOGO: JANELA PARA JUPARASSU
PRIMEIRA RUBIANADA: NA REPARTIÇÃO
SEQUÊNCIA I – TELEGRAMA
SEGUNDA RUBIANADA: NO TREM E EM OUTRAS FRAÇÕES DE MUNDO
SEQUÊNCIA II – PARTIDA DA ESTAÇÃO
SEQUÊNCIA III – ESTRANHOS PASSAGEIROS
SEQUÊNCIA IV – O EX-MÁGICO DA TABERNA MINHOTA OU ELUCUBRAÇÕES
CIRCENSES
SEQUÊNCIA V – BÁRBARA OU DA VOLUPTUOSIDADE E DO APETITE DESENFREADO
DA VIDA
SEQUÊNCIA VI – INQUIETAS SOMBRAS
TERCEIRA RUBIANADA: EM JUPARASSU
SEQUÊNCIA VII – (LEMBRANÇAS DE) DALILA MOÇA
SEQUÊNCIA VIII – A VOLTA À TERRA MÃE
SEQUÊNCIA IX – TOUS LES GARÇONS...
SEQUÊNCIA X – A CASA AZUL
EPÍLOGO: PESADELO SONORO (CÂNTICO DOS CÂNTICOS)
73
PERSONAGENS/VOZES POR ORDEM DE ENTRADA
GALATEU
BÁRBARA
PEDRO
CARTEIRO
COLEGA DE TRABALHO
DALILA
DONO DO RESTAURANTE
LOCUTOR DO CIRCO
GAROTO-PROPAGANDA DO CIRCO
UMA MULHER
JORNALISTA
MOÇA DE SORTEIOS
POLICIAL
PASTOR
ESPECTADORA
ESPECTADOR
UMA COLEGA DE TRABALHO
CHEFE
SEGISMUNDO (IMITADO POR BÁRBARA)
AGENTE DA ESTAÇÃO
COLONO
E AINDA
VOZES E SONS DE AUDITÓRIO E PLATEIA
ONOMATOPEIAS DE UMA CRIANÇA PEQUENA
FRANÇOISE HARDY
74
ao metteur-en-son:
Não se furte em acrescentar ruídos de sintonia
e/ou interferências em algumas pechas;
lembremos de que se trata de uma tessitura acústica
a ser transmitida por uma estação qualquer
e cujo meio material na qual permanece registrada
está sujeito à danosa ação do tempo.
75
PRÓLOGO: JANELA PARA JUPARASSU
OUVE-SE O SINTONIZAR DE UM RÁDIO – COMO SE ALGUÉM ESTIVESSE A
TRAFEGAR POR DIVERSAS ESTAÇÕES; NESTE ÍNTERIM, SINTONIZAM-SE
FRAGMENTOS DOS SEGUINTES DISCURSOS – ORA A FALA DE UM, ORA A FALA DE
OUTRO, ORA FALAS EM CONCOMITÂNCIA –, EXCLAMADOS EM UM CRESCENTE
ÍMPETO DE LOUCURA E PERMEADOS POR MÚSICAS RETUMBANTES, BEM COMO
TRECHOS FAMILIARES AOS OUVIDOS DO PÚBLICO – TAIS COMO O TOQUE DO
REPÓRTER ESSO OU A ABERTURA DE A VOZ DO BRASIL...
GALATEU – ...concluí que somente a morte poria termo ao meu
desconsolo. Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões
e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por
eles. No entanto, nenhum mal me fizeram! Rodearam-me, farejaram
minhas roupas, olharam a paisagem e se foram...
BÁRBARA – ...meu marido me levava ao cinema, aos campos de futebol.
O menino sempre ia carregado nos braços, pois, ano após o seu
nascimento, continuava do mesmo tamanho, sem crescer uma polegada. E
eu só desejava, nessas ocasiões, ou máquina de projeção ou a bola
com a qual se entretinham os jogadores...
PEDRO – ...Juparassu surgiria no cimo da serra, mostrando a
estaçãozinha amarela. Deixei que a ternura me envolvesse e a
imaginação fosse encontrar, bem diante dos olhos, aqueles sítios que
representavam a melhor parte da minha adolescência...
EIS QUE, NO AUGE DA RETUMBÂNCIA DE MÚSICAS, VOZES E TONS, HÁ UMA
BRUSCA MUDANÇA DE ESTAÇÃO. OUVEM-SE APENAS ALGUNS ACORDES AO FUNDO –
MERO RASCUNHO DOS RUFARES ANTERIORES. COMO SE PROVIESSEM DE DENTRO
DE UM RÁDIO, AS PALAVRAS ABAIXO:
PEDRO - ...azul como a; azul como aaa; azul como a, azul como a,
azul como a...
76
Figura 3 - Telegrama
Fonte: Ilustração de Nani Vasques realizada especialmente para a
peça radiofônica As rubianadas.
77
PRIMEIRA RUBIANADA: NA REPARTIÇÃO
SEQUÊNCIA I – TELEGRAMA
UMA REPARTIÇÃO. MÁQUINAS DE ESCREVER A TODO VAPOR.
CARTEIRO – Telegrama.
O BARULHO DAS MÁQUINAS CESSA AO FINDAR DA FALA ACIMA; À FALA ABAIXO,
OUVE-SE UM RASGAR DE ENVELOPE E UM DESDOBRAR DE PAPEL.
PEDRO (NARRADOR) – Não foi dúvida, e sim a raiva quem me possuiu
quando, de posse daquela carta, tomei conhecimento de seu conteúdo.
COLEGA DE TRABALHO – O que é?
PEDRO – É de Dalila.
COLEGA DE TRABALHO – O que está escrito?
PEDRO – Que dançara ontem
algumas vezes com o ex-noivo.
(PEQUENO ACORDE DE TANGO)
Encontrou-se com ele em uma
festa, (OUTRO ACORDE, MAIS
INTENSO) cortejou-a, (ACORDE
AINDA MAIS INTENSO) e ela não
o repelira por simples questão
de cortesia. (UM ÚLTIMO
ACORDE, A FINDAR O TANGO) E,
hoje pela manhã, partiu de
volta a Juparassu no primeiro
badalar do sino.
DALILA – ...encontrei-me com
ele em uma festa, (PERFÍDIA NA
VOZ A SE ACENTUAR A CADA
ACORDE DO TANGO) cortejou-me e
não o repeli para dançar por
simples questão de cortesia.
COLEGA DE TRABALHO – E o que você vai fazer agora?
PEDRO (NARRADOR) – Não titubeei: saí às pressas da repartição com
destino à estação de trem. O meu destino era certeiro.
78
SEGUNDA RUBIANADA: NO TREM E EM OUTRAS FRAÇÕES DE MUNDO
SEQUÊNCIA II – PARTIDA DA ESTAÇÃO
INICIA-SE, PROGRESSIVAMENTE, O BARULHO DE UM TREM. VOZES HUMANAS SE
ALTERNAM COM RUÍDOS DE UMA MARIA FUMAÇA REAL E COM TRECHOS DE O
TRENZINHO DO CAIPIRA, DE VILLA-LOBOS. A VOZ DE PEDRO, AO MENCIONAR O
SEU DESTINO, TRANSFORMA-SE PAULATINAMENTE NO APITAR DO TREM.
PEDRO – Juparassuuuuuuuuu!
SEQUÊNCIA III – ESTRANHOS PASSAGEIROS
PEDRO (NARRADOR) – Ao adentrar o vagão de número três do trem que
atravessaria as Minas Gerais, deparei-me com criaturas exóticas: um
senhor de aparência fúnebre, tão pálido que eram notórias todas as
suas veias; uma senhora magra e esguia com o olhar fixo em um eterno
horizonte... Até mesmo um coelho, um coelho a proferir grunhidos
humanos a seu acompanhante. E qual não foi minha surpresa ao avistar
o senhor Galateu, chefe da repartição na qual trabalho, a penetrar
aquele mesmo vagão?
INICIA-SE A AMBIÊNCIA DO TREM, SEMPRE INTERROMPIDA EM MOMENTOS DE
NARRAÇÃO.
GALATEU – Ora se não é o destino um grande gozador? Sempre a cruzar
o caminho daqueles mais suscetíveis a alguns milagres do mundo.
PEDRO (NARRADOR) – Foi com estas palavras que ele sentou-se à minha
frente. Muitas palavras, pouca estatura. O homem chamava a atenção
pelo fraque velho e batido que trajava e pela enorme cartola em sua
cabeça. Começou a discorrer sobre tudo: do tempo às questões
políticas do país...
GALATEU – ...e este não é o maior problema! Desde que aquele nanico
assumiu a presidência que as Minas não mais recebe atenção nos
setores que lhes são vitais para pujança econômica... (MUDANÇA DE
TOM) Aborreço-te, Pedro?
PEDRO – Não, senhor! Só estou um pouco enfastiado com o movimento do
trem...
GALATEU – Mas sua fisionomia indica que algo muito maior que este
balançar atinge-lhe. Responda: está satisfeito com teu emprego?
PEDRO – Oh, mas é claro, senhor! Não tenho do que reclamar.
GALATEU – Pode se abrir comigo, meu caro. Não me veja como aquele
homem do escritório que só sabe falar em burocracias! Sei o quão
penosa é a vida em uma repartição pública. O destino de todo homem,
ao atingir certa idade, é enfrentar uma avalaaanche do tédio e da
amargura. E, mesmo acostumados às vicissitudes desde a meninice,
através de um longo processo de dissabores, alguns não conseguem
encarar esta vida com a devida sobriedade.
79
TROMBETAS COMO A ANUNCIAR UMA PRÓXIMA ATRAÇÃO.
GALATEU – Eu fui um destes. Um dia, dei com os meus cabelos
ligeiramente grisalhos num espelho... No espelho da Taberna Minhota.
PEDRO – (ESPANTO) O senhor já trabalhou em uma taberna?
GALATEU – Posso dizer... Que nasci em uma taberna. (MELANCOLIA)
Posso dizer que nasci naquele momento. Ali fui atirado à vida, sem
pais, sem infância ou juventude. Sem estar preparado para o
sofrimento.
CESSA, DE VEZ, A AMBIÊNCIA DO TREM.
SEQUÊNCIA IV – O EX-MÁGICO DA TABERNA MINHOTA OU ELUCUBRAÇÕES
CIRCENSES
GALATEU – (ASSUME A POSIÇÃO DE NARRADOR) A descoberta daqueles fios
brancos não me espantou, e tampouco me surpreendi ao retirar do
bolso... (RISADA) O dono do restaurante! Sim, o dono do restaurante!
Ele sim, perplexo, me perguntou...
DONO DO RESTAURANTE – Como pôde ter feito isso? Tirar-me do seu
bolso? Como vim parar aqui?
GALATEU – O que eu poderia responder nessa situação? Eu, uma pessoa
que não encontrava a menor explicação para minha presença no mundo!
(APLAUSOS DO AUDITÓRIO) Disse-lhe que nascera cansado e entediado.
Sem meditar na resposta, ofereceu-me emprego; passei a divertir a
freguesia (RISADAS DIVERSAS E PALMAS DA ASSISTÊNCIA A PERDURAREM ATÉ
O FINAL DA FRASE) da casa com meus passes mágicos. O homem,
entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores
almoços gratuitos, (PALMAS SE INTENSIFICAM) que eu extraía
misteriosamente de dentro do paletó. Querendo de mim se livrar,
apresentou-me ao empresário do...
PRATOS E RUFAR DE TAMBORES.
LOCUTOR DO CIRCO – O Circo-Parque Andaluz!
MÚSICA DE CIRCO.
GAROTO-PROPAGANDA DO CIRCO – Venham, venham! Sensacional atração: o
mágico da Taberna Minhota! Venham, venham...
GALATEU – O público, em geral, me recebia com frieza. (BOCEJO) Ao
contrário dos dias de hoje, àquela época não me apresentava de
casaca ou de cartola. Mas, quando, sem querer, começava a extrair do
chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo
no último número, em que eu fazia surgir, por entre os dedos, um
jacaré! Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades,
transformava-o numa sanfona. E encerrava o espetáculo tocando...
LOCUTOR DO CIRCO – O Hino Nacional da Cochinchina.
80
TOCA-SE O HINO, QUE ACOMPANHARÁ A PRÓXIMA FALA.
PEDRO – Juparassuuuuuuuuu...
UMA MULHER – Pam-pam, pã-rã-rã-rã-rã-pam-pam...
GALATEU – Os aplausos vinham de todos os lados, sob o meu olhar
distante. Não me tocavam nem os elogios das criancinhas que iam às
matinês de domingo. (HINO VAI DESAPARECENDO AOS POUCOS, MERGULHANDO
A FALA EM UM SILÊNCIO PERTURBADOR) Por que me emocionar com aqueles
rostos inocentes, destinados a passar pelos sofrimentos que
acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-
las por terem tudo que ambicionei e não tive: um nascimento e um
passado. (PAUSA) Com o crescimento da popularidade, a minha vida
tornou-se insuportável.
JORNALISTA – Com o crescimento da população mundial, o Instituto de
Análise Demográfico-Sentimental informa...
MOÇA DE SORTEIOS – O número de hoje é...
GALATEU – A minha vida tornou-se insuportável!
MOÇA DE SORTEIOS – Seis...
JORNALISTA – Sete bilhões de pessoas no mundo.
MOÇA DE SORTEIOS – Sete...
JORNALISTA – Sete bilhões de pessoas sem rumo.
MOÇA DE SORTEIOS – Zero.
GALATEU – (DE FORMA RÁPIDA E SINCOPADA) Quase sempre, ao andar pela
rua, provocava o assombro dos pedestres ao sacar um lençol do bolso
– só queria um lenço para assoar o nariz! Se eu mexia na gola do
paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o
cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras! (GRITOS DE
MULHERES E CRIANÇAS) Situação cruciante.
PEDRO – Situação... Cruciante.
GALATEU – (DESOLADO) Nada fazia...
PEDRO – Cru-ciante.
GALATEU – Olhava para os lados...
PEDRO – Cru.
GALATEU – ...e implorava com os olhos por um socorro!
PEDRO – Cru.
GALATEU – Que não poderia vir de parte alguma. (RÁPIDA PAUSA; SOM DE
SIRENE E BARULHO DE AGLOMERAÇÃO) Vinham guardas, ajuntavam-se
81
curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir a
autoridade policial vociferar:
POLICIAL – É proibido soltar serpentes em vias públicas!
GALATEU – Tímido e humilde, mencionava a minha condição de mágico,
reafirmando o propósito de não molestar ninguém! Também, à noite,
costumava acordar sobressaltado com um pássaro ruidoso a bater as
asas ao sair do meu ouvido. (REVOAR DE PÁSSARO)
GALATEU (PASSADO) – Saia do meu ouvido, seu pássaro imundo!!! Vá
bater as asas na casa da Cacilda!
GALATEU – Numa dessas vezes, disposto a nunca mais fazer mágicas,
mutilei as mãos. Não adiantou! Ao primeiro movimento que fiz, elas
reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço!
(PAUSA) Concluí que somente a morte poria fim ao meu desconsolo.
UMA MULHER – (EM TOM DE LITURGIA) Uuuh...
GALATEU – Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar o
ponto mais alto...
UMA MULHER – Uh, uuuh...
PASTOR – E o diabo tentou o Senhor: pula, que teu Pai mandará dois
anjos para lhe salvar.
GALATEU – Abandonei o corpo ao espaço.
BARULHO DO VENTO.
UMA MULHER – Uh, uuuh...
PASTOR – E o senhor mandou teus anjos.
GALATEU – Senti apenas uma leve sensação da morte. Logo me vi
amparado por um paraquedas. (CESSA O VENTO) Com dificuldade,
machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à
cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir... Uma
pistola!!!
ESPECTADORA – (ASSUSTADA) Ah! Não faça isso!
ESPECTADOR – É agora. É agora!
GALATEU – Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido.
ESPECTADORA – Não, que é isso?
Você não pode fazer isso. Não,
não... Tenha cuidado.
ESPECTADOR – É agora, é agora;
isso, vai. É a hora. É, é,
você consegue!
GALATEU – Puxei o gatilho, à espera do estampido, a dor da bala
penetrando na minha cabeça.
82
ESPECTADOR – Isso, vai; isso!!!
ESPECTADORA – Não!!!
O SOM DE UM TIRO BRUSCAMENTE CORTADO.
GALATEU – Não veio o disparo nem a morte: a arma se transformara num
lápis!
A PLATEIA O OVACIONA, TRIUNFANTE!!!
GALATEU – (COM PESAR) Rolei ao chão soluçando! Eu, que podia criar
outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência!
(PAUSA; MUDANÇA DE TOM) Eis que uma frase, uma frase que escutara
por acaso na rua, trouxe-me nova esperança de romper em definitivo
com a vida...
JORNALISTA – O Instituto de Análise Demográfico-Sentimental informa:
ser funcionário público é suicidar-se aos poucos.
GALATEU – Não me encontrava em condições de escolher qual forma de
suicídio seria melhor: se lenta ou rápida. Por isso me empreguei na
Secretaria do Estado! (BARULHO DO DATILOGRAFAR DE MÁQUINAS A DITAR O
RITMO DAS FALAS SUBSEQUENTES; INICIA-SE EM UMA VELOCIDADE NORMAL)
1930, ano amargo, mais longo que os posteriores à minha primeira
manifestação de vida ante o espelho da Taberna Minhota. Não morri,
conforme esperava. Maiores foram minhas aflições e maior o meu
desconsolo. (PARAM AS MÁQUINAS) Quando era mágico, pouco lidava com
os homens. O palco me distanciava deles... Agora/
UMA COLEGA DE TRABALHO – Tem uma pilha aí pra você assinar –
documento por documento!
GALATEU – (VOLTAM AS MÁQUINAS DE ESCREVER; O DATILOGRAFAR, BEM COMO
A VELOCIDADE DAS FALAS, CADA VEZ MAIS ACELERADO) Obrigado à
proximidade de meus semelhantes, necessitava compreendê-los,
disfarçar a náusea que me causavam. E toda aquela situação levou-me
à revolta contra a falta de um passado!
PEDRO – (COMEÇA A GAGUEJAR, NEURASTÊNICO) Da-dadadada-dada...
GALATEU – Por que somente eu não tinha alguma coisa para recordar? O
amor? (AQUI CESSAM AS MÁQUINAS) O amor me veio por uma funcionária/
PEDRO – (AO PRENÚNCIO DA PALAVRA "AMOR", AGORA A BALBUCIAR EM UM TOM
DOCE) Da-dadada-Dalila!
GALATEU – (CONTINUA, SEM DAR MUITA ATENÇÃO AO DRAMA DE PEDRO)
...vizinha de mesa de trabalho. Ela me distraiu um pouco dos meus
tormentos. (VOLTAM AS MÁQUINAS; O DATILOGRAFAR MAIS RÁPIDO QUE
NUNCA) Cedo, no entanto, retornou o desassossego, e eu me debatia em
incertezas: como me declarar à minha colega se eu nunca tivera
sequer uma experiência sentimental?... (O FINDAR DO BARULHO AS
MÁQUINAS) 1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na
Secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de
ser posto na rua, procurei acautelar meus interesses. Fui ao chefe
83
da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado, afinal aqueles
dez anos de casa eram sinônimo de estabilidade no cargo!
CHEFE – (COMO SE TOSSISSE) Dez! Dez. Dez, dez, dez... (SARCÁSTICO) O
seu cinismo é surpreendente. Jamais poderia esperar que um reles
empregado com um ano de trabalho tivesse a ousadia de afirmar que
está na labuta há dez anos...
GALATEU – Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei
nos bolsos documentos que comprovassem a veracidade do que eu dizia.
Só achei um papel amarrotado, fragmento de um poema inspirado nos
seios da datilógrafa. Dez anos... (TOM MELANCÓLICO) Confiara demais
na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia.
VOLTA A AMBIÊNCIA DO TREM.
PEDRO – Que história incrível, senhor Galateu!
GALATEU – (NÃO MAIS SOB O STATUS DE NARRADOR) Sem os antigos dons de
mago, não consegui abandonar a pior das ocupações humanas...
PEDRO – O senhor me perdoe, mas... Como conseguiu chegar à chefia da
repartição?
GALATEU – Ora, para alguma coisa estes vinte anos – que alguns
julgam quatro ou cinco – me serviram! Por mais curioso que possa
parecer, o mesmo homem que me taxara de cínico indicou meu nome para
seu substituto quando se aposentou da chefia. Você sabe que algumas
ocupações exigem certa frieza e comportamentos não muito
ortodoxos... (RETOMA A CONDIÇÃO DE NARRADOR) Até hoje suspiro alto e
fundo. Não me conforta a ilusão: serve somente para aumentar o
arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. (REPENTINA
MUDANÇA; VOLTA O HINO NACIONAL DA COCHINCHINA) Mas estou ciente de
que ainda posso fazê-lo! De que voltarei a arrancar do corpo lenços
vermelhos, azuis, brancos, verdes... De que encherei a noite com
fogos de artifício! E serei ovacionado, coberto dos aplausos dos
homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas! (OUVEM-SE
APLAUSOS, ASSOVIOS E GRITOS)
PEDRO – (A CORTAR A ILUSÃO) Como o senhor tem tanta certeza disso?
GALATEU – Porque estou a caminho de mais uma consulta com o
famigerado doutor Pink da Silva e Glória, conhece? Ele possui uma
clínica bem no meio da estrada para Juparassu. Bem no meio do
nada... O sujeito consegue recuperações milagrosas aos olhos da
medicina e está particularmente empenhado em meu caso. Ele disse que
todos os meus poderes acabaram atolados no lodaçal que possuo dentro
de mim. O que ele faz é drenar a lama que ali está para desafogar
toda a mágica. Já obtivemos progressos bem interessantes.
PEDRO – É mesmo?
GALATEU – (CONVICTO) Sim! (PAUSA) Posso confessar-lhe uma coisa? (EM
TOM DE LOUCURA) Este trem... Eu o retirei do meu bolso.
FORTE APITAR DO TREM.
84
PEDRO (NARRADOR) – Armou o picadeiro, contou sua história e foi-se
embora.
SEQUÊNCIA V – BÁRBARA OU DA VOLUPTUOSIDADE E DO APETITE DESENFREADO
DA VIDA
TREM A PROSSEGUIR SEU CAMINHO.
PEDRO (NARRADOR) – Eu estava estupefato! Sabia que ser funcionário
público era padecer no inferno, mas não desconfiava, até então, do
poder de alguns demônios. Quando pensei que poderia fugir de todas
aquelas elucubrações, um novo ser chamou-me a atenção – não só a
minha, mas a de todos naquele vagão. (RECLAMAÇÕES DOS PASSAGEIROS)
Adentrou pela porta uma senhora farta de carnes, que mal conseguia
se locomover pelo estreito corredor dentre os bancos. Sentou-se à
minha frente e, apesar da cara de poucos amigos, não pude deixar de
alertá-la que alguma coisa se movia incessantemente no bolso
localizado junto a seu regaço.
BÁRBARA – Oh, não se preocupe! É meu filho, que carrego junto ao
peito.
PEDRO – Ele está no seu bolso?
BÁRBARA – Sim. É pequeno o suficiente para tal. Se você me visse no
período de gestação, não acreditaria. Meu ventre se dilatara de
forma tão assustadora que eu chegava a ficar escondida atrás daquela
barriga colossal!
PEDRO – A senhora me perdoe, mas... Como é sua graça?
BÁRBARA – Bárbara.
PEDRO – Bom, dona Bárbara, perdoe-me a indelicadeza, mas é um pouco
difícil imaginá-la maior do que está.
BÁRBARA – Não, não: eu murchara! A barriga é que crescera. Temia
que, do meu ventre, saísse um gigante ou um monstro! Para meu
desapontamento, no entanto, nasceu um ser raquítico e feio, pesando
um quilo. (O CHORO DO BEBÊ NO PARTO) Já possui oito anos, e não
cresceu sequer um milímetro desde o nascimento... Aí tenho que
carregá-lo para todos os lados. Oh, como é difícil lidar com algo
que não encomendamos.
PEDRO – Presumo que a senhora seja... Casada.
BÁRBARA – Sou, sou sim. Por um infortúnio do destino, confesso. Era
companheira inseparável de Segismundo na meninice. Namoramos,
noivamos e, um dia, nos casamos.
PEDRO – Ah, os encantadores amores da juventude...
BÁRBARA – Agora, porém, não passamos de simples companheiros. Meu
marido não consegue... (COM MALÍCIA) Atingir-me satisfatoriamente.
85
Figura 4 – Ba-o-Bárbara
Fonte: Ilustração de Nani Vasques realizada especialmente para a
peça radiofônica As rubianadas.
86
PEDRO – Como?
BÁRBARA – Atingir... Meu coração de forma satisfatória.
PEDRO – (ENVERGONHADO) Oh, sim, sim, entendi... Perdão pela
indiscrição.
BÁRBARA – Se bem que eu seria injusta se dissesse que ele não
procura me agradar. Desde a nossa juventude que ele satisfaz todas
as minhas vontades. Levara tantos tombos ao subir em árvores pra
pegar frutas por minha causa; (COM PRAZER) apanhara tanto dos
meninos que eu pedia pra ele agredir! Ao fim, sempre consigo dele o
que quero, seja com uma palavra afetuosa ou com um doce olhar. E, a
cada pedido realizado, eu engordo um pouco.
PEDRO – Imagino que seu marido, então, seja extremamente devotado à
senhora.
BÁRBARA – Houve uma época na qual, temeroso pela minha saúde e por
meu peso, ele se fez duro. Ameaçou até abandonar-me ao primeiro
pedido que recebesse! Mergulhei, então, em uma tristeza sem fim.
Todos diziam que minha angústia contagiava o ambiente. Acabei por
definhar, e meu ventre a crescer assustadoramente – foi aí que
constatamos a gravidez. (COM TERNURA) Quando meu marido me viu
magra, pálida, ficou com medo de que aquilo fosse prenúncio de grave
moléstia. Temia que nosso filho morresse em meu ventre! Suplicou-me,
então, para que eu lhe pedisse algo. (TOMA A POSIÇÃO DE NARRADORA)
Pedi o oceano. Chuááá, chuááá, chuááá...
NESTE MOMENTO, FUNDEM-SE O SOM DA VOZ DE BÁRBARA E O SOM REAL DO
MAR. PEDRO AFOGA-SE EM SUAS LEMBRANÇAS POR DALILA.
PEDRO – (AFOGANDO-SE) Da... Dalila! Daliiila! Daaa... Dalilaaa.
CORTE BRUSCO.
BÁRBARA – Dalila? (PAUSA) Quem é Dalila?
PEDRO – Dalila... Dalila é minha namorada.
BÁRBARA – Oh! E ela estará te esperando na estação, não é?
PEDRO – Não! Ela não sabe que vou a seu encontro. Não vejo a hora de
beijá-la, abraçá-la! Não vejo a hora de olhar para seus olhos e
dizer: "vim de surpresa para ficarmos noivos". Seus olhos... Azuis
como o céu, azuis como a... Azuis como o mar!
BÁRBARA – Um amor da juventude... Estes mares costumam ser
excessivamente tormentosos e padecer de terríveis ressacas.
PEDRO – (SÉRIO, COMO A MUDAR DE ASSUNTO) A senhora conseguiu o mar?
BÁRBARA – (PINGOS D'ÁGUA) Segismundo trouxe-me uma pequena garrafa
contendo água do oceano. O senhor tem razão... (COM FASCÍNIO) A água
do mar é azul como o céu, é cristalina! Passei a dormir com a
garrafinha entre os braços – o menino não era nem nascido ainda...
87
Sempre, ao acordar, eu provava um pouco da água. Mas o líquido pouco
durou... Depois, legitimamente mãe, pedi a meu marido um ba-o-bá,
plantado no terreno ao lado do nosso. Acredita que, primeiramente,
Segismundo me veio com um galho da árvore? Cheguei até a fazer troça
de toda a situação...
BÁRBARA (PASSADO) – (A VOCIFERAR) Idiota!!! Não lhe pedi um galho!
SEGISMUNDO (IMITADO POR BÁRBARA) – Ma, ma, mas... Bárbara, o baobá é
demasiado frondoso, é muito grande!
BÁRBARA – Acredita que meu marido se assustou com meu tom de voz!?
Segismundo é muito tolo, até hoje não sabe diferenciar um chiste de
algo mais sério... Como o dono do imóvel se recusou a vender a
árvore separadamente, tivemos que adquirir toda a propriedade por um
preço exorbitante, acredita?
PEDRO – Mas você o retirou da terra? Por que não deixou o baobá
fincado no chão de origem?
BÁRBARA – Por que não deixa sua namorada a vagar pelo mundo em paz?
(TOQUE SINISTRO) Por vezes, necessitamos que certos seres se curvem
a nossas vontades. Eu só queria... Eu só queria colocar meus pés
naquele tronco. Chegar ao topo do baobá, sentir a maciez de suas
folhas... Coisa que não conseguiria com a árvore em pé.
PEDRO – (ENGRAÇADINHO) Até porque ela não ficaria em pé se a senhora
a escalasse, não é?
BÁRBARA – (IGNORANDO-O) Fechado o negócio, contratamos o serviço de
alguns homens que, munidos de pás, picaretas e um guindaste,
arrancaram o baobá do solo e o estenderam no chão. (MUDANÇA DE TOM)
Como era rijo aquele tronco; todo aquele tronco à minha mercê...
Senti-me uma normalista quando lá desenhei um coraçãozinho com o meu
nome e o nome de Segismundo... (BARULHO DE VENTO) Só que as folhas
murcharam, o colorido foi desaparecendo... Secou. Ficou feio. Não
servia mais pra nada. Nada mais me servia... (CESSA O VENTO) E o
fedelho, mesmo minúsculo, sempre a espernear, a torrar minha
paciência com seu choro, suas gritarias...
PEDRO – Mas por que pedidos tão grandiosos?
BÁRBARA – Ora, eu necessito de algo que me complete! O senhor...
Como é seu nome?
PEDRO – O meu? É Pedro.
BÁRBARA – ...o senhor Pedro há de convir que não é qualquer coisa
que se equipara a uma mulher de minha envergadura, não é? (TOMA A
FUNÇÃO DE NARRADORA) Já estava me sentindo vazia, fraca quando
encontrei novamente a garrafinha... A garrafinha da água do mar!
Mesmo vazia, ela me encheu de vontade... E uma lâmpada acendeu no
meu estômago!
APITO DE UM NAVIO.
88
BÁRBARA (PASSADO) – Seria tão feliz se possuísse um navio.
SEGISMUNDO (IMITADO POR BÁRBARA) – Ma, mas... Bárbara, meu bem,
ficaremos pobres, não teremos como comprar alimentos. O garoto
morrerá de fome!
BÁRBARA – Com doçura, persuadi Segismundo.
BÁRBARA (PASSADO) – (A VOCIFERAR) Não importa o garoto!!! Teremos um
navio, que é a coisa mais bonita do mundo.
BÁRBARA – Lá foi Segismundo novamente para o litoral. (BARULHO DO
MAR) O quão amável ele é quando quer satisfazer as minhas
vontades... Dentre os transatlânticos ancorados no porto, (OUTRO
APITO DE NAVIO) escolheu o maior! Mandou que o desmontassem e o
transportassem à nossa cidade. Ah, quando, na estação, chegou um
trem carregado somente com as partes do navio, meus olhos se
encheram de lágrimas! (RISADA DA CRIANÇA) Até um gracejo fiz para
meu pequeno, que acompanhara o pai na empreitada! Quando o barco
ficou pronto... Oh, eu não desci mais a terra! Passava os dias e as
noites no convés; sentia-me plena ao desfilar pela nau.
PEDRO – E por que desceu a terra e pegou este trem?
BÁRBARA – Um dia, comecei a olhar fixamente para o céu.
Repentinamente, Segismundo se prostrou diante de mim desesperado,
pedindo que eu parasse de admirar as estrelas. Tentou até puxar-me
pelo braço, mas não contava com minha força. Quem acabou arrastando-
o fui eu. Foi então que eu pedi...
PEDRO – (CURIOSO) O quê?
BÁRBARA – A lua.
PEDRO – A lua!?
BÁRBARA – Sim, a lua. (TOQUE CELESTIAL) E eu a terei hoje! Hoje, eu
me completarei com a lua.
PEDRO – Seu marido? Seu marido...
BÁRBARA - Ele me prometeu que nos encontraríamos em Juparassu. Ele
com o meu presente e eu com todo o amor que possa caber dentro de
mim.
PEDRO – Haja amor, minha senhora. Haja amor...
SEQUÊNCIA VI – INQUIETAS SOMBRAS
APITAR DO TREM.
PEDRO (NARRADOR) – (RONCO DE BÁRBARA) Sentia-me exausto. Todas
aquelas histórias na minha cabeça... Eu não conseguia dormir!
Bárbara somente virara de lado e caíra nos braços de Morfeu. Um sono
profundo, que chegava a emudecer o barulho do trem. Eu não mais via
89
a face daquela mulher, e sim um amontoado de manchas a compor uma
tela de proporções gigantescas. Não sabia mais quem era Bárbara,
quem era Galateu... Por alguns instantes, tudo parecia fruto de uma
febre, uma febre inebriante que me fazia clamar mais e mais por
Dalila, mergulhar nos retalhos de memória que deformavam meu
inconsciente. Só conseguia mergulhar em Dalila...
UMA MULHER – (EM TOM DE LITURGIA) Uh, uuuh...
90
Figura 5 – Azul como a, azul como a...
Fonte: Ilustração de Nani Vasques realizada especialmente para a
peça radiofônica As rubianadas.
91
TERCEIRA RUBIANADA: EM JUPARASSU
SEQUÊNCIA VII – (LEMBRANÇAS DE) DALILA MOÇA
APITAR DO TREM.
PEDRO (NARRADOR) – Juparassu! Juparassu surgia ante os meus olhos,
no alto da serra. Mais quinze minutos e estaria na plataforma da
estação, aguardando condução para casa, onde mal jogaria a bagagem e
iria ao encontro de Dalila. Da Dalila da Casa Azul! Da Dalila que,
em menina, tinha o rosto sardento e era uma garota implicante,
rusguenta. Não a tolerava e os nossos pais, por questões de divisas
de terras, se odiavam. Mas, certo verão, por ocasião da morte de meu
pai, os moradores da Casa Azul, assim como os ingleses das duas
casas de campo restantes, foram levar-me suas condolências, e tive
dupla surpresa: (INCIDE MÚSICA ROMÂNTICA) Dalila perdera as sardas,
e seus pais, ao contrário do que pensava, eram ótimas pessoas!
Trocamos visitas e, uma noite... Beijei Dalila. (AQUI A MÚSICA
ATINGE O ÁPICE) Beijei Dalila. Nunca Juparassu apareceu tão linda e
nunca as suas serras foram tão azuis. (MUDANÇA DE ESTAÇÃO; COMO SE A
VOZ DE PEDRO SAÍSSE DE UM APARELHO DE RÁDIO) Azul como aaa, azul
como a; azul como a, azul como a, azul como a...
TOQUES DE PIANO QUE CONDUZEM A UM METAL PESADO.
PEDRO – (LOUCO, DESVAIRADO) Eu beijei... Dalila. Eu beijei Dalila.
Eu beijei Dalila! Eu beijei Dalila! Eu beijei Dalila. Eu beijei
Dalilaaa!
CORTE SECO DA MÚSICA.
PEDRO (NARRADOR) – E quanto a Bárbara... Bárbara não mais roncava.
PEDRO – Bárbara? Barbarata? Barbarella? Barbazul?
PEDRO (NARRADOR) – Bárbara havia desaparecido.
SEQUÊNCIA VIII – A VOLTA À TERRA MÃE
FORTE APITAR DO TREM. AMBIÊNCIA DE UMA ESTAÇÃO: PASSAGEIROS A
DESCEREM, FUNCIONÁRIOS A DESCARREGAREM OS VAGÕES.
AGENTE DA ESTAÇÃO – O senhor é o engenheiro encarregado de estudar a
reforma da linha, não? Por que não avisou com antecedência que
chegaria? Arrumaríamos o nosso melhor quarto.
PEDRO – Ora, meu amigo, não sou engenheiro e nem pretendo ver obra
alguma.
AGENTE DA ESTAÇÃO – Então o que veio fazer aqui?
PEDRO – Tenciono passar as férias em minha casa de campo.
92
AGENTE DA ESTAÇÃO – Hum. Não sei como poderá, pois... Acontece que
as casas de campo estão em... Ruínas.
ACORDE DE SUSPENSE.
PEDRO – (DESCONCERTADO) Quem me alugaria um cavalo para dar umas
voltas pelas vizinhanças?
AGENTE DA ESTAÇÃO – Mas não há cavalos por aqui. Ao menos não em um
raio de cem quilômetros. E para que cavalos se nada há de
interessante para ver nos arredores?
PEDRO – (RETOMA FÔLEGO POUCO A POUCO) É que, é que há muitos anos
não venho por estas paragens. Queria só rever alguns lugares por
onde passei a um... A um par de anos atrás!
AGENTE DA ESTAÇÃO – O senhor me assustou! Pensei que conversava com
um paranoico. Quer que eu lhe acompanhe neste passeio para melhor
direcioná-lo?
PEDRO – Não, obrigado. Deixa que eu vou sozinho.
UM RUÍDO ENSURDECEDOR DE VENTO.
SEQUÊNCIA IX – TOUS LES GARÇONS...
PEDRO (NARRADOR) – Não caminhara mais de vinte minutos quando,
próximo ao local de minha casa, fui tomado por uma música... Uma
música saída diretamente da minha juventude. A primeira música que
eu dancei com Dalila!
OUVEM-SE SONS A SIMBOLIZAR UM ANTIGO RÁDIO A SER SINTONIZADO E
INICIA-SE A MÚSICA TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES, NA VOZ DE
FRANÇOISE HARDY. EM DETERMINADO TRECHO DA MÚSICA, OUVE-SE DALILA A
SUSSURAR, SÁDICA, ALGUNS VERSOS DE OUTRA FORMA:
FRANÇOISE HARDY – [...]
oui mais moi
je vais seule
par les rues
l'âme en peine
oui mais moi
je vais seule
car personne ne m'aime
mes jours comme mes nuits
sont en tous points pareils
sans joies et pleins d'ennuis
personne ne murmure
"je t'aime" à mon oreille
DALILA –
oui mais vous
il va seul
par les rues
l'âme en peine
oui mais vous
il va seul
car personne ne vous aime
personne ne murmure
"je t'aime" à son oreille
AO TÉRMINO DESTE TRECHO, VOLTAM AS INTERFERÊNCIAS NO RÁDIO.
COLONO – Porcaria de rádio!
93
SEQUÊNCIA X – A CASA AZUL
TOQUE RÁPIDO A CAUSAR SUSPENSE.
PEDRO – (ESTARRECIDO) Meu Deus!
PEDRO (NARRADOR) – De repente, estaquei aturdido: da minha casa
restavam somente as paredes arruinadas, a metade do telhado caído, o
mato invadindo tudo... Eu me recusava a acreditar em tudo aquilo!
COLONO – Deixe Deus fora disso, meu filho.
PEDRO – O senhor mora aqui há muito tempo?
COLONO – Desde menino.
PEDRO – Certamente conheceu esta casa antes dela se desintegrar. O
que houve? Foi um tremor de terra?
COLONO – Nada disso aconteceu. Sei da história toda, contada por meu
pai. (TOMA A POSIÇÃO DE NARRADOR) Há muito tempo, toda a região foi
assolada por uma epidemia de febre amarela que perdurou por muitos
anos. A partir daí, ninguém mais se interessou pelo lugar. Os
moradores das casas de campo sobreviventes nunca mais voltaram, nem
conseguiram vender as propriedades. E o rapaz que vivia nessa casa
aí foi levado para a capital com a saúde precááária... Nem sei se
ele resistiu à doença.
PEDRO – E... Dalila?
BARULHO DO VENTO.
PEDRO (NARRADOR) – (UM SUPLÍCIO DE ESPERANÇA) Dalila!
COLONO – Não conheço ninguém com esse nome não, senhor!
PEDRO – A moça... A moça da Casa Azul.
COLONO – Ah! A noiva do moço desta casa? (PAUSA) Morreu.
INTERFERÊNCIAS NA TRANSMISSÃO.
PEDRO (NARRADOR) – (TOM FANTASMAGÓRICO; VENTOS QUE, GRADATIVAMENTE,
FICAM MAIS FORTES) Fiquei siderado ao ver ruir a tênue esperança que
ainda alimentava. Sem me despedir, retomei a caminhada. Os passos
trôpegos, divisando confusamente a vegetação na orla da estreita
picada... Ao subir até uma pequena colina, avistei as ruínas da Casa
Azul. Avistei-as sem assombro, sem emoção. Cessara toda a minha
capacidade emocional. Senti meus passos se tornaram firmes novamente
e me muni de coragem: de dentro daqueles escombros eu iria retirar a
minha amada.
RAJADAS DE VENTO.
94
EPÍLOGO: PESADELO SONORO (CÂNTICO DOS CÂNTICOS)
É NO CONTATO DE PEDRO COM O PASSADO QUE GALATEU RECUPERA SEUS
PODERES EM DEFINITIVO E BÁRBARA TEM REALIZADA SUA GRANDE FANTASIA
ENGORDATIVA: A LUA. E A CHEGADA DO SATÉLITE EM JUPARASSU CAUSARÁ
TORMENTAS TERRÍVEIS NOS MARES; CONCRETIZA-SE A CHEGADA DO MAR ÀS
MINAS GERAIS!
GALATEU – A lua. A luuuuuua. A luuuuuuuuua...
BÁRBARA – Eu quero a lua!
GALATEU – É ela! É ela, é ela...
PASTOR – E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das
águas veio sobre a terra.
INTERRUPÇÃO NA TRANSMISSÃO.
JORNALISTA – Senhores ouvintes, nosso boletim meteorológico informa:
qualquer modificação nas estações da lua pode causar algum tipo de
tormenta nas marés. Bruscas modificações são capazes de provocar
ondas gigantes.
VOLTAMOS À NOSSA PROGRAMAÇÃO NORMAL.
BÁRBARA – Eu quero... O oceano. Chuááá. Chuááá. Chuááá...
O MAR TOMA TODO O ESPECTRO ACÚSTICO.
GALATEU – O mar... O mar nas Minas Gerais!
PEDRO – Dalila!!! Eu vi Dalila! Eu vi Dalila!!!
BÁRBARA – Dalila veio com o mar!
PASTOR – E aconteceu que, passados sete dias, vieram sobre a terra
as águas do dilúvio.
PEDRO – (AFOGANDO-SE) Dalila! Eu vou... Eu vou ao teu encontro! Da,
Daaa, Daliiila! Daaa... Dalilaaa.
PASTOR – E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. E cresceram
as águas e levantaram a arca, (INTERFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO) e ela
se elevou sobre a terra.
PEDRO – (COMO SE ESTIVESSE PRESO A UM APARELHO DE RÁDIO) Da minha
casa restavam somente as paredes arruinadas, a metade do telhado
caído, o mato invadindo tudo... Eu me recusava a acreditar em tudo
aquilo!
BÁRBARA – Chuááá... Chuááá... Chuááá... Chuááá...
98
AS RUBIANADAS
(versão original gravada em CD)
Três instâncias oníricas. A busca de um homem por sua misteriosa
amada; as reminiscências de um ex-mágico a clamar pela volta de seus
poderes; a ânsia e voracidade de uma mulher que engorda
desenfreadamente a cada pedido que lhe atendem. Trajetórias que se
cruzam no trem a caminho de Juparassu, local onde tudo pode
acontecer... Rubianeie conosco através dos sons!
FICHA TÉCNICA
intérpretes
AMARILIS IRANI
(Espectadora)
DANILO GOMES NEIVA
(Chefe)
GABRIEL FRANCO RODRIGUES
(Espectador,
Agente da Estação)
JOSÉ PAULO BRISOLLA DE OLIVEIRA
(Pedro,
Jornalista)
JULIA VERSOZA
(Uma Colega de Trabalho)
LUCAS MARTINS NÉIA
(Colega de Trabalho, Pastor)
MARCO ANTONIO PAIXÃO
(Galateu, Carteiro,
Dono do Restaurante,
Locutor do Circo,
Garoto-Propaganda do Circo,
Policial, Colono)
SOFIA PELLEGRINI
(Bárbara, Uma Mulher,
Moça de Sorteios, Segismundo)
TAINARA CAROLINE
(Dalila)
texto, direção e produção
LUCAS MARTINS NÉIA
técnicos de som
BRUNO CARDIAL
JOÃO LOPES
edição
BRUNO CARDIAL
LUCAS MARTINS NÉIA
peça radiofônica gravada nos estúdios do
LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO
e da RÁDIO UEL FM
realização
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
(Depto. de Música e Teatro e Depto. de Comunicação – CECA)
NOVEMBRO DE 2013