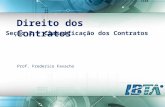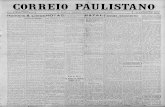PARA A INSTRUÇÃO DOS HOMENS ENCARREGADOS DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS NO FINAL DO ANTIGO REGIME...
Transcript of PARA A INSTRUÇÃO DOS HOMENS ENCARREGADOS DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS NO FINAL DO ANTIGO REGIME...
PARA A I�STRUÇÃO DOS HOME�S E�CARREGADOS DOS
�EGÓCIOS PÚBLICOS �O FI�AL DO A�TIGO REGIME
PORTUGUÊS*
[publicado em FONSECA, Thaïs Nivia de Lima e (Org.). As reformas pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2011, p. 205-226.]
Antonio Cesar de Almeida Santos
Departamento de História/UFPR [email protected]
Alguns pesquisadores defendem que a Reforma da Universidade de Coimbra,
ocorrida em 1772, não provocou maiores alterações no panorama educacional português,
apontando, inclusive, para a pequena expressão dos cursos de Medicina, Filosofia e
Matemática.1 Contudo, se dirigirmos nosso olhar para a administração dos negócios públicos,
nas décadas finais do século XVIII, poderemos obter uma melhor apreciação do
desenvolvimento e da utilização de novos conhecimentos científicos em Portugal, os quais
foram introduzidos na esteira da reforma educacional ali ocorrida. A atuação do
desembargador José António de Sá (1756-1819) é exemplar nesse sentido. Nascido em
Bragança, esse funcionário régio doutorou-se em Leis, em 1782, na Universidade de Coimbra
reformada.
[...] foi depois juiz de fora e corregedor da Comarca de Moncorvo, juiz conservador da Real Companhia do Novo Estabelecimento para Criação e Torcidos das Sedas, mandada organizar por Alvará de 6 de janeiro de 1802 e Director da Real Fábrica das Sedas e Águas Livres. Era sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, desde 1781, quando frequentava o último ano do curso de Leis. Na sua extensa obra bibliográfica, sobressaem os textos de cariz económico e jurídico, as memórias que escreveu para a Academia das Ciências e diversos textos sobre legislação económica, nomeadamente sobre baldios, testamentos e sericultura.2 Como vemos, trata-se de um intelectual prolífico, e suas obras o mostram bastante
atento ao sentido utilitário dos conhecimentos, especialmente no que se referia ao
desenvolvimento da agricultura e das manufaturas: José António de Sá propunha que os
políticos fomentassem “a indústria, as artes e o comércio”, e que buscassem o bem público
com a instituição de leis embasadas nos conhecimentos obtidos por intermédio das ciências
naturais.3
Para a discussão que proponho realizar, e na qual retomarei as idéias “do corregedor
da Comarca do Moncorvo”, organizei esse texto do seguinte modo: em sua primeira parte,
apresento algumas considerações acerca da administração portuguesa setecentista, apontando
para algumas das mudanças que ocorreram no reinado de D. José I (1750-1777) em relação ao
de seu pai, D. João V (1706-1750); no item seguinte, enfoco a presença de um saber
estatístico nos procedimentos administrativos que caracterizaram o período em que Sebastião
José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, esteve à frente da Secretaria de Estado dos
Negócios do Reino (1756-1777). Na conclusão, procuro apontar para a efetiva relação que
pode ser estabelecida entre as reformas educacionais do período e as práticas administrativas
adotadas na segunda metade do século XVIII e nas décadas iniciais do século XIX, em
Portugal. Nesse sentido, as propostas do mencionado José Antonio de Sá servem para mostrar
a utilização dos conhecimentos de Filosofia Natural adquiridos em Coimbra na administração
dos negócios públicos.
Alguns aspectos da política portuguesa no contexto das Luzes
A administração do homem de Estado consiste na direção geral que mantém a ordem da sociedade política. É necessário que essa direção esteja em conformidade com a natureza e as máximas de governo que se procura fundar ou que se quer restabelecer: deve ser relativa ao físico do país, ao seu temperamento, qualidade do terreno, grandeza, produções e riqueza; ao gênio, costumes, artes, comércio e indústria de seus habitantes.4
José Pedro Ferraz Gramoza, ao descrever os anos finais do reinado de D. João V,
menciona que, desde 1742, após o rei adoecer, os negócios do governo ficaram nas mãos de
frei Gaspar da Encarnação, que dividia seus encargos com o cardeal da Mota (João da Mota e
Silva) e o irmão deste, Pedro da Mota e Silva, Secretário de Estado do Reino, também
adoentado. Juntava-se a esse grupo, o cardeal inquisidor-mor D. Nuno da Cunha e Ataíde.
Para Gramoza, nenhum destes homens “tinha talentos, nem fundos científicos, para bem
governar”, acrescentando que eles, “com as suas poucas Luzes e ambição, deterioravam e
enfraqueciam mais o mesmo governo”. Alexandre de Gusmão, secretário pessoal de D. João
V, ao contrário, era visto como um homem sábio que, se fosse ouvido, poderia “conservar o
crédito da monarquia”. Contudo, frei Gaspar e seus acólitos “desprezavam todas as luminosas
ideias que ele [Gusmão] propunha, fazendo somente válidas as suas grosseiras decisões”.5
A opinião de Gramoza não difere muito do juízo que, em geral, se faz do final do
reinado de D. João V, na medida em que se considera que “a morte do cardeal da Mota e a
doença do monarca parecem ter paralisado, em larga medida, a administração central e
reacendido a luta de facções”.6 Esta situação parece decorrer do próprio modelo
administrativo adotado por este soberano que, não obstante a existência do Conselho de
Estado, do Conselho Ultramarino, da Casa da Suplicação, do Desembargo do Paço, da Mesa
de Consciência e Ordens e, após 1736, de três secretarias de estado, preferia aconselhar-se
com algumas pessoas de sua confiança.7 Assim, não obstante alguns nobres serem
reconhecidos como membros do Conselho de Estado, ele não se reunia e, no seu lugar,
“faziam-se juntas para as quais eram chamados alguns conselheiros” e o secretário do
Conselho, Diogo de Mendonça Corte Real. Este, por sua atuação, recebia o título de secretário
de estado, e era ele quem recebia as petições a serem encaminhadas ao rei e que “atendia os
estrangeiros que chegavam à corte”.8
Os secretários de estado D. João V, nomeados quando da criação das secretarias,
eram homens experimentados nos negócios políticos: Pedro da Mota e Silva, Secretário de
Estado dos Negócios do Reino, prestara serviços em Roma; António Guedes Pereira,
Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, trabalhara em
Madri; e Marco António de Azevedo Coutinho, Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra, fora o enviado português junto à corte inglesa. O que chama a
atenção, todavia, é que homens como frei Gaspar da Encarnação, confessor do rei e preceptor
de seus três filhos bastardos, acabavam tendo mais influência junto ao soberano que os
secretários de estado (exceção feita a Pedro da Mota e Silva). O cardeal da Mota, até a data de
sua morte (1747), teve grande ascendência sobre a rainha D. Maria Ana de Áustria: durante a
regência, a princesa D. Mariana Vitória, esposa de D. José, informava que era aquele cardeal
quem governava “inteiramente, ela [a Rainha] mais não faz do que assinar o que ele lhe
leva”.9
Além disso, com as mortes de Antonio Guedes Pereira (1747) e de Marco António de
Azevedo Coutinho (maio de 1750), ficou Pedro da Mota e Silva, secretário do Reino,
respondendo pelas três secretarias, enquanto eram buscados substitutos para os dois
primeiros. “A sucessão para as secretarias vagas originou uma luta política”, na medida em
que o confessor do rei, Frei Gaspar da Encarnação, queria preservar sua influência na corte,
defendendo a nomeação de pessoas ligadas a ele.10 Esta situação durou pouco tempo, pois no
último dia de julho de 1750, falecia D. João V e, em pouco mais de 30 dias, D. José I era
aclamado rei de Portugal. Entretanto, ainda no mês de agosto, foram nomeados os dois novos
secretários de estado: para a pasta da Marinha e Domínios Ultramarinos, Diogo de Mendonça
Corte Real (filho do antigo secretário do Conselho de Estado no reinado de D. João V); para a
pasta dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo. Pedro da
Mota e Silva permaneceu no mesmo cargo até sua morte (1755); porém, adoentado, quase não
teve atuação desde meados da década de 1740.
Os secretários de estado, como salienta Nuno Monteiro, eram geralmente
“diplomatas experientes”11, e os homens que serviram a D. José I também haviam prestado
serviços à Coroa portuguesa como embaixadores ou enviados extraordinários junto a outras
cortes européias. Sebastião José de Carvalho e Melo, que veio a substituir Pedro da Mota e
Silva no cargo de Secretário de Estado do Reino, estivera em Londres e Viena; Diogo de
Mendonça Corte Real (filho) cumprira missões diplomáticas na Inglaterra e Holanda. Em
1756, Diogo de Mendonça foi destituído do cargo, assumindo Tomé Joaquim da Costa Corte
Real, até 1760, quando Francisco Xavier de Mendonça Furtado passou a ocupar a secretaria
de Estado da Marinha e do Ultramar até 1769, ano de sua morte, sendo substituído por
Martinho de Melo e Castro12, que cumprira um período de trabalho junto à corte londrina. Em
substituição a Carvalho e Melo na pasta dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, assumiu D.
Luiz da Cunha Manuel, que fora enviado extraordinário junto à corte inglesa.
Não obstante encontrarmos similaridades quanto à experiência dos secretários de
estado de ambos os reinados, é possível apontar uma importante diferença: a participação dos
secretários de estado de D. José I no Conselho de Estado, instância consultiva que foi
abandonada por D. João V, que, conforme indicamos, preferia valer-se do aconselhamento
particular daqueles em quem depositava confiança, independentemente de suas posições na
estrutura de governo.13 Embora não tenhamos informações precisas sobre como foi o seu
funcionamento, sabemos que D. José I reativou o Conselho de Estado, do qual faziam parte,
além dos secretários de estado, alguns fidalgos e outros notáveis, todos concordes com a sua
política, como Frei Manuel do Cenáculo e o desembargador José de Seabra da Silva.
O quero salientar aqui, é que D. José I traz uma aparente mudança no modo de
governar, ainda que não abandone a prática do aconselhamento particular com pessoas de sua
confiança. Ou seja, apesar da presença de práticas administrativas apoiadas em uma
especialização do saber governativo,14 pode-se dizer que a administração do reinado de D.
José I também ficou marcada por uma “política de gabinete”, em que fica patente a influência
de Sebastião José de Carvalho e Melo, a quem, conforme palavras de António Pereira de
Figueiredo, o soberano havia franqueado “a entrada não só do Gabinete, mas também do seu
régio coração”.15
Em relação às mudanças das práticas administrativas, Nuno Monteiro sugere que,
para a segunda metade do século XVIII, é possível encontrar
[...] duas notórias “novidades”: o facto de se multiplicarem as “providências” e de estas partirem de um “ministério”, isto é, de um governo. Mas há ainda outra novidade essencial: legisla-se para modificar o que existe. O bom governo já não se rege apenas pelo objectivo de “fazer justiça”, de pôr as coisas no seu lugar. Procura-se agora mudar as coisas, em conformidade com o que se fazia nas “cortes da Europa”.16 Essas mudanças, aliás, já haviam sido prenunciadas pela princesa D. Mariana Vitória
a sua mãe, Isabel Farnésio, rainha da Espanha, em cartas escritas entre janeiro e junho de
1743. Nelas, a princesa afirmava que “o meu príncipe não tem esse carácter de se deixar
governar por primeiro ministro”, criticando a proeminência do cardeal da Mota, inquisidor-
mor, e de D. Tomás de Almeida, cônego da Patriarcal e arcebispo de Lisboa ocidental, junto a
D. João V. A princesa também entendia que se o rei viesse a morrer “isto mudará de aspecto,
pois que ele [D. José] não gosta da patriarcal17; e sabe discorrer sobre todas as matérias com
uma grande justeza”.18
Ainda em relação às mudanças ocorridas no reinado de D. José I, após a expulsão
dos jesuítas, os confessores da família real passaram a ser religiosos conformados às doutrinas
políticas adotadas e às reformas que vinham sendo implantadas, como mostra o caso do frei
Manuel do Cenáculo, confessor do príncipe D. José, filho de D. Maria e segundo na linha
sucessória ao trono (além de outras atribuições, frei Manuel do Cenáculo foi presidente da
Real Mesa Censória e participou da Junta de Providência Literária, responsável pela
elaboração dos novos Estatutos da Universidade de Coimbra). Também acerca da influência
dos religiosos na vida da corte, Maria Beatriz Nizza da Silva, informa que D. Luís da Cunha,
embaixador de Portugal junto à corte francesa, havia aconselhado D. José, antes de sua subida
ao trono, que ele “não desse o título de confessor a ninguém, pois tal função apenas servia
para este eclesiástico se imiscuir nos negócios do reino, usando o confessionário como
instrumento de influência sobre o rei”.19
As palavras de D. Mariana Vitória acima apontam para uma outra consideração
necessária, qual seja, o grau de efetiva participação de D. José I no processo de tomada de
decisões políticas durante o seu reinado. Muito já escreveu sobre essa polêmica; entretanto, é
interessante acompanhar o juízo que o próprio marquês de Pombal fez de seu rei. Já afastado
da corte e sendo processado, ele redigiu um texto no qual comentava sobre o preparo
intelectual de D. José, descrito como um arguto observador da política portuguesa e um
profundo conhecedor da História, da Geografia e dos princípios da Geometria e da Aritmética
Política. Segundo Pombal, além do domínio destes conhecimentos, D. José, durante o período
da doença de seu pai, preocupou-se em conhecer os meios que deveria utilizar para
governar.20
Contudo, apesar destas indicações sobre as qualidades que o príncipe detinha para
reinar, é notório que ele “preferiu a ópera e a caça ao governo”21. Contudo, Nuno Monteiro
afirma que é possível aceitar “que boa parte das opções políticas que em seu nome se fizeram,
se não partiram de sua iniciativa, pelo menos contaram claramente com a sua conivência”.22
Assim, a imagem de um rei que preferia a caça e a música aos negócios de estado e que
reinou à “sombra” do marquês de Pombal, precisa ser melhor compreendida.
Em trabalho sobre o iluminismo europeu, Ulrich Im Hof destaca a situação
excepcional de quatro “grandes monarcas”: Frederico II, da Prússia, Maria Tereza e José II,
da Áustria, e Catarina II, da Rússia. Enquanto a maior parte dos soberanos, preferia viver
“longe dos assuntos governativos e dos povos que eram supostos governar”, aqueles
soberanos, ao contrário, “quiseram governar de uma forma eficiente e não através de seus
ministros”.23 Ou seja, a opção de D. José I não se constituiu em “uma singularidade única”
para aquele período. Aliás, conforme Nuno Monteiro, o rei português foi “um homem de seu
tempo”, que manifestou uma “sensibilidade pós-barroca”, vivendo avesso a exibições
públicas e preferindo uma vida mais retirada.24
Não obstante esse entendimento acerca da capacidade governativa desse soberano,
mostrei em outros trabalhos que se deve a Sebastião José de Carvalho e Melo a introdução,
naquele reinado, de algumas práticas administrativas derivadas da Aritmética Política
inglesa.25 Ou seja, não é difícil notar que as ações de governo do reinado de D. José I, além de
mostrarem a influência de obras e ideias de conhecidos intelectuais portugueses da época,
também estiveram marcadas pelo aprendizado que Carvalho e Melo logrou obter durante seus
anos de serviço na Inglaterra (1738-1744) e na Áustria (1745-1749). Estas temporadas no
estrangeiro, ressalta José Sebastião da Silva Dias, permitiram que ele tivesse “contacto com
livros e opiniões em correlação com o ser e o agir de um estadista moderno, a que em
Portugal só dificilmente teria acesso”.26
Além da experiência política, Carvalho e Melo adquiriu, durante a estadia no estrangeiro, uma boa preparação teórica. [...] Enquanto viveu em Londres e Viena constituiu uma vasta biblioteca da qual constavam, a par de numerosos livros de cultura geral, muitos dedicados à aprendizagem da ciência política, [...] das doutrinas do direito natural e das gentes, [...] e ainda várias obras de teor econômico, incluindo finanças, assuntos coloniais, alfândegas, artes, manufaturas e agricultura.27 Mesmo que os títulos das obras de sua “vasta biblioteca”, por si sós, não possam
atestar a sua “preparação teórica”, pois é preciso apreender a leitura que Carvalho e Melo fez
de tais obras, sua correspondência de serviço é bastante reveladora, na medida em que ela
apresenta referências e citações de muitos dos autores presentes em sua biblioteca londrina.28
Aliás, como assinalado por diversos estudiosos, sua correspondência diplomática contém
“numerosas ‘pistas’ e aspectos programáticos, cujo estudo poderá contribuir para o
esclarecimento de certas medidas governativas do futuro Pombal”.29
Não obstante o destaque aqui conferido à figura pública do marquês de Pombal,
procurei apresentar alguns elementos que considero de grande importância para a
compreensão do contexto político e administrativo do reinado de D. José I, em geral lembrado
por episódios de “inaudita violência”, como a execução dos Távoras em janeiro de 1759.30 O
propósito, enfim, foi o de oferecer elementos que permitam compreender os fundamentos da
“prática política”31 que marcou esse reinado, a qual demonstra a ocorrência de uma mudança
na arte de governar em relação ao reinado anterior. Muito dessa mudança decorre, como
indicado acima, da adoção de alguns princípios propostos pela Aritmética Política inglesa, de
modo que esse termo e o seu significado assumem uma posição destacada para a compreensão
do que se esperava de um homem encarregado dos negócios de estado durante o reinado de D.
José I.
Para melhor governar os negócios públicos32
Que um país não pode crescer em riqueza e poder senão fazendo os homens particulares seus deveres ao Público, e mediante um íntegro curso de honestidade e ciência naqueles em cujos se repôs a administração dos negócios.33
Considerando, portanto, que a Aritmética Política34 é um termo-chave para se
compreender a prática política do reinado de D. José I e o tipo de conhecimento que se
esperava que os homens de seu governo dominassem, interessa, primeiramente, definir o seu
significado. Suas formulações iniciais apareceram em meados do século XVII, na Inglaterra, a
partir de trabalhos de John Graunt, William Petty, Charles Davenant e Gregory King, que
buscavam exprimir uma dada realidade em termos numéricos, “a fim de fornecer
instrumentos matemáticos quantitativos aos governantes”.35 Para Charles Davenant, que foi
membro do Parlamento inglês e exerceu cargos administrativos, tratava-se de uma “arte de
raciocinar por números as matérias que se relacionam com o Governo”,36 entendimento que
foi, mais tarde, partilhado por Dennis Diderot, em artigo redigido para a Enciclopédia,37 que
entendia a Aritmética Política como um conhecimento responsável em fornecer informações
“úteis à arte de governar os povos”.38 Em termos práticos, a aritmética política inglesa
propunha que as decisões de governo fossem tomadas “por meio da análise quantitativa, de
estatísticas da população, propriedade das terras, negócios, clima, e quejandos”.39 Enfim, esse
termo “viria a ter larga utilização no vocabulário dos políticos e administradores do século
XVIII”, estando inserido no contexto de desenvolvimento de “novas técnicas de governo”
caracterizadas por uma larga utilização de dados estatísticos.40 Aliás, conforme Olivier
Martin,
O triunfo do “espírito de cálculo” durante o século das Luzes teve como resultado reforçar o interesse que os sábios e eruditos traziam à abordagem científica quantitativa inglesa, e o progresso das ciências matemáticas (cálculo das probabilidades) permitiu aos aritméticos políticos alcançar respostas a seus questionamentos.41 Trata-se de um saber fortemente embasado na observação da realidade e, para melhor
situá-lo no pensamento europeu moderno, são interessantes algumas considerações de Carlo
Ginzburg, para quem, desde o século XVII, ocorreram diversas “tentativas de aplicação do
método matemático” para o estudo de fenômenos humanos.
Não é surpreendente que a primeira e a mais bem sucedida [dessas tentativas] se referisse à aritmética política e tomasse como seus objetos aquilo de mais predeterminado – biologicamente falando – das atividades humanas: nascimento, procriação e morte. Este foco drasticamente exclusivo permitia a investigação rigorosa e, ao mesmo tempo, satisfazia os objetivos militares ou fiscais dos estados absolutistas, cujos interesses, dados os limites de suas operações, eram integralmente numéricos.42 Contudo, ao lado desse conhecimento matemático “das atividades humanas”, a
administração dos Estados absolutistas também requeria um conhecimento mais exato dos
territórios sob seu domínio, a ser obtido por intermédio de cartas geográficas e descrições.
Nesse aspecto, Jacques Revel menciona os “inquéritos”, apontados como derivados de um
saber de tradição alemã que toma o espaço como “objeto de análise” e que se caracterizam
como uma “estatística descritiva”, procurando abarcar todos os aspectos do local observado,
quais sejam:
[...] as condições naturais – um solo, um clima, uma vegetação, um regime de águas – como as condições sociais – o número de homens, o seu ´temperamento`, as suas atividades, o seu comportamento e as suas tradições. É a combinação variável destes diferentes fatores que define as particularidades do lugar.43 Assim, conforme Olivier Martin, essa “Statistik alemã tinha por ambição principal o
conhecimento sintético de toda sociedade humana”, e seus resultados, “de natureza literária”,
eram monografias mais descritivas do que explicativas. A partir da segunda metade do século
XVIII, relatos monográficos deste tipo passaram a ser produzidos por funcionários
encarregados da “administração territorial que viu então aumentar seu empreendimento e,
portanto, seu poder de coleta de informações”.44 Para Jacques Revel, esse saber de tradição
alemã contrapunha-se ao modelo proposto pela “aritmética política à maneira inglesa”, na
medida em que esta buscava inscrever, em séries temporais, “o número de homens, a
produção das minas e das manufaturas, os recursos agrícolas, o comércio, as subsistências, os
preços ou os salários”,45 possibilitando observar as mudanças que ocorriam diacronicamente.
Ambos os modelos estatísticos são encontrados no interior da administração
portuguesa, desde a segunda metade do século XVIII.46 De certo modo, pode-se considerar
que à aritmética política inglesa, que aparece primeiro, são agregados os estudos
monográficos de matriz alemã. Desde 1765, pelo menos, tem-se notícias da confecção de
“mapas de população” em territórios ultramarinos portugueses; eram levantamentos
estatísticos anuais do número de homens e mulheres e dos nascimentos e mortes ocorridos em
uma dada região. Essa prática que, inicialmente, parece ter ocorrido na América,47
disseminou-se por todos os territórios do império luso, ainda que já tivessem ocorrido
recenseamentos em Portugal.48 O tipo descritivo, por sua vez, assemelha-se às memórias
redigidas por funcionários régios e por sócios da Academia Real das Ciências de Lisboa,
muitos dos quais foram alunos da Universidade de Coimbra reformada, e enviados a
diferentes partes do império.
Sem dúvida, durante o reinado de D. José I, as populações coloniais receberam
grande atenção das autoridades metropolitanas. Ao acompanharmos a correspondência
trocada entre autoridades metropolitanas e coloniais, verifica-se que se procurava levar em
boa conta a seguinte proposição, expressa em carta enviada, em 1751, por Sebastião José de
Carvalho e Melo ao governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade: “que a força e a
riqueza de todos os países consiste principalmente no número e multiplicação da gente que o
habita”.49 Este entendimento, segundo Carvalho e Melo, devia-se a uma estrita observância
dos princípios da Aritmética Política, com a qual – sabemos – ele havia tomado contato na
Inglaterra.
Em Portugal, a referência aos princípios da Aritmética Política permanece ainda após
o reinado de D. José I, como mostram alguns textos que Domingos Vandelli produziu para a
Academia Real das Ciências.50 Domingos Vandelli foi um ativo participante da ação
reformista levada a efeito naquele período, e defendia que “todos os ramos da economia civil,
para que esta seja útil ao reino, devem ser regulados por princípios deduzidos de uma boa
aritmética política; assim não se devem seguir sistemas, sem antes examiná-los e confrontá-
los com as actuais circunstâncias da nação”.51 Além de expor suas ideias em várias
“memórias” publicadas pela Academia, Domingos Vandelli exerceu notável influência sobre
um grande número de alunos da Universidade de Coimbra reformada, onde foi professor de
História Natural e Química, na Faculdade de Filosofia, por cerca de 20 anos (1772-1791).
Nesse contexto pós-pombalino, encontramos o já mencionado desembargador José
António de Sá que, no início do século XIX, propôs a realização de um cadastro, ou “mappa
arithmetico-politico do reino”. Este cadastro seria formado a partir de dados que permitissem
avaliar a situação e indicar os melhoramentos necessários para a prosperidade de Portugal
“relativamente à agricultura, ao comércio, à povoação, às artes, à polícia, aos
estabelecimentos de bem comum, à justiça e fazenda e a outros objetos de administração
pública e econômica”. Em outras palavras, “o dito prospecto servirá ao Príncipe Nosso
Senhor para ver num golpe de vista o estado atual do seu reino, e aquele melhoramento de que
é suscetível em benefício dos seus fiéis vassalos”.52
Segundo Francisco Antonio Lourenço Vaz, o “corregedor da Comarca do
Moncorvo” pretendia que o tal “mappa arithmetico-politico” fornecesse um “conhecimento
rigoroso, não só da população, mas também do território e da administração pública”, ficando
caracterizado como um “levantamento em que sobressai não só o reformismo econômico
jurídico, mas também as preocupações com a saúde dos cidadãos”.53 Registre-se que as
“instruções” de José António de Sá estavam embasadas em leituras de “autores franceses” e
nos “ensinamentos de Domingos Vandelli”, figura de grande importância na sua formação
intelectual.
Ao lado dos “autores franceses”, a Aritmética Política deve ser considerada como um
dos fundamentos das ideias desse funcionário régio. Aliás, esse termo fez parte do
vocabulário de diversos homens públicos e intelectuais portugueses da segunda metade do
século XVIII,54 ainda que William Petty não seja, todavia, a única referência.55 José António
de Sá aliava os dados numéricos, organizados conforme a aritmética política inglesa, ao
modelo da Statistik alemã, considerando que as informações precisavam ser contextualizadas,
“pois que os nascimentos, casamentos e mortes diferem consideravelmente entre uns e outros
países”.56 Assim, e considerando que o momento apresentava “todos os ingredientes para
reformar a sociedade”, José António de Sá defendia que “o país necessitava era de ser viajado
por viajantes filósofos”,57 como, aliás, já houvera proposto seu mestre Domingos Vandelli,
em 1779: o professor de Coimbra redigiu, nesse ano, uma espécie de manual para os
estudantes que, saídos da universidade, receberam a missão de percorrer os domínios
portugueses, inclusive o reino, para os descreverem.58
Antes de suas “Instrucções geraes para se formar o cadastro, ou o mappa arithmetico-
politico do reino”, José António de Sá havia publicado, em 1783, o “Compêndio de
observações que formam o plano da viagem política e filosófica, que se deve fazer dentro da
pátria”, dedicado ao príncipe regente D. José, “que conhece claramente que a teoria por si só
não basta”.59 Conforme argumenta Francisco Vaz, diversos intelectuais portugueses, a
maioria deles vinculada à Academia das Ciências, estava consciente que a busca pela melhor
utilização dos recursos naturais e pela modernização do país exigia “um conhecimento
rigoroso, não só da população, mas também do território e administração pública”.60 Nesse
sentido, desde a década de 1780, as viagens filosóficas haviam se tornado um instrumento da
política administrativa portuguesa e, para José António de Sá, a prática dessas viagens
encontrava justificativa na medida em que suas utilidades para o estado “são presentemente
conhecidas a todo o bom político”.61
“Das ciências depende a felicidade das monarquias”
O primeiro passo de uma nação, para aproveitar suas vantangens, é conhecer perfeitamente as terras em que habita, o que em si encerram, o que de si produzem, o de que são capazes. A história natural é a única ciência que tais luzes pode dar; e sem um conhecimento sólido nesta parte, tudo se ficará devendo aos acasos, que raras vezes bastam para fazer a fortuna e a riqueza de um povo.62
Acima, procurei indicar que o reinado de D. José I pode ser reconhecido pela
presença e aplicação de novos conhecimentos científicos produzidos no contexto da Ilustração
portuguesa, ou melhor, de processos destinados à produção desses conhecimentos e de sua
utilização pelos homens encarregados da administração do Estado português.63 Nesse sentido,
considero que as reformas do ensino, em Portugal, foram conduzidas em uma perspectiva,
diga-se, utilitária, anunciada já no Alvará de 28 de junho de 1759, que reformou o ensino das
“Letras Humanas”, consideradas “a base de todas as Ciências”. Nesse alvará é afirmado que
“da cultura das ciências depende a felicidade das monarquias” e que “foram sempre as
mesmas ciências o objeto mais digno do cuidado dos senhores Reis meus predecessores, que
com as suas reais providências estabeleceram e animaram os estudos públicos”; a partir desse
argumento, D. José I esperava que seus vassalos pudessem fazer “os maiores progressos em
benefício da Igreja e da Pátria”.64
A promulgação desse Alvará, como se sabe, esteve ligada ao episódio da expulsão
dos jesuítas do reino e territórios ultramarinos portugueses. Certamente, não é possível
estabelecer uma relação de causalidade entre o episódio da expulsão e o viés assumido pelas
reformas do ensino em Portugal, no reinado de D. José I.65 Entretanto, o que não se pode
desconhecer é que a prática política desse reinado – a qual estendeu-se a diversos domínios da
sociedade portuguesa; o educacional, inclusive – foi marcada por ideias derivadas da
aritmética política inglesa que, em linhas gerais, estava orientada por um ponto fundamental
para o pensamento iluminista: o abandono de noções pré-concebidas para dar lugar aos
conhecimentos produzidos a partir de observações sistemáticas e experimentais. Em relação a
este aspecto, é essencial recuperar algumas palavras de Sebastião José de Carvalho e Melo,
registradas em carta enviada ao então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Guerra, Marco Antonio de Azevedo Coutinho, datada de 19 de fevereiro de 1742. Nesta carta,
ao apontar a importância das ideias de William Petty para a renovação das políticas de
comércio e de navegação inglesas, Carvalho e Melo reconhece a necessidade de se estabelecer
novas práticas políticas, pois antes,“todos os projetos do comércio e todos os discursos que
nele formavam os políticos, vertiam sobre especulações dos livros antigos ou sobre
metafísicas cujos assertos, depois de bem provados com argumentos da razão, vinham
finalmente a mostrar-se falsos, pelos fatos ou pela experiência que deles se seguia”.66
Nesse sentido, considero que o espírito reformista do reinado de D. José I levou a
sério a afirmação de Domingos Vandelli, que “não se devem seguir sistemas, sem antes
examiná-los, e confrontá-los com as actuais circunstâncias da nação”67, e que o soberano, ao
instituir a Junta de Providência Literária, que seria a responsável pela elaboração dos novos
Estatutos da Universidade de Coimbra, exprimiu seu desejo de que “sejam as escolas públicas
reedificadas sobre fundamentos tão sólidos que as artes e as ciências possam nelas
resplandecer com as luzes mais claras em comum benefício”. Um resultado que seria
alcançado depois que se examinassem, com “toda a exatidão”, a situação em que se
encontrava o ensino e que fossem propostos “os cursos científicos e os métodos” a serem
estabelecidos para os estudos superiores em Portugal.68
Os membros da Junta de Providência Literária, da qual faziam parte o marquês de
Pombal, o cardeal da Cunha, Frei Manuel do Cenáculo, José de Seabra da Silva, o reitor
Francisco de Lemos de Faria, entre outros, regulamentaram, “até o mais ínfimo pormenor,
todos os aspectos da vida Universitária, desde os currícula aos métodos pedagógicos”, além
de darem primazia à Filosofia Natural. Na ótica de Pedro Calafate, “a opção dos reformadores
era claramente a de dotar o país de uma elite de homens de ciência capazes de fecundarem as
Artes ou Técnicas com o dinamismo do seu saber, acompanhando o movimento das principais
Universidades e Academias da Europa”.69 Aliás, como aponta Ronald Raminelli,
No século XVIII, quando a ciência se tornou instrumento necessário para medir terras, produzir mapas, aperfeiçoar as lavouras e minas, [...] o Estado, por conseguinte, assumiu a tarefa de instruir profissionais que teriam a nobre tarefa de reunir informações, cientificamente capazes de promover reformas, delimitar os limites do império e introduzir técnicas responsáveis por modernizar as atividades produtivas. A Universidade de Coimbra era, portanto, o centro promotor da modernização da agricultura, manufatura e comércio.70 O desembargador José António de Sá foi um dos muitos “homens de ciência” que,
embora seguissem os cursos de direito (Cânones ou Leis), prestaram serviços ao estado
português e utilizaram, nas suas ações e produção intelectual, os conhecimentos adquiridos
nas aulas de História Natural, Filosofia, Química e Física, da Universidade de Coimbra
reformada. Em larga medida, as ações e as propostas de José António de Sá mostram que as
reformas educacionais, longe de apenas expressarem um conteúdo retórico, foram essenciais
para a mudança das práticas dos homens encarregados dos negócios públicos no final do
antigo regime português.
�OTAS DE REFERÊ�CIAS * Este texto decorre de pesquisas financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação / Brasil, e pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) do Ministério da Ciência e Tecnologia / Brasil. 1 Conforme Virgínia Valadares, a reforma da Universidade de Coimbra foi muito mais “retórica” do que efetiva: “na prática, a Reforma Pombalina manteve uma vasta associação ao instituído, ao criticado, ao atrasado e ao pernicioso”. VALADARES, Virgínia Maria Trindade. Elites mineiras setecentistas : conjugação de dois mundos. Lisboa: Colibri, 2004. p. 136. 2 VAZ, Francisco António Lourenço. O grande livro da Natureza nos textos e viagens filosóficas de José António de Sá. In: NUNES, Maria de Fátima; CUNHA, Norberto (Coords.). Imagens da ciência em Portugal (séculos XVIII-XX). Casal de Cambra (PT): Caleidoscópio, 2005. p. 4. 3 SÁ, José António de. Dissertações philosophico-politicas sobre o trato das sedas na Comarca do Moncorvo (1787), p. 32, apud VAZ, Francisco António Lourenço. Instrução e economia : as ideias económicas no discurso da ilustração portuguesa (1746-1820). Lisboa: Colibri, 2002. p. 406. 4 A administração de Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, Marquês de Pombal, Secretário de estado, e primeiro ministro de sua Majestade Fidelíssima o Senhor D. José I, rei de Portugal, traduzida do francês, por Luís Inocêncio de Pontes Ataíde e Azevedo. Lisboa: Typographia Lusitana, 1841. Tomo I, s/p. O texto original, escrito entre 1786 e 1787, é atribuído a Pierre Maria Felicité Desoteux, enviado da França em Portugal. 5 GRAMOZA, José Pedro Ferraz. Sucessos de Portugal : memórias históricas, políticas e civis em que se descrevem os mais importantes sucessos ocorridos em Portugal desde 1742 até o ano de 1804, extraída fielmente do original do autor por Francisco Maria dos Santos. Lisboa: Typographia do Diário da Manhã, 1882. p. 7. 6 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A consolidação da dinastia de Bragança e o apogeu do Portugal barroco. In: TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal. Bauru: EDUSC, 2000, p. 127-148. p. 137. 7 Uma descrição geral sobre os “mecanismos de decisão” e o funcionamento da administração dos negócios de estado, durante o reinado de D. João V, pode ser vista em SILVA, Maria Beatriz Nizza da. D. João V. Lisboa: Círculo de Leitores, 2009. Especialmente p. 175-237. 8 Ver SILVA, D. João V, p. 182 e 180. 9 Apud MONTEIRO, Nuno Gonçalo. D. José na sombra de Pombal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006. p. 40. 10 Ver SILVA, D. João V, p. 237. 11 MONTEIRO, D. José..., p. 55. 12 Para uma informação sobre Martinho de Melo e Castro, remetemos ao primeiro capítulo de VALADARES, Virgínia Maria Trindade. A sombra do poder : Martinho de Melo e Castro e a administração da capitania de Minas Gerais (1770-1795). São Paulo: Hucitec, 2006. p. 23-58. 13 Para alguns comentários sobre o processo decisório durante o reinado de D. João V, ver SILVA, D. João V, p. 80-85. 14 Para um desenvolvimento desta questão, ver SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Luzes em Portugal : do terremoto à inauguração da estátua equestre do Reformador. Topoi, v. 12, n. 22, p. 75-95, jan.-jun. 2011. p. 86-88. < Disponível em http://www.revistatopoi.org/numero_atual/numero_atual.htm >
15 FIGUEIREDO, António Pereira de. Parallelo de Augusto Cesar e de Dom José o magnanimo Rei de Portugal. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1775. fl. 34. 16 MONTEIRO, D. José..., p. 168. 17 A elevação da capela real à dignidade de igreja Patriarcal foi um projeto pessoal de D. João V. “Em Dezembro de 1716, depois da recepção da bula papal, seria nomeado patriarca e arcebispo de Lisboa Ocidental o antigo secretário de Estado, ao tempo bispo do Porto, D. Tomás de Almeida (1670-1754) [...]. A elevação do patriarca e dos cónegos da Patriarcal iria precipitar a sociedade de corte joanina numa impressionante sucessão de conflitos de precedências [...]. Não é possível descreve-los a todos, embora se deva destacar desde já que boa parte decorria do facto de o patriarca não ser ainda cardeal, o que só se verificaria muito mais tarde (1737)”. MONTEIRO, D. José..., p. 34-35. 18 Apud MONTEIRO, D. José..., p. 41. 19 SILVA, D. João V, p. 81. 20 BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL (BNP). Códice 13286. Trata-se de um texto referente à ação que foi movida contra o marquês de Pombal por Francisco Galhardo de Mendanha, inserido no 4º volume de uma coleção intitulada Obras do Ilmo. e Exmo. Sebastião José de Carvalho e Mello, Marquez de Pombal, do Conselho de S. Mag., o Snr. Rey D. Joze 1º, seu Ministro e Secretário de Estado dos Negocios do Reyno. 5 volumes, s/data. (Ver BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. Códices 13283 a 13287). 21 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal : paradoxo do iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 4.
22 MONTEIRO, D. José..., p. 228.
23 HOF, Ulrich Im. A Europa no século das Luzes. Lisboa: Editorial Presença, 1995. p. 21 e 23.
24 MONTEIRO, D. José..., p. 211 e p. 225-226.
25 Ver SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Aritmética Política e a administração do estado português na segunda metade do século XVIII. In: DORÉ, Andréa; SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (Orgs.). Temas setecentistas : governos e populações no Império português. Curitiba: UFPR-SCHLA; Fundação Araucária, 2009, p. 143-152; SANTOS, Antonio Cesar de Almeida . Alguns princípios da política e da administração do reinado de D. José I (1750-1777). Textos da 26ª Reunião da SBPH. Porto Alegre: SBPH, 2006, p. 01-15 < Disponível em http://sbph.org/reuniao/26/trabalhos/Antonio%20Cesar%20Almeida%20Santos.pdf >; SANTOS, Antonio Cesar de Almeida . Observações sobre a teoria e a prática política pombalina: em busca da harmonia e consonância da sociedade civil. Anais da XXIV Reunião da SBPH. Curitiba: SBPH, 2005, p. 129-136. 26 DIAS, José Sebastião da Silva. Pombalismo e projecto político. Lisboa: Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1984. p. 113-118. 27 FONSECA, Teresa. Absolutismo e municipalismo, Évora 1750-1820. Lisboa: Colibri, 2002. p. 567. 28 Nesta perspectiva, é exemplar o trabalho de José Sebastião da Silva Dias que, embasado nesse tipo de documentação, discutiu os diversos autores presentes em textos produzidos por Sebastião José de Carvalho e Melo no período em que este esteve em Londres e Viena. Ver DIAS, José Sebastião da Silva. Pombalismo e teoria política. Lisboa: Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1982. 29 BARRETO, José. Introdução. In: MELO, José Sebastião de Carvalho e. Escritos económicos de Londres (1741-1742). Lisboa: B.N.L., 1986. p. lvii. 30 Além da execução dos marqueses de Távora e do duque de Aveiro, acusados de atentarem contra a vida do rei, outros episódios de violência são lembrados: o processo de expulsão dos jesuítas, a prisão e execução do padre Gabriel Malagrida, a repressão à “rebelião” dos comerciantes do Porto, o incêndio da Trafaria e as medidas de exceção adotadas após o terremoto de 1755. Como assinalou Joaquim Veríssimo Serrão, “a cena atroz do suplício de Belém” repercutiu em toda a Europa e, para os portugueses, “tudo se processou com inaudita violência, como se a justiça régia buscasse extrair uma lição para quantos ousassem atentar contra a vida do soberano”. SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O marquês de Pombal : o homem, o diplomata e o estadista. 2.ed. Lisboa: s/ed., 1987. p. 86.
31 A “prática política” não deve ser entendida como “um produto mecânico da teoria política. Supõe-na, com formulação explícita ou em estado meramente implícito; reflecte-a, com mais ou menos entorses, com mais ou menos desvios; mas obriga-a também a correcções centrais ou periféricas e ajusta-a ao particular das conjunturas ou dos momentos. [...] A prática política pode ser apenas a resultante assistémica de soluções não programadas para problemas conjunturais imprevistos. Mas pode ser também, no todo ou em parte, a sequela, bem ou mal ajustada, de um projecto político definido”. DIAS, Pombalismo e projecto político, p. 1-2. 32 Esta seção do texto é uma versão modificada da comunicação apresentada na VII Jornada Setecentista, em Curitiba, no ano de 2007. Ver SANTOS, Aritmética Política e a administração..., op. cit. 33 BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. COLECÇÃO POMBALINA. Códice 168, fl. 71. Observação sobre os métodos prováveis de fazer a uma nação lucroza na balança do comércio (1700). 34 A Aritmética Política com a qual trabalhamos foi a formulada por William Petty (1623-1687), no ensaio Political Arithmetick, publicado em 1690, após a sua morte. Esse “economista” inglês do século XVII, médico por formação, acabou exercendo o cargo de avaliador de terras na Irlanda, na época de Cromwell. Nessa ocasião, demonstrou grande familiaridade com cálculos matemáticos e, a partir dessa sua experiência, passou a produzir textos de natureza econômica. Existe uma tradução em português do texto acima referido; ver PETTY, William. Aritmética Política ou um Discurso sobre a extensão e o valor das terras, gentes, edifícios, lavouras etc. In: Petty & Quesnay. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 135-199. 35 MARTIN, Olivier. Da estatística política à sociologia estatística; desenvolvimento e transformações da análise estatística da sociedade (séculos XVII-XIX). Revista Brasileira de História, v. 21, n. 41, p. 13-34, 2001. p. 19. < Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbh/v21n41/a02v2141.pdf > 36 DAVENANT, Charles. De l´usage de l´Arithmétique politique dans le commerce et les finances (1698). In: Le négotiant anglois. Dresde: [s/n], 1753, v. 1. p. clix. Charles Davenant (1656-1714) é considerado um fiel seguidor das ideias de William Petty. 37 Denis Diderot, em seu artigo sobre a aritmética política para a Enciclopédia, destacou que foi William Petty o primeiro a publicar textos utilizando a expressão, e que esse saber seria um importante instrumento na produção de informações úteis para a ação dos governantes. Consultar < http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.did.ari >. 38 Ver MARTIN, Da estatística política..., op. cit., p. 19. 39 BAUMER, Franklin. O pensamento europeu moderno, séculos XVII e XVIII. Lisboa: Edições 70, 1990. p. 134. 40 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina : política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1982. p. 71. 41 Apud MARTIN, Da estatística política..., op. cit., p. 19. 42 GINZBURG, Carlo. Chaves do mistério: Morelli, Freud e Sherlock Holmes. in ECO, Humberto; SEBEOK, Thomas A. (Orgs.). O signo de três. São Paulo: Perspectiva, 1991. p. 112-115. 43 REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Lisboa: Difel, s/d. p. 121 e 126. 44 MARTIN, Da estatística política..., op. cit., p. 20. 45 REVEL, A invenção da sociedade, p. 125. 46 Sobre a produção de informações estatísticas e descrições de territórios, no âmbito da administração ultramarina portuguesa, ver SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. O “mecanismo político” pombalino e o povoamento da América portuguesa na segunda metade do século XVIII. Revista de História Regional, v. 15, n. 1, p. 78-107, 2010. < Disponível em http://dx.doi.org/doi:10.5212/Rev.Hist.Reg.v.15i1.078107 > 47 Ver MARCÍLIO, Maria Luíza. Crescimento demográfico e evolução agrária paulista (1700-1836). São Paulo: Hucitec, 2000. p. 27-43. 48 Ver FERRO, João Pedro. A população portuguesa no final do Antigo Regime (1750-1815). Lisboa: Editorial Presença, 1995. p. 13-29. 49 Carta de Sebastião José de Carvalho e Melo para Gomes Freire de Andrade. Lisboa, 21 de Setembro de 1751. Apud MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Rios Guaporé e Paraguai: primeiras fronteiras definitivas do Brasil. Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 1985. p. 49.
50 Ver SERRÃO, José Vicente (dir.). Domingos Vandelli : aritmética política, economia e finanças. Lisboa: Banco de Portugal, 1994. 51 VANDELLI, Domingos. Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à agricultura sobre as fábricas. In SERRÃO, Domingos Vandelli, p. 143. 52 SÁ, José António de. Instrucções geraes para se formar o cadastro, ou o mappa arithmetico-politico do reino. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1801. p. 3 e 5. 53 VAZ, O grande livro da natureza..., op. cit., p. 13-14. 54 VAZ, Instrução e economia, p. 26. 55 Joaquim José Rodrigues de Brito refere-se explicitamente à Aritmética Política de Arthur Young, publicada em Londres, em 1771, e ao Essai d´Arithmétique Politique de Antoine Dannyère, publicado em Paris, em 1799. Ver BRITO, Joaquim José Rodrigues de. Memórias políticas sobre as verdadeiras bases da grandeza nas nações, e principalmente de Portugal (1803-1805). Lisboa: Banco de Portugal, 1992. p. 9-23. 56 SÁ, Instrucções geraes..., p. 6. 57 VAZ, Instrução e economia, p. 375 e 384. 58 VANDELLI, Domingos. Viagens filosóficas, ou dissertação sobre as importantes regras que o filósofo naturalista nas peregrinações deve principalmente observar (1779). ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE LISBOA. Códice 405 (Série Vermelha). 59 SÁ, José António de. Compêndio de observações que formam o plano da viagem política e filosófica, que se deve fazer dentro da pátria. Lisboa: Oficina de Francisco Borges de Souza, 1783. 60 VAZ, Instrução e economia, p. 388-389. 61 SÁ, Compêndio de observações..., p. 1-8. 62 Discurso do abade Correia da Serra por ocasião da inauguração da Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1789. Apud VAZ, O grande livro da Natureza..., op.cit., p. 3. 63 Este viés de estudo, que considera as ações reformistas como decorrentes de ideias “iluministas”, apóia-se nos trabalhos de VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. Bauru: Edusc, 2003 e de HOF, Ulrich Im. A Europa no século das Luzes. Lisboa: Editorial Presença, 1995. 64 Alvará de 28 de junho de 1759, por que V. Majestade há por bem reparar os Estudos das línguas latina, grega e hebraica e da arte da retórica da ruína a que estavam reduzidos. BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. COLECÇÃO POMBALINA. Códice 456, fls. 145-150. 65 Dentre outros estudos que tomam as reformas educacionais da segunda metade do século XVIII, em Portugal, recomendamos a leitura da tese de Tereza Levy Cardoso, ainda que orientada para um objeto específico – as “aulas régias no Rio de Janeiro” –, e da dissertação de mestrado de Flávio Rey de Carvalho, que propõe relacioná-las às propostas dos enciclopedistas. Ver CARDOSO, Tereza Maria R. F. Levy. As Luzes da educação : fundamentos, raízes históricas e prática das aulas régias no Rio de Janeiro (1759-1834). Bragança Paulista: EDUSF, 2002 e CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A reforma da Universidade de Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008. 66 Apud DIAS, Pombalismo e projecto político, p. 227. 67 VANDELLI, Memória sobre a preferência..., op. cit., p. 143. 68 Carta de lei por que Vossa Majestade ... é servido criar uma Junta de Providência Literária. Apud Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra (1771). Coimbra: Universidade de Coimbra, 1972. 69 CALAFATE, Pedro. Os Estatutos da Universidade de Coimbra : as ciências exactas como paradigma. In Portugal como problema : volume II, séculos XVII e XVIII; da obscuridade profética à evidência geométrica. Lisboa: Público; Fundação Luso-americana, 2006. p. 283. 70 RAMINELLI, Ronald. Viagens ultramarinas : monarcas, vassalos e governo a distância. São Paulo: Alameda, 2008. p. 8.