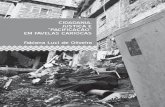OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO: JÜRGEN HABERMAS, ENTRE A TRANSFORMAÇÃO E A CONSERVAÇÃO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO: JÜRGEN HABERMAS, ENTRE A TRANSFORMAÇÃO E A CONSERVAÇÃO
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
RENATO TOLLER BRAY
OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO:
JÜRGEN HABERMAS, ENTRE A TRANSFORMAÇÃO E A CONSERVAÇÃO
São Paulo
2012
2
RENATO TOLLER BRAY
OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO:
JÜRGEN HABERMAS, ENTRE A TRANSFORMAÇÃO E A
CONSERVAÇÃO
Tese apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Direito Político e Econômico Orientador: Prof. Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro
São Paulo
2012
3
B827L Bray, Renato Toller
Os limites da cidadania e do direito : Jürgen Habermas, entre a transformação
e a conservação. / Renato Toller Bray. São Paulo, 2012.
278 f. ; 30 cm
Referências: p. 272-278
Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico)- Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, 2012.
1. Estado. 2. Capitalismo. 3. Direito. 4. Democracia. 5. Marxismo. 6. Razão
Instrumental. I. Título.
CDD 341.271
4
RENATO TOLLER BRAY
OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO: JÜRGEN HABERMAS,
ENTRE A TRANSFORMAÇÃO E A CONSERVAÇÃO
Tese apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Direito Político e Econômico
Aprovado em
BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro Universidade Presbiteriana Mackenzie
Prof. Dr. José Francisco Siqueira Neto Universidade Presbiteriana Mackenzie
Prof. Dr. Everaldo Tadeu Quilici Gonzalez Universidade Metodista de Piracicaba
Prof. Dr. Fernando Augusto Albuquerque Mourão Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Silvio Luiz de Almeida Universidade São Judas Tadeu
5
Aos meus pais pelo apoio e carinho.
Aos que acreditam na transformação social.
À minha avó, “Dinha” (in memoriam)
6
AGRADECIMENTOS
Agradeço aos ilustres professores Dr. Alysson Leandro Mascaro e Dr. Ari
Marcelo Solon, pelos ensinamentos, dicas e reflexões jusfilosóficas.
Agradeço, também, aos colegas da primeira turma do Doutorado em Direito
Político e Econômico, Angélica Carlini, Ricardo Saad, Wilson Gianulo e Ivo Timbó.
Ao ilustre Prof. Dr. José Francisco Siqueira Neto, coordenador do Programa da
Pós-graduação em Direito Político e Econômico desta Universidade.
Ao Prof. Dr. Alexandre Marques Mendes, grande amigo e sociólogo.
À Prof. Drª Edileusa da Silva, grande amiga e conselheira.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação, com os quais tive a
oportunidade de aprender sobre conceitos jurídicos e metodológicos essenciais.
Aos conselhos da “Baby”, minha irmã.
Às hospedagens de meu amigo João Marcelo Galassi.
Ao Prof. Dr. Everaldo T. Q. Gonzalez, pela participação e dicas na banca de
qualificação.
7
RESUMO
O presente trabalho analisou os limites da cidadania e do direito no pensamento de
Jürgen Habermas. Através de uma perspectiva crítica, buscou-se demonstrar que as
propostas teóricas habermasianas encontram-se entre a transformação e a
conservação social. A disposição temática do sumário possui características próprias,
pois ela aborda a sua visão de mundo, linha discursiva, os trajetos, bem como às
críticas lançadas em direção ao seu pensamento. Partindo do horizonte de uma crítica
marxista, transformadora, conclui-se que a proposta habermasiana é reformista, devido
aos limites e contradições. No sistema capitalista não existe espaço para o
entendimento voluntário e pacífico entre os cidadãos do direito iguais e livres. Primeiro,
porque não existe igualdade no atual contexto de sociedade. Segundo, porque não há
espaço para a liberdade num mundo totalmente administrado pela razão instrumental.
Além disso, a temática declinada é atual, pois se discute a opinião de Habermas sobre
a questão da crise econômica internacional, do direito internacional, bem como sobre o
futuro da Europa, no aspecto da integração política.
Palavras-chave: Estado; Capitalismo; Direito; Democracia; Marxismo; Razão Instrumental.
8
ABSTRACT
The present work has analyzed the limits of citizenship and the Science of law at
Jürgen Haberma’s thoughts. Through a critical perspective, it was demonstrate that
habermasian theoretical proposal is between Social transformation and preservation.
The layout of the thematic summary has its own characteristic, once it’s the author’s
world view, discursive line, the trajectory, as well the critical speech into Haberma’s
ideia. It’s starting from a Marxist transforming critic, to concluding that habermasian
proposal is a reforming one, due the limits and contradictions. In capitalist system there
isn’t voluntary and peaceful understanding among equal and free rights. Firstly, because
there isn’t equality in society (nowadays). Secondly, because there isn’t place for liberty
in the world; a word completely governed by instrumental reason. Besides, the current
theme is modern because it approaches the habermasian opinion about the global
economic crisis, as well as Europe future on the political integration sense.
KEY-WORDS: State; Capitalist System; Rights; Democracy; Marxism; Instrumental
Reason
9
RIASSUNTO
Questo lavoro ha analizzato i limiti della cittadinanza e del diritto nel pensiero di Jürgen
Habermas. Con una prospettiva critica ha provato dimostrare che le proposte teoriche di
Jürgen Habermas si trovano fra la trasformazione e la conservazione sociale. La
disposizione tematica del sommario ha delle caratteristiche particolari, giacché tratta la
visione del mondo, la linea discursiva e gli itinerari del suddetto autore, così come le
critiche indirizzati al suo pensiero. Partendo dell'orizzonte di una critica di
trasformazione marxista, si può concludere che la proposta di Jürgen Habermas è
riformista, grazie ai limiti e alle contraddizioni. Nel sistema capitalista non c’è spazio per
l'accordo volontario e pacifico tra i cittadini dei diritti uguali e liberi. Prima, perché non c’è
uguaglianza nel contesto corrente della società. Secondo, perché non c’è spazio per la
libertà in un mondo del tutto controllato dalla ragione strumentale. Inoltre, la sudetta
tematica è attuale perché l'opinione di Habermas va discussa sia rispetto la crisi
economica internazionale o il diritto internazionale, sia rispetto il futuro dell'Europa, per
quanto riguarda la sua integrazione politica.
Parole-chiave: stato; capitalismo; diritto; democrazia; marxismo; ragione strumentale.
10
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 12
2 TRÊS FASES CONSTITUTIVAS DO PENSAMENTO DE HABERMAS ............................... 17
2.1 JUVENTUDE: HERDEIRO OU CRÍTICO DO MARXISMO? ............................................ 17
2.1.1 Razão do Iluminismo, razão instrumental e razão comunicativa ....................... 27
2.1.2 A questão do Estado e da dominação tecnocrática: Marcuse, Habermas e Offe .......................................................................................................................................... 34
2.2 MAIORIDADE: A TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA .................................................. 47
2.3 MATURIDADE INTELECTUAL: O INTERESSE PELA FILOSOFIA DO DIREITO ........... 58
3 OS TRAJETOS DO PENSAMENTO HABERMASIANO ....................................................... 68
3.1 MUDANÇA ESTRUTURAL DA ESFERA PÚBLICA (1962) ............................................. 68
3.2 TÉCNICA E CIÊNCIA COMO IDEOLOGIA (1968) .......................................................... 71
3.2.1 Trabalho e Linguagem ........................................................................................... 78
3.3 CONHECIMENTO E INTERESSE (1968) ....................................................................... 84
3.4 CRISE DE LEGITIMAÇÃO DO CAPITALISMO TARDIO (1973) ..................................... 89
3.5 PARA A RECONSTRUÇÃO DO MATERIALISMO HISTÓRICO (1976) .......................... 96
3.6 TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA (1981) ................................................................ 100
3.7 O DISCURSO FILOSÓFICO DA MODERNIDADE (1985) ............................................ 105
3.8 SOBERANIA COMO PROCEDIMENTO (1988) ............................................................ 109
3.9 PASSADO COMO FUTURO (1990) .............................................................................. 115
4 QUESTÕES DE FILOSOFIA DO DIREITO: DIREITO E DEMOCRACIA ............................ 120
4.1 RAZÃO PRÁTICA E RAZÃO COMUNICATIVA ............................................................. 120
4. 2 DIREITO MODERNO E POSITIVIDADE ...................................................................... 123
4.3 WEBER, DURKHEIM E PARSONS .............................................................................. 126
4.4 CIDADANIA, ESTADO DE DIREITO E ESTADO SOCIAL ............................................ 134
4.5 O SISTEMA DOS DIREITOS ........................................................................................ 138
4.6 FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS PELO CAMINHO DA TEORIA DO DISCURSO: FORMA DO DIREITO E PRINCÍPIOS ................................................................................ 147
5 O DIREITO INTERNACIONAL E A POLÍTICA EM HABERMAS ........................................ 153
5.1 A EUROPA NECESSITA DE UMA CONSTITUIÇÃO? .................................................. 153
5.2 A RELAÇÃO ENTRE ESTADO DE DIREITO E DEMOCRACIA .................................... 158
5.3 REPUBLICANISMO, AUTONOMIA PÚBLICA DOS CIDADÃOS E A FORMAÇÃO DA VONTADE POLÍTICA RACIONAL ...................................................................................... 162
5.4 A ANÁLISE DE HABERMAS SOBRE A IDEIA KANTIANA DE PAZ PERPÉTUA: O DIREITO COSMOPOLITA .................................................................................................. 165
5.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS “TRÊS” MODELOS DE DEMOCRACIA ..................... 181
11
6 OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO EM HABERMAS: para aquém da transformação social ............................................................................................................ 192
6.1 A CIDADANIA E O DIREITO DE HABERMAS COMO MUDANÇA LIMITADA DA SOCIEDADE PRESENTE: UMA CRÍTICA ATRAVÉS DO HORIZONTE MARXISTA ......... 192
6.2 O DIREITO COMO MEDIUM: UM INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DA CLASSE BURGUESA? ...................................................................................................................... 199
6.3 O JUSPOSITIVISMO ÉTICO DE HABERMAS CONTRA O JUSPOSITIVISMO ESTRITO DE KELSEN: POR QUE HABERMAS NÃO PODE SER CONSIDERADO UM CONSERVADOR NO QUADRO COMPARATIVO? ............................................................ 208
6.4 OS LIMITES DO CONSENSO NO PENSAMENTO DE HABERMAS ............................ 217
6.5 AS ENERGIAS UTÓPICAS ESTÃO ESGOTADAS? ..................................................... 231
6.6 OS ESTADOS UNIDOS PERDERAM A SUA HEGEMONIA? ....................................... 238
6.7 O ESTADO NACIONAL É INEFICAZ DIANTE DOS IMPACTOS DE UMA CRISE ECONÔMICA? .................................................................................................................... 241
6.8 A VISÃO ANTINEOLIBERAL DE HABERMAS E SEU ATUAL ENTENDIMENTO SOBRE A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL: causas e conseqüências. ............................................. 245
6.9 O FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA .............................................................................. 252
CONCLUSÃO......................................................................................................................... 264
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 272
12
1 INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho é a compreensão do direito político contemporâneo, a
partir de uma leitura crítica e interpretativa do pensamento habermasiano.
A proposta é seguir o horizonte da linha de pesquisa, do respectivo programa de
doutorado – “A cidadania modelando o Estado”.
Numa perspectiva marxista, buscar-se-á analisar os limites da cidadania e do
direito, no pensamento de Jürgen Habermas, que se encontra entre a transformação e
a conservação social.
A abordagem metodológica crítica, aponta que, no sistema capitalista, não existe
ambiente para o entendimento entre cidadãos (pretensamente iguais e livres).
Primeiro, porque não há espaço para a igualdade num mundo capitalista que
produz desigualdade. Segundo, porque num mundo administrado (calculado, técnico e
estratégico), onde a razão instrumental tem preponderado nas relações humanas, o
homem contemporâneo padece de um mal estar, qual seja uma falsa sensação de
liberdade. De modo que não há liberdade para o ser humano nessas condições.
Ademais, a relação entre cidadãos é conflituosa mesmo quando,
democraticamente, concede-se uma abertura para que todos os setores da sociedade
civil participem do jogo político e legislativo.
Na sua razão de ser, o capitalismo é fonte de promoção das contradições e
desigualdades sociais. Ele se apropria da exploração do trabalho humano, para garantir
sua reprodução. Ademais, o próprio capitalismo é alimentado por conta de suas crises.
Numa sociedade capitalista, a razão instrumental pensada na forma jurídica de
um contrato, trata-se de mais um poderoso recurso da classe dominante. Mesmo em
respeito às formas jurídicas, ao procedimento deliberativo e à forma democrática; longe
estamos de obter um entendimento entre trabalhadores e a classe burguesa, porque o
13
capitalismo produz dissensos: o sistema se alimenta das contradições sociais, das
crises econômicas e do fomento à exploração para se manter em estado de
reprodução.
As formas de vidas tornaram-se codificadas juridicamente e a figura do contrato
garante a dominação social. Com efeito, as relações sociais tecidas no mundo
capitalista, são constituídas artificialmente pelo caminho daquela forma jurídica. Logo,
sem este instrumento, calculado e estratégico, as sociedades capitalistas não se
sustentam.
No aspecto do desenvolvimento, o trabalho está dividido em cinco partes, a
seguir:
A primeira parte, aborda as três fases constitutivas do pensamento de
Habermas, pois para se apontar os limites da cidadania e do direito, é preciso conhecer
a visão de mundo daquele que lança “seu olhar” em direção ao mundo social, bem
como a linha discursiva e suas influências. Para tanto, analisou-se a juventude, a
maioridade e maturidade intelectual de Habermas.
Na juventude, Habermas estranha o fato dos mestres da escola de Frankfurt não
trabalharem com os filósofos contemporâneos, bem como, não aderiu ao pessimismo
sobre o conceito de razão. Na maioridade, efetua um “acerto de contas” com os seus
mestres e abandona definitivamente os referenciais teóricos do marxismo, para apostar
na razão comunicativa. Na maturidade, situa o direito como um meio de integração
social cuja função assemelha-se a um ”transformador”. Nesse sentido, o direito não é
visto como razão instrumental mas um veículo importante que transita entre o sistema e
o mundo da vida. Atribui igualmente ao direito o mecanismo de transformação do poder
comunicativo em poder administrativo, contribuindo para o aprimoramento das
instituições democráticas do estado.
A segunda, aponta os trajetos do pensamento habermasiano, isto é, uma
sintética análise sobre as principais obras produzidas entre 1962 e 1990.
14
Na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, Habermas aponta para dois
fenômenos importantes, quais sejam, a privatização do público e a estatização da
esfera privada.
Em Técnica e Ciência como Ideologia, aponta ao lado de outras, a questão sobre
a dominação estratégica e calculista sobre a natureza e o homem através da razão
técnica, servida como ideologia.
No trabalho intitulado Conhecimento e Interesse, baseando-se no pensamento
hegeliano, sustenta que a emancipação frente aos imperativos da natureza processam-
se na medida em que as instituições detentoras do poder coercitivo, são substituídas
por organizações da interação social que prezam por uma comunicação livre, isto é,
sem violência. Ao final sustenta que atrás do conhecimento existem interesses.
Na Crise de Legitimação do Capitalismo Tardio, talvez a melhor obra produzida
na maioridade intelectual sobre a questão do estado capitalista, aponta os princípios de
organização e baseando-se no pensamento weberiano, estabelece a seguinte divisão:
formações sociais primitivas, tradicionais, capitalistas e pós-capitalistas.
Na obra Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, Habermas substitui as
categorias “infraestrutura” e “superestrutura”, por mundo da vida e sistema. Também
estabelece a primazia da linguagem sobre o trabalho.
Em Teoria da Ação Comunicativa, baseado nos estudos weberianos aponta para
a conexão entre o complexo da racionalidade cognitiva-instrumental e a normativa.
Também indica a ação comunicativa como emancipatória, isto é, a última esperança de
resgatar o projeto de modernidade inaugurado pelos iluministas. Ao final, sustenta que
o sistema jurídico aumenta a sua complexidade na medida em que aumenta a
complexidade do sistema econômico e administrativo.
No Discurso Filosófico da Modernidade, aponta a modernidade como um projeto
inacabado, reconstruindo gradativamente as mais importantes correntes discursivas da
modernidade.
15
Na Soberania como Procedimento, Habermas coloca que os procedimentos
democráticos articulados no contexto de uma república democrática radical, podem
oferecer resultados racionais na hipótese em que a formação da opinião entre as
instituições parlamentares continuassem atentas aos resultados de uma formação
informal da opinião como produtos de esferas públicas independentes.
Na obra Passado como Futuro, sustenta que a prática quotidiana regida pelo
entendimento está permeada de idealizações inevitáveis
A terceira parte da tese, consiste num estudo sobre as “categorias jurídicas”,
fundamentadas num discurso emprestado da sociologia, (a partir da leitura
interpretativa da obra “Direito e Democracia”, talvez a mais importante para a filosofia
do direito na linha de um juspositivismo ético). Em Direito e Democracia Habermas
contempla a operação de substituição da razão prática pela razão comunicativa. Oferta
um sistema de direitos, com o objetivo de garantir a todo o cidadão autonomia pública e
privada. Além disso, ressalta para o fato de que o princípio da soberania popular e dos
direitos humanos não são contraditórios entre si, mas são princípios que se
complementam que devem ser levados em conta reciprocamente, não havendo uma
hierarquia entre eles.
A quarta parte, apresenta tanto as questões de direito internacional como os
estudos políticos do filósofo. Habermas faz um estudo a respeito das tradições
republicanas e liberais, para afirmar que as tradições liberais seguem a orientação
filosófica de Locke e Kant e as republicanas de Rousseau. Também, ocupou-se da
tarefa de reconstruí-las na tentativa de apresentar um terceiro modelo de democracia
mais completa: a democracia deliberativa de tipo procedimental. Nesse modelo, o
importante não é o resultado do processo político em si, mas o procedimento racional
de tomada de decisões durante a construção de opiniões, argumentos e vontades.
A quinta parte, aborda uma crítica ao pensamento habermasiano, para
demonstrar que, sua proposta de direito e cidadania, está aquém da transformação
social. Para tanto, discorre-se sobre esta proposta, como mudança limitada da
16
sociedade presente, valendo-se de três autores marxistas como referenciais de um
pensamento crítico: Pachukanis, Bloch e, no Brasil, Mascaro.
Discute-se, ainda, se o direito como medium é, ou não, um instrumento de
dominação da classe dominante.
Em seguida, justifica-se porque Habermas não pode ser considerado um
conservador, estando entre aqueles pensadores que buscam reformas dentro do
próprio estado capitalista.
Questiona-se, também, a ideologia do consenso no interior de uma sociedade
capitalista. Aponta para o fato de que, a proposta de uma teoria do consenso
habermasiana, é de origem burguesa, bem próxima da filosofia kantiana.
A última parte, analisa as recentes ideias de Habermas sobre os impactos da
crise econômica mundial, bem como traz ao recente quadro de discussão os prospectos
e tendências sobre o futuro da Europa (hoje ameaçada em sua integração econômica,
social e política).
17
2 TRÊS FASES CONSTITUTIVAS DO PENSAMENTO DE HABERMAS
2.1 JUVENTUDE: HERDEIRO OU CRÍTICO DO MARXISMO?
Desde jovem, Habermas buscou ter ideias próprias. Queria ser ímpar entre os
frankfurtianos (ARAGÃO, 2002)1
As críticas à filosofia de um Marx “historicizado” e a denúncia lançada contra a
ideologia do neopositivismo2 foram iniciativas com pretensões políticas que antecedem
à sua maioridade intelectual. (ARAGÃO, 2002)
Buscou fundamentos normativos para uma teoria crítica da sociedade com base
em Weber, Piaget e Kohlberg, porque se convenceu de que o marxismo, baseado
numa filosofia da história, tratava-se de uma corrente de pensamento precária (no
sentido de seu esgotamento) para oferecer tais fundamentos3. Nesse momento, já não
dava tanta importância aos trabalhos de Althusser. Esteve entrelaçado com os estudos
de sociologia política. (ARAGÃO, 2002)
Depois da Segunda Guerra, assistiu a um contexto alemão provinciano. O
neokantismo estava em declínio. A Escola Histórica Alemã, a fenomenologia e a
antropologia filosófica estavam “em baixa”. Por outro lado, eram matérias cobradas na
Universidade. (ARAGÃO, 2002)
Apenas o Marx da “reificação” cativava as leituras de Habermas. O Marx da
“revolução” parecia não lhe importar tanto assim. Nos anos 50, nem mesmo a “teoria do
1 Prezava em construir uma teoria com ideias originais. Ele não seguia fielmente os seus mestres: tinha
opiniões próprias. Enquanto seus mestres agarravam-se fortemente ao marxismo, Habermas parecia não dar tanta importância ao pensamento de Marx (não que as leituras de Marx não fossem importantes). Esteve mais próximo de Durkheim, Weber, Heidegger e Gadamer. Em 1961, por exemplo, estimulado por Apel, passou a estudar Peirce, Mead e Dewey. Interessava-lhe, também, o pragmatismo americano. (ARAGÃO, 2002) 2 A ciência e a técnica eram tidas como as principais fontes de promoção do progresso de acordo com
essa ideologia. (ARAGÃO, 2002) 3 A reconstrução dos referenciais teóricos (crítica ao Iluminismo, crítica ao positivismo, marxismo
ocidental, filosofia da história, weberianismo e teoria crítica) e o amadurecimento em torno das leituras de Piaget, Kolhberg, Durkheim, Mead e Parsons só irão tomar corpo em 1981, na fase da maioridade. (ARAGÃO, 2002)
18
capitalismo” era apreciada. Entretanto, refletiu sobre os Grundisse. Questionava o
paradigma de um Marx “historicizado”, isto é, de um marxismo baseado numa filosofia
da história, que “não satisfazia mais como fundamento normativo de uma teoria crítica
da sociedade”. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 42-43)
Em Frankfurt, a partir de 1956, [...] foram adicionados Bloch e Benjamin (...) os livros de Marcuse, e uma discussão [...] sobre o assim chamado Marx filosófico e antropológico. [...] Também aprendi sociologia, nestes anos iniciais em Frankfurt: sobretudo li coisas empíricas sobre comunicação de massas, socialização política. [...] Neste ponto, entrei em contato, pela primeira vez, com Durkheim, Weber e, muito cautelosamente, com Parsons. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 41)
Esteve bem próximo das obras de Hegel, Heidegger, Sartre, Schelling, Löwith e
Lukács. (ARAGÃO, 2002).
Lukács (“História e Consciência de Classe”) também integrava o universo de
suas leituras, pois “exerceu (e exerce) influência inegável sobre os mais importantes
pensadores contemporâneos como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas [...]” (DE
ALMEIDA, 2006, p. 17).
Habermas foi um estudioso de sociologia industrial e de comunicação de massa.
A “Dialética do Esclarecimento”, de Adorno, foi igualmente apreciada. Na ocasião em
que foi assistente de Adorno (durante o período de 1956 a 1959), questionou o
ambiente provinciano alemão e passou a entrar em contato com a psicanálise, o que
lhe ajudou “ter sido libertado da estreiteza provinciana e de um mundo idealista
ingênuo”. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 42)
Na década de 60, trouxe para dentro de seu universo literário a analítica, a
hermenêutica, o pragmatismo e a fenomenologia social. Admirava o plano de Chomsky
de uma “teoria geral da gramática, e pela teoria dos atos de fala de Austin,
sistematizada por Searle”. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 42)
19
Toda essa tarefa de construção de um saber filosófico e sociológico
(estabelecendo contatos com várias correntes de pensamento) o eleva ao status de
homem “culto”.
[...] a cultura, no sentido de “sabedoria”, de “wisdom”, de “sagesse”, não deve ser confundida com “erudição”. Um erudito pode não ser uma pessoa culta. Erudito é quem possui um número de conhecimentos superior ao que possuem as pessoas em geral. Mas o erudito somente será uma pessoa culta se seus conhecimentos estiverem “em ordem”. (TELLES JUNIOR, 2004, p. 20)
Para Aragão (2002, p. 20):
Habermas não respeita nem as fronteiras disciplinares, nem os procedimentos ou métodos particulares aos diferentes campos do saber, nem as posições ideológicas estritas. Sua conduta, desde seus tempos de estudante, foi interessar-se por inúmeras escolas de pensamento e por orientações ideológicas diversas, sem, no entanto, assumir uma postura ortodoxa em relação a qualquer uma; o que, se por um lado, o torna um pensador absolutamente original, independente e crítico, por outro, lhe trai uma chuva de apreciações negativas, muitas delas ditas pela “revolta” com sua falta de “fidelidade” para com as tradições estabelecidas, ou com sua utilização imprópria, isto é, fora dos campos em que foram concebidos, de determinados referenciais teóricos, ou ainda com sua ausência ou imprecisão de um método.
No decorrer da década de 70, na tentativa de buscar uma sólida fundamentação
das ideias sustentadas na obra “Técnica e ciência como ideologia” (1968), visou “mudar
estratégias, e não teses”, buscando substituir “a explicação hermenêutica da
experiência comunicativa pela análise (quase) transcendental das condições de
possibilidade do entendimento por meio de uma teoria peculiar dos significados [...]”.
Essa “teoria peculiar dos significados” é a “pragmática universal”. A teoria da evolução
social, explícita na obra “Para a Reconstrução do Materialismo Histórico” (1976),
também pode ser considerada uma “mudança de estratégia”. (SOUZA, 1997, p. 18-19),
Nos anos 70, também esteve muito próximo de Weber.4
4 As sociólogas Freitag e Aragão também compartilham esse entendimento.
20
O terceiro e último passo é a apropriação da teoria sistêmica, destinada a resgatar, ainda que parcialmente, o aspecto da eficiência institucional capitalista, especialmente o mecanismo de mercado e o aparelho estatal, os quais devem ser preservados para o Habermas maduro. Esse ponto [...] é o responsável pela mudança de atitude quanto à estratégia adequada nas sociedades do capitalismo tardio, relativamente à ação política reformadora. A atitude agressiva [...] é substituída por uma postura defensiva em relação ao Estado e mercado. (SOUZA, 1997, p. 19)
O afastamento do marxismo e a aproximação com a filosofia da linguagem foram
importantes iniciativas para os desenvolvimentos de uma pragmática universal.
(ARAGÃO, 2002)
Adorno, por outro lado, foi uma pessoa importante na vida de Habermas porque
lhe apresentou outras possíveis leituras de Marx. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002)
Para Maia (2008, p. 48)
Tanto a problemática relativa à fundamentação normativa da Teoria crítica, como uma avaliação mais positiva – em comparação com as perspectivas de Adorno [...] do legado da tradição democrática ocidental colocam o trabalho de Habermas numa posição bem diferente da de algumas teses centrais do marxismo ocidental.
Mesmo na qualidade de assistente de Adorno, Marx e Freud eram interpretados
com certa “independência”. Em certos momentos, sentia-se um pouco “estranho” em
relação aos mestres frankfurtianos, porque “Quando cheguei a Frankfurt [...] me
surpreendeu que [...] não prestassem muita atenção à filosofia contemporânea”.
(HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 45)
Posto que, “Em princípio, considerava valer a pena qualquer coisa que tivesse
um elemento cognitivo, estrutural e hermenêutico – qualquer coisa que permitisse abrir
os sujeitos de dentro para fora”: de modo que, a filosofia analítica, foi muito importante
no processo de distanciamento de Habermas em relação à tradição do marxismo.
(HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 45)
21
Além do mais, a “[...] deficiência da Escola de Frankfurt seria o fato de não
atribuir importância às tradições democráticas e ao Estado de Direito, como formas de
propiciar justiça social e igualdade de oportunidades [...]”. (HABERMAS apud ARAGÃO,
2002, p. 47)
[...] torna-se cada vez mais evidente o distanciamento do nosso autor em relação a seu passado teórico, não em termos de temática, mas em termos de esgotamento das potencialidades dos paradigmas de que se utilizava para submeter a nossa época a uma rigorosa análise. (ARAGÃO, 2002, p. 47)
Frisa-se que, “o pensamento mais elaborado da Escola de Frankfurt se relaciona
com o direito de uma maneira indireta – o direito é uma manifestação clara localizada
dentro do grande painel da razão instrumental contemporânea, repressora e injusta”.
(MASCARO, 2010, p. 505)
No universo dos estudos jurídicos, na própria Escola de Frankfurt, convém
mencionar o nome de dois grandes representantes: Neumann e Kirchheimer.
(MASCARO, 2010)
Outros, em vez de discutir questões de ordem jurídica, preferiam dar um enfoque
à função da arte como primordial na busca pela emancipação social, a exemplo de
Adorno e W. Benjamin. (ARAGÃO, 2002)
Concluem, portanto, que devemos abdicar da razão para buscarmos a libertação. Somente a arte ou a religião, as únicas formas de expressão contemporâneas que ainda buscam cultivar os sentimentos humanos e solidários, poderiam abrigar nossas derradeiras esperanças. [...] como membro de outra geração, não se satisfaz com essa interpretação dos frankfurtianos acerca dos paradoxos da modernização capitalista. Procura equacionar a defesa da razão, da evolução cognitiva, moral e expressiva da humanidade, e da capacidade de ação (social) dos sujeitos, isto é, o credo iluminista, com uma crítica da cultura contemporânea, em que se constata a presença de patologias sociais nas três dimensões do sistema social, a saber, a perda de sentido das tradições, no âmbito da cultura; a anomia, na esfera da sociedade; e as psicopatologias e distúrbios de formação de identidade, no nível da personalidade. Para fazer face a essas patologias, substitui a crítica da
22
razão instrumental, de seus mestres, por uma crítica da razão funcionalista. (ARAGÃO, 2002, p. 219-220)
Habermas, ao contrário, investe na razão. Tenta resgatar o projeto de
modernidade, discursando contrariamente aos que defendem uma pós-modernidade,
para sustentar que a libertação social depende da “razão”. (ARAGÃO, 2002)
Entendia que seus mestres não reconheceram a “superioridade” da democracia
burguesa em relação às “instituições legais e políticas tradicionais”, precárias na oferta
de respostas ao “pensamento moral-prático [...] a velha Escola de Frankfurt nunca levou
a democracia burguesa a sério”. (ARAGÃO, 2002, p. 47)
A aproximação do Estado de Direito com a discussão sobre a democracia,
entretanto, será muito mais desenvolvida na década de 90.
Na juventude, concebe o direito como razão instrumental, isto é, como medium:
nesse momento, tratava-o como uma espécie de ferramenta do sistema administrativo
(Estado) para a colonização do mundo da vida: um instrumento que “transforma” as
relações do cotidiano, da Escola e da família “em relações meramente jurídicas”.
(ARAGÃO, 2002, p. 58).
Contudo, na maioridade, passou a encarar o direito não só como um instrumento
de dominação, mas também como um mecanismo de emancipação: a outra face do
direito é “institucional” e não meramente “instrumental”. (ARAGÃO, 2002).
O direito pode servir como um mecanismo “de democratização de espaços
públicos” e também como um modo de “instituir relações mais equitativas”. (ARAGÃO,
2002, p. 58).
Embora não tivesse na juventude, essa visão do direito “como dupla face”,
chegou a enfatizar em 1962 (na Mudança Estrutural da Esfera Pública) a premente
“necessidade de participação, não só política, mas também social, por parte dos
cidadãos”. (ARAGÃO, 2002, p. 59).
23
A consciência da participação popular no debate público era uma “maneira
privilegiada de garantir justiça social e transparência pelo asseguramento da extensão e
gozo dos direitos a um número cada vez maior de grupos sociais”. (ARAGÃO, 2002, p.
59)
Tanto a exploração do capitalismo como a dramaticidade do problema da
alienação são aspectos indicativos de que, as vidas humanas, partícipes do mundo
social, carecem de sentidos. Essa “perda de sentido” nas relações intersubjetivas, no
contexto de ideias de Max Weber, era alvo de ataque entre os frankfurtianos; por isso, a
arte ocupa o papel de resgate dos sentidos. Entretanto,
O que fica como ganho em relação à teoria crítica anterior é precisamente a possibilidade de apreender o mundo moderno para além da razão instrumental percebida como totalitária. É exatamente este pressuposto da teoria crítica anterior, tanto em Weber quanto nos frankfurtianos, que impede de pensar-se em formas pós-tradicionais de solidariedade social. Dentro do ponto de partida da teoria social anterior como um todo, é a solidariedade que passa a ser impossível de fundamentação racional. É apenas a partir da possibilidade de pensar-se a solidariedade social a partir de um interesse comum racionalmente obtido, a presença do interesse geral no particular como diria Horkheimer, que se permite nomear as perdas e o que é destruído na nova modernidade, assim como dar conta da possibilidade mesma da sua crítica. (SOUZA, 1997, p. 20)
Por outro lado, os frankfurtianos da teoria social anterior, além de promoverem
uma ligação entre o marxismo e a psicanálise, fizeram um estudo sobre a razão
contemporânea e a técnica, navegando “contra a maré da filosofia conservadora e
estabelecida de seu tempo”. (MASCARO, 2010, p. 508)
O otimismo do iluminismo reverberou nas propostas emancipatórias de um
positivismo conteano. Ambos acreditam na força do progresso pelo caminho da razão.
Ocorre que essa visão ideológica é produto da mentalidade burguesa da época, que
além de seguir o espírito da tradição iluminista, tem origem remota na filosofia
cartesiana, do “penso, logo existo”.
De modo que a tarefa “salvadora” da razão foi denunciada pelos frankfurtianos
por uma simples questão: a proposta crítica do marxismo demonstra que a lógica do
24
sistema capitalista se apoia tanto na técnica quanto na própria razão. Com efeito, a
“Escola de Frankfurt denuncia o caráter dominador da própria razão e da técnica, esteio
da lógica capitalista” (MASCARO, 2010, p. 508)
O discurso moderno considera a razão a arma de emancipação da humanidade. Muito coadunado com as necessidades do capitalismo, tal discurso investe no conhecimento, no aprimoramento técnico, no desvendamento e domínio da natureza, como forma de superação das antigas crenças místicas, religiosas e irracionais. A razão é a emancipação. Outro não foi o discurso do Iluminismo. O seu movimento era no sentido de contrastar os tempos de trevas da fé e do desconhecimento aos novos tempos das luzes da razão. De um certo modo, esse discurso, que foi instaurado na Idade Moderna, perseguiu grande parte da própria Idade Contemporânea. Ainda que de maneira imprópria, houve os que leram, na dialética de Hegel e Marx, um movimento contínuo da razão superando a irracionalidade. Tal movimento guarda uma proximidade estrutural com a própria lógica do capitalismo. (MASCARO, 2010, p. 508)
Contra a razão instrumental e o “mundo fechado” (“atomístico e fragmentado”) do
positivismo, Adorno e Horkheimer, entre outros intelectuais frankfurtianos, seguem
basicamente essa linha de raciocínio: 1) “não existe irracionalidade no capitalismo”,
nem mesmo no nazismo, porque toda a lógica do sistema capitalista está ancorada na
razão; 2) a racionalidade do burguês é técnica, porque o próprio capitalista “calcula os
seus ganhos e perdas”, investe nas empresas de seguro contra eventuais imprevistos
na economia, investe em ações na bolsa para a garantia de uma lucratividade futura,
busca a reengenharia do setor de produção, busca inovações no campo tecnológico,
etc; 3) a razão crítica não se limita ao mesmo âmbito do mundo parcial, fechado,
fragmentado, que é típico da razão instrumental, em outras palavras, a razão crítica não
se fixa apenas “na compreensão objetiva dos fenômenos”, como uma analise dita
“imparcial”, “neutra”, tradicional, ao contrário, vale-se do princípio da totalidade, “na
medida da compreensão dos fenômenos sociais não como dados brutos isolados, mas
como interação dinâmica, dialética, que se constrói historicamente e na história se
resolve”. (MASCARO, 2010, p. 510)
Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que o sujeito do conhecimento é um sujeito não-universal, historicamente situado,
25
formado através das estruturas da prática social, isto é, em função, ao mesmo tempo, de sua situação no processo social do trabalho e de sua tomada de consciência dos fins que as forças políticas perseguem. Marx, entretanto, segundo a visão de Habermas, não se teria podido perceber das mesmas dificuldades como inerentes às ciências positivas. Foi por essa razão que os defensores de uma teoria crítica quiseram usar os argumentos marxianos contra a filosofia idealista também em relação às ciências, que se julgam totalmente desvinculadas das contingências históricas, e cuja metodologia de produzir conhecimentos seria a única a possibilitar atingir conhecimentos verdadeiros. Os postulados de neutralidade valorativa e objetividade, sobre os quais todo edifício científico se apóia, pretendem negar exatamente a inserção do conhecimento científico na realidade social mais ampla. Habermas assume uma posição semelhante à de seus antecessores frankfurtianos tanto reforçando suas críticas aos postulados do positivismo, na forma de uma crítica ao cientificismo, quanto defendendo a adoção de um pensamento dialético. (ARAGÃO, 2002, p. 72)
Não só o positivismo científico fomenta a fragmentação da realidade social. A
própria “estrutura do capitalismo estimula o surgimento de fatos isolados que impedem
a compreensão da totalidade social. [...] A sociedade capitalista gera ilusões de que
existem ‘fatos isolados’ e ‘setores particulares’ que podem ser explicados por ‘leis
próprias’”. (DE ALMEIDA, 2006, p. 43).
Com a modernidade nasce a ideia de sujeito. O sujeito é o indivíduo racional, portador da consciência. Vejam que a modernidade separou o sujeito e o mundo exterior. Assim, a filosofia denominou tudo o que está fora do sujeito, fora da consciência, pelo termo “objeto”. Qual o grande desafio do conhecimento a partir da modernidade? Criar uma ponte que ligue o sujeito ao objeto, que consiga tornar o mundo acessível à consciência. É exatamente por considerar esta separação entre razão e realidade que a filosofia moderna, desde Descartes, pensou em “caminhos” que pudessem fazer esta ligação e tornar o conhecimento possível. É claro que há muitos munidos de excelentes argumentos que vão contestar esta separação, mas a verdade é que esta tradição da “metafísica” moderna (separação sujeito e objeto) influenciou ou até mesmo, podemos dizer, estruturou nosso mundo. E aqui falamos especialmente do direito como campo do saber, em que a influência da modernidade é decisiva. (CALDAS et al., 2010, p. 96)
A ciência (conhecimento) a serviço do capitalismo (interesse dirigido a fins),
portanto, torna o mundo cindido. Nesse prisma, o “materialismo histórico transpõe o
reducionismo do positivismo científico” (um “fazer ciência” a serviço do capital), pois
26
“consegue superar a autonomia aparente destes sistemas” (econômico e
administrativo), “colocando-os como simples aspectos de um todo abrangente” (DE
ALMEIDA, 2006, p. 44).
Todavia, ao materialismo histórico não cabe corrigir o engano de se considerar a estrutura social como formada por sistemas autônomos parciais. Esta estrutura social fragmentada, este mundo entrecortado, esta autonomia dos sistemas, mais que um equívoco passível de correção, é “a expressão intelectual social e objetiva da sociedade capitalista”. Efetuar a separação entre sociedade e indivíduo, entre sociedade civil e Estado e entre direito e política, é uma necessidade da sociedade capitalista. Transpor esta separação significa transpor intelectualmente a sociedade capitalista e por isso, assevera Lukács, “que o conhecimento correto de sua ausência de autonomia, da sua dependência da estrutura econômica de toda a sociedade implica, como característica integrante, o conhecimento de que essa ‘aparência’ de autonomia, de coesão e independência, é uma forma necessária de manifestação na sociedade capitalista”. (DE ALMEIDA, 2006, p. 44-45).
De certa maneira, o materialismo dialético visa a “reconstrução do mundo”, um
“mundo cindido, fragmentado”, em que o homem “se vê dominado por forças
‘fantasmagóricas’ que, embora possa compreender, é incapaz de dominar”. (DE
ALMEIDA, 2006, p. 59).
O grande problema da fragmentação do mundo pelo capitalismo está na
transformação de criaturas humanas em mercadorias através do processo de
“produção”, seres que são reduzidos em coisas, deveras desumanizados, embrutecidos
e descaracterizados , daí o nome “reificação”.
A solução deste enigma implica na análise do problema central e estrutural da sociedade capitalista: a mercadoria. “Pois somente nesse caso pode-se descobrir na estrutura da relação mercantil o protótipo de todas as formas de objetividade [Gegenständlichkeitsformen] e de todas as suas formas correspondentes de subjetividade na sociedade burguesa”. Célula mater da sociedade burguesa, a mercadoria torna-se a medida do mundo. Disso resulta que a compreensão da sociedade capitalista e de seus problemas passa, inevitavelmente, pelo mistério da mercadoria. (DE ALMEIDA, 2006, p. 59-60).
27
Na década de 70, Habermas propôs uma “reconstrução” do materialismo
histórico. Existem indicativos nesta obra de que já não se contenta mais com a proposta
da teoria social do marxismo: a “linguagem” foi posta no “centro” das discussões. A
teoria da evolução social, a busca por legitimações normativas e o debate sobre os
“níveis de consciência moral” tornaram-se assuntos centrais. Tanto a questão do
“trabalho”, quanto da “reificação” são postas em segundo plano.
Portanto, Habermas se apresenta muito mais um crítico do marxismo, do que
propriamente um herdeiro.
2.1.1 Razão do Iluminismo, razão instrumental e razão comunicativa
Adorno e Horkheimer trabalharam com a questão da razão moderna, e
Habermas, durante a juventude, foi influenciado pela teoria da razão instrumental.5
Mesmo porque na “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, em “Técnica e Ciência como
Ideologia” e na obra “Conhecimento e Interesse”, denuncia os problemas sociais
derivados da razão instrumental, no interior da sociedade capitalista. (ARAGÃO, 2002)
Acreditava-se que a ciência e a técnica eram emancipatórias. Contudo, o projeto
do Iluminismo faliu, diante dos desastres sociais, promovidos pela razão instrumental: a
técnica e a ciência estavam a serviço do capitalismo de Estado. Em vez do progresso, o
que se evidenciou, foi o regresso: repressão, exploração e destruição da natureza.
(MASCARO, 2002)
Num livro muito importante de Adorno e Horkheimer, a Dialética do esclarecimento, estabelece-se uma importante reflexão a respeito do caráter dominante da razão técnica da sociedade capitalista contemporânea. A lógica contabilista, mercantil, se esparrama por todos os setores da vida social, quase que sufocando a possibilidade de entendimento e ação em sentido libertário. A racionalidade técnica passa a operar numa espécie de constante identidade entre sujeito e objeto, de caráter matemático. A boa ciência é aquela que explica o objeto, o dado, tal qual como ele se apresenta. O preço disso é uma
5 Entretanto, mesmo na fase intelectual da juventude buscou esboçar um tipo de razão que pudesse ser
uma alternativa aos problemas sociais da sociedade capitalista, uma resposta “racional” à opressão sistêmica. A proposta de uma razão comunicativa só se concretizou em 1981, isto é, na fase da maioridade intelectual, com a publicação da obra “Teoria da Ação Comunicativa”. (ARAGÃO, 2002)
28
tautologia, repetir o mesmo, sem compreendê-lo no todo e no processo histórico de sua formação, sua função e suas possibilidades futuras. (MASCARO, 2010, p. 509)
Adorno identificou problemas no projeto original do Iluminismo. Tal projeto “saiu
dos trilhos” de sua proposta, pois a “razão” foi direcionada para a dominação e
repressão do homem. Nesse sentido, a teoria crítica adorniana, pesquisava as formas e
mecanismos de opressão no interior das sociedades contemporâneas. (LACOSTE,
1992).
O esboço de uma razão comunicativa ocorreu a partir do momento em que
Habermas se aproximou dos filósofos da linguagem, a exemplo de Austin e Searle. A
partir daí, a razão “habermasiana” passou a ter uma dupla finalidade: Posta a serviço
da técnica (para dominar) ou usada para a emancipação, isto é, enquanto meio de
comunicação entre “seres de fala”, entre pessoas racionais que motivam suas ações
para fins de um entendimento. Habermas foi percebendo que, ao longo dos anos, o
programa da escola de Frankfurt era incapaz de oferecer uma proposta de
emancipação pelo caminho da comunicação entre “seres de fala” (FREITAG, 1993)
Entretanto, na juventude, não há um rompimento completo com o marxismo, nem
mesmo com as ideias de Adorno: houve um certo distanciamento e uma maior
aproximação, por outro lado, com Hegel, Heidegger, Gadamer, Durkheimer, Weber,
Apel e com o pragmatismo norte-americano. (ARAGÃO, 2002)
Para Haddad (2004, p. 57-58):
Tomando distância de Adorno, Habermas defende a factibilidade de um projeto emancipatório e recoloca a política novamente no centro das atenções. Curiosamente, porém, isso só faz sentido pela razão oposta àquela que ampara a aposta de Habermas, qual seja, o fato de que o mundo administrado perdeu o controle sobre si mesmo. Mas isso significa que os desafios práticos e a viabilidade de um projeto emancipatório exigem daqueles com ele comprometidos tarefas para além de uma teoria do agir comunicativo fundada numa pragmática formal. Isto porque: 1) sem uma compreensão bastante acurada da economia política do capitalismo contemporâneo e das suas possibilidades reais não saberemos o que dizer uns aos outros; 2) sem uma reavaliação da plausibilidade de explicar a sua dinâmica à luz de
29
uma teoria de classes renovada não saberemos com quem dialogar e a quem enfrentar; e 3) sem um estudo, na trilha da teoria crítica e da psicanálise, dos processos de formação da vontade na esfera pública, não saberemos como dizer o que precisa ser dito.
Em sentido oposto à Haddad, Freitag (1993, p. 60), em defesa do pensamento
habermasiano, sustenta que
(...) Habermas ao mesmo tempo preserva elementos importantes da contribuição de Horkheimer e Adorno, mas os supera, propondo uma nova teoria que tem em comum com a teoria crítica a dimensão crítica da realidade e a rejeição de falsos determinismos. A teoria da ação comunicativa, no entanto, não adere ao pessimismo implacável de Adorno, revelando uma convicção profunda da competência lingüística e cognitiva dos atores, capazes de, no diálogo, (...) produzirem uma razão comunicativa que pouco tem em comum com a razão kantiana: ela não é subjetiva, não é inata.
Seria Adorno mais avançado do que Habermas, quanto à crítica à dominação de
um sistema capitalista regido pela razão instrumental?
Tanto Marcuse, quanto Adorno, por exemplo, fazem uso de uma razão crítica. A
partir de uma expressividade teórica sólida, bem como através do referencial marxista
(principal método de denúncia), foram capazes de enfrentar os problemas estruturais do
sistema capitalista. De modo que não pouparam suas críticas ao problema da
exploração. (MASCARO, 2010)
Para Mascaro (2010, p. 515), “A Escola de Frankfurt aponta os limites da própria
razão e o imperativo de uma razão crítica, libertadora, que tenha por horizonte o
socialismo”.
Habermas não chega a apontar para um horizonte socialista. Sua proposta é a
de “civilizar” (no sentido de “domar”) o sistema capitalista pelo caminho da política, sem
precisar aniquilar o capitalismo. (HABERMAS, 2009)
A tarefa de “reinscrever o Estado na dimensão do mundo-da-vida” (FREITAG,
1993, p. 103), a oferta de uma “república democrática radical” (HABERMAS, 2003, p.
257), bem como a busca pela “centralidade da política” (SILVEIRA, 2011, p. 01) - pois
30
na visão habermasiana, tanto o mercado, quanto o Estado, como imperativos
sistêmicos, devem estar subordinados à política –, apresentam-se como ofertas
libertárias.
O conjunto de propostas emancipatórias nasce, portanto, mesmo na fase da
juventude. Com o passar dos anos, com o amadurecimento das ideias e com a
superação das “fases” intelectuais, substitui as categorias usadas por seus mestres por
outras. Exemplo: Prefere discutir a questão da interação e da linguagem em vez do
trabalho. Opta em discorrer sobre uma pragmática universal, em vez de investir no
problema da luta de classes. Substitui as categorias “infra-estrutura” e “superestrutura”,
pelas categorias “mundo-da-vida” e “sistema”. (ARAGÃO, 2002)
Na primeira fase da produção habermasiana, a obra Conhecimento e Interesse foi importante tanto para propor uma teoria social crítica baseada na produção de conhecimento vinculado a interesses (interesses técnicos, práticos e emancipatórios), quanto para o esboço de uma inicial distinção entre uma “racionalidade técnica” (razão instrumental) e uma “racionalidade emancipatória”. Posteriormente, com sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas avança para uma segunda fase de seu pensamento – “da representação” e do “esclarecimento” para o “agir interativo” e o “entendimento participativo” –, deslocando a fundamentação da racionalidade para um foco de cunho “lingüístico-pragmático” ou “discursivo comunicativo”. Agora, fica muito clara a emergência de uma “racionalidade comunicativa” [...] que se opõe a uma “racionalidade cognitivo-instrumental” (razão lógico-formal ou técnico-instrumental, constituída por enunciados descritivos). [...] enquanto Adorno e Horkheimer constataram e denunciaram os aspectos negativos revelados pela “razão instrumental”, bem como o colapso da civilização tecno-científica e da sociedade industrial contemporânea, sem conseguir elaborar uma saída, Habermas se propõe solucionar as “patologias sociais” (medo, dominação e alienação etc.) e os desvios da modernidade através de uma vigorosa “ação comunicativa”, embasada no entendimento concreto (empírico, fático), no consenso não-coagido e na convicção recíproca. Isso implica a mudança do paradigma da ação, a reordenação dos sujeitos sociais (de um sujeito que se articula em torno de objetos para sujeitos que se relacionam na perspectiva da intersubjetividade e da participação) e o abandono da “razão instrumental” insuficiente por uma razão “prático-discursiva”, reconstruída, ampliada e humanizadora. (WOLKMER, 2001, p. 278-279)
31
A razão comunicativa é uma mera proposta teórica romântica e impossível de
libertar a sociedade no interior da sociedade capitalista. Entretanto, trata-se de um
artifício teórico engenhoso. Por outro lado, é incapaz de lançar o pensamento em
direção à realidade, frágil demais para desestabilizar a lógica perversa do capitalismo,
isto é, não ataca a razão do capitalismo. (MASCARO, 2010)
Para Mascaro (2010, p. 515), na defesa da razão crítica adorniana e do
pensamento de Marcuse (autor de Eros e Civilização), afirma que “o capitalismo impõe
a razão, conforme a própria narrativa do Iluminismo. Ocorre que a razão do capitalismo
ainda é a razão da exploração e dominação”.
Não é a prática da comunicação entre cidadãos racionais – e politicamente
articulados – que rompe com a estrutura do sistema capitalista. A ruptura depende da
práxis, das ações revolucionárias.
A formação da opinião e da vontade política com base na força “do melhor
argumento” – mesmo num país que oferte um nível elevado de Educação – não é o
caminho de transformação social, e sim, de mera reforma.
Por mais que os cidadãos busquem o entendimento, por mais que fundamentem
suas ações comunicativas de modo racional, se não atacarem o capitalismo, as
estruturas do sistema, a própria razão do capitalismo e sua lógica, todos os esforços
não passarão de um “ativismo político” reformador, aquém da transformação, isto é,
aquém do horizonte da revolução.
De modo que a razão comunicativa, como proposta teórica, está longe de ser
uma razão crítica ao estilo adorniano de se expressar: uma expressividade teórica
sólida, porque via o mundo a partir do horizonte do pensamento marxista. Habermas
deu um “salto para trás” ao abandonar o enfrentamento dos problemas estruturais do
sistema capitalista.
Em 1962, contudo, chegou a questionar ideia de que a sociedade burguesa,
desde a sua formação, sempre agiu de forma egoísta e opressiva, para demonstrar que
o comportamento de uma nova categoria de burgueses do século XVIII, que compunha
32
uma esfera pública literária de um público leitor (capaz de emitir juízos de valor), era
independente em relação ao poder do Estado. Nela, não havia o egoísmo, nem mesmo
o interesse de dominação. (ARAGÃO, 2002)
A prática da formação racional de uma opinião pública crítica representa, para
Habermas, uma proposta emancipatória e não de dominação.
Nesse livro, Habermas já aponta para a sua ideia do fim do horizonte da revolução nas sociedades capitalistas ocidentais, cujas contradições se tornariam menos agudas quiçá com o incremento da produção e do consumo de bens. De um certo modo, ainda se valendo de referenciais marxistas, Habermas renuncia a adotar um projeto de salto qualitativo enquanto ruptura da estrutura capitalista existente. (MASCARO, 2010, p. 360)
Com base na teoria da razão instrumental, o estágio de ideias mais alto em que
alçou foi com a denúncia do abuso do poder econômico por parte de um segmento de
burgueses proprietários privados, donos da imprensa. Sustentou que, antes do advento
deste setor, havia um público capaz de julgar e de filtrar as informações: eles atuavam
numa esfera pública autônoma. Entretanto, no decorrer do século XIX, foi se perdendo
esse público crítico de cidadãos-leitores na medida em que a imprensa passou a
moldar as opiniões de acordo com os interesses privados, manipulado “a opinião para
fabricar um consenso, fingindo um interesse público no qual faltam critérios, e visa
apenas produzir assentimento e conformismo”. (ARAGÃO, 2002, p. 187)
Ademais, acusou o sistema capitalista, enquanto agente responsável pela
mudança da estrutura da esfera pública. Reconheceu que a racionalidade econômica
de mercado preponderou diante das relações humanas mais elementares do cotidiano;
a própria mídia passou a ser regida por uma razão instrumental. (ARAGÃO, 2002)
Contudo, não chegou a propor uma ruptura da estrutura capitalista existente.
Otimista, acredita na possibilidade de restauração daquela esfera: composta de um
público de leitores emancipados. (ARAGÃO, 2002).
33
Habermas analisa as sociedades contemporâneas como aquelas que vivenciam a decadência da esfera pública burguesa, primeiro a literária e posteriormente a política – uma vez que atribui à esfera pública nova função, de propaganda, como meio de manipular opiniões, de criar agências de moldagem de opiniões, de engendrar ou fabricar consenso para formar a aceitação de uma pessoa, produto, organização ou idéia. Isto a coloca em oposição direta àquela idéia de opinião pública enquanto lugar da concorrência aberta de opiniões, onde se busca uma concordância racional, tal como concebida na esfera pública política burguesa. Percebe-se, portanto, nossas sociedades, verdadeira dicotomia entre a concepção de uma opinião pública – que busca traduzir o interesse geral, chegar a uma concordância racional sobre opiniões em concorrência e exercitar uma crítica competente que objetiva desmistificar a dominação, fazendo uso público da razão; e uma opinião não-pública – que traduz interesses privados privilegiados, manipula a opinião para fabricar um consenso, fingindo um interesse público no qual faltam critérios e visa apenas produzir o assentimento e conformismo. E são exatamente aquela idéia e funções de uma esfera politicamente ativa, pretendidas pelo liberalismo (clássico), que Habermas deseja reabilitar, por sua ligação necessária entre discussão pública e norma legal, uma vez que as leis deveriam traduzir sempre princípios universais que traduzissem, se não o interesse geral, pelo menos os defendidos por uma maioria previamente esclarecida, o que seria assegurado pelo exercício irrestrito da discussão pública e pela distribuição eqüitativa do poder de representação política. (ARAGÃO, 2002, p. 187-188)
Com a evolução das práticas capitalistas, notou que “houve uma mudança nas
relações entre o público e privado”, passando a sustentar o seguinte: a) dois fenômenos
ocorreram, “um referente à privatização do público, outro referente à estatização da
esfera privada”; b) “houve o desaparecimento do privado, na medida em que os
contratos deixam de ser individuais para serem coletivos, assim como as negociações
passam a serem feitas através de associações de empresas e sindicatos”; c)
igualmente, houve “uma decomposição da esfera pública, bem como a alteração de
suas funções políticas, na medida que ela tornou-se um meio de propaganda e de
atuação entre proprietários privados sobre pessoas privadas”, e do ponto de vista
político, passa a “representar os interesses dos proprietários privados como interesses
de classe, o que torna cindida em interesses conflitantes”. De maneira que, tais
alterações, resultaram na existência de uma “cultura feita para as massas, no exercício
da manipulação, pois a propaganda começa a assumir um caráter quase político,
34
através das relações públicas visando manipular as pessoas para que consumam
determinados produtos”. (ARAGÃO, 2002, p. 179-194)
Portanto, o projeto de uma teoria social crítica, com base na razão comunicativa,
nasceu na fase da juventude e obteve estatura na maturidade, com a publicação da
obra Teoria da Ação Comunicativa (1981).
2.1.2 A questão do Estado e da dominação tecnocrática: Marcuse, Habermas e Offe
Freitag (1993, p. 86) faz um interessante estudo sobre a questão do Estado e da
dominação tecnocrática6.
Os frankfurtianos tratam sobre o tema do “Estado” em três direções.
No primeiro horizonte de ideias, os frankfurtianos buscam “conceituar as
mudanças que ocorrem na base econômica da sociedade capitalista desde Marx”.
(FREITAG, 1993, p. 85-86)
No segundo momento, Marcuse passa a tratar do problema do Estado e da
dominação – “que se confunde com a crítica à razão instrumental, especialmente
quando esta procura abandonar o campo meramente teórico, buscando seu vínculo
com a prática (política)”. (FREITAG, 1993, p. 91)
Por último, no terceiro momento, os frankfurtianos (Offe e Habermas) refletem
acerca dos problemas do funcionamento do Estado no contexto do Späetkapitalismus,
isto é, “mostrando-se como o Estado se torna o articulador imprescindível para
regulamentar a economia moderna [...]” (FREITAG, 1993, p. 97)
No primeiro momento, Meyer, Mandelbaum e Pollock inauguram em 1932 “o
debate sobre a intervenção do Estado na economia das sociedades capitalistas e
socialistas”. (FREITAG, 1993, p. 86)
6 Atuou como professora visitante entre 1976 e 1982 na Universidade de Frankfurt.
35
Vinculavam a questão do “intervencionismo” de Estado ao problema da
“manipulação das crises e do planejamento econômico”. (FREITAG, 1993, p. 87)
Eram fenômenos interligados. Defendiam a tese de que “nenhuma economia
moderna – fosse ela capitalista ou não – dispensaria a atuação reguladora do Estado”.
(FREITAG, 1993, p. 87)
No segundo momento, em 1964, Marcuse discute a questão da razão
instrumental e da dominação tecnocrática. Apóia-se em Weber (que inaugurou o
conceito de razão instrumental – Zweck-Mittel-Rationalitaet), para analisar “o moderno
Estado capitalista”. (FREITAG, 1993, p. 90)
“Toda ação que se baseia no cálculo é racional” (WEBER apud FREITAG, 1993,
p. 90). Além disso, toda ação é calculada pelos agentes que atuam em nome do
Estado: a racionalidade instrumental, nas análises de Weber, “está institucionalizada na
vida cotidiana, nas ações calculadas dos agentes econômicos e do pessoal da
administração estatal (burocratas)”. (FREITAG, 1993, p. 91)
Marcuse, baseando-se naquele conceito, vai sustentar a ideia de que a “razão
abstrata transforma-se concretamente em dominação calculada e calculável – os
homens atuando no domínio e controle da natureza”. (MARCUSE apud FREITAG,
1993, p. 91)
Ora, a razão instrumental “nada mais é que a própria razão capitalista, isto é, a
racionalidade do lucro e da expropriação da mais-valia”. (FREITAG, 1993, p. 91)
Entretanto, Marcuse vislumbra o caráter ideológico do pensamento weberiano:
“ao mesmo tempo que o autor de Economia e Sociedade defende a neutralidade da
ciência e portanto a razão neutra, técnica, ele estaria fazendo de fato a apologia da
razão capitalista”. (FREITAG, 1993, p. 91)
Cabe, no entanto, a Weber o inegável mérito de ter demonstrado que a razão econômica não se confinou à área de produção e circulação de mercadorias. Weber mostrou que a calculabilidade e previsibilidade, as características essenciais da racionalidade instrumental na economia, permearam também a esfera política, impondo-se aqui como a razão do
36
Estado (tecnoburocracia). Enquanto para o empresário essa racionalidade é necessária para assegurar o lucro e evitar os riscos, ela se torna indispensável para o político que precisa ter certeza de que suas ordens serão efetivamente cumpridas, apoiando-se por isso mesmo no aparelho burocrático e nos mecanismos de controle (polícia e exército) caso uma ordem seja ostensivamente desobedecida. (FREITAG, 1993, p. 91-92)
A moderna ciência, originalmente tratada como emancipatória (no iluminismo),
atualmente é posta “a serviço do capital”. (FREITAG, 1993, p. 94)
Contribuindo para a manutenção das relações de classe (...) a ciência e a técnica na mão dos poderosos (que controlam o Estado), controlam a vida dos homens, subjuga-os ao interesse do capital, escravizando-os às máquinas. A produção de bens segue uma lógica técnica, e não à lógica das necessidades reais dos homens. (FREITAG, 1993, p. 94)
Nesse sentido, o processo de produção foca naquilo que dá lucro; não se leva
em conta a “real necessidade dos homens”, nem mesmo aquilo que eles “gostariam de
ter ou usar”. Ademais, “a ciência e a técnica, como forças produtivas”, acabam
tornando-se “a base legitimadora do sistema capitalista, desativando o conflito de
classes e silenciando as reivindicações por um sistema político e econômico menos
alienado”. (FREITAG, 1993, p. 94)
A ciência e a técnica como forças produtivas estão hoje a serviço do valor de troca, isto é, da produção de mercadorias. [...] Dessa forma, a ciência e a técnica se transformam em uma ideologia, a ideologia tecnocrática, segundo a qual questões políticas não podem ser mais resolvidas politicamente, à base de negociações e lutas, e sim, tecnicamente, de acordo com o princípio instrumental de meios ajustados a fins. (FREITAG, 1993, p. 94)
A tese marcusiana de que o próprio conceito de ciência e tecnologia, “talvez, seja
ideologia” foi retomada por Habermas em 1968 (Técnica e Ciência como Ideologia).
(MARCUSE apud FREITAG, 1993, p. 95)
Habermas passou a afirmar que, ciência e técnica efetivamente “transformaram-
se em ideologia”. (HABERMAS apud FREITAG, 1993, p. 95).
37
A simbiose entre ciência e técnica com dominação econômica e política no
capitalismo moderno mostra quão profundamente ambas estão comprometidas com o
interesse das classes dominantes. Daí resulta que não basta simplesmente mudar a
teoria e a filosofia política para mudar o mundo. A superação da moderna sociedade
capitalista implica a transformação radical da ciência e da tecnologia que nele atuam,
impondo-se a necessidade de reformular essencialmente o seu conceito. (FREITAG,
1993, p. 95)
Habermas trabalha com os “dois momentos”: de um lado, leva em conta “o
crescente intervencionismo estatal”; de outro, considera “a transformação da ciência e
da técnica em forças produtivas e ideologia”. Com efeito, ambos “alteram as formas de
legitimação do poder”. (FREITAG, 1993. p. 95)
A ciência e a tecnologia, promotoras do progresso e do bem-estar de todos, passam a ser a base de legitimação indispensável do moderno Estado capitalista. Os conflitos de classe, as lutas políticas para modificar a ordem social e política são silenciados em nome do bom funcionamento da economia que promove – através do Estado – o bem-estar de todos. Na medida em que a economia prospera e produz, assegura o emprego e um relativo bem-estar material, ela não somente se autolegitima como legitima também o sistema político que lhe assegura estabilidade e continuidade, disfarçando o mal-estar real gerado pelas condições de unidimensionalização e confundindo consciências, incapazes de avaliar o processo. Na medida em que a ciência e a técnica – manifestações concretas da razão instrumental – estiverem obtendo “êxitos” na economia, elas legitimam a usurpação do poder pelas elites. Estas são aceitas pelos dominados, em nome da competência com que o processo econômico está sendo gerido, dispensando-se assim qualquer necessidade de justificação. (FREITAG, 1993, p. 96)
As necessidades de justificação do Estado ficam reduzidas diante do
crescimento econômico: enquanto os cidadãos estiverem com seus empregos
garantidos, enquanto estiverem comprando e vendendo, as tensões sociais são
aliviadas e o Estado “fica livre da obrigação de justificar-se”. (FREITAG, 1993, p. 96)
A substituição do “político” pelo “tecnocrático” corresponde à colonização do
“mundo da vida” pelo sistema econômico. (FREITAG, 1993, p. 96)
38
A crítica que se faz nesse sentido, versa sobre a redução da dimensão política
da vida em mera “questão técnica”. Um sério problema surge quando as tomadas de
decisões do grupo político que comandam o Estado “são vistas como racionais,
técnicas, não podendo ser questionadas [...]”. (FREITAG, 1993, p. 96)
Em Student und Politik, obra escrita durante a sua juventude, Habermas iniciou
suas pesquisas sobre as alterações estruturais do Estado, analisando o Estado liberal
como laboratório. (FREITAG, 1993, p. 98)
Em 1962, com a “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, dá um salto qualitativo
nas pesquisas sobre a questão do Estado. (FREITAG, 1993, p. 98)
Demonstrou que o Estado liberal “apresenta um relativo isolamento em relação
aos problemas e assuntos econômicos e às instituições privadas e políticas que
estruturavam o espaço público, isto é, a assim chamada sociedade civil.” (FREITAG,
1993, p. 98)
De maneira que, Habermas, já tinha percebido, mesmo antes de 1973 (momento
em que debate ideias com Claus Offe), que o surgimento do Estado capitalista trouxe,
como consequência, uma redução da “esfera pública”, antes tida como independente.
(FREITAG, 1993)
A intervenção do Estado, tanto na política, quanto na economia, passou a ser um
fenômeno típico do Estado capitalista: fenômeno concomitante ao processo de
alteração da estrutura da esfera pública. (FREITAG, 1993)
Será especialmente em Problemas de Legitimação do Capitalismo Tardio (1973) que Habermas, apoiando-se em estudos feitos por Offe, Eder e outros, desenvolve a sua nova teoria da crise. Busca e encontra as formas de legitimação do Estado capitalista nas atuais condições do capitalismo avançado (Spaetkapitalismus). Habermas entende por “crises” perturbações mais duradouras da integração sistêmica. Essas crises decorrem, a seu ver, de problemas não resolvidos do controle sistêmico. (FREITAG, 1993, p. 99)
39
Habermas percebeu que, quando “a organização da economia” (reprodução
material) “entra em crise”, o sistema social (isto é, a integração social do mundo da
vida) é abalado “como um todo”, ocorrendo uma desintegração social, a perda da
estabilidade, bem como a piora nos quadros de patologia social. (FREITAG, 1993, p.
99)
Portanto, é a integração sistêmica que garante o equilíbrio da organização
econômica e do sistema administrativo. (FREITAG, 1993)
Freitag (1993, p. 100), por exemplo, analisou quatro formas de “crise”
identificadas por Habermas na obra “Crise de Legitimação do Capitalismo Tardio”, a
saber: “econômica, de racionalidade, de legitimação e de motivação”.
A crise econômica afeta diretamente a sociedade, pois a economia tem o papel
de garantir o bom funcionamento do sistema de produção, devendo atender as
necessidades elementares de sobrevivência dos grupos que compõem o tecido social.
(FREITAG, 1993)
A crise de racionalidade está relacionada ao Estado capitalista (moderno),
quando este “se vê forçado a ajustar racionalmente meios a fins em função de valores e
problemas muitas vezes não conciliáveis, procurando otimizar os ganhos [...] Isso
ocorre com frequência na tentativa do Estado de conciliar os interesses da política
interna com os da política externa”. (FREITAG, 1993, p. 100)
A crise de legitimação consiste na prestação de contas do Estado em relação à
sua clientela, pois existe uma dificuldade deste em sustentar medidas para seus
eleitores no contexto do Estado capitalista moderno, que frequentemente “desenvolve
iniciativas contraditórias”, pois ao mesmo tempo em que adota uma política de
robotização do maquinário das fábricas, por exemplo, reprime violentamente o direito
de greve. (FREITAG, 1993, p. 100)
Por causa das “iniciativas contraditórias do Estado”, surgem as crises de
motivação. Nesse estágio, os cidadãos “já não se sentem mais motivados a respeitar as
ordens advindas do sistema econômico e político”. Alternativamente, alguns segmentos
40
da sociedade civil (como os “verdes”, “coloridos”, “pacifistas”, “punks”, “amigos da
escola”, etc..) começam a se articular entre si e a mostrar seus tentáculos, seja através
de protestos contra a violência nas ruas, do ativismo político em defesa do meio
ambiente ou de atos de solidariedade nas escolas, ou, seja através da criação de
organismos não governamentais. Tais iniciativas que emergem da sociedade civil
servem para demonstrar o descrédito em relação aos problemas estruturais do sistema
econômico e político. (FREITAG, 1993, p. 100-101)
A crise de motivação provoca uma busca de alternativas, de organização da vida cotidiana “fora” dos sistemas até agora institucionalizados. [...] O Estado moderno vê-se, portanto, diante da difícil tarefa de superar suas crises de racionalidade e de justificar-se e legitimar-se diante dos grupos contestadores cada vez mais numerosos e diversificados. (FREITAG, 1993, p. 101)
Offe demonstra que “o gerenciamento das crises econômicas” pelo Estado
Capitalista não é tarefa fácil. (FREITAG, 1993, p. 101)
O problema central consiste no fato de que a dinâmica do desenvolvimento capitalista apresenta, histórica e empiricamente, uma tendência permanente à paralisação da “viabilidade de mercado” dos valores, ou seja, à interrupção das relações de troca. [...] Nenhum vendedor pode estar seguro de que a mercadoria por ele oferecida no mercado realmente encontre um comprador [...] Se um produto não é vendável, aparece em seu lugar automaticamente um outro bem (ou um preço) que assegura a venda. [...] Mas esses mecanismos de correção automática parecem tornar-se cada vez menos eficazes à medida que o capitalismo se desenvolve. (OFFE, 1984, p. 127)
Nos primórdios do Estado liberal capitalista não havia a necessidade de
intervencionismo estatal: a “mão invisível” de Adam Smith era a própria lógica do
sistema de mercado, e este, por sua vez era regido pelo princípio da livre concorrência.
(FREITAG, 1993)
Entretanto, no mais alto patamar das práticas capitalistas, diante de drásticas
crises, o Estado se vê forçado a realizar as intervenções na economia para garantir a
manutenção da sobrevivência de seus clientes e eleitores, seja através do processo de
41
regulação econômica, seja através da “despolitização da esfera pública”, seja através
dos patrocínios e “subvenções aos sindicatos”, aos partidos, etc.. Nesse contexto, “a
forma mais evoluída”, modelo de intervencionismo, é o Estado do Bem-Estar: “para
superar as crises econômicas faz concessões junto ao operariado, desenvolvendo
políticas sociais cada vez mais abrangentes e mais sofisticadas para todas as classes
assalariadas”. (FREITAG, 1993, p. 101-102)
Após a Segunda Guerra Mundial o Estado capitalista assume a tarefa de adotar
políticas sociais, e, o Estado, passa a fazer grandes investimentos no setor de moradia,
na educação, no lazer e na saúde: a preservação da “sociedade do trabalho”, que se
constituiu durante o Estado do bem-estar, era a grande preocupação no momento.
(FREITAG, 1993)
Era a “sociedade do trabalho” que garantia a produção, o “motor da economia”.
A preocupação com a garantia da estabilidade de emprego, bem como a
necessidade de adoção de políticas sociais, naquela conjuntura, eram medidas
governamentais estratégicas para o Estado capitalista. (FREITAG, 1993)
A trágica crise dos anos 30 e os estragos na economia da Europa, levaram os
especialistas da burocracia do sistema administrativo estatal a buscarem estratégias
interventoras no setor social. (FREITAG, 1993)
Todas aquelas medidas de intervenção estavam associadas à ação instrumental
do Estado; as estratégias dirigidas à condução dos negócios do Estado capitalista, isto
é, para o desenvolvimento e crescimento da economia eram calculadas. Ademais,
nesse período do “fordismo”, medidas foram tomadas para melhorar a renda e as
condições de trabalho. (HIRSCH, 2010)
Outras medidas e ações estratégicas do Estado Capitalista, mesmo as
estratégias empresarias, devem ser abordadas no momento histórico do “fordismo”.
Eis alguns exemplos de estratégias: 1. Alterações na própria “organização do
trabalho capitalista” e em todos “os processos econômicos”, “nas estruturas de classe,
42
nos valores e nos modos de vida”; 2. Outro fator que deve ser levado em conta no
“fordismo”: a aplicação de diretrizes “na organização de trabalho taylorista”, em
especial, na “produção massiva de bens de consumo estandardizados”; 3. Permuta dos
trabalhadores manuais qualificados por obreiros (com baixo preparo) na linha de
montagem, “com isso, a divisão do trabalho manual e trabalho intelectual modificou-se
consideravelmente, levando a uma racionalização e intensificação do trabalho” 4.
Ademais “a introdução da previdência contribuiu [...] para a estabilização do consumo
de massas”. 5. Outro fator: “Difundiram-se os sistemas coletivos de negociação” com
base em contratos coletivos do trabalho – características corporativas, compreendendo
sindicatos, federações empresariais, câmaras setoriais e Estado, “importantes no
manejo da economia”. (HIRSCH, 2010, p. 139-143).
[...] da permanente elevação da renda, da paulatina nivelação das diferenças entre classes parecia tornar-se realidade. O consumo dos assalariados criou novos mercados de consumo e possibilidade de intervenção de capital. [...] Somente então que a sociedade capitalista tornou-se preponderantemente uma sociedade de assalariados. (HIRSCH, 2010, p. 140-141)
Era frequente a intervenção do Estado na organização partidária dos sindicatos,
nos movimentos de protestos derivados de fenômenos de massa, na organização
estudantil, “procurando abrandar conflitos e superar as contradições”. (FREITAG, 1993,
p. 102)
As crises econômicas são caracterizadas pelo fato de gerarem desemprego e subemprego como fenômenos de massa. Os governos e sindicatos de todos os países capitalistas desenvolvidos concordam que a assistência a essa massa desempregada deve ser prioritária na política governamental. A prioridade dada ao pleno emprego é ainda mais profunda quando se trata de governos dos “Estados do bem-estar”, que estão sujeitos a uma obrigação legal de pagar aos desempregados até certo ponto uma indenização (benefícios relacionados à remuneração) e de garantir a viabilidade financeira dos programas de previdência social. Outro fator que influencia diretamente a política do governo é o fato de que o desemprego e as respectivas perdas dos rendimentos da população incidem diretamente no lado da receita do orçamento público e, conseqüentemente, afetam o Estado como um “imposto pago pelo Estado” (OFFE, 1985, p. 20)
43
Offe sustenta que o Estado tem a função de “controlar o fluxo e refluxo da força
de trabalho no mercado, a fim de atender plenamente às necessidades conjunturais e
estruturais do capital privado”. (FREITAG, 1993, p. 102) Logo, o conjunto de iniciativas
estatais converte-se para “beneficiar a acumulação ampliada, de interesse exclusivo do
capital privado [...] precisam recorrer a recursos cada vez mais volumosos dos cofres
públicos, o que por sua vez pressupõe sua capacidade [...] de gerir os negócios”
(FREITAG, 1993, p. 102)
Toda sociedade defronta-se com o problema de resolver institucionalmente uma dupla tarefa. Por um lado, a força de trabalho dos indivíduos deve ser distribuída entre os processos e as atividades concretas de produção; por outro, os frutos deste trabalho devem ser distribuídos entre os trabalhadores empregados e, via gastos públicos e privados, entre os “legitimamente” não-empregados. Os sistemas de mercado capitalistas têm “solucionado” este duplo problema através da instituição de um “mercado” para a “mercadoria” trabalho. Esta solução requer a existência de mão-de-obra assalariada “livre”, isto é, de transformação da força de trabalho em mercadoria (“trabalho assalariado”), assim como sua libertação dos vínculos normativos, compulsórios ou baseados na propriedade, para um modo específico de utilizá-la. (OFFE, 1985, p. 71).
Partindo das análises do próprio Offe, com este consegue estabelecer um
afinado diálogo, visando se aprofundar na “teoria da crise”. Contudo, tenta ir além de
Offe. (FREITAG, 1993)
O fato é que, ambos, estão convencidos de que o Estado capitalista apresenta
problemas estruturais. (FREITAG, 1993)
Habermas, por outro lado, sustenta que o capitalismo tardio enfrenta problemas
de legitimação, crises de motivação e crescentes abalos na situação econômica.
(FREITAG, 1993)
Os Estados nacionais lutam por espaços no mercado internacional, buscando
posições privilegiadas através da maximização dos lucros, na tentativa de atingir fins
estratégicos: “Digladia-se com períodos de recessão, concorrência no mercado,
44
oligopólios, falta de matéria prima, elevação dos preços do petróleo [...] procuram
atender às exigências do sistema produtivo, seja como consumidor, seja como produtor
de mercadorias (crise de racionalidade)”. (FREITAG, 1993, p. 103)
Como Estado do Bem-Estar, ele alcança os limites de sua capacidade assistencialista e os problemas de legitimação quando não consegue mais atender às crescentes reivindicações emergentes, ou quando suas políticas sociais não convencem mais a clientela da necessidade de se lançar no mercado de trabalho para ali ser consumida como força de trabalho pelo grande capital (crise de legitimação). Acuado entre as duas crises, o Estado capitalista contemporâneo está sujeito a modificações profundas, de caráter estrutural. Na figura para frente esse Estado encontraria no socialismo uma forma de solucionar a crise. Na fuga para trás, o Estado se reencontraria no fascismo totalitário. (FREITAG, 1993, p. 103)
Ambos concordam sobre os problemas de legitimação. Também consentem com
a existência de problemas estruturais no capitalismo tardio. E qual é a diferença entre
um e outro?
Enquanto Offe parece enobrecer o socialismo de Estado, Habermas busca
“reinscrever o Estado na dimensão do mundo da vida (Lebenswelt)”, o que significa
transpô-lo novamente “naquele quadro institucional em que a política deixa de ser uma
simples técnica de silenciamento, uma forma de manifestação da racionalidade
instrumental, que despolitizaria os assuntos de Estado, voltando a ser a polis [...]”.
(FREITAG, 1993, p. 103)
A polis seria então o lugar privilegiado da vida política em sociedade, esfera onde
todos, sem exclusão, poderão democraticamente tomar decisões sobre seus destinos,
bem como exercer o direito político de organização da vida pública em comunidade.
(FREITAG, 103)
O Estado voltaria a ser, como na Grécia antiga, um espaço da Lebenswelt com a integração social assegurada e não um subsistema cooptado ao sistema econômico, regido pelo princípio da acumulação ampliada. [...] Habermas não ousa uma resposta sobre qual o caminho a ser trilhado pela sociedade capitalista. Mas parece certo que as crises atuais de racionalidade e legitimação tendem a uma solução,
45
implicando assim, a médio ou a longo prazo, uma reestruturação do Estado e da sociedade sobre outras bases. (FREITAG, 1993, p. 103-104)
Trazendo a questão do Estado para os tempos atuais, Habermas (2009, p. 187)
sustenta que:
Desde 1989-90, tornou-se impossível romper com o capitalismo, a única opção é civilizar e domar a dinâmica capitalista a partir de dentro. Mesmo durante o período do pós-guerra, a União Soviética não era uma alternativa viável para a maioria da esquerda na Europa Ocidental. Foi por isso que em 1973 eu escrevi sobre os problemas de legitimação do capitalismo. (HABERMAS, 2009, p. 187)
Por outro lado, Offe (1984, p. 172) cuidou da questão “da coexistência
contraditória entre economia de Estado capitalista e democracia liberal”.
Ele foi capaz de inserir o debate da crise do Estado em questões do tipo:
“funções legitimadoras do Estado capitalista”, “mecanismo ideológico”, “estruturas
formais da democracia burguesa”, “luta de classe” e “normas constitucionais
burguesas”. (OFFE, 1984, p. 172)
Os elementos desestabilizadores, “geradores de conflito e crise, no interior do
Estado capitalista contemporâneo, favorecem uma empírico-analítica de seu caráter de
classe”. (OFFE, 1984, p. 172)
“O Estado capitalista não deve reduzir sua complexidade, nem a sobrecarga contraditória imposta pelos imperativos da acumulação e da legitimação através de formas de dominação, que desativem de um modo geral as normas fundamentais da Constituição liberal-democrática”. (OFFE, 1984, p. 172)
Sustenta que as “estruturas formais da democracia burguesa” não são apenas a
“única alternativa” no contexto das relações de produção capitalistas, como também
são “indispensáveis”. (OFFE, 1984, p. 173)
46
Suas funções são de dois tipos: elas estruturam de tal forma o instrumento de direção do poder político que, o aparelho estatal, mesmo ao preço de novas contradições, consegue, dentro de certos limites específicos, superar a contradição entre produção social e apropriação privada; e permitem constituir um interesse de classe (sistêmico) capitalista, capaz de superar em racionalidade cada interesse individual capitalista. As funções estabelecem, ao mesmo tempo, um mecanismo ideológico que permite desmentir – através do mecanismo da “seletividade divergente” – a cumplicidade objetiva entre os interesses globais de valorização e as funções estatais do capital. Se, conseqüentemente, o sistema capitalista não consegue sobreviver sem formas burguesas democráticas de organização do poder político, por outro lado, a contradição entre as funções econômicas e as funções legitimadoras do Estado capitalista indica uma politização irreversível das lutas de classe, ou seja, que o Estado não pode viver com essas formas. (OFFE, 1984, p. 174)
Na visão de Offe (1989), a crise da democracia liberal do Estado de bem-estar
não consiste na existência de uma oposição político-institucional (ou de uma violência
fática que possa aniquilá-la), mas decorre da inviabilidade de administração das
questões estratégicas dos Estados capitalistas (desorganizados).
Necessito apenas mencionar os problemas de proteção do meio ambiente e de preservação dos recursos naturais ou os problemas de manutenção da paz e do conflito Norte-Sul em escala mundial. Também existem problemas de desorganização do mundo de vida e da saúde psicossocial, que constituem um bem-estar subjetivo. Todas estas questões se apresentam como problemas insolúveis com os meios institucionais atualmente disponíveis do Estado de direito, democracia e Estado social. [...] Para mim, a tese central de Habermas consiste em que a coesão da sociedade moderna se mantém em virtude da ação mediatizada e regida pelos subsistemas, quer dizer, através do crescimento econômico, das redistribuições sociopolíticas, da defesa militar e do domínio burocrático. A tese central é: não existe produção administrativa de sentido. A coesão se mantém (na medida em que o faça) através da validade de normas e princípios modernos específicos que repercutem na ação (embora "contrafaticamente") e cuja validade deve-se dar por suposta em toda ação racional estratégica. Creio que esta idéia de uma síntese comunicativa e não-tecnocrática da vida social, isto é, de uma unidade da vida social auto-organizada mediante a certeza de princípios não impostos pela lógica da economia, do militar, da ciência ou da administração, constitui um pensamento fascinante e liberador nos escritos de Habermas.
47
Offe tem apostado em políticas públicas como uma possível saída aos
problemas sociais do capitalismo.
Hirsch (2010), por outro lado, vai além de Habermas e Offe, pois defende uma
ruptura com as formas sociais capitalistas, não bastando medidas com base na
legalidade dentro do próprio Estado burguês.
Trabalhando sobre o conceito de “democracia socialista”, dividindo-o entre a “ala
esquerda” e a “ala direita”, Bilharinho Naves propõe ruptura com a democracia
burguesa de Estado (que estabelece tipos penais para criminalizar a luta de classes),
para afirmar que:
[...] as relações de produção capitalistas não são transformadas em virtude do simples fato da estatização dos meios de produção [...] O socialismo implica portanto um confronto das massas com os agentes socais que cumprem as funções de direção no processo de valorização do capital e controlam o aparelho estatal – a burguesia de Estado [...] A democracia “socialista” é um instrumento da burguesia de Estado para confinar a luta dos trabalhadores dentro de limites aceitáveis, isto é, para dissolver a sua ação contestatória no interior “das instituições proletárias” [...] O recurso ao direito, notadamente, joga um papel fundamental ao interditar qualquer outra via de manifestação das massas a não ser aquelas oferecidas a elas pelo Estado. Assiste-se, assim, não só ao processo de legalização da luta de classes, à qual já nos referimos, mas também a um processo de criminalização da luta de classes, ou seja, à tipificação penal das formas de expressão e luta das massas não previstas em lei, com a correspondente sanção. [...] a “razão” que informa a ação revolucionária não é aquela que provém do direito ou do Estado, mas aquela que é imanente ao movimento de massas no seu desenvolvimento como força de transformação [...] a normatividade “socialista” apenas pode reforçar o domínio da burguesia de Estado, nunca afetá-la e muito menos destruí-la. (NAVES, 1997, revistaoutubro.com.br/edicoes/04/out4_09.pdf)
2.2 MAIORIDADE: A TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA
Na maioridade intelectual, Habermas propôs um novo modelo de razão: a
comunicativa. Sua proposta é ir além dos frankfurtianos do marxismo; daí a oferta de
uma “teoria social crítica”. (ARAGÃO, 2002)
48
A tese da existência de uma racionalidade comunicativa é a base do projeto habermasiano e aponta para uma competência potencial passível de tornar-se efetiva nas sociedades modernas. O grau em que essa racionalidade pode tornar-se real é uma questão empírica e reflete o jogo das forças políticas em ação, sendo, portanto, um jogo em aberto. Ao contrário dos frankfurtianos que não conseguiam reconstruir um conceito enfático de razão no mundo desencantado, Habermas fundamenta a razão comunicativa como específica ao mundo moderno e desencantado. A racionalidade comunicativa é, neste sentido, percebida como apenas possível num contexto pós-tradicional, refletindo uma forma de lidar com reivindicações valorativas, sendo antes uma atitude do que um conteúdo. (SOUZA, 1997, p. 19-20)
Editada na década de 80, a teoria da ação comunicativa repousa sobre os
alicerces de uma teoria dos atos de fala e da argumentação. O objetivo da (TAC) não
visa apenas o entendimento: também tenta “domar” os imperativos sistêmicos
(ARAGÃO, 2002)
A teoria da ação comunicativa, consensual, também é derivada de uma
ontologia: sustenta a ”capacidade linguística” de seres humanos que se relacionam com
três mundos (social, objetivo e subjetivo)”. (ARAGÃO, 2002, p. 121)
Na teoria da ação comunicativa, Habermas erige-se em ideias para projetar um
tipo de sociedade organizada sobre uma plataforma de livre discussão, onde não há
espaço para a violência. Pretende construir uma base de livre discussão isenta de
dominação. A única força que está livremente autorizada é a do “melhor argumento”.
De modo que, a ação comunicativa, é a antítese da violência. Logo, ela “não só
combate a dominação como também promove emancipação de todas as formas de
dominação social”. (ARAGÃO, 2006, p. 55)
[...] uma sociedade deve sua emancipação da instância da natureza exterior aos processos de trabalho: à produção de um saber tecnicamente aplicável (inclusive à transformação da ciência natural em maquinarias); a emancipação frente à coerção da natureza interna se processa quando as instituições detentoras do poder coercitivo são substituídas por organizações da interação social exclusivamente comprometidas com uma comunicação isenta de dominação. (HABERMAS, 1982, p.68-69).
49
Para Aragão (2006, p. 55)
A nível social, portanto, a ação comunicativa torna-se um conceito normativo, um padrão ideal a ser buscado e, ao mesmo tempo, um critério da evolução social. Se Habermas classifica o nível de progresso de uma sociedade através das etapas de reflexão que ela alcança, e se, na ação comunicativa, os sujeitos procedem de maneira estritamente racional e decidem apenas em função da maior solidez dos argumentos apresentados, então a sociedade que se organiza através da ação comunicativa apresentará um alto nível de racionalidade, a etapa de reflexão mais elaborada, e conseqüentemente representará também o estágio da evolução mais avançado (muito mais avançado, inclusive, do que as outras formações sociais que possuam um alto grau de sofisticação tecnológica, mas que se organizem estrategicamente).
De certa maneira, a teoria da ação comunicativa teve o propósito de resolver
“questões pendentes”, isto é, um “acerto de contas” entre os frankfurtianos do marxismo
(ARAGÃO, 2006)
Ela também concorre com a razão instrumental em direções opostas, pois “lado-
a-lado” disputam por objetivos díspares. Ambas são forças poderosas. Técnica e
ciência, de um lado, interatividade comunicativa (com fins de entendimento), de outro.
Assim, a “igualdade de oportunidades” (direito à voz para todos) deve ser garantida na
prática de ações comunicativas.
[...] A ação comunicativa, portanto, como forma de mecanismo da coordenação das ações baseadas na intersubjetividade do entendimento lingüístico vai acarretar a total ausência de coerção, já que as posições assumidas deverão levar em conta a possibilidade de que venham a ser contestadas pelos demais, devendo provar-se por suas pretensões de validade, e não por qualquer influência externa ou pelo uso da força. Aqui o que está em questão é exclusivamente o potencial de racionalidade de cada posição assumida, e vencerá aquela posição que puder apresentar os melhores argumentos. Esse tipo de ação social, dessa forma, assume um caráter emancipatório, pois, na medida em que os homens pensam, falam e agem coletivamente de forma racional, estão se libertando não só das formas de conceber o mundo a si impostas pela tradição, como das formas de poder hipostasiadas pelas instituições. (ARAGÃO, 2006, p. 54-55)
50
Destacam-se, aqui, alguns estudos importantes na empreitada de atribuir uma
sustentação à TAC, a saber: 1. o desenvolvimento de uma teoria da modernidade a
partir do uso de conceitos de teoria da comunicação; 2. O estudo sobre a “perda de
sentidos das tradições culturais”; 3. As reflexões sobre o “giro lingüístico”. (ARAGÃO,
2002).
A pragmática universal é o estudo dos pressupostos implícitos em qualquer situação da fala ou diálogo. Um estudo da língua como processo, portanto, contrariamente à lingüística que estuda a língua como estrutura. A reconstrução racional das condições universais da comunicação humana é a pedra fundamental da teoria da ação comunicativa como um todo em todas as suas derivações. (SOUZA, 1996, p. 18)
Ocorre que a racionalidade consensual praticada entre “seres de fala” é
insuficiente para resolver os problemas das contradições de uma sociedade capitalista
desigual, posto que uma proposta de transformação da realidade não deve partir de
esforços consensuais. De modo que a ação comunicativa não radicaliza.
O legado de uma tradição kantiana (preocupada com a racional possibilidade de
universalizar as ações humanas) é incompatível com a linha discursiva do marxismo,
mais “terra-a-terra”. Entretanto:
[...] deve-se ser cuidadoso para evitar as armadilhas do fundamentalismo ou do transcendentalismo lingüístico. Na Introdução à Crítica da Economia Política, de 1857, Marx estabeleceu em que sentido a categoria trabalho é um conceito universal aplicável a todas as sociedades. Mostra que somente na medida em que os meios de produção capitalistas se tornaram estabelecidos, foram preenchidas as condições objetivas que permitiram a ele, Marx ter acesso a uma compreensão do caráter universal dessa categoria “trabalho”. Em relação a tal teoria da comunicação, deve-se usar o mesmo método de esclarecer como o capitalismo tardio objetivamente preencheu as condições que nos permitem reconhecer universais na estrutura da comunicação lingüística, fornecendo critérios para uma crítica que não pode mais estar baseada na filosofia da história. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 49-50)
51
Para Souza (1997, p. 13):
Sua validade universal, o que equivale dizer que é uma questão que obriga tanto um alemão, quanto um chinês ou brasileiro a dialogar com ela, parece-me residir no fato de ser, talvez, a tentativa mais radical de um pensador contemporâneo em revelar os pressupostos éticos da democracia moderna, indo de encontro à tendência hoje dominante de associar a política ao mercado, reduzindo-a ao seu aspecto funcional.
De fato, Habermas se empenha na busca de encontrar “rotas de fuga” para a
dramaticidade das patologias sociais da modernidade.
De certa maneira, compartilha com a visão weberiana de que a modernidade
aprisionaria os homens numa “gaiola de ferro”, selados num mundo totalmente
administrado: a razão comunicativa é uma maneira de libertar os homens da “gaiola de
ferro” de Max Weber, na medida em que reconhece o problema da “colonização do
mundo da vida” (FREITAG, 1993, p. 92), sendo que “as formas de vida” estão cada vez
mais “aprisionadas em sistemas autônomos” (mercado e administração). (ARAGÃO,
2002, p. 54)
Os modos de integração social antigos, que passavam os valores, as normas e um acordo obtido na comunicação, desaparecem. Quase todas as relações sociais são codificadas juridicamente: relações entre pais e filhos, professores e alunos, entre vizinhos. Essas reformas corrigem talvez as relações de dominação arcaicas. Mas provocam um desaparecimento burocrático da comunicação. Os esquemas de racionalidade econômica e administrativa invadem os domínios tradicionalmente reservados à espontaneidade moral ou estética. É isto que eu chamo de colonização do mundo vivido. (ARAGÃO apud HABERMAS, 2002, p. 54)
As preocupações que giram em torno da órbita da “linguagem” também se
refletem no centro gravitacional do universo jurídico.
Na visão do princípio do discurso, é necessário estabelecer as condições às quais os direitos em geral devem satisfazer para se adequarem à constituição de uma comunidade de direito e possam servir como medium para a auto-organização desta comunidade. Por isso, é preciso criar não somente o sistema de direitos, mas também a
52
linguagem que permite à comunidade entender-se enquanto associação voluntária de membros do direito iguais e livres. (HABERMAS, 1997, p. 146)
Entretanto, no sistema capitalista, não existe espaço para o entendimento
voluntário e pacífico entre membros do direito iguais e livres. Primeiro, porque não
existe igualdade no atual modelo de sociedade. Segundo, porque não há espaço para a
liberdade num mundo conduzido pela razão instrumental. Ou seja, no capitalismo as
relações entre os seres humanos são sempre tensas porque envolvem uma constante
luta pelo direito. O capitalista reivindica o estrito cumprimento de garantias contratuais.
O explorados, pressionados pelo dever contratual, reivindicam o perdão de dívidas.
O capitalismo, na sua razão de ser, é fonte de promoção das contradições e
desigualdades sociais. Ele se alimenta da exploração do trabalho humano para garantir
sua reprodução. (MASCARO, 2010)
Numa sociedade capitalista, a razão instrumental pensada na forma jurídica de
um contrato, trata-se de mais um poderoso recurso de dominação da classe burguesa.
Mesmo em respeito às formas jurídicas, ao procedimento deliberativo e à forma
democrática, longe estamos de obter um entendimento entre exploradores e
explorados, porque o capitalismo produz dissensos: o sistema precisa se alimentar das
contradições sociais, das crises econômicas e do fomento à exploração para se manter
em estado de reprodução. (MASCARO, 2010)
Ademais, as formas de vidas tornaram-se codificadas juridicamente e a figura do
contrato garante a dominação social. Com efeito, as relações sociais tecidas no mundo
capitalista, são constituídas artificialmente pelo caminho daquela forma jurídica. Logo,
sem este instrumento calculado e estratégico, as sociedades capitalistas não se
sustentam. (MASCARO, 2010)
Nesse contexto de ideias, é possível identificar uma contradição no pensamento
de Habermas: ao mesmo tempo em que critica um modelo de sociedade em que “quase
todas as relações sociais são codificadas juridicamente” (ARAGÃO apud HABERMAS,
53
2002, p. 54), aposta numa solidariedade conservada em estruturas jurídicas. (ARAGÃO,
2002)
As sociedades modernas mantêm sua coesão mediante o dinheiro, o poder administrativo e a solidariedade; solidariedade talvez não seja aqui uma palavra demasiado grande para referir-se à ação comunicativa cotidiana, às rotinas do entendimento, à orientação tácita por valores e normas, às discussões, mais ou menos argumentativas, que se produzem no espaço público [...] Ao insistir no sentido radical de nossa Constituição democrática, ao recordar a suposição de uma associação de membros livres e iguais de uma comunidade jurídica, que regulam sua convivência por meio de normas que eles próprios se impõem, não faço senão dirigir de novo o olhar para este terceiro recurso, que também se vê ameaçado em nossas sociedades, para uma solidariedade conservada em estruturas jurídicas, que deve ser regenerada a partir de contextos do mundo da vida que se mantenham medianamente intactos. Também meus trabalhos teóricos têm como ponto de fuga o imperativo de criar relações dignas do homem, nas quais se possa estabelecer um equilíbrio suportável e admissível entre dinheiro, poder e solidariedade. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 57)
Nas sociedades modernas há sempre um interesse calculado e estratégico em
jogo: não há espaço para a solidariedade no capitalismo. (MASCARO, 2010)
O capitalismo leva os indivíduos à perda da liberdade e do sentido; mesmo
assim, otimista, Habermas aposta numa solidariedade que pode passar por uma
análise de “fundamentação racional”. (ARAGÃO, 2002)
Por outro lado, o problema da “reificação, monetarização e burocratização,
aniquilam as formas tradicionais de integração social, afetando comportamentos no
nível de socialização”. (ARAGÃO, 2002, p. 54)
Essa sua nova forma de empreender a crítica da razão instrumental como crítica da razão funcionalista coloca o acento sobre as linhas de batalha entre o mundo da vida e o sistema, e não segue mais o paradigma marxista de interpretação, que visualiza o conflito central das sociedades como determinado pela sua divisão em classes portadoras de interesses antagônicos: “Esses são processos que não se encaixam mais no esquema da análise de classes. Mas pode-se demonstrar uma conexão funcional entre os conflitos centrais do mundo da vida e os requisitos da modernização capitalista. Tenho mostrado isso com
54
exemplos de política social, educacional e familiar também, até certo ponto, (com exemplos) de novos movimentos de protestos”. (ARAGÃO, 2002, p. 55)
A ruptura com o paradigma marxista de interpretação, entretanto, não ocorreu de
forma repentina. Houve um trajeto “reconstrutivo” na tarefa de revisão de seus
referenciais teóricos. (ARAGÃO, 2002)
Teve que rever a crítica ao Iluminismo, ao positivismo, ao marxismo ocidental, ao
weberianismo e, até mesmo, a própria teoria crítica sustentada pelos seus mestres,
para só então, a partir daí, fundamentar a teoria da ação comunicativa, uma proposta
que, segundo o próprio Habermas, inova a teoria social contemporânea. (ARAGÃO,
2002)
Tentando reabilitar as intenções originais da teoria crítica (formuladas na década
de 30), evidentemente, à sua maneira, buscou substituir o modelo crítico de dominação
(através das relações de produção), pelo modelo da crítica da cultura da modernidade,
passando então, a sustentar que, na perspectiva da teoria da ação comunicativa, os
conflitos fundamentais da sociedade contemporânea não ocorrem na estrutura
econômica (isto é, não são derivados da estrutura do sistema), mas são produzidos no
estágio superestrutural. (ARAGÃO, 2002) Entretanto:
[...] Habermas recorre a Marx, através da dinâmica de dominação de uma classe sobre as demais, e não a Weber. Ele tem que recorrer os limites de seu referencial interpretativo, uma vez que várias questões importantes, que expressam o paradoxo da racionalização societal, não ficam explicadas pela teoria da ação comunicativa, a saber: 1) por que a diferenciação dos sistemas de ação econômico e administrativo avança os limites do que é necessário para a institucionalização de dinheiro e poder? 2) por que os subsistemas constroem dinâmicas internas irresistíveis e sistematicamente solapam domínios de ação que dependem da integração social? [...] 4) por que a ciência moderna serve ao progresso técnico, ao crescimento econômico e à administração racional, mas não à compreensão que os cidadãos comunicativos têm de si mesmos e do mundo? [...] Uma explicação de tipo marxista aponta para a direção da dominação de classe constituída economicamente, que se retrai numa dinâmica interna anônima de processos de valorização desligados de orientações para usar valores. (ARAGÃO, 2006, p. 107)
55
Na década de 70, ofertou uma outra “substituição” categorial, qual seja a
mudança da categoria “práxis” e “trabalho”, pelas seguintes categorias: “mundo da vida”
e “linguagem”. Oposta a esta racionalidade comunicativa, Habermas apresenta a razão
funcionalista que se ocupa da função de “regular” e “reproduzir” as “esferas sistêmicas”.
(ARAGÃO, 2002, p. 164)
Tais questões servem para explicar os motivos pelos quais os imperativos do
sistema adentram em setores de ação estruturados comunicativamente “de tal modo
que o espaço aberto pela racionalização do mundo-da-vida não é utilizado para a
formação da vontade prático moral, para a auto-representação expressiva e para a
satisfação estética”. (ARAGÃO, 2006, p. 107)
Deve-se à dominação econômica de classe, o motivo pelo qual “os imperativos
sistêmicos se impõem em domínios que não se definem por necessidade de poder ou
dinheiro”. (ARAGÃO, 2006, p. 107).
Por outro lado, entretanto, ele crê que os efeitos da reificação nos domínios de ação estruturados comunicativamente não são específicos de uma situação de classe, mas das sociedades modernizadas de um modo geral. Diante de um antagonismo de classes, pacificado através de medidas do Estado de Bem-Estar, e em face do anonimato crescente das estruturas de classe, a teoria da consciência de classe perde sua referência empírica. Não tem mais aplicação para uma sociedade em que estamos cada vez mais incapacitados de identificar mundos-da-vida estritamente específicos a classes. (ARAGÃO, 2006, p. 108).
Com o passar dos anos, Habermas foi se dando conta de que “o nível de vida
das classes trabalhadoras tinha melhorado” e que a “revolução do proletariado” perdeu
seu sentido. (ARAGÃO, 2002, p. 219)
[...] onde o ponto essencial para ele parece ser o de dissociar a forma da racionalidade moderna do projeto de dominação de uma classe sobre as demais, embora admitindo que o predomínio de sua feição instrumental deva ser explicado pelo fato de que se teria mostrado o artifício perfeito para os objetivos de consolidação do modelo capitalista
56
e, portanto, desta classe social como dominante (como denunciou o marxismo ocidental). (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 220)
Habermas, por outro lado, desfere críticas à “razão funcionalista”: o
funcionalismo weberiano reside no fato de “só levar em conta os aumentos de
complexidade sistêmica, sem atentar para os movimentos estruturais de diferenciação
interna, ocorridos no mundo da vida, no plano da cultura, sociedade e personalidade”.
(ARAGÃO, 2002, p. 55)
A crítica habermasiana, nessa perspectiva, reside no fato de que o
neopositivismo funcionalista possui uma leitura viciada da sociedade capitalista. Eis o
erro: ele só consegue levar em conta o aumento da complexidade sistêmica, deixando
de lado os movimento estruturais de diferenciação interna produzidos no mundo da
vida. (ARAGÃO, 2002)
Na atividade de orientar-se para o entendimento, “as pessoas recorrem aos
sentidos gramaticalmente pré-determinados, visando socializar-se, compreender,
interpretar e agir no mundo”. (ARAGÃO, 2006, p. 43-44)
Os sujeitos, no cotidiano, que exercem os atos de fala criam “o contexto social da
vida”. Estabelecem, por exemplo, “os objetos simbólicos sob as mais diversas formas:
atividades e ações cooperativas, textos, tradições, documentos, bens, técnicas,
instituições, obras de arte, identidades e estruturas da personalidade”. (ARAGÃO, 2006,
p. 44)
Esse conjunto de objetos forma uma realidade estruturada simbolicamente, anteriormente a qualquer abordagem teórica desse mesmo domínio de objetos. A esta realidade pré-estruturada simbolicamente, a esse conjunto de sentidos gramaticalmente pré-determinado, Habermas denomina “mundo-da-vida”. [...] Esse “mundo-da-vida” intersubjetivamente partilhado forma o pano-de-fundo para a ação comunicativa, ou seja, ele forma, a partir da junção de três mundos, um sistema de referência que é pressuposto nos processos comunicativos, pois define aquilo sobre o que possivelmente pode haver qualquer entendimento. (ARAGÃO, 2006, p. 44)
57
O conceito sobre o mundo “não se trata de algo que empiricamente podemos
facilmente apontar (...) algo que todos nós temos sempre presente, de modo intuitivo e
não problemático, como sendo totalidade teórica não objetiva – como esfera de auto-
evidências quotidianas do common sense”. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2006, p. 47)
Enquanto totalidade, entretanto, ele escapa a toda captura teórica e só pode ser conhecido através das estruturas em que se desmembrou: cultura, sociedade e personalidade. Essas estruturas já não estão mais num contexto de referências capaz de sugerir uma totalidade. Todas essas estruturas, entretanto, não podem corporificar-se e reproduzir-se senão através do medium lingüístico, o que leva o autor a concluir que a linguagem é a estrutura das condições de possibilidades desse mundo vital, e a outorgar a ela também um caráter transcendental. (ARAGÃO, 2006, p. 46-47)
Por isso o mundo-da-vida é, ao mesmo tempo, “totalidade” e “multiplicidade”. E,
também, trata-se da esfera de “idealização” e de “realização” das ações e dos desejos
dos sujeitos falantes e ouvintes. Daí seu caráter “semitranscendental”, que depende da
própria linguagem: esta, por sua vez, serve para constituir as estruturas do mundo-da-
vida: “Ela adquire um status transcendental enquanto estruturas das condições de
possibilidade da prática comunicativa do mundo-da-vida, mas ao mesmo tempo,
enquanto linguagem natural, exercício de comunicação quotidiana, torna-se resultado
de realizações”. (ARAGÃO, 2006, p. 50)
Em Habermas, a linguagem [...] possui três funções, a saber: a representativa ou cognitiva, a apelativa e a expressiva. [...] A linguagem é, pois, o medium de constituição e reprodução das estruturas do mundo-da-vida, e tem como funções básicas fomentar o entendimento mútuo, permitir a coordenação das ações, e promover a socialização. [...] Por tudo isso, pode-se afirmar que a linguagem é o verdadeiro traço distintivo do ser humano, pois lhe atribui a capacidade de tornar-se um ser individual, social e cultural, fornecendo-lhe uma identidade e possibilitando-lhe partilhar estruturas de consciência coletiva. É por isso que Habermas afirma que a linguagem é exatamente aquela aptidão do ser humano que o distingue dos animais [...] (ARAGÃO, 2006, p. 50-51)
Por último, convém registrar que, na maioridade, baseado em Piaget e Kohlberg
(psicologia genético-estrutural), tentou correlacionar as diversas formas de
58
racionalidade e moralidade predominantes em dados momentos históricos, “buscando
explicar o sentido de uma evolução para estruturas de racionalidade cada vez mais
complexas e universais, uma evolução que percorre a trajetória inicial em sociedades
arcaicas até desembocar em sociedades contemporâneas”. (ARAGÃO, 2002, p. 21)
Tão certo é afirmar que, sem esta perspectiva evolutiva, dificilmente conseguiria
chegar a um conceito de razão comunicativa, a mais evoluída (na visão habermasiana)
e que atingiu o maior nível de racionalidade existente. (ARAGÃO, 2002)
Se a humanidade souber fazer um bom uso dela, Habermas entende que
consensos universais podem ser obtidos.7
A combinação do “arsenal teórico” weberiano e estruturalista (de viés kantiano),
lhe possibilitou acreditar, na década de 70, no potencial revolucionário das estruturas
de reflexão modernas e “na possibilidade de reversão da fatalidade da dominação,
através de outra forma de racionalidade em exercício, que não possa ser identificada
imediatamente com a funcionalidade da dominação”. (ARAGÃO, 2002, p. 21)
2.3 MATURIDADE INTELECTUAL: O INTERESSE PELA FILOSOFIA DO DIREITO
Maduro, envolve-se com questões de filosofia do direito, buscando estabelecer
um vínculo entre direito, política e democracia.
Sustenta que, o exercício da cidadania, para ser eficiente, depende da
institucionalização de canais de participação democrática – pelo caminho do próprio
direito –, propondo, para tanto, um modelo procedimental8, em que os cidadãos são
autores e destinatários das leis. (HABERMAS, 2003)
7 Não se pode descartar aqui a influência de Adorno e da abordagem fenomenológica de um mundo da
vida (como lugar de reprodução simbólica), contribuições iniciais que serviram de inspiração para a construção da ideia de “razão comunicativa”. Também, deve-se levar em conta – para a formação intelectual de Habermas – as influências de Austin e Searle nos estudos sobre a linguagem, atos de fala e ação comunicativa. (ARAGÃO, 2002) 8 Não se pode confundir o modelo procedimental com o procedimento.
59
Num ambiente democrático, o Estado precisa assegurar juridicamente a
autonomia pública e privada dos cidadãos, para que o sistema administrativo dê conta
de seu funcionamento. (HABERMAS, 1997)
A proposta do “funcionalismo habermasiano”, nesse sentido, não é de um
“sistema fechado”, isto é, autorreferencial e autossuficiente. Ao contrário, defende a
abertura de um sistema que precisa ser abastecido de interações sociais, criadas
espontaneamente no mundo vital. (ARAGÃO, 2002)
Além disso, defende a necessidade de circulação de opiniões e vontades
políticas com “livre trânsito” entre o sistema e o mundo da vida. (ARAGÃO, 2006)
Ao lado do poder do Estado existe o poder comunicativo de cidadãos que se
articulam no quotidiano (ARAGÃO, 2002). Portanto, a política é realizada não só no
âmbito do sistema; fora dele também é possível estabelecer relações políticas.
A legitimidade do direito não depende apenas de um procedimento estatal de
criação de uma norma (que vai desde um esboço de lei até a notícia de sua
publicação). Ela também conta com o engajamento político (deliberativo e participativo)
de cidadãos que participam energicamente daquele processo. De maneira que, na
visão habermasiana, sem democracia e participação ativa de cidadãos não é possível
atribuir validade ao direito. (ARAGÃO, 2002)
Ademais, modernidade, razão e democracia são temas atuais, possíveis de
serem entrelaçados com o estudo da filosofia do direito contemporânea.
A construção do primeiro projeto é reportada a Conhecimento e Interesse e a sua pragmática universal, culminando em sua Teoria do Agir Comunicativo. Depois disso, ali são colocadas críticas a respeito de suas posições em relação à modernidade. A constituição do segundo projeto teria sido iniciada com a Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio, modificada com a Teoria do Agir Comunicativo, e, finalmente, se sedimentado em torno da democracia constitucional, somente na década de 90, com Direito e Democracia. Esta trajetória refletiria a passagem de um viés socialista para uma versão de feitio liberal, embora crítico, tanto das tendências liberais de privilegiar os direitos individuais (a autonomia privada) sobre a autonomia coletiva,
60
quanto das tendências republicanas e comunitaristas de subordinar o individual à autonomia coletiva. (ARAGÃO, 2002, p. 64-65)
Primeiramente, a questão da modernidade traz para si a discussão da alteração
da “visão de mundo” tradicional para a “visão de mundo” das sociedades pós-
industriais, de um capitalismo tardio. Nesse contexto, também se discute o problema
das patologias sociais, na esfera da socialização, da cultura e da interação social.
Sistema e mundo da vida também são categorias que podem ser alocadas na
discussão sobre a modernidade. (ARAGÃO, 2002)
Em segundo lugar, a questão da razão chama para dentro de si a discussão do
conhecimento e da verdade. A razão solipsista, de origem cartesiana, não se sustenta
na modernidade. Fundada no sujeito, difere-se da razão comunicativa, dialógica.
(ARAGÃO, 2002)
Diante do “desencantamento do mundo” sustentado por Weber, de uma
Lebenswelt composta por diversas formas de vida e de um sistema cindido em “esferas”
autônomas (econômica e administrativa), Habermas tenta buscar uma possível “saída”
para a emancipação social, pelo caminho da razão comunicativa. (ARAGÃO, 2002)
Finalmente, em terceiro plano, a questão da democracia traz para o centro
gravitacional de ideias as categorias do direito, da política, da cidadania e da esfera
pública. Apresenta duas tradições teóricas sobre o problema da democracia: de um
lado a lockeana, de tendência liberal, de outro, a republicana, orientada a partir do
pensamento de Rousseau.
O modelo procedimental de criação de leis democráticas, movimentado pela
política deliberativa é ofertado como um modelo teórico que transcende o reducionismo
das tendências liberais e republicanas. (ARAGÃO, 2002)
Deliberação (lat. deliberatio para consideração, reflexão, deliberação, apreciação, mas também: decisão após consideração feita eventualmente também: período de reflexão) significa a decisão tomada por meio de discussão, ao invés de ordem. A decisão não está situada no nada normativo, como em Carl Schmitt, mas muito mais ela exige a
61
deliberação a fim de que, no processo de tomada de decisão, se mencionem também os respectivos argumentos. Ela é a forma civil da decisão política e a característica de todos os grêmios de iguais. Na qualidade de sociólogo, pode-se observar as estruturas dos grêmios deliberativos e inquirir se, nesse caso, é assegurada igualdade verdadeira aos participantes ou se são estruturas submetidas à lógica do poder político, que podem chegar ao ponto de que a deliberação aconteça só pró-forma, ao passo que as decisões verdadeiras há muito tempo foram tomadas nos bastidores. O ponto forte da teoria de Habermas reside no fato de que ela não analisa o conteúdo ou o resultado da deliberação, mas a realização procedimental é especialmente decisiva para definir se as formas de formação da vontade são democráticas ou autoritárias. (SCHÄFER-REESE, 2009, p. 92)
Na visão habermasiana, o significado de justiça (que possui uma dimensão ética)
está na articulação democrática entre cidadãos que se organizam racionalmente.
Pergunta-se: Como escolhem as leis? Quais leis levam em conta? Como conduzem os
procedimentos? (ARAGÃO, 2002)
Nesse sentido, em Habermas, o problema da justiça não está situado no aspecto
substancial, isto é, de uma “eticidade concreta”. (ARAGÃO, 2002)
Os resultados de um debate público dependem de que as tomadas de posição
passem pelo filtro de um procedimento deliberativo, construído processualmente: sem
isso, as leis carecerão de legitimidade. (ARAGÃO, 2002)
A saída mais racional possível sempre tende à busca de um entendimento:
quando cidadãos confrontam suas pretensões políticas na esfera pública de maneira
racional e pacífica. (ARAGÃO, 2002)
Ele criticou, por exemplo, as duas formas de protesto conduzidas pelos
estudantes franceses em maio de 1968: o ativismo que “se vale de uma oportunidade
para a mobilização, só pela mobilização, mas não em função da realização
fundamentada e tacitamente promissora de objetivos”, e a satisfação masoquista que
alguns experimentavam “em converter, através de provocação, a violência sublime das
instituições em violência manifesta”. (SCHÄFER-REESE, 2009, p. 93)
62
Para Aragão (2002, p. 26): “Habermas, com sua filosofia do direito [...] impede
que se caia na tentação das soluções revolucionárias que, a pretexto de anular um
sistema de direito que é burguês e que, portanto, privilegiaria os interesses da classe
dominante, acabam por descambar para soluções autoritárias, que passam a liberdade
[...]”.
É chamado de “discurso prático” aquele que “põe à prova”, comunicativamente,
a validação da moral e do direito; distingue do “discurso teórico ou científico”
propriamente dito, que “põe à prova” as “verdades científicas” (tema de interesse da
filosofia do conhecimento). (ARAGÃO, 2002)
Na instância do “discurso prático”, Habermas vai discorrer sobre o direito e a
política.
No início dos anos 90, por exemplo, tentou esclarecer de que maneira o direito
“poderia vir a assegurar o exercício irrestrito da discussão pública, e a distribuição
eqüitativa do poder de representação política”, levando-se em consideração o discurso
prático. (ARAGÃO, 2002, p. 195)
Sim, porque para assegurar que todos os afetados pelas normas sociais gerais e decisões políticas coletivas possam participar de sua formulação, deve se recorrer a procedimentos que permitam a realização de um discurso prático, que só o direito pode garantir. É necessário, portanto que o próprio exercício democrático seja institucionalizado e tornado objeto de regulamentação jurídica. (ARAGÃO, 2002, p. 195)
A maneira habermasiana “não sistêmica” (em oposição ao filósofo Luhmann) de
conceber o direito, situa a legislação na dependência do poder comunicativo e da
“mobilização das liberdades comunicativas dos cidadãos, pois ao se organizar o Estado
de Direito, o sistema de direitos se diferencia numa ordem constitucional, na qual o
medium do direito pode tornar-se eficiente como transformador dos fracos impulsos
sociais e integradores da corrente de um mundo da vida estruturado
comunicativamente”. (ARAGÃO apud HABERMAS, 2002, p. 196)
63
A defesa do direito público burguês e do Estado constitucional de direito é última grande novidade política para Habermas! E poderíamos dizer que esta seria uma solução há muito ultrapassada, não fossem os novos termos pelos quais estes dois campos (direito e política) passam a ser constituídos, e a relação que passam a estabelecer com a sociedade civil. Na verdade tudo muda, quando se passa a conceber de outra forma o que já existe, embora mantendo as mesmas denominações. [...] o direito é o meio utilizado pelo autor para viabilizar as condições de igualdade da representação, criando reais possibilidades de uma democracia deliberativa [...] Numa teoria do direito apoiada na ação comunicativa, a lei só poderia ser o resultado de uma deliberação geral que obedecesse àqueles parâmetros da teoria do discurso de simetria de posições e igualdades de chances. Isto quer dizer que seria possível, apesar de todos os interesses diferentes e conflitantes em jogo na sociedade, através de um processo de argumentação racional e negociações públicas, fazer emergir uma vontade política racional, que seria expressa pela letra da lei. O que Habermas tem em mente é que no processo de confecção das leis, se este procedimento, ele próprio, está assegurado por determinações constitucionais, ou seja, de forma permitir a participação democrática possível, é muito natural esperar que, como resultado desse legislar obrigatoriamente democrático, possa emergir o interesse mais geral e as regulamentações mais igualitárias. Se todos, ou pelo menos, a grande maioria, tem direito a voz e voto, e no caso da lei obtida comunicativamente, esse direito teve efetivamente que ser exercido, através da participação na sua confecção, é de se supor que os interesses particulares, não universalizáveis, sejam excluídos. [...] Sim, porque os partidos institucionalizados trabalhavam, tanto internamente quanto em relação à sociedade civil, de forma puramente instrumental, para poderem sobreviver em meio ao jogo do poder político, transformando a política num balcão de negociações, e seus representantes, em ventrículos dos interesses partidários. E a grande novidade agora, devemos insistir, é que seja o direito, este meio institucional inerente ao Estado moderno, a cumprir essa função de mobilização e expressão das interações sociais naturalmente estabelecidas no mundo da vida, de tal forma que a política seja inundada pelo poder comunicativo. Sem esta repercussão, de uma legislação deliberada comunicativamente, a política perde sua legitimidade. Entretanto, mesmo assim, fica assegurado um papel coadjuvante não-desprezível àquelas organizações da sociedade civil, além daquele que indicamos acima: deverão exercer vigilância constante sobre os partidos, o judiciário e o executivo, sobre as outras instituições de modo geral para observar se estão praticando as regras da deliberação democrática. (ARAGÃO, 2002, p. 25-27)
A filosofia do direito de Habermas resolve dois impasses: O primeiro problema é
resolvido quando se opera a instrumentalização do Estado constitucional e do direito,
tornando-os como os principais caminhos de realização do agir comunicativo nas
64
relações sociais, “retirando em grande parte a fragilidade utópica” do pensamento do
autor alemão. (ARAGÃO, 2002, p. 26).
O segundo problema é solucionado quando se torna necessário impedir que a
sociedade civil invista em “soluções revolucionárias”.
[...] soluções revolucionárias que, a pretexto de anular um sistema de direito que é burguês e que, portanto, privilegiaria os interesses da classe dominante, acabam por descambar para soluções autoritárias, que passam a sacrificar a liberdade, e muito freqüentemente vidas, e na maioria das vezes a justificar novos privilégios, contrariando todos os princípios de igualdade, justiça e fim da opressão, pelos quais teriam sido inspiradas. (ARAGÃO, 2002, p. 26)
Com efeito, em defesa de Habermas, Aragão (2002, p. 26) tende a afastar as
orientações do marxismo (as filosofias críticas) para apostar no modelo e nas formas
jurídicas burguesas. Por outro lado, aproxima-se, de certa forma da utopia que defende
a importância do “agir social”, isto é, das lutas pelas construções utópicas do direito.
Entretanto, a utopia habermasiana é frágil. Longe de ser revolucionária, mantém-
se ainda presa às instituições burguesas.
Para Mascaro (2008, p. 158), “[...] Marx vislumbra os claros limites das utopias
burguesas, porque estas não podem se cumprir pela própria burguesia ou numa
sociedade burguesa”.
Aragão (2002, p. 27), portanto, investe na utopia habermasiana, portadora da
ideia de que o poder comunicativo é libertário. Ele conduz as organizações articuladas
da sociedade civil à prática da reivindicação. De modo que os cidadãos que atuam na
própria sociedade civil devem agir, constantemente, na vigilância dos partidos, do
judiciário, do executivo. Tão importante é a denúncia dos abusos cometidos pelo
mercado, bem como sobre as outras instituições de modo geral para observar se estão
praticando as formas da deliberação democrática. Esta visão reformista habermasiana,
por outro lado, prende-se à ideia burguesa de “autolegislação”.
65
Ocorre que “Na tradição do pensamento marxista, ao direito é reservado um
papel de dominação muito claro”. (MASCARO, 2008, p. 134).
Nas engrenagens do Estado, ao direito cumpre a função de chancela da propriedade privada, de segurança da vida e do patrimônio da burguesia, e há muito a crítica marxista identifica nos ideais jurídicos máscaras de uma estrutura social reificada. Pachukanis, que dentre os juristas marxistas talvez tenha ido mais longe na identificação do direito ao capital, percebe até mesmo na fundamentação ideológica do direito um fundo estrutural de ligação à forma mercantil. A Escola de Frankfurt, em outra vertente, também enxergou no papel do direito uma das formas do exercício da dominação contemporânea do capitalismo. Ernest Bloch, no entanto, na tarefa de reinterpretar a história do pensamento jurídico, salvará alguns sentidos utópicos do direito, que só se cumpriram numa nova dialética das relações sociais. (MASCARO, 2008, p. 134)
Caminhando em direção à utopia de Ernest Bloch é possível extrair a ideia de
que as “formas jurídicas burguesas” estão esgotadas, posto que, incapazes de
emancipar a sociedade e o próprio homem. (MASCARO, 2008)
Os juristas percorrem o itinerário contrário do de Bloch quando se tornam filósofos: saem do particular jurídico para os temas filosóficos universais. Os próprios filósofos não-juristas em geral tratam do direito incidentalmente dentro do problema político. [...] De toda a florada ética surgida no direito do pós-nazismo, Bloch pretende o caminho mais difícil, que é o de colocar em xeque os pressupostos de tais direitos éticos e também meramente técnicos, para ao final resultar numa postulação de filosofia do direito bastante original. Abominando o caráter conservador da filosofia do direito, que de modo geral oscila pendularmente entre o normativismo tecnicista e o moralismo metafísico, Bloch há de buscar na história as razões das lutas e das construções utópicas do direito. Seu pano de fundo é sempre a práxis, o agir social, as classes despossuídas que erigem referenciais utópicos, a história indigna que aspira à utopia da dignidade [...] A posição de Bloch dentro do marxismo jurídico é surpreendente. Bloch empurra a bandeira de um largo projeto de humanismo, que vê no marxismo a herança dos mais profundos sonhos de justiça já vislumbrados na história. Isto, no entanto, não faz de Bloch um vago humanista jurídico marxista, do tipo reformista que ainda considere e dê relevo ao direito e às instituições burguesas. [...] A utopia jurídica de Bloch se dirige à solidariedade, ao direito à comunidade, à dignidade como postulado da ação e da coordenação social. A ontologia desta utopia jurídica é o próprio fim do direito e do Estado e, pois, do poder dominador de classe. (MASCARO, 2008, p. 131-175)
66
Em defesa de Habermas, Aragão também se posiciona de maneira reformista,
quando afirma: “do nosso ponto de vista, política deliberativa, representação legítima,
poder efetivamente democrático a partir de procedimentos regulados
constitucionalmente, pluralismo político, inclusão a mais completa possível
democratização das instituições, interesses universalizáveis, todos estes parecem ser
valores altamente defensáveis”. (ARAGÃO, 2002, p. 26-27).
Mas, poderíamos ainda ser instados a esclarecer que situação social estaríamos buscando reproduzir ao defender estas posições ideológicas. Sem dúvida, um sistema social-democrata em que as desigualdades econômicas e sociais são minimizadas através da legislação social e de políticas públicas compensatórias. (No caso do Brasil fica mais difícil defender a reprodução de algo que nunca chegou realmente a se concretizar, pois, embora tenhamos uma legislação bastante avançada, sua aplicação nunca chegou a ser concretizada. E exatamente aí se demonstra a fragilidade de uma lei que é elaborada nos gabinetes, de cima para baixo, por um poder específico, que não é produto da participação de todos, e que precisa então “ser aplicada”). Também a defesa da vigência do Estado de direito e do “império da lei” como a única forma de assegurar igualdade e justiça, sobretudo se esta lei é pensada, como aqui, em termos de um agir comunicativo, que transforma em autolegislação. (ARAGÃO, 2002, p. 26-27).
Portanto, na maturidade intelectual, Habermas tem acreditado que o Estado de
direito moderno, na sua mais alta forma democrática, contribui no processo de tornar a
ação comunicativa factível: seu principal projeto. (ARAGÃO, 2002)
Apresentando um tipo de discurso reformador tenta mesclar o legalismo com a
ética do engajamento político de cidadãos autores e destinatários das leis (que
modelam o Estado constitucional e organizam a sociedade com base em
procedimentos racionais – e não em discursos emocionais ou apelativos, a exemplo do
que ocorreu no Estado nazista).
Acredita que sua proposta de cidadania é emancipatória e que ainda há
esperança no modelo de Estado Constitucional que herdamos das tradições liberais
(Locke) e republicanas (Rousseau). Enfim, acredita que mesmo numa modernidade
abalada pela perda da liberdade e pela perda de sentidos, existem motivos racionais
para continuarmos apostando nas instituições burguesas, no modelo de Estado
67
constitucional e no próprio direito burguês: o direito, este meio institucional inerente ao
Estado moderno, passa a cumprir “a função de mobilização e expressão das interações
sociais naturalmente estabelecidas no mundo da vida”. (ARAGÃO, 2002)
Portanto, ele dá relevo ao direito moderno (que é estruturalmente burguês) e às
instituições burguesas (que seguem a tradição liberal e republicana). (ARAGÃO, 2002)
68
3 OS TRAJETOS DO PENSAMENTO HABERMASIANO
3.1 MUDANÇA ESTRUTURAL DA ESFERA PÚBLICA (1962)
Sob a influência de Adorno, envolveu-se com a discussão sobre o tema da
indústria cultural; paralelamente, com base na sustentação da existência de uma “razão
pública” independente – originalmente utilizada no século XVIII por uma categoria de
burgueses ilustrados – ofertou um conceito original de esfera pública. (ARAGÃO, 2002)
A formação moderna da opinião pública ao longo do Iluminismo ocorre inicialmente em espaços íntimos de discussão de idéias, com apresentação em primeira-mão das obras, transferindo-se, depois, para os debates mediatizados pelos meios impressos, por meio da colaboração de uma intelectualidade crítica nascente (HABERMAS, 1984, p. 213)
Resgatou a discussão da subjetividade, teorizada por Hegel, para trabalhar com
ideia de uma subjetividade burguesa, um combustível teórico usado para a criação de
uma esfera pública literária autônoma em relação ao Estado, “a qual a partir das trocas
de experiências acerca da nova privacidade, possibilita uma autocompreensão dos
sujeitos e uma tematização dos dramas da vida interior – vide drama burguês e o
romance psicológico – que se originam na esfera interna da pequena família”. (SOUZA,
1997, p. 15)
Essa subjetividade burguesa além de estar liberta dos grilhões da tradição,
serviu de fundamento para a formação de uma esfera pública. (SOUZA, 1997)
Aqui tematizam-se não só os fundamentos da vida em comum segundo um novo patamar de racionalidade. Não mais a violência ou o recurso da tradição são decisivos para a legitimação da ação política. As pessoas privadas reunidas num público apresentam-se como uma esfera regulada pela autoridade, mas dirigida contra ela, na medida em que o princípio de controle que o público burguês contrapõe à dominação tradicional pretende modificar a dominação enquanto tal. O público literalmente cultivado implica uma igualdade das pessoas
69
cultas, com opinião, igualdade essa indispensável para a legitimação do processo básico da esfera pública: a discussão baseada em argumentos. Pelo lado do público, isso significa o reconhecimento de uma força interna à comunicação, exigindo a desconsideração de fatores sociais externos como privilégios, situação econômica, etc. Pelo lado do Estado, esse fato leva à necessidade de justificação da ação política, segundo os mesmos princípios. (SOUZA, 1997, p. 15)
Entretanto, a esfera pública burguesa, que foi independente na sua origem,
desmoronou. Isto ocorreu devido ao aumento da intervenção estatal no universo
familiar – comprometendo sua autonomia –, à transformação da imprensa em grande
indústria manipuladora de informações e, à formação da indústria cultural. (ARAGÃO,
2002)
Nesse contexto, o problema da mudança estrutural da esfera pública está
associado à discussão da teoria da razão instrumental dos frankfurtianos. (ARAGÃO,
2002)
Verificou-se que a burguesia obteve o controle da informação, ao mesmo tempo
em que conquistou o poder de direção da comunicação dirigida ao público. Sem ser
propriamente uma “autoridade estatal” ela assumiu a posição de “autoridade” da
informação. (ARAGÃO, 2002)
Historicamente, portanto, surgiu uma “nova categoria de burgueses”: os que não
só laboram na formação da opinião, mas que também desempenham suas funções na
administração pública (ARAGÃO, 2002, p. 179)
Na obra em questão, estabelece uma divisão entre esfera do poder público e
esfera da opinião pública. A primeira versa sobre o Estado, “enquanto poder ou setor
público [...] que se expressa no monopólio do uso da força e responsável pela
administração dos interesses da sociedade”. (ARAGÃO, 2002, p. 179)
A segunda, diz respeito à sociedade, formada pelos interesses privados, no
interior da qual é possível identificar uma “esfera da opinião pública, que se contrapõe
ao poder público”. (ARAGÃO, 2002, p. 179)
70
O setor privado, portanto, abrange tanto o campo da sociedade civil, enquanto setor de troca de mercadorias e de trabalho social, quanto a esfera pública política, definida como “esfera de pessoas privadas reunidas num público; elas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais do intercâmbio de mercadorias e trabalho social”. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 179-180)
Para Aragão (2002, p. 182):
O surgimento de um público enquanto tal se dá com a criação dos concertos pagos, uma vez que a música tivera anteriormente sempre uma função de representatividade pública (ligada aos serviços religiosos às festividades sociais da corte, etc..), o que restringia imensamente as oportunidades dos burgueses ouvirem música, a não ser nas igrejas ou na sociedade aristocrática. [...] E, em todos esses campos da arte, surge uma luta em torno do julgamento dos leigos, do público enquanto instância crítica, onde, até então, apenas um círculo restrito de entendidos tinha a competência do especialista, ligada a privilégios sociais.
Por outro lado, a consolidação de uma família burguesa representa a esfera do
privado.
Os burgueses julgavam que o espaço da sua vida privada, familiar, era independente dos ditames colocados pelo setor privado do mercado e, como tal, reino da pura humanidade. Tal representação da família lhes conferia uma autonomia em relação à coação social e às relações de poder econômico-políticas, pois acreditavam estar a instituição familiar baseada apenas na vontade de indivíduos livres e na permanente comunhão amorosa dos cônjuges, cabendo-lhe a função de resguardar o livre desenvolvimento das faculdades das pessoas cultas. A família burguesa, portanto, como locus do cultivo do livre-arbítrio, da comunhão de afeto e da formação pessoal, incluindo aí a formação da personalidade, permitia a formulação de um conceito novo de humanidade, que se pretendia inerente a todos os homens, definindo-os por estes traços como “humanos”, sem a necessidade de evasão para o transcendental, a fim de escapar da coação da ordem vigente. (ARAGÃO, 2002, p. 183).
71
Habermas equiparou “a emancipação psicológica dos homens” à emancipação
política da classe burguesa, pois os proprietários de bens e mercadorias se “vêem
como autônomos em relação às diretivas e controles estatais, decidindo livremente de
acordo com as leis do mercado e a busca de rentabilidade” (ARAGÃO, 2002, p. 183)
A subjetividade oriunda da intimidade “pequeno familiar” dá origem a uma
literatura e a um público leitor de pessoas privadas, que desejam discutir publicamente
o que foi lido, em ações opostas ao “privilégio do segredo do Estado” (ARAGÃO, 2002,
p. 184)
Com a criação da imprensa e da crítica de arte profissional, surgem instituições que serão refuncionalizadas para a esfera pública política, onde a discussão não girará mais em torno de questões íntimas, subjetivas, mas de questões privadas, relativas às tarefas propriamente civis de regulamentação de trocas de mercadoria, e o diálogo estabelecer-se-á com base na discussão pública da disputa dos proprietários privados com o poder público. (ARAGÃO, 2002, p. 184)
Para Habermas (1984, p. 68):
O processo ao longo do qual o público constituído pelos indivíduos conscientizados se apropria da esfera pública controlada pela autoridade e a transforma numa esfera em que a crítica se exerce contra o poder do Estado realiza-se como refuncionalização da esfera pública literária, que já era dotada de um público possuidor de suas próprias instituições e plataformas de discussão. Graças à mediatização dela, esse conjunto de experiências da privacidade ligada ao público também ingressa na esfera pública política.
3.2 TÉCNICA E CIÊNCIA COMO IDEOLOGIA (1968)
Nessa obra, aborda a questão e o conceito de “racionalidade”, “assunto
introduzido por Weber do qual Marcuse se apropria para afirmar que em nome dela
(“racionalidade”), existe uma forma determinada de dominação política oculta”.
(HABERMAS, 1970, p. 45)
72
O significado weberiano de “racionalidade” está associado “à atividade
econômica capitalista, bem como ao direito privado burguês e à dominação
burocrática”. (HABERMAS, 1970, p. 45)
Porque a racionalidade deste tipo só se refere à correcta eleição entre estratégias, à adequada utilização de tecnologias e à pertinente instauração de sistemas (em situações dadas para fins estabelecidos), ela subtrai o entrelaçamento social global de interesses em que se elegem estratégias, se utilizam tecnologias e se instauram sistemas, a uma reflexão e reconstrução racionais. Essa racionalidade estende-se, além disso, apenas às situações de emprego possível de técnica e exige, por isso, um tipo de acção que implica dominação quer sobre a natureza ou sobre a sociedade. A acção racional dirigida a afins é, segundo a sua própria estrutura, exercício de controlos. Por conseguinte, a racionalização das relações vitais segundo critérios desta racionalidade equivale à institucionalização de uma dominação que, enquanto política, se torna irreconhecível: a razão técnica de um sistema social de acção racional dirigida a fins não abandona o seu conteúdo político (HABERMAS, 1970. p. 46)
Apontou para o fato de que Marcuse (Industrialisierung und Kapitalismus um
Werk Max Weber – 1965) reconhece que o conceito de razão técnica “é pura ideologia”.
(HABERMAS, 1970, p. 49)
Não só na sua aplicação, mas a própria técnica é “dominação metódica,
científica e calculada sobre a natureza e sobre o homem também”. (HABERMAS, 1970,
p. 46)
No horizonte do pensamento de Marcuse, a técnica é “um projeto histórico-social
[...] nele se projeta o que uma sociedade e os interesses nela dominantes pensam fazer
com os homens e com as coisas”. (HABERMAS, 1970, p. 50)
No contexto materialista, também Bloch desenvolveu o ponto de vista de que a racionalização da ciência, desfigurada em termos capitalistas, rouba também à técnica moderna a inocência de uma simples força produtiva. Mas só Marcuse converte o conteúdo político da razão técnica em ponto de partida analítico de uma teoria da sociedade tardo-capitalista. (HABERMAS, 1970, p. 50)
73
A análise de sociedade de Marcuse busca fundir “Técnica e Dominação”,
“Racionalidade e Opressão”, além de supor que “a ciência se oculta num projeto de
mundo determinado por interesses de classe e pela situação histórica”. (HABERMAS,
1970, p. 50)
Em algumas passagens, Marcuse sente-se tentado a enlaçar esta ideia de uma nova ciência com a promessa, familiar na mística judaica e protestante, de uma ressurreição de natureza caída: um topos que, como se sabe, entrou na filosofia de Schelling (e de Baader) através do pietismo suábio e reaparece nos Manuscritos de Paris em Marx e, hoje, constitui a idéia central da filosofia de Bloch e, de forma reflexiva, alimenta também as esperanças mais secretas de Benjamin, Horkheimer e Adorno. (HABERMAS, 1970, p. 50)
Também discutiu a relação entre “Trabalho e Interacção”, esclarecendo algumas
notas sobre a filosofia do espírito de Hegel, proferida em Iena nos anos 1804/1805 e
1805/1806. Em Iena, Hegel apresentou lições sobre a natureza (Natur) e o espírito
(Geist). Sua “filosofia do espírito” religa-se ao “sistema da eticidade”. (HABERMAS,
1970, p. 11)
Habermas alegou que as lições de Hegel foram influenciadas “por estudos de
economia política e que a investigação marxista de Hegel chamou sempre a atenção
para esse ponto”. (HABERMAS, 1970, p. 11)
As categorias linguagem, instrumento e família designam três modelos básicos igualmente primitivos de relações dialéticas: a representação simbólica, o processo do trabalho e a interacção que tem lugar com base na reciprocidade estabelecem uma mediação entre sujeito e o objeto, cada qual à sua maneira. A dialéctica da linguagem, do trabalho e da relação ética está desdobrada em cada caso como uma figura especial da mediação; não se trata ainda de etapas que estariam constituídas segundo a mesma forma lógica, mas de diferentes formas da própria construção. Uma radicalização da minha tese poderia rezar assim: não é o espírito no movimento absoluto da reflexão sobre si mesmo que, entre outras coisas, também se manifesta na linguagem, no trabalho e na relação ética, mas é precisamente a relação dialética de simbolização lingüística, de trabalho e de interacção que determina o conceito de espírito. (HABERMAS, 1970, p. 12)
74
Ademais, quando discorreu sobre “Trabalho e Interação”, Habermas trabalhou
com as seguintes categorias da filosofia hegeliana: “lógica subjetiva”, “totalidade”,
“universalidade absoluta” e “o Eu como identidade universal e do particular”.
(HABERMAS, 1970)
Hegel chama trabalho à forma específica da satisfação das necessidades, que distingue da natureza o espírito existente. Assim como a linguagem infringe a imposição da intuição e ordena o caos das múltiplas sensações em coisas identificáveis, assim o trabalho infringe a imposição do desejo imediato e suspende, por assim dizer, o processo de satisfação das necessidades. E assim como o meio era, além, constituído pelos símbolos lingüísticos, aqui, é o mesmo constituído pelos instrumentos, nos quais se sedimentam as experiências generalizadas do que trabalham com os seus objectos. O nome é o permanente perante o momento fugaz das percepções. Igualmente, o instrumento é universal frente aos momentos evanescentes dos desejos e do gozo. (HABERMAS, 1970, p. 12)
Para Haddad (2004, p. 17), em análise da obra, lança a seguinte observação: “O
nome das coisas e o instrumento de trabalho são, assim, o que permanece das
percepções fugazes e das atividades laboriosas, respectivamente; são universais que
se fixam pelas regras de sua utilização”.
A modernidade vem tentando reorganizar os contextos comunicativos da
interação, “embora se trate de uma interacção consolidada de forma natural, segundo o
modelo dos sistemas tecnicamente progressivos da acção racional relativamente a fins
[...]”. (HABERMAS, 1970, p. 12)
Ressaltou, ainda, para o fato de que “a ideia de uma progressiva racionalização
do trabalho modernamente se encontra presa a um conjunto de representações
históricas do desejo humano”. (HABERMAS, 1970, p. 12)
Embora a fome reine ainda sobre dois terços da população mundial, a eliminação da fome já não é nenhuma utopia no sentido pejorativo. Mas, o desencadeamento das forças produtivas técnicas, incluindo a construção de máquinas capazes de aprender e de exercer funções de controlo, que simulam todo o círculo funcional da actividade instrumental muito além das capacidades da consciência natural e substituem as realizações humanas, não se identifica com a formação
75
das normas que possam consumar a dialéctica da relação ética numa interacção isenta de dominação, com base numa reciprocidade que se desenvolve sem coacções. A emancipação relativamente à fome e à miséria não converge necessariamente com a libertação a respeito da servidão e da humilhação, pois não existe uma conexão evolutiva automática entre trabalho e interacção. [...] nem a filosofia real de Iena nem a Ideologia alemã esclareceram de forma satisfatória – pelo menos, podem convencer-nos da sua relevância: dessa conexão entre trabalho e interacção depende essencialmente o processo de formação do espírito e da espécie. (HABERMAS, 1970, p. 42-43)
Habermas também apresentou um conceito de técnica no sentido de uma
“disposição cientificamente racionalizada sobre processos objectivados”. (HABERMAS,
1970, p. 43)
Referiu-se, assim, ao sistema em que a investigação e a técnica “se encontram
com a economia e a administração”. (HABERMAS, 1970, p. 42)
Sobre a relação entre “técnica e democracia”, lançou uma questão: “como pode
restituir-se a capacidade da disposição técnica ao consenso dos cidadãos que
interagem e entre si discutem?”. (HABERMAS, 1970, p. 43)
Tentou extrair uma resposta a partir da teoria marxiana: “Marx criticou a conexão
da produção capitalista que se autonomizou perante a liberdade produtora, perante os
próprios produtores”, pois “através da forma privada de apropriação dos bens
socialmente produzidos, o processo técnico de manufatura de valores de uso cai sob a
lei alheia do processo econômico de uma geração de valores de troca”. (HABERMAS,
1970)
Logo que reconduzimos esta legalidade própria da acumulação do capital à sua origem, que é a propriedade privada dos meios de produção, a espécie pode divisar a coacção econômica como uma obra alienada da sua liberdade produtora e, em seguida, pode também eliminá-la. Por fim, a reprodução da vida social pode ser racionalmente planificada como um processo de produção de valores de uso: a sociedade põe esse processo sob seu controlo técnico. Este exercer-se-á democraticamente segundo a vontade e o entender dos indivíduos associados. Mas Marx equipara o discernimento prático da união pública e política a uma disposição técnica bem sucedida. Entretanto, sabemos que a burocracia planificada que funcione bem (e o controlo
76
científico da produção de bens e das prestações de serviços) não é uma sociedade emancipada, das forças produtivas materiais e ideais unificadas. (HABERMAS, 1970, p. 102)
Marx não contou com o fato de que, entre “o controle científico sobre as
condições materiais de vida e uma formação democrática da vontade”, a todos os
níveis, pudesse surgir uma discrepância: “eis a razão filosófica por que os socialistas
nunca esperaram o Estado autoritário do bem-estar, a saber, uma garantia relativa de
riqueza social com exclusão da liberdade política”. (HABERMAS, 1970, p. 102)
Na visão do sociólogo Jessé Souza (1997, p. 16), “o aumento da intervenção
estatal no universo familiar, comprometendo sua autonomia; a transformação da
imprensa em grande indústria; e a formação da indústria cultural”, tratam-se de
fenômenos sociais apresentados pelo próprio Habermas na “Mudança Estrutural da
Esfera Pública”. Enfim, foram acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento
de uma teoria sobre as patologias sociais, identificadas na modernidade, por
Habermas, em nível de “cultura”, de “personalidade” e de “sociedade”.
Para o sociólogo, aqueles eventos históricos “sinalizam a colonização deletéria
dos princípios organizativos do Estado e da economia sobre o mundo da cultura e da
sociedade não institucionalizada”. (SOUZA, 1997, p. 16)
Em defesa de Habermas, o autor afirma que: “Contra Marx temos a afirmação do
conteúdo universalista das conquistas da moral burguesa, as quais não são meramente
ideológicas”. (SOUZA, 1997, p. 17)
Habermas propôs uma saída para as patologias sociais da modernidade, qual
seja “a democratização dos aparelhos institucionais”. (SOUZA, 1997, p. 17).
Nesse mister de buscar uma saída para os problemas que afligem a
modernidade, uma questão inquietou a mente do autor de Technik und Wissenschaft
als Ideologie, a saber: “como pensar numa alternativa para esta sociedade tecnificada e
monetarizada que reprime e reduz o espaço da consciência autônoma?” (SOUZA,
1997, p. 16)
77
O espaço da liberdade em sentido enfático, ou seja, a escolha segundo normas reflexivas internalizadas nos sujeitos, está ameaçado por instituições que se autonomizaram e, por meio de estímulos externos à consciência, de forma heterônoma, portanto, direcionam e orientam os comportamentos neste tipo de sociedade. (SOUZA, 1997, p. 17)
Essa faceta literária de Habermas é um indicativo de que, no interior da escola
de Frankfurt, pode ser considerado um crítico do próprio marxismo. Por outro lado,
parece usar as ferramentas teóricas do marxismo quando lhe convém.
O fato é que Habermas trabalhou muito mais com as obras de Weber, do que
propriamente com o pensamento de Marx, haja vista a insistente preocupação com a
questão da racionalidade, da subjetividade e da modernidade. (ARAGÃO, 2008)
Forte é a tendência do marxismo nos grandes debates sobre a reificação, luta de
classes, ideologia, alienação e exploração do sistema capitalista sobre as vidas
humanas.
Talvez, por isso, no contexto da década de 60, ao mesmo tempo em que
considera Marx um autor importante (mas não o principal no quadro de uma teoria
social), ataca-o.
Esse projeto, que é o projeto de toda a teoria crítica radical desde Karl Marx, precisamente, a questão de como pensar liberdade e a justiça em sentido enfático nas condições capitalistas, adquire um traço pessoal habermasiano a partir de uma intuição fundamental pensada tanto contra Karl Marx, quanto contra o marxismo da Escola de Frankfurt. Contra Marx, desconfia Habermas, assim como toda a escola de Frankfurt que o antecedeu, do otimismo marxista quanto ao poder libertador da ciência e da técnica. A filosofia da história implícita ao marxismo era a de que o progresso técnico e a afluência material daí resultante tornariam supérflua a dominação e a violência nas relações sociais. Sob o impacto do diagnóstico weberiano da época, que via a razão instrumental embutida na ciência e na técnica dominar todas as esferas da vida social, expulsando os conteúdos de significado e relegando os dilemas prático-morais a questões técnicas, passa a ser um aspecto essencial da teoria crítica pós-marxista, precisamente a distinção entre emancipação política e progresso técnico. A emancipação política deixa de ser uma conseqüência das contradições do capitalismo. Agora, a liberdade política tem que ser conquistada contra as tendências do desenvolvimento capitalista. (SOUZA, 1997, p. 17)
78
Ademais, Habermas propõe um conceito dual de sociedade, no intento de
explicitar o conceito de técnica e ciência, ao mesmo tempo, no contexto do capitalismo
tardio “como força produtiva e como legitimação ideológica”, buscando dar um sentido
ao conceito de “consciência tecnocrática”, isto é, “a consciência que não percebe a
diferença entre normas internalizadas e apelos externos empíricos [...] não registra a
distinção entre questões prático-morais e técnicas”. (SOUZA, 1997, p. 18)
Habermas, portanto, notou essa “dualidade” ao estudar os “conceitos de trabalho
e interação”. O estudo “refere-se tanto à ação instrumental quanto à escolha racional,
ao passo que a interação, diz respeito a normas aceitas intersubjetivamente e
mediadas simbolicamente”. (SOUZA, 1997, p. 18)
3.2.1 Trabalho e Linguagem
A quem cabe a primazia: trabalho ou linguagem? (HADDAD, 2004)
Fernando Haddad (2004, p. 19), no primeiro capítulo da obra “Trabalho e
Linguagem”, ao discorrer sobre a “dialética da comunicação imperfeita”, tenta responder
a questão.
Desconstrucionistas, filósofos da linguagem e pragmáticos defendem a primazia
da linguagem em relação ao trabalho, a exemplo de Habermas. (PAULANI, 2004)
Haddad (2004), em defesa do marxismo, ao propor uma renovação do
socialismo, ataca o pensamento de Habermas, valendo-se de uma estratégia que tenta
recuperar a dialética, para enfrentar os problemas de uma sociedade capitalista.
Na visão de Cohn (2004, p. 12), o socialismo presente em Haddad e a
preocupação de se recuperar a dialética no trato dos problemas contemporâneos,
“demonstra que o estreitamento da concepção de trabalho e do nexo entre este e a
linguagem em Habermas, repousa num notável paradoxo, considerando-se que está
em causa o grande teórico da ação comunicativa”.
79
É que em ponto decisivo da sua teoria, Habermas inadvertidamente opera com base na forma mais extrema da não-comunicação, o solipsismo, a forma acabada do ‘eu sozinho’ o completo fechamento significativo e cognitivo em relação ao exterior. Só que esse solipsismo não é da ordem do individuo, mas da sociedade. É um ‘solipsismo social’, pelo qual se concebe cada sociedade (no caso, cada grupo simples dos primórdios da humanidade) como esgotando no seu interior todas as possibilidades de comunicação, na qual se busca o entendimento indispensável à coordenação das ações, incluindo as do trabalho. (COHN, 2004, p. 12-13)
Em sua empreitada intelectual, Haddad (2004) fez um acurado estudo da obra
Technik und Wissenschaft als Ideologie. Despertou para o fato de que o jovem Hegel
(analisado por Habermas), na história do pensamento moderno, foi o pioneiro a estudar
a relação entre trabalho e linguagem.
Em primeiro lugar, “Hegel determina a precedência da linguagem em relação ao
trabalho”; em segundo lugar, embora Hegel estabeleça um paralelismo entre trabalho e
linguagem, concebe-os como dois vetores de mesma direção, mas sentidos contrários.
(HADDAD, 2004, p. 19-20)
[...] diferente do jovem Hegel, a maioria dos marxistas sugerem a primazia ontológica do trabalho frente à linguagem. Principalmente a partir de Engels, as abordagens marxistas fazem remontar a gênese da linguagem ao trabalho. Já no título de um dos ensaios de Engels, sobre o ‘papel do trabalho na transformação do macaco em homem’, está implícita a defesa da anterioridade do trabalho em relação à linguagem. (HADDAD, 2004, p. 19)
Na defesa de Marx, Haddad (HADDAD, 2004, p. 15) também sustenta que:
Como sublinha Marx, numa passagem que estabelece uma derradeira conexão entre trabalho e linguagem, “no próprio ato de produção mudam não só as condições objetivas, por exemplo, da vila nasce a cidade, da natureza selvagem o terreno arroteado etc., mas os produtores se modificam, tirando de si novas qualidades, se desenvolvendo e se transformando através da produção, criando novas forças e novas representações, novos modos de comunicação e nova linguagem”.
80
O “último Luckács”, por exemplo, buscou no trabalho “o modelo de todas as
atividades humanas, incluindo as propriedades estruturais da linguagem”. Assim, para
Haddad (2004, p. 19), o trabalho pode ser considerado “o fenômeno originário, o
modelo do ser social”.
Luckács sustentava que “a sociedade e a linguagem surgem do trabalho, não,
porém, em sucessão temporal”, mas concomitantemente, pois o que se deve levar em
conta “é a prioridade ontológica”, e “não a anterioridade histórica”. (HADDAD, 2004, p.
19-20)
Haddad (2004, p. 20), também pôde constatar que Adorno e Horkheimer, na
Dialética do esclarecimento, trataram sobre a relação entre trabalho e linguagem, sem
contudo “estabelecer uma prioridade ontológica entre aquelas categorias, como fez
Luckács”.
Tanto para Adorno, quanto para Horkheimer, a divindade mítica “é a petrificação
do medo dos homens diante da supremacia da natureza [...] essa petrificação do medo
é a condição da sua superação, pois a desmitologização promovida pelo
esclarecimento, que finalmente livra os homens do medo, nada mais é do que um
produto da radicalização da angústia mítica”. (HADDAD, 2004, p. 20)
Portanto, o mito tem uma relação muito estreita com a linguagem e o trabalho.
Ademais, o mito “nasce do grito do terror que dá nome ao insólito, estabelecendo a
distinção entre conceito e coisa; entretanto, o mito concomitantemente prescreve o
princípio da magia: a natureza não deve mais ser influenciada pela assimilação, mas
deve ser dominada pelo trabalho” (Adorno e Horkheimer). (HADDAD, 2004, p. 20)
Sem dúvida há para Adorno e Horkheimer uma conexão entre trabalho e linguagem, na medida em que ambos fundam-se naquele grito de terror que representa a tomada de distância do homem frente à natureza, sem a qual não pode haver nem verdadeira consciência que dá nomes, nem consciência astuta que trabalha. Mas eles não chegam a defender nem a prioridade ontológica do trabalho relativamente à linguagem nem a prioridade ontológica da linguagem relativamente ao trabalho. (HADDAD, 2004, p. 21)
81
Em Habermas, a cultura, as construções lingüísticas e as interações têm origem
no mundo-da-vida; não resultam do trabalho, isto é, não derivam das relações de
produção. (HABERMAS, 1983)
O marxismo tem um horizonte ainda mais profundo que a teoria do agir comunicativo de Habermas: o ser enquanto produtor – isto é, o homem mergulhado na sociedade a partir do entendimento das relações de produção, tendo em vista a divisão social em classes e o trabalho – é um nível de apreensão social que o marxismo possibilita e o habermasianismo da teoria do agir comunicativo, não. (MASCARO, 2010, p. 361-362)
De modo que Habermas não estabelece um vínculo de ideias “com o ser-
produtor”, e sim, com o ser “de fala”, que se interage socialmente através de ações
comunicativas (MASCARO, 2010)
Abandonou em seu projeto teórico a categoria trabalho, pois “o movimento
apresentado em O Discurso Filosófico da Modernidade, de substituir a dinâmica entre
trabalho e natureza pela dinâmica entre agir comunicativo e mundo-da-vida, mutila a
compreensão da reprodução social total”. (HADDAD, 2004, p. 43)
Habermas sustenta que a relação entre trabalho e natureza pressupõe
linguagem e, quando o trabalho transforma a natureza, ele “cria condições para a
expansão do universo lingüístico”. (HADDAD, 2004, p. 42)
Habermas não trabalha nas “brechas” para “construir um outro mundo”; contudo,
polemiza a necessidade de “reconstruir o mundo administrado”, a partir das ferramentas
institucionais existentes, através da perspectiva de um direito discursivo. A colonização
do mundo-da-vida pelo sistema é o grande vilão para Habermas. (COHN, 2004, p. 15)
A idéia, que desempenha papel importante na argumentação de Fernando Haddad, é a de que ‘o mundo administrado perdeu controle sobre si mesmo’, controle cuja última expressão foi a sociedade de bem-estar. Para um leitor de Adorno, como ele é isso não é dizer pouco. Não se proclama que o mundo administrado não mais exista, mas que está á solta. Dele não se pode esperar a retomada espontânea da capacidade de manter-se dentro dos parâmetros que tenha estabelecido por sua conta e conforme as sua necessidades (pois
82
isto seria o perdido controle sobre si). Mas há o outro lado disso. Outras forças sociais são chamadas não para reconstituir o mundo administrado, mas para trabalhar nas suas brechas para construir um outro mundo. Utopia descabelada, ou mais uma versão do minimalismo político? (COHN, 2004, p. 15)
Na visão de Mascaro (2010, p. 359), Habermas é um filósofo da modernidade,
que tem apostado na mesma, lançando-se “contra a pós-modernidade”.
O resultado de sua virada lingüística é a construção de sua teoria do agir comunicativo. Para Habermas, o fundamento da sociabilidade reside na comunicação, e, portanto, os problemas maiores da filosofia hão de se dirigir à questão do entendimento entre os indivíduos e os grupos sociais. O consenso passa a ser o objeto maior do projeto político habermasiano. O direito, nesse quadro, resultará como ferramenta superior do consenso. (MASCARO, 2010, p. 359)
Convém registrar que Haddad (2004, p. 193-194), em defesa do socialismo, faz
um ataque aos que apostam “na superação positiva da ordem vigente” pelo caminho
que nega a tradição marxista (”muito pouco ouvida politicamente, mas a mais
sofisticada teoricamente”), pois, 1. “o mundo administrado perdeu o controle (de leste a
oeste, de norte a sul)”; 2. “o modelo social de Estado Welfare State se desorganizou”; 3.
houve uma “desarticulação do Estado desenvolvimentista”. Além do mais, “o
descontrole da administração do mundo não estava no horizonte da tradição marxista”.
Haddad (2004, p. 41) também lança uma importante questão: “teria Marx
reduzido a ação comunicativa à razão instrumental ou, preferencialmente, foi Habermas
quem reduziu o trabalho à ação instrumental? Dito de outra maneira: a categoria “agir
instrumental” compreende, em toda a sua riqueza, a categoria trabalho, na acepção
marxista do termo, como uma modalidade?”
Marx, por exemplo, afirmara que o trabalho “não muda só as condições objetivas,
mas principalmente transforma as próprias condições subjetivas”. (HADADD, 2004, p.
41)
83
Habermas comete o equívoco de considerar o trabalho sob o ponto de vista exclusivo do agir instrumental orientado para o êxito. Toma a palavra trabalho no seu sentido grego, técnico e, por isso, não atenta para a sua função social geral. Daí Habermas utilizar progressivamente a expressão agir instrumental, até que em A Teoria do Agir Comunicativo, obra que consolida suas investigações anteriores, a palavra trabalho praticamente desaparece. Refiro-me ao fato de que o trabalho, ao libertar os homens de constrangimentos de ordem material, de fato libera o mundo discursivo. Adequar o mundo às necessidades humanas por meio do trabalho, ou seja, humanizar o mundo, não é outra coisa senão torná-lo legível e dizível. Portanto, a relação entre agir comunicativo e mundo da vida e a relação entre trabalho e natureza não se excluem mutuamente; antes, se entrecruzam e se interpenetram. (HADDAD, 2004, p. 41-42)
Assim, é plenamente possível derrubar a acusação de que Marx “não teria
explicado a conexão entre trabalho e interação”; conseguiu ir muito além, pois a tarefa
de analisar aquela conexão, foi feita de maneira dialética, visto que, o próprio Marx
“jamais viu o processo de trabalho como um processo meramente instrumental entre
homem e natureza, mas igualmente como um processo interativo, não apenas
estratégico, entre os homens”. (HADDAD, 2004, p. 42-43)
Nesse prisma, não convém lançar um olhar sobre esse contexto de ideias pelo
horizonte da dualidade, pois o processo social é dialético e não dual: “interação social
de um lado, reprodução material de outro; integração social de um lado, integração
sistêmica, de outro; mundo da vida, de um lado, sistema de outro; e, ação orientada
para o êxito de um lado, ação orientada para o acordo, de outro”. (HADDAD, 2004, p.
43)
Esses momentos estão reciprocamente vinculados; não se deve incorrer no erro
de “dissociar a relação entre homem e natureza da relação dos homens entre si”.
(HADDAD, 2004, p. 43)
Habermas, em O discurso filosófico da modernidade, “mutila a compreensão da
reprodução social total”, no momento em que estabelece a “substituição da dinâmica
entre trabalho e natureza, pela dinâmica entre agir comunicativo e mundo da vida”.
(HADDAD, 2004, p. 43)
84
É nesse sentido que se pode afirmar que há uma conexão entre a discussão sobre a linguagem em Marx e a discussão sobre a linguagem de Marx. Pois a dialética, ela própria, é vista por ele como o resultado do processo histórico de reprodução da vida material. A dialética é uma nova linguagem resultante da atividade de produtores que, através da produção, modificam-se, “tirando de si novas qualidades, se desenvolvendo e se transformando, criando novas formas e novas representações, novos modos de comunicação e um novo modo de produção que a reclama. E é essa nova linguagem a mais apropriada para descrever fenômenos sociais complexos, como é o caso das instituições que, por um barateamento das formulações de Marx, têm recebido da parte dos próprios marxistas um tratamento insuficiente”. (HADDAD, 2004, p. 45)
3.3 CONHECIMENTO E INTERESSE (1968)
Apresenta a “crise da crítica do conhecimento”, e, na “crítica” de Hegel a Kant,
oferece o seguinte debate: “radicalização ou supressão da teoria do conhecimento”? Ao
passo que, na crítica de Marx, dirigida a Hegel, apresenta o debate sobre a “síntese
mediante trabalho social”. E ao final, defende a tese de uma teoria do conhecimento
como teoria social. (HABERMAS, 1982, p. 37)
Alega, por exemplo, que Hegel “substituiu a tarefa da teoria do conhecimento
pela auto-reflexão fenomenológica do espírito”. (HABERMAS, 1982, p. 37)
O criticismo exige que o sujeito cognoscente, antes de depositar sua inteira
confiança naquilo que “sabe”, deve analisar “previamente as condições do saber
possível, em dado contexto”. Assim, é com o “auxílio de critérios fidedignos sobre a
validade de nossos juízos que podemos verificar se há sentido em estarmos seguros de
nosso saber”. (HABERMAS, 1982, p. 38)
Ao sustentar a dúvida radical, entre “o conflito” e o “raciocínio dialético”, Hegel
acaba atacando “o formal criticismo kantiano”, uma filosofia do conhecimento
demasiadamente transcendental. (HABERMAS, 1982, p. 38)
Hegel radicaliza o ponto de partida da crítica do conhecimento ao submeter seus pressupostos à autocrítica. Com isto ele desmantela a base fixa da consciência transcendental, sobre a qual demarcação
85
apriorística dos limites entre determinações transcendentais e empíricas, validade e gênese parecia estar totalmente segura. A experiência fenomenológica movimenta-se em uma dimensão onde as determinações transcendentais se autoconstituem. Nela não há um ponto de referência absolutamente seguro; tão-somente a experiência da reflexão permite, enquanto tal, ser esclarecida sob a epígrafe do processo formativo. Os degraus da reflexão, através dos quais a consciência precisa ascender, antecipando sua dimensão crítica, deixam-se reconstruir por meio de uma repetição sistemática da experiência constitutiva da espécie humana. (HABERMAS, 1982, p. 39)
Em três estágios, A Fenomenologia do espírito, busca realizar uma reconstrução,
seja pelo horizonte da socialização do indivíduo, seja pela história universal da espécie
ou pela história desta mesma espécie “auto-refletindo-se nas formas do espírito
absoluto, na religião, na arte e na ciência”. (HABERMAS, 1982, p. 38)
A consciência crítica, com a qual a teoria do conhecimento inaugura sua análise,
aparece como “produto da observação fenomenológica, tão logo a gênese de seu
próprio ponto de vista lhe tenha ficado transparente, a partir da apropriação do
processo formativo da espécie humana”. (HABERMAS, 1982, p. 39)
Ocorre que Hegel, assevera ao final da Fenomenologia do Espírito que, “a
consciência crítica é um saber absoluto, embora não tenha ofertado uma comprovação
diante dessa afirmativa”. (HABERMAS, 1982, p. 39)
Na verdade, ele nem podia de modo algum provar esse tipo de afirmação, já que seu método não satisfaz as condições formais de um trânsito fenomenológico pela história da natureza. De acordo com o ponto de partida da investigação fenomenológica, saber absoluto só seria concebível como resultado de uma repetição sistemática do processo formativo inerente à história humana e à natureza como movimento uno e único. É pouco provável, entretanto, que Hegel não tivesse apercebido de um “erro” tão primário. Se ele jamais duvidou, contra todo e qualquer argumento, que a fenomenologia do espírito devia conduzir e efetivamente conduziu ao ponto de vista do saber absoluto e, com isso, ao conceito da ciência especulativa, então isso fala antes a favor de uma autocompreensão de fenomenologia, a qual diverge da nossa. Hegel acredita que, com a investigação fenomenológica, a abordagem da crítica do conhecimento não se radicaliza mas torna-se supérflua”. Ele subentende que a experiência fenomenológica sempre já se mantém no medium de uma dinâmica absoluta do espírito e deva, assim, resultar no saber absoluto. Nós
86
seguimos, ao contrário, a argumentação sob a perspectiva de uma crítica imanente a Kant. (HABERMAS, 1982, p. 39-40)
Na visão de Habermas, a experiência fenomenológica (que não deixa de ser uma
“experiência de reflexão”) “não se mantém dentro dos limites de esquemas fixados
transcendentalmente” (diferente da experiência empírica); ao contrário, “na construção
da consciência que se manifesta revelam-se experiências fundamentais que
comprovam as alterações nas concepções de mundo e do agir”. (HABERMAS, 1982, p.
40)
A “experiência de reflexão” recorda os momentos emancipatórios da história da
espécie, “o que não exclui as iniciativas contingentes para a história transcendental da
consciência”. (HABERMAS, 1982, p. 41)
A fenomenologia não expõe o processo de desenvolvimento do espírito mas, sim, o de sua apropriação pela consciência; esta precisa libertar-se, antes de mais nada, da concreção exterior, rumo ao saber puro. É por isso que ela ainda não está em condições de ser ciência, muito embora possa reivindicar validade científica. (HABERMAS, 1982, p. 42)
Ao tratar sobre a metacrítica de Marx a Hegel, Habermas assevera que o autor
dos Manuscritos econômico-filosóficos (1844) cuida em seus capítulos finais, sobre o
“saber absoluto”, seguindo a estratégia de desobrigar a apresentação da consciência
que se manifesta de sua moldura idealista, com o propósito de evidenciar os elementos
nela contidos e típicos de uma crítica que “ultrapassa em muito o ponto de vista
hegeliano”. (HABERMAS, 1982, p. 60)
Nesse contexto de ideias, Marx trabalha a passagem da filosofia da natureza
para a filosofia do espírito, afirmando que “a Natur possui primazia absoluta frente ao
Geist, posto que, natureza não pode ser entendida senão como o ‘outro do espírito’, o
qual está no outro, simultaneamente, e consigo mesmo”. (HABERMAS, 1982)
Ao dispor sobre a ideia de uma teoria do conhecimento como teoria da
sociedade, Habermas assevera que “a chave interpretativa que Marx apresenta para a
Fenomenologia do espírito, contém a indicação para uma tradução instrumentalista dos
87
conceitos da filosofia da reflexão”, pois na visão de Marx, o grande mérito da
fenomenologia hegeliana, “é o fato de Hegel conceber a autocriação do homem como
um processo [...] Hegel concebe a essência do trabalho e o homem objetivado,
verdadeiro porque real, como resultado de seu próprio trabalho”. (HABERMAS, 1982, p.
60)
Ademais, “a ideia da autoconstituição da espécie pelo trabalho, deve servir de fio
condutor a uma apropriação desmistificante da Fenomenologia”; com efeito, “é sobre
esta base materialista que se dissolvem as hipóteses que impediram a Hegel de
alcançar os benefícios de sua crítica a Kant”. (HABERMAS, 1982, p. 60)
Para Habermas (1982, p. 60), seguindo essa ordem de ideias, “Marx subverte a
construção da consciência que se manifesta em uma exposição codificada da espécie,
que se produz a si mesma”.
[...] ele libera o mecanismo do progresso, encoberto em Hegel, na experiência da reflexão: é o desdobramento das forças produtivas que instiga a espécie a romper com uma forma de vida esclerosada na positividade e convertida em abstração. [...] Marx reduz a reflexão ao trabalho, iludindo-se acerca de seu alcance, posto que identifica a supressão-superação como movimento objetivado que recupera a exteriorização em si como uma apropriação de forças essenciais, externadas na ação do trabalho sobre um material” [...] Para Marx, como para Kant, um critério de sua cientificidade é o progresso metodicamente assegurado do saber. Marx não subentendeu esse progresso simplesmente como evidente, mas o avaliou de acordo com o grau de eficácia com que as informações científicas infiltram-se no fluxo da produção, ainda mais por estas não serem, segundo seu próprio sentido, outra coisa que um saber utilizável: em Marx, as ciências da natureza têm desenvolvido uma enorme atividade e se apropriaram de um material que avulta cada vez mais. De modo prático, a ciência ingeriu-se na vida humana, através da indústria, e a transformou [...] A indústria é o elo histórico-real da natureza e, em conseqüência, da ciência com o homem. (HABERMAS, 1982, p. 60-61)
Na opinião de Habermas (1982, p. 62), Marx jamais comentou explicitamente o
“sentido preciso de uma ciência do homem que, diferenciando-se do sentido
instrumentalista das ciências da natureza, fosse exercida como crítica ideológica”.
88
Alega que, o próprio Marx, estabeleceu a ciência do homem “na forma da crítica”
e não, como uma ciência da natureza: “ele sempre tendeu alocá-la ao lado das ciências
da natureza”. (HABERMAS, 1982, p. 62)
Ele não julgou necessário fornecer uma justificação cognitivo-crítica da teoria societária. Nisso se mostra que a idéia de autoconstituição da espécie humana, mediante trabalho social, foi suficiente para criticar Hegel, mas não bastou para realmente tornar inteligível o alcance da apropriação materialista desta crítica. (HABERMAS, 1982, p. 62)
Habermas (1982, p. 68) também afirma que, “a autoconstituição mediante
trabalho social é entendida, ao nível categorial, como processo de produção. O agir
instrumental (trabalho no sentido da atividade produtiva) indica a dimensão na qual a
história da natureza se move”.
Alega que, “ao nível de suas investigações materiais”, Marx conta sempre com
uma “práxis social, a qual engloba trabalho e interação”. (HABERMAS, 1982, p. 68)
Os processos histórico-naturais são mediados pela atividade produtiva do sujeito individual e pela organização de suas relações mútuas. Esta transação está submetida a normas que, através do poder coercitivo das instituições, decidem sobre o modo como competências e compensações, obrigações e deveres do orçamento social são distribuídas entre os seus membros. O medium no qual estas relações dos sujeitos e dos grupos são reguladas normativamente é a tradição cultural; ela forma os conjuntos semânticos da comunicação a partir dos quais os sujeitos interpretam a natureza e a si próprios em seu meio ambiente. (HABERMAS, 1982, p. 68)
Enquanto, o agir instrumental corresponde à coerção da natureza exterior, e “o
nível das forças produtivas determina o alcance da disponibilidade técnica sobre as
forças da natureza”, o agir próprio à comunicação está em relação direta com a
repressão da natureza de cada um: “o quadro institucional decide sobre o alcance de
uma repressão através do poder embrutecido da dependência social e da dominação
política”. (HABERMAS, 1982, p. 69)
89
A emancipação frente à coerção da natureza interna se processa à medida que instituições detentoras do poder coercitivo são substituídas por organizações da interação social exclusivamente comprometidas com uma comunicação isenta de dominação. Isto não acontece diretamente através da atividade produtiva, mas sim pela atividade revolucionária de classes sociais em luta (da atividade de ciências que refletem, inclusive). Tomadas em seu conjunto, ambas as categorias da práxis social possibilitam o que Marx, interpretando Hegel, chama de ato autogerador da espécie. Sua inter-relação, ele a vê realizada no sistema do trabalho social; é por isso que a “produção” se lhe afigura como sendo o movimento no qual o agir instrumental e o quadro institucional, isto é, “atividade produtiva” e “relações de produção”, aparecem apenas como modos distintos do mesmo processo. (HABERMAS, 1982, p. 69)
3.4 CRISE DE LEGITIMAÇÃO DO CAPITALISMO TARDIO (1973)
Nessa obra, dois assuntos revelam-se importantes. O primeiro, situado na parte
III do livro, versa sobre a sociologia de Weber. O segundo, disposto na parte I, capítulo
3, tece uma apresentação sobre as quatro formações sociais relevantes (a partir de
uma discussão do ponto de vista organizacional), a saber: primitiva, tradicional,
capitalista e pós-capitalista.9
Por princípios de organização eu entendo regulamentações altamente abstratas brotando com propriedades emergentes em degraus evolucionistas improváveis e caracterizando, em cada nível, um novo estágio de desenvolvimento. Os princípios organizacionais limitam a capacidade de uma sociedade aprender sem perder sua identidade. Conforme esta definição, problemas de condução podem ter efeitos de crise se (e só se) não puderem ser resolvidos dentro do alcance de possibilidade que é circunscrito pelo princípio organizacional da sociedade. Princípios de organização deste tipo determinam, em primeiro lugar, o mecanismo de aprendizado no qual o desenvolvimento das forças produtivas depende; determinam em segundo lugar, o alcance da variação dos sistemas interpretativos que asseguram a identidade; e finalmente fixam os limites institucionais para a possível expansão da capacidade de condução. (HABERMAS, 1999, p. 29)
Na visão habermasiana, o interesse pelo estudo das crises econômicas
eclodidas nas sociedades de classe tardiamente capitalistas “reside na exploração das
9 Todo tipo de sociedade, arcaica ou contemporânea, precisa de um conjunto de princípios de
organização social para se manter.
90
possibilidades de uma sociedade bem organizada”, isto é, na importância do
estabelecimento de “princípios de organização” (ou seja, de buscas por “saídas” para o
problema das crises econômicas; indica um caminho: os princípios de organização, sem
os quais uma sociedade carece de um bom funcionamento). (HABERMAS, 1999, p. 30)
Eu gostaria de ilustrar o que é significado por princípios sociais de organização e como definir tipos de crise que podem ser derivados deles em termos de três formações sociais. Estas observações vagas não pretendem simular nem substituir uma teoria da evolução social. Servem apenas para introduzir um conceito através de exemplos. Para cada uma das três formações sociais esboçarei o princípio determinante de organização, indicarei as possibilidades que abre a evolução social e deduzirei o tipo de crise que permite. Sem uma teoria da evolução social para nos basearmos os princípios de organização não podem ser aprendidos abstratamente mas apenas selecionados indutivamente e elaborados em referência à esfera institucional (sistema de parentesco, sistema político, sistema econômico) que possui primazia funcional para um dado estágio de desenvolvimento. (HABERMAS, 1999, p. 30)
Baseando-se em Parsons (Evolutionary and Comparative Perspectives) e Lévi-
Strauss (The Savage Mind), na formação social primitiva, “os papéis primários de idade
e sexo formam um princípio organizacional. O cerne institucional é o sistema de
parentesco, que neste estágio de transformação, representa uma instituição total”.
(HABERMAS, 1999, p. 31)
“Estruturas familiares determinam a totalidade do inter-relacionamento social,
garantindo, ao mesmo tempo, tanto a integração social como a sistêmica”. Atuam no
controle das crises. (HABERMAS, 1999, p. 31)
Tanto as visões de mundo, quanto as normas são construídas “em torno de
rituais e tabus que não requerem sanções independentes” (o místico e o jurídico, por
causa da eticidade única, constituem-se num todo. Logo, não há sanções
independentes e diferenciadas, a exemplo, da diferenciação kantiana entre o moral e o
jurídico). (HABERMAS, 1999, p. 32)
Em sociedades organizadas pelo parentesco, “as forças de produção não podem
ser aumentadas através da exploração da força de trabalho (elevando a média de
91
exploração através da força física) [...] O mecanismo de aprendizado, inserido no
âmbito funcional da ação instrumental conduz, através de largos períodos, à uma
sequência aparentemente ordenada de inovações menos fundamentais” (HABERMAS,
1999, p. 32)
Nos estágios de desenvolvimento da sociedade primitiva, parece não ser motivo para produzir mais bens que os necessários para a satisfação das necessidades básicas, até quando o estado das forças produtivas possa permitir um excedente. [...] é a mudança externa que sobrecarrega a capacidade de condução estreitamente limitada das sociedades organizadas ao longo de vias de parentesco e mina as identidades familiares e tribais. A força usual de mudança é o crescimento demográfico em conexão com fatores ecológicos, acima de tudo, as dependências interétnicas enquanto um resultado de mudança do ponto de vista econômico, da guerra e da conquista. (HABERMAS, 1999, p. 32)
Na formação tradicional social, o princípio de organização, permite um
“significante fortalecimento da autonomia do sistema, pressupondo, nesse viés, a
diferenciação funcional que torna viável a manipulação do poder e do dinheiro, assim
como a garantia dos mecanismos ‘reflexivos’, a exemplo do direito positivo”.
(HABERMAS, 1999, p. 32)
Mas [...] o crescimento em capacidade condutora é desenvolvida às custas de uma estrutura de classe fundamentalmente instável. Com a propriedade privada dos meios de produção, uma relação de poder é institucionalizada nas sociedades de classes, que a longo prazo ameaça a integração social; pois a oposição de interesses estabelecida na relação de classe representa um conflito potencial. Sem dúvida dentro do quadro de uma ordem legítima de autoridade, a oposição de interesses pode ser mantida latente e integrada por um certo tempo. Esta é a conquista das ideologias ou visões de mundo legitimantes. Elas removem as pretensões de validade contrafactual das estruturas normativas a partir da esfera dos testes e da temática pública. A ordem de autoridade é justificada pelo retrocesso a visões tradicionais do mundo e a uma ética cívica convencional. (HABERMAS, 1999, p. 32-33)
Na leitura que faz de Parsons, Habermas demonstra que, “tanto a moral, quanto
o direito, representam uma espécie de seguro contra perdas (Ausfallbürgschaft) para a
92
realização do processo de integração social de todas as ordens institucionais”.
(HABERMAS, 1997, p. 103)
A estrutura normativa que se configura em práticas jurídicas arcaicas, tais como arbitragem, oráculo, contenda, vingança de morte etc., já se constitui nas próprias sociedades tribais; o direito é uma ordem legítima que se tornou reflexiva com a relação ao processo de institucionalização. Esse direito forma o núcleo de um sistema de comunidade, que por sua vez, é a estrutura nuclear da sociedade em geral. (HABERMAS, 1997, p. 103)
Nas sociedades tradicionais, “o tipo de crise que emerge, tem origem nas
contradições internas”. A contradição existe entre “pretensões de validade de sistemas
de normas e justificações que não podem permitir exploração e, uma estrutura de
classe na qual, a apropriação privilegiada da riqueza produzida socialmente, é a regra”.
(HABERMAS, 1999, p. 33)
O problema de como a riqueza socialmente produzida pode ser distribuída desigualmente, embora ainda legitimamente, é temporariamente resolvido através da proteção ideológica de pretensões de validade contra os fatos. Em situações críticas, as sociedades tradicionais estendem o escopo do seu controle, através de sofisticada exploração da força de trabalho, isto é, aumentando o poder de uma exploração direta pelo caminho da força física, da qual a história do direito penal dá bons indicadores ou indiretamente através da generalização de pagamentos forçados, [...] na seqüência de rendas do trabalho, do produto e do dinheiro. (HABERMAS, 1999, p. 34).
Ademais, “Lutas de classe finalmente ameaçam a integração social e podem
levar a uma derrubada do sistema político e a novos fundamentos da legitimação, isto
é, a uma nova identidade de grupo”. (HABERMAS, 1999, p. 34)
Nas sociedades de tipo “capitalista-liberal”, o princípio de organização, “é o
relacionamento de trabalho assalariado e capital, o qual se encontra fundamentado
num sistema jurídico chamado de sistema do direito civil burguês.” (HABERMAS, 1999,
p. 35)
93
Com a industrialização de mercados de bens, capitais e trabalhos, a “sociedade
civil passa a ser diferenciada a partir do sistema político-econômico”. (HABERMAS,
1999, p. 34)
Isto significa uma despolitização do relacionamento de classe e uma anonimização da dominação de classe. O estado e o sistema de trabalho social politicamente constitucional não são mais o núcleo institucional do sistema como um todo. Em vez disso, o estado racional moderno cujo protótipo Max Weber analisou, torna-se o arranjo complementar para o comércio de mercado auto-regulativo. Externamente o Estado ainda assegura, por meios políticos, a integridade territorial e a competição da economia doméstica. Internamente o meio de controle anteriormente dominante, poder legítimo serve acima de tudo para manter as condições gerais de produção, que tornam possível o processo regulador de mercado da realização do capital. A troca econômica torna-se o meio dominante de condução. (HABERMAS, 1999, p. 34)
Depois que o modo de produção capitalista se estabeleceu, “o exercício do poder
do Estado pôde ser ampliado ou limitado pelo caminho do direito; os problemas de
cunho econômico, por outro lado, não poderiam ficar sem a intervenção do trabalho dos
juristas, a exemplo do direito econômico, empresarial, tributário e do trabalho”, ramos
indispensáveis para o funcionamento do sistema econômico e político. (HABERMAS,
1999, p. 34)
O direito civil e empresarial, por exemplo, ocupa uma função essencial na defesa
do comércio através das regras sobre a realização de contratos. Além disso, o Direito
Público “contribui na legitimação jurídica do exercício interventor da polícia e da
administração da justiça”. (HABERMAS, 1999, p. 34)
Ressalta, igualmente, a limitação/ampliação dos mecanismos de mercados, por
exemplo, “mediante a garantia de uma legislação para proteção do trabalho”.
(HABERMAS, 1999, p. 35)
O direito também tem a função, no interior do Estado capitalista, em assegurar “a
satisfação dos pré-requisitos de produção da economia”, a exemplo da educação
escolar pública, do transporte, da comunicação. (HABERMAS, 1999, p. 35)
94
Menciona a adaptação do sistema de direito civil “às necessidades que emergem
do processo de acumulação” (tributação, rede bancária e direito comercial).
(HABERMAS, 1999, p. 35)
Entende que, com o cumprimento destas funções de “legalização”, o Estado
passa “a garantir os pré-requisitos estruturais do processo de reprodução material,
enquanto processo elementar no interior do Estado capitalista”. (HABERMAS, 1999, p.
36)
Também sustenta que, nas sociedades tradicionais, verifica-se “a diferenciação
entre as esferas de integração-sistêmica e as esferas de integração social [...] o sistema
econômico permanece dependente da oferta de legitimação a partir de um sistema
sócio-cultural”. (HABERMAS, 1999, p. 35)
Entretanto, a relativa desconexão do “sistema econômico” perante o “poder
político”, permite a criação de uma “esfera de sociedade burguesa” desvinculada dos
“laços tradicionais”. (HABERMAS, 1999, p. 36) Aqui, as ações estratégicas (utilitárias)
“adotadas entre os participantes são transferidas para o mercado”: empresários
(concorrentes) tomam suas decisões de acordo com os níveis de competição, decisões
evidentemente orientadas pelo lucro. (HABERMAS, 1999, p. 35)
O fenômeno é claro, quanto à passagem das sociedades primitivas para as
tradicionais: “a ação orientada por valores é substituída por ações altamente
estratégicas guiadas pelo interesse” (egoísta e calculista). (HABERMAS, 1999, p. 35)
O novo princípio organizacional abre um largo espectro para o desenvolvimento das forças produtivas e das estruturas normativas. Com os imperativos da auto-realização do capital, o modo de produção põe em movimentos numa reprodução expansiva, que é amarrada aos mecanismos de inovação incentivadores da produtividade do trabalho. Assim que os limites da exploração física, isto é, da elevação do valor absoluto do excedente, são alcançados, a acumulação de capital necessita desenvolvimento das forças técnicas produtivas e, deste modo, necessita o conhecimento para os processos de aprendizado reflexivo. Por outro lado, a nova troca econômica autônoma descomprime a ordem política de legitimação. Comércio de mercado auto-regulador requer suplementação, não só através de administração
95
racional do Estado e de direito abstrato, como também o intermédio de uma modalidade estratégica utilitária na esfera do trabalho social, o qual no domínio privado é igualmente compatível com uma ética “protestante” ou “formalista”. As ideologias burguesas podem assumir uma estrutura universalista e apelarem a interesses generalizáveis porque a ordem de propriedade distribuiu sua forma política e converteu-se numa relação de produção que, parece, pode legitimar-se. A instituição do mercado pode ser fundamentada na justiça inerente à troca de equivalentes; e, por esta razão, o Estado constitucional burguês encontra sua justificação nas relações legítimas de produção. Esta é a mensagem do direito natural racional desde Locke. As relações de produção podem fazê-lo, sem uma autoridade tradicional legitimada desde de cima. Sem dúvida o efeito integrativo socialmente da forma de valor pode ser restringido, largamente, à classe burguesa. A lealdade e a subordinação de membros do novo proletariado urbano, recrutado principalmente entre as fileiras dos camponeses, são certamente mantidas através de uma mistura de laços tradicionalistas, desejo fatalista de obediência, persuasão das ideologias burguesas. Isto não diminui o significado integrador social deste novo tipo de ideologia numa sociedade que não mais reconhece a dominação política em forma pessoal. Com a anonimização política da dominação de classe, a classe dominante socialmente precisa convencer-se que não mais dirige. As ideologias universalistas burguesas podem cumprir esta tarefa na medida em que elas a) sejam fundamentas cientificamente na crítica da tradição e b) construam o caráter de um governo, isto é, antecipem um estado da sociedade cuja possibilidade não precise desde o início ser negada por uma sociedade econômica dinamicamente crescente. Ainda mais sensivelmente, portanto a sociedade burguesa tem que reagir à evidente contradição entre idéia e realidade. Por esta razão a crítica da sociedade burguesa pode tomar a forma de um desmascaramento de ideologias burguesas, elas próprias ao confrontar idéia e realidades. (HABERMAS, 1999, p. 35-36)
Nesse sentido, a conquista do princípio capitalista de organização, “não só liberta
o sistema econômico” (desvinculado do sistema político a partir de legitimações de
subsistemas integrativos socialmente), como também o capacita, ao longo das suas
“tarefas integrativas sistêmicas”, trazendo uma contribuição para a integração social.
(HABERMAS, 1999, p. 37)
Para o capitalismo liberal, por exemplo, são típicas “a flutuação de prosperidade,
crises e depressão”. (HABERMAS, 1999, p. 37)
A oposição de interesses, que é baseada “na relação de trabalho assalariado e
capital, vem à luz, não diretamente em conflitos de classe, e sim, na interrupção do
96
processo de acumulação, isto é, na forma de problemas de condução”. (HABERMAS,
1999, p. 37)
O seguinte quadro de ideias, resume as conexões entre a questão da “crise” e da
“organização”:
Ao determinar “as possibilidades de evolução em cada uma das três dimensões
de desenvolvimento (produção, condução e socialização), o princípio de organização
determina se, e apenas assim: a) como o sistema e integração social podem ser
diferenciados funcionalmente; b) quando os perigos para a integração do sistema
podem resultar em perigos para a integração social, isto é, em crises; c) de que modo
os problemas de condução são transformados em perigos para a identidade, isto é, que
tipo de crise predomina”. (HABERMAS, 1999, p. 38)
3.5 PARA A RECONSTRUÇÃO DO MATERIALISMO HISTÓRICO (1976)
A proposta de reconstrução do materialismo histórico, em Habermas, consiste no
seguinte: desmontá-la e recompô-la de modo novo, para aproveitar o melhor que ela
pode oferecer. (HABERMAS, 1983)
Ela substitui a discussão sobre “reificação” e “luta de classes” pelas categorias
“linguagem” e “evolução social”, na tentativa de “complementar a teoria marxiana”,
reconstruí-la sob novas perspectivas, portanto. (HABERMAS, 1983)
De acordo com a interpretação de Aragão (2002, p. 138), Habermas pretendeu
“acrescentar os processos de aprendizagem, evolutivamente relevantes – tanto em
âmbito da convicção moral, como também do saber prático – na esfera do agir
comunicativo e da regulamentação consensual dos conflitos de ação”.
[...] nosso autor supõe poder complementar o materialismo histórico, concebido como teoria da evolução – cujos processos determinantes se dão pelo desenvolvimento das forças produtivas – com uma teoria do agir comunicativo, também de cunho evolutivo – cujos fatores essenciais se realizam pela passagem das sociedades para novos níveis de reflexão e, portanto, de interação. Assim, paralelamente ao
97
crescimento do conhecimento empírico, tecnicamente utilizável, que responderia aos desafios colocados pelas necessidades de reprodução material das sociedades, o autor aponta uma linha de desenvolvimento referente ao conhecimento prático-moral, como resposta às demandas colocadas pelas exigências de reprodução simbólica do todo social. (ARAGÃO, 2002, p. 138-139)
Em Zur Rekonstruktion des Historichen Materialismus, com base na teoria da
evolução, Habermas buscou estudar “as estruturas de racionalidade subjacentes às
imagens do mundo, capazes de serem concretizadas nos sistemas de instituições”.
(ARAGÃO, 2002, p. 139)
Nesse sentido, o aspecto da racionalização do Direito, “reflete a mesma
sequência que a psicologia evolutiva de Kohlberg caracterizou para a ontogênese da
consciência moral, a saber: a pré-convencional, a convencional e a pós-convencional”.
(MOREIRA, 2002, p. 35-36)
Moreira (2002, p. 36) sustenta que “somente na etapa pós-convencional do
Direito, portanto, no Direito moderno, as estruturas da consciência moderna
materializam-se no sistema jurídico, precisamente, com o Direito privado burguês, que
se caracteriza através da positividade, da legalidade e do formalismo”.
Portanto, para o desenvolvimento da teoria da evolução social, Habermas
mergulhou nos estudos de Piaget e Kohlberg. (ARAGÃO, 2002, p. 140)
[...] às sociedades primitivas corresponderia uma forma de pensamento mítico; às sociedades antigas e medievais, um pensamento religioso-metafísico; e às organizações sociais capitalistas, um pensamento reflexivo, apoiado sobre princípios universais. Assim, torna-se necessário perceber como a evolução das imagens do mundo serve de mediação entre os graus de desenvolvimento das estruturas de interação e os progressos do saber tecnicamente valorizável. [...] quer dizer que se deve procurar identificar as ideologias, por meio das quais se realiza a dialética entre forças produtivas e relações de produção. (ARAGÃO, 2002, p. 142)
98
Além disso, discutiu o desenvolvimento de estruturas normativas, a formação da
“identidade”, bem como os problemas de legitimação do Estado Moderno.
(HABERMAS, 1983) Rekonstruktion significa:
[...] que uma teoria é desmontada e recomposta de modo novo, a fim de melhor atingir a meta que ela própria se fixou: esse é o modo normal (quero dizer: normal também para os marxistas) de se comportar diante de uma teoria que, sob diversos aspectos, carece de revisão, mas cujo potencial de estímulo não chegou ainda a se esgotar. (HABERMAS, 1983, p. 11)
Alerta que, na tradição teórica que se reporta à Marx, “o perigo de deslizar para a
má filosofia foi sempre particularmente grande quando se apresentou a tendência a
sufocar problemáticas filosóficas em favor de uma concepção cientificista da ciência”.
(HABERMAS, 1983, p. 12)
Defende que o fundamento normativo da teoria marxiana da sociedade
“permaneceu na obscuridade desde os seus inícios [...] Essa teoria não pretendia nem
renovar as pretensões ontológicas do jusnaturalismo clássico, nem satisfazer as
pretensões descritivas das ciências nomológicas. Pretendia, ao contrário, ser teoria
crítica da sociedade [...]”. (HABERMAS, 1983, p. 12)
Marx considerava ter resolvido esse problema com um golpe de mão, ou seja, declarando ter realizado uma apropriação materialista da lógica hegeliana. É também verdade que ele não teve de se ocupar de modo particular dessa tarefa, já que – para as suas finalidades práticas de pesquisa – ele podia se contentar em apontar e criticar de modo imanente o conteúdo normativo das teorias burguesas dominantes, o moderno direito natural e a economia política (conteúdo que, de resto, havia-se encarnado nas Constituições burguesas revolucionárias). Nesse meio tempo, a consciência burguesa tornou-se cínica, liberando-se inteiramente dos conteúdos normativos obrigatórios, como se pode ver nas ciências sociais, em particular no positivismo jurídico, na economia neoclássica e na teoria política recente. (HABERMAS, 1983, p. 12-13)
99
Preparou as condições de uma futura teoria da ação comunicativa. Além disso,
demonstrou que “nas imagens do mundo” existem significados reveladores das
“estruturas de racionalidade”. (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002)
Nos discursos (Diskurse) práticos, é tematizada uma das pretensões de validade que servem de fundamento ao discurso (Rede) com sua base de validade. No agir orientado para o acordo, apresentam-se pretensões de validade. Essas pretensões universais penetram nas estruturas gerais da comunicação possível. Nessas pretensões de validade, a teoria da comunicação pode buscar uma pretensão de razão que é leve, mas obstinada, jamais reduzida ao silêncio, ainda que raramente satisfeita, e que certamente deve ser de facto reconhecida em todos os casos e todas as vezes em que se queira agir consensualmente. Se isso é idealismo, então é preciso dizer que ele faz parte, de modo altamente naturalista, das condições de reprodução de um gênero que deve conservar a sua própria vida através do trabalho e da interação, e, portanto, também por força de proposições capazes de verdade e de normas carentes de justificação. (HABERMAS, 1983, p. 13)
Em Zur Rekonstruktion des Historichen Materialismus, ao examinar a teoria da
evolução, busca entrelaçar a discussão com a teoria do materialismo, bem como com a
teoria da comunicação.
Enquanto Marx localizou os processos de aprendizagem evolutivamente relevantes (na medida em que encaminham as ondas de desenvolvimento das épocas) na dimensão do pensamento objetivante, do saber técnico e organizativo, do agir instrumental e estratégico – em suma, das forças produtivas –, emergiram nesse meio-tempo boas razões para justificar a hipótese de que, também na dimensão da convicção moral, do saber prático, do agir comunicativo e da regulamentação consensual dos conflitos de ação, têm lugar processos de aprendizagem que se traduzem em formas cada vez mais maduras de integração social, em novas relações de produção, que são as únicas a tornar possível, por sua vez, o emprego de novas forças produtivas. (HABERMAS, 1983, p. 13-14)
Para Habermas (1983, p. 14) as estruturas de racionalidade são materializadas
em “sistemas de instituições”. Daí a relevância de um estudo sobre o desenvolvimento
de estruturas normativas na sociedade, numa dimensão em que “as estruturas da
intersubjetividade produzidas lingüisticamente pesam”. (HABERMAS, 1983, p. 14)
100
Quando o consenso de fundo das rotinas cotidianamente exercidas se quebra, as regulamentações consensuais (produzidas com base na renúncia à violência) dos conflitos de ação fazem com que o agir comunicativo prossiga com outros meios. Portanto, moral e direito definem o núcleo da interação. Revela-se aqui, por conseguinte, a identidade das estruturas de consciência, encarnadas, por um lado, nas instituições do direito e da moral, e, por outro, expressas nos juízos morais e nas ações dos indivíduos. (HABERMAS, 1983, p. 14-15)
Na tarefa de “desmontar e recompor de modo novo a teoria marxiana”,
Habermas (1983, p. 14-15) aponta para a importância da psicologia cognoscitiva do
desenvolvimento, a qual ele atribui a tarefa “de documentar os diversos níveis de
consciência moral, descritos como “modelos ‘pré-convencionais’, ‘convencionais’ e ‘pós-
convencionais’ de solução dos problemas”, para ao final afirmar que, “os mesmos
modelos se repetem na evolução social de ideias morais e jurídicas”. Isso revela um
aspecto de universalidade em sua proposta. A contribuição das ideias de Piaget e
Kohlberg foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria da ação comunicativa,
pois a “teoria dos níveis de desenvolvimento moral” indicam uma evolução no aspecto
da racionalidade humana, bem como nos processos de argumentação e fala entre os
seres humanos.
3.6 TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA (1981)
Nessa obra, além de apresentar a proposta de uma teoria da ação comunicativa,
em oposição às ações dirigidas a fins, o autor discorre sobre a “racionalización del
derecho y diagnóstico de nuestro tiempo”, a partir de Weber. (HABERMAS, 1992)
En la teoría de la racionalización de Weber la evolución Del derecho ocupa un puesto tan destacado como ambiguo. La ambigüedad de la racionalización del derecho consiste en que éste parece hacer simultáneamente posibles tanto la institucionalización de la acción económica y administrativa racionales con arreglo a fines como la separación de los subsistemas de acción 'racional con arreglo a fines' de sus fundamentos práctico-morales. El modo metódico de vida es considerado como materialización de estructuras de conciencia práctico-morales; pero, a juicio de Weber, la ética de la profesión, que es una ética regida por principios, sólo puede tener eficacia mientras permanezca inserta en un contexto religioso. […] Mientras que en el caso de la ética protestante señaladas razones de por qué no puede
101
producirse una institucionalización duradera de las estructuras de conciencia práctico-morales, Weber reinterpreta el derecho moderno en términos tales que éste puede quedar desconectado de la esfera de valor evaluativa y aparecer desde el principio como una materialización institucional de la racionalidad cognitivo-instrumental. Esta estrategia se mueve en el contexto de un diagnóstico de la actualidad, que se funda, como queda dicho, en la argumentación bosquejada en la Zwischenbetrachtung. (HABERMAS, 1992, p. 310)
Weber sustenta que a modernização “se apresenta como uma continuação do
processo histórico universal de desencantamento”. Ademais, a “diferenciação de
esferas culturais de valor autônomas” (importante para a fase de nascimento do
capitalismo), e, “a independência dos sistemas de ação racional” (que se dirigem ao
alcance dos fins), caracterizam desde o século XVIII, fatores constitutivos da
modernidade, bem como da sociedade capitalista. (HABERMAS, 1992, p. 310)
[…] son las dos tendencias que Weber funde en una crítica de la actualidad de tono existencialista e individualista. El primer componente puede expresarse en la tesis de la pérdida de sentido y el segundo en la tesis de la pérdida de libertad. Ambas tesis, tomadas conjuntamente, definen aún hoy ese escepticismo frente al progreso, que constituye la ideología de fondo de aquellos científicos sociales que no quisieran sacrificar por entero a su declarado cientificismo la necesidad que sienten de una visión global del mundo. (HABERMAS, 1992, p. 311)
Aponta para a “diferenciação das esferas culturais de valor autônomas”.
(HABERMAS, 1992, p. 311).
Por um lado, essa “diferenciação” torna possível a racionalização dos “sistemas
de símbolos sob um determinado critério abstrato de valor”. Exemplos: “la verdad, la
rectitud normativa, la belleza y la autenticidad”. (HABERMAS, 1992, p. 311).
A “diferenciação” também faz romper a “unidade das imagens metafísico-
religiosas do mundo”, bem como possui um poder transformador no processo de
atribuição dos significados: “entre las esferas de valor autónomas se producen
tensiones que ya no pueden solventarse recurriendo al punto de vista superior de un
orden divino o de un orden cosmológico del mundo”. (HABERMAS, 1992, p. 312)
102
Las orientaciones de acción cognitivo-instrumentales, las práctico-morales y las estético-expresivas no han de independizarse hasta tal punto en órdenes de la vida antagónicos, que desborden la capacidad de integración del sistema de la personalidad y conduzcan a conflictos permanentes entre estilos de vida. Naturalmente, siempre ha existido el problema de cómo asegurar dentro de la diversidad de situaciones sociales de acción y de esferas de la vida la unidad del mundo de la vida. Ya dentro de las sociedades tribales de carácter segmentario se producen diferenciaciones; aquí el antagonismo entre las diversas esferas de la vida puede ser absorbido todavía con los medios de la interpretación mítica del mundo: cada esfera viene representada por la correspondiente figura mítica que se comunica con todas las demás. Una forma tardía de esta visión mítica del mundo la constituye el politeísmo, el cual permite personificar el conflicto entre las esferas de la vida como una lucha de dioses, y proyectarlo sobre el cielo. En el estadio evolutivo que representan las grandes culturas («civilizaciones») la sociedad se diferencia por oficios y estratos sociales, de modo que la unidad del mundo de la vida deja en seguida de poder ser garantizada mediante interpretaciones míticas del mundo. Ahora son las imágenes religioso metafísicas del mundo las que cumplen esta función fundadora de unidad, y ello de forma tanto más impresionante cuanto más honda es su configuración racional. Pero es justamente esa capacidad integradora la que queda puesta en cuestión en las sociedades modernas con la diferenciación de las esferas culturales de valor. A medida que la racionalización de las imágenes del mundo va haciendo brotar las estructuras de conciencia modernas, esas imágenes del mundo se vienen abajo como imágenes del mundo. (HABERMAS, 1992, p. 313)
Sob a perspectiva da institucionalização das orientações das ações racionais
com base nos fins, Weber estudou o desenvolvimento do capitalismo. (HABERMAS,
1992)
Weber também enfrentou a questão do direito moderno, pois “se topa en ese
estudio con el papel de la ética protestante de la profesión y con el papel del derecho
moderno”. (HABERMAS, 1992, p. 313)
Outrossim, demonstra de que modo a racionalidade cognitivo-instrumental se
institucionaliza tanto na economia, como no Estado: “Pero de ahí no se sigue per se el
pronóstico pesimista de una reificación de estos subsistemas y su conversión en un
férreo estuche. De ahí que Weber tenga la sensación de que con este pronóstico está
penetrando en el ámbito de los juicios de valor y de fe”. (HABERMAS, 1992, p. 314)
103
En este sentido Weber está en su derecho cuando se vuelve contra el «carisma de la razón» e insiste en un concepto de racionalidad que, dicho en términos del neokantismo, se descompone en la legalidad propia de esferas de valor distintas, no reducibles las unas a las otras. Pero Weber va demasiado lejos cuando de la pérdida de la unidad sustancial de la razón infiere el politeísmo de unos poderes últimos que contienden entre sí y cuya irreconciliabilidad radicaría en un pluralismo de pretensiones de validez incompatibles. Pues justo en el plano formal que representa la comprobación o desempeño argumentativo de pretensiones de validez queda asegurada la unidad de la racionalidad en la diversidad de esferas de valor, racionalizadas cada una conforme a su propio sentido interno”. (HABERMAS, 1992, p. 315)
Destarte, “o que distingue as pretensões de validez, das pretensões empíricas, é
a suposição de que as primeiras, podem desempenhar-se mediante argumentos”. E o
que é comum nas ações de argumentação? Eis a resposta: “que son ellos los únicos
que bajo los supuestos comunicativos de un examen cooperativo de pretensiones de
validez consideradas como hipotéticas pueden desarrollar la fuerza de una motivación
racional” (HABERMAS, 1992, p. 315)
Ciertamente que las distintas pretensiones de validez, que son la verdad proposicional, la rectitud normativa, la veracidad y la autenticidad (así como la pretensión de estar bien formado que acompaña a todo producto simbólico) no solamente exigen justificaciones en general, sino razones que se ajusten a las distintas formas típicas que puede asumir la argumentación; y según estas distintas formas, los argumentos asumen papeles distintos desarrollando en el discurso un grado distinto de fuerza vinculante. Como ya hemos visto, hoy no disponemos de una lógica pragmática de la argumentación que aprehenda de forma satisfactoria las conexiones internas entre las distintas formas de actos de habla. Sólo esa teoría del discurso podría señalar explícitamente en qué consiste la unidad de la argumentación, y articular qué es lo que podemos querer decir con la expresión “racionalidad procedimental” tras haber quedado disueltos por la crítica todos los conceptos sustanciales de razón. (HABERMAS, 1992, p. 316)
Ademais, na Theorie des kommunikativen Handels, Habermas aponta para a
existência de três “mundos”: 1. mundo social (onde o direito e a moral se manifestam);
2. mundo objetivo (onde a verdade é questionada/afirmada pelo caminho da ciência); 3.
mundo subjetivo (onde o ser busca estabelecer uma relação consigo mesmo).
(ARAGÃO, 2002)
104
No primeiro, as pretensões de validade são levantadas para fins de correção ou
justiça (discurso prático). No segundo, as pretensões de validade são levantadas para
se estabelecer um consenso sobre a “verdade”. E no terceiro, e último, o ser busca
obter sinceridade. (ARAGÃO, 2002)
Na visão habermasiana, a busca por essas pretensões de validez é universal,
pois em todos os lugares do mundo os seres humanos realizam ações de ordenar,
prometer, etc. (ARAGÃO, 2002).
Los sistemas de valor que representan la cultura francesa y la cultura alemana son, en efecto, un buen ejemplo de configuraciones históricas de contenidos de valor que, al igual que las formas de vida en que adquieren forma objetiva, no cabe reducir los unos a los otros. Pero el pluralismo de materias de valor nada tiene que ver con la diferencia entre los aspectos de validez bajo los que se diferencian las cuestiones de verdad, de justicia y de gusto, y pueden ser racionalmente elaboradas como tales. De ahí que tampoco la diferenciación de los sistemas en que se organizan la ciencia, el derecho y el arte (sistemas culturales de acción), en los cuales se desarrolla un saber cultural bajo un aspecto universal de validez distinto en cada uno de ellos, tenga forzosamente que provocar un conflicto entre órdenes de la vida irreconciliables. Estos sistemas culturales de acción se sitúan entre las esferas culturales de valor a las que inmediatamente hacen referencia y aquellos sistemas sociales de acción que, como la economía y el Estado, cristalizan en torno a determinados valores materiales como son la riqueza, el poder, la salud, etc. Sólo con la institucionalización de las distintas materias de valor entran en juego relaciones de competencia entre orientaciones de acción en última instancia irracionales. Por el contrario, los procesos de racionalización que parten de los tres complejos universales de racionalidad significan una materialización de distintas estructuras cognitivas que en todo caso plantean el problema de dónde colocar en la práctica comunicativa cotidiana los puntos de conexión entre ellas, para que los individuos, en sus orientaciones de acción, puedan pasar de un complejo de racionalidad a otro. (HABERMAS, 1992, p. 317)
Um dos pontos de conexão, reveste-se de singular importância para a forma de
integração social que se constituiu com a sociedade capitalista. Trata-se do ponto de
conexão entre “el complejo de racionalidad cognitivo-instrumental y el normativo”.
(HABERMAS, 1981, p. 320)
105
Pero con este problema nos hemos tropezado ya bajo la rúbrica de institucionalización de las orientaciones de acción racionales com arreglo a fines. Y con ello, henos de nuevo ante la cuestión de qué relación existe entre la tesis relativa a la amenaza que representa para la libertad la autonomización de las pujantes esferas de la acción económica y de la acción administrativa racionales con arreglo a fines y la primera tesis, la relativa a la pérdida de sentido (tesis esta última que voy a suponer correcta por el momento para no entorpecer la marcha del argumento). El medio organizativo que es el derecho moderno, aunque descansa sobre ideas jurídicas postradicionales, no está expuesto, a diferencia de lo que ocurre con los órdenes morales que comparten con él la misma estructura, a una competencia, bien por parte de la ciencia o por parte del arte. Al contrario: el sistema jurídico ve aumentar su complejidad a medida que aumenta la complejidad del sistema económico y del sistema administrativo; se hace tanto más indispensable cuanto más se secan las fuentes de donde le manan al sistema de ocupaciones las motivaciones que éste necesita. (HABERMAS, 1981, p. 320)
3.7 O DISCURSO FILOSÓFICO DA MODERNIDADE (1985)
Nessa obra, apresenta a modernidade como um “projeto inacabado”, na tentativa
de reconstruir, passo a passo, o discurso filosófico da modernidade. Desde os fins do
século XVIII, ela foi um assunto cativante entre os filósofos. Habermas afirma que,
Hegel, “foi o primeiro a desenvolver um conceito claro de modernidade, empregando
um conceito de modernidade contextualizado historicamente”, isto é, como conceito de
época. (HABERMAS, 2002, p. 9)
Isso corresponde ao uso contemporâneo do termo inglês e francês: por volta de 1800, modern times e temps modernes designam os três séculos precedentes. A descoberta do Novo Mundo assim como o Renascimento e a Reforma, os três grandes acontecimentos por volta de 1500, constituem o limiar histórico entre época moderna e a medieval. Hegel também utiliza esses termos, em suas lições sobre a filosofia da história, para delimitar o mundo germânico-cristão que, por sua vez, se originou da Antiguidade grega e romana. A classificação, ainda hoje usual, em Idade Moderna, Média e Antiga, só pôde se compor depois que as expressões novos tempos e tempos modernos (mundo novo e mundo moderno) perderam o seu sentido puramente cronológico, assumindo a significação oposta de uma época enfaticamente nova. Enquanto no Ocidente cristão os novos tempos significavam a idade do mundo que ainda está por vir e que despontará somente com o dia do Juízo Final – como ocorre ainda na Filosofia das idades do mundo, de Schelling –, o conceito profano de tempos
106
modernos expressa a convicção de que o futuro já começou: indica a época orientada para o futuro, que está aberta ao novo que há de vir. (HABERMAS, 2002, p. 9)
Retomando as preocupações do jovem Hegel, “acerca das condições de
possibilidade de uma comunidade ética no mundo moderno [...] sem apelar para
vínculos de solidariedade passadistas”, Habermas também trabalha com os conceitos
de “solidariedade pós-tradicional, racionalidade e subjetividade”. (SOUZA, 1997, p. 14)
“A cesura em que se inicia o novo, é deslocada para o passado, precisamente
para o começo da época moderna”. Por isso, Habermas afirma que “somente no curso
do século XVIII, o limiar histórico em torno de 1500, foi compreendido
retrospectivamente como tal começo”. (HABERMAS, 2002, p. 10)
O espírito do tempo (Zeitgeist), um dos novos termos que inspiram Hegel, caracteriza o presente como uma transição que se consome na consciência da aceleração e na expectativa da heterogeneidade do futuro [...] Uma vez que o mundo novo, o mundo moderno, se distingue do velho pelo fato de que se abre ao futuro, o início de uma época histórica repete-se e reproduz-se a cada momento do presente, o qual gera o novo a partir de si. Por isso, faz parte da consciência histórica da modernidade a delimitação entre o tempo mais recente e a época moderna: o presente como história contemporânea desfruta de uma posição de destaque dentro do horizonte da época moderna. Hegel também entende o nosso tempo como o tempo mais recente. Ele data o começo do tempo presente a partir da cesura que o Iluminismo e a Revolução Francesa significaram para os seus contemporâneos mais esclarecidos no final do século XVIII e começo do XIX. (HABERMAS, 2002, p. 11)
A ideia de “ruptura com o passado” trata-se de uma condição sine qua non para
a compreensão do verdadeiro sentido do pensamento hegeliano.
Logo, um pensamento que aponta para o progresso, não se coaduna com as
propostas reacionárias. O espírito de sua filosofia nos convida a uma “renovação
contínua”. Palavras como “revolução”, “progresso”, “emancipação” e “espírito do
107
tempo”, acompanham os trajetos da modernidade, seguem o ritmo da proposta
hegeliana de “movimento”. (HABERMAS, 2002, p. 12)
Elas lançam uma luz histórico-conceitual sobre o problema que se põe à cultura ocidental com a consciência histórica moderna, elucidada com o auxílio do conceito antitético de tempos modernos: a modernidade não pode e não quer tomar dos modelos de outra época os seus critérios de orientação, ela tem de extrair de si mesma a sua normatividade. A modernidade vê-se referida a si mesma, sem a possibilidade de apelar para subterfúgios. Isso explica a suscetibilidade da sua compreensão, a dinâmica das tentativas de afirmar-se a si mesma, que prosseguem sem descanso até os nossos dias. (HABERMAS, 2002, p. 12)
Hegel estudou a modernidade numa dimensão complexa. A modernidade se
“desliga das sugestões normativas do passado, que lhe são estranhas. A Reforma, o
Renascimento, a ciência natural moderna e o pensamento kantiano expressam a
autocompreensão da modernidade”. (HABERMAS, 2002, p. 13)
Kant expressa o mundo moderno em um edifício de pensamentos. De fato, isto significa apenas que na filosofia kantiana os traços essenciais da época se refletem como um espelho, sem que Kant tivesse conceituado a modernidade enquanto tal. Só mediante uma visão retrospectiva Hegel pode entender a filosofia de Kant como auto-interpretação decisiva da modernidade. (HABERMAS, 2002, p. 12)
Sobre o conceito hegeliano de modernidade (capítulo II), Habermas aponta para
o fato de que “na tradição aristotélica, o conceito de política como uma esfera que
abrange o Estado e sociedade, próprio da antiga Europa, manteve-se sem interrupção,
até o século XIX”. (HABERMAS, 2002, p. 53)
Seguindo essa concepção, “a economia doméstica, uma economia de
subsistência, baseada na produção agro-artesanal (inclui a participação de mercados
locais), constitui o fundamento de uma ordem política global. A constituição da
dominação política, integra a sociedade em seu todo”. (HABERMAS, 2002, p. 54)
108
Entretanto, essa tradição não mais se adequa às sociedades modernas, “nas
quais a circulação de mercadorias da economia capitalista (organizada pelo direito
privado), desliga-se da administração do poder”. (HABERMAS, 2002, p. 54)
Por meio dos media que são o valor de troca e o poder, dois sistemas de ação se diferenciam, completando-se funcionalmente: o social separou-se do político, a sociedade econômica despolitizada separou-se do Estado burocratizado. Esse desenvolvimento acabou por exceder a capacidade explicativa da doutrina clássica da política. Por isso, desde os fins do século XVIII, esta se decompõe em uma teoria social fundada na economia política, por um lado, e em uma teoria do Estado inspirada no direito natural moderno, por outro. (HABERMAS, 2002, p. 54)
Hegel apontou “para a individualidade do homem situado no tempo presente”.
Percebeu “a separação das esferas sociais”. Na sociedade civil burguesa, por exemplo,
“cada um é um fim para si mesmo e todos os outros não são nada”. (HEGEL apud
HABERMAS, 2002, p. 55)
Hegel descreve as relações mercantis como um domínio neutralizado eticamente para a persecução estratégica de interesses privados e egoístas, na qual estes fundam simultaneamente um sistema de dependência multilateral. Na descrição de Hegel, a sociedade civil burguesa aparece, por um lado, como uma eticidade perdida em seus extremos, como algo que pertence à corrupção. Por outro, como a criação do mundo moderno, tem sua justificação na emancipação do indivíduo que adquire liberdade formal: o desencantamento da arbitrariedade da carência e do trabalho é um momento necessário no processo para formar a subjetividade em sua particularidade. (HABERMAS, 2002, p. 55)
Só mais tarde, na Filosofia do Direito, Hegel apresenta um novo termo:
“sociedade civil burguesa”. No ensaio Sobre os modos de tratamento científico do
direito natural (1802), usa a economia política como referência, para analisar “o sistema
de dependência universal recíproca em vista das carências físicas do trabalho, e,
também, da acumulação”. (HABERMAS, 2002, p. 55)
Aqui já se coloca para ele o problema de como não conceber a sociedade civil burguesa meramente como uma esfera de decadência
109
da eticidade substancial, mas, ao mesmo tempo, em sua negatividade, como um momento necessário da eticidade. Hegel parte da constatação de que o ideal de Estado da Antiguidade não pode ser restabelecido sob as condições da sociedade moderna despolitizada. Por outro lado, atém-se à idéia daquela totalidade ética que ocupara pela primeira vez sob o nome de religião popular. Logo, tem de estabelecer a mediação entre o ideal ético dos antigos, no sentido em que é superior ao individualismo da época moderna, e as realidades da modernidade social. Com a diferenciação entre Estado e sociedade, que Hegel, conforme o caso, já se propõe naquele período, afasta-se na mesma medida tanto da filosofia política de restauração como do direito natural racional. (HABERMAS, 2002, p. 55)
A especificidade do Estado moderno só se torna visível quando “o princípio da
sociedade civil burguesa” é concebido “como um princípio de socialização moldada pelo
mercado, isto é, uma socialização não política”. (HABERMAS, 2002, p. 56)
3.8 SOBERANIA COMO PROCEDIMENTO (1988)
Habermas não considera uma utopia pensar numa república democrática radical,
como um projeto derivado de uma consciência revolucionária. (HABERMAS, 2003)
Para Habermas, “os procedimentos democráticos poderiam oferecer resultados
racionais na medida em que a formação da opinião entre as corporações parlamentares
continuasse sensível aos resultados de uma formação informal da opinião resultante de
esferas públicas autônomas [...]” (HABERMAS, 2003, p. 275)
Ele faz um apelo a uma maior participação das esferas públicas autônomas no
projeto de construção de uma república democrática radical: “tenho que deixar isso em
aberto [...] a fim de descobrir como uma república democrática radical com ressonância
na cultura política deveria ser pensada [...] uma república que desenvolvemos como um
projeto tendo consciência de uma revolução”. (HABERMAS, 2003, p. 257)
Em última instância, o surgimento, a reprodução e a influência de tal rede de associações fica na dependência de uma cultura política liberal e igualitária, nervosa e sensível a problemas da sociedade como um todo, que se encontra em constante vibração, formando uma caixa de ressonância. (HABERMAS, 2003, p. 275)
110
Sobre a explicação da diferença entre a esfera do poder público e a esfera da
opinião pública, Aragão (2002, p. 179-180) apresenta uma opinião bem definida.
Temos aqui, portanto, a diferenciação entre Estado, enquanto poder ou setor público, detentor da propriedade pública e do poder político (que se expressa no monopólio do uso da força) e responsável pela administração da sociedade; e a própria sociedade, constituída pelos interesses privados, no interior da qual se pode identificar uma esfera da opinião pública que se contrapõe ao poder público [...] Hoje em dia, o termo sociedade civil não inclui mais a economia constituída através do direito privado e dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados de bens, como acontecia na época de Marx [...] Habermas entende a sociedade civil como o conjunto dos movimentos e organizações sociais que veiculam os conteúdos da opinião pública, a saber: “compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O seu núcleo institucional é formado por associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida”.
Para Solon (2009, p. 55), “a empreitada a que Habermas se propõe é ambiciosa:
para além da tensão entre princípios e realidade jurídica da democracia, quer
salvaguardar um conceito positivo de democracia popular”.
Para que o Estado democrático de direito obtenha um sentido normativo capaz de apontar para além do elemento jurídico, ele tem que assumir a forma de um projeto histórico – uma força explosiva, porém estruturadora. Na visão da teoria política, a história se transforma num laboratório para argumentos. A Revolução Francesa forma, inclusive, uma cadeia de eventos trabalhados com argumentos: ela foi elaborada pelos discursos do direito racional. E deixou vestígios nas ideologias políticas dos séculos XIX e XX. Na visão de quem nasceu depois, as lutas ideológicas entre democratas e liberais, entre socialistas e anarquistas, entre conservadores e progressistas, formam padrões para uma argumentação ainda hoje proveitosa – isso se não formos tão ciosos dos detalhes. (HABERMAS, 2003, p. 258)
Sua investigação sobre a possível contribuição da Revolução Francesa é
inaugurada nos seguintes termos: “[...] interesso-me pela seguinte questão normativa
[...] a mudança de mentalidade, que se deu nos anos da Revolução Francesa, contém
111
aspectos que podemos aproveitar? Será que a revolução de idéias, de 1789, contém
informações que podem contribuir para a nossa própria orientação?” (HABERMAS,
1997, p. 250-251)
Sobre a Revolução Francesa, analiticamente, tece uma série de considerações,
a saber: 1. “Ela tornou possível o desenvolvimento de uma sociedade civil móvel”; 2.
“Ela desencadeou processos de transformação revolucionária no plano jurídico e
político”; 3. Contudo, “para o processo de formação do moderno aparelho de Estado e
da burocratização, a Revolução Francesa não significa uma inovação”; 3. Ela “trouxe
uma contribuição original: conseguiu impor ao patriotismo de seus cidadãos e o serviço
militar obrigatório (‘ao lado da consciência nacional, formou-se uma nova integração
para os cidadãos liberados dos vínculos estamentais corporativos’)”; 4. Contribuiu para
a ideia de um Estado democrático de direito, pois “a democracia e os direitos,
constituem o núcleo universalista do Estado constitucional”; ademais, valendo-se do
pensamento de Furet, Habermas enuncia que “a França é o país que descobre a
cultura democrática através da revolução e que revela ao mundo uma das consciências
mais fundamentais do agir histórico”. (HABERMAS, 2003, p. 251-252)
É correto afirmar também, no contexto analítico de Habermas, que a Revolução
Francesa (quanto à ruptura com o antigo regime, de privilégios, “mandos e
desmandos”) foi uma conquista no plano democrático.
Entretanto, muitos que lutaram na revolução (mulheres e não proprietários) foram
alijados dos processos políticos decisórios.
A Revolução Francesa ganhou projeção e fama mundial. No entanto, antes dos
franceses, nas treze colônias, os americanos já fizeram uma revolução em âmbito
jurídico: não se trata de uma inovação da Revolução Francesa, por exemplo, o
levantamento da “bandeira ideológica” da sobreposição do “império da lei” em relação
ao “império do rei”.
112
Para que se evite equívocos, é necessário também apontar para o fato de que, a
origem da formulação dos Direitos do Homem, não está na Declaração dos Direitos do
Homem e dos Cidadãos da Revolução de 1979.
Em Direito e Tradição, Solon (2009, p. 60) aponta para o fato de que, um
professor da Universidade de Heidelberg, suscitou a polêmica origem dos Direitos do
Homem:
A origem das modernas Declarações dos Direitos do Homem remonta não a Rousseau, mas a Calvino. Não às ideias filosóficas do século XVIII, mas à Reforma e à Revolução Americana. Foram as lutas engendradas pela Reforma e à Revolução Americana que repercutiram em inédita práxis constitucional no continente americano. Não apenas a Declaração Francesa não procede de Rousseau, mas também o Contrato Social entra em contradição com os Direitos Humanos. As cláusulas do Contrato Social podem reduzir-se a um único princípio fundamental: a alienação completa por parte de cada indivíduo de todos os seus direitos à comunidade. Como, a partir desta reivindicação, explicar os direitos do indivíduo? Qual o valor da liberdade do indivíduo diante de um Estado que não se vincula? Não exclui Rousseau do Estado qualquer um que não professe a “religião civil”? Portanto, dos princípios do Contrato Social não emergem direitos individuais, mas o poder de uma vontade geral soberana que, juridicamente, não tem limites. Deste modo, a idéia de Declaração deve ser buscada em outra fonte. Foi nos Estados Unidos da América que se deu, pela primeira vez, o reconhecimento jurídico dos Direitos Humanos nas antigas cartas das colônias (denominadas posteriormente de Bill of Rights) que precedem as próprias Constituições dos estados americanos, promulgadas a partir de 1776 (Virgínia) e a Declaração Francesa de 1789. Portanto, a Declaração Francesa teve como modelo o Bill of Rights das colônias da América do Norte.
Quanto à “consciência revolucionária”, Habermas (2003, p. 253) afirma que esta
é o “berço de uma nova mentalidade, a qual é cunhada através de uma nova
consciência do tempo, de um novo conceito da prática política e de uma nova idéia de
legitimação”.
É moderna a consciência histórica que se divorcia do tradicionalismo “de
continuidades tidas como naturais; a compreensão da prática política que se coloca à
luz da autoderminação e da auto-realização; e a confiança no discurso racional, pelo
qual passa a legitimação de todo poder político” (HABERMAS, 2003, p. 253)
113
Em suas mãos está o poder de decidir sobre regras e o modo de sua convivência. Na medida em que eles, enquanto cidadãos, impõem a si mesmos as regras às quais desejam obedecer, eles produzem o seu próprio contexto vital. Este é entendido como produto de uma prática cooperativa centrada na formação política consciente da vontade. Uma política radicalmente intramundana entende-se como expressão e confirmação da liberdade que resulta simultaneamente da subjetividade do indivíduo e da soberania do povo. A teoria política abriga, desde o início, princípios individualistas, que privilegiam o indivíduo, e princípios coletivistas, que se concentram na nação. Porém a liberdade política é vista sempre como a liberdade de um sujeito que determina e se realiza a si mesmo. Autonomia e auto-realização são os conceitos-chaves para uma prática, cujo objetivo reside em si mesma, ou seja, na produção e reprodução de uma vida digna do homem (HABERMAS, 2003, p. 255)
No entanto, para Habermas (2003, p. 255) esse conceito de prática política,
perdeu “sua força motivadora”, devido ao “penoso caminho da institucionalização
jurídica da participação igualitária de todas as pessoas na formação política da vontade
[...]”.
O povo, do qual deve emanar todo o poder organizado em forma de Estado, não forma um sujeito com consciência e vontade. Ele surge sempre no plural: enquanto povo ele não é capaz de agir nem de decidir como um todo. Em sociedades complexas, até os esforços mais sérios de auto-organização política fracassam perante obstáculos resultantes do sentido próprio do mercado e do poder administrativo. Antigamente, a democracia era imposta contra o despotismo encarnado no rei, em partes da nobreza e do alto clero. Atualmente, a autoridade política se despersonalizou; a democratização não se confronta mais com obstáculos genuinamente políticos, mas com imperativos sistêmicos de um sistema administrativo e econômico diferenciado. (HABERMAS, 2003, 255-256)
Para Solon (2009, p. 56):
De qualquer forma, os conflitos entre o direito da maioria e o da minoria, a unidade e a multiplicidade encontram solução em uma dialética entre democracia e liberdade. Para dar sentido a esta dialética, a compreensão de Kant-Rousseau de uma participação igual de todos na prática da autolegislação, a idéia de um atuar sobre si mesmo por meio de leis, é depurada de todos seus elementos voluntaristas. A ênfase na vontade unânime e conjunta de todos dá lugar a uma estrutura racional geradora de condições de possibilidade de normas generalizáveis. Tal solução parece provir das sugestões contidas nos trabalhos de Rawls
114
em retornar à substância da ética kantiana em termos de filosofia da linguagem. Nessa concepção, a tarefa da filosofia não é fazer um discurso moral concreto ou justificar os princípios da moral, mas explicar o que torna possível o ponto de vista moral, mostrando por que ela reflete intuições universais e não particulares. Abandonando, assim, uma leitura substancializada do princípio da soberania popular, Habermas inscreve, no lugar da lei universal, um procedimento de formação racional de opinião e vontade. Ao colocar a questão da possibilidade de uma democratização dos próprios processos de formação da vontade coletiva, Habermas faz grande descoberta [...].
Na visão habermasiana:
Torna-se problemático o modo como o sistema administrativo pode ser programado através das políticas e leis oriundas de processos de formação pública da opinião e da vontade, uma vez que ele tem que traduzir todas as exigências normativas para a própria linguagem. (...) o sistema administrativo trata o direito de modo instrumental; na linguagem do poder administrativo, os argumentos normativos que justificam as políticas escolhidas e as normas estabelecidas valem apenas como racionalizações póstumas para decisões preliminarmente induzidas. (...) O poder legítimo produzido comunicativamente pode influir no sistema político, assumindo em suas mãos o pool de argumentos que necessariamente acompanham a racionalização das decisões administrativas. (...) Além disso, coloca-se a questão acerca da possibilidade de uma democratização dos próprios processos de formação da opinião e da vontade. (2003, p. 270-271)
Nesse espírito, os processos democráticos “institucionalizam as formas de
comunicação para uma formação racional da vontade”. Portanto, para que a
racionalidade das decisões possa ser garantida “através de um suposto laço interno,
entre a formação política da opinião e da vontade”, é igualmente necessário que “as
consultas no interior das corporações parlamentares não dependam de premissas
ideológicas estabelecidas de antemão”. (HABERMAS, 2003, p. 271)
Mesmo assim, as idéias que Habermas “pensa” em seu artigo – a confiança no discurso racional como legitimador do domínio público, um poder gerado de maneira comunicativa e não instrumental – têm nosso pleno assentimento como postulados práticos, apesar de não vermos como se unificam com a realidade contemporânea. Nem mesmo em seu próprio país, têm muita ressonância, haja vista o recente processo de reunificação nacional conduzido sob os signos de várias bandeiras, inclusive a de um legítimo etos nacional, menos a que fez valer a
115
necessidade de uma participação ativa nos espaços públicos. Habermas e seus companheiros intelectuais queriam que a incorporação da outra Alemanha fosse realizada mediante uma Assembléia Nacional Constituinte de todo o povo, em cumprimento ao princípio da soberania popular. Da mesma forma que aceitamos a reconciliação entre razão e a ação política pretendida pelos filósofos políticos, também admitimos como legítimo reduzir a razão a uma formação pura do conhecimento, dissipando a confusão entre a teoria e a prática. É a justo título, portanto, que uma reflexão voltada à compreensão dos princípios da democracia parta da realidade do direito e não de postulados racionais. (SOLON, 2009, p. 57-58)
3.9 PASSADO COMO FUTURO (1990)
Nessa obra, Habermas (1993, p. 63) discorre sobre “o comportamento dos
intelectuais de esquerda diante da queda do muro de Berlim”, apoiando-se na
expressão “fracasso dos intelectuais”, de autoria de Dahendorf.
No processo de reunificação da Alemanha, “chamou a atenção para a ‘moldura
constitucional’ do evento”. Também ressaltou sobre a “dimensão jurídico-normativa pela
qual se empenham [...] os intelectuais criticados”. Além disso, Dahendorf “opera com a
mesma distinção entre a nação tomada como uma grandeza pré-política e a nação
institucionalizada, criada através de um ato da vontade de cidadãos com igualdade de
direitos”. (HABERMAS, 1993, p. 64)
Para Habermas (1993, p. 64), a unidade alemã “é uma tarefa constitucional”, que
tem que lidar com “os direitos de cidadãos e com as condições da sociedade civil”.
Defende que os liberais “da antiga oposição democrática na Europa do leste”,
sustentavam que o ideal “está hoje no passado europeu e, para os sociais democratas,
o ideal é o presente europeu”. Diante disso, duas questões foram feitas por Arato: “O
que teriam de oferecer em termos de perspectivas úteis os que criticam tanto esse
passado como esse presente? O que o liberalismo e o Estado social teriam de oferecer
levando-se em conta que todos os experimentos voltados ao futuro geram apenas
tédio?” (ARATO apud HABERMAS, 1993, p. 64).
116
Os intelectuais de esquerda sabem ao menos que eles precisam aprender – mesmo que ainda não saibam o que. No entanto, mesmo não tendo ainda as respostas, eles conseguiram aprender os temas que dominarão os debates que surgirão daqui para frente. Já tocamos em dois desses temas; em primeiro lugar, o peso do pano de fundo cultural e político, que também é decisivo para a estabilidade e o desenvolvimento da democracia; em segundo lugar, a relação entre nação e nação de cidadãos (e com isso se tematizam problemas que poderiam se tornar mais importantes para a Europa do Leste do que para uma Alemanha mais integrada no contexto europeu). Em ambos os casos, trata-se do valor posicional de instituições formais de um Estado de direito. Ao abordarmos a Guerra do Golfo, falamos também sobre os problemas de uma futura política interna mundial e sobre o papel das Alemanhas unificadas na nova constelação das potências mundiais. Talvez o tema mais importante seja o dos aflitivos problemas de transição do socialismo de Estado para a economia de mercado. A revolução recuperadora não lança nenhuma nova luz sobre os nossos velhos problemas. (HABERMAS, 1993, p. 65)
Quanto ao entendimento político, Haller, o entrevistador de Habermas, na obra
Vergangenheit als Zukunft, lança a seguinte questão:
As inúmeras tentativas que foram feitas desde a queda do muro no sentido de um entendimento político entre alemães do Leste e do Oeste sempre bateram na seguinte dificuldade: no decorrer dos últimos quarenta anos formaram-se dois sistemas distintos, com seus próprios padrões de socialização, convicções jurídicas e idiomas. Por isso, não existe um diálogo do entendimento e a comunicação política transcorre de modo distorcido. Qual seria o caminho certo para que essa comunicação fosse isenta de distorções? Quais seriam os temas mais propícios para se conseguir algo parecido com um novo consenso nacional na nova Alemanha? (HABERMAS, 1993, p. 71),
Habermas (1993, p. 72-73) responde a questão nos seguintes termos:
Na Alemanha Ocidental a vida quase não modificou nada de seu velho ritmo, ao passo que em Berlim os contraentes ferem-se reciprocamente, de tanto que uns passam ao lado dos outros. Basta olhar a linguagem do corpo para reconhecer a grande miséria moral que a unificação feita no grito nos propiciou. Falta a distância. Um encontro no qual ambos os lados pressupõem a sua autonomia exigiria também que cada um dos lados esclarecesse em separado a sua história transcorrida nos últimos quarenta anos e exigiria também que tanto a República Federal da Alemanha como a República Democrática Alemã conseguissem ter a
117
sua própria autocompreensão. [...] A República Federal da Alemanha, mais poderosa, apressa-se em propagar publicamente a luta por sua história, que muitos iniciaram logo após a unificação num espírito nitidamente revanchista, ao passo que a história da República Democrática Alemã é enterrada em meio ao maior ou menor silêncio – como um cadáver que é passado à memória da geração seguinte. [...] Ora, uma história pela metade, à qual se acrescenta a autoconsciência coletiva dos vencedores, forma uma base por demais frágil para um consenso nacional mais firme. A nova Alemanha precisa desse consenso nas controvérsias sobre a política interna. Seria preciso haver um consenso sobre o futuro papel da Alemanha na Europa e sobre o tipo de ajuda que a Alemanha, a locomotiva econômica da Comunidade Européia, deveria dar para tornar possível um desenvolvimento econômico, social e pacífico na Alemanha do Leste. Além disso, eu desejaria que houvesse um consenso sobre um patriotismo constitucional enraizado nas experiências da história alemã. [...] A Alemanha foi o único país industrializado que, durante a crise econômica mundial, lançou fora o Estado Democrático de Direito em favor de um Estado Nazista. Além disso, teríamos que ter clareza sobre a forma e as funções do novo Estado nacional [...] finalmente, seria preciso delimitar o terreno sobre o qual é possível se desenrolar o debate em torno da domesticação ecológica e social do capitalismo, que todos desejam, ao menos nas palavras. O conflito em torno da escolha das políticas adequadas irá decidir o modo como agiremos em relação à imigração das massas que afluem do Leste e dos países do Terceiro Mundo. Temos que saber o que queremos defender [...] Eu não estou muito convencido de que no terceiro milênio um acordo político básico, o qual para não colocar em risco o pluralismo, deverá ser bastante abstrato, necessitará ainda de símbolos para se expressar. (HABERMAS, 1993, p. 72-73)
Na opinião habermasiana, “os movimentos exprimem um processo de abstração
que a ideia atual de democracia precisa seguir se quiser continuar realista”; o veículo
para a realização da participação democrática e do pluralismo, “não é a psicologia das
massas, mas a dinâmica das correntes da comunicação pública que atinge as massas”.
(HABERMAS, 1993, p. 91)
Os filósofos são incapazes de transformar o mundo. O que nós necessitamos é de um pouco mais de práticas solidárias (...) O resto de utopia que eu consegui manter é simplesmente a idéia de que a democracia – e a disputa livre por suas melhores formas – é capaz de cortar o nó górdio dos problemas simplesmente insolúveis. Eu não pretendo afirmar que iremos ser bem sucedidos nesse empreendimento. Nós nem ao menos sabemos se é dada a possibilidade desse sucesso. Porém, pelo fato de não sabermos nada a esse respeito, devemos ao menos tentar. Sentimentos apocalípticos
118
não produzem nada, além de consumir as energias que alimentam nossas iniciativas. O otimismo e o pessimismo não são as categorias apropriadas a esse contexto. (HABERMAS, 1993, p. 94)
Quando perguntado se acredita numa sociedade ideal, responde que jamais teve
a pretensão de trabalhar teoricamente ao estilo de Rawls e Nozick, pois estes
“adotaram um tipo de teoria política normativa diferente”. (HABERMAS, 1993, p. 97)
Eu não contesto a validade de tal projeto, porém eu não tento construir na escrivaninha as normas fundamentais de uma sociedade bem organizada. O meu interesse fundamental está voltado primordialmente para a reconstrução das condições realmente existentes, na verdade sob a premissa de que os indivíduos socializados, quando no seu dia-a-dia se comunicam entre si através da linguagem comum, não têm como evitar que se empregue essa linguagem também num sentido voltado ao entendimento. E ao fazerem isso, eles precisam tomar como ponto de partida determinadas pressuposições pragmáticas, nas quais se faz valer algo parecido com uma razão comunicativa. É tudo muito simples: sempre que nós pensamos no que estamos dizendo, levantamos com relação ao que é dito a pretensão de que é verdadeiro, correto ou sincero; e através disso irrompe em nosso dia-a-dia um fragmento de idealidade. Pois essas pretensões à validez só podem ser resgatadas, no final das contas através de argumentos; ao mesmo tempo nós sabemos, que certos argumentos, que hoje nos parecem consistentes, poderão revelar-se falso no futuro, à luz de novas experiências e informações. (HABERMAS, 1993, p. 97-98)
Nesse sentido, “a prática cotidiana orientada pelo entendimento está permeada
de idealizações inevitáveis”. De modo que “as idealizações pertencem ao medium da
linguagem coloquial comum, através da qual se realiza a reprodução de nossa vida”.
(HABERMAS, 1993, p. 98)
Habermas, por outro lado, não diverge quanto ao fato de que “as pessoas que se
comunicam no dia-a-dia possam decidir-se, à qualquer momento, a manipular os outros
ou a agir estrategicamente”. (HABERMAS, 1993, p. 98)
Contudo, nem todos, conseguem portar-se continuamente dessa maneira. Caso contrário, a categoria mentira perderia o seu sentido e, no final de tudo, a gramática de nossa linguagem desmoronaria. A apropriação da tradição e a socialização tornar-se-iam impossíveis. E nós teríamos que modificar os conceitos que utilizamos até aqui para
119
caracterizar a vida social e o mundo social. Com isso eu quero dizer o seguinte: quando eu falo de idealizações, não me refiro a idéias que o teórico solitário erige contra a realidade tal qual é; eu apenas tenho em mente os conteúdos normativos encontráveis em nossas práticas dos quais não podemos prescindir, porque a linguagem, junto com as idealizações que ela impõe as falantes, é constitutiva para as formas de vida sócio-culturais. (HABERMAS, 1993, p. 98)
120
4 QUESTÕES DE FILOSOFIA DO DIREITO: DIREITO E DEMOCRACIA
4.1 RAZÃO PRÁTICA E RAZÃO COMUNICATIVA
Habermas (1997, p. 17) sustenta que “a modernidade inventou o conceito de
razão prática como faculdade subjetiva”.
Aristóteles traz para o mundo dos filósofos o conceito de razão prática. Tal
conceito significa a empatia (e a aptidão) que o homem possui, na trajetória de sua
vida, de buscar a felicidade. Entretanto, no pensamento aristotélico, não só é justo
quem busca a felicidade pessoal, mas principalmente aquele que tem a preocupação
com a boa convivência em comunidade. Aquele que zela, isto é, que cuida da polis é
justo, portanto.
No papel de cidadão do mundo, o indivíduo confunde-se com o do homem em geral – passando a ser simultaneamente um eu singular e geral. O século XIX acrescenta a esse repertório de conceitos, oriundo do século XVIII, a dimensão histórica: O sujeito singular começa a ser valorizado em sua história de vida, e os Estados – enquanto sujeitos do direito internacional – passam a ser considerados na tessitura da história das nações. Coerente com essa linha, Hegel constrói o conceito espírito objetivo. Sem dúvida, tanto Hegel como Aristóteles estão convencidos de que a sociedade encontra a sua unidade na vida política e na organização do Estado; a filosofia prática da modernidade parte da idéia de que os indivíduos pertencem à sociedade como os membros a uma coletividade ou como as partes a um todo que se constitui através da ligação de suas partes. (HABERMAS, 1997, p. 17)
As sociedades modernas absorveram a proposta aristotélica de uma “sociedade
centrada no Estado”. Por outro lado, o pensamento burguês afirma a ideia de indivíduo:
homens livres, isto é, juridicamente autônomos. (HABERMAS, 1997, p. 17)
De modo que as sociedades tornaram-se tão “complexas a ponto de não
poderem mais utilizar indistintamente os modelos burguês e aristotélico”. (HABERMAS,
1997, p. 18)
121
Contudo, “a razão prática deixa seus vestígios filosófico-históricos no conceito de
uma sociedade que se administra democraticamente a si mesma, na qual o poder
burocrático do Estado deve fundir-se com a economia capitalista”. (HABERMAS, 1997,
p. 18)
O modo de analisar a sociedade a partir de um ponto de vista “sistêmico”, abre
mão “de qualquer conteúdo normativo da ‘razão prática’ (como agir)”. (HABERMAS,
1997, p. 18)
O Estado passa a formar um subsistema ao lado de outros subsistemas sociais funcionalmente especificados; estes, por sua vez, encontram-se numa relação configurada como ‘sistema-mundo circundante’, o mesmo acontecendo com as pessoas e sua sociedade. Partindo da idéia hobbesiana da auto-afirmação naturalista dos indivíduos, Luhmann elimina conseqüentemente a razão prática através da autopoiesis de sistemas dirigidos auto-referencialmente. E tudo leva a crer que os esforços de reabilitação e as formas empiristas retraídas não conseguem devolver ao conceito de razão prática a força explanatória que ele tivera no âmbito da ética e da política, do direito racional e da teoria moral, da filosofia da história e da teoria da sociedade. (HABERMAS, 1997, p. 18)
Sobre o “esgotamento dos modelos”, também alega que, após a implosão da
figura da razão prática pela filosofia do sujeito, “não temos mais condições de
fundamentar os seus conteúdos na teleologia da história, na constituição do homem ou
no fundo casual de tradições bem-sucedidas”. (HABERMAS, 1997, p. 19)
Por isso, estrategicamente, estabelece um caminho diferente, qual seja,
lançando mão da teoria do agir comunicativo: “substituo a razão prática pela
comunicativa. E tal mudança vai além de uma simples troca de etiqueta”. (HABERMAS,
1997, p. 19)
Ademais, a “razão comunicativa distingue-se da razão prática por não estar
vinculada a nenhum ator singular, nem a um macrossujeito sóciopolítico”. (HABERMAS,
1997, p. 20)
122
A partir dessa ideia, extraem-se dois aspectos. Primeiro, o que torna a razão
comunicativa possível “é o medium lingüístico, através do qual as interações se
interligam e as formas de vida se estruturam. Tal racionalidade está inscrita no telos
lingüístico do entendimento, formando um ensemble de condições possibilitadoras (...)”.
(HABERMAS, 1997, p. 20)
Segundo, “qualquer um que se utilize de uma linguagem natural, a fim de
entender-se com um destinatário sobre algo no mundo, vê-se forçado a adotar um
enfoque performativo e a aceitar determinados pressupostos”. (HABERMAS, 1997, p.
20)
Entre outras coisas, ele tem que tomar como ponto de partida que os participantes perseguem seus fins ilocucionários, ligam seu consenso ao reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade criticáveis, revelando a disposição de aceitar obrigatoriedades relevantes para as conseqüências da interação e que resultam um consenso. E o que está embutido na base de validade da fala, também se comunica às formas de vida reproduzidas pela via do agir comunicativo. A racionalidade comunicativa manifesta-se num contexto descentrado de condições que impregnam e formam estruturas, transcendentalmente possibilitadoras; porém, ela própria não pode ser vista como uma capacidade subjetiva, capaz de dizer aos atores o que devem fazer. (HABERMAS, 1997, p. 20)
A razão comunicativa, “ao contrário da razão prática, não é uma fonte de normas
do agir”. (HABERMAS, 1997, p. 22)
Nessa perspectiva, “as estratégias de comunicação da formação política da
vontade”, espremidas pelo sistema administrativo e econômico, “surgem como partes
de um processo mais amplo de racionalização do mundo da vida de sociedades
modernas: o domínio sobre as estratégias de comunicação”. (HABERMAS, 1997, p. 22)
Apesar da distância em relação aos conceitos tradicionais de razão prática, não é trivial constatar que uma teoria contemporânea do direito e da democracia continua buscando um engate na conceituação clássica. Ela toma como ponto de partida a força social integradora de processos de entendimento não violentos, racionalmente motivadores, capazes de salvaguardar distâncias e diferenças reconhecidas, na base da manutenção de uma comunhão de convicções. [...] Teorias
123
normativas expõem-se à suspeita de não levarem na devida conta os duros fatos que desmentiram, faz tempo, a autocompreensão do moderno Estado de direito, inspirada no direito racional. Pelo ângulo da objetivação das ciências sociais, uma concepção filosófica insiste em operar com a alternativa: ordem estabilizada através da força e ordem legitimada racionalmente, remonta à semântica de transição da baixa modernidade, que se tornou obsoleta a partir do momento em que se passou de uma sociedade estratificada para sociedades funcionalmente diferenciadas. (HABERMAS, 1997, p. 22)
Habermas (1997, p. 23), portanto, sustenta a tese de que é possível provar, sob
pontos de vista funcionais, “por que a figura pós-tradicional de uma moral orientada por
princípios depende de uma complementação através do direito positivo”.
Além disso, defende que a teoria do direito, baseada no princípio do discurso,
“precisa sair dos trilhos convencionais da filosofia política e do direito, mesmo que
continue assimilando seus questionamentos”. (HABERMAS, 1997, p. 23)
4. 2 DIREITO MODERNO E POSITIVIDADE
Considera o direito moderno como uma espécie de “mecanismo” que ameniza as
“sobrecarregadas realizações de entendimento dos que agem comunicativamente de
tarefas da integração social, sem anular, em princípio, a liberação do espaço da
comunicação”. (HABERMAS, 1997, p. 60)
Nesse sentido, aponta para dois aspectos do direito moderno: de um lado, a
“positividade”, e, de outro, “a pretensão à aceitabilidade racional”. (HABERMAS, 1997,
p. 60)
A positividade do direito significa que, ao se criar conscientemente uma estrutura de normas, surge um fragmento de realidade social produzida artificialmente, a qual só existe até segunda ordem, porque ela pode ser modificada ou colocada fora de ação em qualquer um de seus componentes singulares. Sob o aspecto da modificabilidade, a validade do direito positivo aparece como a expressão pura de uma vontade, a qual empresta duração a determinadas normas para que se oponham à possibilidade presente de virem a ser declaradas sem efeito. [...] o positivismo alimenta-se desse voluntarismo da pura criação. (HABERMAS, 1997, p. 60)
124
Conforme Habermas, “a positividade do direito não pode fundar-se somente em
decisões arbitrárias”. O poder de integração social “existente no próprio direito” deve ser
preservado, pois: “o direito retira a sua força muito mais da aliança que a positividade
do direito estabelece com a pretensão à legitimidade”. (HABERMAS, 1997, p. 60)
Por isso, sustenta a existência de uma “tensão havida entre facticidade e
validade”. (HABERMAS, 1997, p. 61)
Essa tensão ideal retorna intensificada no nível do direito, mais precisamente na relação entre a coerção do direito, que garante um nível médio de aceitação da regra, e a idéia da autolegislação – ou da suposição da autonomia política dos cidadãos associados – que resgata a pretensão de legitimidade das próprias regras, ou seja, aquilo que as torna racionalmente aceitáveis. Esta tensão na dimensão de validade do direito implica a organização do poder político, empregado para impor legitimamente o direito. (HABERMAS, 1997, p. 61)
Além disso, justifica a sua proposta de um “juspositivismo ético” quando afirma:
No Estado de direito a prática da autolegislação dos cidadãos assume uma figura diferenciada institucionalmente. A idéia do Estado de Direito coloca em movimento uma espiral da auto-aplicação do direito, a qual deve fazer valer a suposição internamente inevitável da autonomia política contra a facticidade do poder não domesticado juridicamente, introduzida no direito a partir de fora. O aperfeiçoamento do Estado de direito pode ser entendido como uma seqüência, aberta em princípio, de medidas cautelares, conduzidas pela experiência, contra a subjugação do sistema jurídico através do poder – ilegítimo – das circunstâncias, o qual contradiz sua autocompreensão normativa. E aqui se trata de uma relação externa entre facticidade e validade (perseguida na perspectiva do sistema jurídico), uma tensão entre norma e realidade, que constitui um desafio para a elaboração normativa. (HABERMAS, 1997, p. 61)
Alega que “as sociedades modernas são integradas através de valores, normas
e processos de entendimento”. Entretanto, do ponto de vista sistêmico, “as sociedades
modernas também são integradas pelo mercado”. Logo, dinheiro e poder administrativo
também “são mecanismos de integração social”. Ambos “constituem o sistema, além de
coordenarem as ações de forma objetiva, operando-se por trás das costas dos
125
participantes da interação, não necessariamente através da sua consciência intencional
ou comunicativa.” (HABERMAS, 1997, p. 60-61)
A mão invisível do mercado constitui desde a época de Adam Smith, o exemplo clássico para esse tipo de regulamentação. Ambos os meios ancoram-se nas ordens do mundo da vida, integrados na sociedade através do agir comunicativo, seguindo o caminho da institucionalização do direito. Desta maneira, o direito está ligado às três fontes da integração social. Através de uma prática de autodeterminação, que exige dos cidadãos o exercício comum de suas liberdades comunicativas, o direito extrai sua força integradora, em última instância, de fontes da solidariedade social. As instituições do direito privado e público, possibilitam, de outro lado, o estabelecimento de mercados e a organização de um poder do Estado; pois as operações do sistema administrativo e econômico, que se configuram a partir do mundo da vida, que é parte da sociedade, completam-se em formas do direito. (HABERMAS, 1997, p. 61-62)
Assim, na visão habermasiana, o direito moderno, ao mesmo tempo, está
conectado com o poder administrativo, com o mercado, bem como com as formas de
solidariedade praticadas no mundo da vida. Portanto, “em suas realizações
integradoras, o direito moderno precisa assimilar os imperativos de diferentes
procedências”. (HABERMAS, 1997, p. 62)
E é de se notar que as normas jurídicas não revelam como esses imperativos podem ser trazidos para um equilíbrio. Pode se reconhecer certamente nas matérias dos diferentes âmbitos do direito a procedência da necessidade de regulamentação em relação a qual reagem a política e a normatização. Porém, nos imperativos funcionais do aparelho estatal do sistema econômico e de outros domínios da sociedade, impõe-se muitas vezes interesses não suficientemente filtrados, por serem os mais fortes, servindo-se da força legitimadora da forma jurídica, a fim de disfarçar a sua imposição meramente factual. Como meio organizacional de uma dominação política, referida aos imperativos funcionais de uma sociedade econômica diferenciada, o direito moderno continua sendo um meio extremamente ambíguo da integração social. Com muita freqüência o direito confere a aparência de legitimidade ao poder ilegítimo. À primeira vista, ele não denota se as realizações de integração jurídicas estão apoiadas no assentimento dos cidadãos associados, ou se resultam de mera autoprogramação do Estado e do poder estrutural da sociedade; tampouco revela se elas, apoiadas neste substrato material, produzem por si mesmas a necessária lealdade das massas. Entretanto, os limites à autolegitimação do direito são tanto mais estreitos quanto menos o
126
direito, tomado como um todo,pode apoiar-se em garantias metassociais e se imunizar contra a crítica. (HABERMAS, 1997, p. 62-63)
As funções sistêmicas da economia e do aparelho do Estado que se operam
através do dinheiro e do poder administrativo, também devem permanecer conectadas,
“segundo a autocompreensão constitucional da comunidade jurídica, ao processo
integrador da prática social de autodeterminação dos cidadãos”. (HABERMAS, 1997, p.
63)
Portanto, a tensão entre o “idealismo do direito constitucional” (legitimidade) e o
“materialismo de uma ordem jurídica” (a força da facticidade), especialmente de um
direito econômico, encontra a sua resposta entre as abordagens empíricas do direito.
(HABERMAS, 1997, p. 63)
4.3 WEBER, DURKHEIM E PARSONS
Na visão de Habermas (1997, p. 94), “o discurso filosófico sobre a justiça não faz
jus à dimensão institucional, que constitui o objeto primordial do discurso jurídico. E,
sem a visão do direito como sistema empírico de ações, os conceitos filosóficos ficam
vazios”.
Contra esse perigo armaram-se princípios, especialmente os de inspiração neokantiana, que operam com a seguinte idéia: nas ordens sociais há uma interpenetração de idéias e interesses (M. Weber), ou de valores culturais e motivos (Parsons). Eles entendem o agir institucionalizado como realização seletiva de valores culturalmente reconhecidos sob limitações típicas de uma situação. Ordens sociais conferem realidade às expectativas normativas de comportamento, na medida em que especificam valores, tendo em vista as condições concretas de aplicação, integrando-os com interesses dados. Max Weber deixou-se conduzir por uma antropologia dualista, segundo a qual os sujeitos agentes defrontam-se com problemas da necessidade, tanto de ordem interna como externa, buscando bens ideais e materiais. Também T. Parsons parte de orientações axiológicas e necessidades que precisam ser harmonizadas entre si. Entretanto, é possível desenvolver um conceito semelhante de instituição, tomando como ponto de partida o problema formal da coordenação da ação. (HABERMAS, 1997, p. 94)
127
Habermas (1997, p. 94) não nega a existência de conflitos “entre expectativas e
pretensões” de atores sociais. Na verdade, nas sociedades complexas, existe um
embate contingente de interesses.
Sustenta, nesse espírito, que Durkheim postulou “um consenso preliminar sobre
valores (reconhecidos intersubjetivamente entre participantes)”, na tentativa de “explicar
a formação e a estabilidade de padrões de comportamento”. (HABERMAS, 1997, p. 94)
Durkheim esforça-se em traduzir a autonomia kantiana, que fundamenta a ligação a ordens supra-pessoais sobre discernimento pessoal, o que transforma em algo mais do que simples liberdade de escolha. Exige-se uma relação simétrica entre a autonomia moral de normas vigentes e o autocontrole ancorado nas estruturas da personalidade. Segundo Parsons, os valores internalizados devem corresponder a valores institucionalizados. Ou seja: os destinatários da norma somente estarão motivados suficientemente para a obediência, quando tiverem internalizado os valores incorporados nas normas. (HABERMAS, 1997, p. 95)
Seguindo a leitura de Parsons, “a internalização cria uma base motivacional para
as orientações axiológicas dos atores.” Nesse processo, “o caráter obrigatório de
ordens sociais vigentes pode encontrar um destinatário que se deixa obrigar
voluntariamente”. (HABERMAS, 1997, p. 95)
Essas questões, têm a ver com a interpretação de Weber, segundo a qual “as
ordens sociais somente podem obter durabilidade enquanto ordens legítimas”, no
sentido de que a validade de uma ordem deve significar “mais do que uma simples
regularidade determinada pelo costume ou pelos interesses envolvidos por um agir
social”. (HABERMAS, 1997, p. 96)
Habermas (1997, p. 97) entende que “no agir ordenado legitimamente, o
consentimento reciprocamente suposto está referido ao fato de que, ao lado de outros
motivos, a ordem também aparece, aos olhos de uma parte dos agentes, como
exemplar ou obrigatória e, portanto, como devendo valer”.
128
(...) uma ordem legítima não repousa somente num consentimento normativo, ancorado intrapsiquicamente através da internalização de valores correspondentes. Enquanto sua validade não estiver protegida através de uma autoridade religiosa ou moral, através de uma fé racional em valores, portanto, através de sanções internas correspondentes, a exemplo da vergonha e da culpa ou do medo de perder a salvação, ela necessita de garantias externas. Nesses casos, a expectativa de legitimidade de uma ordem social é estabilizada por meio de convenções ou do direito. (...) Weber fala em “convenção”, quando a validade social está garantida exteriormente através de “uma geral e perceptível desaprovação” do comportamento desviante; fala em “direito” quando um comportamento que respeita em média a norma é garantido através da ameaça de sanções externas por parte de uma “instância que obriga”. (HABERMAS, 1997, p. 97)
Outrossim, na visão habermasiana, o consentimento estabelecido entre atores
sociais é um fator importante, pois sem ele torna-se inviável a construção de um direito
legítimo. (HABERMAS, 1997)
O consentimento que pode ser suposto no agir ordenado legitimamente, modifica-se conforme o tipo das garantias internas e externas, que vem juntar-se aos argumentos de legitimidade. Ele se apóia num amálgama de argumentos e motivos empíricos, os quais têm origens distintas: são deduzidos de narrativas míticas, de cosmovisões religiosas, de doutrinas metafísicas ou tem origem profana, resultado do uso ético ou moral da razão prática. (...) A análise reconstrutiva do juiz ou do cidadão, feita na perspectiva do participante, dirige-se aos conteúdos significativos incorporados no substrato normativo, e às idéias e valores a partir do quais é possível esclarecer a pretensão à legitimidade ou a validade ideal de um sistema jurídico (...) A análise empírica sociológica, a ser desenvolvida na perspectiva do observador, dirige-se à totalidade formada pela fé na legitimidade, pela situação de interesses, pelas sanções e circunstâncias, portanto, à lógica das situações da ação, que tornam possível explicar a validade empírica e a imposição fática das expectativas de comportamento institucionalizadas de acordo com o direito. (HABERMAS, 1997, p. 97-98)
Para Habermas, Max Weber estabelece uma nítida distinção entre “o modo de
ver sociológico e o jurídico”: um se refere ao conteúdo do significado “objetivo de
proposições jurídicas”; o outro, diz respeito a uma “prática regulada pelo direito”, para a
qual deve-se levar em conta as “representações do homem sobre o ‘sentido’ e o ‘valor’
de determinadas proposições do direito”. (HABERMAS, 1997, p. 98)
129
Com essa distinção Weber inicia sua sociologia do direito. No modo de ver jurídico pergunta-se o seguinte: o que vale idealmente como direito? Que significado normativo deveria ser atribuído logicamente a uma formação lingüística que se apresenta como norma do direito? O que acontece factualmente no interior de uma sociedade? Weber pensa que o trabalho reconstrutivo e analítico dos conceitos é atribuição da ciência do direito; aqui ele não distingue entre dogmática jurídica, teoria do direito e filosofia do direito. [...] As condições da validade ideal, supostas pela fé na legitimidade, forma condições necessárias, não suficientes para a validade social de uma ordem do direito. Pois as ordens do direito são ordens legítimas, incapazes de unir diretamente idéias com interesses; no entanto, elas podem tornar faticamente relevantes razões e pretensões de validade, interpretando interesses através de idéias. (HABERMAS, 1997, p. 98-99)
Habermas (1997, p. 100) demonstra interesse pelo “ponto de vista metódico”,
segundo o qual, “a sociologia do direito não pode prescindir de uma reconstrução das
condições de validade do acordo de legalidade, que é pressuposto nos modernos
sistemas do direito”.
Nessa ótica, a positivação do direito e a diferenciação entre direito e moral, “são
resultados de um processo de racionalização, o qual, mesmo destruindo as garantias
meta-sociais da ordem jurídica, não faz desaparecer o momento de indisponibilidade
contido na pretensão de legitimidade do direito.” (HABERMAS, 1997, p. 100)
Habermas aponta para o fato de que o poder estatal dos Estados modernos, que passou por um processo de dessacralização de seu poder, se constitui através do direito e, mais especificamente, através do direito positivo, razão pela qual o poder político deriva sua legitimidade da própria legitimidade do direito: uma vez que não era mais possível recorrer à religião ou à moral para fundamentá-lo – foi necessário recorrer ao direito positivo para fazê-lo. Está ligado a essa concepção moderna do direito a idéia de direitos subjetivos, segundo a qual há uma esfera de liberdade, garantida a cada homem pelas normas jurídicas, que inclusive desobriga cada um de justificar as razões de suas escolhas (pois, afinal de contas, se o direito permite algo, não cabe indagar, de modo necessário, por sua moralidade). Essa idéia só é possível porque, na Modernidade, direito (que nos diz o que nos é permitido fazer) e moral (que nos diz qual é nosso dever) se dissociaram de um mundo que era impensável na Antigüidade, e mesmo na Idade Média. Isto revela a dimensão da facticidade do direito, que pode ser obedecido tanto por respeito à leis quanto para se evitar a sanção, que pode ser usado tanto como mecanismo de integração comunicativa entre os homens, quanto como mecanismo
130
estratégico de se realizar o plano individual de ação de cada um. (GALUPPO, 2005)
Para Habermas (1997, p. 100), “o desencantamento de imagens religiosas do
mundo, ao enterrar o duplo reino do direito: sagrado e profano, não traz conseqüências
apenas negativas; ele também leva a uma reorganização da validade do direito na
medida em que transporta simultaneamente os conceitos fundamentais da moral e do
direito para um nível de fundamentação pós-convencional”.
Com a distinção entre normas e princípios de ação, com o conceito de uma produção de normas conduzida por princípios e da estipulação espontânea de regras normativamente obrigatórias, com a noção da força normatizadora de pessoas autônomas privadas, etc., formou-se a representação de normas estabelecidas positivamente, portanto modificáveis e, ao mesmo tempo, criticáveis e carentes de justificação. Luhmann traduziu a positividade do direito para a seguinte fórmula, demasiado restrita, é verdade: “o direito não é estatuído apenas através de decisão (ou seja, escolhido), porque ele também vale por força de decisão (sendo, portanto, contingente e modificável)”. De fato, a positividade do direito pós-metafísico também significa que as ordens jurídicas só podem ser construídas e desenvolvidas à luz de princípios justificados racionalmente, portanto universalistas. (HABERMAS, 1997, p. 100-101)
Max Weber, na opinião de Habermas (1997, p. 101), entende que a positividade
das leis precisa de uma garantia no poder de coerção do Estado, “apoiando-se num
consenso fundamentado”.
Weber pensa que as ordens legais não são legítimas enquanto se apoiarem apenas na suposição do assentimento racionalmente obtido: é preciso que haja também uma imposição – e docilidade – na base uma dominação de homens sobre homens, tida como legítima. Essa alternativa necessita de um esclarecimento, uma vez que a dominação legal só pode ser tida como legítima na base de sua conformidade com o direito. (HABERMAS, 1997, p. 101)
Consoante Habermas (1997, p. 102), Weber tenta “explicar a racionalização do
direito, apoiando-se apenas em seus aspectos internos [...] para reconstruir as bases de
validade do direito moderno”.
131
Weber também estudou “os tipos de dominação legítima” e, a partir dessa
análise sociológica, o direito moderno pode ser explicado quando identificado “um nexo
funcional com a dominação burocrática da instituição estatal racional”. Weber não
considera a “função socialmente integradora do direito”. (HABERMAS, 1997, p. 102)
Segundo Weber, o Estado de direito obtém sua legitimação, em última instância, não da forma democrática da formação política da vontade, mas somente de premissas do exercício da dominação política conforme ao direito – a saber da estrutura abstrata das regras e das leis, da autonomia da jurisdição e da construção racional da administração (continuidade e estruturação dos negócios administrativos, organização dos serviços públicos segundo a competência, hierarquia dos cargos, instrução especializada dos funcionários, etc.). Temos em Weber um modelo tipicamente alemão de Estado de direito, no qual se encaixa bem a dominação elitista dos partidos políticos. (HABERMAS, 1997, p. 102)
Analisando o pensamento de Parsons, Habermas (1997, p. 104) afirma que ao
“universalismo moral dos fundamentos de validade do direito moderno corresponde a
introdução sucessiva de todos os membros da sociedade na associação de sujeitos do
direito, livres e iguais.”
Parsons tematiza preferentemente o desenvolvimento do direito sob aspectos externos. A primeira modernidade é dominada pelo processo de diferenciação de um sistema econômico dirigido por uma ordem de dominação política que passa pelo medium do dinheiro, assumindo, por seu turno, a figura de um sistema dirigido pelo poder administrativo. Ambas as formações de subsistemas significam que a sociedade civil se desliga da economia e do Estado. As formas tradicionais de comunidade modernizam-se na figura de uma sociedade civil, a qual, seguindo o pluralismo religioso, se distancia dos próprios sistemas culturais. Acompanhando esses processos de diferenciação, surge uma necessidade de integração de tipo novo, em relação à qual o direito positivado reage de três maneiras diferentes. Os meios de regulação – dinheiro e poder administrativo – são ancorados no mundo da vida através da institucionalização jurídica dos mercados e das organizações burocráticas. Simultaneamente são juridificados complexos interacionais, nos quais os conflitos antes eram resolvidos eticamente, na base do costume, da lealdade ou confiança; a partir de agora, esses conflitos são reorganizados de tal maneira que os participantes em litígio podem apelar para pretensões de direito. E a universalização de um status de cidadão institucionalizado pública e juridicamente foram o complemento necessário para a juridificação potencial de todas as
132
relações sociais. O núcleo dessa cidadania é formado pelos direitos de participação política, que são defendidos nas novas formas de intercâmbios da sociedade civil, na rede de associações espontâneas protegidas por direitos fundamentais, bem como nas formas de comunicação de uma esfera pública política produzida através da mídia. Dada que a positivação do direito resulta da racionalização de suas bases de validade, o direito moderno conseguirá estabilizar as expectativas de comportamento de uma sociedade complexa, que inclui modos da vida estruturalmente diferenciados e subsistemas funcionalmente independentes, se ele assumir a função de uma societal community que se transformou numa sociedade civil, mantendo a pretensão de solidariedade herdada na forma de uma pretensão de legitimidade digna de fé. Modernos sistemas de direito procuram cumprir essa promessa. Através da generalização e da concretização do status de cidadão. (HABERMAS, 1997, p. 104-105)
A função desempenhada pelo direito na modernidade, o problema que gira em
torno da validade, bem como a capacidade dos ordenamentos jurídicos de garantir a
liberdade dos cidadãos, são questões teóricas que integram o universo de
preocupações da filosofia do direito de Habermas. (HABERMAS, 1997)
Em sociedades modernas, o Direito precisa “obedecer às exigências pós-
metafísicas de legitimação, o que só é possível através da incorporação de um caráter
pós-tradicional de justificação”, isto é, somente quando “sua legitimação estiver
desagregada tanto da religião quanto dos costumes”. (MOREIRA, 2002, p. 31)
Como perdeu a vinculação “com fontes metafísicas e consuetudinárias, o
ordenamento jurídico levanta a pergunta pela validade de suas pretensões, que só
auferem normatividade, se forem legítimas”. (MOREIRA, 2002, p. 31)
Em sociedades pós-metafísicas, o Direito “agregou ao seu conceito, um caráter
pós-tradicional de justificação”. Por sua vez, esse caráter pós-tradicional do Direito, “se
deve ao fato de sua institucionalização realizar-se através de ordens legítimas, que têm
como pressuposto um acordo, o qual, por seu turno, funda-se em um reconhecimento
intersubjetivo de normas”. (MOREIRA, 2002, p. 31)
No entanto, segundo a análise habermasiana sobre a posição de Weber, quando um acordo normativo funda-se na tradição temos uma ação comunicativa convencional. No momento em que essa ação
133
normativa desliga-se da tradição e é substituída por uma ação do tipo racional, conforme fins orientada para o sucesso, estabelece-se o problema de como ordenar legitimamente esse acordo normativo. Quando isso acontece é preciso que haja uma reviravolta sobre o acordo normativo (...) O caso típico de regulação normativa de uma ação racional conforme a fins orientada para o sucesso é a criação, livremente consentida, de “um estatuto dotado de força jurídica”. (MOREIRA, 2002, p. 32)
Weber usa o conceito “estatuto dotado de força jurídica” para descrever a
tendência de racionalização social. Habermas, por outro lado, não concorda com a
expressão weberiana “racional conforme a fins”, substituindo-a por “racional segundo
valores.” (MOREIRA, 2002, p. 31)
Weber menciona como marco fundamental do Direito moderno a sistemática
jurídica. Nesse sentido, “o Direito moderno é precisamente um direito de juristas [...] De
modo que tanto a administração da justiça quanto a administração pública se
profissionalizaram. Ademais, a aplicação da lei por magistrados e a criação do direito
pelo caminho do legislativo estão vinculadas a procedimentos formais dependentes da
atribuição de competências legais (ou investiduras de funções a determinados cargos)”.
(MOREIRA, 2002, p. 33)
Essa situação exige que a sistematização dos preceitos jurídicos e a coerência da dogmática jurídica alcancem tamanha sofisticação conceitual, de tal modo que o Direito passe a obter sua justificação através da derivação de princípios. Ora, segundo a interpretação de Habermas, essa tendência já está presente nas Faculdades de Direito da baixa Idade Média e se impõe com plenitude através do positivismo jurídico traduzida em conceito por Hans Kelsen. A referida tendência se impôs de modo marcante nos sistemas jurídicos nacionais oriundos da tradição do Direito romano. E isso precisamente é o que o faz rejeitar a proposta de aumento da racionalização do Direito moderno em termos de sua sistematização interna. Ocorre que tal sistematização tem como condição de possibilidade o passo para uma etapa pós-tradicional de consciência moral. E isso se fez possível através da racionalização ética das imagens do mundo, uma vez que só aqui se efetiva um conceito formal de mundo social como totalidade das relações interpessoais legitimamente reguladas. Desse modo, assim como o sujeito moral pôde orientar-se conforme princípios reguladores de sua vida, assim também o sujeito de direito privado orienta seu agir pelas regras estabelecidas em lei. Isso se dá através do desencantamento da imagem religiosa do mundo e da secularização da compreensão
134
mundana, possibilitando a ascensão das condições para que a concepção sacra do Direito converta-se na perspectiva hipotética adotada perante os sujeitos de direito que, em princípio, são livres e iguais, e que, portanto, podem escolher sobre qual direito regulará suas vidas. (MOREIRA, 2002, p. 34-35)
Weber, num primeiro momento, “estudou a evolução jurídica a partir do Direito
revelado”. Num segundo momento, analisou o Direito tradicional, passando-se, em
seguida, aos estudos sobre o Direito moderno. O último, por sua vez, exige que “seus
fundamentos passem pelo procedimento de validade”. No Direito primitivo, revelado por
ordens místicas, por exemplo, “não há o conceito de norma objetiva, ao passo que no
Direito tradicional, as normas derivam-se da tradição dos costumes”. (MOREIRA, 2002,
p. 35).
4.4 CIDADANIA, ESTADO DE DIREITO E ESTADO SOCIAL
Interpretando o pensamento de Parsons, Habermas afirma que, “o direito
moderno é uma espécie de ‘correia de transmissão’ [...] através da qual é possível
passar solidariedade para as condições anônimas e sistematicamente mediadas de
uma sociedade complexa [...] para as estruturas [...] que nós descobrimos [...] nas
condições de vida concretas”. (HABERMAS, 1997, p. 107)
Parsons, como referencial teórico, utiliza os estudos de T. H. Marshall (em
especial a obra Citizenship and Social Class) valendo-se de suas pesquisas feitas na
Inglaterra. Verificou “a expansão dos direitos do cidadão” nesse país, partindo de
“referências empíricas”. (HABERMAS, 1997, p. 107)
Estabeleceu a divisão entre civil, political e social rights, para afirmar que “os
direitos liberais de defesa protegem o sujeito de direito contra intromissões ilegais do
Estado na vida, liberdade e propriedade; os direitos de participação política possibilitam
ao cidadão ativo, uma participação no processo democrático da formação da opinião e
da vontade; e os direitos de participação social, garantem ao cliente do Estado do bem-
estar, segurança social e um rendimento mínimo”. (MARSHALL apud HABERMAS,
1997, p. 107)
135
Marshall sustenta a tese segundo a qual, esta classificação tornou possível
“garantir e ampliar o status de cidadãos, nas sociedades ocidentais nos últimos dois ou
três séculos”. (MARSHALL apud HABERMAS, 1997, p. 107)
Tal concepção de cidadania tem sido alvo de “atenção nas discussões mais
recentes”. Marshall fez uma pesquisa “acerca dos processos de modernização
capitalista” e pôde concluir que “a inclusão dos cidadãos está diretamente relacionada
com a modernização”, porém, o “esquema segundo o qual a ampliação de direitos dos
cidadãos é representada como resultado de uma evolução social, é por demais
estreito”. Isto levou A. Giddens a enobrecer a atuação “das lutas e dos movimentos
sociais”. (HABERMAS, 1997, P. 107-108)
É certo que a acentuação das lutas de classe motivadas economicamente é unilateral. Pois movimentos sociais de outro tipo, especialmente migrações e guerras, também estimularam a ampliação do status de cidadão em diferentes dimensões. Fatores que estimulam a juridificação de novas relações de inclusão têm efeitos distintos também sobre a mobilização política da população e, assim, sobre a ativação de direitos dos cidadãos já existentes. (...) A classificação de direitos, desenvolvida por Marshall, foi ampliada, não apenas em termos de valores culturais, mas também em termos de novos tipos de direitos civis, pelos quais lutam hoje em dia os movimentos feministas e ecológicos. (HABERMAS, 1997, p. 108)
De maneira que os trabalhos de Marshall e Parsons relacionam o conceito de
cidadania com a “inclusão social”. (HABERMAS, 1997)
Numa sociedade crescentemente funcionalizada, um número cada vez maior de pessoas adquire direitos de acesso e de participação cada vez mais amplos num número cada vez maior de subsistemas – quer se trate de mercados, empresas e empregos, de cargos, tribunais e forças armadas, de escolas e hospitais, teatros e museus, de associações políticas e meios de comunicação públicos, de partidos, de estabelecimento de auto-administração ou de parlamentos. O indivíduo tem a sua disposição um número cada vez maior de sociedades de organização e espaços de opção cada vez mais amplos. [...] somente os direitos políticos de participação fundamentam a colocação reflexiva do direito de um cidadão. (HABERMAS, 1997, p. 108-109)
136
Nesse ponto, Habermas aloca seu pensamento jurídico num tipo de abordagem
que segue a análise das liberdades individuais e públicas (de participação), para
entrelaçá-las no contexto normativo e sistêmico. (HABERMAS, 1997)
(...) os direitos negativos à liberdade e os direitos de participação social podem ser concedidos de forma paternalística. Em princípio, o Estado de direito e Estado social são possíveis sem que haja democracia. Esses direitos de participação e de defesa têm uma dupla face. Os direitos liberais, que se cristalizaram historicamente em torno da posição social do proprietário privado, podem ser entendidos sob pontos de vista funcionais como a institucionalização de um sistema econômico dirigido pelo mercado, e, sob pontos de vista normativos, como a garantia de determinadas liberdades subjetivas privadas. (HABERMAS, 1997, p. 109)
Na perspectiva funcional, “os direitos sociais ocupam uma função estratégica na
organização burocrática do Estado do bem estar social, ao passo que, sob pontos de
vista normativos, eles asseguram medidas compensatórias através de uma melhor
distribuição da riqueza socialmente produzida”. (HABERMAS, 1997, p. 108)
Certamente, tanto as liberdades subjetivas, como a garantias sociais, podem ser tidas como uma base jurídica para a autonomia social que torna possível uma defesa efetiva dos direitos políticos. Entretanto, aí se trata de contextos empíricos, não de contextos conceitualmente necessários. Pois direitos de liberdade e de participação podem significar igualmente a renúncia privatista de um papel de cidadão, reduzindo-se então às relações que um cliente mantém com administrações que toma providências. A síndrome do privatismo da cidadania e o exercício do papel de cidadão na linha dos interesses de clientes tornam-se tanto mais plausíveis, quanto mais a economia e o Estado, que são institucionalizados através dos mesmos direitos, desenvolvem um sentido sistemático próprio, empurrando os cidadãos para o papel periférico de meros membros da organização. Os sistemas da economia e da administração têm a tendência de fechar-se contra seus mundos circundantes e de obedecer unicamente aos próprios imperativos do dinheiro e do poder administrativo. Eles rompem o modelo de uma comunidade de direito que se determina a si própria, passando pela prática dos cidadãos. (HABERMAS, 1997, p. 109)
Na obra “Direito e Democracia”, o direito é concebido como “normativamente
moderno [...] reclama à uma legitimidade em termos de uma justificação racionalmente
137
possível, não podendo ser tratado como uma moralidade pós-convencional”.
(HABERMAS, 1997, p. 109)
O direito não só representa, para Habermas, um tipo de conhecimento cultural,
mas constitui ao mesmo tempo um importante componente da ordem institucional.
(HABERMAS, 1997)
Na visão habermasiana, o direito é duas coisas em uma só: “um sistema de
conhecimento” e um “sistema de ação”. (HABERMAS, 1997, p. 110-111)
Seguindo uma orientação sociológica, o direito pode ser “considerado um texto,
composto de proposições legais e com possibilidades de ser interpretado”. Também o
direito pode ser visto como “uma instituição”, isto é, como “um complexo normativo de
regulação da ação”, posto que “os motivos e as orientações axiológicas, estão
interligadas no direito como um sistema de ação, e as normas têm um efeito direto na
ação, o que não acontece nos juízos morais”. (HABERMAS, 1997, p. 111)
By “law” I understand modern enacted law, which claims to be legitimate in terms of its possible justification as well as binding in its interpretation and enforcement. Unlike postconvencional morality, law does not just represent a type cultural knowledge but constitutes at the same time an important core of institutional orders. Law is two things at once: a system of knowledge and a system of action. It is equally possible to understand law as text, composed of legal propositions and their interpretations, and to view it as an institution, that is, as a complex of normatively regulated action. Because motivations and value orientations are intertwined in law as an action system, legal norms have an immediate effect on action in a way that moral judgments do not. (HABERMAS, 1998, p. 79-80)
Portanto, na visão habermasiana, o direito também é uma forma do saber
cultural, pois participa na composição do “sistema de instituições sociais”.
O direito é um sistema de saber e, ao mesmo tempo um sistema de ação. Ele tanto pode ser entendido como um texto de proposições e de interpretações normativas, ou como uma instituição, ou seja, como um complexo de reguladores da ação. E, dado que motivos e orientações axiológicas encontram-se interligados no direito interpretado como sistema de ação, as proposições do direito adquirem uma eficácia direta
138
para a ação, o que não acontece nos juízos morais. De outro lado, as instituições jurídicas distinguem-se de ordens institucionais naturais através do seu elevado grau de racionalidade. (HABERMAS, 1997, p. 110-111)
4.5 O SISTEMA DOS DIREITOS
A filosofia do direito de Habermas (1997) tenta ofertar uma “reconstrução do
direito”, operando-se a partir da exposição daquilo que ele chamou de “sistema de
direitos”. Nesse projeto, ele tenta introduzir a categoria do direito (“direito moderno”) no
interior de uma ótica do agir comunicativo.
Pois uma teoria crítica da sociedade não pode limitar-se a uma descrição da relação entre norma e realidade, servindo-se apenas da perspectiva do observador. Antes de retomar esta tensão externa entre as pretensões normativas de ordens democrático-constitucionais e a facticidade de seu contexto social, eu desejo reconstruir a autocompreensão das ordens jurídicas modernas. E tomo como ponto de partida os direitos que os cidadãos têm que atribuir uns aos outros, caso queiram regular legitimamente sua convivência com meios do direito positivo. Esta formulação deixa entrever que existe uma tensão entre facticidade e validade permeando o sistema dos direitos em sua totalidade, característica do modo ambivalente da validade jurídica. (HABERMAS, 1997, p. 113)
Para tanto, teceu considerações sobre o conceito de subjektiven Rechte e
considerou que, a adoção da teoria dos direitos subjetivos, no interior da dogmática do
direito civil alemão, ocupa “um papel central na moderna compreensão do direito”,
valendo-se dos autores em destaque, a saber: Savigny, Puchta, Windscheid, Ihering e
Kelsen. (HABERMAS, 1997, p. 113)
Ele corresponde ao conceito de liberdade de ação subjetiva: os direitos subjetivos (rights) estabelecem os limites no interior dos quais um sujeito está justificado a empregar livremente a sua vontade. E eles definem liberdades de ação iguais para todos os indivíduos ou pessoas jurídicas, tidas como portadoras de direitos. No artigo 4 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, podemos ler o seguinte: A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica a um outro. O exercício dos direitos naturais de um homem só tem como limites os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo de
139
iguais direitos. Esses limites só podem ser estabelecidos através de leis. Kant apóia-se neste artigo, ao formular o princípio geral do direito, segundo o qual toda ação é eqüitativa quando sua máxima permite uma convivência entre liberdade de arbítrio de cada um e liberdade de todos, conforme uma lei geral. [...] O conceito da lei explicita a idéia do igual tratamento, já contida no conceito do direito: na forma de leis gerais e abstratas, todos os sujeitos tem os mesmos direitos. (HABERMAS, 1997, p. 113-114)
Defende que “a determinação conceitual kantiana é fundamental para o
esclarecimento do porquê o ‘direito moderno’ se adequa especialmente à integração de
sociedades econômicas que em domínios de ação neutralizados do ponto de vista
ético, dependem das decisões descentralizadas de sujeitos orientados pelo sucesso
próprio”. (HABERMAS, 1997, p. 114)
Porém, o direito não pode satisfazer apenas as exigências funcionais de uma sociedade complexa, devendo levar em conta também as condições precárias da integração social que se realiza, em última instância, através das realizações de entendimento de sujeitos que agem comunicativamente, isto é, através da aceitabilidade de pretensões de validade. O direito moderno tira dos indivíduos o fardo das normas morais e as transfere para as leis que garantem a compatibilidade das liberdades de ação. Estas obtêm sua legitimidade através de um processo legislativo que, por sua vez, se apóia no princípio da soberania do povo. Com o auxílio dos direitos que garantem aos cidadãos o exercício de sua autonomia política, deve ser possível explicar o paradoxo do surgimento da legitimidade a partir da legalidade. (HABERMAS, 1997, p. 114-115)
O juspositivismo ético habermasiano aponta para outros canais de legitimação
do direito, a exemplo das ações comunicativas praticadas entre cidadãos preocupados
na escolha de suas próprias regras de convivência. As normas de um sistema jurídico
não dependem “apenas de exigências funcionais de uma sociedade complexa para
obterem validade”. Logo, a dimensão “ética” de seu juspositivismo encontra-se no
processo de entendimento entre cidadãos.
De outro lado, o processo legislativo democrático precisa confrontar seus participantes com as expectativas normativas das orientações do bem da comunidade, porque ele próprio tem que extrair sua força legitimadora do processo de um entendimento dos cidadãos sobre
140
regras de sua convivência. Para preencher a sua função de estabilização das expectativas nas sociedades modernas, o direito precisa conservar um nexo interno com a força socialmente integradora do agir comunicativo. (HABERMAS, 1997, p. 115)
A influência do pensamento kantiano na construção da filosofia do direito
habermasiana é notória, porque trabalha com as categorias “direito” e “moral” para
fundamentar o sistema de direitos (HABERMAS, 1997)
Entretanto, o direito positivo e a moral pós-convencional desenvolveram-se co-originalmente a partir de reservas da eticidade substancial em decomposição. A análise kantiana da forma do direito fornecerá a ocasião para retomar a discussão sobre a relação entre direito e moral, a fim de mostrar que o princípio da democracia não pode ser subordinado ao princípio moral, como é feito na construção kantiana da doutrina do direito. Após a indicação do rumo, eu posso dedicar-me a fundamentar o sistema dos direitos com auxílio do princípio do discurso, de modo a esclarecer porque a autonomia privada e pública, os direitos humanos e a soberania do povo pressupõem mutuamente. (HABERMAS, 1997, p. 115-116)
Em sua empreitada teórica afirma que “a ideia de direitos humanos e da
soberania do povo determina até hoje a autocompreensão normativa dos Estados de
direito democráticos”. (HABERMAS, 1997, p. 128)
Não devemos entender esse idealismo, ancorado na estrutura da constituição, apenas como uma fase superada na história das idéias políticas. Ao invés disso, a história da teoria é um componente necessário, um reflexo da tensão entre facticidade e validade, entre positividade do direito e a legitimidade pretendida por ele, latentes no próprio direito. Essa tensão não pode ser trivializada nem ignorada, porque a racionalização do mundo da vida impede cada vez mais que se cubra a necessidade de legitimação do direito estabelecido – apoiado nas decisões modificáveis de um legislador político – lançando mão da tradição e da eticidade consuetudinária. (HABERMAS, 1997, p. 128)
Apoiado em Kant, “afirma que os direitos do homem, fundamentados na
autonomia moral dos indivíduos, só podem adquirir uma figura positiva através da
autonomia política dos cidadãos”. (HABERMAS, 1997, p. 127)
141
O princípio do direito busca, dessa maneira, realizar uma “espécie de mediação
entre o princípio da moral e o princípio da democracia”. Contudo, “não está
suficientemente claro como esses dois princípios se comportam reciprocamente”.
(HABERMAS, 1992, p. 127)
O conceito de autonomia foi introduzido por Kant “na perspectiva daquele que
julga moralmente”. (HABERMAS, 1992, p. 127)
“[...] porém, ele explicita esse conceito na fórmula legal do imperativo categórico, apoiando-se no modelo de Rousseau, ou seja, numa “legislação” pública realizada democraticamente. Os conceitos “principio moral” e “princípio da democracia” estão interligados; tal circunstância é encoberta pela arquitetônica da doutrina do direito. [...] No meu entender, a falta de clareza sobre a relação entre esses princípios deve ser lançada na conta de Kant e de Rousseau, pois, em ambos os casos, existe uma não-confessada relação de concorrência entre os direitos humanos, fundamentados moralmente, e o princípio da soberania do povo. (HABERMAS, 1992, p. 127-128)
Na visão de Habermas (1997, p. 131), no horizonte de uma fundamentação pós-
tradicional, “o indivíduo forma uma consciência moral dirigida por princípios”. Além
disso, o individuo orienta seu agir através do princípio da autodeterminação.
A isso equivale, no âmbito da constituição de uma sociedade justa, a liberdade política do direito racional, isto é, da autolegislação democrática. Na medida em que tradições culturais e os processos de socialização tornam-se reflexivos, toma-se consciência da lógica de questões éticas e morais, embutida nas estruturas do agir orientado pelo entendimento. Sem a retaguarda de cosmovisões metafísicas ou religiosas, imunes à críticas, as orientações práticas só podem ser obtidas, em última instância, através de argumentações, isto é, através de formas de reflexão do próprio agir comunicativo. (HABERMAS, 1997, p. 131-132)
Ele também entende que, os argumentos favoráveis da legitimidade do direito,
devem coadunar com os princípios morais da justiça e da solidariedade universal – “sob
pena de dissonâncias cognitivas – bem como com os princípios éticos de uma conduta
de vida auto-responsável, projetada conscientemente, tanto de indivíduos quanto de
coletividades”. (HABERMAS, 1997, p. 133)
142
Sustenta ainda que, os direitos humanos e o princípio da soberania do povo, são
princípios “justificadores do direito moderno”. (HABERMAS, 1997, p. 133)
Pois a essas idéias vêm somar-se aos conteúdos que sobrevivem, de certa forma, depois que a substância normativa de um ethos ancorado em tradições metafísicas e religiosas passa pelo crivo de fundamentações pós-tradicionais. Na medida em que as questões morais e éticas se diferenciaram entre si, a substância normativa, filtrada discursivamente, encontra a sua expressão na dimensão da autodeterminação e da auto-realização. Certamente os direitos e a soberania do povo não se deixa subordinar linearmente a essas duas dimensões. [...] As tradições políticas surgidas nos Estados Unidos e caracterizadas como liberais e republicanas interpretam os direitos humanos como expressão de uma autodeterminação moral e a soberania do povo como expressão da auto-realização ética. Nesta perspectiva, os direitos humanos e a soberania do povo não aparecem como elementos complementares, e sim, concorrentes. (HABERMAS, 1997, p. 133)
Os liberais, por exemplo, defendem o perigo de uma “tirania da maioria” e
sustentam “o primado de direitos humanos”. Os Human Rights “fundamentam as
liberdades pré-políticas do indivíduo, além de estabelecerem limites ao legislador
político”. (HABERMAS, 1997, p. 134)
Em contrapartida, os que advogam em prol de um humanismo republicano
destacam “a auto-organização dos cidadãos”. Por outro lado, na perspectiva dos
liberais, os Human Rights “impõem-se ao saber moral como algo dado, ancorado num
estado natural fictício; ao passo que na visão republicana, a vontade ético-política de
uma coletividade que está se auto-realizando não pode reconhecer nada que não
corresponda ao próprio projeto de vida autêntico.” (HABERMAS, 1997, p. 134)
Diante dessa análise, Habermas alega que na tradição liberal o que prevalece é
o elemento “moral cognitivo”, ao passo que, na tradição republicana, o fator
determinante é o “ético-voluntário”. (HABERMAS, 1997, p. 134)
Opondo-se a essa linha, Rousseau e Kant tomaram como objetivo pensar a união prática e a vontade soberana no conceito de autonomia, de tal modo que a idéia dos direitos humanos e o princípio da soberania do povo se interpretasse mutuamente. Mesmo assim, eles não
143
conseguiram entrelaçar simetricamente os dois conceitos. Kant sugeriu um modo de ver a autonomia política que se aproxima mais do liberal, ao passo que Rousseau se aproximou mais dos republicanos. (HABERMAS, 1997, p. 134)
Kant retira o princípio geral do direito da aplicação do princípio moral, iniciando a
sua filosofia do direito com fundamento no direito de liberdades subjetivas iguais, com
permissão de coerção, “a qual compete ao homem graças a sua humanidade.”
(HABERMAS, 1997, p. 135)
Kant não interpretou a ligação da soberania popular aos direitos humanos como restrição, porque ele partiu do princípio de que ninguém, no exercício de sua autonomia como cidadão, poderia dar a sua adesão a leis que pecam contra sua autonomia privada garantida pelo direito natural. Por isso, era preciso explicar a autonomia política a partir do nexo interno entre a soberania do povo e os direitos humanos. [...] A linha kantiana de fundamentação da doutrina do direito, que passa da moral para o direito, não valoriza o contrato da sociedade, afastando-se, pois, da inspiração de Rousseau. Rousseau parte da constituição da autonomia do cidadão e introduz a fortiori um nexo interno entre soberania popular e os direitos humanos. No entanto, como a vontade soberana do povo somente pode exprimir-se na linguagem de leis abstratas e gerais, está inscrito naturalmente nela o direito a iguais liberdades subjetivas, que Kant antepõe, enquanto direito humano fundamentado moralmente, à formação política da vontade. [...] Rousseau interpretou a idéia da autolegislação mais na linha da ética do que na da moral e entendeu a autonomia como realização consciente da forma de vida de um povo concreto. [...] Rousseau descreveu a constituição da soberania do povo, que se dá através de um contrato da sociedade, como um ato existencial da socialização, por meio do qual os indivíduos singulares voltados ao sucesso, se transformam nos cidadãos de uma comunidade ética, orientada ao bem comum. Enquanto membros de um corpo coletivo, eles se diluem no grande sujeito de uma prática de legislação, o qual rompeu com os interesses das pessoas privadas, submetidas às leis. Rousseau exagerou ao máximo a sobrecarga ética do cidadão, embutida no conceito republicano de sociedade. (HABERMAS, 1997, p. 135-136)
Na opinião de Habermas, nem Kant nem Rousseau conseguem descobrir “o
nexo interno entre soberania do povo e direitos humanos”. (HABERMAS, 1997, p. 137)
144
Se a vontade racional só pode formar-se no sujeito superdimensionado de um povo, então a autonomia política deve se entendida como a realização autoconsciente da essência ética de uma comunidade concreta; e a autonomia privada só é protegida contra o poder subjugador da autonomia política através da forma não discriminadora de leis gerais. Ambas as concepções passam ao largo da força de legitimação de uma formação discursiva da opinião e da vontade, na qual são utilizadas as forças ilocucionárias do uso da linguagem orientada pelo entendimento, a fim de aproximar razão e vontade – e para chegar a convicções nas quais todos os sujeitos singulares podem concordar entre si sem coerção. (HABERMAS, 1997, p. 138)
Seguindo essa linha de raciocínio, afirma que os discursos e as negociações –
“cujos procedimentos são fundamentados discursivamente – constituem um lugar no
qual se pode formar uma vontade racional”. Com essa explosão de racionalidade,
sustenta que a legitimidade do direito deve se apoiar “num arranjo comunicativo”.
(HABERMAS, 1997, p. 138)
Enquanto participantes de discursos racionais, os cidadãos devem poder examinar se uma norma controvertida encontra ou poderia encontrar o assentimento de todos os possíveis atingidos. Por conseguinte, o almejado nexo interno entre soberania popular e direitos humanos só se estabelecerá, se o sistema dos direitos apresentar as condições exatas sob as quais as formas de comunicação – necessárias para uma legislação política autônoma – podem ser institucionalizadas juridicamente. O sistema dos direitos não pode ser reduzido a uma interpretação moral dos direitos, nem a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua autonomia política. As instituições normativas, que unimos aos direitos humanos e à soberania do povo, podem impor-se de forma não-reduzida no sistema dos direitos, se tomarmos como ponto de partida que o direito às mesmas liberdades de ação subjetivas, enquanto direito moral, não pode ser simplesmente imposto ao legislador soberano como barreira exterior, nem instrumentalizado como requisito funcional para seus objetivos. A co-originariedade da autonomia privada e pública somente se mostra, quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da teoria do discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de direitos. A substância dos direitos humanos insere-se, então, nas condições formais para a institucionalização jurídica desse tipo de formação discursiva da opinião e da vontade, na qual a soberania do povo assume figura jurídica. (HABERMAS, 1997, p. 138-139).
145
Nesse horizonte de ideias, à luz da teoria do discurso, Habermas defende a tese
de que “o princípio moral ultrapassa os limites históricos casuais, traçados entre
domínios vitais públicos e privados”. (HABERMAS, 1997, p. 145).
Na teoria do discurso, “se leva a sério o sentido universalista da validade das
regras morais, pois se exige que a aceitação ideal de papéis – que, de acordo com Kant
todo indivíduo realiza – seja transportada para uma prática pública, realizada em
comum por todos.” (HABERMAS, 1997, p. 145)
A filosofia kantiana preza pela construção de categorias universais no campo da
moral. Habermas (1997, p. 145), da mesma forma, também investe nesse propósito,
pois não despreza o “sentido universalista” da validade das regras morais.
A fim de obter critérios precisos para a distinção entre princípio da democracia e princípio moral, parto da circunstância de que o princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento de normatização legítima do direito. Ele significa, com efeito, que somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de normatização discursiva. (HABERMAS, 1997, p. 145)
Na tarefa de se buscar uma atividade procedimental para o direito, a prática de
autodeterminação de cidadãos que se “reconhecem mutuamente” no Demokratischen
RechtStaats (como membros iguais e livres) deve ser levada em conta. (HABERMAS,
1997).
As categorias universais de Kant também não são descartadas por Habermas,
posto englobar “todos” no procedimento democrático, na medida em que “todos
participam da autodeterminação”, colocando-se na posição “de autores e destinatário
do direito”. (HABERMAS, 1997, p. 159).
A legitimidade deste direito moderno, essencialmente mutável, deriva, como já apontava Kant, do fato de suas normas serem concebidas, simultaneamente, como normas da liberdade e como normas obrigatórias (sancionadas), e não, portanto, de conteúdos materiais imutáveis, como na Idade Média [...]. Isto foi necessário porque um direito fundamentado em conteúdos materiais só seria possível em uma
146
comunidade homogênea. Sociedades pluralistas, como as modernas, não podem recorrer senão a uma legitimação procedimental do direito (como a de Kant, Rawls ou Habermas). (GALUPPO, 2005)
Kant, por exemplo, “parte da lei moral para dela derivar os deveres jurídicos”.
Habermas concebe a ideia kantiana, quanto ao “caminho percorrido” como uma
“redução” (Einschränkung) e como uma “abstração” (Abstraktionen). (HABERMAS,
1997, p. 157).
Este “caminho percorrido” da moral ao direito, parte da consideração do sujeito
como autor da lei, para “o sujeito como destinatário de deveres”. Assim, 1. o direito “não
se refere à vontade, mas ao arbítrio”; 2. o direito “trata da relação externa de uma
pessoa a outra”; 3. o direito “recebe autorização para a coerção, ou seja, não leva em
consideração a motivação do sujeito, apenas a conformidade à lei”. (HABERMAS,
1997, p. 158).
Essa caracterização do direito a partir da moral parece colocar o direito numa posição inferior, normativamente, àquela da moral, já que haveria, na formulação de Heck, uma primazia normativa da moral sobre o direito. Isso leva Habermas a ver na posição kantiana com relação ao direito um certo platonismo. Habermas propõe uma relação de complementaridade (Ergänzungsverhältnis) entre moral e direito. Ele caracteriza tal relação como sociológica. (DUTRA, 2005, p. 214)
A realização dos deveres morais, a exemplo dos atos de solidariedade entre
cidadãos, “necessita de grandes sistemas organizados”. O direito, nesse prisma, “pode
suprir essa exigência da institucionalização através do direito administrativo”, por
exemplo, “ao criar órgãos destinados a executar a ajuda aos necessitados, de maneira
que a moral é funcionalmente complementada pelo direito”. (DUTRA, 2005, p. 218)
Sob esse aspecto, não é possível ver no que Habermas se distingue de Kant, na medida em que o papel complementar entre moral e Direito, defendida por Habermas, poderia ser imputado também à Kant sob a forma da filosofia da história com a distinção entre civilizar e moralizar. De fato, nas suas obras tardias Kant trabalha a questão da fraqueza da vontade moral e o mecanismo natural que civiliza, mas não moraliza. Além disso, (...) se a todo dever de direito corresponde a um dever moral, não é difícil vislumbrar a possibilidade de interpretar essa
147
formulação, para além de questões de legitimidade ou justificação, como sendo uma forma de o direito complementar a moral ao nível da ação. (DUTRA, 2005, p. 218)
Portanto, eis o sistema de direitos apresentados:
1. Direitos Fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. Esses direitos exigem como correlatos necessários: 2. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito; 3. Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual. (...) 4. Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os cidadãos exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito legítimo. (...) 5. Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) até (4). (HABERMAS, 1997, p. 159-160)
4.6 FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS PELO CAMINHO DA TEORIA DO DISCURSO: FORMA DO DIREITO E PRINCÍPIOS
Nesse estágio de discussão teórica, Habermas (1997, p. 154) entende que as
reflexões sobre direito, moral e democracia, amadureceram ao ponto de poder
“fundamentar um sistema dos direitos que faça jus à autonomia privada e pública dos
cidadãos”. Esse sistema deve estabelecer “os direitos fundamentais que os cidadãos
são obrigados a se atribuir mutuamente, caso pretendam regular sua convivência com
os meios legítimos do direito positivo”. Ademais, da mesma forma que “no direito
racional clássico, esses direitos devem ser introduzidos inicialmente na perspectiva de
alguém que não está participando”.
Rawls também sustenta algo parecido, pois sua preocupação está num ideal de
“sociedade bem-ordenada”, e nela deve haver um ponto de consenso sobre a Justiça,
fator importante para a garantia de alívio de tensões sociais, devido à inevitável
existência de conflitos entre cidadãos que exercem suas reivindicações.
148
Com efeito, a Justiça modela a estrutura básica dessa sociedade bem-ordenada,
isto é, “a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e
deveres fundamentais e determinam a divisão e vantagens provenientes da cooperação
social”. (RAWLS, 2002, p. 07)
Posicionando-se contrário ao filósofo J. Rawls, Habermas parece incorrer em
certa contradição à luz das ideias sustentadas em “Passado como Futuro”, pois: “Eu
não contesto a validade de tal projeto, porém eu não tento construir na escrivaninha as
normas fundamentais de uma sociedade bem organizada.” (HABERMAS, 1990, p. 98)
Afinal, qual é o conceito de Justiça que deve ser escolhido para moldar a
estrutura básica de uma sociedade bem-ordenada?
Para lidar com este problema, Rawls retoma a tradição contratualista, e formula uma teoria na qual um procedimento contratual é realizado para a escolha do conceito de Justiça que melhor atenda a essa sociedade bem-ordenada. Rawls formula para isso uma situação contratual hipotética, chamada de Posição Original. As partes contratantes decidem, na Posição Original, qual conceito de Justiça deve moldar a estrutura básica de sua sociedade para que ela seja bem ordenada. Desta forma, o problema da escolha se transfere para a Posição Original, e a questão se torna qual conceito de Justiça escolher na Posição Original, tendo em vista que as partes viverão nessa sociedade. A forma como Rawls constrói a Posição Original e as condições nas quais uma decisão é tomada parte de premissas genéricas e amplamente aceitas. Essa aceitação das premissas é, segundo Rawls, objeto de consenso na cultura política de sociedades democráticas contemporâneas. (REIS, 2011, p. 110)
Os direitos fundamentais apresentados por Habermas em “Between facts and
norms” foram construídos numa escrivaninha? São normas fundamentais de um Estado
Democrático de Direito?
Sim, pois em inúmeras passagens da obra remete-se ao pensamento kantiano,
além de fazer várias menções à “forma jurídica”. Ademais, ele mesmo afirma que “[...]
os direitos fundamentais [...] precisam ser configurados e interpretados” (HABERMAS,
1997, p. 162).
149
O que mais caracteriza a proximidade de Habermas ao pensamento de Rawls (e
prova maior de que também desenvolve suas teorias numa “escrivaninha”), talvez
esteja na passagem que vem a seguir:
O conceito “forma jurídica”, que estabiliza as expectativas sociais de comportamento do modo como foi dito, e do princípio do discurso, à luz do qual é possível examinar a legitimidade das normas de ação em geral, nos fornece os meios suficientes para introduzir in abstracto as categorias de direitos que geram o próprio código jurídico, uma vez que determinam o status das pessoas de direito [...]. (HABERMAS, 1997, p. 159)
Logo, o pensamento habermasiano demonstra ser contraditório.
Outrossim, na obra em questão, acredita na possibilidade dos cidadãos obterem
um consenso, possível até mesmo num modelo de Estado de direito burguês e
capitalista.
Com efeito, alega que os “direitos devem ser introduzidos inicialmente na
perspectiva de alguém que não está participando”, o que também revela sua
proximidade com o juspositivismo ético de Rawls. (HABERMAS, 1997, p. 154)
Habermas (1997, p. 157), por exemplo, defende que o princípio do direito
kantiano fundado na ideia de “lei geral” carrega o peso da legitimação, “e aí o
imperativo categórico está sempre presente como pano de fundo: a forma da lei geral
legitima a distribuição das liberdades de ação subjetivas, porque nele se expressa um
bem sucedido teste de generalização da razão que examina leis. Disso resulta, em
Kant, uma subordinação do direito à moral, a qual é inconciliável com a idéia de uma
autonomia que se realiza no medium do próprio direito.”
A idéia da autolegislação de civis exige que os que estão submetidos ao direito, na qualidade de destinatários, possam entender-se também enquanto autores do direito. E, para fazer jus a esta idéia, não basta compreender o direito a iguais liberdades e ação subjetivas como um direito fundamentado moralmente, que necessita apenas da positivação através do legislador político. Enquanto pessoas que julgam moralmente, podemos certamente nos convencer da validade do direito humano primordial, na medida em que já dispomos de um conceito de
150
legalidade. Todavia, enquanto legisladores morais, nós ainda não somos sujeitos jurídicos ou destinatários, aos quais esse direito é conferido. É verdade que cada sujeito do direito, no papel de uma pessoal moral, entende que poderia dar-se a si mesmo determinadas leis jurídicas; mesmo assim, essa ratificação moral posterior – e privada – não elimina o paternalismo de uma “dominação das leis”, à qual os sujeitos do direito, politicamente heterônomos, continuam submetidos. Somente a normatização politicamente autônoma permite aos destinatários do direito uma compreensão correta da ordem jurídica em geral. Pois o direito legítimo só se coaduna com um tipo de coerção jurídica que salvaguarda os motivos racionais para a obediência ao direito. O direito coercitivo não poder obrigar os seus destinatários a isso; deve ser-lhes facultado renunciar ou não, conforme o caso, ao exercício de sua liberdade comunicativa e a tomada de posição em relação à pretensão de legitimidade do direito. (HABERMAS, 1997, p. 157-158)
Nesse sentido, sustenta que a ideia de autolegislação de “cidadãos não pode ser
deduzida da autolegislação moral de pessoas singulares [...] A autonomia tem que ser
entendida de modo mais geral e neutro”. (HABERMAS, 1997, p. 158)
Por isso introduzi um princípio do discurso, que é indiferente em relação à moral e ao direito. Esse princípio deve assumir – pela via da institucionalização jurídica – a figura de um princípio da democracia, o qual passa a conferir força legitimadora ao processo de normatização. A idéia básica é a seguinte: o princípio da democracia resulta da interligação que existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica. Eu vejo esse entrelaçamento como uma gênese lógica de direitos, a qual pode ser reconstruída passo a passo. Ela começa com a aplicação do princípio do discurso ao direito a liberdades subjetivas de ação em geral – constitutivo para a forma jurídica enquanto tal – e termina quando acontece a institucionalização jurídica de condições para um exercício discursivo da autonomia política, a qual pode equipar retroativamente a autonomia privada, inicialmente abstrata, com a forma jurídica. Por isso, o princípio da democracia só pode aparecer como núcleo de uma sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos forma um processo circular, no qual o código do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto, o princípio da democracia, se constituem de modo co-originário. O processo de apresentação vai do abstrato ao concreto, sendo que a concreção acontece porque a perspectiva da representação, inicialmente trazida de fora, é internalizada pelo sistema de direitos, representado. Ora, tal sistema deve conter precisamente os direitos que os cidadãos são obrigados a atribuir-se reciprocamente, caso queriam regular legitimamente a sua convivência com os meios do direito positivo. (HABERMAS, 1997, p.158-159)
151
De modo que apoiado na teoria discursiva do direito, Habermas propõe que a
teoria do direito – e do Estado de Direito – “precisa sair dos trilhos convencionais da
filosofia política do direito, mesmo que continue assimilando seus questionamentos”.
(HABERMAS, 1997, p. 24)
Assim, ele visa atingir um duplo objetivo: “esclarecer por que a teoria do agir
comunicativo concede um valor posicional central à categoria do direito e por que ela
mesma forma, por seu turno, um contexto apropriado para uma teoria do direito apoiada
no princípio do discurso” (HABERMAS, 1997, p. 24)
Por outro lado, Moreira (2004, p. 188), defende que o projeto de Habermas “é a
criação de uma esfera imediatamente legislativa pela constituição de uma comunidade
juridicamente autônoma”. Eis “o diferencial da Teoria Discursiva do Direito”, uma teoria
que não se coaduna “com o normativismo jurídico”. Tal teoria é “a negação da
concepção de existência de um modelo para o ordenamento jurídico”.
Assim, a Teoria Discursiva do Direito não privilegia um direito formal (Estado liberal), tampouco um direito material (Estado social), pois não se atém a padrões estabelecidos, mas à constituição de uma liberdade comunicativa que assegura o perpetuar-se da criação do ato jurídico como processo constituinte permanente. Como paradigma procedimental, somente a liberdade comunicativa reveste-se de caráter prescritivo, de continuamente proceder às melhores razões postas na dança entre a facticidade das objeções e proposições contida na pretensão à aceitabilidade universal. A normatividade que é elevada a paradigma é uma normatividade posterior, fruto de um processo decisório constante, que cria e constitui seu próprio sentido (...) Portanto, não há de se falar em falta de normatividade ou prescrição no Direito ou na Teoria Discursiva do Direito de Habermas. (MOREIRA, 2004, p. 188-189)
Outrossim, para Moreira (2004, p. 189) a normatividade jurídica “é fruto de um
consenso, sendo, pois, uma prescrição a posteriori”.
(...) os desenvolvimentos do pensamento jurídico-filosófico moderno produziram uma cisão do conceito de autonomia jurídica a fim de alcançar tanto a liberdade para os cidadãos decidirem sobre as normas que regulam o comportamento de todos os membros de suas respectivas comunidades, como também a liberdade para decidir sobre
152
a orientação que darão a suas próprias vidas individuais. (…) Segundo Habermas, (…) o público e o privado não teriam conseguido ser plenamente harmonizados, sendo eles posicionados em um embate que leva à submissão alternada de um e de outro. Para o autor, a modernidade jurídica e filosófica teria encontrado na autonomia dos cidadãos o fundamento último do Estado democrático de Direito, sem que, no entanto, tenha conseguido produzir uma formulação desse conceito capaz de evitar a imagem de um conflito não solucionado entre seus momentos internos. Da incapacidade do pensamento jurídico-filosófico harmonizar seus princípios normativos mais caros, Habermas retira a necessidade de superação do Estado atual da teoria em direção a uma “reinterpretação” de suas categorias centrais segundo a teoria do discurso. (NOBRE, 2008, p. 92)
153
5 O DIREITO INTERNACIONAL E A POLÍTICA EM HABERMAS
5.1 A EUROPA NECESSITA DE UMA CONSTITUIÇÃO?
Para discutir acerca da necessidade da Europa ter uma Constituição, Habermas
utiliza as reflexões de Dieter Grimm, autor de um texto escrito em 1995, no European
Law Journal.
Levado a outro raciocínio político (“however, an analysis of its pressuppositions
leads me to draw a different political conclusion”), aponta para a existência “de um
déficit democrático em âmbito europeu”. (HABERMAS, 2004, p. 183)
Além disso, denuncia “a contraditória política constitucional da União Europeia”.
Primeiro, porque se trata de uma “organização supranacional sem constituição própria,
baseada em contratos do direito público internacional”, e segundo, porque “a União
Européia não é um Estado, no sentido de um Estado constitucional moderno”
alicerçado na força de império e “soberano tanto interna quanto externamente”.
(HABERMAS, 2004, p. 183)
Por outro lado, os órgãos da comunidade “criam um direito europeu (na forma de
regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e opiniões) que vincula os Estados-
membros, com menor ou maior intensidade”. (DA ROSA, 1997, p. 55)
Na visão Habermasiana, a União Europeia exerce o direito de soberania, “que
até então estava reservado ao Estado em sentido estrito”. (HABERMAS, 2004, p. 183)
Analisando a questão da União Europeia, Habermas (2004, p. 184) aponta para
o fato de que as decisões da Comissão e do Conselho, bem como as decisões do
Tribunal Europeu, “intervêm cada vez mais profundamente nas relações dos Estados-
membros”.
No âmbito dos direitos de soberania, “que foram transferidos para a cúpula
decisória da União Europeia, o Conselho Europeu pôde impor suas decisões à revelia
do descontentamento de governos nacionais”. Ao mesmo tempo, “o Parlamento
154
Europeu legislou apenas sobre competências brandas, carecendo as decisões da
cúpula de uma legitimação democrática imediata”; de modo que “Os órgãos executivos
da Comunidade derivam sua legitimação da legitimação dos governos dos Estados-
membros”. (HABERMAS, 2004, p. 184)
Ademais, “eles não são órgãos constituídos por um ato de vontade dos cidadãos
europeus unidos”. Com o passaporte europeu “não se vinculam até o momento
quaisquer direitos que fundamentem uma cidadania democrática em nível europeu”.
(HABERMAS, 2004, p. 184)
Por outro lado, Grimm, em relação aos federalistas (estes “exigem uma
configuração democrática da União Europeia”), admoesta contra a corrosão das
competências dos Estados nacionais no âmbito do direito europeu: “as novas
instituições políticas não oferecem solução alguma, pois enquanto não se lhes infundir
vida, elas antes corroboram a tendência de crescimento da autonomia de uma política
burocrática, já perceptível no âmbito nacional”. (GRIMM apud HABERMAS, 2004, p.
184)
Na visão habermasiana, até nos dias de hoje, “faltam pressupostos reais de uma
formação da vontade dos cidadãos integrada em âmbito europeu”. O euroceticismo, por
exemplo, “é um sério entrave para a questão da integração, obstáculo que se estende
às discussões que norteiam o direito constitucional”, pois conduz “ao argumento de que
enquanto não houver um povo europeu suficientemente ‘homogêneo’ para constituir
uma vontade política, não deve haver uma Constituição européia”. (HABERMAS, 2004)
Enquanto faltarem uma sociedade civil integrada em âmbito europeu, uma opinião pública de dimensões européias sobre assuntos de ordem política e uma cultura política em comum, os processos decisórios supranacionais necessariamente continuarão se autonomizando em face dos processos de formação de opinião e de vontade, que são hoje como ontem organizados em âmbito nacional. (HABERMAS, 2004, p. 185)
De um lado, os federalistas encaram como um desafio o risco (previsto, e muitas
vezes evitável) “de uma autonomização de organizações supranacionais”. De outro, os
155
eurocéticos, por sua vez, “contentam-se desde o início com a erosão da substância
democrática” (inevitável, segundo eles), “para não terem de abandonar a morada
aparentemente segura proporcionada pelo Estado nacional”. (HABERMAS, 2004, p.
185)
Grimm repudia uma Constituição europeia “por não haver até hoje um povo
europeu”. A propósito, esse foi o tom do julgamento do Tribunal Constitucional Federal
alemão em Maastricht, ou seja, “a noção de que a base democrática para a legitimação
do Estado exige certa homogeneidade do povo que o compõe”. No entanto, Grimm
afasta-se da forma de entendimento de uma homogeneidade do povo tal como
defendida por Carl Schmitt. (GRIMM apud HABERMAS, 2004, p. 187)
De modo que “os pressupostos da democracia não se desenvolvem a partir do
povo, mas da sociedade que se quer constituir como unidade política”. (GRIMM apud
HABERMAS, 2004, p. 187)
A cidadania democrática produz uma solidariedade entre estrangeiros,
relativamente abstrata, juridicamente mediada: “essa forma de integração social, que
desponta inicialmente com o Estado nacional, realiza-se sob a forma de um contexto
comunicacional que se estende até a socialização política”. (HABERMAS, 2004, p. 187)
Esse contexto certamente depende do cumprimento de exigências funcionais importantes e que não podem ser simplesmente criadas por meios administrativos. A isso também pertencem condições sob as quais se pode constituir e reproduzir comunicativamente uma autocompreensão ético-política dos cidadãos – mas de modo algum uma identidade coletiva independente do processo democrático, e portanto dada de antemão. O que une uma nação constituída de cidadãos – diferentemente da nação constituída por um mesmo povo – não é um substrato preexistente, mas sim um contexto intersubjetivamente partilhado de entendimentos possíveis. (HABERMAS, 2004, p. 187)
Na opinião de Grimm, a identidade da nação de cidadãos “também pode ter
outros fundamentos” que não os de uma “ascendência étnica”. Em face disso, “penso
que se o processo democrático deve assumir a qualquer tempo garantias em favor da
156
integração social de uma sociedade diferenciada e autonomizada (...) então essa
identidade precisa ter outra base”. (GRIMM apud HABERMAS, 2004, p. 187-188)
Por isso, “autocompreensão multicultural da Nação de cidadãos, desenvolvida
em países de imigração clássica, como os Estados Unidos, tem muito mais a ensinar
nesse sentido do que o modelo francês da assimilação de culturas”. (HABERMAS,
2004, p. 188)
Ademais, se formas de vida culturais, religiosas e étnicas (distintas entre si)
“devem coexistir em igualdade de direitos no seio de uma mesma coletividade
democrática”, então, significa que “a cultura da maioria decorre dessa fusão –
historicamente explicável – [...] de se fundir também à cultura política partilhada por
todos os cidadãos”. (HABERMAS, 2004, p. 188)
Logo, a “coesão política entre cidadãos depende de uma coesão
comunicacional”. O núcleo é constituído por uma opinião pública de cunho político “que
possibilita aos cidadãos posicionar-se ao mesmo tempo em relação aos mesmos temas
de mesma relevância”. (HABERMAS, 2004, p. 188)
Essa opinião pública – não deformada, e que não sofre ocupação nem de dentro nem de fora – precisa ser inserida no contexto de uma cultura política liberal; e também precisa ser sustentada pela livre condição associativa de uma sociedade civil em direção à qual possam afluir experiências socialmente relevantes, advindas de campos vitais privados que continuem intactos, a fim de que se possa elaborá-las nessa mesma sociedade civil e transformá-las em temas passíveis de recepção pela opinião pública. (HABERMAS, 2004, p. 188)
No mesmo espírito, sustenta que os partidos políticos (não estatizados) precisam
permanecer enraizados nesse complexo, “a ponto de se mostrarem capazes de
intermediar, por um lado, os campos da comunicação informal pública e, por outro, os
processos institucionalizados de deliberação e decisão”. (HABERMAS, 2004, p. 188)
157
Por isso, do ponto de vista normativo, não poderá haver um Estado federativo europeu merecedor do nome de uma Europa democrática, se não se afigurar, no horizonte de uma cultura política, uma opinião pública integrada em âmbito europeu, uma sociedade civil com associações representativas de interesses, organizações não-estatais, movimentos de cidadania etc.., um sistema político-partidário concebido em face das arenas européias – em suma: um contexto comunicacional que avance para além das fronteiras de opiniões públicas de inserção meramente nacional, até o momento. [...] Mas uma compreensão de democracia a partir da teoria da comunicação, que também parece ser a preferência de Grimm, não pode se apoiar durante muito tempo sobre o conceito concretista de “povo”: pois ele trata apenas de simular homogeneidade onde nada há senão coisas heterogêneas. (HABERMAS, 2004, p. 189)
Dessa perspectiva, “a autocompreensão ético-política do cidadão não nasce
como elemento histórico-cultural primário”. Ela nasce “como grandeza de fluxo em um
processo circular que só põe em movimento por meio da institucionalização jurídica de
uma comunicação entre cidadãos de um mesmo Estado”. (HABERMAS, 2004, p. 189)
Foi dessa maneira que “as identidades nacionais da Europa moderna formaram-
se” (consoante a opinião de Habermas) (HABERMAS, 2004, p. 189)
Portanto, para Habermas (2004, p. 189-190), enquanto houver vontade política,
nada pode depor “contra a possibilidade de se criar o contexto comunicacional
politicamente necessário na Europa”.
Na visão habermasiana, pelo menos até agora, a Europa dispõe de uma “base
cultural comum” e uma “experiência histórica conjunta de bem-sucedida superação do
nacionalismo”. (2004, p. 190)
Na verdade, para que esse contexto de comunicação se estabeleça parece faltar apenas um desencadeamento por via jurídica constitucional. Também a exigência de uma língua comum – inglês como segunda primeira língua – poderia deixar de representar um empecilho intransponível, haja vista a situação atual da educação escolar formal nos países europeus. Identidade européia não pode significar nada senão unidade na pluralidade nacional; para isso, a propósito, após o aniquilamento da Prússia e o equilíbrio entre as diversas confissões religiosas, o federalismo alemão não oferece um mau modelo. (HABERMAS, 2004, p. 189-190).
158
5.2 A RELAÇÃO ENTRE ESTADO DE DIREITO E DEMOCRACIA
Estado de direito e democracia são domínios de investigação científica distintos,
pois a ciência do direito estuda-o como “jurisprudência”, enquanto a ciência política,
estudo a teoria da democracia. (HABERMAS, 2004)
Na visão habermasiana, “como todo domínio político é exercido sob a forma do
direito, o poder político ainda não foi domesticado sob a forma do Estado de direito,
além disso, há Estados de direito em que o poder governamental ainda não foi
democratizado”. (HABERMAS, 2004, p. 293)
In academia often mention law and politics in the same breath, yet at the same time we are accustomed to consider law, the rule of law, and democracy as subjects of different disciplines: jurisprudence deals with law, political science with democracy (…) The constitutional state and democracy appear to us as entirely separate objects. There are good reasons for this. Because political rule is always exercised in the form of law, legal systems exist where political force has not yet been domesticate by the constitutional state. (HABERMAS, 2000, p. 253)
De igual maneira, segundo Habermas (2000, p. 253), existem ordens jurídicas
estatais “sem instituições próprias a um Estado de direito”, e há Estados de direito sem
constituições democráticas: “And constitutional state exist where the power to govern
has not yet been democratized. In short, there are legally ordered constitutional states
without democratic constitutions”.
A relação entre Estado de direito e democracia é “o resultado do próprio conceito
moderno de direito”; podendo-se dizer que, “é o resultado da circunstância de que hoje
o direito positivo não pode mais obter sua legitimidade, recorrendo a um direito
superior” (presente na natureza das coisas), ou que, seja fundamentado na visão de
mundo mística ou na cosmovisão, pois o direito moderno é justificado pelo caminho da
razão: “In this paper I want to treat several aspects of internal relation between the rule
of law and democracy. This relation results from the concept of modern law itself as well
as from the fact that positive law can no longer draw its legitimacy from a higher law”.
(HABERMAS, 2000, p. 254)
159
O direito moderno legitima-se a partir da autonomia garantida “com igualdade” a
todo cidadão, sendo que a autonomia privada e a pública pressupõem-se mutuamente:
“Modern law is legitimated by the autonomy guaranteed equally to each citizen, and in
such way that privade and public autonomy reciprocally presuppose each other”.
(HABERMAS, 2000, p. 254)
A ideia de autonomia e de “garantias jurídicas” universais e uniformemente
válidas para todos, é uma “invenção da modernidade”, uma ideia burguesa defensora
de uma racionalidade opositora à visão de mundo religiosa.
Since Locke, Rousseau, and Kant, a certain concept of law has gradually prevailed not only in philosophical thought but in the constitutional reality of Western societies. This concept is supposed to account simultaneously for both the positivity and freedom-guaranteeing character of coercible law. The positivity of law – the fact that norms backed by the threat of state sanction stem from changeable decisions of a political lawgiver – is bound up with the demand for legitimation. According to this demand, positively enacted law should guarantee the autonomy of all legal persons equally. (HABERMAS, 2000, p. 254)
Em Kant, “as normas jurídicas têm de ser que tais que possam ser consideradas
a um só tempo, e sob cada um dos diferentes aspectos, como leis coercivas e como leis
da liberdade”. E esse duplo aspecto, também integra a compreensão de Habermas em
relação ao direito moderno. (HABERMAS, 2004, p. 295)
Outrossim, Habermas (2004, p. 295) defende que “o Estado, deve garantir a
efetiva imposição jurídica, ao mesmo tempo em que se garante uma instituição legítima
do direito”: logo, é necessário assegurar a legalidade do procedimento, consoante as
elucubrações habermasianas.
Kant already expressed this point with his concept of legality, which highlighted the connection between these two moments without which legal obedience cannot be reasonably expected: legal norms must be fashioned so that they can be viewed simultaneously in two ways, as coercive and as laws of freedom. These two aspects belong to our understanding of modern law: we consider the validity of a legal norm as equivalent to the explanation that the state can simultaneously guarantee factual enforcement and legitimate enactment – thus it can
160
guarantee, on the one hand, the legality of behavior in the sense of average compliance, which can if necessary be compelled by sanctions; and, on the other hand, legitimacy of the rule itself, which must always make it possible to comply with the norm out respect for the law. (HABERMAS, 2000, p. 255)
Sustenta que o “direito positivo temporalizado – no sentido de uma hierarquia de
leis – deveria permanecer subordinado ao direito moral eternamente válido e receber
dele suas orientações permanentes”. (HABERMAS, 2004, p. 296)
Ocorre que, o direito moderno, devido ao seu caráter formal, exime-se, em todo
caso, “de qualquer ingerência direta que advenha de uma consciência moral
remanescente e pós-tradicional”. (HABERMAS, 2004, p. 293)
Of course, this immediately raises the question of how the legitimacy of rules should be grounded when the rules in question can be changed at any time by the political legislator. Constitutional norms too are changeable; and even the basic norms that the constitution itself has declared nonamendable share with all positive law the fate that they can be abrogated, say, after a change of regime. As long as one was able to fall back on a religiously or metaphysically grounded natural law, the whirlpool of temporality enveloping positive law could be held in check by morality. Situated in a hierarchy of law, temporalized positive law was supposed to remain subordinate to an eternally valid moral law, from which it was to receive its lasting orientations. But even aside from the fact that in pluralistic societies such integrating worldviews and collectively binding comprehensive doctrines have in any case disintegrated, modern law, simply by virtue of its formal properties, resists the direct control of a posttradicional morality of conscience, which is, so to speak, all we have left. (HABERMAS, 2000, p. 255-256)
Ao tratar sobre a relação complementar “entre direito positivo e moral autônoma”,
lança a seguinte questão: “(...) se o direito positivo não pode obter sua legitimidade de
um direito moral superior, de onde então ele poderá obtê-la?”. (HABERMAS, 2004, p.
297)
Eis a defesa de alguns argumentos: 1. “assim como a moral, também o direito
deve defender eqüitativamente a autonomia de todos os envolvidos e atingidos”; 2. “O
direito deve comprovar sua legitimidade a partir desse mesmo aspecto do
asseguramento da liberdade”; 3. A positividade do direito obriga a uma “decomposição”
161
da autonomia, “para a qual não há contrapartida no lado da moral”. (HABERMAS, 2004,
p. 297-298)
From what, then, can positive law borrow its legitimacy, if not from a superior moral law? Like morality, law too is supposed to protect the autonomy of all persons equally. Law too must prove its legitimacy under this aspect of securing freedom. Interestingly enough, though, the positive character of law forces autonomy to split up in a peculiar way, which has no parallel in morality. Moral self-determination in Kant´s sense is a unified concept insofar as it demands of each person, in propria persona, that she obey just those norms that she herself positis according to her own impartial judgment, or according to a judgment reached in commom with all other persons. However, the binding quality of legal norms does not stem solely from the collectively binding decisions of authorities who make and apply law. This circumstance makes it conceptually necessary to distinguish the role of authors who make (and adjudicate) law from that of addressees who are subject to established law. The autonomy that in the moral domain is all of piece, so to speak, appears in the legal domain only in the dual form of private and public autonomy. (HABERMAS, 2000, p. 257)
Quanto à mediação entre a soberania popular e os direitos humanos, “não nos
causa espanto que as teorias do direito racional tenham dado uma dupla resposta às
questões de legitimação”: ora aludindo ao princípio da soberania popular, ora quando
se refere ao domínio das leis assegurado pelos direitos humanos. (HABERMAS, 2004,
p. 298)
Para Habermas (2004, p. 298), “o princípio da soberania popular se expressa
nos direitos de comunicação e participação que asseguram a autonomia pública dos
cidadãos do Estado”.
It is therefore not surprising that modern natural law theories have answered the legitimation question by referring, on the one hand, to the principle of popular sovereignty and, on the other, to the rule of law as garanteed by human rights. The principle of popular sovereignty is expressed in rights of communication and participation that secure the public autonomy of citizens; the rule of law is expressed in those classical basic rights that guarantee the private autonomy of members of society. (HABERMAS, 2000, p. 258)
162
De modo que, o direito, legitima-se como um meio “para o asseguramento
equânime da autonomia pública e privada”. A filosofia política foi incapaz de resolver a
tensão havida entre soberania popular e direitos humanos; entre a “liberdade dos
antigos” e a “liberdade dos modernos”. (HABERMAS, 2004, p. 299)
To be sure, political philosophy has never really been able to strike a balance between popular sovereignty and human rights, or between the freedom of the ancients and the freedom of the moderns. The political autonomy of citizens is supposed to be embodied in the self-organization of a community that gives itself its laws through the sovereign will of the people. The private autonomy of citizens, on the other hand, is supposed to take the form of basic rights that guarantee the anonymous rule of law. (HABERMAS, 2000, p. 258)
5.3 REPUBLICANISMO, AUTONOMIA PÚBLICA DOS CIDADÃOS E A FORMAÇÃO DA VONTADE POLÍTICA RACIONAL
No entendimento de Habermas (2004, p. 299), o republicanismo, que remonta a
Aristóteles e ao humanismo político da Renascença, “sempre atribuiu primazia à
autonomia pública dos cidadãos do Estado”, em comparação com as liberdades
individuais. Ao passo que, o liberalismo, cuja origem está em Locke, além de alertar
sobre o perigo das “maiorias tirânicas”, também postula “a primazia dos direitos
humanos”. O fato é que a legitimidade “dos direitos humanos se deveria ao resultado de
um auto-entendimento ético e uma autodeterminação soberana de uma coletividade
política”.
Republicanism, which goes back to Aristotle and the political humanism of the Renaissance, has always given the public autonomy of citizens priority over the prepolitical liberties of private persons. Liberalism, which goes back to John Locke, has invoked the danger of tyrannical majorities and postulated the priority of human rights. (HABERMAS, 2000, p. 258)
Rousseau aponta para uma leitura mais republicana, enquanto Kant segue a
vertente liberal.
163
Rousseau suggests more of a republican reading, Kant more of a liberal one. They missed the intuition they wanted to articulate: that ideia of human rights, which is expressed in the right to equal individual liberties, must neither be merely imposed on the sovereign legislator as an external barrier nor be instrumentalized as a functional requisite for legislative goals. (HABERMAS, 2000, p. 259)
Para que essa “intuition” ganhe expressão adequada, Habermas recomenda
considerar “o procedimento democrático a partir de pontos de vista da teoria do
discurso”, posto que “é o processo democrático que confere força legitimadora ao
processo de criação do direito”; Com efeito, “To express this intuition properly it helps to
view the democratic procedure – which alone provides legitimating force to the law
making process in the context of social and ideological pluralism – from a discurse-
theoretical standpoint”. (HABERMAS, 2000, p. 259)
Para a complementação dessa ideia, parte de uma proposição fundamental, qual
seja a de que “as regulamentações que podem requerer legitimidade são justamente as
que podem contar com a concordância de possivelmente todos os envolvidos como
participantes em discursos racionais”. (HABERMAS, 2004, p. 300)
Se são discursos e negociações – cuja justeza e honestidade encontram fundamento em procedimentos discursivamente embasados – o que constitui o espaço em que se pode formar uma vontade política racional, então a suposição de racionalidade que deve embasar o processo democrático, tem necessariamente de se apoiar em um arranjo comunicativo muito engenhoso: tudo depende das condições sob as quais se podem institucionalizar juridicamente as formas de comunicação necessárias para a criação legítima do direito. (HABERMAS, 2004, p. 300)
Essa reflexão só invoca os “direitos políticos do cidadão, isto é, os direitos de
comunicação e participação que asseguram o exercício da autonomia política”, não os
direitos humanos clássicos que garantem a autonomia privada dos cidadãos, posto que
“this analysis is at first plausible only for those political civil rights, specifically the rights
of communication and participation, that safeguard the exercise of political autonomy.
(…) the classical human rights that guarantee the citizens private autonomy.”
(HABERMAS, 2000, p. 259-260)
164
Por outro lado, Habermas (2004, p. 301) defende que, os direitos humanos,
podem ser bem fundamentados pela moral; contudo, “não pode ocorrer de um
soberano ser investido deles de forma paternalista”, pois a ideia da autonomia jurídica
dos cidadãos exige que, “os destinatários do direito, possam ao mesmo tempo ver-se
como seus autores”.
Também sustenta que os cidadãos são plenamente competentes no sentido de
“afirmação da autonomia”. Habermas coloca os cidadãos na posição de “co-
legisladores”. Ademais, no processo legislativo os cidadãos “só podem tomar parte na
condição de sujeitos do direito”; um outro desdobramento de raciocínio revela-se
necessário para o entendimento do pensamento jurídico habermasiano: “a ideia
democrática de autolegislação não tem opção senão validar-se a si mesma no medium
do direito”. (HABERMAS, 2004, p. 301)
(...) sem os direitos fundamentais que asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não haveria tampouco um medium para a institucionalização jurídica das condições sob as quais eles mesmos podem fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu papel de cidadãos do Estado. E assim, dessa forma, a autonomia privada e a pública pressupõem-se mutuamente, sem que os direitos humanos possam reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele. (HABERMAS, 2004, p. 301)
Outrossim, sustenta que os cidadãos só podem “fazer um uso adequado da
autonomia pública na medida que estiverem garantidos pelos direitos privados”, pois
“só poderão chegar a uma regulamentação capaz de gerar consenso, se fizerem uso
adequado de sua autonomia política como cidadãos do Estado”. (HABERMAS, 2004, p.
301-302)
Essa coesão interna entre Estado de direito e democracia foi suficientemente encoberta pela concorrência dos paradigmas jurídicos dominantes até hoje. O paradigma jurídico liberal conta com uma sociedade econômica que se institucionaliza por meio do direito privado – especialmente por via de direitos à propriedade e liberdade de contratação – e que se coloca à mercê da ação espontânea de mecanismos de mercado. Essa sociedade de direito privado é feita sob medida em relação a autonomia dos sujeitos do direito que, no papel de
165
integrantes do mercado, procuram realizar de forma mais ou menos racional os próprios projetos de vida. Vincula-se a isso a expectativa normativa de que se possa alcançar a justiça social pela garantia de um status jurídico negativo como esse, ou seja, pela delimitação de esferas de liberdades individuais. O modelo do Estado social desenvolveu-se a partir de uma crítica consistente a essa suposição. A contestação que se faz é evidente: se a liberdade do poder ter e poder adquirir deve garantir justiça social, então é preciso haver uma igualdade do poder juridicamente. Com a crescente desigualdade das posições de poder econômico, patrimônio e condições sociais, porém, desestabilizaram-se sempre mais os pressupostos factuais capazes de proporcionar que o uso das competências jurídicas distribuídas por igual ocorresse sob uma efetiva igualdade de chances. Se o teor normativo da igualdade de direitos jamais chegou a se converter no inverso de si mesmo, não deixou de ser necessário, por um lado, especificar o conteúdo das normas vigentes do direito privado, nem, por outro lado, introduzir direitos fundamentais de cunho social que embasassem as reivindicações de uma distribuição mais justa da riqueza produzida em sociedade e de uma defesa mais efetiva contra os perigos produzidos socialmente. (HABERMAS, 2004, p. 302)
Nessa direção, Habermas (2004, p. 302) defende que a “materialização do
direito”, produziu efeitos “de um paternalismo socioestatal.” (HABERMAS, 2004, p. 302)
Nos desdobramentos posteriores da dialética jurídica e factual, revelou-se que os dois paradigmas do direito estão igualmente comprometidos com a imagem produtivista de uma sociedade econômica capitalista e industrial, cujo funcionamento deve ser tal que a expectativa de justiça social possa ser satisfeita pelo esforço particular, assegurado e autônomo, por concretizar as concepções de bem-viver próprias a cada um. As duas partes só discordam quanto a se poder garantir a autonomia privada diretamente mediante direitos de liberdade, ou a se dever assegurar o surgimento da autonomia privada mediante outorga de reivindicações de benefícios sociais. (HABERMAS, 2004, p. 303)
5.4 A ANÁLISE DE HABERMAS SOBRE A IDEIA KANTIANA DE PAZ PERPÉTUA: O DIREITO COSMOPOLITA
Habermas (2004, p. 193) trabalha a ideia da condição cosmopolita a partir da
perspectiva da filosofia de Kant, para alegar que o filósofo de Königsberg acrescentou
uma terceira dimensão à teoria do direito: “ao direito público e ao direito internacional
vem somar-se o direito cosmopolita”.
166
Essa inovação, em sua opinião, traz muitos desdobramentos no interior do
Direito Internacional.
[...] a condição jurídica no interior de um mesmo Estado deve antever como término para si mesma uma condição jurídica global que una os povos e elimine as guerras: “A idéia de uma constituição em consonância com o direito natural do ser humano, isto é, que os obedientes à lei, unidos, também devam ser ao mesmo tempo legisladores, subjaz a todas as formas de Estado; e a essência comum – que, de acordo com essa idéia, cabe chamar de ideal platônico – não é apenas quimera, mas sim a norma eterna para toda a constituição burguesa em geral, e afasta toda a guerra” (Streit der Fakultäten, Werke, 364).[...] Isso aponta para que as normas do direito das gentes, que regulam a guerra e a paz, só devam estar vigentes de maneira peremptória, isto é, só devam vigorar até o momento em que o pacifismo jurídico, ao qual Kant apontou em seu texto “Sobre a paz perpétua”, tenha levado ao estabelecimento de uma categoria cosmopolita e, portanto, à supressão da guerra. (HABERMAS, 2004, p. 193-194)
Kant desenvolve essa concepção baseada nos conceitos do direito racional e
também de acordo com o momento histórico experimentado em sua época. Na
interpretação de Habermas, Kant sustentou “uma condição jurídica desejada que é
justamente a supressão da guerra entre os povos”. O desejo por uma paz perpétua foi
fundamentado por Kant referindo-se às mazelas produzidas pelo tipo de guerra travada
entre os príncipes da Europa, que se valiam de exércitos mercenários. (HABERMAS,
2004, p. 194)
Kant denunciou “os horrores da violência e as devastações”, sobretudo as
pilhagens e o empobrecimento do país por causa do ônus da guerra e, também,
destacou as conseqüências dos atos de guerra, como por exemplo, “a perda da
liberdade”, a subjugação de um povo e o domínio estrangeiro. (HABERMAS, 2004, p.
195.)
Aqui se revela o panorama da guerra restrita que, no âmbito do assim chamado direito das gentes, fora institucionalizado no sistema das potências internacionais, como instrumento legítimo para a solução de conflitos. O encerramento de uma guerra como essa define a situação de paz. E assim como determinado tratado de paz põe fim aos males
167
de uma guerra em particular, dessa mesma forma uma aliança pela paz deve “encerrar todas as guerras para todo o sempre” e suprimir como tais todos os males ocasionados pela guerra. É esse o significado da “paz perpétua”. A paz, dessa maneira, é circunscrita da mesma maneira que a própria guerra. (HABERMAS, 2004, p. 195)
O raciocínio de Kant centrava-se em conflitos “espacialmente delimitados entre
Estados e alianças em particular” e não em guerras com proporções mundiais.
Pensava, por exemplo, em guerras travadas entre gabinetes de Estado: “em guerras
com objetivos politicamente delimitados, e não em guerras de aniquilamento ou
banimento motivadas por fatores ideológicos”. (HABERMAS, 2004, p. 195)
É sob a premissa da guerra delimitada que a normatização do direito internacional se estende à condução da própria guerra e ao regramento da paz. O direito “à guerra”, o assim chamado ius ad bellum, anteposto ao direito “na guerra” e ao direito “no pós-guerra”, não é rigorosamente direito algum, porque só expressa o livre-arbítrio concedido aos sujeitos do direito internacional em condição natural, ou seja, na condição extralegal da relação consigo mesmos. As únicas leis penais que intervêm nessa situação extralegal – ainda que sejam cumpridas apenas por tribunais do próprio Estado beligerante – referem-se ao comportamento na guerra. Crimes de guerra são crimes cometidos na guerra. [...] Para Kant ainda não há o crime da guerra. (HABERMAS, 2004, p. 195-196)
No bojo das discussões sobre a condição cosmopolita, considera a paz perpétua
como um elemento característico importante no pensamento de Kant, e explica que o
filósofo de Königsberg precisou mostrar a diferença entre o direito cosmopolita e o
direito internacional clássico. (HABERMAS, 2004)
Ao passo que o direito das gentes, como qualquer direito em condição natural, tem vigência apenas peremptória, o direito cosmopolita acabaria definitivamente com a condição natural, assim como faz o direito sancionado na forma estatal. É por isso que Kant, para ilustrar a transição a uma condição cosmopolita, recorre sempre à analogia com o primeiro abandono de uma condição natural, que, com a constituição de determinado Estado com base no contrato social, possibilita aos cidadãos do país uma vida de liberdade assegurada por via legal. Assim como terminou a condição natural entre indivíduos abandonados a si mesmos, também deve findar a condição natural entre Estados belicistas. (HABERMAS, 2004, p. 196-197)
168
Kant, referindo-se à submissão dos Estados a um direito burguês “pacificador”,
chegou a mencionar a destruição do bem-estar e a perda da liberdade “como o mal
maior”, alegando que não existe outra saída possível senão um direito “das gentes”
baseado em leis. (KANT apud HABERMAS, 2004)
Nesse viés, a proposta kantiana é de pôr “um fim ao estado de natureza
internacional”, pelo caminho do direito.
Este, com efeito, é o projeto que Kant vai desenvolver na Zum ewigen Frieden. Kant propõe os fundamentos e os princípios necessários para uma livre federação de Estados juridicamente estabelecidos. Esta livre federação de Estados é exigência da razão. Mas esta federação não pode simplesmente adotar a forma de um Estado mundial, pois isso resultaria com facilidade em um absolutismo ilimitado. Também não pode possuir um poder soberano que lhe permita interferir nos assuntos internos dos Estados livres. Deve ser uma federação de Estados livres com constituições republicanas. O fim último da federação deve ser a promoção do bem, da paz entre Estados [...] a sociedade proposta por Kant [...] é a idéia racional de uma comunidade pacífica generalizada, mesmo que ainda não amistosa, de todos os povos sobre a Terra. (MEDEIROS, 2011)
Referindo-se ao pensamento kantiano, Habermas discorre sobre as “alianças”
estabelecidas entre os Estados soberanos, na ordem internacional.
Essa aliança deve surgir dos atos soberanos de vontade expressos em contratos de direito internacional, concebidos agora não mais nos moldes do contrato social. Pois os contratos já não fundamentam quaisquer postulações legais a que os membros possam recorrer, mas apenas unem estes últimos em torno de uma aliança perdurável – em torno de “uma associação duradouramente livre”. O que leva esse ato de unificação em torno de uma liga das nações a superar a débil força vinculativa do direito internacional, nada mais é senão sua marca de permanência. (HABERMAS, 2004, p. 197-198)
Habermas (2004, p. 198) pondera, nesse viés, que Kant não pode ter em mente
o vínculo de obrigações jurídicas, “mesmo porque sua liga das nações não é concebida
como uma organização com unidades coordenadas”, que conquista uma qualidade
estatal com força coercitiva. Kant precisou “fiar-se exclusivamente em uma união moral
dos governos entre si”.
169
De modo que, na visão kantiana, a instauração de um governo mundial teria que
se fundar “num imperativo moral necessário para a garantia dos objetivos de uma paz
perpétua”. (HABERMAS, 2004, p. 198)
Nesse processo, as práticas comerciais são importantes para o estabelecimento
dessa união moral à maneira de ver de Kant. O ato de situar o comércio como “um
veículo de paz”, representa uma iniciativa com traços ideológicos que, de certa forma,
caracteriza um pensamento burguês. (HABERMAS, 2004)
Ao contrário de Rousseau, Kant defende que a luta entre “o egoísmo e a moral
deriva da natureza humana”; não se trata de um mero resultado da vida social: “O
progresso moral salva o homem do egoísmo”. O egoísmo do homem não o conduzirá a
uma “sociedade ideal”. (BENEVIDES, 2011)
Kant recupera a arte do comércio, sugerida por Saint-Pierre em substituição à arte guerreira e propõe a criação de uma Liga Mundial, alicerçada na interdependência natural, necessária, benéfica. Um governo mundial seria, portanto, um imperativo moral para os objetivos da paz perpétua, de certo modo o destino manifesto da sociedade internacional. Rousseau renega esse ‘traço burguês’ da perspectiva do comércio como linguagem de paz [...] Considera a interdependência econômica nefasta e sequer admite-a como um mal necessário, como uma necessidade histórica, mas sempre como uma fatalidade. Isso porque a interdependência engendra dependência e esta só agravará as tensões sociais [...] Rousseau duvida da inocência de um governo mundial como a expressão de um ideal democrático voltado para a paz. À interdependência de Kant opõe-se o isolamento de Rousseau. Ambas utópicas, a sociedade ideal para Rousseau seria fechada e para Kant tão aberta quanto possível. Uma supõe a coexistência no isolamento, outra a cooperação no engajamento. Em outros termos, seria a passagem da norma negativa de abstenção à norma positiva de participação. [...] Rousseau percebe que a própria constituição de uma sociedade através do contrato social engendrará novas sociedades. Impossível o isolamento romântico. É a partir da constatação que se coloca a exigência do consenso para consolidar um possível Direito Internacional como garantia de paz. Esse consenso só será válido e útil se decorrer da consciência que cada Estado tiver da necessidade e conveniência em acatar normas comuns, referentes a interesses comuns. Este ponto remete diretamente às propostas concretas de Rousseau. (BENEVIDES, 2011)
170
Para Habermas (2004, p. 199):
Sob o ângulo da história, foi certamente muito realista a reserva manifestada por Kant em face do projeto de uma comunidade constitucional dos povos. O Estado democrático de direito recém-nascido das Revoluções Americana e Francesa ainda era a exceção, não a regra. O sistema das potências funcionava sob o pressuposto de que somente Estados soberanos podiam ser sujeitos do direito internacional. A soberania externa significa a capacidade do Estado de afirmar sua independência na arena internacional, ou seja, manter a integridade de suas fronteiras, se necessário com a força militar; e soberania interna significa a capacidade, baseada no monopólio da força, de preservar a tranqüilidade e a ordem no próprio país, com recursos do poder administrativo e do direito positivo. A razão de Estado define-ser por princípios de uma política de poder prudente, que inclui guerras delimitadas, e segundo os quais a política interna permanece sob o primado da política externa. A clara separação entre política externa e interna baseia-se em um conceito de poder estrito e discernidor, que se mede em última instância pelo modo como o detentor do poder faz uso de força policial e militar disponível nos quartéis.
Kant trabalhou na tentativa de apresentar os motivos pelos quais as alianças
entre os povos “poderiam corresponder ao interesse dos Estados”, a saber: a) “a
natureza pacífica das repúblicas”, b) “a força geradora de comunidades”, própria do
comércio internacional, e c) a função de cunho político da “opinião pública”.
(HABERMAS, 2004, p. 200)
O primeiro argumento kantiano sustenta que as relações desenvolvidas no plano
internacional “perdem seu caráter belicista à mesma medida que se impõe nos Estados
a forma de governo republicano; pois as populações de Estados constitucionais
democráticos, movidos por interesses próprios, compelem seus governos a desenvolver
políticas de paz”. (HABERMAS, 2004, p. 200) Habermas (2004, p. 201) esclarece que,
o nacionalismo foi um “veículo de transformação de súditos, em cidadãos ativos, que se
identificam com o Estado a que pertencem”.
Na verdade, exigências histórico-estatísticas demonstram que os Estados com constituição democrática não travam menos guerras do que regimes autoritários; (...) demonstram, porém, que esses Estados se comportam de maneira menos belicista nas relações entre si. (...) À
171
medida que as orientações universalistas valorativas de uma população acostumada a instituições liberais impregnam também a política externa, as guerras travadas pela coletividade republicana, mesmo que ela no todo não comporte de maneira pacífica, assumem um caráter diverso. Com os motivos dos cidadãos, altera-se também a política externa do Estado que integram. O uso de força militar não é determinado exclusivamente por uma razão de Estado essencialmente particularista, mas também pelo desejo de fomentar a expansão internacional de formas de Estado e de governo não-autoritários. (HABERMAS, 2004, p. 201)
Na interpretação de Habermas (2004, p. 202), Kant viu “na crescente
interdependência das sociedades – incrementada pela circulação de informações,
pessoas e produtos, e especialmente na expansão do comércio – uma tendência que
favorece a união pacífica dos povos”.
O processo de globalização deixa cada vez mais vulneráveis as sociedades
complexas, “com sua infra-estrutura tecnicamente debilitada (...) os conflitos militares
entre as grandes potências nucleares, tornam-se cada vez mais improváveis pelos
potenciais riscos”. (HABERMAS, 2004, p. 203)
(...) a globalização questiona pressupostos essenciais do direito público internacional em sua forma clássica – a soberania dos Estados, e as separações agudas entre política interna e externa. (...) Agentes não-estatais como empresas transnacionais e bancos privados com influência internacional esvaziam a soberania dos Estados nacionais que eles mesmos acatam de um ponto de vista formal. Hoje em dia, cada uma das trinta maiores empresas do mundo em operação movimenta uma receita maior que o produto nacional bruto de noventa dos países representados na ONU, considerados individualmente. Mas mesmo os governos dos países economicamente mais fortes percebem hoje o abismo que se estabelece entre seu espaço de ação nacionalmente delimitado e os imperativos que não são sequer do comércio internacional, mas sim das condições de produção integradas em uma rede global. Estados soberanos só podem ter ganhos com suas próprias economias enquanto se tratar aí de economias nacionais sobre as quais eles possam exercer influência por meios políticos. Com a desnacionalização da economia, porém, especialmente com a integração em rede dos mercados financeiros e da produção industrial em nível global, a política nacional perde o domínio sobre as condições gerais de produção. (HABERMAS, 2004, p. 203-204)
172
Por outro lado, na esteira de Kant, para que a ideia de paz perpétua não incorra
em tautologia, Habermas defende que as Constituições democráticas dos Estados
Nacionais devem “garantir a veiculação, na sociedade internacional, de uma política
que discuta os problemas mundiais abertamente, pois, em tal medida, a opinião pública
cidadã e de cunho político tem uma função controladora”. (HABERMAS, 2004, p. 205)
Os primeiros acontecimentos que chamaram a atenção de uma opinião pública
mundial e que “polarizaram as opiniões” em proporções globais, “foram provavelmente
a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo”. (HABERMAS, 2004, p. 206)
Afirma que, recentemente, a ONU organizou uma série de conferências sobre
questões planetárias envolvendo “ecologia (no Rio de Janeiro), crescimento
populacional (na cidade do Cairo), da pobreza (em Copenhague) e do clima (em
Berlim)”. (HABERMAS, 2004, p. 206)
Podemos entender essas “cúpulas mundiais”, e tantas outras, ao menos como tentativas de exercer uma pressão política sobre os governos, seja pela simples tematização de problemas de importância vital mediante uma opinião pública de âmbito mundial, seja por um apelo direto à opinião internacional. Por certo não se pode ignorar que essa atenção suscitada temporariamente e ligada a temas muito específicos é canalizada hoje como ontem, por meio de estruturas das opiniões públicas nacionais, que se esforçam por partilhar certo entrosamento. É necessária uma estrutura de sustentação, para que se estabeleça a comunicação permanente entre parceiros distantes no espaço, que intercambiem ao mesmo tempo contribuições de mesma relevância sobre os mesmo temas. Nesse sentido ainda não há opinião pública global, nem tampouco uma opinião pública de alcance europeu, tão urgentemente necessária. Mas o papel central que vêm desempenhando as organizações de um novo tipo, ou seja, as organizações não-governamentais como Green Peace ou Anistia Internacional – e isso não só em conferências como as mencionadas antes, mas em geral, no que diz respeito à criação e mobilização de uma opinião pública supranacional –, é sinal claro de que certos agentes ganham influência crescente na imprensa, como forças que fazem frente aos Estados, surgidas a partir de algo semelhante a uma sociedade civil internacional, integrada em rede. (HABERMAS, 2004, p. 206)
173
Admite que, “uma cultura política liberal constitui o espaço onde as instituições
da liberdade podem lançar raízes, mas é ao mesmo tempo o meio sobre o qual se
concretizam avanços no processo de civilização política de uma população”.
(HABERMAS, 2004, p. 206-207)
Concorda com Kant quando se refere ao “crescimento da cultura”, algo muito
importante “para um maior ajuste em torno de princípios.” (HABERMAS, 2004, p. 207)
Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia da paz perpétua ganhou “uma forma
palpável nas instituições, declarações e políticas das Nações Unidas” (bem como em
outras organizações supranacionais). (HABERMAS, 2004, p. 207)
A Primeira Guerra Mundial pôs as sociedades européias em confronto com os assombros e horrores de um conflito desenfreado quanto ao uso de recursos técnicos e propagação espacial; a Segunda Guerra Mundial confrontou-a com os crimes em massa de um conflito ideológico descomedido. Sob o véu da guerra total tramada por Hitler cumpriu-se uma ruptura civilizacional, que desencadeou uma comoção em nível mundial e propiciou a transição do direito internacional ao direito cosmopolita. De uma parte, a proscrição da guerra, já declarada no Pacto de Kellog, de 1928, foi transformada pelos tribunais militares de Nuremberg e Tóquio em instrução judiciária penal. Esta última não se limita aos delitos cometidos na guerra, mas incrimina a própria guerra como delito. Daí para diante é possível perseguir o “delito da guerra”. De outra parte, as leis penais foram estendidas “a crimes contra a humanidade” – a ações legalmente determinadas por órgãos do Estado e cumpridas com o auxílio de inúmeros membros de organizações, altos funcionários, servidores públicos, pessoas particulares ou ligadas a negócios. (HABERMAS, 2004, p. 208)
Na visão habermasiana, destarte, o estatuto das relações internacionais
reguladas por contrato, “terá de ser modificado pelo estabelecimento de uma relação
interna de base regimental ou constitucional. Esse sentido está previsto na Carta das
Nações Unidas”, que além de proibir agressão, autoriza o Conselho de Segurança a
tomar medidas “incluindo ações militares” na hipótese de violação ou ameaça da paz.
(HABERMAS, 2004, p. 209)
174
As Nações Unidas ainda não dispõem de forças próprias de combate, tampouco de forças que elas pudessem empregar sob comando próprio, nem muito menos de um monopólio de poder. Elas dependem, para fazer valer suas decisões, da cooperação voluntária dos membros capazes de tomar parte nas ações. Essa base de poder bastante precária precisou ser compensada com o estabelecimento de um Conselho de Segurança [...] na medida em que o Conselho de Segurança toma certas iniciativas, faz um uso altamente seletivo de seu espaço de atuação ponderativo, com cuidado para não ferir o princípio do tratamento igualitário. Esse processo voltou a ser atual com o episódio da Guerra do Golfo. (HABERMAS, 2004, p. 210)
A segurança internacional, nas relações entre as potências nucleares, “não se
garante hoje pelas delimitações normativas da ONU”, mas sim por acordos em torno do
controle de armamentos, e sobretudo pelo “estabelecimento de parcerias de
segurança”. (HABERMAS, 2004, p. 210)
Por considerar “instransponíveis as barreiras da soberania estatal”, Kant
concebeu a união cosmopolita como uma federação de Estados, e não de cidadãos.
(HABERMAS, 2004, p. 210)
Para Kant, todo indivíduo tem direito às mesmas liberdades segundo leis gerais
(“sobre as quais todos decidem, levando em conta todos os demais, da mesma forma
que cada um o faz, levando em conta a si mesmo”). (HABERMAS, 2004, p. 210-211)
Essa fundamentação do direito em geral, com base nos direitos humanos
“assinala os indivíduos como portadores de direitos, e confere a todas as ordenações
jurídicas modernas, um aspecto individualista”. (HABERMAS, 2004, p. 211)
Ademais, na visão habermasiana, as Nações Unidas são dotadas de um
instrumental próprio para a constatação de eventuais violações de direitos humanos. A
Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, possui órgãos, com poder de atuação
(confecção de relatórios).
Contudo, entende que ainda não se avançou no sentido da intervenção em
“assuntos internos de Estados” que violam os Direitos Humanos: “no caso da Somália,
175
a Organização Mundial só intervém com a anuência dos governos envolvidos”.
(HABERMAS, 2004, p. 213)
O ponto vulnerável da defesa global dos direitos humanos é a falta de um poder executivo que possa proporcionar à Declaração Universal dos Direitos Humanos sua efetiva observância, inclusive mediante intervenções no poder soberano de Estados nacionais, se necessário for. Como em muitos casos os direitos humanos teriam de se impor à revelia dos governos nacionais, é preciso rever a proibição de intervenções prevista pelo direito internacional. (HABERMAS, 2004, p. 213)
Para Haddad (2004, p. 39):
A defesa por Habermas do direito de ingerência de uma nação, em nome dos direitos humanos, imiscuir-se, inclusive militarmente, nos assuntos internos de outra, é revelador. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, o procedimental e o substantivo são inseparáveis. Caso não se leve em conta as relações econômicas e as relações de poder entre os Estados, muitas atrocidades continuarão a ser consumadas contra a soberania dos Estados mais fracos, apesar do cenário habermasiano, certamente otimista, de formação de uma esfera pública mundial.
Ademais, entende que, no cenário internacional da atualidade, a situação pode
ser compreendida como uma espécie de “transição do direito internacional ao direito
cosmopolita”, e também afirma que “muitas coisas parecem indicar, mais que isso, uma
reincidência no nacionalismo”. (HABERMAS, 2004, p. 214)
Habermas sustenta que, “Kant imaginara a ampliação da associação de Estados
livres, de tal maneira que, um número sempre maior de Estados viesse a cristalizar-se
em torno do núcleo de uma vanguarda de repúblicas pacíficas”. (HABERMAS, 2004, p.
214)
Na realidade, porém, a Organização Mundial abriga hoje praticamente todos os Estados sob um mesmo teto, e independentemente de serem republicanos e de respeitarem ou não os direitos humanos. A união política do mundo encontra expressão na Assembléia Geral das Nações
176
Unidas, na qual todos os governos estão representados com igualdade de direitos. Com isso a Organização Mundial abstrai não somente das diferenças de legitimidade de seus membros no interior da comunidade de Estados, mas também de suas diferenças de status no interior de uma “sociedade mundial” específica. Se eu falo de uma “sociedade mundial”, porque os sistemas comunicacionais e os mercados criaram um contexto global; (HABERMAS, 2004, p. 214)
Na visão habermasiana, o que existe, na verdade, é uma sociedade mundial
“estratificada”, pois o mecanismo do mercado mundial “associa uma produtividade
progressiva a uma miséria crescente”, ou seja, o mecanismo oscila entre “processos de
desenvolvimento a processos de subdesenvolvimento”. De modo que, se a
“planetarização” divide o mundo, “ela o força concomitantemente a cooperar, na medida
em que forma uma comunidade que partilha seus riscos”. (HABERMAS, 2004, p. 214)
Ademais, a política das Nações Unidas só é capaz de considerar o idealismo de
garantir a paz, na medida em que “se empenha em favor da superação das tensões
sociais e dos desequilíbrios econômicos: isso, por sua vez, só pode ter êxito quando se
criar, apesar da estratificação da sociedade mundial, um consenso em pelo menos três
direções.” (HABERMAS, 2004, p. 216)
As três direções apontadas como saída para um consenso são: a) “uma
consciência histórica partilhada por todos os membros”; b) uma “concordância
normativa” sobre direitos humanos; c) e um “entendimento comum sobre a concepção
da condição pacífica almejada”. (HABERMAS, 2004, p. 216)
Apóia-se nas sugestões de Dieter e Eva Seghaas para afirmar que as
“complexidades que envolvem uma guerra dependem do entendimento segundo o qual
a paz deve ser concebida como um processo que decorre sem violência, e as políticas
que se orientam segundo um conceito de paz como esse, recorrerão a todos os meios
aquém do uso do poder militar”. Inclui-se a intervenção humanitária, para exercer
“influência” sobre a situação interna de Estados “formalmente soberanos”, visando-se
fomentar neles “uma autonomia auto-sustentável com relações sociais admissíveis, a
participação democrática, a tolerância cultural e a condição efetiva de um Estado de
direito.” (HABERMAS, 2004, p. 217)
177
Essas estratégias não-violentas em favor de processos de democratização contam com o que as integrações globais em rede, nesse entremeio, tenham tornado todos os Estados em dependentes de seu mundo circunstante, e também sensíveis ao poder brando de influências indiretas – incluindo as sanções econômicas de maneira explícita. [...] Quem não é levado forçosamente a desesperar da capacidade de aprendizagem do sistema internacional tem que depositar as próprias esperanças no fato de que, a longo prazo, a globalização desses perigos acabou por integrar o mundo em uma comunidade de risco involuntária. (HABERMAS, 2004, p. 217)
Por outro lado, Habermas (2004, p. 217-218) sustenta que a reformulação da
ideia kantiana de” uma pacificação cosmopolita da condição natural entre os Estados”,
quando ajustada aos tempos de hoje, “inspira esforços enérgicos em favor da reforma
das Nações Unidas e, de modo geral, a ampliação das forças capazes de atuar em
nível supranacional, em diferentes regiões do planeta”.
Habermas afirma que existem argumentos que se apóiam num “conceito vago de
direitos humanos” incapaz de diferenciar satisfatoriamente entre “direito e moral”.
(HABERMAS, 2004, p. 218)
A retórica do universalismo à qual se dirige essa crítica encontra sua expressão mais objetiva em sugestões de parâmetros segundo os quais se deveriam ampliar as Nações Unidas, de modo a torná-la uma “democracia cosmopolita”. As sugestões de reforma concentram-se em três pontos: na instalação de um parlamento mundial, na ampliação da estrutura jurídica mundial e na reorganização do Conselho de Segurança. (HABERMAS, 2004, p. 218)
Defende que a implantação de um direito cosmopolita (conceitualmente claro)
“exige criatividade institucional”, pois o “universalismo moral que orientou Kant em suas
aspirações continua sendo de alguma maneira a intuição que constitui os parâmetros
nessa questão.” (HABERMAS, 2004, p. 219)
Haddad (2004, p. 38), por outro lado, ataca o moderno capitalismo ocidental, e
demonstra-se cético em relação à criação de uma democracia cosmopolita: “o
capitalismo produz desentendimentos e a guerra cria oportunidades para o próprio
sistema”. Nesse sentido, a proposta de criação de uma democracia cosmopolita (de um
178
direito cosmopolita, também) como “promotora do resgate da ideia de uma paz
perpétua kantiana”, necessariamente, fica prejudicada. A proposta habermasiana
otimista, no fim das contas, não ataca o que deve ser atacado, mascarando as
contradições.
Mesmo nas sociedades capitalistas contemporâneas, em que a desigualdade essencial entre homens se esconde atrás da aparente igualdade de indivíduos e a contradição de classe, mesmo revelada, parece independer das relações intersocietais, a evolução dessa contradição está associada à existência de uma pluralidade de diferentes realidades normativas, políticas e culturais. Tudo se complica quando, por conta da imigração, do colonialismo, da escravidão moderna etc., diferença e desigualdade convivem numa mesma sociedade, fragmentando as classes dominadas. Weber foi capaz de reconhecer [...] a luta permanente, forma permanente, em forma pacífica ou bélica, dos Estados nacionais em concorrência pelo poder criou para o moderno capitalismo ocidental maiores oportunidades. (HADDAD, 2004, p. 38-39)
Baseando-se no pensamento weberiano, Haddad (2004, p. 39) sustenta que “da
coalização do Estado nacional com o capital surgiu a classe burguesa nacional, a
burguesia no sentido moderno do termo. Com efeito, é o Estado nacional a ele ligado o
que proporciona ao capitalismo as oportunidades de subsistir”.
Daí o caráter eminentemente internacionalista de um movimento que lute pela superação de todos os antagonismos de classe e de toda intolerância. A esperança de Marx, nessa chave interpretativa, teria sido a de que, da mesma forma que a razão foi fruto do ‘desentendimento’, o entendimento de um enfim realizado gênero humano seria fruto da irracionalidade do capital, cuja função histórica teria sido a de consumar o domínio sobre a natureza, criando os pressupostos materiais para que todos, por assim dizer, ‘falassem a mesma língua’ – operação que tem como necessária, mas não suficiente, a linguagem conceitual que, por si só, sem aqueles pressupostos indispensáveis, não poderia garantir a emergência de uma comunidade mundial. (HADDAD, 2004, p. 40)
De acordo com MASCARO (2010, p. 371):
A visão política de Habermas tem-se conduzido nos últimos tempos, a uma aposta cada vez maior na interação cosmopolita, confederativa e
179
democrática. Evitando um discurso meramente jurídico e formalista – como o de um apoio a um Estado dos Estados, como a ONU, como instituição suficiente para a garantia da democracia internacional -, Habermas identifica a articulação entre os Estados, grupos sociais e indivíduos em nível transnacional como elemento fundamental da construção de uma constelação pós-nacional. Além da formação de comunidades internacionais entre Estados, esse arranjo demanda um nível de articulação na própria sociedade civil mundial. [...] Tal reflexão habermasiana sobre o Direito e o processo de cosmopolitização dos Estados nacionais reforça o horizonte de reformas que é típico do seu pensamento: renunciando à grande crítica ao direito, mas angustiado com a derrelicção do tempo presente, Habermas aposta em mais direito, numa interação democrática e ética do direito com a sociedade, como forma de, no acúmulo do mais, alcançar o melhor, driblando os conflitos do mundo a partir do consenso. Mas a grande questão ainda de nosso tempo é que os grandes conflitos sociais não se apresentam estruturalmente processualizados sob a forma de direito e o grande conflito somente se transforma com conflito, e, portanto, a grande crítica ainda se faça necessária.
Não é tarefa fácil, entretanto, pensar as possibilidades dos direitos humanos em
face das “transformações acarretadas pela globalização”. (MAIA, 2008, p. 116).
Assume Habermas uma atitude cautelosa, nem otimista nem excessivamente pessimista, em face da globalização, com os seus problemas e ambigüidades: entre eles o agravamento das diferenças econômicas entre os dois hemisférios, já que se consolida uma sociedade planetária estratificada (...) Um dos outros aspectos do processo de globalização é o estreitamento dos laços internacionais acarretado pelo crescimento do comércio mundial e pela onipresença dos meios de comunicação de massa. Com efeito, paralelamente a essa vinculação extraordinária observada na comunidade econômica mundial – nos nossos dias demonstrada eloqüentemente pelo fato de uma crise bancária na Coréia e na Indonésia afetar drasticamente as perspectivas de desenvolvimento dos países do cone sul da América Latina – assiste-se a um outro fenômeno, ainda de difícil avaliação quanto a suas dimensões e impacto, que poder-se-ia chamar de globalização dos padrões culturais. (MAIA, 2008, p. 116-117).
A globalização dos padrões culturais, as crises da economia mundial, os
desastres ambientais com dimensões globais e a miséria, por outro lado, produzem o
“despertar de uma consciência mundial [...] dos problemas acarretados pela nossa
interdependência planetária”. (MAIA, 2008, p. 118)
180
Em vista das muitas forças de desintegração, existentes no interior das sociedades nacionais ou para além delas, existe um fato que aponta na direção oposta: do ponto de vista de um observador, todas as sociedades já constituem uma parte inseparável de uma comunidade de riscos compartilhados, que são desafios para a ação política cooperativa. (HABERMAS, 1995, p. 101)
A base de argumentação habermasiana é a de que, em escala global,
incorremos numa “sociedade de riscos”: nesse contexto, “advoga-se um alargamento
nas funções desempenhadas pela ONU (...) ela deve aumentar a sua capacidade de
coordenação das ações comuns visando ao enfrentamento dos graves problemas que
nos atingem (...) e assumir um papel mais ativo na proteção dos direitos humanos (...)”
(MAIA, 2008, p. 120)
Se a globalização parece trazer maiores problemas do que vantagens aos países de Terceiro Mundo, diminuindo a sua capacidade de manobras para enfrentar seus grandes problemas econômicos e de distribuição de riquezas, radicalizando as dificuldades de acesso às tecnologias de ponta – fator essencial ao desenvolvimento econômico – podem-se, por outro lado, vislumbrar alguns aspectos positivos desse processo. É possível reconhecer um horizonte mais favorável ao espraiamento de uma consciência normativa internacional comum, ancorada na idéia dos direitos humanos, que passariam a ser entendidos como uma carta mínima de direitos, indispensável à participação dos diferentes Estados nacionais na arena internacional dos países civilizados, afinal, através do processo de globalização cuja natureza é mais larga que a dimensão puramente econômica, nós nos tornamos mais acostumados a uma diferente perspectiva que afina nossa consciência da crescente interdependência de nossas arenas sociais, dos riscos compartilhados, e de uma rede de interdependências dominando nosso destino comum. (MAIA, 2008, p. 123)
De modo que propõe uma atuação mais enérgica na defesa dos direitos
humanos, a exemplo do uso de sanções econômicas e do emprego da força militar:
“certamente, a perspectiva habermasiana apresenta um conteúdo radical ao sustentar a
possibilidade do uso da força”. (MAIA, 2008, p. 120-121).
Paralelamente, propõe a “reformulação da própria estrutura da ONU”, a começar
pela “criação de uma força militar própria – independente das grandes potências”. Em
segundo, propõe a ampliação da Assembléia Geral, transformado-a num tipo de
181
“Conselho Federal”, distribuindo suas competências “com uma segunda câmara, eleita
por sufrágio universal” (para aumentar a legitimidade das decisões). Terceiro, defende
uma atuação mais “firme” da Corte Internacional de Haia, com a estruturação de
ferramentas que efetivamente garantam o “cumprimento de suas decisões”. (MAIA,
2008, p. 121)
5.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS “TRÊS” MODELOS DE DEMOCRACIA
Habermas, na obra “A inclusão do outro” (estudos políticos), tece considerações
sobre os três modelos de democracia, apresentando a versão liberal e republicana de
política. Trabalha, outrossim, com os conceitos de cidadão do Estado de direito
segundo a natureza do processo político de formação da vontade. (HABERMAS, 2004)
Na segunda parte de seu discurso, com base na crítica ao “peso ético” (que se
impõe ao modelo republicano), desenvolve a concepção procedimentalista que prefere
denominar de política deliberativa. (HABERMAS, 2004)
A diferença entre os modelos, reside “na compreensão da função que cabe ao
processo democrático”. Na concepção liberal, por exemplo, “esse processo, cumpre a
tarefa de programar o Estado para que se volte ao interesse da sociedade”.
(HABERMAS, 2004, p. 277-278)
Imagina-se o Estado como aparato da administração pública, e a sociedade como sistema de circulação de pessoas em particular e do trabalho social dessas pessoas, estruturada segundo leis de mercado. A política, sob essa perspectiva, e no sentido de formação política da vontade dos cidadãos, tem a função de congregar e impor interesses sociais em particular mediante um aparato estatal já especializado no uso administrativo do poder político para fins coletivos. Segundo a concepção republicana, a política não se confunde com essa função mediadora; mais do que isso, ela é constitutiva do processo de coletivização social como um todo. Concebe-se a política como forma de reflexão sobre um contexto de vida ético. Ela constitui o medium em que os integrantes de comunidades solidárias surgidas como forma natural se concretizam face a interdependência mútua e, como cidadãos, dão forma e prosseguimento às relações preexistentes de reconhecimento mútuo, transformando-as de forma voluntária e consciente em uma associação de jurisconsortes livres e iguais. (HABERMAS, 2004, p. 278)
182
Habermas (2004, p. 278) sustenta que, ao lado da instância hierárquica
reguladora do poder estatal e ao lado do poder administrativo, surge também a
solidariedade “como terceira fonte de integração social [...] esse estabelecimento da
vontade política horizontal, voltada ao entendimento mútuo ou ao consenso almejado
por via comunicativa, deve gozar até mesmo de primazia, se considerado o ponto de
vista tanto genético quanto normativo”.
Para a práxis da autodeterminação, por parte dos cidadãos no âmbito do Estado, aceita-se uma base social autônoma que independa da administração pública e da mobilidade socioeconômica privada, e que impeça a comunicação política de ser tragada pelo Estado e assimilada pela estrutura de mercado. (HABERMAS, 2004, p. 278)
Na concepção republicana, por exemplo, “confere-se significado estratégico,
tanto à opinião pública de caráter político quanto à sociedade civil, como seu
sustentáculo (...) Ambos devem conferir força integrativa e autonomia à práxis de
entendimento mútuo, entre cidadãos do Estado”. (HABERMAS, 2004, p. 278)
Ao desacoplamento da comunicação política em relação à sociedade econômica correspondente uma retroalimentação do poder administrativo a partir do poder comunicativo decorrente do processo de formação da vontade e opinião políticas. Isso traz a seguinte conseqüência: diferenciam-se concepções de cidadão do Estado. Segundo a concepção liberal, determina-se o status dos cidadãos conforme a medida dos direitos individuais de que eles dispõem em face do Estado e dos demais cidadãos. Como portadores de direitos subjetivos, os cidadãos poderão contar com a defesa do Estado desde que defendam os próprios interesses nos limites impostos pelas leis [...] Direitos subjetivos são direitos negativos que garantem um espaço de ação alternativo em cujos limites as pessoas do direito se vêem livres de coações externas. Direitos políticos têm a mesma estrutura: eles oferecem aos cidadãos a possibilidade de conferir validação a seus interesses particulares, de maneira que esses possam ser agregados a outros interesses privados (por meio de votações, formação e corporações parlamentares e composições de governos) e afinal transformados em uma vontade política que exerça influência sobre a administração. Dessa maneira, os cidadãos, como membros do Estado, podem controlar se o poder estatal está sendo exercido em favor do interesse dos cidadãos na própria sociedade. (HABERMAS, 2004, p. 278-279)
183
Os direitos de cidadania, direitos de participação e comunicação política são,
portanto, direitos positivos. Tais direitos “não garantem liberdade em relação à coação
externa, mas sim a participação em uma práxis comum, por meio de cujo exercício os
cidadãos só então se tornam o que tencionam ser”. Explica-se: eles “tencionam ser
sujeitos politicamente responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais”.
(HABERMAS, 2004, p. 280)
Em tal medida, o processo político serve apenas ao controle da ação estatal por meio de cidadãos que, ao exercerem seus direitos e as liberdades que antecedem a própria política, tratam de adquirir uma autonomia já preexistente. O processo político tampouco desempenha uma função mediadora entre Estado e sociedade, já que o poder estatal democrático não é em hipótese alguma uma força originária. A força origina-se, isso sim, do poder gerado comunicativamente em meio à práxis de autodeterminação dos cidadãos do Estado e legitima-se pelo fato de defender essa mesma práxis por meio da institucionalização da liberdade pública. A justificação existencial do Estado não reside primeiramente na defesa dos mesmos direitos subjetivos, mas sim na garantia de um processo inclusivo de formação da opinião e da vontade, em que cidadãos livres e iguais chegam ao acordo mútuo quanto a quais devem ser os objetivos e normas que correspondam ao interesse comum. Com isso, exige-se do cidadão republicano mais que a orientação segundo seus respectivos interesses próprios. (HABERMAS, 2004, p. 280-281)
Sobre o direito ao voto (liberdade positiva) afirma que ele pode ser considerado
“um paradigma para os direitos em geral, não apenas pelo fato de ser constitutivo para
a autodeterminação política [...] mas porque nele fica claro como a inclusão em uma
comunidade de cidadãos dotados de direitos iguais, está associada habilitação dos
indivíduos para efetuar contribuições autônomas e adotar posicionamentos próprios”.
(HABERMAS, 2004, p. 282)
A reivindicação é que todos nos interessemos pela concessão do direito de sufrágio a todos porque (I) nossa escolha está entre nos mantermos juntos e nos mantermos separados; (II) mantermo-nos juntos depende da garantia recíproca de que os interesses vitais de uma sejam considerados por todos; e (III) nas condições profundamente pluralizadas da sociedade americana contemporânea, tais garantias são alcançáveis... apenas mantendo, ao menos, a aparência de uma política em que se concede voz a cada um. (HABERMAS, 2004, p. 283)
184
Nesse sentido, admite que essa estrutura (que se pode identificar “como base na
interpretação dos direitos à comunicação e à participação política”) distribui-se entre
“todos os direitos ao longo do processo legislativo que os constitui”. (HABERMAS,
2004, p. 282)
Também afirma que “a atribuição de poder no âmbito do direito privado obriga,
ao mesmo tempo, que se respeitem os limites da ação estratégica acordados segundo
o interesse de todos”. (HABERMAS, 2004, p. 283)
Sustenta que “as diferentes conceituações do papel do cidadão e do direito, são
expressões de um dissenso de raízes mais profundas sobre a natureza do processo
político”. (HABERMAS, 2004, p. 283)
Segundo a concepção liberal, a política é essencialmente uma luta por
“posições” com fins de ocupação da esfera do poder administrativo.
O processo de formação da vontade e da opinião política, tanto no seu meio,
quanto no parlamento, é determinado pela concorrência entre agentes agindo
estrategicamente (disputam “posições de poder”): “o êxito nesse processo é medido
segundo a concordância dos cidadãos com relação à pessoas e programas, o que se
quantifica segundo números de votos”. (HABERMAS, 2004, p. 283)
Ao votar, os eleitores expressam suas preferências. As decisões que tomam nas eleições têm a mesma atitude que se orienta pela busca de sucesso. Um mesmo modelo de ação estratégica corresponde igualmente ao input dos votos e ao output do poder. Segundo a concepção republicana, a formação de opinião e vontade política em meio à opinião pública e no parlamento não obedece às estruturas de processos de mercado, mas às renitentes estruturas de uma comunicação pública orientada ao entendimento mútuo. Para a política no sentido de uma práxis de autodeterminação por parte de cidadãos do Estado, o paradigma não é o mercado, mas sim a interlocução. Segundo essa visão, há uma diferença estrutural entre o poder comunicativo, que advém da comunicação política na forma de opiniões majoritárias estabelecidas por via discursiva, e o poder administrativo de que dispõe o aparato estatal. Também os partidos que lutam pelo acesso a posições e acesso a posições de poder no Estado têm de se adequar ao estilo e a renitência dos discursos políticos: “A deliberação refere-se a certa atitude voltada para a cooperação social, ou seja, a
185
essa abertura à persuasão mediante razões relativas as pretensões dos outros como às nossas próprias. O meio deliberativo é uma troca bem-intencionada de visões – incluindo os relatos dos participantes sobre sua própria compreensão de seus respectivos interesses vitais – ... em que um voto, se for efetuado, represente um conjunto de juízos”. (HABERMAS, 2004, p. 283)
Portanto, para Habermas (2004, p. 284), a acirrada disputa de opiniões ocorrida
na arena política, tem a força legitimadora não apenas no sentido de uma “autorização
para posições de poder”. O discurso político também tem a força vinculativa diante
desse tipo de exercício de dominação política, posto que “o poder administrativo só
pode ser aplicado com base em políticas e no limite das leis que nascem no processo
democrático”. (HABERMAS, 2004, p. 284)
Na visão habermasiana, outrossim, o modelo republicano tem vantagens e
desvantagens.
Vejo como vantagem o fato de ele se firmar no sentido radicalmente democrático de uma auto-organização da sociedade pelos cidadãos em acordo mútuo por via comunicativa e não remeter os fins coletivos tão-somente a uma negociação entre interesses particulares opostos. Como desvantagem, entendo o fato de ele ser bastante idealista e tornar o processo democrático dependente das virtudes de cidadãos voltados ao bem comum, pois a política não se constitui apenas de questões relativas ao acordo mútuo de caráter ético. O erro reside em uma condução estritamente ética dos discursos políticos. (HABERMAS, 2004, p. 284)
Outrossim, admite que, entre os elementos que formam a política, são muito
importantes “os discursos de auto-entendimento mútuo em que os cidadãos procuram
obter clareza quanto à maneira como se entendem na qualidade de integrantes do
Estado”. Além do mais, leva em conta as tradições que os cidadãos dão continuidade,
“à maneira como se tratam entre si e como tratam minorias ou grupos marginalizados,
quanto ao tipo de sociedade em que querem viver”. (HABERMAS, 2004, p. 284)
Mas sob condições do pluralismo cultural e social também é freqüente haver, por detrás de objetivos politicamente relevantes e orientações de valor que de forma alguma são constitutivos para a identidade da
186
coletividade em geral, ou seja, para o todo de uma forma de vida partilhada intersubjetivamente. Esses interesses e orientações de valor que permanecem em conflito no interior de uma mesma coletividade sem nenhuma perspectiva de consenso precisam ser compensados; para isso não bastam os discursos éticos – mesmo que os resultados dessa compensação (alcançada com recurso não-discursivo) sofram a restrição de não poder ferir os valores fundamentais de uma cultura partilhados por seus integrantes. A compensação de interesses realiza-se sob a forma do estabelecimento de um acordo entre partidos que se apóiam sobre potencialidades de poder e sanções. Negociações desse tipo certamente pressupõem uma disposição à cooperação, ou seja, a vontade de obter resultados mediante a observância de regras do jogo que sejam aceitáveis para todos os partidos, mesmo que por razões diversas. Contudo, o estabelecimento do acordo não ocorre sob as formas de um discurso racional, neutralizador do poder e capaz de excluir toda a ação estratégica. (HABERMAS, 2004, p. 284)
Para Habermas, a justiça e a honestidade dos pactos são medidos pelos
“pressupostos e procedimentos que precisam de uma justificação racional” e “até
mesmo normativa sob o ponto de vista da justiça”. (HABERMAS, 2004, p. 285)
O conceito de uma política deliberativa só ganha referência empírica fazendo jus à diversidade das formas comunicativas na qual se constitui uma vontade comum, não apenas por um auto-entendimento mútuo de caráter ético, mas também pela busca de equilíbrio entre interesses divergentes e do estabelecimento de acordos, da checagem da coerência jurídica, de uma escolha de instrumentos racional e voltada a um fim específico e por meio, enfim, de uma fundamentação moral. [...] A política dialógica e a instrumental, quando as respectivas formas de comunicação estão institucionalizadas, podem entrecruzar-se no medium das deliberações. Tudo depende, portanto, das condições de comunicação e procedimento que conferem força legitimadora à formação institucionalizada da opinião e da vontade. O terceiro modelo de democracia que me permito sugerir baseia-se nas condições de comunicação sob as quais o processo político supõe-se capaz de alcançar resultados racionais, justamente por cumprir-se, em todo o seu alcance, de modo deliberativo. (HABERMAS, 2004, p. 286)
Quando se faz do conceito procedimental da política deliberativa, “o cerne
normativamente consistente da teoria sobre a democracia”, resultam daí diferenças
tanto em relação à concepção republicana do Estado como uma comunidade ética,
quanto em relação à concepção liberal do Estado como defensor de uma sociedade
econômica. (HABERMAS, 2004, p. 286)
187
Ao comparar os três modelos, tomo como ponto de partida a dimensão da política que nos ocupou até o momento: a formação democrática da opinião e da vontade que resulta em eleições gerais e decisões parlamentares. Segundo a concepção liberal, esse processo apenas tem resultados sob a forma de arranjo de interesses. As regras de formação de acordos desse tipo – às quais cabe assegurar a justiça e honestidade dos resultados através de direitos iguais e universais ao voto e da composição representativa das corporações parlamentares, suas leis orgânicas etc. – são fundamentais a partir de princípios constitucionais liberais. Segundo a concepção republicana, por outro lado, a formação democrática da vontade cumpre-se sob a forma de um auto-entendimento ético; nesse caso, a deliberação pode se apoiar quanto ao conteúdo em um consenso a que os cidadãos chegam por via cultural e que se renova na rememoração ritualizada de um ato republicano de fundação. A teoria do discurso acolhe elementos de ambos os lados e os integra no conceito de um procedimento ideal para o aconselhamento e tomada de decisões. Esse procedimento democrático cria uma coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento e discursos sobre a justiça, além de fundamentar a suposição de que sob tais condições se almejam resultados ora racionais, ora justos e honestos. Com isso, a razão prática desloca-se dos direitos universais do homem ou da eticidade concreta de determinada comunidade e restringe-se a regras discursivas e formas argumentativas que extraem seu teor normativo da base validativa da ação que se orienta ao estabelecimento de um acordo mútuo, isto é, da estrutura da comunicação lingüística. Com essas descrições estruturais do processo democrático fica traçado o itinerário para se chegar a uma conceituação normativa de Estado e de sociedade. O pressuposto para isso é haver uma administração pública do tipo que se desenvolveu no início da Era Moderna em conjunto com o sistema estatal europeu e que desenvolveu sob um entrecruzamento funcional com o sistema econômico capitalista. (HABERMAS, 2004, p. 287-288)
Nesse sentido, esclarece que, segundo a concepção republicana, “a formação
política da opinião e vontade dos cidadãos, forma o medium sobre o qual a sociedade
se constitui como um todo firmado politicamente”: a sociedade centra-se no Estado
(“pois na práxis de autodeterminação política dos cidadãos a coletividade torna-se
consciente de si mesma como um todo e age efetivamente sobre si mesma mediante a
vontade coletiva dos cidadãos”). Para ele, o significado de “democracia” é a “auto-
organização política da sociedade”. (HABERMAS, 2004, p. 287)
Resulta daí uma compreensão de política direcionada contra o Estado. Dos escritos políticos de Hannah Arendt é possível depreender a rota de colisão pela qual se direciona a argumentação republicana: apontada contra o privatismo burguês de uma população despolitizada
188
e contra a busca de legitimação por parte dos partidos estatizados, a opinião pública de cunho político deve revitalizar-se a ponto de um conjunto de cidadãos regenerados, nas diversas formas de uma auto-administração descentralizada, ser capaz de se (re)apossar do poder estatal burocraticamente autônomo. (HABERMAS, 2004, p. 288)
No entendimento de Habermas (2004, p. 288), segundo a concepção liberal, não
há como “eliminar a separação entre o aparato estatal e a sociedade, mas apenas
superar a distância entre ambos pela via do processo democrático”.
A formação democrática da vontade de cidadãos interessados em si mesmos, entendida de forma minimalista, constitui não mais que um elemento no interior de uma constituição que tem por tarefa disciplinar o poder estatal por meio de precauções normativas (como direitos fundamentais, divisão em poderes e vinculação da administração à lei) e ainda impulsioná-lo à devida consideração dos diversos interesses e orientações de valores na sociedade. Essa compreensão de política centrada no Estado pode prescindir da assunção irrealista de um conjunto de cidadãos coletivamente capazes de agir. Ela não se orienta pelo input de uma formação política e racional da vontade, mas sim pelo output de um balanço positivo ao se avaliar as conquistas da atividade estatal. (HABERMAS, 2004, p. 288)
O centro do modelo liberal, não é a autodeterminação democrática de cidadãos
deliberantes, “mas sim a normatização jurídico-estatal de uma sociedade econômica,
cuja tarefa é garantir um bem comum entendido de forma apolítica, pela satisfação das
expectativas de felicidade de cidadãos produtivamente ativos”. (HABERMAS, 2004, p.
288)
Nesse sentido, a teoria do discurso, estabelece a combinação de ambos os
modelos de democracia, de uma maneira nova.
Em harmonia com o republicanismo, a teoria do discurso concebe os direitos
fundamentais e princípios do Estado de direito como uma resposta consequente à
pergunta sobre “como institucionalizar as exigentes condições de comunicação do
procedimento democrático”. Ademais, a teoria do discurso é central para a formação da
opinião e da vontade dos cidadãos. Entretanto, adverte: 1. “a teoria do discurso não
torna a efetivação de uma política deliberativa dependente de um conjunto de cidadãos
coletivamente capazes de agir, mas sim da institucionalização dos procedimentos que
189
lhe digam respeito”; 2. “ela não opera por muito tempo com o conceito de um todo
social centrado no Estado e que se imagina em linhas gerais como um sujeito racional
orientado por seu objetivo”. 3. Ademais, em nenhuma hipótese, “situa o todo em um
sistema de normas constitucionais que inconscientemente regram o equilíbrio do poder
e de interesses diversos, de acordo com o modelo de funcionamento do mercado”.
(HABERMAS, 2004, p. 288)
(...) intersubjetividade presente em processos de entendimento mútuo que se cumprem, por um lado, na forma institucionalizada de aconselhamentos em corporações parlamentares, bem como, por outro lado, na rede de comunicação formada pela opinião publica de cunho político (...) A formação de opinião (constituída informalmente) desemboca em decisões eletivas institucionalizadas e em resoluções legislativas pelas quais o poder criado por via comunicativa é transformado em poder administrativamente aplicável. [...] porém, a sociedade civil, como fundamento social das opiniões públicas autônomas, distingue-se tanto dos sistemas econômicos de ação quanto da administração pública. Dessa compreensão democrática, resulta por via normativa a exigência de um deslocamento dos pesos que se aplicam a cada um dos elementos na relação entre os três recursos a partir dos quais as sociedades modernas satisfazem sua carência de integração e direcionamento, a saber: o dinheiro, o poder administrativo e a solidariedade. (HABERMAS, 2004, p. 289)
De modo que as “implicações normativas são evidentes”. Por exemplo, “o poder
social integrativo da solidariedade” (que não se pode mais tirar apenas das fontes da
ação comunicativa) “precisa desdobrar-se sobre opiniões públicas autônomas e sobre
procedimentos institucionalizados por via jurídico-estatal para a formação democrática
da opinião e da vontade”; além disso, ele precisa também “ser capaz de afirmar-se e
contrapor-se aos dois outros poderes, ou seja, ao dinheiro e ao poder administrativo”.
(HABERMAS, 2004, p. 289)
Essa concepção tem conseqüências para a compreensão da legitimação e soberania popular. Segundo a concepção liberal, a formação democrática da vontade tem exclusivamente a função de legitimar o exercício do poder político. Resultados de eleições equivalem a uma licença para a tomada do poder governamental, ao passo que o governo tem de justificar o uso desse poder perante a opinião pública e o parlamento. Segundo a concepção republicana, a formação democrática da vontade tem a função essencialmente mais
190
forte de construir a sociedade como uma coletividade política e manter viva a cada eleição a lembrança desse ato fundador. O governo não é apenas investido de poder para o exercício de um mandato sem maiores vínculos, por meio de uma eleição entre grupos de liderança concorrentes; ao contrário, ele está comprometido também programaticamente com a execução de determinadas políticas. Sendo mais uma comissão do que um órgão estatal, ele é parte de uma comunidade política que se administra a si própria, e não o topo de um poder estatal separado. [...] O poder admistrativamente disponível modifica seu estado de mero agregado desde que seja retroalimentado por uma formação democrática da opinião e da vontade que não apenas exerça posteriormente o controle do exercício do poder político, mas que também o programe, de uma maneira ou de outra. A despeito disso, o poder político só pode “agir”. Ele é um sistema parcial especializado em decisões coletivamente vinculativas, ao passo que as estruturas comunicativas da opinião publica compõem uma rede amplamente disseminada de sensores que reagem à pressão das situações problemáticas no todo social e que simulam opiniões influentes. A opinião publica transformada em poder comunicativo segundo procedimentos democráticos não pode “dominar”, mas apenas direcionar o uso do poder administrativo para determinados canais (HABERMAS, 2004, p. 290)
Segundo a concepção republicana, o povo é “portador de uma soberania que,
por princípio, não se pode delegar”: não é admissível que, em sua posição de
soberano, “o povo se deixe representar”. (HABERMAS, 2004, p. 291)
Finalmente, Habermas (2004, p. 292) sustenta que “a autocompreensão
normativa da política deliberativa, exige para a comunidade jurídica um modo de
coletivização social”. Para ele, a política deliberativa continua sendo “elemento
constitutivo de uma sociedade complexa que no todo se exime de assumir um ponto de
vista normativo como o da teoria do direito”. (HABERMAS, 2004, p. 292)
Nesse sentido, a leitura da democracia feita segundo a teoria do discurso de
Habermas, vincula-se a uma abordagem típica das ciências sociais, e para a qual o
sistema político “não é nem o topo nem o centro da sociedade, nem muito menos o
modelo que determina sua marca estrutural”, pois trata-se de um “sistema de ação ao
lado de outros”. (HABERMAS, 2004, p. 291)
191
Como a política consiste em uma espécie de lastro de reserva na solução de problemas que ameaçam a integração, ela certamente tem de poder se comunicar pelo medium do direito com todos os demais campos de ação legitimamente ordenados, seja qual for a maneira como eles se estruturem ou direcionem. Se o sistema político, no entanto, depende de outros desempenhos do sistema – como o desempenho do fiscal do sistema econômico, por exemplo –, isso não se dá em um sentido meramente trivial; ao contrário, a política deliberativa, realizada ou em conformidade com os procedimentos convencionais da formação institucionalizada da opinião e da vontade, ou informalmente, nas redes da opinião publica, mantém uma relação interna com os contextos de um universo de vida cooperativo e racionalizado. Justamente os processos comunicativos de cunho político que passam pelo filtro deliberativo dependem de recursos do universo vital – da cultura política libertadora, de uma socialização política esclarecida e sobretudo das iniciativas de associações formadoras de opinião -, recursos que se formam de maneira espontânea ou que, em todo caso, só podem ser atingidos com grande dificuldade, caso o caminho escolhido para se tentar alcançá-los seja o do direcionamento político. (HABERMAS, 2004, p. 292)
Portanto, no contexto de uma democracia de massas, Habermas oferta um
modelo de democracia procedimental como uma possível saída aos impasses. O “jogo”
do processo democrático (de “formação de opiniões e vontades”) exige, por outro lado,
um grande compromisso (no aspecto da cidadania) na prática de autolegislação. Por
isso, a visão habermasiana leva em consideração a seguinte questão, qual seja: as
ações políticas, entre cidadãos racionais, fundamentam a suposição de que, os
resultados obtidos (derivados de um acordo consensual), podem ser mais ou menos
racionais. (VITALE; MELO; 2008)
(...) acreditamos ter apontado os argumentos principais para se entender em que medida a política deliberativa, na concepção habermasiana, seria mais adequada para responder aos impasses e problemas das atuais democracias de massas. (...) Se a democracia constitui-se num projeto a ser levado adiante, para Habermas sua meta incide na institucionalização progressiva dos processos de formação racional da vontade. (VITALE; MELO; 2008, p. 244)
192
6 OS LIMITES DA CIDADANIA E DO DIREITO EM HABERMAS: para aquém da transformação social
6.1 A CIDADANIA E O DIREITO DE HABERMAS COMO MUDANÇA LIMITADA DA SOCIEDADE PRESENTE: UMA CRÍTICA ATRAVÉS DO HORIZONTE MARXISTA
Muito mais avançada é a visão filosófica crítica de Pachukanis, o maior pensador
do direito do marxismo (MASCARO, 2010).
Dotado de um “horizonte revolucionário”, (“esteve próximo das atividades
revolucionárias soviéticas”), foi o que “melhor compreendeu a dinâmica necessária
entre direito e capital e pôde extrair as conseqüências dessa relação [...]”. (MASCARO,
2010, p. 468).
Pachukanis não usa a “estratégia de ação política transformadora dentro do
próprio Estado capitalista”. Ele vislumbra o direito e seu papel no contexto de uma
revolução. Gramsci, ao contrário, numa vertente marxista diferente, usa a “estratégia de
ação política transformadora dentro do próprio Estado”. (MASCARO, 2010, p. 316).
Em sua obra prima “Teoria geral do direito e marxismo”, escrita em 1924, analisa
o “fenômeno jurídico no capitalismo”, buscando compreender as razões estruturais de
um direito inserido nesse sistema, além de estabelecer as “relações lógicas” quanto ao
direito no regime de Estado socialista. (MASCARO, 2010, p. 468).
Um outro diferencial de Pachukanis é a maneira como lida com a questão da luta
de classes. (MASCARO, 2010)
Ele vai além da orientação de Stutchka (autor que sustenta que o direito é fruto
de uma luta de classes, uma visão reducionista no quadro da filosofia do direito do
Marxismo); por exemplo, vai além do “psicologismo” (corrente que mantinha a mesma
estrutura burguesa do direito e que centrava seus estudos nos direitos subjetivos).
(MASCARO, 2010)
193
Na visão de Mascaro (2010, p. 469), interpretando o pensamento de Pachukanis,
“não se trata, o direito, somente do resultado da luta de classes, porque, embora sendo
essa uma explicação verdadeira, não é ainda suficiente”, pois enquanto Stutchka
aborda o direito a partir de “uma genérica relação do fenômeno jurídico à luta de
classes”, o pensador mais avançado parte do direito como um dado específico da
realidade do capitalismo.
Centrado em estudos correspondentes à fase da maturidade de Marx, em
especial na leitura de Das Kapital, seguindo o rigor do método marxiano, Pachukanis
identifica o direito à circulação mercantil, para concluir que “a forma mercantil equivale à
forma jurídica”. (MASCARO, 2010, p. 470).
Nesse sentido, a partir de uma crítica à “lógica do sistema capitalista”, convém
extrair, no bojo de um discurso jurídico refinado, dez questões importantes, reveladoras
do posicionamento do autor de “Teoria geral do direito e marxismo”, a saber: 1. “É
somente na economia mercantil que nasce a forma jurídica abstrata” (pois a
“capacidade geral de ser titular de direitos separa das pretensões jurídicas concretas”);
2. “Somente a contínua mutação dos direitos que acontece no mercado estabelece a
ideia de um portador imutável destes direitos”; 3. No mercado, quem estabelece uma
obrigação jurídica com alguém, “traz para si próprio um vínculo do qual não pode se
desfazer”; 4. Não existe “neutralidade nos instrumentos jurídicos e estatais”; 5. “No
ambiente de circulação mercantil capitalista existe uma violência manifesta na coerção
estatal por meio do direito”. Nesse cenário, “o Estado impõe sua autoridade de maneira
impessoal”, no exercício da “vontade geral”. A função de coação não é abstrata e
impessoal; 6. Num ambiente onde são estabelecidas as relações entre proprietários de
mercadorias, a coação coloca “um indivíduo contra o outro”. A coação, portanto, tem
sua “origem no Estado” e o “poder de um homem sobre outro expressa-se na realidade
como o poder do direito”, ou seja, “como o poder de uma norma objetiva imparcial”; 7.
Numa sociedade de produção mercantil “cada homem é um homem egoísta”; 8. O
direito não é apenas um aparato a serviço da burguesia. O direito “está vinculado à
própria lógica do capital”; 9. A relação entre sociedade burguesa capitalista, “direito e
exploração” é levada em conta. 10. “A relação de exploração em nenhum caso vê-se
194
ligada à relação de troca sendo igualmente concebível numa economia natural”: Só
numa sociedade capitalista burguesa, em que o proletariado surge como sujeito que
dispõe da sua força de trabalho como mercadoria, “que a relação econômica da
exploração é juridicamente mediatizada sob a forma de um contrato”. Ademais, é
justamente por isso que, na sociedade burguesa, a forma jurídica (em oposição ao que
acontece nas sociedades edificadas sobre a escravidão e a servidão) “adquire um
grande significado universal”; é por isso que a ideologia jurídica “se torna a ideologia
por excelência e que também a defesa dos interesses de classe dos exploradores
surge, com um sucesso sempre crescente, como a defesa dos princípios abstratos da
subjetividade jurídica”. (PACHUKANIS apud MASCARO, 2010, p. 471-472).
De modo que Pachukanis não descarta de seu pensamento jurídico refinado10 o
problema da exploração. Ao contrário, assume a dramática existência dela na
sociedade burguesa, questão tratada com indiferença pela maioria dos juristas.
(MASCARO, 2010)
Habermas não demonstra interesse em desenvolver um quadro teórico “de
ruptura” no universo da relação entre capital, direito e exploração. Não se engaja num
projeto de transformação social, distanciando-se de autores como Gramsci e
Pachukanis. O desprezo pela proposta revolucionária do marxismo, transformadora, ou
seja, que parta para uma solução social definitiva, empobrece a ação política de
Habermas, logo, seu reformismo apresenta certos limites no horizonte da filosofia do
direito. (MASCARO, 2010)
Habermas também poderia ser elencado, para a filosofia do direito, como um pensador de vertentes voltadas à ação política crítica, mas o marxismo somente pode considerar em seu seio o reformismo no máximo enquanto meio tático para a revolução, e não como solução social definitiva. Por isso, na filosofia do direito contemporânea, Habermas mais se credencia como ala radical do juspositivismo do que como ala conservadora dos críticos. Do mesmo modo como a filosofia do direito européia lê Foucault como um não marxista e o Brasil o lê como grande crítico, com Habermas dá-se o mesmo, em instância trocada: para o estabilizado capitalismo europeu-norte-americano, é
10
Refinado porque, diferente da grande maioria dos juristas de orientação neokantiana, enfrentou a densa produção teórica do Marx “maduro”. (MASCARO, 2010)
195
progressista. Para as candentes necessidades transformadoras do mundo do capitalismo periférico, é conservador. (MASCARO, 2010, p. 316-317)
Interpretando o pensamento de Pachukanis, Mascaro (2010, p. 473) também nos
mostra que, “a forma jurídica, não é tomada como um mero normativismo genérico”
(fora da história). Logo, “O que atribui a especificidade ao direito é a circulação
mercantil”. (MASCARO, 2010)
Pachukanis, negando o apego à norma jurídica, dessa maneira, conduz as ideias
num horizonte jusfilosófico diferente daquele sustentado pela tradição metafísica e
juspositivista: “a forma jurídica é um dado histórico-social concreto, do plano do ser – e
não mais do dever ser.” (PACHUKANIS apud MASCARO, 2010, p. 473)
Habermas, ao contrário, não posiciona a forma jurídica no “mundo do ser”, pois
seu “sistema de direitos” está amarrado a uma lógica jurídica formal de origem
burguesa (kantiana), desvinculado do “mundo real” (do “ser”).11
A proposta de um modelo procedimental de democracia, por exemplo,
demonstra-se “preso” à filosofia kantiana, pois fundamenta-se em “consensos” obtidos
racionalmente, entre cidadãos livres e iguais perante a lei.
Em sentido oposto à Stutchka e Pachukanis, rejeita a importante discussão da
luta de classes no interior de um Estado burguês e capitalista; nem mesmo apresenta
um interesse em situar o problema da democracia de massas nesse nível de discussão.
Citando Bilharinho Naves, importante referência nas discussões sobre “marxismo
e direito” no Brasil, Mascaro estabelece um outro apontamento interessante sobre a
doutrina de Pachukanis, a saber:
(...) se a forma do direito depende da forma da mercadoria, e se esta só se realiza no modo de produção capitalista, então a forma jurídica também depende do modo específico de organização do processo de trabalho decorrente da instauração das relações de produção capitalistas. (NAVES apud MASCARO, 2010, p. 474).
11
Exceto quando aproxima para dentro do universo jurídico as ações políticas. .
196
É importante registrar que, as relações jurídicas, só existem a partir de um
“sistema generalizado de trocas, a partir de um sistema de trocas mercantis
capitalistas”. (MASCARO, 2010, p. 474)
Por isso, somente quando a estrutura mercantil se torna regra geral é que também as estruturas jurídicas se generalizam. O mundo do Império Romano tinha trocas simples, que não se generalizavam estruturalmente, e, assim também, o direito romano continha normas quanto às trocas, mas não havia um sistema jurídico primitivo, justamente porque Roma não estava estruturada de modo mercantil capitalista, mas sim de modo escravagista, e que, portanto, tinha nas relações mercantis um complemento, e não a regra geral. Já no capitalismo, quando tudo e todos se trocam no mercado, é a escravidão que se torna incidental [...] Pachukanis chega, com sua identificação do direito às relações mercantis, ao cerne da especificidade jurídica no pensamento marxista. Não se trata apenas de um aparato de uma classe exploradora sobre outra. Se assim o fosse, o direito seria igual ao exército, aos meios de comunicação, à religião, todos esses que ao seu modo, também operam como aparatos de uma classe sobre outra. O direito tem uma lógica específica, além dessa generalidade de ser aparato de classe. Sua especificidade reside no fato de que somente se estrutura o capitalismo quando, nas relações mercantis, que lhe são já sua primeira etapa e forma necessária, institucionalizam-se também mecanismos jurídicos. O sujeito concreto que compra e vende livremente assim o faz porque também o direito tornou-o um sujeito jurídico, a partir dos instrumentais do direito subjetivo, do dever, da capacidade, da competência, da responsabilidade. (MASCARO, 2010, p. 474-475)
O direito, em Pachukanis, não representa apenas um “instrumento” de domínio
burguês do Estado, pois “situa a legalidade na própria circulação econômica
capitalista”, e, prova maior de seu refinamento, “é a capacidade de poder empreender a
compreensão do direito e do Estado a partir das próprias estruturas econômicas
capitalistas”. (MASCARO, 2010, p. 478)
Sobre Pachukanis, igualmente, convém serem mencionadas algumas questões
no interior do discurso marxista, a saber: 1. “O extermínio das relações de classe e a
transformação do trabalho implicam no fim da própria forma do direito”; 2. Sustenta a
“ruptura com o Estado e com o direito”, pois “O Estado, na perspectiva teórica de
Pachukanis, indissociavelmente é uma etapa capitalista burguesa”; além disso a aposta
“de momento” (num direito proletário ou num direito revolucionário) é uma proposta
197
meramente reformista (pois os discursos que centralizam as normas, no contexto das
sociedades capitalistas, são propostas “legalistas”); 3. Existe uma contradição no termo
“direito socialista”, além do que a figura do “Estado soviético” representa um
prolongamento de uma organização burguesa. O Estado, em Pachukanis, é “uma etapa
capitalista”, portanto, burguesa. (MASCARO, 2010, p. 478)
Wolkmer (2001, p. 267) também realiza uma denúncia à proposta de Habermas
(fundada numa “ética discursiva”), reputando-a de “teórica, abstrata e apriorística”.
A crítica de Wolkmer (2001, p. 267), igualmente, contribui para apontar os limites
da cidadania e do direito em Habermas.
Sustenta, por exemplo, que a proposta da “ética discursiva” parte de uma visão
de sociedade “quase perfeita, constituída por homens competentes, livres e
conscientes” prevalecendo sempre da lógica do melhor argumento possível.
(WOLKMER, 2001, p. 267)
Sem negar o mérito de um projeto ético calcado em princípios fundantes universais (vida, liberdade, justiça), presentes e únicos em qualquer situação histórica ou experiência cultural, deve-se também contemplar valores éticos particulares (que, uma vez reconhecidos pela Comunidade Internacional, poderão alcançar universalidade), inerentes às especificidades das formas de vida predominantes em espaços regionais periféricos, como a emancipação, autonomia, solidariedade e justiça. O que deveras acontece é que na “comunidade de comunicação ideal”, hegemônica e central, o “outro” (o sujeito espoliado e dominado do mundo periférico), que deveria ser condição fundante, na verdade é ignorado, silenciado e excluído, porque não é livre nem competente para participar da consensualidade discursiva e do jogo linguístico argumentativo. Com isso pode-se também afirmar que o sujeito da ‘intenção emancipadora’ dos teóricos da Escola de Frankfurt não se confunde necessariamente com o sujeito da “práxis libertadora” (pobres, miseráveis e oprimidos) dos pensadores latino-americanos. (WOLKMER, 2001, p. 268)
Assim, “nas condições reais de vida latino-americana e nos demais países
periféricos, a defesa de uma ética do discurso prático está muito aquém da realidade”.
(WOLKMER, 2001, p. 281) Por outro lado, a teoria interdisciplinar de Habermas é “o
198
ponto de partida da discussão sobre toda e qualquer reflexão que envolva, hoje, a
problematização de uma nova racionalidade”. (WOLKMER, 2001, p. 281)
Contudo, em que pese o otimismo e a profundidade teórica de Jürgen Habermas,
Wolkmer (2001, p. 283) reconhece os limites de uma ética discursiva emancipatória,
sobretudo no domínio que diz respeito “à busca por saídas e soluções efetivas da
especificidade histórica dos contextos das sociedades periféricas”, a exemplo da
realidade caótica e precária no Brasil.
Uma primeira ressalva que se pode fazer é a de que a proposta altamente sofisticada da “racionalidade comunicativa” foi elaborada tendo em vista as condições materiais e culturais de sociedades capitalistas que alcançaram elevado grau de riqueza, desenvolvimento e satisfação das necessidades. Um segundo elemento a considerar é o de que “a ação e o entendimento comunicativo” pressupõem, obrigatoriamente, a presença de atores livres, autônomos e iguais, condições que não condizem com a realidade do Terceiro Mundo e da América Latina, onde, como se sabe, os sujeitos individuais e coletivos vivenciam uma situação histórica de alienação, opressão, desigualdade e exclusão. Uma terceira ponderação encontra-se na dificuldade de alcançar um consenso na esfera de espaços comunicativos periféricos profundamente marcados por contextos culturais fragmentários, tensos e explosivos. Não parece tão fácil distinguir o falso do verdadeiro “consenso” ou mesmo de atingir um “consenso” espontâneo desprovido de preconceitos. No mundo contemporâneo tem-se visto que o “consenso” pode, tanto ser forjado e manipulado por burocracias partidárias estatais (Socialismo de Estado), quanto pela indústria cultural do Capitalismo de massas. Uma quarta restrição é que este novo paradigma de ação dialógico-discursiva requer uma “comunidade lingüística ideal”, de pureza quase utópica, desprovida de mentira, coação e irresponsabilidade. (WOLKMER, 2001, p. 280)
Portanto, o marxismo (na perspectiva teórica de Pachukanis), é a filosofia mais
lúcida para apontar os limites da cidadania e do direito em Habermas. Pois a crítica do
marxismo dirige-se “para a compreensão da particular situação do direito no todo
histórico social de nosso tempo, o capitalismo”. É uma corrente de pensamento
transformadora, na medida em que “confronta a realidade a partir do horizonte da
totalidade”. (MASCARO, 2010)
199
Na visão de Mascaro (2010, p. 316), o “modismo” também se faz presente no
mundo jurídico: uma maioria que representa “o pensamento médio dos juristas” e preza
pelo estudo das questões de legitimação do direito. De modo que o apego às “formas
jurídicas” e aos problemas de “legitimação do direito” têm dominado o âmbito
acadêmico e extra-acadêmico. O marxismo aplicado ao direito, ergue-se em sentido
contrário, porque visa “compreender sua real e concreta manifestação histórica, pois
entender os concretos vínculos entre Estado, direito e reprodução econômica e social é
a tarefa mais árdua e mais ampla à qual o marxismo se incumbe na filosofia do direito”.
(MASCARO, 2010, p. 316)
6.2 O DIREITO COMO MEDIUM: UM INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DA CLASSE BURGUESA?
Se na Theorie des kommunikativen Handels (com base em Weber), Habermas
estabeleceu uma clara divisão entre o direito enquanto medium (sistema) e o direito
enquanto “instituição” (constituído no mundo da vida a partir de ações comunicativas
praticadas no cotidiano), nos anos 90, em Faktizität und Geltung, interessa-lhe
demonstrar que o direito tem dupla função: serve tanto ao poder comunicativo, quanto
ao poder administrativo. Hoje, na visão habermasiana, o direito é apresentado como um
“transformador”: passa a ser concebido como “uma instância mediadora entre sistema e
mundo da vida”, porque “desempenha uma função de ‘charneira’, de articulação” (como
uma “dobradiça” mesmo) entre a Lebenswelt e o sistema. (NOBRE, 2008, p. 26)
As coisas que fiz, desde a Teoria da Ação Comunicativa, continuam a me parecer plausíveis, digamos, em sua arquitetônica, e eu as defenderia. As objeções feitas a essas idéias não são tão convincentes a ponto de forçar-me grandes revisões. Por outro lado, pelo menos eu espero, a gente sempre continua a aprender. E penso que a filosofia do direito que expus, em Direito e Democracia, também teve algo de novo. Ela também contém uma revisão da idéia, que eu ainda sustentava na Teoria da Ação Comunicativa, de que se pode distinguir entre direito enquanto instituição e o direito enquanto meio (medium). (HABERMAS apud ARAGÃO, 2002, p. 58)
200
Ao mesmo tempo em que exerce funções sistêmicas, tem a capacidade de
traduzir em termos de dinheiro e poder administrativo (em termos instrumentais) os
influxos comunicativos. (NOBRE, 2008)
Dinheiro e poder são surdos à linguagem cotidiana e dispõem de códigos
altamente especializados e funcionais. Para que seja possível dirigi-los em um sentido
determinado, é preciso que o direito traduza as pretensões comunicativas cotidianas
nos termos especializados de cada um desses media sistêmicos. [...] É essa nova
metáfora – a do direito como transformador – que permite a Habermas completar o
movimento que havia iniciado já na Teoria da ação comunicativa: a relação entre
sistema e mundo da vida é uma via de mão dupla em que temos, de um lado, as
pretensões colonizadoras (i. e, patológicas do ponto de vista da emancipação) do
sistema em relação ao mundo da vida, e, de outro, tentativas emancipatórias de
influência e de direcionamento do sistema pelo mundo da vida, sempre resguardado
aqui o cerne instrumental minimamente necessário à reprodução material da sociedade.
E essa via de mão dupla é a do direito como medium, vale dizer, ao mesmo tempo
como mediador e como portador de lógicas diversas e, muitas vezes, antagônicas. O
papel de transformador atribuído por Habermas ao direito está em que este tem dupla
face [...] de um lado, ele é a voz da administração e do sistema, em que norma e
sanção são inseparáveis uma da outra, ou seja, em que o direito aparece como
coerção, ainda que coerção legítima. De outro lado, o direito é expressão,
simultaneamente, de um processo de formação coletiva da opinião e da vontade, sem o
qual seria apenas um estabilizador de expectativas de comportamento e não a
expressão da autocompreensão e da autodeterminação de uma comunidade de
pessoas de direito que ele também é. (NOBRE, 2008, p. 27)
Nesse prisma, o direito pode ser considerado um mecanismo de colonização do
mundo da vida pelo sistema ou “pode ser o portador de impulsos de reação à
colonização e mesmo de movimentos ofensivos para orientar processos sistêmicos em
um sentido determinado”. (NOBRE, 2008, p. 27)
Sintetizando a divisão estabelecida na Theorie des kommunikativen Handels,
esclarece que o direito enquanto medium é instrumental, ao passo que o “direito
201
enquanto instituição” busca por uma justificação material, regendo-se pelo “principio de
fundamentação”. Por isso, ele estabelece a seguinte divisão: “derecho como
instrumento de organización para los subsistemas regidos por médios” e “direito
instituição”.
[...] el derecho sirve como instrumento de organización para los subsistemas regidos por médios [...] Son significativas em este sentido la mayoría de las materias del derecho económico, del derecho administrativo. Aquí el derecho queda combinado con los medios dinero y poder de modo que también adopta el papel de un medio de control. […] el medio derecho permanece conectado con el derecho como institución. Por instituiciones jurídicas entiendo las normas jurídicas que no pueden quedar suficientemente legitimadas con sólo apelar en términos positivistas a su corrección procedimental. Típicos en este sentido son los fundamentos del derecho constitucional […] y toda la legislación relativa a asuntos penales próximos a casos morales (como el asesinato, el aborto, la violación, etc.). Tan pronto como en la prática cotidiana queda en cuestión la validez de estas normas, ya no basta con apelar a su legalidad. Necesitan justificatión material, pues forman parte de los órdenes legítimos del mundo de la vida y, junto con las normas informales que rigen la acción, constituyen el transfondo de la acción comunicativa. […] Las instituiciones jurídicas pertencem a los componentes sociales del mundo de la vida. […] las instituiciones jurídicas no tienem ninguna fuerza constituyente, sino sólo una función regulativa .Están insertas en un contexto político-cultural y social más amplio, guardan una relación de continuidad con las normas éticas, vienem a sacionar juridicamente ámbitos de acción comunicativamente estructurados; proporcionan los ámbitos de acción ya contituidos informalmente una fuerza vinculante respaldada por la sanción estatal. (HABERMAS, 1992, p. 516-517)
O direito instrumental, como medium, seguia o horizonte de pensamento
weberiano, “como complemento necessário da economia e do subsistema
administrativo para a instauração da modernidade capitalista ocidental”. Esta ideia,
sustentada por Weber, conduz pensar o direito positivo em seu aspecto puramente
normativo, “desligado dos conteúdos a que se refere, e, fundamentado apenas no
mandato de administração da justiça e do legislador político”. (ARAGÃO, 2002, p. 195)
O direito pensado à maneira de Weber, isto é, como “complemento” é de tipo
racional e formal, porque a lei e o julgamento são estabelecidos somente com base em
conceitos abstratos, criados pelo pensamento jurídico. Situação tipológica bem
202
diferente comparando-se ao direito irracional e formal em que o legislador e o juiz se
deixam “guiar por normas que escapam à razão, porque se pronunciam com base em
uma revelação ou em um oráculo”. Este, por sua vez, também se diferencia do direito
racional e material: a legislação ou o julgamento se refere a “um livro sagrado” ou a
“uma ideologia”. (FREUND, 1970, p. 192).
A distinção entre o direito formal e o direito material parece mais importante porque condiciona diretamente a racionalização do direito. Weber entende por lei formal a disposição jurídica que deixa deduzir logicamente apenas dos pressupostos de um sistema determinado do direito. O direito formal é, pois, o conjunto do sistema do direito puro do qual todas as normas obedecem unicamente a lógica jurídica, sem intervenção de considerações externas ao direito. O direito material, ao contrário, leva em conta os elementos extrajurídicos e se refere no curso de seus julgamentos aos valores políticos, éticos, econômicos ou religiosos. (FREUND, 1970, p. 191)
Ao rever as ideias sustentadas na Theorie des kommunikativen Handels,
Habermas, em Faktizität und Geltung, já não acredita ser a “juridificação, uma
conseqüência do Estado”. O direito como medium não significa necessariamente
“dominação”. Para ele, o direito medium não precisa ser rigidamente considerado como
um instrumento do sistema administrativo para a colonização do mundo da vida, pois
“nem tudo é transformado em relações meramente jurídicas”. (ARAGÃO, 2002, p. 58)
Habermas, na busca de um nexo funcional entre o direito e a política, sustenta
que, o próprio direito, deve estar “ligado a demandas normativas que emanam do
entendimento comunicativo das estruturas da intersubjetividade intacta que se formam
em mundos da vida racionalizados nos quais se ancoram as esferas públicas”. (BOAS,
2008, p. 157)
É justamente por isso que Habermas caracteriza o direito como o medium
através do qual o poder comunicativo se transforma em poder administrativo e que,
“mediante esse processo, permite a regeneração do poder administrativo (a partir do
poder comunicativo), sem adulterar a lógica que regula a auto-orientação sistêmica da
administração”: isso representa “uma metáfora do direito” enquanto “correia de
203
transmissão” (conduz demandas normativas advindas do mundo da vida para o interior
dos sistemas). (BOAS, 2008, p. 158)
The concept of the political in its full sense also includes the use of administrative power within the political system, as well as the competition for access to that system. The constitution of a power code implies that an administrative system is steered through authorizations for rendering collectively binding decisions. This leads me to propose that we view law as the medium through which communicative power is translated into administrative power. For the transformation of communicative power into administrative has the character of an empowerment within the framework of statutory authorization. We can then interpret the idea of the constitutional state in general as the requirement that the administrative system, which is steered through the power code, be tied to the lawmaking communicative power and kept free of illegitimate interventions of social power (i.e., of the factual strength of privileged interests to assert themselves). Administrative power should not reproduce itself on its own terms but should only be permitted to regenerate from the conversion of communicative power. In the final analysis, this transfer is what the constitutional state should regulate, though without disrupting the power code by interfering with the self-steering mechanism of the administrative system. In sociological terms, the idea of government by law illuminates only the political side of balancing the three major forces of macrosocial integration: money, administrative power, and solidarity. (HABERMAS, 1998, p. 150)
Ademais, na visão habermasiana, é pelo caminho do direito positivo que se
garante a autonomia pública e privada de cidadãos que, racionalmente, “na faculdade
do uso de suas razões públicas”, colocam-se conscientemente numa posição de
autores e destinatários das leis”. (HABERMAS, 1997)
Habermas acaba reforçando a ideia de que o “sistema de direitos” (que nada
mais é do que um sistema de direitos fundamentais que visa “assegurar tanto a
autonomia privada quanto a pública aos cidadãos”) não é um sistema desvinculado do
direito moderno (racional, formal e notadamente burguês).
Derivando do princípio universal de direito kantiano – “do direito ao maior grau
possível de igual liberdade individual” – Habermas constrói “cinco direitos fundamentais”
para demonstrar que “eles contemplam”, de certa forma, “boa parte dos direitos
204
humanos” tradicionalmente reconhecidos na esfera internacional (como aqueles
elencados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão). (HABERMAS, 1997)
Dessa maneira, o “sistema de direitos” abrange “cinco direitos fundamentais”
para que os cidadãos garantam democraticamente seus “direitos de convivência,
atribuindo-os reciprocamente”, sem exclusão, caso pretendam legitimamente regular os
modos de organização e de partilha de experiências sociais, por meio do direito
positivo. (HABERMAS, 1997)
Estrategicamente, torna a legislação (o direito positivo) necessariamente
“dependente do poder comunicativo”, da mobilização das liberdades comunicativas dos
cidadãos e do exercício da política cotidiana (“fora do Estado”), pois o núcleo do
“sistema de direitos” é o “princípio da democracia”. (ARAGÃO, 2002)
A tutela jurídica dos contratos (que contribui para a preservação da reprodução
material, isto é, da compra e venda no mercado) também é levada em conta no sistema
de direitos, ao se referir à “proteção jurídica individual”.
Em Habermas, mesmo numa sociedade capitalista com modelos jurídicos
burgueses, é possível apostar na boa convivência entre cidadãos que exercem as suas
liberdades comunicativas.
Com efeito, a “revolução habermasiana” está no plano da prática comunicativa
de sujeitos de direito que levantam suas pretensões e apresentam argumentos
racionais para justificar suas ações: pelo caminho da democracia os atores devem
buscar o consenso, bem como modelar o Estado a partir do exercício de ações
comunicativas. Logo, o significado de “revolução”, para Habermas, depende do
exercício de ações comunicativas livres, entre sujeitos de direito dotados de igual
liberdade, num modelo de Estado que dê condições jurídicas isonômicas aos cidadãos.
Não ataca as formas jurídicas burguesas, nem mesmo a lógica do capitalismo
(sem propor rupturas). Ao contrário, defende o direito como medium na forma de um
sistema de direitos.
205
Defende a tese de que a tutela jurídica da reprodução material proporciona, de
certa forma, a neutralização das tensões sociais: na sociedade moderna, os conflitos
são amenizados quando cidadãos autônomos produzem, compram e vendem
mercadorias. (NOBRE, 2008)
De modo que sua proposta de teoria social, não visa atacar “a relação entre
circulação econômica e a exploração”, sequer propõe uma revolução em nível
ontológico (a revolução do ser). (MASCARO, 2010)
A proposta de filosofia habermasiana segue a trajetória da filosofia do direito de
Kant: tanto no aspecto da “racionalidade jurídica”, quanto no aspecto da busca por
entendimentos (“consensual”).
Entretanto, se afasta de Kant na medida em que concebe a ideia de legalidade
como um “produto das relações políticas”. (MASCARO, 2003, p. 46)
Kant não concebia a legalidade nessa perspectiva: “é (...) o expoente de um
direito positivo que preserve a segurança das relações sociais burguesas. (...)”, posto
que desenvolve uma doutrina do direito “como garantes estatais dos imperativos
racionais, traçando a instância jurídica em paralelo da política, mas não dependente
desta, antes a submetendo”. (MASCARO, 2003, p. 47)
A utopia de Habermas não parte ativamente para denunciar as explorações.
Bloch, mais sensível ao problema, analisa a história da filosofia do direito “a partir dos
de baixo, os explorados”. (MASCARO, 2010, p. 577)
A utopia de Habermas está na comunicação entre seres de fala, que
racionalmente visam a um entendimento. Entretanto, é certo que a racionalidade
comunicativa nos tornará emancipados do jugo da exploração?
O capitalismo potencializa os conflitos, a exploração e luta de classe. Logo,
reduz o homem à condição de mercadoria, aviltando a sua dignidade. Não há espaço
para a felicidade num ambiente opressivo de relações sociais desiguais.
De modo que, muito mais lúcida e concreta é a utopia de Bloch.
206
O pensamento de Bloch é bastante agudo no que tange à utopia jurídica. Apoiado em Marx, dirá Bloch que o Estado e o direito se apresentam na atualidade como manifestações da própria reprodução econômica capitalista, pulverizando os indivíduos em mercadorias, realizando a circulação mercantil, garantindo a propriedade privada e reprimindo a liberdade individual e social. Em face dessa situação presente, o que se chamará por utopia jurídica será o fim do Estado e do direito, na medida em que são elementos de exploração e de repressão. (MASCARO, 2010, p. 576)
Na idade contemporânea, no contexto deste século, Habermas integra “a maioria
dos filósofos do direito: interessa-se em meras reformas superficiais no interior da
própria estrutura do sistema capitalista”. Não apresenta, portanto, um modelo de ruptura
ao capitalismo. Não encara uma proposta de um socialismo transformador.
(MASCARO, 2010)
Para o marxismo, a explicação do direito, que se dá no interior da totalidade histórico-social, que é o capitalismo, não pode ser nem mera descrição e nem reforma do direito positivo, mas transformação das relações sociais. (...) as mazelas do mundo não serão superadas por uma reforma jurídica, mas somente pela prática política transformadora. (DE ALMEIDA; CALDAS. 2011, p. 148)
Bloch vai além de Habermas, pois “Na mais fiel leitura das possibilidades últimas
do marxismo, [...] aponta a libertação da opressão estatal e o perecimento do direito
como as mais elevadas utopias jurídicas concretas para o futuro da humanidade”.
(MASCARO, 2010, p. 577) Habermas, ao contrário, aposta em mais direitos, e insere o
direito burguês (moderno e capitalista) como uma saída possível para a integração
social.
Para Nobre (2008, p. 20-21):
Habermas sustenta que a sociedade moderna se reproduz materialmente porque neutraliza os potenciais de conflito [...] sob a forma de uma ação orientada para o êxito, para o sucesso de produzir mercadorias, de comprar e vender mercadorias segundo regras, de administrar a aplicação das leis segundo critérios impessoais, de
207
assegurar a infra-estrutura necessária para a circulação de bens e pessoas e muitas outras coisas mais. Na lógica da reprodução material da sociedade, o mundo e os atores sociais são tomados não como meros objetos, como meios com vistas à consecução de um fim determinado. Essa lógica neutraliza, portanto, os potenciais de conflito e de dissenso, já que está orientada unicamente para a consecução de determinados fins de reprodução material previamente estabelecidos. [...] De outro lado, entretanto, a estabilização fornecida pela lógica instrumental de algumas ações sociais não elimina os potenciais de conflito e de dissenso próprios das sociedades modernas. Seu papel é unicamente o de limitar o campo em que eles ocorrem, garantindo que não coloque em risco a reprodução material da sociedade. De modo que há ainda uma outra maneira de lidar com o conflito e dissenso próprios das sociedades modernas que não por meio da neutralização instrumental. Essa outra maneira de lidar com o conflito e o dissenso é a discussão racional, livre de impedimentos, na qual as próprias regras da discussão têm de ser estabelecidas pelos participantes. É o tipo de ação que Habermas chama de comunicativa.
Logo, a proposta de emancipação social habermasiana é meramente reformista.
A verdadeira transformação está no “ser”, isto é, no plano ontológico, tal qual defendida
por Marx, na A questão judaica. (MASCARO, 2010, p. 88)
Somente quando o homem real, individual, tiver retomado em si o cidadão abstrato, e quando como homem individual na vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, se tiver tornado o ser genérico, somente quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças como forças sociais, e quando não tiver de separar de si a força social sob a forma de força política, somente então se terá consumado a emancipação humana. (MARX apud MASCARO, 2010, p. 88)
Mascaro (2010, p. 479) sustenta que, “os homens que concebem os vínculos
sociais apenas como meios para os seus fins privados, contribuem para que as
diretivas técnicas racionais assumam a forma de um poder estranho ao homem e
situado acima dele”. O homem político, nas palavras de Marx, é “um homem abstrato,
artificial (...) quanto mais as relações mercantis e o incentivo ao lucro estiverem sendo
radicalmente suprimidos da esfera da produção, mais cedo soará a hora dessa
libertação definitiva (...)”. (MASCARO, 2010, p. 479)
208
Por outro lado, Habermas não pode ser considerado um conservador, pois
“condiciona a legitimação do poder político a sua ligação com o direito legitimamente
estatuído” (ARAGÃO, 2002, p. 196).
Esta abordagem “ética”, visa elucidar a maneira como os cidadãos articulados
podem aproximar o poder político ao direito positivo, numa abordagem oposta à de
Kelsen, que seria incapaz de consentir com essa aproximação, diante da sustentação
de um neopositivismo científico, de linha neokantiana, com pretensões cegas aos
“valores” e aos embates políticos (pano de fundo constitutivo do próprio direito).
De modo que o exercício da legislação deixa de ser monopólio exclusivo do
Estado (“poder do Estado”) passando a constituir-se como um “poder no Estado”, e, os
direitos formais iguais (o tratamento jurídico isonômico) efetivamente devem propiciar a
igualdade de oportunidades entre os cidadãos, a exemplo de que todo cidadão tem
direito à voz. (ARAGÃO, 2002, p. 196)
E a única forma de assegurar essa igualdade de chances, segundo seu ponto de vista, é através da participação: não apenas da participação política formal, que se resume a cada cidadão exercer o direito de votar e ser votado nas eleições oficiais, mas também da participação social e cultural, por meio da sua inclusão na formação de uma opinião pública política, não restrita ao âmbito parlamentar. Isto significa dar oportunidades aos membros de tomar parte na discussão e decisão de questões que dizem respeito à vida em sociedade. E a maneira mais adequada de criar essa possibilidade seria através de sua participação em algum movimento, organização ou associação, ou seja, nas instituições da sociedade civil, que buscasse apoio junto ao poder público para as demandas da população – isto é, aquelas que, submetidas a um discurso prático, baseado nas regras da teoria da argumentação, tivessem obtido o assentimento racional de todos os interessados – ainda não atendidas pela legislação vigente. (ARAGÃO, 2002, p. 198)
Portanto, na perspectiva marxista, o direito como medium é uma razão
instrumental a serviço da classe burguesa.
6.3 O JUSPOSITIVISMO ÉTICO DE HABERMAS CONTRA O JUSPOSITIVISMO ESTRITO DE KELSEN: POR QUE HABERMAS NÃO PODE SER CONSIDERADO UM CONSERVADOR NO QUADRO COMPARATIVO?
209
Habermas não chega a ser um positivista estrito, diferindo-se, portanto, de
Kelsen, que faz uma leitura do direito demasiadamente técnica e formalista.
Na orientação do positivismo jurídico estrito, a proposta teórica de Kelsen “é a
mais canônica construção do tecnicismo, a mais reducionista, a mais conservadora, a
mais singela” (porque não “toca” na dramaticidade dos problemas sociais), e por isso, “a
mais aplaudida entre a esmagadora maioria dos juristas conservadores”. (MASCARO,
2010, p. 356)
Trata-se de uma construção tendente ao esvaziamento do ser, da realidade, e
por isso sua pretensão à universalidade formal, fora da história e imune aos impulsos e
contradições sociais. Sua singeleza e objetividade, que fizeram sua fama e sua quase
unanimidade entre os juristas práticos, é a sua máxima virtude extraída de sua máxima
fraqueza. A teoria pura kelseniana não reflete o todo do direito, muito menos o todo do
direito em relação à totalidade social. Por isso, enquanto técnica emasculada das
contradições do direito e da realidade, consegue cativar o jurista juspositivista, sem
crítica, aos acordes que, mínimos e formalistas tecnicamente, entoaram-se
universalmente. (MASCARO, 2010, p. 356)
O reducionismo de Kelsen, nesse sentido, é incapaz de entrelaçar o direito com
a sociedade, com o mercado e com o “poder político gerado fora e no interior do
Estado”. Habermas (1997), ao contrário, apresenta uma proposta de análise do
fenômeno jurídico a partir do seu todo: as sociedades modernas são integradas não
apenas através de valores, normas e processos de entendimento, “mas também
sistemicamente”.
Mercados (regidos pelo dinheiro) e Estado (regido pelo poder administrativo)
também são “mecanismos de integração social”, porque além de formarem o sistema,
“coordenam as ações de forma objetiva”. (HABERMAS, 1997)
O exemplo clássico para esse tipo de regulamentação, é a “mão invisível” do
economista (clássico) Adam Smith: “ambos os meios ancoram-se nas ordens do mundo
210
da vida, integrados na sociedade através do agir comunicativo, seguindo o caminho da
institucionalização do direito”. (HABERMAS, 1997)
É através da “prática de uma autodeterminação – que exige dos cidadãos o
exercício comum de suas liberdade comunicativas – que o direito extrai sua força
integradora, em última instância, de fontes da solidariedade social”. Ademais, “as
instituições do direito privado e público, possibilitam, de outro, o estabelecimento de
mercados e a organização de um poder do Estado; pois as operações do sistema
administrativo e econômico, que se configuram a partir do mundo da vida, que é parte
da sociedade, completam-se em formas do direito.” (BOAS, 2008, p. 155-156)
Habermas (2007), portanto, defende que o direito extrai a sua “força integradora”
do exercício das liberdades comunicativas dos cidadãos que trocam experiências no
mundo da vida. O direito, nesse sentido, ocupa uma função de integração social, indo
além da mera “regulamentação jurídica dos mercados ou da organização do Estado
com base em leis”.
Kelsen (2006, p. 11), ao contrário, não vê o direito como um meio de integração
social. Seu interesse era diverso, qual seja a construção de uma “teoria jurídica pura,
isto é, purificada de toda a ideologia política [...] uma teoria jurídica consciente de sua
especificidade porque consciente da legalidade específica do seu objeto”.
É por isso que a teoria geral do direito de Kelsen, deveria ser chamada de “teoria
geral das técnicas normativas”. (MASCARO, 2007, p. 55-72)
Por ser analítico o método de trabalho de Kelsen, “os fenômenos sociais são
tratados de modo fragmentado”, retirando a visão da “totalidade”. Essa maneira de ver
o direito é míope, porque na realidade, “enquanto dado social, o direito é misturado com
a totalidade dos demais fenômenos”. (MASCARO, 2010, p. 345)
A analítica, como ferramenta filosófica kelseniana, advém dessa postulação de uma teoria puramente normativa do direito. Não se trata de fazer valorações do direito, relacionando-o à moral, nem tampouco de estabelecer apreciações políticas, se é justo ou útil, e muito menos empregar a sua reconstituição histórico-sociológica como forma de
211
explicar cientificamente o fenômeno jurídico. Trata-se de uma ciência que opera como lógica. Seus pressupostos não são passíveis de verificação empírica. Acima disso, são verificáveis enquanto guardem vínculo de coerência. Para Kelsen, sendo a ciência do direito considerada, nas suas palavras, de maneira dinâmica, isto é, no movimento das normas jurídicas em conjunto, uma norma só guarda coerência com o todo do ordenamento por razões formais. Não se indaga de sua plena aderência social, de sua referencia concreta, mas sim de sua origem formalmente válida e respaldada objetivamente em normas superiores. O conjunto das normas jurídicas encerra-se nos limites delas mesmas. Por conta disso, a analítica – que quer dizer quebra – fragmenta o todo do fenômeno social do direito e escolhe uma face que lhe seja privilegiada e que revele então, cientificamente, o objeto do direito. No pensamento de Hans Kelsen, o pensamento a partir da totalidade se perde. A ferramenta analítica restringe-se à parcela que se considera, cientificamente, por direito. O resultado de tal método analítico kelseniano é uma profunda objetividade, mas também um profundo desgarramento das manifestações da totalidade social. (MASCARO, 2010, p. 345)
Embora Kelsen (2006, p. 71) seja consentâneo com a ideia de que o direito e a
moral constituem esferas diferentes, critica as valorações do direito, proíbe o jurista de
realizar juízos de valor. Para ele, “a relação entre o direito e a moral é problemática”.
Tal questão é objeto de análise no segundo capítulo da Reine RechtLehre.
Nessa obra, por exemplo, ele sustenta que “o jurista científico não se identifica
com qualquer valor, nem mesmo com o valor jurídico por ele descrito”. (KELSEN, 2006,
p. 78) Ademais: “a tese de que o Direito é, segundo a sua própria essência, moral, é
rejeitada pela Teoria Pura do Direito [...] a ciência jurídica não tem de legitimar o Direito,
não tem por tarefa justificar – quer pela moral absoluta, quer pela moral relativa – a
ordem normativa que lhe compete – tão somente – conhecer e descrever”. (KELSEN,
2006, p. 78)
Por exemplo, se as lideranças (que agem no comando do trafico de drogas de
um dado país) tomassem o poder do Estado, estabelecendo normas constitucionais
com base na violência, para Kelsen, isto é direito válido, pois “uma norma jurídica pode
ser considerada como válida ainda que contrarie a moral”. (KELSEN, 2006, p. 77)
Se a ordem moral não prescreve a obediência à ordem jurídica em todas as circunstancias e, portanto, existe a possibilidade de uma
212
contradição entre a Moral e a ordem jurídica, então a exigência de separar o Direito da Moral e a ciência jurídica da Ética significa que a validade das normas jurídicas positivas não depende do fato de corresponderem à moral, que, do ponto de vista de um conhecimento dirigido ao Direito positivo, uma norma jurídica pode ser considerada válida ainda que contrarie a ordem moral. (KELSEN, 2006, p. 77)
Habermas, contudo, estabelece uma relação de “complementaridade” entre os
dois campos. Portanto, o direito em Habermas, “vive em esfera própria, por meio de
seus procedimentos, mas comunica-se com o campo ético”. (MASCARO, 2010, p. 368)
Habermas, por outro lado, exclui a possibilidade de uma fundamentação do
direito pela moral. No entanto, analisou a relação de “complementaridade funcional
entre direito e moral”. (BOAS, 2008, p. 156)
A própria formulação do princípio do discurso (princípio “D”), segundo o qual são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis interessados atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais visa a desvincular a fundamentação do direito pela moral e remetê-lo ao processo democrático de legiferação. [...] Ao remeter a responsabilidade de legitimação do direito ao processo democrático, Habermas precisa indicar e provar a existência de um nexo conceitual entre Estado de direito e democracia. (BOAS, 2008, p. 156-157)
Habermas (1997) também alega que (a análise kantiana da “forma do direito”),
permite a retomada contemporânea sobre a discussão entre direito e moral, para
demonstrar que o princípio da democracia “não pode ser subordinado ao princípio
moral, como é feito na construção kantiana da doutrina do direito [...] após a indicação
do rumo, eu posso dedicar-me a fundamentar o sistema dos direitos com auxílio do
princípio do discurso, de modo a esclarecer porque a autonomia privada e pública, os
direitos humanos e a soberania do povo pressupõem mutuamente”.
(...) quando nos apoiamos numa teoria procedimental, a legitimidade de normas jurídicas mede-se pela racionalidade do processo democrático da legislação política. Como já foi mostrado, esse processo é mais complexo do que a argumentação moral, porque a legitimidade das leis não se mede apenas pelas correções dos juízos morais (...) É verdade que discursos jurídicos podem ser analisados seguindo o modelo de
213
discursos morais, pois, em ambos os casos, se trata da lógica de aplicação de normas. Porém a dimensão de validade mais complexa das normas do direito proíbe equiparar a correção de decisões jurídicas à validade de juízos morais e, nesta medida, considerá-la como um caso especial de discursos morais. (Habermas, 1997, p. 290)
Após introduzir o princípio do discurso – que possibilita distinguir entre o princípio
da moral e o princípio da democracia e, que também permite, a fundamentação da
legitimidade do direito no processo democrático de sua criação – Habermas passa a
indicar a relação interna (“nexo funcional”) entre o direito e a política. (BOAS, 2008, p.
157)
Se a proposta de Kelsen é separar o direito da política, Habermas, ao contrário,
trabalha na aproximação do “político” com o “jurídico”.
Sobre a relação entre o direito e a política, Habermas enfatiza a existência de um
“nexo funcional entre o código do poder e o do direito que faria com que tanto o direito
quanto o poder político, apresentassem funções recíprocas [...] institucionalização do
direito por parte do Estado e, fornecimento de meios de organização jurídica da
dominação política”. (BOAS, 2008, p. 157)
Contudo, a relação entre poder político e direito, embora seja orientada por um nexo funcional interno, não pode consistir numa mera troca auto-suficiente e horizontal entre direito e poder político, pois, se assim fosse, haveria inevitavelmente a instrumentalização do direito pela política. [...] a legitimidade do direito passa a estar fundada, em última análise, no princípio do discurso que, em termos bastante gerais, consiste na avaliação imparcial de questões normativas de qualquer espécie pelos possíveis envolvidos pelas decisões tomadas. [...] Habermas afirma que as formas de comunicação que tornam possível a formação discursiva de uma vontade política racional demandam uma institucionalização política que somente é obtida a partir da transformação do princípio do discurso no princípio da democracia. Num tal contexto, a legitimação do direito aparecerá como a expressão do processo racional de formação da opinião e da vontade. É certo que isso obviamente pressupõe que as estruturas da sociedade civil e da esfera pública política não tenham sido contaminadas pelos imperativos sistêmicos que emergem da administração (política) e da economia (mercado). Como ressalta Habermas (...), é preciso que se pressuponha um mundo da vida e uma esfera pública não colonizados pela racionalidade com respeito a fins, que é própria do âmbito dos sistemas. (BOAS, 2008, p. 157-159)
214
Assim, a partir de um horizonte político de análise das questões jurídicas, em
Habermas, o que garante a legitimidade do direito é a participação política
universalmente ativa, num espaço democrático amplo, de cidadãos livres e iguais
“acostumados a uma prática democrática”, isto é, de cidadãos com um nível
educacional elevado que saibam, de fato, usar racionalmente o poder comunicativo
(numa esfera pública independente), posto que “só vale como legítimo o direito que
conseguiu aceitação racional por parte de todos os membros do direito, numa formação
discursiva da opinião e da vontade”. (HABERMAS, 1997)
Defende um procedimento democrático bem arquitetado para gerar consensos e
produzir a legitimação das leis:
O direito não consegue o seu sentido normativo pleno através de sua forma, mas através de um procedimento que instaura o direito gerando legitimidade. [...] A idéia do Estado de direito exige que as decisões coletivamente obrigatórias do poder político organizado, que o direito precisa tomar para a realização de suas funções próprias, não revistam apenas a forma do direito, como também se legitimem pelo direito corretamente estatuído. Não é a forma do direito, enquanto tal, que legitima o exercício do poder político, e sim, a ligação com o direito legitimamente estatuído. E, no nível pós-tradicional de justificação, só vale como legítimo o direito que conseguiu aceitação racional por parte de todos os membros do direito, numa formação discursiva da opinião e da vontade. Isso traz como conseqüência uma incorporação do exercício da autonomia política dos cidadãos no Estado – a legislação constitui-se como um poder no Estado. Ao passar da socialização horizontal dos civis, que se atribuem reciprocamente direitos, para formas verticais de organização socializadora, a prática de autodeterminação dos civis é institucionalizada – como formação informal da opinião na esfera pública política, como participação política no interior e no exterior dos partidos, como participação em votações gerais, na consulta e tomada de decisão de corporações parlamentares, etc.. Uma soberania popular interligada internamente com as liberdades subjetivas, entrelaça-se, por seu turno, com o poder politicamente organizado, de modo a que o princípio todo poder político parte do povo vai ser concretizado através dos procedimentos e pressupostos comunicativos de uma formação institucionalmente diferenciada da opinião e da vontade. (HABERMAS, 1997, p. 172-173)
215
Portanto, em Habermas, não é a forma do direito, enquanto tal, que legitima o
exercício do poder político, e sim, “a ligação com o direito legitimamente estatuído”.
Ademais, “a própria Constituição, longe de ser o momento fundador das regras do
direito positivo, tem necessidade de ser fundada [...]”. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 483)
“(...) requer uma validação crítica que, segundo Habermas, só pode e só deve provir da discussão prática. Ao poder de decisão e à onicompetência que caracterizam o Estado soberano em suas estruturas modernas, Habermas opõe, portanto, as capacidades de argumentação que pertencem à comunidade social e condicionam a intercompreensão”. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 483)
Nesse sentido, importa-lhe saber como as regras do direito positivo devem ser
feitas, pois o modelo procedimental exige uma validação crítica das mesmas.
Para Goyard-Fabre (2002, p. 484), compete ao “direito político regular os
comportamentos políticos, aqui e agora, em contextos determinados e mesmo tendo em
conta consequências factuais que ele é suscetível de provocar”.
Mas a validade de suas regras não reside na empiria; transcende lugares e épocas, pois no direito político se efetua [...] o entrecruzamento da comunidade real e ideal de comunicação. Sem dúvida a coesão entre o real e o ideal é das mais difíceis na argumentação que a razão processual tem de desenvolver e, em conseqüência, a discussão é com mais freqüência ‘poluída’ do que ‘depurada’. Mas o importante é sublinhar a relação interna que a razão comunicacional estabelece entre a gênese e o valor do direito político, submetendo-o ao entendimento intersubjetivo e ao reconhecimento recíproco. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 484)
Kelsen (2006. p. 01), ao contrário, procura responder” o que é e como é o
Direito”, pois não lhe importa a questão de saber como deve ser o Direito, ou como ele
deve ser feito.
A ciência do direito não será para Kelsen, uma sociologia do direito, nem tampouco uma filosofia do direito. Não é especulativa nem empírica no sentido de atrelada a fatos. A teoria pura do direito é normativa: o entendimento normativo ilumina juridicamente os fatos. Por isso, a ciência do direito é uma ciência técnica, lastreada numa
216
apreensão em segundo grau dos fatos. O fato somente é considerado cientificamente para o direito enquanto iluminado por um sentido normativo. (MASCARO, 2010, p. 342)
Habermas, ao contrário, não tem a pretensão de instituir uma ciência pura do
direito. Ao contrário, busca estabelecer uma íntima conexão entre a ciência do direito
com a teoria política, para defender que o direito é o medium “através do qual o poder
comunicativo se transforma em poder administrativo”; ademais, “mediante esse
processo, permite a regeneração do poder administrativo a partir do poder
comunicativo, sem que isso implique (...) intervenção direta na lógica (...) que regula a
auto-orientação sistêmica da administração”. (BOAS, 2008, p. 157)
Metaforicamente, o autor trata o direito enquanto “correia de transmissão” que
“levaria demandas normativas provenientes do mundo da vida para o âmbito dos
sistemas que, em função de sua orientação codificada e da racionalidade instrumental
que lhe é correlata, seriam indiferentes a tais demandas”. (BOAS, 2008, p. 158)
Habermas também sustenta que a relação entre Estado de direito e democracia
é “o resultado do próprio conceito moderno de direito”, podendo-se dizer que é o
“resultado da circunstância de que hoje o direito positivo não pode mais obter sua
legitimidade recorrendo a um direito superior” (presente na natureza das coisas) ou que
seja fundamentado na visão de mundo mística, pois o direito moderno é justificado pelo
caminho da razão. (HABERMAS, 1997)
Nesse aspecto, ele também faz um ataque às correntes jusnaturalistas que
buscam a legitimidade do direito recorrendo a um “direito superior”. De modo que o
direito moderno legitima-se a partir da “autonomia garantida de maneira uniforme a todo
cidadão”. Pois, “Somente na modernidade o poder político pôde desenvolver-se como
poder legal, em formas do direito positivo”.
Portanto, tece relações entre poder, política e direito.
Acredita no poder comunicativo e participativo de cidadãos ativos. O poder
político enquanto “uso do poder de exercício de cidadania”, garantido pelo caminho do
217
direito positivo, empregado no horizonte de uma sociedade que luta por uma autêntica
democracia, choca-se contra o poder de autoridades (autoritárias). (HABERMAS, 1997)
Ao emprestar forma jurídica ao poder político, o direito serve para a constituição de um código de poder binário. Quem dispõe do poder pode dar ordens aos outros. E neste sentido, o direito funciona como meio de organização do poder do Estado. Inversamente, o poder, na medida em que reforça as decisões judiciais, serve para a constituição de um código jurídico binário. Os tribunais decidem sobre o que é direito e o que não é. Nesta medida, o poder serve para a institucionalização política do direito. (HABERMAS, 1997, p. 182)
Sustenta que o direito não se esgota simplesmente em normas de
comportamento, pois também “serve à organização e à orientação do poder do Estado”.
Ele funciona no sentido de regras constitutivas: “não garante apenas a autonomia
pública e privada dos cidadãos, mas também responsável pela produção de instituições
políticas, procedimentos e competências”. (HABERMAS, 1997, p. 183)
Portanto, Habermas sem negar a legalidade do direito e a sua função de
normatização, vai além de Kelsen pois o processo de criação do direito precisa, para a
sua legitimação, da atuação política de cidadãos autônomos; em outras palavras,
depende da articulação política de cidadãos exigentes, que se comunicam, na luta por
um direito racionalmente construído, pois “só vale como legítimo o direito que conseguiu
aceitação racional por parte de todos os membros do direito, numa formação discursiva
da opinião e da vontade”. (HABERMAS, 1997)
6.4 OS LIMITES DO CONSENSO NO PENSAMENTO DE HABERMAS
Nas sociedades tradicionais, “todos os domínios da vida social estão referidos a
um conjunto de valores religiosos ou míticos” que dão significado à comunidade e que
também são partilhados entre seus membros pelo caminho do consenso. (NOBRE,
2008, p. 15)
Destarte, a visão de mundo religiosa ou mítica, legitima a maneira de organizar a
vida em sociedade, garantindo estabilidade nas relações humanas.
218
De modo que essa visão global compartilhada não é apenas uma elaboração teórica, uma construção de pensamento, mas uma referencia para a ação, um modo de vida compartilhado, algo que poderíamos chamar de eticidade. Não existe apenas um conjunto de valores compartilhados, mas também de atitudes na vida prática correspondentes a esses valores que devem ser observadas por todos os membros da comunidade. Esses valores e atitudes compartilhados estão organizados sistematicamente em uma interpretação única, a qual responde aos problemas básicos sobre a origem do mundo, sobre quem são os membros da comunidade e sobre as razões pelas quais é necessário agir desta ou daquela maneira. (NOBRE, 2008, p. 15)
Na opinião de Marcos Nobre (2008, p. 16), em uma sociedade tradicional, o
“dissenso produz o afastamento (exclusão) do membro que não está de acordo” com os
valores e a visão de mundo da própria comunidade, posto que nelas existe uma “quase
total coincidência entre a unidade espiritual e a unidade política [...] quer dizer, o
pertencimento dos indivíduos a uma comunidade política confunde-se com o
reconhecimento de compartilhar uma mesma forma de vida [...] em suma, uma mesma
eticidade.”
Nobre (2008, p. 16) também afirma que, “essa eticidade compartilhada por todos
os membros da comunidade, determinava o ‘pertencimento’ a um mesmo corpo
político”, sendo que a fonte dos princípios que estruturavam essa “eticidade única” era a
tradição, “a garantia de que aquela ordem social era não a melhor dentre as possíveis,
mas a única possível, [...] uma ordem social natural estabelecida pela natureza das
coisas”.
A partir do momento em que o dissenso passa a ser frequente, e não um mero
acontecimento esporádico, a organização social com base na tradição, passa a ser
modificada, e “os membros entram num processo de reorganização radical da vida
social” (na tentativa de buscar meios alternativos, num ambiente novo, onde impera a
diversidade de opiniões e desejos). (NOBRE, 2008)
Nobre (2008) sustenta que, “a passagem para a modernidade coincidiu com o
aparecimento de conflitos entre várias eticidades, inconciliáveis” e incompatíveis entre
si.
219
Ao contrário da eticidade única da sociedade tradicional, a sociedade moderna, a sociedade capitalista, impõe a convivência de uma pluralidade de eticidades, vale dizer, a convivência em um mesmo espaço político de uma pluralidade de concepções de mundo e de formas de vida. No mundo moderno, esse espaço conflituoso, mas compartilhado, é o espaço do Estado Nacional. A partir dessa nova organização social moderna, já não é mais possível legitimar a ordem social pela referencia à tradição, porque a própria idéia de tradição está abalada, porque cada concepção de mundo constrói a sua própria tradição. (NOBRE, 2008, p. 16)
Então foi necessário dar uma resposta ao problema do dissenso pelo caminho do
pacto social ou “contrato social”. (NOBRE, 2008)
A existência do pacto social depende de resultados de mútuo e consensual
acordo. Além disso, ele é fruto de um ajuste de interesses (ideológico) estrategicamente
arquitetado. A ideia do pacto social, na perspectiva do contratualismo moderno, é
burguesa. O pacto é formal. Depende da criação artificial de um “acordo de vontades”
com base na razão: a invenção do moderno “contrato social” é derivada da
racionalidade moderna, burguesa.
Assim, a sociedade moderna capitalista precisou dar um novo fundamento de
legitimação à ordem social desgastada pelos dissensos.
Um forte argumento ideológico, por exemplo, é o que sustenta que, no “estado
de natureza”, é o dissenso que impera, manifesto na máxima hobbesiana da luta de
“todos contra todos”; na sociedade civil, ao contrário, o consenso é fundamental para
manter a paz, a ordem e a segurança social; nesse sentido, o consenso surge na forma
de um contrato social, ou seja, num pacto como expressão do consenso.
Mas, para o exercício da criação de um contrato social todos devem estar num
plano juridicamente simétrico, pois “a idéia de contrato pressupõe uma igual capacidade
de contratar, ou seja, pressupõe direitos iguais de contratar com todos os outros. [...]
esses direitos são os direitos do homem, direitos naturais do homem”. (NOBRE, 2008,
p. 17)
220
Habermas (1997, p, 104), por exemplo, sustenta que, ao lado da instância
hierárquica reguladora do poder estatal e ao lado do poder administrativo, surge
também a solidariedade como terceira fonte de integração social: “esse
estabelecimento da vontade política horizontal, voltada ao entendimento mútuo ou ao
consenso almejado por via comunicativa, deve gozar até mesmo de primazia, se
considerado o ponto de visa tanto genético quanto normativo”.
Para a práxis da autodeterminação, por parte dos cidadãos no âmbito do Estado,
“permite-se uma base social autônoma que independa da administração pública e da
mobilidade socioeconômica privada”. (HABERMAS, 1997)
Nobre (2008, p. 18) sustenta que, como não é possível recorrer a um modelo de
sociedade previamente existente na história “para copiá-lo”, então “a novidade da
sociedade moderna encontra a legitimidade para a organização social em seu próprio
funcionamento. Nesse estágio de civilização, os indivíduos têm de produzir os direitos e
os deveres” (não é mais preciso, na modernidade, apelar para uma tradição sagrada e
mística).
Habermas aponta para o fato de que o poder estatal dos Estados modernos, que passaram por um processo de dessacralização de seu poder, se constitui através do direito e, mais especificamente, através do direito positivo, razão pela qual o poder político deriva sua legitimidade da própria legitimidade do direito: uma vez que não era mais possível recorrer à religião ou à moral para fundamentá-lo – foi necessário recorrer ao direito positivo para fazê-lo. Está ligado a essa concepção. (NOBRE, 2008, p. 18)
Na modernidade, formalmente, a burguesia estabeleceu o critério do “justo”
como sendo tudo aquilo que é racionalmente estabelecido como fruto de um consenso.
A fonte da justiça, para um burguês iluminista, não está mais no fator religioso ou
mítico, mas na razão humana.
A filosofia de Kant, que sustentou o ideal de uma “paz perpétua”, é baseada pelo
horizonte de uma teoria do consenso. O contrato social, por sua vez, surge
modernamente como um critério de justiça.
221
Alysson Mascaro (2010, p. 191-192) sustenta que, para Rousseau, o que
instaurou a vida em sociedade não foi uma mera deliberação da vontade de todos,
posto que “ao contrário do ilusório discurso do contrato social que vinha se praticando
até então, que dizia ser a vontade dos indivíduos a causa que leva à sua reunião em
sociedade, Rousseau desce a um nível muito mais fundo e concreto: é a apropriação
dos bens naturais por alguns que gera a vida social. Trata-se, dentro da teoria
contratualista moderna, da pancada da verdade, no nível econômico da própria
sociedade”.
Com o passar do tempo é inevitável que “o ambiente de um grupo social se
apresente competitivo”, posto que “Os homens, divididos entre si, apropriam-se dos
bens da natureza [...] a divisão do trabalho faz com que haja soberba, poder de uns
sobre os outros, e a partir daí os bens da natureza passam a ser propriedade de
alguns. Nesse momento, vê-se germinar a escravidão e a miséria”. (MASCARO, 2010,
p. 192)
A conclusão de Rousseau é clara. Com a propriedade privada e a competição e a vaidade entre os homens, instaura-se um estado de guerra e, então, os poderosos conclamam os fracos a um pacto. Facilmente todos concordam com tal contrato, e dele se institui o direito e as leis. A ordem política e jurídica nasce, portanto, de um contrato social espúrio [...] O pacto que se estabelece entre os indivíduos, consolidando sua associação, retira dos mesmos indivíduos a possibilidade de fazer valer seus interesses pessoais. Mas, não sendo os indivíduos alheios à entidade que se forma coletivamente, e sim seus membros ativos, sua vontade individual mergulha, então, numa vontade geral, que aponta para o objetivo do bem comum. A vontade geral passa a ser a diretriz de toda a vida social institucionalizada. Os interesses pessoais que se lhe contraponham são ilegítimos. Assim sendo, a vida política no estado passa a ser não apenas legitimada por conta de instrumentos formais – como era com os demais contratualistas, com a mera delegação de um poder a um terceiro –, mas sim por uma diretriz substancial – o bem comum. O contrato social de Rousseau, lastreado na vontade geral, passa a ter uma perspectiva formal e também material de orientação. (MASCARO, 2010, p. 197)
No entendimento de Bittar (2003, p. 161), o contrato social de Rousseau é um
pacto, isto é, ‘uma deliberação conjunta no sentido da formação da sociedade civil’;
222
enfim, um acordo que constrói um sentido de justiça e “a justiça está no pacto, na
deliberação conjunta, na utilidade que surge do pacto”.
É importante ressaltar que o próprio Rousseau aponta para a diferença entre
vontade geral e vontade de todos.
A vontade geral é mais ampla que a vontade de todos (somatória de interesses
particulares, que visa realizar os interesses particulares) pois seu objetivo é a
concretização do interesse comum, público.
Para que os enunciados da vontade geral surtam efeitos, é importante que não
haja sociedade parcial no interior do Estado e que cada cidadão opine apenas segundo
seus ditames. Por outro lado, Maquiavel, afirmou que o fundador de uma república não
pode impedir que existam inimizades naquela. Dever-se-á, ao menos, impedir a
existência de seitas.
Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale; celle-ci ne regarde qu’a l’intérêt commum, l’autre regarde à l’intérêt prive, et ce n’est qu’une somme de volontés particulières: mais ôtez de cês mêmes volontés lês plus et lês moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale [...] Il importe donc pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale qui’il n’y ait pas de société partielle dans l’État, et que chaque Citoyan n’opine que d’après lui. (ROUSSEAU, 1977, p. 35-36)
Hobbes, por outro lado, apresenta um tipo de contratualismo bem diferente,
comparando-se ao modelo de contratualismo rousseauniano, ao sustentar que, os
súditos, devem (em razão da necessidade) realizar a tarefa de renunciar as suas
“liberdades” e confiá-las a um monarca soberano; este ato de “renúncia” parece não
depender de um consenso estabelecido entre o príncipe e os súditos.
Na visão de Solon (1997, p. 33), Hobbes postulava que, no estado de natureza,
todos têm o direito de lutar pela preservação da própria vida; daí a necessidade de um
pacto, entre todos os indivíduos, para formar uma rede jurídica de proteção: “(...) a partir
da fraqueza humana, o mais poderoso dos filósofos (...) deduziu a necessidade de um
223
poder soberano ilimitado, a que todos deveriam submeter-se para não se destruírem
mutuamente”.
Habermas sustenta que, não há que se falar em consenso diante de ações
arbitrárias, pois o significado de um consenso pressupõe um ambiente democrático e,
seu conceito, deriva de um acordo racional, sem medo, sem violência.
O pensamento crítico de origem hegelo-marxista vai na direção oposta à teoria
do consenso, pois a história é um movimento dialético tenso e o que empurra a marcha
de uma civilização é o conflito. As relações sociais não são harmônicas, e sim, tensas.
Habermas além de defender a incondicionalidade da filosofia em seu papel de
“guardiã da racionalidade” (ARAGÃO, 2002, p. 100), entende que na linguagem existe
um “núcleo universal”, ou seja, existe “um conjunto de estruturas básicas que todos os
sujeitos, num certo momento, passam a compreendê-las”.
Na visão de Ferraz (2004, p. 264-265):
O problema, manifesto numa teoria da justiça que traz este tipo (habermasiano) de solução (aceitabilidade racional como base de uma concepção universal de justiça), conduz a algumas dificuldades conhecidas, convergentes na hipótese de que, para qualquer sujeito ou conjunto de sujeitos, haveria proposições independentes do seu juízo. Esta independência é que daria sentido final a um postulado de correspondência, pois não teria pela crença de um ou de vários no sentido da justiça que se garantiria completamente a verdade do juízo. Contudo, deste modo, a universalidade de uma proposição sobre a justiça não seria alcançada por meio de uma imediata confrontação, mas requereria a mediação de outras proposições, o que conduziria à asserção de uma primeira proposição, cujos fundamentos estariam articulados numa competência pragmática transcendental de todo e qualquer sujeito comunicativo. Entretanto, isto não elidiria a persistente dualidade entre estas condições transcendentais e uma possibilidade de equívoco, por mais racionais sejam aquelas: mesmo um acordo argumentativo ideal-transcendental entre os dialogantes exigiria alguma noção primitiva de justiça verdadeira (...).
224
A pragmática universal (que segue o espírito da linguistic turn), no fundo, tem
como meta, buscar acordos normativos. Isto é, entendimentos e consensos em torno de
pretensões levantadas discursivamente.
O resultado de sua virada lingüística é a construção de sua teoria do agir comunicativo. Para Habermas, o fundamento da sociabilidade reside na comunicação, e, portanto, os problemas maiores da filosofia hão de se dirigir à questão do entendimento entre os indivíduos e os grupos sociais. O consenso passa a ser o objeto maior do projeto político habermasiano. O direito, nesse quadro, resultará como ferramenta superior do consenso. (MASCARO, 2010, p. 359)
Registra-se que “O potencial de racionalidade da ação orientada ao
entendimento, pode separar-se e substituir-se pela racionalização do mundo da vida
dos grupos sociais, à medida que [...] a linguagem cumpre funções de entendimento, de
coordenação de ação e de socialização dos indivíduos, convertendo-se assim em um
meio através do qual se efetuam a reprodução cultural, a integração social e a
socialização”. (HABERMAS, 1997, p. 124)
Rorty faz um ataque à pretensão habermasiana de enquadrar a filosofia como
uma “guardiã da racionalidade”. Na qualidade de crítico, lança um ataque ao consenso
habermasiano. (ARAGÃO, 2002)
Para tanto, distingue entre “formas de saber comensuráveis” (onde é possível
obter consenso sobre regras) e “formas de saber incomensuráveis”, onde não há
possibilidade de se chegar a qualquer entendimento, “uma vez que os discursos
realizados são sempre particulares, porque partem de orientações básicas
controversas, desviando-se, assim, do objetivo do acordo universal”. (ARAGÃO, 2002,
p. 100)
Neste segundo tipo de discurso, onde os princípios são controversos, “não
poderíamos chegar ao melhor argumento” (critério de racionalidade habermasiano, por
excelência), porque “não conseguiríamos aquiescência universal sobre qual é este
argumento”. (ARAGÃO, 2002, p. 100)
225
Lyotard também não aceita o consenso como critério de racionalidade, nem
mesmo por parte das ciências. Critica a regra do consenso, como “perspectiva de
unanimidade possível de mentalidades racionais”, característica do Iluminismo e já
separada como ideologia perigosa, que acabou produzindo o efeito contrário àquilo que
preconizava: “foi este o relato das Luzes, onde o herói do saber trabalha por um bom
fim ético-político, a paz universal (...) legitimando o saber por um metarrelato, que
implica uma filosofia da história”. (ARAGÃO, 2002, p. 102)
Lyotard define nossa época como pós-moderna, “por sua descrença em relação
aos padrões instituídos com a modernidade”.
Neste rol de valores destituídos de seu valor estariam incluídas a ciência moderna, aquela que recorre a algum relato para se legitimar; a filosofia, como metadiscurso dos relatos; e as universidades, como lugares de desenvolvimento desse tipo de conhecimento [...] A crise da filosofia se daria porque o critério de operatividade é tecnológico; ele não é pertinente para julgar o “verdadeiro” e o “justo”. (ARAGÃO, 2002, p. 100)
Quanto ao consenso obtido comunicativamente, na obra Vergangenheit als
Zukunft, pergunta-se:
As inúmeras tentativas que foram feitas desde a queda do muro no sentido de um entendimento político entre alemães do Leste e do Oeste sempre bateram na seguinte dificuldade: no decorrer dos últimos quarenta anos formaram-se dois sistemas distintos, com seus próprios padrões de socialização, convicções jurídicas e idiomas. Por isso, não existe um diálogo do entendimento e a comunicação política transcorre de modo distorcido. Qual seria o caminho certo para que essa comunicação fosse isenta de distorções? Quais seriam os temas mais propícios para se conseguir algo parecido com um novo consenso nacional na nova Alemanha? (HABERMAS, 1990, p. 72-73)
Habermas tenta responder a questão, na seguinte direção:
Na Alemanha Ocidental a vida quase não modificou nada de seu velho ritmo, ao passo que em Berlim os contraentes ferem-se reciprocamente, de tanto que uns passam ao lado dos outros. Basta olhar a linguagem do corpo para reconhecer a grande miséria moral que a unificação feita
226
no grito nos propiciou. Falta a distância. Um encontro no qual ambos os lados pressupõem a sua autonomia exigiria também que cada um dos lados esclarecesse em separado a sua história transcorrida nos últimos quarenta anos e exigiria também que tanto a República Federal da Alemanha como a República Democrática Alemã conseguissem ter a sua própria autocompreensão. [...] A República Federal da Alemanha, mais poderosa, apressa-se em propagar publicamente a luta por sua história, que muitos iniciaram logo após a unificação num espírito nitidamente revanchista, ao passo que a história da República Democrática Alemã é enterrada em meio ao maior ou menor silêncio – como um cadáver que é passado à memória da geração seguinte. [...] Ora, uma história pela metade, à qual se acrescenta a autoconsciência coletiva dos vencedores, forma uma base por demais frágil para um consenso nacional mais firme. A nova Alemanha precisa desse consenso nas controvérsias sobre a política interna. Seria preciso haver um consenso sobre o futuro papel da Alemanha na Europa e sobre o tipo de ajuda que a Alemanha, a locomotiva econômica da Comunidade Européia, deveria dar para tornar possível um desenvolvimento econômico, social e pacífico na Alemanha do Leste. Além disso, eu desejaria que houvesse um consenso sobre um patriotismo constitucional enraizado nas experiências da história alemã. [...] A Alemanha foi o único país industrializado que, durante a crise econômica mundial, lançou fora o Estado Democrático de Direito em favor de um Estado Nazista. Além disso, teríamos que ter clareza sobre a forma e as funções do novo Estado nacional [...] finalmente, seria preciso delimitar o terreno sobre o qual é possível se desenrolar o debate em torno da domesticação ecológica e social do capitalismo, que todos desejam, ao menos nas palavras. O conflito em torno da escolha das políticas adequadas irá decidir o modo como agiremos em relação à imigração das massas que afluem do Leste e dos países do Terceiro Mundo. Temos que saber o que queremos defender [...] Eu não estou muito convencido de que no terceiro milênio um acordo político básico, o qual para não colocar em risco o pluralismo, deverá ser bastante abstrato, necessitará ainda de símbolos para se expressar.
Quando questionado se acredita numa sociedade ideal (composta por homens
racionais que buscam o consenso pela razão comunicativa), responde que, jamais teve
a pretensão de trabalhar teoricamente ao estilo de Rawls e Nozick: estes, adotaram um
tipo de teoria política normativa diferente.
Eu não contesto a validade de tal projeto, porém eu não tento construir na escrivaninha as normas fundamentais de uma sociedade bem organizada. O meu interesse fundamental está voltado primordialmente para a reconstrução das condições realmente existentes, na verdade sob a premissa de que os indivíduos socializados, quando no seu dia-a-dia se comunicam entre si através da linguagem comum, não têm como evitar que se empregue essa linguagem também num sentido voltado
227
ao entendimento. E ao fazerem isso, eles precisam tomar como ponto de partida determinadas pressuposições pragmáticas, nas quais se faz valer algo parecido com uma razão comunicativa. É tudo muito simples: sempre que nós pensamos no que estamos dizendo, levantamos com relação ao que é dito a pretensão de que é verdadeiro, correto ou sincero; e através disso irrompe em nosso dia-a-dia um fragmento de idealidade. Pois essas pretensões à validez só podem ser resgatadas, no final das contas através de argumentos; ao mesmo tempo nós sabemos, que certos argumentos, que hoje nos parecem consistentes, poderão revelar-se falso no futuro, à luz de novas experiências e informações. (HABERMAS, 1990, p. 98)
Sobre os limites do consenso, outrossim, é indagado nos seguintes termos:
O senhor designa com o agir comunicativo a fala dos homens dirigidas ao consenso. Em sua teoria esse agir vale como forma básica de comportamento social, pois esse agir, sempre vem junto com um interesse em entendimento: as pessoas falam umas com as outras porque desejam entender-se. Em seu conceito as pessoas agem com seres racionais, ou seja, como sujeitos capazes de consenso e preparadas para ele. Na realidade só excepcionalmente elas aparecem como racionais; via de regra a sua fala revela uma paleta colorida de motivos e intenções as mais diversas, que têm muito a ver com os desejos de dominação e de submissão, ou seja, em terminologia política: com a aquisição do poder e com a imposição de fins particulares. De acordo com o seu modelo de sociedade, os sujeitos parecem não se comportar como seres humanos e sim como máquinas de pensar totalmente racionalizadas? (HABERMAS, 1993, p. 105)
Ao que responde:
Em primeiro lugar, eu não afirmo que as pessoas gostariam de agir comunicativamente, mas que elas são obrigadas a agir assim. Quando os pais querem educar os seus filhos, quando as gerações que vivem hoje querem se apropriar do saber transmitido pelas gerações passadas, quando os indivíduos e os grupos querem cooperar entre si, isto é, viver pacificamente com o mínimo de emprego de força, são obrigados a agir comunicativamente. Existem funções sociais elementares que, para serem preenchidas, implicam necessariamente no agir comunicativo. Em nossos mundos da vida, compartilhados intersubjetivamente e que se sobrepõem uns aos outros, está instalado um amplo pano de fundo consensual, sem o qual a prática cotidiana não poderia funcionar de forma nenhuma. O estado natural hobbesiano, no qual cada sujeito burguês isolado é estranho ao outro – onde cada
228
um é o lobo do outro (mesmo que os lobos reais, apesar de tudo, sempre andem em alcatéias!) – não deixa de ser uma construção artificial, na verdade, a construção. Em seguida, não podemos equiparar o agir comunicativo à argumentação. O agir comunicativo realiza-se numa linguagem comum e num mundo explorado pela linguagem, pré-interpretado, em formas de vida compartilhadas culturalmente, em contextos normativos, em tradições, rotinas etc.. Em resumo: em mundos da vida que são porosos uns em relação aos outros, que se interpenetram e interligam. Tal agir comunicativo não significa a mesma coisa que argumentação. As argumentações são formas de comunicação inverossímeis, ou seja, formas de comunicação repletas de pressupostos, verdadeiras ilhas em meio ao mar da práxis. Isso já é suficiente para mostrar que algo está errado com as supostas máquinas de pensar inteiramente racionalizadas. A institucionalização de um certo tipo de argumentações, como por exemplo argumentações jurídicas, científicas ou de crítica estética, que implica em que certas argumentações podem ser esperadas socialmente de certas pessoas, em certas épocas, em determinados lugares, é uma conquista histórica relativamente tardia. Além do mais, a grande realização domesticadora do direito moderno consiste precisamente em determinar consensualmente esferas do agir estratégico (tais como as da aquisição da propriedade privada e do poder político), ou seja, presumindo o assentimento de todos os cidadãos. Isso vale tanto para a instauração da circulação do mercado comandado pelo direito privado, como para regulamentação pelo direito público da concorrência entre os partidos ou do poder político. Ora, as normas do direito só podem obrigar duradouramente quando os procedimentos que comandaram o seu surgimento forem reconhecidos como legítimos. Nesse momento de reconhecimento faz-se valer um agir comunicativo, por assim dizer, aparece no outro lado do sistema de direito, no lado da formação democrática da vontade e da legislação política enquanto tal. Enquanto que os sujeitos do direito privado podem perseguir os seus próprios interesses particulares, os cidadãos devem orientar-se pelo bem comum e entender-se sobre os seus interesses comuns. [...] Realmente a sociedade emancipada é um ideal que causa mal-entendidos. Eu prefiro falar da idéia da intersubjetividade ilesa. Essa idéia pode ser obtida a partir da análise de condições necessárias do entendimento em geral – ela caracteriza a manifestação de condições simétricas do reconhecimento recíproco e livre de sujeitos que agem comunicativamente entre si. Entretanto, não podemos colorir essa idéia como se fora a totalidade de uma forma de vida reconciliada, nem projetá-la no futuro como se fora uma utopia. Ela não contém mais, mas também não menos, do que a caracterização formal de condições necessárias para formas não antecipáveis de uma vida não fracassada. O próprio socialismo não deveria ter sido entendido como a totalidade concreta de uma determinada forma de vida futura – e esse foi talvez o maior erro filosófico dessa tradição. Eu sempre afirmei que o socialismo serve apenas como um resumo das condições necessárias para formas de vida emancipadas, sobre as quais os participantes precisam entende-se por si mesmos. (HABERMAS, 1993, p. 105-107)
229
Frisa-se que, na interpretação do pensamento weberiano, Habermas faz uma
análise do agir regulado pelo direito, à luz do “modelo do consórcio” (que se apóia num
regulamento racionalmente acordado): a racionalidade de tal pacto, consiste no fato de
que, “os membros se submetem à coerção de regras sancionadas pelo Estado,
apoiando-se num consenso fundamentado”. (ARAGÃO, 2002)
Weber pensa que as ordens legais não são legítimas enquanto se apoiarem apenas na suposição do assentimento racionalmente obtido: é preciso que haja também uma imposição – e docilidade – na base uma dominação de homens sobre homens, tida como legítima. Essa alternativa necessita de um esclarecimento, uma vez que a dominação legal só pode ser tida como legítima na base de sua conformidade com o direito. (HABERMAS, 1997, p. 170)
Segundo Habermas, Weber usa o conceito estatuto dotado de força jurídica para
descrever a tendência de racionalização social. Habermas não concorda com a
expressão weberiana “racional conforme a fins”, substituindo-a por “racional segundo
valores.” (MOREIRA, 2002, p. 32)
Quando um acordo normativo adota a forma de um consenso juridicamente sancionado, a única maneira de saber se esse acordo é racionalmente motivado dá-se por meio do procedimento pelo qual se chega a ele. Pois nesse caso, o acordo refere-se à validade normativa, que se converte em componente da ordem legítima e vincula os agentes a determinadas orientações valorativas nos casos de matérias carentes de regulação. (...) Os cidadãos só se tornam autônomos em um sentido político quando ditam suas leis a si mesmos. O modelo de assembléia legislativa estabelece o caminho para uma concepção construtivista dos direitos fundamentais. Kant concebe a autonomia como a capacidade de conectar a própria vontade às visões normativas resultantes do uso público da razão. Essa idéia de autolegislação inspira também o procedimento de uma construção democrática da vontade, com a qual pode-se adaptar o domínio político a um princípio neutro cosmopolita de legitimação. Ela torna supérflua uma fundamentação religiosa ou metafísica dos direitos humanos. [...] O conflito entre duas culturas dá-se dentro da moldura de uma sociedade mundial na qual os atores coletivos, independentemente das suas diferenças, devem concordar, quer queiram quer não, quanto às normas da vida em comum. [...] Rawls caracteriza uma autocompreensão e uma compreensão do mundo éticas que se tornaram reflexivas e que deixam espaço para o dissenso racionalmente esperado com outras convicções religiosas, com as
230
quais, no entanto, é possível um acordo quanto às regras da coexistência com iguais direitos. (HABERMAS, 2004, p. 161-162)
Em artigo sobre “a legitimação com base nos Direitos Humanos”, Habermas tece
comentários a respeito do “desafio do fundamentalismo”. Ele reconhece que os Direitos
Humanos podem não ser o único mecanismo capaz de produzir consensos e
legitimidade: “mas para avançar outros mecanismos, é preciso que as partes envolvidas
aprendam uma com as outras, e portanto que o oriente aprenda com o ocidente tanto
quanto este aprende com aquele”. (GALUPPO, 2005).
A reflexão hermenêutica sobre a situação de partida de um discurso sobre os direitos humanos entre participantes de diferentes origens culturais chama a nossa atenção para teores normativos que estão contidos nas pressuposições tácitas de qualquer discurso voltado para o entendimento. Independentemente do pano de fundo cultural, todos os participantes justamente sabem intuitivamente muito bem que um consenso baseado na convicção não pode se concretizar enquanto não existirem relações simétricas entre os participantes da comunicação: relações de reconhecimento mútuo [...] de disposição esperada de ambos para observar a própria tradição também com o olhar de um estrangeiro, de aprender um com outro etc. (HABERMAS, 2005, p. 162-163)
Assim, a reflexão habermasiana sobre o Direito e o processo de
cosmopolitização dos Estados nacionais, “reforça o horizonte de reformas que é típico
do seu pensamento”. (MASCARO, 2010, p. 371)
[...] renunciando à grande crítica ao direito, mas angustiado com a derrelicção do tempo presente, Habermas aposta em mais direito, numa interação democrática e ética do direito com a sociedade, como forma de, no acúmulo do mais, alcançar o melhor, driblando os conflitos do mundo a partir do consenso. Mas a grande questão ainda de nosso tempo é que os grandes conflitos sociais não se apresentam estruturalmente processualizados sob a forma de direito e o grande conflito somente se transforma com conflito, e, portanto, a grande crítica ainda se faça necessária. (MASCARO, 2010, p. 371)
O capitalismo é a principal fonte produtora de conflitos sociais e de
desigualdades materiais; além do mais, produz a exclusão social, o ódio e a miséria.
231
Ademais, num tipo de sociedade capitalista como a nossa, num ambiente de
“perda e fragmentação de sentidos” não há espaço para o consenso.
Nem mesmo a absorção dos direitos humanos (“em trocas de aprendizagem”)
pelo oriente, resolverá as dramaticidades produzidas pelos imperativos sistêmicos. A
legitimação das sociedades de tipo “fundamentalistas” pelos direitos humanos, o
entrecruzamento da comunidade real e ideal de comunicação, bem como as propostas
que órbitam em torno do entendimento intersubjetivo e do reconhecimento recíproco
são incapazes de atingir a estrutura do sistema capitalista. Enquanto isso, cada vez
mais, o sistema multiplica os desentendimentos no interior de uma sociedade capitalista
espoliante.
6.5 AS ENERGIAS UTÓPICAS ESTÃO ESGOTADAS?
Para Habermas (2009) a ruína da União Soviética desencadeou um “triunfalismo
fatal no Ocidente [...] a sensação de ter razão, em termos da história mundial, tem um
efeito sedutor. Neste caso, inchou uma doutrina político-econômica e a tornou uma
visão de mundo que penetra em todas as esferas da vida”.
A visão de mundo atual segue o discurso ideológico do Ocidente (em especial os
EUA) de que não existe outra opção a não ser o capitalismo, seguir a tradição do
liberalismo, respeitar a “forma” democrática dos procedimentos de escolhas e de
tomadas de decisões, enfim, essa visão de mundo invade em todas as esferas.
Entretanto, o Estado neoliberal, seguindo à uma política de desregulamentação,
tem sido alvo de revisão pelo próprio Estado capitalista: O governo dos EUA, por
exemplo, fez intervenções, tanto na economia, quanto no setor privado, para tentar
salvar as empresas falidas, a exemplo da AIG.
O “triunfalismo do ocidente” prega a mensagem de que a luta contra o
capitalismo é uma luta por uma “causa perdida”. Zizek vai na contra mão discursiva,
para levantar a bandeira em defesa das “causas perdidas”, para renovar as energias
utópicas, enfim, para conscientizarmos de que ainda há esperança.
232
(...) a defesa das causas perdidas de Zizek revela-se, ao final, também uma escatologia. Cristianismo, marxismo e psicanálise alinham-se nessa mesma necessidade de repetição a partir de fracasso [...] Para Zizek, em tempos dinâmicos que chegam até a plena manipulação tecnológica da natureza, onde a única grande estabilidade é a própria exploração capitalista, contra a qual já se luta e já se perde há tempos, trata-se de mostrar que é possível fazer a defesa das causas perdidas para agora perder melhor ou, quiçá, plenamente ganhar. (MASCARO, 2011, p. 17)
O significado de “teimar na vida”, de que faz parte os erros e os acertos, bem
como o sentido existencial de que é necessário aprender com os erros e a recomeçar,
são sinergias que aquecem os motores das utopias libertárias: energias utópicas que
acendem a candeia da esperança.
O potencial emancipatório que ainda não se esgotou continua a nos perseguir, e o futuro que nos persegue pode ser o futuro do próprio passado. A irrupção da revolução passada se deu em um momento incerto, e sua repetição presente também assim se apresentará, porque o ato revolucionário “é sempre prematuro”. Nunca haverá de se esperar um tempo certo para a revolução; então, para Zizek, o amanhã que é futuro do ontem poderá já ser hoje. Num tempo que naturalizou a dinâmica e o constante fluxo histórico, que considera a mudança como um cálculo da própria reprodução social, a pergunta crítica, para Zizek, é então: o que continua igual? “É claro que a resposta é o capitalismo, as relações capitalistas”. Aí reside a matriz contra a qual há de se insurgir a radicalidade da mudança revolucionária. Sendo a mesma, cabe então, exatamente, a repetição das causas perdida. (...) Com base na sua formação filosófica hegeliana, Zizek aponta a relação dialética entre senhor e escravo como exemplar da possibiliadade de superação dos tempos presentes. Ilustra sua interpretação revolucionária com o Cristo: “É nesse sentido que Cristo é nosso senhor e, ao mesmo tempo, a fonte de nossa liberdade. O sacrifício de Cristo nos liberta. Como? Não como pagamento dos pecados nem como resgate legalista, mas assim como, quando tememos alguma coisa (e o medo da morte é o medo supremo que nos torna escravos), um amigo de verdade nos diz: ‘Não tema, olhe, eu vou fazer. Do que você tem tanto medo! Eu vou fazer, não porque eu tenho de fazer, mas por amor a você. Eu não tenho medo!’, ele faz e, dessa forma, nos liberta, demonstrando in actu que pode ser feito, que também podemos fazer, que não somos escravos...”. Para Zizek, em tempos dinâmicos que chegam até a plena manipulação tecnológica da natureza, onde a única grande estabilidade é a própria exploração capitalista, contra a qual já se luta e já se perde há tempos, trata-se de mostrar que é possível fazer a defesa das causas perdidas para agora perder melhor ou, quiçá, plenamente ganhar. (MASCARO, 2011, p. 16-17)
233
Os passos concretos e práticos da transformação social “deverão estar ligados
com ideais sobre relações inteiramente diferentes, mais emancipadoras, mais
humanas”. (MASCARO, 2011)
(...) somente os movimentos e as iniciativas sociais podem introduzir processos de discussão e de aprendizado que se voltem para uma mudança fundamental das orientações comportamentais e dos modos de vida [...] As reformas mais radicais que se voltam para as raízes do modo de socialização existente exigem a utopia. Trata-se, então, não de dar um primeiro passo e depois outro mais radical, mas de encontrar os caminhos que os englobem simultaneamente (Gindim). Nessa direção, mais do que nunca, pouco se pode esperar de partidos e federações que, na prática, tornam-se aparelhos estatais porque perderam amplamente a sua capacidade de elaboração intelectual e conceitual. Daí provêm o populismo praticado por todas as partes e a incapacidade de formular uma política que ouse trilhar novos caminhos. (HIRSCH, 2010, p. 306)
Hirsch também faz menção ao pensamento de Gramsci para sustentar que “é na
sociedade civil que se dá a luta pela hegemonia”, e nela se realiza o embate pelas
ideias sobre “o ordenamento e desenvolvimentos sociais”. (HIRSCH, 2010)
Em direção quase próxima à de Hirsch, com características próprias, Jürgen
Habermas aposta nas iniciativas de uma sociedade civil participativa e deliberativa (em
âmbito global ou nacional).
Investe no ideário utópico da integração política entre os europeus. Acredita na
efetivação de um direito cosmopolita, no diálogo entre as nações e na ação cooperativa
entre Estado e sociedade civil. Para ele, os cidadãos devem ter a “consciência” de que
são “autores e destinatários das normas”. O processo de reconhecimento das leis na
sociedade internacional (e a legitimidade dos pactos precisa deste ato de “consciência”)
depende do estabelecimento de acordos jurídicos baseados no consenso.
Para Fernando Augusto Albuquerque Mourão, (2009, p. 13):
No chamado direito pluralista, que é considerado para alguns autores como um campo amplo da Sociologia do Direito, boa parte não esclarece convincentemente o problema de reconhecimento das
234
normas de direito por parte do grupo social. Que grupo e qual a sua amplitude. A comunidade, neste caso, que comunidade. A contribuição da Sociologia Jurídica é insuficiente e denota um certo modismo. O aprofundamento deste assunto é muito importante, até porque vivemos em um mundo pluralista – as Nações Unidas, ao invés da Sociedade das Nações, que surgiu após a I Guerra Mundial e que refletia ainda uma ordem mundial na perspectiva da civilização ocidental – refletem efetivamente uma ordem que tende a ser plural, para tanto basta dar atenção a qualquer foto da Assembléia Geral, onde registramos representantes nacionais, de origem racial diversa, de culturas diversas. O monopólio da res ocidentalis convive agora com outras correntes do universo. Contudo, é bom lembrar, que os tratados e convenções são aprovados pelos Estados.
No contexto do Direito Internacional, em Habermas, o agir político deve ser
“orientado racionalmente em direção ao entendimento”, e, os temas públicos mais
relevantes, deverão ser debatidos por todos, na esfera pública, sem exclusão: na
perspectiva habermasiana, por exemplo, os cidadãos europeus devem estar
conscientes de que, se não houver uma união cooperativa, a União Europeia não
passará de uma mera integração econômica.
Indiretamente, Hirsch (2010, p. 225) critica a utopia habermasiana de uma
integração política em nível europeu; denuncia a real inviabilidade da adoção de uma
Constituição europeia; aponta “o déficit democrático no plano europeu”.
Depois do fracasso da Constituição européia, irrompeu abertamente o conflito sobre a futura formação do processo de integração. A rejeição do projeto constitucional é ela mesma uma reação ao fato de que ele foi imposto aos cidadãos contra os interesses de amplos setores da população, sem debate democrático e sem a formação de compromissos. Com isso cresce a possibilidade de que a União Européia limite-se a um mercado comum e a uma zona de livre-comércio, deixando ainda mais claro o caráter do constitucionalismo neoliberal. (HIRSCH, 2010, p. 255)
Hirsch (2010, p. 112), por outro lado, também afirma que tanto o Estado quanto a
sociedade civil “são componentes do sistema institucional de regulação, determinados
pela estrutura da sociedade capitalista [...] mediante os quais se estabiliza a dominação
e se garante o processo de acumulação do capital”.
235
As próprias instituições da sociedade civil estão marcadas pelas relações de poder econômico e pela dominação política e [...] ambas as esferas estão estreitamente inter-relacionadas. O Estado garante as estruturas da sociedade civil (como a liberdade de associação sindical ou a propriedade privada) e, sem elas, quer dizer, sem os processos de legitimação e canalização de interesses que produzem, a dominação política não poderia durar muito [...] Se a sociedade civil no sentido dado por Gramsci, forma o cimento decisivo para a estabilização das condições de dominação capitalista, não obstante, ela constitui também o campo onde podem surgir processos democráticos e movimentos emancipatórios. (HIRSCH, 2010, p. 112-113)
O fato é que tanto Habermas quanto Hirsch acreditam na emancipação da
sociedade civil, cada um à sua maneira.
Nesse sentido, a sociedade civil não deixa de ser “o campo fértil da revolução”
(no sentido de Gramsci), o locus “de irrupção de grandes movimentos sociais de
protesto”, espaço de atuação participativa de cidadãos engajados. (HIRSH, 2010)
Defensor da teoria materialista do Estado, Hirsch (2010, p. 114) toca numa
questão que também interessa a Habermas: “os processos democráticos formados na
sociedade civil só poderão alcançar maior significado caso questionem, na prática, as
estruturas institucionais dominantes, ou seja, as formas econômicas e políticas
estabelecidas”.
A diferença entre a utopia de Habermas, em relação à utopia de Hirsch, está em
que, esta consegue identificar uma contradição entre democracia e capitalismo, e,
aquela, exige o respeito incondicional à “forma democrática” (apresentada como um
modelo de democracia deliberativo-procedimental)
Com efeito, uma crítica se impõe:
(...) para Zizek, na proposição de Alain Badiou [...] ao contrário do que afirmam as lutas anticapitalistas e antiglobalização atuais, o inimigo é a Democracia: Hoje, o que impede o questionamento radical do próprio capitalismo é exatamente a crença na forma democrática da luta contra o capitalismo. Para Badiou e Zizek, embora o econômico seja o campo último e fundamental de batalha, o político é o atual espaço da intervenção revolucionária. (MASCARO, 2011, p. 114-115)
236
Hirsch (2010, p. 116), mais crítico do que Habermas, por outro lado, sustenta que
“o complexo institucional de regulação continua sendo uma relação de dominação,
marcada pelas estruturas e antagonismos sociais da sociedade capitalista”.
Alvo de questionamentos, a utopia habermasiana tem girado em torno da
construção de “um espaço de polifonia e consenso entre europeus” que se reconhecem
como autores e destinatários das leis; entretanto, “mesmo diante das diferenças
culturais, continua apostando no diálogo amigável”.
Ocorre que no capitalismo de Estado, a razão comunicativa sucumbe diante da
razão instrumental, mais forte, mais poderosa. As ações estratégicas e calculistas dos
mercados são impositivas, e, os atores que compartilham suas experiências no mundo
da vida ficam reféns do capital. Há uma violenta intervenção do sistema econômico no
mundo da vida, afetando comportamentos e modos de vida. O mercado exerce uma
“função desagregadora”, como o próprio Habermas sustenta (“colonização do mundo
da vida”).
O exercício das ações comunicativas no interior do Estado capitalista sempre
tenderá ao fracasso enquanto houver o capitalismo.
Urge um debate sobre o possível esgotamento das energias utópicas na
atualidade, para demonstrar que, ao contrário da sustentação do “fim da história e das
utopias” (Fukuyama e Lyotard) ou do triunfo irreversível do Ocidente (a ideologia da
“vitória do capitalismo”), ainda existem ricos nichos de pensadores, - em especial, os
que seguem o horizonte marxista - que acreditam na possibilidade de emancipação
social pelo caminho da revolução, investindo na defesa das “causas perdidas”.
É aí que se encontra hoje o potencial de formulação política. Mas esse potencial relaciona-se, porém, freqüentemente apenas com áreas políticas isoladas. A fragmentação ligada a isso tem de ser vista como algo a ser superado. Caso ocorresse isso, seria novamente possível fazer política no sentido estrito do termo, e não apenas reagir às “coerções objetivas” criadas. Só se podem esperar mudanças no terreno dos partidos, dos parlamentos e da política governamental, caso haja uma permanente pressão popular. Ela é também uma precondição para que as estruturas democráticas, reduzidas a uma mera
237
formalidade, possam ganhar novamente conteúdo; e para que a democracia tenha algo a ver com a autodeterminação, não se esgotando apenas a intermediação de lógicas da valorização capitalista. (HIRSCH, 2010, p. 307)
Portanto, o otimismo de Habermas tem conduzido o seu pensamento a fazer a
defesa de uma esfera pública independente. Ele tem acreditado nos movimentos
sociais articulados, nas redes de comunicação constituídas espontaneamente, no
ativismo político internacional pacífico e nos organismos não governamentais, que
também são meios de influência.
Na esfera pública, ao menos na esfera pública liberal, os atores não podem exercer poder político, apenas influência. E a influência de uma opinião pública, mais ou menos discursiva, produzida através de controvérsias públicas, constitui certamente uma grandeza empírica capaz de mover algo. Porém, essa influência pública e política têm que passar antes pelo filtro dos processos institucionalizados da formação democrática da opinião e da vontade, transformar-se em poder comunicativo e infiltrar-se numa legislação legítima, antes que a opinião pública, concretamente generalizada, possa se transformar numa convicção testada sob o ponto de vista da generalização de interesses e capaz de legitimar decisões políticas. Ora, a soberania do povo, diluída comunicativamente, não pode impor-se apenas através do poder dos discursos públicos informais – mesmo que eles tenham se originado de esferas públicas autônomas. Para gerar um poder político, sua influência tem que abranger também as deliberações de instituições democráticas da formação da opinião e da vontade. (HABERMAS, 1997, p. 105).
Por outro lado, Hirsch (2010, p. 112) entende que “o nexo entre capitalismo,
Estado nacional e democracia é estreito, contraditório e controverso”. Para ele, é
insustentável “a usual contraposição entre o Estado, enquanto aparelho coercitivo, e a
sociedade civil, como espaço da liberdade e da democracia”. Afirma, que nem todas as
formas de regulação política realizam-se diretamente através do aparelho estatal, pois
“sempre existe paralelamente uma área significativa de ‘autogestão’ social [...]”.
Logo, a visão habermasiana propõe uma “domesticação do sistema capitalista”
sem, contudo, destruí-lo; outrossim, pensa na sociedade civil como uma fonte de crítica
lançada contra o Estado, contra as estruturas institucionais dominantes (também
238
chamados de imperativos sistêmicos), contra a própria política neoliberal. Entretanto,
sua utopia está longe de ser revolucionária.
6.6 OS ESTADOS UNIDOS PERDERAM A SUA HEGEMONIA?
Os EUA continuam sendo a maior potência econômica mundial? E do ponto de
vista militar? Tais questões nos encaminham para reflexões de grande importância.
Habermas afirma que o sistema político mundial está sofrendo grandes
alterações em sua estrutura: “as saídas para uma crise econômica global, por exemplo,
irá depender das tomadas de decisão do governo norte-americano, através de seu
presidente”. (HABERMAS, 2009, p. 197)
Sustenta que, Obama, deve se “impor politicamente contrário aos interesses dos
especuladores de Wall Street”. Mesmo financeiramente enfraquecido, Habermas
acredita na “força de tração” dos EUA. (HABERMAS, 2009, p. 197)
O que nos resta a não ser apostar nesse cavalo de tração? Os Estados Unidos sairão enfraquecidos da dupla crise atual. Mas permanecerão por enquanto a superpotência liberal. [...] É do próprio interesse dos EUA não somente deixar de lado seu posicionamento contraproducente em relação à ONU, mas também colocar-se no topo do movimento reformista. Do ponto de vista histórico, a combinação de quatro fatores oferece uma constelação extraordinária: superpotência, mais antiga democracia na terra, a posse de um presidente liberal e visionário e uma cultura política na qual orientações normativas encontram um notável solo de ressonância. Os EUA sentem-se hoje profundamente inseguros devido ao fracasso da aventura unilateral, à autodestruição do neoliberalismo e também ao mau uso de uma consciência de excepcionalidade. Por que essa nação não poderia, como fez com tanta freqüência, recompor-se de novo e tentar integrar a tempo as grandes potências concorrentes de hoje – e potências mundiais de amanhã – em uma ordem internacional que prescinda de uma superpotência? (HABERMAS, 2009, p. 197)
Para Hirsch (2010, p. 231) a tese da dominação absoluta dos Estados Unidos é
defendida, “entre outras coisas, invocando-se a superioridade militar e seu eminente
potencial econômico”. Panitch, Gindin, Ahmad são os pensadores que advogam nesse
sentido.
239
Hirsch (2010, p. 231), entretanto, afirma que “tanto a hegemonia econômica
quanto a superioridade militar, devem ser relativizados”.
A capacidade militar de fato é suficiente para vencer guerras convencionais, mesmo sabendo que elas foram travadas apenas contra Estados extremamente débeis militarmente. O ataque ao Iraque só foi empreendido após a comprovação da desoladora condição militar do regime ali existente. Mas é duvidoso que os Estados Unidos logrem assim grande parte do mundo. A força militar estadunidense está de fato em condições de instalar pontos de apoio ao redor do mundo, e dispõe de um poder de fogo até agora inigualável. Mas isso não é suficiente para controlar duradouramente amplos territórios. A situação no Iraque e no Afeganistão oferece um claro exemplo sobre isso. (HIRSCH, 2010, p. 232)
Para ele, “essa nova modalidade de superioridade militar, produz novas
modalidades de operações de guerra, a exemplo do terrorismo”. Além do mais, tanto a
China como a Rússia possuem semelhante poderio militar. Do ponto de vista “atômico”,
são “igualmente potencias militares tão ameaçadoras quanto os EUA”. São iniciativas
em resposta (isto é, em contra-face) à prepotência destes. Isto acaba reforçando o
empenho “especialmente por parte dos Estados periféricos, pela posse de armas
atômicas. E mesmo militarmente, os Estados Unidos são levados à cooperação com os
outros centros capitalistas, como mostra o desenvolvimento da fracassada intervenção
no Iraque.” (HIRSCH, 2010, p. 232)
Pior é a situação dos EUA no campo da economia. Nem Hirsch, nem Habermas
negam o fato de que os EUA são o centro do capitalismo global (e que eles expressam
uma grandeza econômica).
Habermas continua apostando nesse “draft horse” da “nova ordem mundial”, que
poderá ocupar a função de recomposição da dramaticidade de uma crise econômica de
proporções globais. (HABERMAS, 2009, p. 196)
Reconhece os EUA como uma superpotência, a “mais antiga democracia na
terra, dotados de um presidente liberal (visionário), de uma cultura política na qual as
240
orientações normativas encontram um notável solo de ressonância”. (HABERMAS,
2009, p. 197)
Hirsch, por outro lado, tende para a negação e falta de confiança desse suposto
“cavalo de tração” da ordem mundial, pois afirma a existência de uma “oscilação da
política americana entre o unilateralismo e o multilateralismo”. (HIRSCH, 2010, p. 233)
Sustenta que, os Estados Unidos só conseguem manter a sua posição
economicamente dominante, por causa da “cooperação com as outras potencias
capitalistas”.
A isso se somam as vantagens resultantes da posição do dólar como moeda de reserva global e da força do setor financeiro estadunidense. Freqüentemente se esquece que o crescente endividamento externo dos Estados Unidos também pode ser entendido como um sinal de força econômica e militar. Disso resulta uma espécie de situação tributária, não apenas frente aos outros centros capitalistas. Eles financiam a economia dos EUA através de créditos. Porém, essa relação está submetida aos mecanismos da circulação internacional de capital e de dinheiro, e deve se tornar instável caso a “confiança” do credor na força econômica e militar estadunidense seja soterrada. (HIRSCH, 2010, p. 232)
Tanto a estabilidade do imperialismo informal estadunidense, como também o
necessário “gerenciamento internacional de crises econômicas mundiais, tornam-se
impossíveis sem a cooperação dos Estados e blocos de Estados”. (HIRSCH, 2010, p.
233)
Sustenta que os Estados europeus, novamente, lutam para “diminuir o grau de
dependência” frente aos EUA. Para tanto, buscam o “fortalecimento de laços com a
Rússia e a China”, grandes concorrentes na esfera mundial. (HIRSCH, 2010, p. 233)
O ordenamento estatal conforme a ordem de Westfália, tido como desaparecido, parece ressurgir sob outra forma. A internacionalização do capital e a dominação da burguesia interna no interior de cada bloco no poder é um importante pré-requisito para uma relação de cooperação entre os centros capitalistas. Entretanto, as rivalidades entre os Estados permanecem em operação, quer dizer, a estrutura do sistema imperialista existente é caracterizada por uma complexa
241
relação de cooperação e de conflito no quadro de uma “interdependência desigual’ entre as metrópoles” (HIRSCH, 2010, p. 233)
Entretanto, para Fiori (2011, p. 29):
Na crise dos anos 70 falou-se muito de fim da hegemonia norte-americana e, inclusive, em alguns casos, de crise estrutural ou fim do próprio capitalismo. No entanto, hoje está claro que a crise da década de 70 não enfraqueceu o poder norte-americano. Muito pelo contrário: transformou-se no ponto de partida de uma escalada no processo de acumulação vitoriosa do poder e da riqueza dos Estados Unidos em escala planetária. Agora, de novo, neste início do século XXI, voltou-se a falar de uma crise terminal do poder estadunidense e do capitalismo. Mas não existem evidências convincentes de que tal colapso esteja ocorrendo ou vá ocorrer nos próximos tempos.
6.7 O ESTADO NACIONAL É INEFICAZ DIANTE DOS IMPACTOS DE UMA CRISE ECONÔMICA?
Existe uma tendência na teoria do direito e do Estado, apontando para o
extermínio da “forma clássica do Estado nacional”.
De fato, a forma clássica de Estado tem sofrido mutações em sua estrutura, o
que não implica na anulação ou “no seu desaparecimento”.
O Estado nacional (que segue o modelo de Estado capitalista) continua
exercendo “o seu papel de mediador”. Mesmo diante da atual crise econômica, ele tem
mostrado seu poder de império, por exemplo, através de suas intervenções na
economia, dentro dos limites das fronteiras nacionais.
De modo que, o exercício de intervenção estatal, na busca pela redução dos
impactos deletérios da crise econômica atual é visível.
As recentes saídas estratégicas (e calculadas) por parte dos EUA, na área do
combate ao desemprego, além de outras medidas econômicas de intervenção
(remissão de bancos e seguradoras, e.g.), são exemplos que veem reforçar a ideia de
que, o poder estadunidense, ainda se mantem forte no mundo globalizado.
242
A ideia de que o Estado é ineficaz para tratar de assuntos econômicos, no fim
das contas, trata-se de pura ideologia.
Serve muito bem aos interesses do conservadorismo neoliberal, aos
especuladores do mercado financeiro, à OMC, enfim, a todos aqueles atores que, de
alguma maneira, concorrem para a manutenção do injusto modelo de Estado capitalista
predatório.
Essa forma ideológica de pensar o Estado “em seus últimos dias”, comporta o risco de desconsiderar o contexto capitalista de poder, dominação e violência. Os Estados não apenas reproduzem a dinâmica dos processos de acumulação capitalista e as relações entre as classes, como as impregnam de forma essencial por conta das relações de força neles institucionalizadas e de suas dinâmicas políticas (HIRSCH, 2010, p. 241).
De modo que os argumentos conservadores em prol de seu desaparecimento é
uma falácia. Diante da atual crise econômica, eles se revelam ainda mais absurdos,
posto que a razão de ser do Estado capitalista é o próprio capitalismo.
O fim do Estado capitalista somente ocorrerá com “o extermínio da lógica e da
estrutura do próprio sistema” – que alimenta a acumulação do capital, que leva à
“exploração da pessoa humana até as últimas conseqüências” e que, de maneira
incisiva, “enraíza a prática da dominação”. (MASCARO, 2010)
Tão certo é afirmar que o Estado Capitalista não só passou, como também vem
atravessando por “uma transformação em sua estrutura”. Habermas denunciou na
década de 70 o problema da crise de legitimação do capitalismo amadurecido (Spät).
Offe, igualmente, discursou sobre os problemas estruturais do Estado capitalista, em
profícua análise da crise do Estado de bem-estar.
As crises são inerentes à razão de ser do capitalismo, derivam de sua própria
lógica. Com efeito, o Estado capitalista é em si mesmo um portador de crise, mesmo
porque não é novidade no pensamento crítico marxista que o capitalismo apresenta
suas contradições internas. (HIRSCH, 2010)
243
Já surpreende o fato de que a crise atual tenha provocado certa surpresa. Na realidade, devia se saber que o capitalismo, em razão de suas contradições internas é, em sua essência, um sistema social portador de crises. Há épocas de certa estabilidade, mas depois, em intervalos periódicos, ocorrem os grandes colapsos, que, em regra, provocam também transformações sociais fundamentais. É por isso que o capitalismo – no que diz respeito aos processos produtivos, às relações de classe e às instituições políticas -, assume sempre novas configurações. (HIRSCH, 2010, p. 293).
Assim, o sistema capitalista é reproduzido, reestruturado (adquire novas formas)
e revitalizado quando supera os intrínsecos momentos de crise. O Estado capitalista
não é só dinâmico, como também possui uma “grande e especial capacidade de
adaptação para sair de crises catastróficas”. (HIRSCH, 2010, P. 47).
A crise do Estado de bem estar social (sensivelmente percebida no período final
do fordismo), por exemplo, levou o Estado capitalista a “internacionalizar-se”. (HIRSCH,
2010)
Os processos regionais de integração econômica, como sobretudo a União Européia, são parte integrante desses processos de internacionalização do aparelho estatal. [...] A privatização e a proteção da propriedade intelectual tornaram-se, de fato, um foco central da regulamentação econômica internacional e dos conflitos político-sociais relacionados com ele. (HIRSCH, 2010, p. 225-230)
O movimento é processual. Eis um esboço, das quatro etapas de superação: 1.
Percepção da crise pelo Estado e pela sociedade; 2. Saídas para as instabilidades pelo
caminho da intervenção, pois “o Estado capitalista é essencialmente um Estado
interventor” (HIRSCH, 2010, p. 41); 3. Adaptações; 4. Mudança na estrutura, na
ideologia e na política de Estado.
O capitalismo maduro (Spät no sentido de que “já passou do ponto”) enfrentou
momentos de superação das crises devido à intervenção do Estado, a exemplo de
1870, 1930 e da década de 70.
244
O fato decisivo da crise dos anos 70 não se deve à “crise do petróleo”. Ela é
apenas umas das conseqüências “da estratégia de preços da OPEP e das grandes
companhias petrolíferas” (HIRSCH, 2010, p. 155).
A crise da década de 70 deve-se muito mais “ao desmonte do Estado de bem-
estar social, ao retrocesso estrutural da rentabilidade do capital em [...] todas as
metrópoles capitalistas”, somada à forte diminuição da taxa de lucro (HIRSCH, 2010, p.
150), bem como devido à desfalecente força persuasiva da utopia de uma “sociedade
do trabalho” (HABERMAS, 1987, p. 106).
O desenvolvimento do Estado social acabou num beco sem saída. Com ele esgotaram-se as energias da utopia de uma sociedade do trabalho. As respostas [...] dos neoconservadores movem-se no medium de um espírito da época que ainda é apenas defensivo; elas exprimem uma consciência da história que despojou-se de sua dimensão utópica. Os dissidentes da sociedade de crescimento também continuam na defensiva. Sua resposta só poderia converter-se em uma ofensiva se o projeto do Estado social fosse não simplesmente assentado ou interrompido, mas continuasse num nível mais alto de reflexão. O projeto do Estado social voltado para si, dirigido não apenas à moderação da economia capitalista, mas também à domesticação do Estado mesmo, perde, porém, o trabalho como seu ponto central de referência. Isto é, já não se trata de assegurar o emprego por tempo integral elevado à condição de norma. Tal projeto jamais poderia esgotar-se nessa tentativa de quebrar — instituindo um rendimento mínimo garantido — a maldição que paira sobre a biografia de todos os trabalhadores — mesmo sobre o potencial crescente e cada vez mais marginalizado daqueles que continuam na reserva. Esta tentativa seria revolucionária, mas não revolucionária o bastante — mesmo se o mundo da vida pudesse ser protegido não apenas contra os imperativos desumanos do sistema de emprego, mas também contra os contraproducentes efeitos colaterais de uma proteção administrativa da existência como um todo. Tal barreira no intercâmbio entre sistema e mundo da vida só poderia funcionar se ao mesmo tempo adviesse uma nova partilha do poder. As sociedades modernas dispõem de três recursos que podem satisfazer suas necessidades no exercício do governo: o dinheiro, o poder e a solidariedade. As esferas de influência desses recursos teriam de ser postas em um novo equilíbrio. Eis o que quero dizer: o poder de integração social da solidariedade deveria ser capaz de resistir às "forças" dos outros dois recursos, dinheiro e poder administrativo. Pois bem, os domínios da vida especializados em transmitir valores tradicionais e conhecimentos culturais, em integrar grupos e em socializar crescimentos, sempre dependeram da solidariedade. Mas desta fonte também teria de brotar uma formação política da vontade que exercesse influência sobre a demarcação de fronteiras e o intercâmbio existente entre essas áreas da vida comunicativamente estruturadas, de um lado, e Estado
245
e economia, de outro lado. Aliás, isto não está muito longe das representações normativas de nossos manuais de ciências sociais, segundo os quais a sociedade atua sobre si mesma e sobre seu desenvolvimento através do poder democraticamente legitimado. (HABERMAS, 1987, p. 112).
Nesse contexto de reflexões, é necessário relativizar os argumentos que fazem a
defesa do fim do Estado nacional no contexto da globalização. Tão necessária é a
crítica contra os defensores da redução de seu papel, a exemplo dos neoliberais.
O conservadorismo neoliberal tem defendido a internacionalização do capital e
do Estado. A desregulamentação neoliberal dos mercados de capital tem deslocado a
centralidade da tomada de decisões para outras instâncias, “diminuindo o papel
decisório dos Estados nacionais”. (HIRSCH, 2010)
Para Hirsch (2010, p. 237), defensor de uma teoria materialista do Estado, a
promoção dos níveis de decisão política, “o crescente significado dos atores privados e
dos decorrentes sistemas de negociações não visíveis publicamente”, bem como a
reduzida capacidade de intervenção dos Estados “levam a uma fragmentação dos
processos de tomada de decisão política [...]”
6.8 A VISÃO ANTINEOLIBERAL DE HABERMAS E SEU ATUAL ENTENDIMENTO SOBRE A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL: CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS.
Na visão habermasiana, o sistema internacional entrou em colapso. A crise
econômica mundial tem produzido fortes impactos na sociedade.
A crise do capitalismo, outrossim, tem gerado muitas injustiças sociais, e, os
mais afetados são os países periféricos.
Ademais, o escândalo de uma injustiça social (scandalous social injustice) é o
que mais tem preocupado Habermas (2009, p. 184).
Os grupos sociais mais vulneráveis terão de suportar os “impactos dos custos
socializados em decorrência da falência dos mercados”, pois, diferente dos acionistas, é
246
“a classe trabalhadora que terá que arcar com os prejuízos”. (HABERMAS, 2009, p.
184)
Por outro lado, Habermas afirma que (2009, p. 184), o agente responsável pela
promoção do bem comum é a política, “and not capitalism”.
What worries me most is the scandalous social injustice that the most vulnerable social groups will have to bear the brunt of the socialized costs for the market failure. The mass of those who, in any case, are not among the winners of globalization now have to pick up the tab for the impacts of a predictable dysfunction of the financial system on the real economy. Unlike the shareholders, they will not pay in money values but in the hard currency of their daily existence. Viewed in global terms, this avenging fate is also afflicting the economically weakest countries. That's the political scandal. Yet pointing the finger at scapegoats strikes me as hypocritical. The speculators, too, were acting consistently within the established legal framework according to the socially recognized logic of profit maximization. Politics turns itself into a laughing stock when it resorts to moralizing instead of relying upon the enforceable law of the democratic legislator. Politics, and not capitalism, is responsible for promoting the common good. (2009, p. 184)
Por isso, esse é o escândalo político.
Considera hipocrisia apontar “bodes expiatórios”. Os especuladores
comportaram-se “nos limites da lei [...] de acordo com a lógica, aceitam a maximização
dos ganhos”. Ademais, a política se torna “ridícula quando se apóia na moralização [...]
quando o correto é confiar na força da lei de um legislador democrático”. (2009, p. 184)
In the US the very real economic anxieties coincided with the hot end spurt of one of the most momentous election campaigns in recent memory. The crisis also instilled a more acute awareness of their personal interests in broad sectors of the electorate. It forced people to make decisions that were, if not necessarily more reasonable, then at least more rational, at any rate by comparison with the last presidential election which was ideologically polarized by "9/11." America will owe its first black president – if I may hazard a prediction immediately before the election – and hence a major historical watershed in the history of its political culture, to this fortunate coincidence. Beyond this, however, the crisis could also be the harbinger of a changed political climate in Europe. (HABERMAS, 2009, p. 185)
247
Para Habermas (2009, p. 185), as “trocas de maré” mudam “os parâmetros de
discussão pública, alteram o espectro de alternativas políticas vistas como possíveis”.
A Guerra da Coréia, por exemplo, marcou o fim do New Deal; Reagan, Thatcher
e o declínio da Guerra Fria, “marcaram o fim da era dos programas de bem-estar
social”. (HABERMAS, 2009, p. 185)
Hoje, com o término do governo Bush e da explosão da última onda de “balões
de retórica neoliberal [...] os programas de Clinton e do Novo Trabalhismo tiveram o seu
curso”. (HABERMAS, 2009, p. 185)
De modo que na opinião de Habermas “a agenda neoliberal precisa ser
suspensa”. Além disso, “todo o programa de subordinação do mundo da vida aos
imperativos do mercado deve ser submetido a escrutínio”. (HABERMAS, 2009, p. 185)
Such tidal shifts change the parameters of public discussion and in the process, the spectrum of political alternatives seen as possible. The Korean War marked the end of the New Deal, Reagan and Thatcher and the waning of the Cold War the end of the era of social welfare programs. Today, with the end of the Bush era and the bursting of the last neoliberal rhetorical balloons, the Clinton and New Labour programs have run their course too. What is coming next? My hope is that the neoliberal agenda will no longer be accepted at face value but will be suspended. The whole program of subordinating the lifeworld to the imperatives of the market must be subjected to scrutiny. (HABERMAS, 2009, p. 185-186)
A ideologia neoliberal sustenta que o Estado é apenas um “jogador no campo
econômico”, e que, este, deve desempenhar um papel tão pequeno quanto possível.
Entretanto, para Habermas, essa ideia deve ser descartada?
That depends on what course the crisis takes, on the perceptual capacities of the political parties and on the issues that find their way onto the public agenda. In Germany, at any rate, things are still strangely calm. The agenda that recklessly prioritizes shareholder interests and is indifferent to increasing social inequality, to the emergence of an underclass, to child poverty, a low wage sector, etc., has been discredited. With its mania for privatization, this agenda hollows out the core functions of the state, it sells off the remnants of a
248
deliberating public sphere to profit-maximizing financial investors, and subordinates culture and education to the interests and moods of sponsors who are dependent on market cycles. (HABERMAS, 2009, p. 186)
Por isso, com “a banalização da privatização, a agenda neoliberal esvaziou as
principais funções do Estado, vendendo o que restou de deliberação da esfera pública
para deliberar sobre assuntos de interesse privatista, a exemplo da maximização dos
lucros dos investidores do setor financeiro internacional”. (HABERMAS, 2009, p. 186)
Além disso, na visão habermasiana, a agenda neoliberal “subordinou a educação e a
cultura aos interesses e humores de seus patrocinadores, os quais são dependentes
dos ciclos e oscilações de mercado”. (HABERMAS, 2009, p. 186)
Com isso, a esfera pública foi afetada e os imperativos sistêmicos do mercado
tendem a reforçar ainda mais a “colonização do mundo da vida”.
De modo que, a “mania de privatização”, e, a condução de uma política de
desregulamentação (encampada pelo governo Bush), foram medidas políticas
desastrosas para a economia.
A privatização da seguridade social, dos cuidados de saúde, dos transportes
públicos, do fornecimento de energia, do sistema penal, dos serviços de segurança
militar e de grandes setores da escola e da educação universitária, no interesse dos
patrocinadores privados (empresários e especuladores), desemboca num projeto social
equivocado e que navega na contramão da busca por justiça social, “cujos riscos e
conseqüências são difíceis de conciliar com os princípios igualitários de um Estado
constitucional democrático e social”. (HABERMAS, 2009, p. 186)
Os órgãos do Estado não são capazes de conduzir os negócios de acordo com
os imperativos do sistema econômico, e, certas áreas vulneráveis da vida, “não devem
ficar expostas aos riscos da especulação do mercado acionário”. (HABERMAS, 2009, p.
187)
Para Habermas (2009, p. 187), “desde a queda ‘do muro’ tornou-se impossível
romper com o universo do capitalismo”. Por isso “a única opção é civilizar e domar a
249
dinâmica capitalista”. Ademais, entende que, mesmo durante o período pós-guerra, a
“União Soviética não era uma alternativa viável para a maioria da esquerda na Europa
Ocidental”, por isso que, em 1973, decidiu escrever sobre os problemas de legitimação
no capitalismo.
Since 1989-90 it has become impossible to break out of the universe of capitalism; the only option is to civilize and tame the capitalist dynamic from within. Even during the post-war period, the Soviet Union was not a viable alternative for the majority of the Left in Western Europe. This was why, in 1973, I wrote on legitimation problems "in" capitalism. These problems have again forced their way onto the agenda, with more or less urgency depending on the national context. A symptom of this the demands for caps on managers salaries and the abolition of "golden parachutes," that is, of the outrageous compensation payments and bonuses. (HABERMAS, 2009, p. 187)
Contudo, tais políticas são de “fachada”, políticas simbólicas projetadas para
“desviar a atenção das falhas dos políticos e de seus consultores econômicos”. De certa
forma, “eles foram conscientes da necessidade de regulamentação dos mercados
financeiros por um longo tempo”. Nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, no entanto, as
elites políticas “viam a especulação selvagem como útil [...] contanto que as coisas
estivessem indo bem”. (HABERMAS, 2009, p. 187-188)
(…) this is of course symbolic politics designed to divert attention away from the failures of the politicians and their economic consultants. They have been aware of the need for regulation on the financial markets for a long time. I just reread Helmut Schmidt's crystal-clear article ["Regulate the New Mega-Speculators"] from February 2007 (Die Zeit, No 30). Everyone knew what was going on. In America and Great Britain, however, the political elites viewed the wild speculation as useful as long as things were going well. And Europe succumbed to the Washington Consensus. In this regard there was also a broad coalition of the willing for which Mr. Rumsfeld didn't need to drum up support. (HABERMAS, 2009, p. 187-188)
Sobre o Consenso de Washington; quanto aos planos de reforma; no que tange
às políticas de apoio econômico dos países pobres (financiadas pelo FMI e pelo Banco
Mundial), Habermas concorda com o fato de que tais planos “não surtiram os efeitos
propostos, pois os países ricos ficaram mais ricos, e os pobres mais pobres” (as zonas
de pobreza cresceram diante de nossos olhos).
250
Ademais, “os fatos revelaram a falsidade dos prognósticos daquelas medidas”:
“Empirical evidence of the falsehood of this prognosis has been accumulating for many
years. The effects of the increase in affluence are so asymmetrical, at both the national
and the global level, that the zones of poverty have grown before our very eyes”.
(HABERMAS, 2009, p. 188)
Habermas (2009, p. 189) também consente com o fato de que o neoliberalismo
sugere que todos os cidadãos tornem-se “empreendedores de seus próprios trabalhos,
clientes e concorrentes”. Uma visão darwinista social, porque se pressupõe que o mais
forte vence numa sociedade. Mas porque a sociedade deveria ser tão competitiva? O
capitalismo produz seres egoístas. Por isso, essa “forma de vida” egoísta sustentada
pelo neoliberalismo é anti-solidária.
The stronger who win out in the free-for-all of the competitive society can claim this success as their personal merit. It is deeply comical how managers – though not just them – fall prey to the absurd elitist rhetoric of our talk shows, let themselves be celebrated in all seriousness as role models and mentally place themselves above the rest of society. It's as if they could no longer appreciate the difference between functional elites and the ascriptive elites of estates in early modern societies. What is so admirable about the character and mentality of people in leading positions who do their job in a halfway competent manner? Another alarm signal was the Bush Doctrine announced in Fall 2002, which laid the groundwork for the invasion of Iraq. The social Darwinist potential of market fundamentalism has since become apparent in foreign policy as well as in social policy. (HABERMAS, 2009, p. 189)
Na visão habermasiana, a globalização econômica deveria ter seguido uma
coordenação (consensual) entre os atores de uma política mundial. Desde o início da
modernidade, o mercado e a política sempre precisaram se contrabalançar de forma
que a “rede de relações solidárias, entre membros de uma comunidade política não se
rompesse [...] Uma tensão entre capitalismo e democracia sempre existe porque o
mercado e a política sempre repousam sobre princípios opostos”. (HABERMAS, 2009,
p. 190)
Assim, tornou-se claro para Habermas (2009, p. 190) que, durante os anos 90, a
política deveria construir “as suas capacidades de ação em nível supranacional”. Houve
251
inicialmente “um aumento acentuado no número de intervenções humanitárias
promulgada pelo Conselho de Segurança”.
Ademais, a globalização econômica deveria ter sido seguida por um sistema de
“coordenação da política global, aliada a uma codificação [...] mais jurídica das relações
internacionais”.
Entende que, a atual crise, tem o poder de produzir entre os seres humanos uma
maior consciência sobre os problemas globais: “desde o início da era moderna, o
mercado e a política tiveram de ser repetidamente equilibrada a fim de preservar a rede
de relações de solidariedade entre os membros de comunidades políticas”.
(HABERMAS, 2009, p. 190)
Habermas (2009, p. 190) também deixa claro que os Estados nacionais “devem
entender-se cada vez mais como membros da comunidade internacional - mesmo no
seu próprio interesse”.
Para ele, essa é a tarefa “mais difícil que precisa ser levada em conta ao longo
das duas próximas décadas”:
Quando falamos de ‘política’ com este estágio em mente, muitas vezes nós pensamos nas ações de governos que herdaram a auto-compreensão dos atores coletivos de tomar decisões soberanas. No entanto, hoje a continuidade dessa auto-compreensão do Estado como um Leviatã, que se desenvolveu desde o século XVII, em conjunto com o sistema europeu de Estados, já foi quebrado. A substância e composição do que costumávamos chamar de ‘política’ na arena internacional está constantemente mudando. (HABERMAS, 2009, p. 190)
Para Callinicos (2011, p. 28), “a crise econômica e financeira está longe de
terminar, na medida em que o capitalismo global encontra-se à deriva em um mar de
incertezas”.
As tensões entre os Estados Unidos e a China são em alguma medida um sintoma de uma fratura maior entre os Estados devedores e credores. A China tem suprido o poder hegemônico, os Estado Unidos,
252
com bens manufaturados e capitais. Dentro da eurozona antes da crise, foi o Estado mais forte, a Alemanha, que supriu as economias mais fracas (...) Os “resgates” da Grécia, Irlanda e agora Portugal, assim, têm acontecido para sustentar os bancos da França, da Alemanha e da Grã-Bretanha (no caso da Irlanda), que foram os principais emprestadores para essas economias. A insistência alemã na adoção de programas de austeridade cruéis é para manter o modelo exportador que a ata crescentemente mais próxima à China. (...) A recente expansão chinesa tem sido levada por um vasto surgimento financiado por bancos estatais, mas onde os bens produzidos com essa capacidade extra irão encontrar mercados é ainda uma questão em aberto.
6.9 O FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA
A crise econômica atual aponta para o abalo da integração política e jurídica da
União Europeia. O projeto de adoção de uma Constituição europeia fracassara.
Franceses e holandeses, por exemplo, em referendo nacional, decidiram contra
a adoção da Constituição europeia.
Os movimentos em prol de uma política “de direita” eclodem por toda a Europa.
O que atualmente emerge de maneira progressiva é um espaço ocupado, de um lado, por um partido que representa o capitalismo global como tal [...] e, por outro lado, um partido populista xenófobo cada vez mais forte (acompanhado, em suas bases, por grupos explicitamente racistas e neofacistas. O caso exemplar é o da Polônia: com o desaparecimento dos ex-comunistas [...] Na Itália, Berlusconi é a prova de que mesmo essa derradeira oposição não é insuperável: sua Forza Italia é tanto o partido do capitalismo global quanto a tendência populista xenófoba. Na esfera despolitizada da administração pós-ideológica, a única maneira de mobilizar o eleitorado é espalhar o medo (dos imigrantes, do vizinho). (ZIZEK, 2011, p. 49)
Existe um “clima de desconfiança” no futuro da União Europeia, na integração
política, sócio-cultural e jurídica.
A adoção de políticas antidemocráticas compromete o exercício da cidadania em
nível europeu, e, “o processo constitucional precisa estar vinculado com o debate
público de toda a sociedade”. (HABERMAS, 2009)
253
As decisões políticas importantes estão centradas nas lideranças que assumem
o controle do Conselho Europeu, em detrimento da prática cidadã em nível comunitário.
(HABERMAS, 2009)
Las esperanzas de nuestro autor en una Constitución europea chocaron con el rechazo en los referendos de Francia y Holanda. Lo explica Habermas como resultado de la desconexión entre el proceso constitucional y el debate político en la sociedad europea, consecuencia de factores tales como la ilegibilidad del texto constitucional mismo, de su elaboración de espaldas al debate público y de su uso partidista con vistas a procesos electorales en el seno de los Estados, explotando también los temores y los mitos vinculados a las identidades nacionales. Se alegraron erróneamente los nacionalistas, que aún confían en las capacidades de unos Estados nacionales, capacidades devenidas inviables en el contexto de la globalización, y se alegraron con fundamento los neoliberales, que temían una Unión Europea con capacidad para, desde su dimensión, intervenir con éxito en los mercados. Y se equivocó esa parte de la izquierda que propugnó el no a la Constitución, desconociendo que de ese modo hacía el mejor favor al neoliberalismo y a la dominación norteamericana. No es de extrañar, pues, que recientemente declarara Habermas que ‘Europa se encuentra hoy en un estado miserable’, pues no ha podido superarse la perspectiva engañosa de las experiencias y los traumas nacionales y falta aquella confianza básica que es propia de los miembros de una misma comunidad. (AMADO, 2008, p. 26)
Na atual conjuntura, a utopia habermasiana está inviabilizada: uma crença que
gira em torno da construção de “um espaço de polifonia e consenso entre europeus,
que se reconhecem como autores e destinatários das leis”.
Mesmo diante das diferenças culturais aposta no diálogo amigável entre os
Estados membros da União Europeia.
Entretanto, no capitalismo de Estado, a razão comunicativa sucumbe diante da
razão instrumental, mais forte, mais poderosa.
As ações “estratégicas e calculistas dos mercados são impositivas”, e, os atores
que compartilham suas experiências no mundo da vida, ficam reféns do capital.
(HABERMAS, 2011)
254
Há uma violenta intervenção do sistema econômico no mundo da vida, afetando
comportamentos e modos de vida. O mercado exerce uma “função desagregadora”,
como o próprio Habermas sustenta (“colonização do mundo da vida”).
O exercício das ações comunicativas no interior do Estado capitalista sempre
tenderá ao fracasso enquanto houver o capitalismo.
Sobre o “futuro da Europa”, Habermas discute esta questão atual no jornal La
Repubblica. (HABERMAS, 2011)
A integração política da União Europeia seria uma saída positiva para solucionar
o problema da crise econômica que tem abalado toda a Europa?
Para Habermas (2011), chegou a oportunidade para que as “atenções sejam
concentradas sobre o problema da crise [...] momento em que os atores políticos não
deveriam se esquecer dos defeitos de construção que estão na base da união
monetária e que poderão ser removidos não mais só através de uma união política
adequada”.
(...) a União Européia não dispõe das competências necessárias para harmonizar as economias nacionais, que apresentam divergências marcadas no plano da competitividade. O "pacto pela Europa" recém reafirmado só serve para reiterar um defeito antigo: os acordos não vinculantes entre chefes de governo são ou ineficazes ou antidemocráticos e, por essa razão, devem ser substituídos por uma incontestável institucionalização das decisões comuns. (HABERMAS, 2011)
Na visão habermasiana, desde que “o embedded capitalism entrou em
decadência, torna-se cada vez mais difícil para todos os Estados da OCDE estimular o
crescimento econômico e garantir uma distribuição justa da renda”. (HABERMAS, 2011)
Depois da liberalização das taxas de câmbio, esse problema foi neutralizado pela aceitação da inflação. A partir do momento em que essa estratégia comporta custos elevados, os governos utilizam cada vez mais a escapatória das participações nos balanços públicos financiados com o crédito. A crise financeira que segue desde 2008 também fixou o mecanismo do endividamento público às custas das
255
gerações futuras. E, enquanto isso, não se entende como as políticas de austeridade – difíceis de impor no fronte interno – podem ser conciliadas no longo prazo com a manutenção de um nível suportável de Estado social. (HABERMAS, 2011)
Habermas (2011) apela por uma maior “transparência e agilidade entre os atores
políticos da Europa [...] que deveriam revelar o verdadeiro significado histórico do
projeto europeu [...] seria de se esperar que os políticos, sem atrasos e sem condições,
coloquem finalmente as cartas européias sobre a mesa, a fim de esclarecer
explicitamente às populações a relação entre custos de curto prazo e utilidade real”.
Deveriam superar o seu medo das pesquisas de opinião e se confiar ao poder persuasivo dos bons argumentos. Em vez disso, piscam o olho a um populismo que eles mesmos favoreceram ocultando um tema complexo e impopular. No limiar da unificação econômica e política da Europa, a política parece hesitar e recuar. Por que essa paralisia? É uma perspectiva prisioneira do século XIX, que impõe a resposta conhecida do “demos”: não existe um povo europeu e, portanto, uma união política digna desse nome estaria construída sobre a areia. A essa interpretação, eu gostaria de contrapor uma outra: uma fragmentação política duradoura no mundo e na Europa está em contradição com o crescimento sistêmico de uma sociedade mundial multicultural e bloqueia qualquer progresso no campo da civilização jurídica constitucional das relações de força entre Estados e das relações de força sociais. (HABERMAS, 2011)
A União Europeia está sendo “monopolizada pelas elites políticas, sem contar a
indiferença [...] para não dizer ausência de participação dos cidadãos da União
Européia, no que diz respeito às decisões do Parlamento de Estrasburgo.” (Habermas,
2011)
Habermas (2009) sustenta que, “só o populismo de direita continua projetando a
caricatura de grandes sujeitos nacionais”.
Nos Estados territoriais, foi preciso começar instalando o horizonte fluido de um mundo da vida dividido em grandes espaços e através de relações complexas, e preenchê-lo novamente com um contexto comunicativo relevante da sociedade civil, com o seu sistema circulatório das ideias. É desnecessário dizer que uma coisa desse tipo só pode ser feita no quadro de uma cultura política compartilhada que
256
continua bastante vaga. Mas quanto mais as populações nacionais tomaram consciência e as mídias fizerem com que elas tomem consciência da profunda influência que as decisões da UE exercem sobre a sua vida cotidiana, mais crescerá o seu interesse em também exercer os seus direitos democráticos enquanto cidadãos da União. Esse fator de impacto tornou-se tangível sobre a crise do euro. A crise também afeta o Conselho Europeu, relutantemente, a tomar decisões que podem pesar de modo desequilibrado sobre os orçamentos nacionais. A conseqüência de um "governo econômico" comum, que também agrade ao governo alemão, significaria que a exigência central da competitividade de todos os países da comunidade econômica européia se estenderia bem além das políticas financeiras e econômicas e chegaria a tocar nos orçamentos nacionais, intervindo até o ventrículo do músculo cardíaco, isto é, até o direito dos Parlamentos nacionais de tomarem decisões de gastos. Se não se quiser violar flagrantemente o direito vigente, essa reforma em suspenso só é possível transferindo outras competências dos Estados membros para a União. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy chegaram a um compromisso entre o liberalismo econômico alemão e o estatismo francês que tem conteúdos muito diferentes. Se eu entendi bem, eles querem transformar o federalismo executivo implícito no Tratado de Lisboa em um predomínio do Conselho Europeu (o órgão intergovernamental da União), contrário ao tratado. Tal sistema permitiria transferir os imperativos dos mercados sobre os orçamentos nacionais sem nenhuma legitimidade democrática real. (HABERMAS, 2011)
A União deve assegurar a seus cidadãos a "homogeneidade das condições de
vida" (com base na legislação da RFA); a "homogeneidade" se refere apenas a uma
estimativa das situações da vida social que seja aceitável do ponto de vista da justiça
distributiva, “não a um nivelamento das diferenças culturais”. (HABERMAS, 2011)
Portanto, na visão habermasiana, uma integração política baseada no bem-estar
social é indispensável para proteger “a pluralidade nacional e a riqueza cultural do
habitat da ‘velha Europa’ do nivelamento no quadro de uma globalização que avança
em ritmo rápido”. (HABERMAS, 2011)
Em 2009, na obra “Europe: The Faltering Project”, Habermas também discute
sobre o “Futuro da Europa”.
Ele reclama sobre o fato de que, as pessoas se sentem incomodadas com seu
posicionamento no que tange ao futuro da Europa. E questiona: Porque deveríamos
trabalhar com essa questão? (HABERMAS, 2009. p. 56)
257
Sua resposta é simples: “Se nós não questionarmos sobre a finalidade da
unificação da Europa em referendum aberto, em nível europeu, quem decidirá sobre o
futuro da União Européia será a ortodoxia neoliberal”. (HABERMAS, 2009. p. 56)
Ele sustenta que nós não podemos evitar essa questão tormentosa, pelo simples
fato de uma “paz desgastada” gerar confusões sobre os compromissos rotineiros, “pelo
que seria dar livre freio às dinâmicas dos mercados inexpressivos”. (HABERMAS, 2011,
p. 56)
Para Habermas, “pela primeira vez no processo de unificação européia, nós nos
deparamos com o perigo da regressão além do estágio de integração já obtido”. E a isto
se deve, de certa forma, a algo que tem lhe preocupado: a falência de dois referendos
constitucionais na França e na Holanda. (HABERMAS, 2011, p. 56)
For the first time in processo of European unificacion, we face the danger of a regression behind the stage of integration already achieved. What bothers me is the paralysis following the failure of the two constitutional referenda in France and the Netherlandes. A nondecision in this situation is a decision of great moment. (HABERMAS, 2009. p. 56)
Habermas alega que o problema das decisões inadequadas dos centros de
poder da União Europeia, em especial referência ao “European Concil”, envolve três
urgentes questões entrelaçadas, a saber:
1 As condições econômicas globais, as quais tem sido transformadas sob pressão da globalização, hoje conseguem precaver o Estado nação de um desenho sobre a taxação de rendimentos. Além disso o Estado nação precisa, em ordem, encontrar um bem estar reivindicado socialmente estabelecido. Em geral, eles devem reivindicar por bens coletivos e por serviços públicos com suficiente extensão. Outras mudanças, tais como as tendências demográficas e o aumento dos níveis de imigração, estão agravando a situação. O único caminho é tentar recuperar o poder político regulatório perdido em nível supranacional. Sem a convergência de alíquotas e sem o prospecto de harmonização econômica e de política social em médio prazo, nós deixaremos o modelo social europeu na mão de terceiros. (HABERMAS, 2009, p. 57)
258
2 The return to a reckless, hegemonic power politics, the clash of the West with the Islamic world, the colapse of state structures in other parts of the world, the long-term social impacts of colonialism, and the immediate political consequences of unsuccessful decolonization – all of these indicators point to an extremely precarious global situation. Only a European Union with an effective foreign policy, wich assumes global political responsabilities alongside the United States, China, India, and Japan, could promote an alternative to the dominant Washington Consensus within the existing global economic institutions and, most importantly, could lend impetus to the long-overdue reforms of the United Nations which are currently being blocked by the United States, though they can be achieved only with its support. (HABERMAS, 2009, P. 57)
3 The split within the West which has become apparent since the Iraq War is also rooted in a cultural conflict, which is splitting the American nation itself into two almost equal camps. This mental shift is leading to a loosening of the normative standards which used to inform government policy. The closest allies of the United States cannot remain indifferent to this development. In critical free ourselves from our dependence on the senior partner. For this reason, too, the European Union needs an army of its own. Until now, the Europeans have had to follow the directives and rules of the American supreme command during NATO operations. Now, in conducting joint operations, we have to gain the leeway to respect our own notions of international law, the prohibition of torture, and the law governing war crimes. (HABERMAS, 2009, p. 57-58)
Para Habermas (2009, p. 58) a Europa deve enfrentar um “processo de reforma,
a qual não poderia apenas conferir efetividade dos procedimentos de tomada de
decisão na EU, mas também de seu próprio ministro das relações exteriores (presidente
diretamente eleito), e de suas próprias bases financeiras”.
Esses requerimentos poderiam ser feitos pelo tópico de referendos, por exemplo,
para ser vinculados às próximas eleições do parlamento europeu.
A proposta poderia ser supostamente aceita, se sucedida de vitória da “double
majority” dos Estados e dos votos dos cidadãos. Ao mesmo tempo, o referendum
poderia ser vinculado somente para aqueles Estado membros os quais a maioria dos
cidadãos votou pela reforma. (HABERMAS, 2009. p. 58)
259
Com a Europa nessa situação, abandonaria o modelo convencional, no qual o
mais lento veículo determina a velocidade. Mesmo no coração da Europa ou em sua
periferia, os países que inicialmente preferem ficar “de lado” (sideline), teriam a opção
de associarem-se no centro, a qualquer tempo. (HABERMAS, 2009)
Na realização de tais propostas, Habermas demonstra-se estar de acordo com o
primeiro ministro belga Guy Verhofstadt, autor da publicação (2006) de um manifesto
chamado de The United States of Europe, um político que está um passo à frente dos
“chatos” intelectuais (drag intellectuals). (HABERMAS, 2009. p. 58)
No entendimento de Habermas (2009, p. 192), os governos europeus buscam
alternativas para a fuga da crise: “International treaties, which is what the parties
currently have in mind, can be revoked at any time. They cannot provide the basis for a
watertight regime.
Sustenta, nesse sentido, que os Estados devem entender-se cada vez mais
como membros da comunidade internacional - mesmo no seu próprio interesse: “essa é
a tarefa mais difícil que precisa ser abordada ao longo das duas próximas
décadas”. (HABERMAS, 2009, p. 192)
Para ele, quando falamos de "política" com este estágio em mente, muitas vezes
nós pensamos nas ações de governos que “herdaram a auto-compreensão dos atores
coletivos de tomar decisões soberanas”. (HABERMAS, 2009, p. 192)
No entanto, hoje, a continuidade dessa “autocompreensão do Estado como um
Leviatã” (que se desenvolveu desde o século XVII), já foi quebrada. Ademais, “a
substância e composição do que costumávamos chamar de política na arena
internacional está constantemente mudando”. (HABERMAS, 2009, p. 192)
I don't want to make predictions. Given the scale of the problems, the most we can do is to think about constructive proposals. The nation-states must understand themselves increasingly as members of the international community – even in their own interest. That is the most difficult task that needs to be tackled over the next couple of decades. When we speak of "politics" with this stage in mind, we often think of the actions of governments which have inherited the self-
260
understanding of collective actors who make sovereign decisions. However today the continuity of this self-understanding of the state as a Leviathan, which developed since the seventeenth century in tandem with the European system of states, has already been broken. The substance and composition of what we used to call "politics" in the international arena is constantly shifting. (HABERMAS, 2009, p. 192)
Para Habermas (2009, p. 193), talvez devêssemos dar um passo atrás e olhar
para um contexto um pouco maior. O conceito de "política" modelado pelo Estado-
nação está em estado de “fluxo”.
Dentro da União Europeia, por exemplo, os Estados membros continuam a
“desfrutar de seu monopólio sobre a força legítima”; no entanto, a aplicação das leis
promulgadas em nível supranacional está mais ou menos obsoleta. Esta transformação
do direito e da política também é ligada a uma dinâmica capitalista que pode ser
descrita como uma interação periódica entre uma abertura funcionalmente dirigida
seguida, em cada caso, por um “fechamento socialmente integrador em um nível
superior”.
Perhaps we should take a step back and look at a somewhat larger context. Since the late eighteenth century, law has gradually permeated the politically constituted power of government and stripped it of the substantive character of mere "force" in the domestic sphere. In its external relations, however, the state has preserved enough of this substance, in spite of the growth of intertwined international organizations and the increasingly binding power of international law. The concept of the "political" shaped by the nation-state is nevertheless in a state of flux. Within the European Union, for example, the member states continue to enjoy their monopoly on legitimate force while nevertheless implementing the laws enacted at the supranational level more or less without demur. This transformation of law and politics is also bound up with a capitalist dynamic which can be described as a periodic interplay between a functionally driven opening followed in each instance by a socially integrative closure at a higher level. (HABERMAS, 2009, p. 193)
Para ele, a expansão dos mercados e das redes de comunicação, sempre
tiveram “uma força explosiva”, com conseqüências ao mesmo tempo “individualizadora”
e “libertadora” para os cidadãos, mas cada uma dessas violações, tem sido
261
acompanhada por uma “reorganização das velhas relações de solidariedade dentro de
um quadro institucional mais abrangente”. (HABERMAS, 2009, p. 193)
The welfare state is a late and, as we are now learning, fragile accomplishment. Expanding markets and communications networks have always had an explosive force with simultaneously individualizing and liberating consequences for individual citizens; but each of these breaches has been followed by a reorganization of the old relations of solidarity within a more comprehensive institutional framework. This process began during the early modern period as the ruling estates of the High Middle Ages were progressively parliamentarized, as in England, or mediatized by absolute monarchs, as in France, within the new territorial states. The process continued in the wake of the constitutional revolutions of the eighteenth and nineteenth centuries and the welfare state legislative programs of the twentieth century. This legal taming of the Leviathan and class antagonism within civil society was no small matter. For the same functional reasons, however, this successful constitutionalization of state and society points today – following a further phase of economic globalization – towards the constitutionalization of international law and of the strife-torn world society. (HABERMAS, 2009, p. 194)
Para Habermas (2009, p. 195), ”ainda não está claro o motivo pelo qual a gestão
da crise econômica recente da União Europeia está sendo tão altamente elogiada”:
Gordon Brown foi capaz de trazer o ministro das Finanças americano Paulsen para
reinterpretar o resgate laboriosamente negociado com a sua “decisão memorável”,
porque ele trouxe os jogadores mais importantes da zonaeuro “a bordo”, através da
mediação do presidente francês (contra a resistência inicial de Angela Merkel e de seu
ministro das finanças Peer Steinbrück)
Not the one it has in fact played in the crisis. It is not clear to me why the recent crisis management of the European Union is being praised so highly. Gordon Brown was able to bring the American finance minister Paulsen to reinterpret the laboriously negotiated bailout with his memorable decision because he brought the most important players in the Eurozone on board through the mediation of the French president and against the initial resistance of Angela Merkel and her minister of finance Peer Steinbrück. You need only examine this negotiation process and its outcome more closely. For it was the three most powerful among the nation-states united in the EU who agreed as sovereign actors to coordinate their different measures which happened to point in the same direction. In spite of the presence of Messrs
262
Juncker and Barroso, the way this classical international agreement came about had almost nothing to do with a joint political will-formation of the European Union. The New York Timesduly registered, not without a hint of malice, the Europeans' inability to agree upon a joint economic policy. (HABERMAS, 2009, p. 195)
Sustenta, ainda, que o curso atual da crise está “criando uma falha na
construção da União Européia, aos olhos de todos”, porque cada país está
“respondendo com suas próprias medidas econômicas”; além disso, atualmente, não
existe nenhuma articulação da formação da vontade em nível de política econômica.
(HABERMAS, 2009) Os Estados membros “de maior destaque” estão ainda divididos
sobre os “princípios que regem a quantidade de Estados e quanto de mercado é
desejável”. De modo que “cada país está realizando sua própria política externa. A
Alemanha, em primeiro lugar. Porque nas condições atuais, eu considero a integração
gradual (em diferentes velocidades de unificação) como o único cenário possível para
superar a atual estagnação; a proposta de Sarkozy (para um governo econômico da
zonaeuro) pode servir como ponto de partida”. (HABERMAS, 2009)
Para Habermas (2009), entretanto, isso não significa “que teríamos de aceitar os
pressupostos de fundo estatista (e intenções protecionistas) de seus patrocinadores”.
Qualquer que seja de "esquerda", ou de "direita", devem concordar com a
seguinte questão: “os países da zonaeuro precisam de uma união consensual política,
caso contrário, não terão o peso suficiente na política mundial, para exercer uma
influência razoável na agenda da economia global”.
The present course of the crisis is making the flaw in the construction of the European Union manifest: every country is responding with its own economic measures. Because the competences in the Union, simplifying somewhat, are divided in such a way that Brussels and the European Court of Justice implement the economic freedoms whereas the resulting external costs are palmed off on the member states, there is at present no joint will-formation at the level of economic policy. The most prominent member states are even divided over the principles governing how much state and how much market is desirable in the first place. Moreover each country is conducting its own foreign policy, Germany first and foremost. The Berlin Republic, for all its quiet diplomacy, is forgetting the lessons that the old Federal Republic drew
263
from history. The government is exploiting the extended room for manoeuvre in foreign policy it has gained since 1989-90 and is falling back into the familiar pattern of national power politics between states, though the latter have long since shrunk to the format of minor princedoms. [...] Since under the present conditions I regard graduated integration or different speeds of unification as the only possible scenario for overcoming the present stagnation, Sarkozy's proposal for an economic government of the Eurozone can serve as a starting point. This does not mean that we would have to accept the statist background assumptions and protectionist intentions of its sponsor. Procedures and political results are two different things. The "closer cooperation" in the field of economic policy would have to be followed by "closer cooperation" in foreign policy. And neither could be conducted any longer through backroom deals behind the backs of the populations. You won't find support for that even in the SPD. The SPD leadership is abandoning this idea to the Christian Democrat Jürgen Rüttgers, the "labour leader" in the Rhine and Ruhr region. All across Europe the social democratic parties have their backs to the wall because they are being forced to play zero-sum games with shrinking stakes. Why don't they embrace the opportunity to break out of their national cages and gain a new room for manoeuvre at the European level? In this way they could even set themselves apart from theregressive competition from the left. Whatever "left" and "right" still mean today, only together could the Eurozone countries acquire sufficient weight in world politics to be able to exert a reasonable influence on the agenda of the global economy. The alternative is to act as Uncle Sam's poodle and throw themselves at the mercy of a global situation that is as dangerous as it is chaotic. (HABERMAS, 2009, p. 196-197)
264
CONCLUSÃO
Habermas procura justificar a sua opção política buscando soluções de reformas
sociais dentro do modo de produção capitalista, principalmente a partir da “queda do
muro” de Berlim.
Também sustenta que, a partir daquele momento, tornou-se impossível romper
com o universo do capitalismo.
De modo que, a única opção que ele encontrou, foi a de buscar uma forma de
“civilizar” e “domar” a dinâmica capitalista.
Na visão habermasiana, mesmo após a segunda guerra mundial, e durante o
período da guerra fria, o modelo de Estado Socialista da antiga União Soviética, não se
apresentou como uma saída viável para a maioria da esquerda.
Em função dessa conjuntura, em que o próprio Habermas vivenciou em seus
“trajetos”, a partir dos anos 70, dedicou-se ao estudo dos problemas de legitimação do
capitalismo.
As análises teóricas, retratam não só a história do capitalismo contemporâneo,
como também suas contradições e crises no contexto da Europa Ocidental.
Habermas não oferece uma proposta de ruptura com o sistema capitalista.
Entretanto, propõe “domar” os imperativos sistêmicos do mercado e da administração,
pelo caminho da participação ativa da sociedade civil nos temas públicos mais
relevantes.
Aposta na solidariedade e no direito como um instrumento de integração social.
Atualmente, ele encara o direito como um mecanismo de emancipação: ele pode ser a
face contrária do direito instrumental (opressivo). Na visão habermasiana, o direito visto
na dimensão “direito instituição” e concebido em sua função de “charneira”, trata-se de
um importante mecanismo de democratização de espaços públicos, além de servir
como um modo de instituir relações sociais mais justas, mais integrativas e inclusivas.
265
Ao defender o modelo de democracia de tipo deliberativo procedimental como
uma saída para resolver as questões políticas e de legitimidade do direito, aposta no
poder comunicativo de cidadãos racionais que buscam o consenso. A sociedade civil
deve influenciar politicamente o Estado, fiscalizando-o, opinando e debatendo sobre
temas públicos.
A sustentação de que os cidadãos devem se posicionar na qualidade de “autores
e destinatários das leis”; a necessidade de levar temas de interesse público para um
debate amplo e acessível a todos (“redes de comunicação”), bem como a esperança no
respectivo modelo de democracia, são assuntos relevantes para Jürgen Habermas,
porque na modernidade, a sociedade precisa buscar formas de entendimento através
da comunicação, e, seus atores, precisam fundamentar racionalmente as ações nos
debates públicos.
Ele admite que as sociedades modernas mantêm sua coesão mediante o
dinheiro, o poder administrativo e a solidariedade. Ademais, insiste no sentido radical
da Constituição democrática, apostando numa solidariedade conservada em “estruturas
jurídicas que precisam ser regeneradas a partir do contexto do mundo da vida”.
Com efeito, o direito não se conecta apenas com o poder administrativo e o
dinheiro, mas também com a solidariedade, precisando “assimilar em suas realizações
integradoras os imperativos de diferentes procedências”.
As realizações sistêmicas da economia e do aparelho do Estado, que se
realizam através do dinheiro e do poder administrativo, também devem permanecer
ligadas, segundo a “autocompreensão constitucional da comunidade jurídica, ao
processo integrador da prática social de autodeterminação dos cidadãos”.
Os trabalhos teóricos de Habermas consistem em buscar saídas estratégicas no
interior do próprio sistema capitalista, na tentativa de se criar relações dignas entres os
homens, visando estabelecer um “equilíbrio suportável e admissível entre dinheiro,
poder e solidariedade”.
266
Aposta na condução da sociedade, em direção à emancipação, pelo caminho da
política, baseada nos “procedimentos jurídicos de auto-organização racional”, uma
possível saída para as dramaticidades nas sociedades complexas do capitalismo tardio.
Leva em conta a consciência da participação popular no debate público sobre a
legitimidade do Estado de Direito visando não só a transparência, como também a
ampla garantia de direitos.
Traz para o interior do Estado a sociedade civil participativa, centraliza a política
dentro de um projeto de democracia radical, bem como propõe reformas sociais.
Mesmo em sociedades complexas e plurais, acredita na possibilidade dos
cidadãos buscarem entendimentos sobre os temas que lhes afetam, a exemplo da difícil
questão enfrentada sobre a adoção de uma Constituição no bloco europeu.
A “perda do controle do mundo administrado” cria obstáculos para a obtenção de
consensos.
Não chega a apontar para um horizonte socialista, porque sua proposta é a de
“domar o sistema capitalista” pelo caminho da política. Prefere, por exemplo,
desenvolver um modelo de democracia de tipo deliberativo-procedimental no contexto
das democracias de massa.
Opta em discorrer sobre as possíveis saídas para os impasses políticos, numa
sociedade “democrática”, em vez de propor alternativas para a ruptura do sistema
capitalista.
O trabalho também demonstrou a preferência em substituir as categorias “infra-
estrutura” e “superestrutura”, pelas categorias “mundo-da-vida” e “sistema”, usando o
paradigma teórico marxista como residual.
Defende-se, aqui, que a razão comunicativa é incapaz de resolver os problemas
sociais derivados das contradições do sistema capitalista, pois sua fragilidade está na
busca de pretensos consensos. Com efeito, ela é insuficiente para desestabilizar a
267
lógica perversa do capitalismo, isto é, não ataca a razão do capitalismo, nem mesmo
sua estrutura.
Não é pela prática da comunicação entre cidadãos (politicamente articulados),
baseados em seus argumentos racionais, que alçaremos a práxis de uma
transformação social.
Mesmo em países que oferte um nível elevado de educação, a obtenção de
consensos é ilusória. Um exemplo disso, é o que está acontecendo na União Europeia:
os Estados membros apresentam saídas muito divergentes (na busca de resolver o
impasse da crise), cada qual defendendo medidas econômicas favoráveis
internamente, sem ceder a uma decisão política consensual integradora.
Por mais que os cidadãos busquem o entendimento, por mais que fundamentem
suas ações comunicativas de modo racional, se não se articularem para desferir
ataques ao capitalismo, suas iniciativas reduzir-se-ão a um mero “ativismo político”
reformador, aquém da transformação, isto é, aquém do horizonte da revolução.
A razão comunicativa é um projeto romântico, demasiadamente abstrato, muito
longe da realidade concreta (e o que dirá da nossa realidade latino-americana,
desigual, tensa e contraditória)
O capitalista não entrará em consenso com o trabalhador, enquanto houver a
luta de classes, ou, enquanto a razão instrumental imperar, posto que esta (razão
instrumental) nada mais é que “a própria razão capitalista”, isto é, a racionalidade do
lucro e da expropriação da mais-valia.
A ciência e a técnica, acabam tornando-se a base legitimadora do sistema
capitalista, porque “mascara o conflito de classes e silencia as reivindicações” por um
sistema político mais equânime.
A relação entre a ciência e a técnica, com dominação econômica e política, no
capitalismo moderno, revela os interesses das classes dominantes. Ademais, a
268
transformação da ciência e da técnica em “forças produtivas” contribui na alteração das
“formas de legitimação do poder”.
Os conflitos de classe, as lutas políticas para modificar a ordem social são
“silenciadas em nome do bom funcionamento da economia que promove – através do
Estado – o “bem-estar de todos”.
As necessidades de justificação do Estado são reduzidas diante do crescimento
econômico: enquanto os cidadãos estiverem com seus empregos garantidos, ou,
enquanto estiverem comprando e vendendo, as tensões sociais são aliviadas e o
Estado desprende-se do ônus de justificar-se. Assim pensa Habermas.
A redução da dimensão política da vida em meras questões técnicas, deve ser
criticada.
Habermas também sustenta que a política neoliberal e a globalização da
economia, têm agravado o problema das injustiças sociais. O problema da crise
econômica atual deve-se aos atos irresponsáveis de uma prática neoliberal.
A transferência do poder de decisão para os mercados, medidas de
desregulamentação, por exemplo, só agravarão as injustiças sociais.
A visão habermasiana ataca, por exemplo, a banalização das privatizações,
demonstrando que, a sociedade capitalista, deve trilhar por outros caminhos
socialmente mais justos, mais democráticos e inclusivos do ponto de vista das relações
humanas.
No âmbito do direito internacional, ao referir-se a uma sociedade mundial, alega
que os sistemas comunicacionais e os mercados criaram um vínculo global. Os
cidadãos dos Estados nacionais, na qualidade de membros, podem compartilhar seus
riscos.
Por outro lado, a globalização questiona os pressupostos essenciais do direito
público internacional em sua forma clássica, a soberania dos Estados e as separações
agudas entre política interna e externa.
269
Sobre os impactos da crise econômica na sociedade, Habermas demonstrou que
o conservadorismo neoliberal tem defendido a internacionalização do capital e do
Estado.
A desregulamentação neoliberal dos mercados de capital, tem deslocado a
centralidade da tomada de decisões para outras instâncias, reduzindo o papel decisório
dos Estados nacionais (entretanto, os Estados nacionais não estão totalmente inertes,
nem apáticos, como foi demonstrado na última parte do desenvolvimento da tese).
O sistema internacional entrou em colapso, e a crise econômica mundial, tem
produzido fortes impactos na sociedade: outrossim, a crise do capitalismo tem gerado
muitas injustiças sociais, e, os mais afetados são os países periféricos.
Entretanto, o escândalo de uma injustiça social (scandalous social injustice), é o
que mais tem preocupado Habermas, pois os grupos sociais mais vulneráveis terão que
suportar os impactos dos custos socializados em decorrência da falência dos mercados.
Ao contrário dos acionistas, a massa vencida pela globalização arcará com os
prejuízos do “dinheiro vivo”.
Na visão habermasiana, o agente responsável pela promoção do bem comum é
a política, “and not capitalism”.
Sobre o Consenso de Washington (e quanto aos planos de reforma e de ajuda
às economias dos países pobres, financiadas pelo FMI e pelo Banco Mundial),
Habermas concorda com o fato de que esses planos não surtiram os efeitos propostos:
os países ricos ficaram mais ricos, e os pobres mais pobres (as zonas de pobreza
cresceram diante de nossos olhos).
Entende que a atual crise, nos torna “novamente conscientes dessa carência”.
Desde o início da era moderna, o mercado e a política tiveram de ser
“repetidamente equilibrada a fim de preservar a rede de relações de solidariedade entre
os membros de comunidades políticas”.
270
Também elucida que, os Estados nacionais, devem “entender-se cada vez mais
como membros da comunidade internacional - mesmo que atuem em seu próprio
interesse”.
Denuncia a contraditória política constitucional da União Europeia. Primeiro,
porque se trata de uma organização supranacional sem constituição própria, baseada
“em contratos do direito público internacional”, e segundo; porque a União Europeia não
é um Estado, “no sentido de um Estado constitucional moderno, baseado no monopólio
do poder (poder de império)”.
Ademais, os órgãos executivos da Comunidade derivam sua legitimação da
“legitimação dos governos dos Estados-membros”.
Assim, na visão habermasiana, até nos dias de hoje, faltam pressupostos reais
de uma formação da vontade dos cidadãos integrada em âmbito europeu.
Para ele, o euroceticismo é um sério entrave para a questão da integração,
obstáculo que se estende às discussões que norteiam o direito constitucional, pois leva
ao argumento de que, enquanto não houver um povo europeu suficientemente
“homogêneo”, para formar uma vontade política, não deve haver uma Constituição
europeia.
Enquanto faltar uma sociedade civil integrada em âmbito europeu, uma opinião
pública de dimensões europeias (sobre assuntos de ordem política e uma cultura
política em comum), os processos decisórios supranacionais necessariamente
continuarão se autonomizando em face dos processos de formação de opinião e de
vontade.
A crise econômica atual aponta para o abalo da integração política e jurídica da
União Europeia.
O projeto de adoção de uma Constituição europeia fracassara. Franceses e
holandeses, por exemplo, em referendo nacional, decidiram contra a adoção da
Constituição europeia.
271
Na atual conjuntura, a utopia habermasiana está inviabilizada: uma crença que
gira em torno da “construção de um espaço de polifonia e consenso entre europeus que
se reconhecem como autores e destinatários das leis”.
Mesmo diante das diferenças culturais, aposta no diálogo amigável entre os
Estados membros da União Europeia.
Para Habermas, contudo, este é o momento para que todas as atenções sejam
concentradas sobre o problema da crise, momento em que os atores políticos não
deveriam se esquecer dos “defeitos de construção que estão na base da união
monetária e que poderão ser removidos não só através de uma união política
adequada”.
Aponta para o fato de que, atualmente, os bancos internacionais e os Estados
ricos enfrentam dificuldades para o estímulo do crescimento econômico dos países
pobres, inviabilizando a garantia de uma distribuição justa da renda.
Habermas apela por uma maior transparência e agilidade entre os atores
políticos da Europa, que deveriam “revelar o verdadeiro significado histórico do projeto
europeu”.
Para ele, se nós não questionarmos sobre a finalidade da unificação da Europa
em referendum aberto, em nível europeu, quem decidirá sobre o futuro da União
Europeia será a ortodoxia neoliberal.
Os governos europeus, por exemplo, buscam propostas e alternativas para tratar
da crise dos mercados financeiros, devido à complexidade desses mercados e a
interdependência mundial desse desestabilizado sistema.
Portanto, o pensamento jurídico e político de Jürgen Habermas não é
transformador, e, sim, meramente reformador, pois existem limites na proposta teórica,
no que tange ao aspecto do direito e da cidadania.
272
REFERÊNCIAS
AMADO, J. A. G. Habermas, Los Estados y la sociedad mundial. Revista da Faculdade
de Direito da UFG, GO, v. 32, n. 2, p. 9-27, jan/dez, 2008. Disponível
em:<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/2548/207
2>. Acesso em: 28 out. 2011.
APEL, K-O; ARAÚJO, M; MOREIRA, L (org). Com Habermas, contra Habermas: Direito,
Discurso e Democracia. Landy Editora: São Paulo, 2004.
ARAGÃO, L. M. Habermas: filósofo e sociólogo do nosso tempo. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 2002.
_____________. Razão Comunicativa e Teoria Social Crítica em Jürgen Habermas. 3.
ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2006.
BENEVIDES, M. V. M. Guerra e Paz em Rousseau: Sobre o Projeto da Paz Perpétua.
Internacional Studies on Law and Education, SP, v. 1. Disponível
em:<http://www.hottopos.com/harvard1/rousseau.htm>. Acesso em: 03 nov. 2011.
BITTAR, E. C. B. Teorias sobre a Justiça: apontamentos para a história da filosofia do
direito. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000.
BOAS, O. V. B. F. Legalidade e Legitimidade no pensamento de Jürgen Habermas.
Direito e Democracia Direito: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros,
2008.
CALDAS, C. O; DE ALMEIDA, S. L. A Filosofia do direito de Alysson Mascaro: o
pensamento jusfilosófico crítico brasileiro. Margem Esquerda: ensaios marxistas, São
Paulo, v. 1, n, 16, p. 23-28. p. 145-148.
273
CALDAS, C. O. et al. S. M. Manual de Metodologia do Direito: Estudo e Pesquisa.
Editora Quartier Latin do Brasil: São Paulo, 2010.
CALLINICOS, A. Decifrando a crise global. Margem Esquerda: ensaios marxistas, São
Paulo, v. 1, n, 16, p. 23-28.
DA ROSA, L. F. F. Mercosul e Função Judicial: Realidade e Superação. São Paulo:
Editora LTr, 1997.
DE ALMEIDA, S. L. O direito no jovem Lukács: A filosofia do direito em História e
consciência de classe. Editora Alfa-Omega: São Paulo, 2006.
DUTRA, D. J. V. Razão e consenso em Habermas: a teoria discursiva da verdade, da
moral e do direito. 2. ed. Editora UFSC, Florianópolis, 2005.
FIORI, J. L. Tópicos da agenda internacional: algumas notas críticas. Margem
Esquerda: ensaios marxistas, São Paulo, v. 1, n, 16, p. 29-34.
FREITAG, B. Teoria Crítica: ontem e hoje. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.
FREUND, J. Sociologia de Max Weber. Rio de Janeiro: Forense, 1970.
GALUPPO, M. C. Sobre a legitimação pelos direitos humanos, de Jürgen Habermas.
Em:<http://marcelogaluppo.sites.uol.com.br/sobre_a_legitimacao.htm>. Acesso em 02
out. 2011.
GOYARD-FABRE, S. Os princípios filosóficos do direito político moderno. Tradução
Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
HADDAH, F. Trabalho e linguagem: para a renovação do socialismo. Rio de Janeiro:
Azougue Editorial, 2004.
274
HABERMAS, J. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução Flávio
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. (Vol. I)
____________. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio
Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. (Vol. II)
____________. Teoría de la acción comunicativa: Racionalidad de la acción y
racionalización social. Tradução Manuel J. Redondo. Madrid: Tauros, 1992.
____________. Conhecimento e Interesse. Tradução José N. Heck. Rio de Janeiro:
Zahar, 1982.
____________. Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma
categoria da sociedade burguesa. Tradução Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1984.
____________. Passado como futuro. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.
____________. A crise de legitimação no capitalismo tardio. Tradução Vamireh
Chacon. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999.
____________. Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. Tradução Carlos
Nelson Coutinho. São Paulo: Brasiliense, 1983.
____________. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução George
Sperber e Paulo Astor Soethe. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
____________. The inclusion of the other: studies in political theory. Cambridge, MA:
The MIT Press, 2000.
275
____________. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law
and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
____________. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
____________. Técnica e Ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 2001.
____________. A nova intransparência: A crise do estado de bem-estar social e o
esgotamento das energias utópicas. Revista Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 1,
n. 18, p. 103-114, set. 1987.
____________. O Estado-nação europeu frente aos desafios da globalização. Revista
Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 1, n.43, p. 87-10, nov. 1995.
__________. Europe: The Faltering Project. Tradução Ciaran Cronin. Cambridge: Polity
Press, 2009.
____________. O futuro da Europa entre crise e populismo. Disponível em:
<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/europa-reafirma-o-pacto-mas-tambem-oerro>.
Acesso em: 15. nov. 2011.
FERRAZ JUNIOR, T. S. Estudos sobre o Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito. 2.
ed. São Paulo: Atlas, 2004.
HIRSCH, J. Teoria Materialista do Estado. Tradução Luciano Cavini Martorano. Rio de
Janeiro: Editora Revan, 2010.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
276
LACOSTE, J. A Filosofia do Século XX. Tradução Marina Appenzeller. Campinas:
Papirus, 1992.
MAIA, Antonio C. Jürgen Habermas: filósofo do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
MASCARO, A. L. Crítica da legalidade e o direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin,
2003.
____________. Utopia e Direito: Ernst Bloch e a Ontologia Jurídica da Utopia. São
Paulo: Quartier Latin, 2008.
____________. Filosofia do Direito. São Paulo, Atlas, 2010.
____________. Lições de Sociologia do Direito. 2. ed. São Paulo, Quartier Latin, 2009.
MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em Habermas. 2. ed. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002.
MEDEIROS, C. H. P. A Paz Perpétua: Zum Ewigen Frieden de Kant. Âmbito Jurídico,
RS, v. 1, n. 61, p. [S. l.: s. n.], fev. 2009. Disponível
em:<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&arti
go_id=5941>. Acesso em: 28 out. 2011.
NAVES, M. B. A transição socialista e a democracia. Revista Outubro: Revista do
Instituto de Estudos Socialistas. 1997. Disponível em
<revistaoutubro.com.br/edicoes/04/out4_09.pdf>. Acesso em 08.09.2011
NOBRE, M; TERRA, Ricardo (Org.). Direito e Democracia: um guia de leitura de
Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008.
OFFE, C. Razão e política. Lua Nova, São Paulo, v. 1, n.19, p. [S. l.: s. n.], nov. 1989.
277
_______. Capitalismo desorganizado: transformações do trabalho e da política.
Tradução Wanda Caldeira Brant. São Paulo: Brasiliense, 1985.
_______. Problemas estruturais do Estado capitalista. Tradução Barbara Freitag. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
RAWLS, J. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
REIS, F. A. A Posição Original em Rawls. Disponível em:
<http://www.fflch.usp.br/df/site/publicacoes/primeirosescritos/09.Flavio_Azevedo_Reis.p
df>. Acesso em 12 nov. 2011.
REESE-SCHÄFER, W. Compreender Habermas. 2. ed. Tradução Vilmar Schneider. Rio
de Janeiro: Editora Vozes, 2009.
SILVEIRA, J. T. A cidadania moderna e a centralidade da política. Disponível em:
<http://www.5ebem.ufsc.br/trabalhos/eixo_02/e02b_t006.pdf>. Acesso em 16.12.2011
SOUZA, J. Patologias da modernidade: um diálogo entre Habermas e Weber. São
Paulo: Annablume, 1997.
SOLON, A. M. Teoria da Soberania como Problema da Norma Jurídica e da Decisão.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.
TELLES JUNIOR, G. S. O que é a filosofia do direito. Barueri, Manole, São Paulo.
___________. Direito e Tradição: o legado grego, romano e bíblico. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.
278
ZIZEK, S. Em defesa das causas perdidas. Tradução Maria Beatriz de Medina. São
Paulo: Boitempo, 2011
_________. A situação é catastrófica, mas não é grave. Margem Esquerda: ensaios
marxistas, São Paulo, v. 1, n, 16, p. 23-28. p. 43-62.
VITALE, D; MELO, A. Política Deliberativa e o Modelo Procedimental de Democracia.
Direito e Democracia Direito: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros,
2008.
WOLKMER, A. C. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma Nova Cultura no Direito. 3.
ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001.