Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado - REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E...
Transcript of Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado - REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E...
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO
DIRETORIA – (2006-2008)Presidente: Arno Wehling
1º Vice-Presidente: João Hermes Pereira de Araújo2º Vice-Presidente: Victorino Coutinho Chermont de Miranda
3º Vice-Presidente: Max Justo Guedes1ª Secretária: Cybelle Moreira de Ipanema2º Secretário: Elysio de Oliveira BelchiorTesoureiro: Fernando Tasso Fragoso Pires
Orador: José Arthur Rios
CONSELHO FISCALMembros efetivos: Antônio Gomes da Costa, Marilda Corrêa Ciribelli e Jonas de Morais Correia Neto
Membros suplentes: Joaquim Victorino Portella Ferreira Alves e Pedro Carlos da Silva Telles
COMISSÕES PERMANENTESAdmissão de sócios: José Arthur Rios, Alberto Venancio Filho, Carlos Wehrs, Francisco Luiz
Teixeira Vinhosa e João Hermes Pereira de AraújoCiências Sociais: Lêda Boechat Rodrigues, Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão, Helio Jaguaribe de Mattos, Cândido Antônio Mendes de Almeida e Ronaldo Rogério de Freitas MourãoEstatuto: Affonso Arinos de Mello Franco, Alberto Venancio Filho, Victorino Coutinho Chermont
de Miranda, Célio Borja e Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira BelchiorGeografia: Max Justo Guedes, Lucinda Coutinho de Mello Coelho, Jonas de Morais Correia Neto,
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e Miridan Britto FalciHistória: João Hermes Pereira de Araújo, Maria de Lourdes Viana Lyra, Eduardo Silva, ElysioCustódio G. de Oliveira Belchior, Pe. Fernando Bastos de Ávila e Guilherme de Andréa FrotaPatrimônio: Affonso Celso Villela de Carvalho, Claudio Moreira Bento, Joaquim Victorino
Portella Ferreira Alves, Victorino Coutinho Chermont de Miranda e Fernando Tasso Fragoso Pires
CONSELHO CONSULTIVOMembros nomeados: Augusto Carlos da Silva Telles, Luiz de Castro Souza, Lêda Boechat
Rodrigues, Evaristo de Moraes Filho, Max Justo Guedes e Hélio Leoncio Martins CEPHAS (Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas) Coordenadoras: Maria de Lourdes Viana
Lyra e Lucia Maria Paschoal GuimarãesEditor do Noticiário: Victorino Coutinho Chermont de Miranda
DIRETORIAS ADJUNTASArquivo: Carlos Wehrs
Biblioteca: Lygia da Fonseca Fernandes da CunhaMuseu: Vera Lucia Bottrel Tostes
Coordenadoria de Cursos: Maria de Lourdes Viana Lyra, Mary del PriorePatrimônio: Guilherme de Andréa Frota
Projetos Especiais: Maria da Conceição de Moraes Coutinho BeltrãoInformática e Disseminação da Informação: Esther Caldas BertolettiRelações Externas: João Maurício Ottoni Wanderley de Araújo Pinho
Iconografia: Pedro Karp Vasquez
REVISTADO
INSTITUTO HISTÓRICOE
GEOGRÁFICO BRASILEIRO
Hoc facit, ut longos durent bene gesta per annos.Et possint serâ posteritate frui.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169, n. 440, pp. 9-324, jul./set. 2008.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ano 169, n. 440, 2008
Indexada por/Indexed byHistorical Abstract: America, History and Life - Ulrich’s International Periodicals Directory - Handbook of Latin American Studies (HLAS) - Sumários Correntes Brasileiros
Comissão da Revista - EditoresMiridan Britto Falci (Diretora) - Esther Bertoletti - Maria de Lourdes Viana Lyra - Mary Lucy Murray Del Priore
Correspondência:Rev. IHGB - Av. Augusto Severo, 8-10º andar - Glória - CEP: 20021-040 - Rio de Janeiro - RJ - BrasilFone/fax. (21) 2509-5107 / 2252-4430 / 2224-7338e-mail: [email protected] home page: www.ihgb.org.br© Copright by IHGBTiragem: 700 exemplaresImpresso no Brasil - Printed in BrazilRevisora: Sandra Pássaro
Conselho Editorial Conselho ConsultivoArno Wehling (Presidente)Antonio Manuel Dias FarinhaCarlos WehrsEduardo SilvaElysio de Oliveira BelchiorHumberto Carlos Baquero MorenoJoão Hermes Pereira de AraújoJosé Murilo de CarvalhoVasco Mariz
José MarquesJunia Ferreira FurtadoLeslie BethellMárcia Elisa de Campos GrafMarcus Joaquim Maciel de CarvalhoMaria Beatriz Nizza da SilvaMaria Luiza MarcílioNestor Goulart Reis FilhoStuart SchwartzVictor Tau Anzouategui
Amado CervoAniello Angelo AvellaAntony Russel-WoodAntonio Manuel Botelho HespanhaBraz Augusto Aquino BrancatoCarlos Humberto Pederneiras CorrêaClaude Lévi-StraussEdivaldo Machado BoaventuraFernando CamargoGeraldo Mártires CoelhoJosé Octávio de Arruda Mello
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. - Ano 1-4 (jan./dez.,1839)-.Rio de Janeiro: o Instituto, 1839-
v. : il. ; 23 cm
TrimestralTítulo varia ligeiramenteISSN 0101-4366N. 408: Anais do Simpósio Momentos Fundadores da Formação NacionalN. 427: Inventário analítico da documentação colonial portuguesa na África, Ásia e Oceania
integrante do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro / coord. Regina Maria Martins Pereira Wanderley
N. 432: Colóquio Luso-Brasileiro de História. O Rio de Janeiro Colonial. 22 a 26 de maio de 2006.
N. 436: Curso - 1808 - Transformação do Brasil: de Colônia a Reino e Império
1. Brasil - História. 2. História. 3. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - Discursos, en-saios, conferências. I. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Ficha catalográfica preparada pela bibliotecária Célia da Costa
SUMÁRIOApresentação 7Miridan Britto Falci
I– INÉDITOSAlgumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional 9Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Independência: a visão de “O Conciliador Nacional” 29Marisa Saenz Leme
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX 63Corcino Medeiros dos Santos
II– COMUNICAÇÕESDesenvolvimentismo e Sertão Nordestino: Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene 133Tayguara Torres Cardoso
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe 161Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil 173Magda Maria Jaolino Torres
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do ParaíbaA fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa 191J. C. Vargens Tambasco
O Instituto Histórico e o Marquês de Olinda 213Luiz de Castro Souza
Presidente Emílio Garrastazu Médici e o Instituto (Centenário de nascimento) 215Luiz de Castro Souza
Historiadores do IHGB/Catedráticos do Colégio Pedro II na República 219Vera Lucia Cabana Andrade
HOMENAGEM A MACEDO SOARES
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca • do Palácio do Silogeu Brasileiro 243Nelson de Castro Senra
Macedo Soares, embaixador da geografia 259• Alexandre de Paiva Rio Camargo
Como o Instituto evoluiu sob Macedo Soares• 283Cybelle de Ipanema
José Carlos de Macedo Soares • e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 291Arno Wehling
III– DOCUMENTOSOs cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado 295Cláudia Rodrigues
APRESENTAÇÃO
Nesta terceira revista do ano de 2008 apresentamos três partes.
Na primeira, designada como inéditos, alencamos artigos especiais enviados por historiadores diversos: o ensaio sobre História Constitucio-nal e suas reflexões metodológicas de Joaquin Varela Suanzes-Carpegna, o estudo de Marisa Saenz Leme sobre os conceitos de centralização, fe-deração e confederação contidos no jornal O Conciliador Nacional e o extenso trabalho de síntese sobre a visão que o mundo luso-brasileiro ofereceu a um inglês do início do século xix, trabalho feito pelo sócio Corcino Medeiros dos Santos, especialista desse período .
A segunda parte, denominada Comunicações, apresenta artigos apre-sentados na Cephas (Comissão de Pesquisas Históricas que se reúne às quartas-feiras) ou enviados por sócios mas que se caracterizam por serem menos densos em suas preocupações metodológicas ou informações bi-bliográficas. São pesquisas ou partes de pesquisas ainda em elaboração.
Dentre os inúmeros trabalhos apresentados nas trinta seções anuais da Cephas, que nos chegaram seguindo as normas de editoração e foram posteriormente selecionados por pareceristas, transcrevemos:
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino: Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da operação SUDENE escrito e apresentado por Tayguara Cardoso filha do professor Josué de Castro;
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil, pales-tra de Magda Maria Jaolino Torres;
Presidente Médici e o Instituto bem como O Instituto e o marquês de Olinda, ambos do nosso sócio decano Luiz de Castro e Souza;
O ensaio de Vera Cabana Andrade sobre os Historiadores do IHGB e catedráticos do Pedro II na República;
Quatro estudos sobre nosso estimado e conceituado sócio J. C. Ma-cedo Soares feitos por Nelson de Castro Senra, Alexandre de Paiva Rio Camargo, Cybelle de Ipanema e Arno Wehling onde são destacados as-pectos de sua formação, características pessoais de comando mescladas de amabilidade, seus trabalhos e sua atuação como presidente do IHGB, pesquisador, geógrafo e historiador.
Recebemos também e incorporamos, após julgamento de pareceris-tas, o interessante trabalho de J. C. Vargens Tambasco, historiador e enge-nheiro, sobre a gênese da indústria siderúrgica no vale do Paraíba.
E a interessante pesquisa:
Pedro Augusto e seus contatos com a avó Clementina, duquesa de Saxe, realizada por seu descendente e nosso sócio, Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança.
Finalmente na seção Documentos , especial seção de nossa Revista, juntamos a análise e transcrição que Claudia Rodrigues faz sobre os regu-lamentos e a questão dos Cemitérios no Brasil no século XIX.
Miridan Britto Falci Sócia titular – Diretora da Revista Pós-Doutora em História -Professora Adjunto da UFRJ
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 9
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
I – INÉDITOS
ALGUMAS REFLEXÕES METODOLÓGICAS SOBRE A HISTÓRIA CONSTITUCIONAL1
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna2
Parto do princípio de que a História Constitucional é uma disciplina histórica muito especializada, concebida em boa medida sub specie iuris, que se ocupa do surgimento e desenvolvimento da Constituição do Esta-do liberal e liberal-democrático, independente da forma que adote essa Constituição e de sua posição no ordenamento jurídico, embora tanto essa forma quanto essa posição sejam muito relevantes para a História consti-1 – Uma primeira versão deste artigo foi publicada em setembro de 2007, no nº 8 da revista eletrônica “Historia Constitucional” (http://hc.rediris.es). Antes foi publicado em francês no nº 68 da “Revue Française de Droit Constitutionnel”, outubro de 2006, e em italiano, no mesmo ano, no nº 12 de “Giornale di Storia Costituzionale”. 2 – Catedrático de Direito Constitucional e diretor do Seminário de História Constitucio-nal “Martínez Marina”, da Universidade de Oviedo (Espanha)
Resumo:Neste artigo defino a História Constitucional como uma área da História que apresenta um destacado conteúdo jurídico e que se ocupa da gênese e do desenvolvimento do Estado liberal e liberal-democrático, conforme um conceito axio-lógico de Constituição. Partindo dessa definição, abordo alguns dos problemas que suscitam o estudo histórico das normas e das instituições, assim como das doutrinas e dos conceitos consti-tucionais. A este respeito, insisto na necessidade de não interpretar desde o presente as doutrinas e conceitos do passado, mas sem deixar de ter em conta as categorias analíticas elaboradas pela História Constitucional e pelas disciplinas afins, como a Teoria do Estado e da Constituição. Para que estas reflexões não tenham um caráter de-masiado abstrato, apresento, como argumento, exemplos muito concretos da História constitu-cional comparada, que venho estudando ao longo dos últimos 30 anos.Palavras-chave: Conceito, Método e Fontes da história constitucional.
Abstract:In this article, I define Constitutional History as a History branch, with a strong legal content, which studies the origin and development of the Liberal and Democratic-Liberal state, using an axiological concept of Constitution. From this definition I approach to some of the problems that present the historical study of norms and institutions, and, mainly, the historical study of doctrines and constitutional concepts. I stress the necessity of not to make an interpretation of past doctrines and concepts from the present, however the categories developed by the State and Consti-tutional Theory must be taken into account. With the before mentioned objective, I use some exam-ples from the comparative constitutional history, which I have been studying during last 30 years.
Key words: Concept, Method and Sources of the constitutional history.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200810
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
tucional, como se verá adiante.
Este conceito fundamental e axiológico de Constituição é, a meu ver, o que se deve ter em conta para determinar o objeto da História cons-titucional e para delimitar temporal e espacialmente o constitucionalis-mo como fenômeno histórico destinado a limitar o Estado a serviço das liberdades individuais, cuja data de nascimento pode estabelecer-se na Inglaterra do século XVII.
Entretanto, não irei estender-me agora sobre este conceito de Cons-tituição que, implicitamente, se apresentava no artigo 16 da Declaração dos Direitos de 1789, nem ao conceito que, de forma explícita, se refe-re à doutrina alemã ao distinguir entre Konstitution e Verfassung. Nesta ocasião, vou apenas examinar alguns problemas que suscitam o estudo histórico – e, portanto, a temporalidade – das normas, das instituições e, sobretudo, das doutrinas constitucionais.
Como não desejo que estas reflexões tenham um caráter demasiado abstrato, vou argumentar com exemplos bem concretos da História Cons-titucional, muitos dos quais eu mesmo venho estudando ao longo dos últimos trinta anos3.
1. Duas perspectivas da História Constitucional: a normativo-insti-tucional e a doutrinal
O estudo da história constitucional, tanto quando se trata da nacional quanto da comparada – esta última, infelizmente, menos atendida – pode levar-se a cabo a partir de duas perspectivas distintas: a normativo-ins-titucional e a doutrinal. Do ponto de vista da primeira, a História Cons-titucional se ocupa das normas que no passado regularam as bases ou fundamentos da organização e funcionamento do Estado liberal e liberal-democrático. Assim como das instituições que estas normas articularam:
3 – Na verdade, a concepção de História Constitucional que vou expôr aqui se apóia exatamente nessas investigações. Sendo assim, considero necessário mencioná-las nas notas de pé de página. Contudo, sou bem consciente de que as numerosas autocitações bibliográficas podem ser um tanto cansativas, assim, antecipadamente, peço desculpas.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 11
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
o corpo eleitoral, as assembléias parlamentares, a chefia do Estado, o Governo, a Administração, os juízes e os tribunais4. De acordo com a segunda perspectiva, a História Constitucional apresenta a reflexão inte-lectual que envolveu o Estado liberal e liberal-democrático. Uma reflexão da qual nasceu, não apenas uma doutrina constitucional, mas também um repertório de conceitos. Sobre a diferença entre doutrinas e conceitos voltarei adiante.
Diante do exposto, se supõe que as fontes de estudo, bem como o conhecimento da História constitucional, são muito variadas. Para um es-tudo sob a perspectiva normativo-institucional, deve-se analisar os textos constitucionais – incluídos os projetos que não chegaram a entrar em vi-gor, às vezes, de grande interesse5 –, mas também outros textos distintos do documento constitucional. Aqueles que, pela matéria que regulam, po-dem considerar-se também constitucionais, como os regulamentos parla-mentários ou as leis eleitorais, assim como as convenções constitucionais ou regras não escritas, que resultam essenciais para conhecer o funciona-mento das instituições básicas do Estado, conforme se insistirá adiante.
A partir de uma perspectiva doutrinal, as fontes da História constitu-cional são também muito variadas: os diários de sessões dos Parlamentos, principalmente quando estes possuem um caráter constituinte (válidos também como fonte de interpretação das normas), os folhetos destina-4 – Instituições cuja existência não se restringe às normas que as criaram, nem muito menos às competências que estas lhes atribuem. Neste sentido, enquanto que para o Di-reito Constitucional pode ser mais adequado falar de “órgão” que de “instituição”, para a História Constitucional ocorre o inverso. O conceito de “órgão” – elaborado pela doutrina alemã, de Gerber a Kelsen – põe destaque na “posição constitucional”, no status normati-vo, por exemplo, do Parlamento. Em contraposição, o conceito de “instituição” – que ocu-pa um lugar central na doutrina de Saint Romano e de Maurice Hauriou –, sem descuidar este status, insiste, também e, sobretudo, na sua dinâmica, logo, nas convenções ou regras não escritas, desenvolvidas em uma prática, às vezes, multissecular – as quais mencio-narei adiante –, bem como em um conjunto de funções, simbólicas e representativas, não necessariamente reguladas pelo direito.5 – Como destaco em Proyectos Constitucionales en España, “Revista Española de De-recho Constitucional”, nº 76, janeiro-abril, 2006, pp. 297-304, comentário ao livro de Ignacio Fernández Sarasola, Proyectos Constitucionales en España, Centro de Estudios Políticos Constitucionales (CEPC), Madri, 2004.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200812
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
dos à ação política mais imediata e os artigos publicados na imprensa, a jurisprudência dos tribunais, enfim, as publicações de caráter científico editadas em revistas especializadas, em manuais, tratados e monografias essenciais para historiar a gênese e o desenvolvimento da ciência do Di-reito Constitucional.
Embora seja inevitável que o historiador do constitucionalismo cen-tralize sua atenção em uma dessas perspectivas, o ideal é que aglutine ambas. Prática especialmente obrigatória, quando se estuda o constitu-cionalismo dos países anglo-saxões, onde as doutrinas constitucionais estão mais estritamente ligadas a seu contexto normativo-institucional do que no constitucionalismo da Europa continental, ao menos, nas suas origens. Por exemplo, enquanto o conceito de soberania do parlamento, que sustentou David Hume por meados do século XVIII, era um reflexo do marco jurídico-institucional da Inglaterra de Jorge II6, o conceito de soberania nacional que defendeu Sieyes, em seu ensaio sobre o Terceiro Estado (1789), ou aquele que, sob sua influência defenderam os liberais espanhóis nas Cortes de Cádis, surge fora e contra o ordenamento jurídi-co-institucional vigente, tanto na França de Luís XVI como na Espanha de Fernando VII. Um ordenamento, não obstante, que o historiador deve ter muito em conta para compreender melhor os conceitos constitucionais revolucionários7.
Sem dúvida, não seria condizente com a realidade esquecer a pre-6 – Vide, meu artigo Estado y Monarquía en Hume, “Revista del Centro de Estudios Constitucionales”, nº 22, Setembro-Dezembro, Madri, 1995, pp. 59-90, assim como meu extenso ensaio La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey), “Fundamen-tos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitu-cional”, nº 1. Oviedo, 1998, pp. 87-165. Tradução inglesa: Sovereignity in British Legal Doctrine, em “E- Law, Murdoch University Electronic Journal of Law”, vol. 6, nº3, Se-tembro 1999, http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/suanzes63-text.html; e “His-toria Constitucional”, nº 4, Oviedo, Junho 2003, http://hc.rediris.es 7 – Sobre o conceito de soberania nacional em Sieyes e sobre sua influência nas Cortes de Cádis, me detenho em La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo his-pánico (las Cortes de Cádiz), Centro de Estudios Constitucionales (CEC), Madrid, 1982. Retorno a estas questões em meu livro El Conde de Toreno (1786-1843). Biografía de un Liberal, prólogo de Miguel Artola, Marcial Pons, Madri, 2005.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 13
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
sença, no século XVIII, de um pensamento constitucional britânico anti-historicista (Paine é um bom exemplo)8. Da mesma forma, não se poderia reduzir o pensamento constitucional francês e o espanhol desse século ao jusnaturalista e revolucionário, visto que isso suporia não considerar, no caso da França, o importante pensamento historicista e reformista de Montesquieu até os “notáveis”, com inegável influência no constituciona-lismo mais conservador da Restauração9. No caso da Espanha, o equiva-lente seria desconsiderar o pensamento de Jovellanos, o mais importante teórico da “constituição histórica”, cuja influência neste país ao longo do século XIX foi decisiva10.
Contudo, como característica geral, pode-se afirmar que, enquanto o constitucionalismo historicista, de particular influência na Grã-Bretanha, desejou acomodar às doutrinas constitucionais as normas e instituições que configuravam uma determinada Constituição histórica, mais ou me-nos viva, o constitucionalismo racionalista, cujo protótipo é o francês do século XVIII, pretendeu fazer justamente o contrário: modelar as nor-mas e as instituições constitucionais de acordo com algumas doutrinas desenhadas ex novo previamente e fazendo tabula rasa do direito e das
8 – Sobre Paine, vide, minha monografía Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Madri, 2002, pp. 99 y ss, que acaba de ser traduzida para o italiano com o título Governo e partiti nel pen-siero británico (1690-1832), Giuffrè, Milão, 2007.9 – Vide. meu artigo Constitución histórica y anglofilia en la Francia pre-revolucionaria (la alternativa de los “Notables”), publicado primeiro em VV.AA, “Visión Iberoamerica-na del Tema Constitucional”, Fundação Manuel García-Pelayo, Caracas, 2003, pp. 23-39, e mais tarde no “Giornale di Storia Costituzionale”, nº 9, 2005, pp. 53-62. 10 – Vide. meu artigo La doctrina de la Constitución Histórica: de Jovellanos a las Cor-tes de 1845, “Revista Española de Derecho Político” (REDP), nº 39, Madri, 1995, pp. 45-79. Este artigo foi incluido em meu recente livro Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, Madrid, 2007, prólogo de Francisco Rubio Llorente.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200814
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
instituições vigentes11.
No entanto, para o historiador do constitucionalismo, não é suficien-te confrontar a perspectiva normativo-constitucional com a doutrinal, mais que isso, deve interligar as normas, as instituições e as doutrinas constitucionais com a sociedade na qual se inserem. Essa é uma conexão que lhe obriga a conhecer, ainda que apenas de forma instrumental, a realidade histórica de seu conjunto, sobretudo a política e a intelectual. Voltando aos exemplos antes citados, tanto o conceito de soberania do Parlamento que sustentou Hume como o da soberania nacional que defen-deram Sieyes e os liberais espanhóis em Cádis não podem ser entendidos senão no contexto da luta política e intelectual no qual foram formulados. No caso de Hume, o contexto é a rivalidade com os tories partidários da dinastia deposta dos Stuarts, aferrados à soberania dos reis, e com alguns setores whigs, defensores das teses lockianas da soberania do povo. No caso de Sieyes, o conflito com os “notáveis”, que desejavam manter a soberania do rei, ainda que limitada pelas antigas leis fundamentais da monarquia. Finalmente, no caso dos liberais das Cortes de Cádis, a con-trovérsia com os deputados realistas, agrupados em torno da tese esco-lástica da soberania compartida entre o rei e o reino, e com os deputados americanos que defendiam a soberania das províncias ultramarinas, de acordo com uma curiosa mescla de doutrinas procedentes das Leis de Índias e de Francisco Suárez, do jusnaturalismo germânico (Grozio, Pu-ffendorff) e de Rousseau.
11 – Por isso, o ponto de partida para estudar a história constitucional de uma nação não pode ser a data em que se aprovou seu primeiro texto constitucional. O historiador do constitucionalismo deve estudar, também, as doutrinas constitucionais que o precederam, sem as quais não se compreende plenamente esse texto. A partir desse ponto de vista, a história constitucional dos Estados Unidos não começa em 1787, nem a francesa em 1789, nem a espanhola em 1808. Antes dessas datas, se produziu um debate constitucional que o historiador do constitucionalismo deve conhecer e estudar. No que corresponde ao vín-culo entre doutrinas políticas e história constitucional são interessantes as recentes obser-vações de Alfred Dufour em Considérations inactuelles sur les rapports entre doctrines politiques e histoire constitutionnelle, “Giornale di Storia Costituzionale”, nº 2, 2001, pp. 15-20.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 15
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
2. As normas e as instituições constitucionais: texto e contexto, per-manências e mudanças
Ao estudar uma Constituição – ou qualquer outra norma material-mente constitucional – o historiador do constitucionalismo deve conside-rar que seu objeto de estudo é um direito não vigente. Inclusive, quando analisa uma Constituição histórica ainda em vigor – por exemplo, a bri-tânica ou a norte-americana –, o que deve interessar é sua gênese e seu desenvolvimento, não o resultado que chegou, que é o objeto de estudo do constitucionalista. Porém, não significa que tal metodologia seja um obstáculo para que o estudo da História constitucional também possa ser importante para explicar e compreender melhor o constitucionalismo vi-gente. Se o constitucionalista se pergunta pelo sentido que atualmente cabe dar a esta Constituição, o historiador do constitucionalismo deve questionar-se, antes de tudo, como foi interpretada e aplicada no pas-sado pelos protagonistas da ação política (chefes de Estado, ministros, parlamentares) e pelos diferentes operadores jurídicos (juízes e doutrina cientifica), além de interrogar-se por sua eficácia na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Isso não impede que o historiador do consti-tucionalismo realize, também, sua própria interpretação gramatical, tele-ológica e, sobretudo, sistemática dos textos normativos que estuda, fazen-do relações de alguns preceitos com outros, com o objetivo de desvendar sua lógica interna, o sentido desses textos: a voluntas legis e não apenas a voluntas legislatoris.
No que se refere às instituições, o historiador do constitucionalismo deve esforçar-se por explicar as transformações sobre sua aparente estabi-lidade12. A este respeito, é de especial relevância o estudo das convenções constitucionais mediante as quais foram se modificando as instituições
12 – É conveniente, a este respeito, citar as palavras do grande historiador espanhol do Direito, Francisco Tomás y Valiente: “O problema que o historiador das instituições terá que resolver consiste em descobrir, dentro do longo período de duração das instituições estudada, sua própria dinâmica, seu peculiar ritmo de mudança, apenas perceptível, em geral, se a contempla de pressa ou se pretende-se medir-la com o relógio da histoire evene-mentielle. Mas não existem instituições estáticas, nem imutáveis”. Historia del Derecho e Historia, en Obras Completas, CEC, Madri, 1997, IV, p. 3294.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200816
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
sem que necessariamente se alterassem as normas escritas que as regu-lavam13. A importância das convenções é particularmente relevante na história constitucional da Grã-Bretanha onde, como é bem conhecido, a transferência do poder do monarca a um Gabinete responsável se efe-tivou, sobretudo, frente aos Comuns, desde princípios do século XVIII, mediante um conjunto de convenções ou regras não escritas, sem que se modificasse a legislação aprovada pelo Parlamento, ao menos até começo do século XX. Embora não seja incorreto dizer que, nessa transferência de poder que supôs a passagem da monarquia constitucional à monarquia parlamentária, também interviram os juízes14.
Essas convenções desempenharam igualmente um papel de destaque em outras monarquias européias do século XIX, como a belga. No entan-to – e isso é o que interessa agora –, nem sempre os estudiosos do Direito constitucional destacaram sua importância. O melhor exemplo é o de Bla-ckstone, sem dúvida, o jurista inglês mais influente do século XVIII, que manteve a respeito delas um eloqüente silêncio, contrastando com a ati-tude de Burke. Porém, mais significativo é comprovar que inclusive mui-tos historiadores ingleses passaram ao largo por essas regras não-escritas que transformaram de forma decisiva o acordo constitucional de 1688. Na realidade, com execeção de Hume, essas convenções não figuraram na historiografia britância até princípios do século XIX. Ainda em 1827, por exemplo, Henry Hallam, em seu The Constitucional History of En-gland, continuava afirmando a continuidade constitucional inglesa desde a revolução de 1688 e, ao mesmo tempo, considerava a Carta Magna um documento de igual natureza que o Bill of Rights. Diante dessa atitude,
13 – Entre uma abundante bibliografia, vide., a clássica obra de G. Marshall,Constitutional Conventions, the Rules and Forms of Political Accountability, Oxford, Clarendon Press, 1984, assim como a de P. Avril, Les conventions de la constitution, coll. Léviathan, Paris, PUF, 1997.14 – Ocupei-me do assunto em El constitucionalismo británico entre dos revoluciones (1688-1789), in: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (Coordenador), Modelos constituci-onales en la historia comparada, “Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho público e Historia Constitucional”, nº 2, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2000, pp. 25-96; assim como na obra, já citada, Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 17
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
alguns historiadores românticos, como James MacKinstosh e William Betham, insistiram na mudança constitucional que estava acontecendo na Grã-Bretanha desde 1688, para além de sua aparente continuidade. Não obstante, quem insistiu com mais sagacidade nessa nova perspectiva da história constitucional não foi propriamente um historiador, mas um jurista, hoje esquecido, inclusive pelos próprios ingleses: J. J. Park, em quem se observa tanto a influência de Savigny como a de Comte. Em seu livro The Dogmas of the Constitution, publicado em 1832, Park analisa de forma muito detalhada as transformações constitucionais que foram se produzindo desde a revolução de 1688, denunciando as interpretações tradicionais de Montesquieu, de Holme e, sobretudo, de Blackstone, que foram inspiradas mais na letra do que no espírito da Constituição, mais na “Constituição formal” que na “Constituição real” – uma distinção-chave, sobre a qual voltarei adiante –, o que levava esses autores a reparar na permanência das normas e das instituições, sem dar-se conta da profunda transformação que, em ambas, haviam produzido as regras não-escritas acordadas pelos protagonistas da política15.
No que se refere ao estudo histórico das instituições, convém insis-tir na importância – também na dificuldade – que apresenta o estudo da Coroa, nomen iuris da chefia do Estado monárquico, em várias nações, entre elas Grã-Bretanha e Espanha, cujo titular é o rei ou a rainha. Ao estudar a Coroa, o historiador deve, certamente, descrever sua posição constitucional a partir de seu status normativo e das convenções que se foram impondo com o decorrer do tempo, com o propósito de analisar, por exemplo, sua participação de jure e de facto, na função legislativa ou na direção política do Estado, destacando o uso ou o desuso do veto régio
15 – Vide. meu Estudio Preliminar a J. J. Park, Los Dogmas de la Constitución, tradu-ção para o espanhol realizada por Ignacio Fernández Sarasola, Istmo, Madri, 1999, pp. 16, 30 a 43 y 5, bem como meu citado estudo La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey). Como destaco nesses trabalhos, essa maneira de aproximar-se ao constitucionalismo, no qual um pouco antes de Park também haviam insistido Thomas Erskine e Lorde John Russel, teria depois um brilhante desenvolvimento em âmbito da teoria político-constitucional (Henry G. Grey, Stuart Mill y Walter Bagehot), na Filosofia do Direito (Austin), no Direito Constitucional (Dicey) e na própria História constitucional (Maitland).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200818
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
aos projetos de lei aprovados pelo Parlamento. Porém, mais que isso, é indispensável que se ocupe de mostrar a função integradora da Coroa, na qual insistiu de forma muito profunda Rudolf Smend16, como símbolo e encarnação ou representação do Estado (uma função integradora mais atribuída a um rei do que a um Presidente da República). Assim se requer examinar o papel do monarca no âmago da vida política nacional e sua inserção social, sem esquecer seu papel moderador ou de árbitro das ins-tituições17.
Definitivamente, quando o historiador do constitucionalismo analisa as normas e as instituições, deve destacar suas permanências, mas, tam-bém, suas mudanças. Uma mudança que não se efetiva apenas mediante a reforma do texto constitucional, mas também graças a reformas de ou-tras normas materialmente constitucionais, assim como através das con-venções e em virtude da jurisprudência dos tribunais, sem necessidade de que tenha ocorrido uma reforma expressa de texto normativo algum. Resumidamente, o historiador do constitucionalismo deve ter em conta tanto a Vefassungswandlung quanto a Verfassungänderung, ou seja, as “reformas constitucionais” e as “mutações constitucionais”18.
16 – Vide. Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), tradução espanhola Constitución y Derecho Constitucional, CEC, Madri, 1985, especialmente pp. 73-74, 144-145, 152-154, 160-161, 169-173, 204 y 221.17 – Estas funções simbólicas, representativas e arbitrárias do monarca, nas quais já havia insistido enfaticamente Benjamin Constant, se encontra no artigo 56 da vigente Consti-tuição espanhola, que diz: “O Rei é o Chefe do Estado, símbolo de sua unidade e perma-nência, arbitra e modera o funcionamento regular das instituições, assume as mais altas representações do Estado espanhol nas relações internacionais, especialmente com as na-ções de sua comunidade histórica, e exerce as funções que lhe atribuem expressamente a Constituição e as leis”.18 – A distinção entre os dois conceitos está presente em Laband y Jellinek. Desse último se pode encontrar a versão espanhola, sob responsabilidade de P. Lucas Verdú e C. Förster, Reforma y mutación de la Constitución, CEC, Madri, 1991; mas o clássico livro sobre o tema é o de Hsü-Dau-Lin, Die Vefassungswandlung, Berlin und Leipzig, 1932, tradução espanhola realizada pelos mesmos autores com o título Mutación de la Constitución, Ins-tituto Vasco de Administración Pública, Oñate, 1998.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 19
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
3. Doutrinas e conceitos constitucionais: seu conteúdo jurídico
O estudo histórico das doutrinas constitucionais apresenta proble-mas de diferentes ordens em função do tipo de fontes através das quais elas se expressam. Não é o mesmo caso estudar um folheto destinado à ação política, como Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), de Burke, e La Monarchie selon la Charte (1816), de Chateau-briand, que uma publicação de caráter acadêmico, como a Algemeine Staatslehre (1900), de Jellinek. Os dois folhetos exigem que o historia-dor do constitucionalismo enfatize o ambiente político, enquanto que a publicação acadêmica requer especial atenção ao contexto intelectual e científico. Contudo, nos três textos mencionados, o historiador se encon-tra frente a uma doutrina já elaborada. Não ocorre o mesmo quando se trata de estudar os debates parlamentares, que proporcionam informações essenciais, sobremaneira quando os Parlamentos têm uma natureza cons-tituinte, como a Convenção da Filadélfia, a Assembléia francesa de 1789 ou as Cortes de Cádis. Nestes casos, depois de uma minusciosa leitura dos debates parlamentares, cabe ao historiador reconstituir a doutrina cons-titucional que neles se apresenta. Nessa tarefa é importante agrupar os membros dessas Assembléias em “tendências constitucionais” (que não coincidem necessariamente com os partidos políticos), de acordo com as propostas que defenderam com relação à organização do Estado e de suas relações com a sociedade. Algumas propostas que configuram autênticos “modelos constitucionais” em contraposição, que o historiador também deve examinar19.
19 – De acordo com os conceitos histórico-constitucionais de “tendências” e “modelos”, estudei as doutrinas defendidas nas Cortes de Cádis em meu citado livro La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Igual análise realizei sobre a As-sembléia francesa de 1789 em Mirabeau y la monarquía o el fracaso de la clarividencia, “Historia Contemporánea”, nº 12, Bilbao, 1995, pp. 230-245. Também utilizo o conceito de “modelo constitucional” em Las cuatro etapas de la historia constitucional compa-rada, que serviu de Introducción do livro Textos básicos de la historia constitucional comparada, CEPC, Madri, 1988, pp. XVII-XXX. Este conceito também me valeu para pensar e coordenar o livro coletivo, já citado, “Modelos constitucionales en la historia comparada”. Por último, utilizo o conceito de “modelo” em La construcción del Estado en la España del siglo XIX una perspectiva constitucional), “Cuadernos de Derecho Pú-blico”, nº 6, Janeiro-abril, 1999, pp. 71-81. Este último, um artigo que foi incluido no meu citado livro Política y Constitución en España (1808-1978).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200820
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
Dentro das doutrinas constitucionais, interessa particularmente ao historiador examinar os conceitos que se podem formular, de maneira direta ou implícita. Uma coisa é a doutrina constitucional, por exemplo, de Burke, de Chateaubriand e dos “patriotas” franceses de 1789; outra, distinta, são os conceitos de “Constituição”, “monarquia” e “partido polí-tico” que estes autores e estas tendências sustentaram. As doutrinas cons-titucionais se compõem de um conjunto mais ou menos sistemático de idéias em torno da organização do Estado, elaboradas por um autor ou uma “tendência constitucional”. Os conceitos constitucionais são muito mais precisos e concretos, se refletem em um termo ou uma palavra e sua paternidade é muito mais variada, posto que podem ser formulados por todos os protagonistas da vida política e jurídica: monarcas, ministros, parlamentares, juízes, publicistas e professores. Além disso, se expressam por meio de uma enorme variedade de fontes, como os textos normati-vos, as atas de um Conselho de ministros, os discursos parlamentares, a jurisprudência dos tribunais, a imprensa e os folhetos políticos, os manu-ais acadêmicos, as enciclopédias e os dicionários, inclusive documentos anônimos, como panfletos clandestinos.
As doutrinas e os conceitos constitucionais podem ter um maior ou menor conteúdo jurídico. Desse ponto de vista, é preciso distinguir entre os países anglo-saxões ou de common law e os europeus continentais. Nos primeiros, a reflexão intelectual sobre o Estado constitucional está mais próxima do ordenamento jurídico, às vezes, formalmente muito es-tável, como na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Os já citados Com-mentaries, de Blackstone, de grande influência também do outro lado do Atlântico, são, a este respeito, paradigmáticos. Por outro lado, nos países anglo-saxões, a juridificação, isto é, a transformação jurídica das doutri-nas e dos conceitos constitucionais, se deve em grande medida ao fato de que os juízes são autênticos criadores do direito – também do direito constitucional – e não seus meros intérpetres e aplicadores, como ocorre na Europa continental. A Constituição britânica, como se sabe, é, em boa medida, uma judge-made constitution. Por exemplo, ao interpretrá-la e aplicá-la, em matéria de direitos individuais, as sentenças judiciais (seu
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 21
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
ratio decidendi, não os obiter dicta) vão configurando uma doutrina e es-tabelecendo alguns precedentes, aos quais deverão ater-se posteriormente os juízes para resolver casos similares. Nos Estados Unidos, a jurispru-dência da Supreme Court teve um papel decisivo nessa tarefa juridifi-cadora. Basta recordar o conceito de judicial review of legislation, que cunhou o juiz Marshall, presidente desse Tribunal, em 1803, de acordo com alguns preceitos da própria Constituição de 1787. Um conceito no qual se concentrava a doutrina – defendida antes por Hamilton em The Federalist – da supremacia da Constituição federal sobre as demais leis e normas do ordenamento, tanto as federais como as dos estados membros da Federação, o que supunha, simultaneamente, consolidar o próprio Es-tado Federal20.
Na Europa continental, ao contrário, a juridificação dos conceitos político-constitucionais começou na segunda metade do século XIX, gra-ças a doutrina científica, embora não se deva, absolutamente, desprezar as decisões tomadas por alguns tribunais, inclusive anos antes. Cito a este respeito um exemplo: a doutrina político-constitucional de Benjamin Constant sobre o poder neutro, exposta durante a Restauração, implica-va, como é sabido, distinguir entre o monarca, como chefe de Estado, e o Governo e, igualmente, entre este e a Administração. Pois bem, tais premissas – nas que insistiram mais tarde Thiers, Prevost-Paradol e Ba-gehot – serviram de base para que o Conseil d’Etat distinguisse, também durante a Restauração, entre os atos jurídicos do Governo e os seus atos políticos. Assim como, mais tarde, também distinguiu a função execu-tiva do Governo de sua atividade política ou extra iuris ordinem, o que resultou decisivo para a formação do Direito administrativo francês e, ao mesmo tempo, para a delimitação do conceito de “função de governo” ou
20 – Sobre o conceito de Constituição como norma suprema me ocupo em Riflessioni sul concetto di rigidità costituzionale, “Giurisprudenza Costituzionale”, Ano XXXIX, fasc. 5, 1994, pp. 3313-3338, mais tarde compilado em Alessandro Pace/Joaquín Varela La rigidez de las Constituciones escritas, CEC, Madri, 1995. Sobre este assunto, vide, também, Roberto Blanco Valdés, El valor de la Constitución, Alianza Editorial, Madri, 1994; e Mauricio Fioravanti, Costituzione, Il Mulino, Bolonia, 1999; tradução espanhola: Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Trotta, Madri, 2000.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200822
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
de “indirizzo politico”, no que insistiria a doutrina constitucional italiana do século XX (Crisafulli, Lavagna, Virga e Mortati).
Não obstante o protagonismo da tarefa juridificadora das doutrinas constitucionais, na Europa continental, ela não recaiu na jurisprudência, mas sim na doutrina científica. Se, até então, nestes países haviam sido, sobretudo, os filósofos e os políticos que se ocupavam em refletir sobre o nascente Estado constitucional (filósofos e políticos que, sem dúvida, tiveram também um papel decisivo na Grã-Bretanha e nos EUA), a partir da segunda metade do século XIX, já consolidado esse Estado na Europa ocidental, são os juristas e, muito particularmente, os professores de Di-reito os que se ocupam predominantemente dessa reflexão21. As doutrinas e os conceitos político-constitucionais (como o de Rechstaat, cunhado por Von Mhöl, seguindo a Kant e réplica do anglosaxão rule of law) fo-ram sendo lapidados e transformados em doutrinas e conceitos jurídico-constitucionais, ainda que, na Europa, a Constituição carecesse de valor normativo até o século XX. Essa tarefa juridificadora, na qual se enqua-dra a criação da Ciência do Direito Constitucional como um ramo da ciência jurídica, foi impulsionada, muito especialmente, pelo positivismo jurídico, que dominou a reflexão constitucional européia até os anos trinta do século XX. Como resultado dessa tarefa juridificadora, se articularam autênticas “dogmáticas” jurídico-constitucionais desligadas, deliberada-mente, da realidade política e social, objetivando explicar e interpretar o ordenamento constitucional de uma nação. Exatamente como no âmbito do Direito privado se fazia para explicar a propriedade ou a família graças aos conceitos fornecidos, em boa medida, pelo Direito Romano. Em tais perspectivas, se basearam as grandes construções doutrinais de Gerber, Laband e Jellinek na Alemanha, de Orlando na Itália, de Dicey na Grã-Bretanha e, posteriormente, de Esmein e Carré de Malberg na França.
21 – Estes pontos enfatizo em ¿Qué ocurrió con la ciencia del Derecho Constitucional en la España del siglo XIX?, “Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario”, nº 9, 1997, pp. 71-128, Murcia, 1997; y “Boletín de la Facultad de Derecho”, UNED, nº 14, Madri, 1999, pp. 93-168. Este trabalho se encontra no meu citado livro Política y Cons-titución en España (1808-1978).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 23
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
A crise do positivismo jurídico que poderíamos chamar “clássico” – a qual, com todas suas debilidades, se deve à criação do moderno Direito Constitucional –, sobretudo a partir dos anos trinta do século passado, di-ficultou a juridificação das doutrinas e dos conceitos constitucionais, que voltaram a reintegrar-se em seu contexto histórico social e político, como defenderam não apenas alguns historiadores, por exemplo, Otto Hintze22 e, sobretudo, Otto Brunner23, como também vários constitucionalistas, entre eles Carl Schmitt24, um dos mais ferrenhos críticos do positivismo jurídico e, em particular, do normativismo kelseniano. Não resta dúvida que a crítica ao positivismo jurídico por parte destes autores (e de muitos outros, como o já mencionado Smend) resulta em boa medida muito útil, ainda hoje, para a História Constitucional, embora não necessariamente o seja para o Direito Constitucional, nem tampouco para a interpretação ju-dicial do direito25. Em qualquer caso, o que agora importa destacar é que os ataques ao positivismo jurídico, embora tenham enfraquecido a tarefa juridificadora da doutrina constitucional, não impediram que essa tarefa seguisse adiante, impulsionada, inclusive, por autores muito distancia-dos do positivismo, como evidencia o mencionado conceito de indirizzo político. É preciso ter em conta, ainda, – e basta, agora, mencionar este fenômeno, pois examiná-lo nos levaria muito longe – que a juridificação dos conceitos político-constitucionais teve novo impulso, na Europa do século XX, graças à articulação dos Tribunais constitucionais em diver-sos países.
22 – Vide Otto Hintze, Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, Göttingen, Vandenhoek und Ruprecht, 196223 – Vide Otto Brunner, Land und Herrschaft, 1939. Sobre o grande historiador austríaco vid. Helmut Quaritsch, Otto Brunner ou le tournant dans l’écriture de l’Histoire consti-tuionnelle allemande, « Droits », nº 22, 1995, pp. 145-162. 24 – Vide, por exemplo, o trabalho de Carl Schmitt, sob a reconhecida influência de Otto Brunner, Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff, en Verfassunsrechliche Aufsätze, 1958. Sobre a atitude de Schmitt ante a História constitu-cional, vid. Fulco Lanchester, Carl Schmitt e la storia costituzionale, “Quaderni Costitu-zionale”, nº 3, 1986, pp. 487-510.25 – Na realidade, é perfeitamente coerente aceitar a validade do positivismo jurídico – inclusive do normativismo kelseniano – no âmbito da Teoria Geral do Direito e do Direito Constitucional, porém, ao mesmo tempo, reconhecer seu escasso ou nulo valor para a História Constitucional.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200824
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
4. A interpretação das doutrinas e os conceitos constitucionais: “pre-sentismo” e “adanismo”
Por último, gostaria de assinalar que, seja qual for a fonte através da qual se expressem as doutrinas e os conceitos constitucionais e com independência de seu maior ou menor conteúdo jurídico, o principal ris-co que deve evitar o historiador do constitucionalismo é o de interpretar essas doutrinas e conceitos desde o presente, em vez de fazê-lo desde a época em que tais conceitos surgiram. Dito em poucas palavras: seu principal risco é o presentismo, erro no qual numerosos constitucionalis-tas vêm incorrendo, pois costumam aproximar-se ao constitucionalismo do passado menos para compreendê-lo e explicá-lo e mais para justificar suas próprias elaborações doutrinais. Assim ocorreu, para citar um ilustre exemplo, com Raymond Carré de Malberg, a meu ver o mais brilhante expoente da Ciência do Direito Constitucional na França. Em sua ex-plêndida e sutilíssima Contribution a la Théorie Générale de l’Etat, ao discorrer sobre o conceito de soberania na Revolução francesa, atribui à doutrina constitucional dessa época uma nítida distinção conceitual entre soberania nacional e soberania popular26, que em realidade não se esta-beleceu com a nitidez e as conseqüências que Carré de Malberg aponta antes da monarquia de Julho27.
O presentismo é a causa de muitos anacronismos, extrapolações e prolepsis ou antecipações ao examinar as doutrinas e os conceitos cons-titucionais. Nesse erro têm incorrido, também, vários historiadores das
26 – Vide Contribution a la Théorie Générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1920-1922, vol 2. pp. 152-197. 27 – Nesse tema insiste Guillaume Bacot em seu estudo Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souverainité nationale, editions du CNRS, Paris, 1985, passim, y sobretudo pp. 14-18, 164-165 y 177-182. Vide, também, Christoph Schönberger, De la souverainité nationale à la souverainité du peuple : mutation et continuité de la Theorie Generale de l’Etat de Carré de Malberg », en « Revue Française d’Histoire des Idées Politiques », nº 4, 1996, pp. 297-316.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 25
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
doutrinas políticas – alguns tão destacados como Otto von Gierke28 –, às vezes, mais atentos ao estudo de um repertório de idéias invariáveis ao longo do tempo, em vez de observar o tempo de tais idéias, ou seja, sua historidade e, portanto, seus diversos sentidos e propósitos. Um perigo contra o qual nos têm chamado a atenção diversos autores, ao longo do século XX, como o mencionado Otto Brunner, codiretor, junto a Reinhart Kosselleck e a Werner Conze, do Diccionario de conceptos históricos básicos en lengua alemana, elaborado de 1972 a 1997, e, sem dúvida, o resultado mais brilhante da Begriffgeschichte, promovida anos antes pela hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e centrada, sobretudo, na proje-ção dos conceitos políticos na praxis social29. Muitas das premissas dessa Begriffgeschichte resultam muito úteis, também, para o historiador dos conceitos constitucionais. O mesmo se pode dizer dos enfoques metodo-lógicos dos integrantes da chamada “Escola de Cambridge”, em particu-lar de Quentin Skinner e de J. G. A. Pocock, a quem se deve uma brilhante revisão da história do pensamento político, com o propósito de compre-ender melhor o sentido original dos textos do passado e, por conseguinte, das doutrinas que através deles se expressam. Se Skinner, como é sabido, é criador do “método intencionalista”, com sua ênfase menos na doutrina em si e mais no como e no para que da mesma, Pocock tem insistido na
28 – Um autor que, pese sua radical crítica ao positivismo jurídico, sobretudo ao de La-band, somente se interessa pelas circunstâncias históricas dos conceitos que estuda, o que resulta incorrer em exageradas extrapolações, por exemplo, quando utiliza os conceitos de Estado e de soberania no contexto medieval, como faz em sua conhecida – e, por ou-tro lado, explêndida – obra Die publicistichen Lehren des Mittelalters (1881), traduzida para inglês por Maitland em 1900. Insisto nesse ponto em Política y Derecho en la Edad Media, comentário ao livro de Von Gierke, Teorías políticas en la Edad Media, “Revista Española de Derecho Constitucional”, nº 49, 1977, pp. 335-351. Madri, 1995. 29 – Sobre esta escola historiográfica, vide em língua espanhola, Joaquín Abellán, Histo-ria de los conceptos (Begriffsgeschichte) e historia social. A propósito del diccionario Geschichtliche Grundbegriffe, en S. Castillo (coor.), La historia social en España. Ac-tualidad y perspectivas, Madrid, Siglo XXI, pp. 47-64; José Luis Villacañas e Faustino Oncina, Introducción a Kosselleck, Reinhart, y Gadamer, Hans-Georg, Historia y Her-meneútica, Paidos, Barcelona, 1997, pp. 9-53.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200826
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
análise dos conceitos no âmbito das linguagens ou dos discursos político que configuram um determinado paradigma interpretativo30.
Seguindo todos os exemplos – e alguns outros que poderiam também ser válidos para o historiador das doutrinas constitucionais, como os da escola francesa de Fontenay/Saint Cloud, impulsionadora da Laboratoi-re de Lexicométrie et Textes Politiques –, o historiador do constitucio-nalismo deve ter sempre presente, ao estudar as doutrinas e conceitos constitucionais, que seu objetivo fundamental é explicar sua gênese e seu desenvolvimento, como e para que se criaram, de que forma se interpreta-ram, em perfeita consonância com o contexto político, social e intelectual no qual surgiram. Ainda não deve perder de vista as conexões com outras doutrinas e conceitos anteriores e contemporâneos, tanto nacionais como estrangeiros, assim como o impacto normativo, institucional e intelectual que tiveram em sua época e depois.
Pois bem, tal atitude não deveria entender-se nunca como “carta branca” para se desprezar completamente os conceitos elaborados pela própria História Constitucional, a partir de um processo racionalizador de um objeto de estudo. Ao contrário, o presentismo se substituirá por um adanismo científico insustentável, que converteria o historiador do cons-titucionalismo em uma espécie de Sísifo intelectual, obrigado a carregar e descarregar suas conclusões uma e outra vez, sem incorporá-las a seu pró-30 – No Estudio Preliminar, a tradução espanhola do deslumbrante livro de Pocock, El momento maquiavélico (Tecnos, Madri, 2002), Eloy García expõe os enfoques historio-gráficos deste autor, sua grande influência em diversos âmbitos culturais e lingüísticos, assim como as teses de outros membros da “Escola de Cambridge”, como Skinner, mas também Peter Lasslett e John Dunn. Também é interessante a Presentación de Giussepe Buttà ao estudo de Pocock, La ricostruzione di un impero, Sovranitá británica e fede-ralismo americano, editada por Piero Lacaita Editore, Manduria, Bari, Roma, 1996, pp. IX-XXV, para o Laboratório de Storia Costituzionale “Antoine Barvave”, de Macerata. Uma crítica importante a tese da Escola de Cambridge, e também da Begriffgeschichte, no recente trabalho de Lucien Jaume El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas, “Ayer”, nº 53, Madrid, 2004, pp. 109-130. Em geral, também é muito inte-ressante este número de “Ayer”, dedicado monograficamente a “História dos Conceitos” e editado por Javier Fernández Sebastián e Juan Francisco Fuentes, assim como o nº 134 da “Revista de Estudios Políticos”, dedicado de forma monográfica a “Historia, Linguagem e política”, apresentado pelo mencionado Fernández Sebastián.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 2008 27
Algumas reflexões metodológicas sobre a História Constitucional
prio acervo terminológico. Dito de outra forma: a necessidade de situar os conceitos constitucionais em seu tempo não deve supor que a História Constitucional, como todo saber que pretenda explicar cientificamente uma parcela da realidade, renuncie a formular seus próprios conceitos ou categorias analíticas quando examina ou expõe seu objeto de estudo, como o “modelo constitucional” ao qual me referi anteriormente, que é importante para sistematizar a História Constitucional, tanto comparada como nacional31.
Por outro lado, o historiador do constitucionalismo, ao estudar os conceitos constitucionais do passado, deve “traduzi-los” para a lingua-gem atual, sem que isso seja impedimento para explicar uma realidade anterior, devendo sempre deixar claro o caráter retrospectivo dessa apli-cação. A este respeito, me parece oportuno enfatizar que o historiador do constitucionalismo, seja qual for sua procedência acadêmica, deve possuir uma sólida formação em Teoria da Constituição. Um saber que se pode definir como uma espécie de Direito constitucional comum e ge-ral, elaborado a partir do exame de vários e diversos odenamentos cons-titucionais, vigente ou não. Tal saber pode se ocupar, para citar alguns exemplos, do conceito de Constituição, das funções que esta cumpre no ordenamento, de sua elaboração, interpretação e reforma, assim como de sua defesa e garantia. Da mesma maneira que um historiador da medi-cina ou da economia deve dominar com habilidade os conceitos que lhe oferecem as ciências médicas e as econômicas, um historiador do cons-titucionalismo deve conhecer com precisão os conceitos elaborados pela Teoria da Constituição, tais como o conceito de “rigidez constitucional” ou o já mencionado conceito de “mutação constitucional”, que são muito úteis – em realidade imprescindíveis – ao historiador do constitucionalis-31 – E também o conceito de “príncipio estrutural”, como conjunto de preceitos que de-limitam a forma de Estado, um conceito de uso muito difundido entre os constituciona-listas espanhóis atuais e que eu mesmo tenho utilizado para classificar as constituições históricas em meu país e para encaixar nelas a vigente de 1978, ao resultar mais precisa que a habitual dicotomia “constituições conservadoras” e “constituições progressistas”. Vide La Constitución de 1978 en la historia constitucional española, “Revista Española de Derecho Constitucional”, nº 69, set./dez. de 2003, pp. 31-67. Agrego este trabalho em meu citado livro Política y Constitución en España (1808-1978).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):09-28, jul./set. 200828
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
mo, embora este deva utilizá-los com muito cuidado, deixando claro sua origem e procedência.
Um exemplo prático – com o qual terminarei estas reflexões – pode ajudar a entender melhor o que q Costantino Mortati que a desenvolveria com brilhantismo em 194032. Pois bem, esta distinção resulta de extraor-dinária importância para analisar o debate constitucional que ocorre, que-ro dizer nesta última observação. A distinção entre “Constituição formal” e “Constituição material” foi formulada por J. J. Park de forma explícita no livro antes comentado, The Dogmas of the Constitution33, embora te-nha sido o constitucionalista italiano u na Grã-Bretanha durante o século XVIII e que circulou em grande medida entre os defensores da Constitui-ção formal (Bolingbroke e Blackstone, entre outros). Da mesma forma como havia delimitado Loke imediatamente depois da revolução de 1688 e os defensores da Constituição material (como Walpole e Burke), que havia se desenvolvido ao longo dessa centúria mediante convenções, na qual destacavam como elemento central dessa Constituição o bipartida-rismo. É cientificamente lícito que o historiador utilize esta distinção con-ceitual, nascida em 1832 e desenvolvida em 1940, para analisar e expor a história constitucional britânica do século XVIII? Certamente que sim, ao ser um útil instrumento analítico para estudar essa época. Naturalmente, advertindo que é posterior à época que estuda.
32 – Vide Costantino Mortati, La Costituzione in senso materiale, 1940, reimpressa em 1998 por Giuffre, Milán, 1998, com uma premissa de Gustavo Zagrevelsky. Tradução espanhola: La Constitución en sentido material, CEPC, Madrid, 2000, Estudo Preliminar e tradução de Almudena Bergareche Gros. 33 – Vide meu citado Estudio Preliminar a J. J. Park, Los Dogmas de la Constitución, pp. 27 y ss, também o último capítulo de meu livro Sistema de Gobierno y partidos políticos, de Locke a Park, antes mencionado.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 29
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
SOBERANIA, CENTRALIZAÇÃO, FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO NO DISCURSO JORNALÍSTICO DA
INDEPENDÊNCIA: A VISÃO DE O CONCILIADOR NACIONAL1
Marisa Saenz Leme2
A questão das hegemonias regionais1.
Na avaliação dos comportamentos políticos apresentados pelas eli-tes regionais no processo de Independência do Brasil, com manutenção da unidade territorial, evidencia-se progressivamente a importância de se aprofundar o conhecimento das suas dissidências internas. Por intermédio desse foco de observação, dilui-se a contraposição linear entre diferentes projetos regionais, para se recompor um todo mais matizado, em que, a par de comportamentos que adquiriram maior visibilidade como expres-são das elites locais, sobressaem outras visões, regionalmente dissidentes.
1 – Este artigo resulta do aprofundamento de um trabalho apresentado no XXIV Simpó-sio Nacional de História da ANPUH e publicado nos Anais eletrônicos do conclave, sob o título: “Dissidências regionais e articulações nacionais nos projetos da Independência: O Conciliador Nacional em Pernambuco”.2 – UNESP - Faculdade de História, Direito e Serviço Social - Campus de Franca - De-partamento de História
Resumo:O presente artigo problematiza as concepções subjacentes às lutas políticas que se travaram no Brasil após a Revolução do Porto, quando, com o fim da censura, a imprensa emergiu também nas províncias, dando ensejo à formulação de di-ferentes projetos para o Brasil. Especificamente, aborda-se a província de Pernambuco em que, apesar da visibilidade adquirida pelas elites que se opunham ao centro político em constituição no Rio de Janeiro, desenvolveu-se um importan-te segmento com posturas favoráveis à centra-lização, contrapondo-se aos que se intitulavam federalistas.
Palavras-chave: Soberania, pacto político, mo-nopólio da violência.
Abstract:The present article lays out the concepts under-lying the political struggles that were engaged in Brazil after the Revolution of Porto, when with the end of censorship, the press also emerged in the provinces, giving voice to formulation of different projects for Brazil. Specifically, the province of Pernambuco is treated, where des-pite the visibility acquired by the elite who op-posed the political center being created in Rio de Janeiro, an important segment was developed which had a stance favorable to centralization, opposing the so-called federalists. Key words: Sovereignty, political pact, mono-Sovereignty, political pact, mono-poly on violence.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200830
Marisa Saenz Leme
Como hipótese geral, tem-se que segmentos de elite de uma determinada região formularam propostas articuladas, ou com possibilidade de articu-lação, com as concepções das elites, ou segmentos das elites, de outras regiões. Propostas essas com princípios, perspectivas e interesses opostos aos dominantes nas províncias de origem dos proponentes. Elucidar essa ampla matização de posicionamentos, conforme se observa pela atual his-toriografia sobre o período, é fundamental para se compreender o proces-so de Independência e a primeira formação do estado no Brasil.3
De modo particular, as considerações acima se confirmam na análise das posturas políticas observáveis em Pernambuco no período da Inde-pendência. De acordo com o que já fora bem relatado na historiografia do século XIX e início do século XX, em autores como Varnhagen e Oli-veira Lima4, quando da Revolução do Porto, Pernambuco se subdividia em interesses internos que passaram a se opor com violência. Da mesma forma, na historiografia recente, Marcus Carvalho enfatizou essa divisão, em importante trabalho envolvendo a temática. Por sua vez, Evaldo Ca-bral de Mello a expôs claramente ao enfocar a Independência do Brasil sob a ótica do que se passou em Pernambuco e sua área de abrangência política, tendo já anteriormente Denis Bernardes desdobrado a questão, com foco privilegiado no período que se estende da Revolução do Porto
3 – Para um panorama recente da complexidade das temáticas que envolvem o processo de Independência, entre outros fatores, com a manutenção da unidade territorial, vide: JANCSÓ, István (org.). Independência: historia e historiografia. São Paulo: HUCITEC/FAPESP, 2005; MALERBA, Jurandir (org.) A independência brasileira: novas dimen-sões. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 4 – Respectivamente: História da Independência do Brasil. 3a. ed.: São Paulo: Melhora-mentos, 1957; O movimento da Independência (1821-1822).Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1989.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 31
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
à proclamação da Independência. 5
Ainda assim, genericamente, a visibilidade política da província per-maneceu associada à sua oposição ao centro político do Rio de Janeiro, marcadamente expressa na Revolução ocorrida em março de 1817, contra o governo joanino instalado nessa cidade e, após a Independência, na Con-federação do Equador, que, em junho de 1824, eclodiu contra o Império brasileiro, organizado pela carta constitucional outorgada na seqüência da dissolução, em novembro de 1823, da Assembléia Geral das Províncias do Brasil. De um modo geral, pela falta de visibilidade da divergência in-terna, esses movimentos parecem ter redundado de concepções unitárias no que se refere à relação da província com o centro, no sentido da au-tonomia, aparecendo os elementos divergentes como agentes do governo central, com pouca expressão nas relações da sociedade local.
Evidencia-se, porém, a existência em Pernambuco de importantes formas de pensamento centralizador, apresentadas no período que medeia a chegada na província das notícias da Revolução do Porto, em janeiro de 1821, e o conhecimento, três meses depois de ocorrido, do fechamento da Constituinte por D. Pedro. Esse período é especificamente importan-te para a compreensão dos conceitos em jogo, pois o ato autoritário do fechamento da Constituinte confunde as avaliações entre projetos mais autonomistas __ tradicionalmente considerados liberais mais radicais ou, quiçá, republicanos __ e os mais centralizadores, considerados por vezes como absolutistas ou, no limite, antiliberais.
Teoria e prática política coadunando-se, a diferentes formas de pen-
5 – Para a bibliografia referida, vide: CARVALHO, Marcus J. M. de. “Cavalcantis e cavalgados: a formação das alianças políticas em Pernambuco, 1817-1824”. Revista Bra-sileira de História, vol. 18, no. 36, 1998; MELLO, Evaldo Cabral de. A outra inde-pendência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: editora 34, 2004. BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. O patriotismo constitucional: Pernambuco, 1820-1822. São Paulo: HUCITEC/FAPESP;Recife: UFPE, 2006 (trabalho resultante de tese de doutorado defendida em 2001). Com o objetivo de esclarecer a Revolução Praieira de 1848, a divergência interna em Pernambuco também foi claramente exposta em MAR-SON, Isabel. O Império do Progresso: a revolução praieira em Pernambuco (1842-1855). São Paulo: Brasiliense, 1987.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200832
Marisa Saenz Leme
sar corresponderam disputas internas à Província no período, com con-seqüências diretas para a composição das Juntas de governo e depois Governos Provisórios locais, formados a partir da revolução do Porto e estendendo-se pela Independência. Disputas que também se refletiram no grau de efetiva liberdade de imprensa, muitas vezes perseguida e reprimi-da pelo grupo local no poder.
Nesse contexto, parcela das elites dissidentes do que se apresentou como discursivamente hegemônico em Pernambuco se dirigiram prefe-rencialmente ao centro político em formação no Rio de Janeiro e às pro-postas formuladas pelos paulistas que, embora também com divergências internas, haviam se tornado importante referência para os projetos uni-tários, dada a coesão, na feliz expressão de Oberacker, da sua “política externa”.6
O direcionamento centralizador de uma parcela da elite pernambuca-na teve expressão fundamental nas matérias do periódico O Conciliador Nacional, exatamente nesse período de formulação e debate de projetos alternativos para o Brasil em formação, concebidos entre 1821 e 1824. A análise das proposituras do jornal permite desvendar um tipo de pensa-mento que, embora minoritário no discurso jornalístico, desenhou-se com clareza e consistência no sentido da centralização, de modo perfeitamente compatível com o ideário liberal.
2. O Conciliador Nacional no debate na imprensa pernambucana
Como se sabe, em função da liberdade obtida no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves com a Revolução do Porto, desabrochou a imprensa em algumas partes do Brasil, destacando-se nesse sentido, além do Rio Janeiro, as Províncias da Bahia e de Pernambuco. De modo na-tural, num primeiro momento espelharam-se nesses pequenos jornais os posicionamentos daqueles mais vinculados, quer à defesa do liberalismo, tal qual se apresentava em Portugal, quer à defesa, em última instância,
6 – Para tanto, vide: OBERACKER JR., Carlos H. O movimento autonomista no Brasil. A província de São Paulo de 1819 a 1823. Lisboa: Cosmos, 1977.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 33
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
do absolutismo e da situação colonial, ainda que com a proposta de re-formas.
Mas, após o “Fico”, o sentido principal do embate verificado na im-prensa “brasileira” adquiriu nova direção, pois vinculou - se às diferenças entre projetos para o Brasil, já num campo que hoje se percebe como es-pecificamente liberal. Observa-se que, em decorrência dos acontecimen-tos do ano de 1822 – que, a partir do “Fico”, afirmaram sucessivamente a autonomia da ex-colônia, redundando na convocação da Assembléia Geral das Províncias do Brasil, em 3 de junho daquele ano – a dimen-são absolutista/colonial foi-se minimizando no espectro político interno, modificando-se significativamente a problemática da inserção do Brasil no contexto político da época. Se as diferenças entre os projetos elabo-rados nesse período levaram a avaliações em que se imputava às con-cepções centralizadoras, em contraposição às descentralizadoras, o teor absolutista/autoritário, a atual revisão historiográfica, ao se desvencilhar de anacronismos e retomar o sentido do “ser liberal” no início do século XIX, impõe a reavaliação, doutrinária e política, dos projetos então em curso, em face dos acontecimentos do período.7 Saliente-se: aconteci-mentos esses diversamente vivenciados nas diferentes partes do Brasil.
Tomando-se a ação política em dimensão provincial, em Pernambu-co, após a Revolução do Porto, desenvolveu-se acirrada luta contra o Go-vernador Luís do Rego, general português representante do reformismo absolutista, que assumira a presidência da Província após a Revolução pernambucana de 1817 e mantivera-se no poder, formando e presidindo a junta de governo criada em decorrência dos novos ditames liberais ema-7 – Para a revisão historiográfica, no sentido apontado, veja-se especialmente: OLIVEI-RA, Cecília Helena de Salles. A astúcia liberal. IDEM, “O Poder Moderador e o perfil do Estado Imperial: teoria política e prática de governar (1820/1824)” . In: MALATIAN, Teresa; LEME, Marisa Saenz; APARECIDO, Ivan Manoel (orgs.). As múltiplas dimen-sões da política e da narrativa.. Bragança Paulista: EDUSF e ÍCONE, 1999. São Paulo: Olho d´Água, 2003. Com um direcionamento analítico no sentido de reforçar o aspecto autoritário e trazendo um amplo conhecimento, altamente matizado, sobre os diferen-tes projetos políticos então em disputa, veja-se fundamentalmente: NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822).Rio de Janeiro: Revan/ FAPERJ, 2003.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200834
Marisa Saenz Leme
nados de Lisboa. Em oposição à permanência desse governador, consti-tuiu-se na cidade de Goiana, em agosto de 1821, uma junta dissidente e, após lutas armadas e negociações, em outubro de 1821 deu-se a retirada de Luís do Rego, bem como a homologação 8, na Sé de Olinda, e a ins-talação, no Recife, de uma junta eleita, representante das forças locais. Constituída por sete membros e presidida pelo recifense Gervásio Pires, “comerciante de grosso trato, senhor de engenho e um dos rebeldes de 1817“,9 essa junta foi, com exceção de um elemento, “toda composta de gente da terra”. 10 Ainda assim, a exceção disse respeito à nacionalidade, e não aos interesses: tratou-se do Coronel Bento José da Costa, natural de Portugal, mas “identificado com os interesses de Pernambuco pelos laços de família, e pelo seu devotado amor à causa da sua prosperidade e engrandecimento”.11 Ressalte-se que o entendimento de “pátria”, não como local de nascimento, mas de realização da vida, fora amplamente defendido por Frei Caneca.12
O sentido da atuação de Gervásio Pires em relação ao centro político do Rio de Janeiro é objeto de interpretações divergentes. De acordo com Varnhagen, desenvolveu ele uma postura largamente nativista, resistindo às direções emanadas do Rio Janeiro e, embora tenha formalmente aderi-do ao “Fico”, gabou-se de manter “a província segregada” da regência de D. Pedro, não realizando a eleição de dois procuradores para representa-
8 – Recife tornou-se cidade em 1823 e capital em 1827.Para um conhecimento atuali-zado da história de Pernambuco e do Recife nesse período vide: BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça, op. cit.9 – CARVALHO, Marcus J.M.de, op.cit., p.337.10 – LIMA, Manuel Oliveira, op. cit., p. 96. .11 – COSTA, F. A. Pereira da,, Anais Pernambucanos, 1818-1823, vol. VIII, p. 135. Recife, Arquivo Público Estadual João Emerenciano, 1962. De acordo com Marcus de Carvalho, assumiu ele posteriormente posição centrista (op. cit., p. 339). Um ampla visão dos elementos que compunham a junta, integrada basicamente por comerciantes e ele-mentos de inserção econômica urbana, encontra-se em MELLO, Evaldo Cabral de, op. cit., e BERANRDES, Denis Antonio de Mendonça, op. cit.12 – Para tanto, vide: LYRA, Maria de Lourdes Viana. “Pátria do cidadão: a concepção de pátria/nação em Frei Caneca. In Revista Brasileira de História, vol. 18, no. 36, dossiê: Do Império Português ao Império do Brasil.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 35
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
rem Pernambuco no Conselho de Procuradores.13 Com análise em sentido oposto, para Pereira da Costa a deposição de Gervásio Pires, em 16 de setembro de 1822, por uma sedição militar, ocorreu “por insinuações do ministério do Rio de Janeiro”, que teria indevidamente intervindo no go-verno local, mostrando sua face autoritária/absolutista.14 Também Barbo-sa Lima Sobrinho defendeu largamente os posicionamentos de Gervásio Pires.15
Nas avaliações de Denis Bernardes e de Evaldo Cabral não houve vacilação, mas, ao contrário, coerência, no comportamento da Junta. Em parte, os posicionamentos tardariam a se manifestar devido aos proce-dimentos internos, democráticos, de decisão; de acordo com Bernardes, essa junta, no contexto do Brasil da época, “foi a que mais amplamente representou a grande inovação administrativa trazida pelo constituciona-lismo luso-brasileiro: a emergência de um poder administrativo e político local...”.16 A questão da autonomia foi amplamente reforçada por ambos os autores. Conforme Cabral, havia o “objetivo prioritário de assegurar a autonomia pernambucana frente a Lisboa e ao Rio de Janeiro” (grifo do autor)17. Dessa maneira, a instituição do Conselho de Procuradores teria despertado temores de um possível favorecimento de atitudes ”despó-ticas” de D. Pedro, temendo-se, também, o autoritarismo do ministério comandado por José Bonifácio.O sentido da autonomia foi também bas-tante enfatizado por Marcus Carvalho, que realçou, contudo, a oscilação
13 – Op. cit., p.296-7. . Como se sabe, a instituição desse Conselho foi uma medida de caráter jurídico-institucional representando um primeiro passo de centralização política, no sentido da formação de um Brasil autônomo e unitário, mas que, sobretudo nas áreas do atual Nordeste, despertou temores de um possível favorecimento de atitudes ”despóti-cas” de D. Pedro, temendo-se, também, o autoritarismo do ministério comandado por José Bonifácio.14 – Op.cit., p. 319. 15 – Para tanto, vide: Pernambuco: da Independência à Confederação do Equador. Reci-fe: Secretaria Estadual de Cultura. Conselho Estadual de Cultura. 1979.16 – “Pernambuco e sua área de influência: um território em transformação (17280-1824)”. In JANCSÓ, István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: FAPESP/HUCITEC, 2005, p. 401.17 – Op. cit., p. 80.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200836
Marisa Saenz Leme
do dirigente entre os centros políticos em disputa.18
O fato é que a partir da presidência de Gervásio Pires clareou-se o espectro liberal em Pernambuco, surgindo na Província, de um lado, importantes jornais que desenvolveram com muita vivacidade oposição à forma como vinha se compondo o centro político do Rio de Janeiro, jor-nais esses que constituíram a grande maioria da imprensa pernambucana do período. Como se sabe, esses posicionamentos – geralmente vistos como os mais liberais, quiçá “democráticos”, da época – foram com gran-de visibilidade defendidos, na teoria e na prática, sobretudo pelo médico e político Cipriano Barata, por Frei Caneca, e pelos seguidores desses revolucionários. Destacam-se a seguir os principais periódicos situados num campo de oposição ao centro político do Rio de Janeiro, fundados a partir de então.19
Em dezembro de 1821 veio à luz o jornal Segarrega , editado por Filipe Mena Calado da Fonseca, português que participara da revolução de 1817 e da junta de Goiana, sendo, na expressão de Evaldo Cabral, um “órgão gervasista”. 20 Por sua vez, em 1822 surgiram: O Marimbondo, fundado em julho pelo padre José Marinho Falcão Padilha, “lente régio de retórica e poética” do Liceu Pernambucano21; e A Gazeta Pernambu-cana, em setembro, fundada pelo padre Venâncio Henriques de Rezende “republicano separatista que fez parte da Assembléia Geral Constituinte” e, posteriormente, da Confederação do Equador, considerado o “braço
18 – Op. cit., p.348-9.19 – As informações sobre a imprensa pernambucana foram grandemente extraídas de: SODRÉ, Nelson Werneck, A história da imprensa no Brasil.. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966; NASCIMENTO, LUIZ do. História da Imprensa de Pernambuco (1821-1954), vol. IV, Periódicos do Recife – 1821-1850. Recife: UFPE, 1969; MOREL, Marco. Cipriano Barata na Sentinela da Liberdade. Salvador: Academia de Letras da Bahia/Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, 2001.20 – Op. cit., p. 77.21 – SANTOS, Fernando Pio dos. Apontamentos biográficos do clero pernambucano. Recife, Arquivo Público Estadual João Emerenciano, vol. II, 1994. Segundo Nelson Wer-neck Sodré, op. cit., p. 85, atuava na imprensa sob o pseudônimo de Manuel Paulo Quin-tela. O Marimbondo desenvolveu uma postura mais extremista contra o Rio de Janeiro, não correspondendo diretamente às posições dos jornais ligados a Cipriano Barata.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 37
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
direito” de Gervásio Pires. 22 Quando, de acordo com Marco Morel,23 o padre foi para o Rio de Janeiro assumir suas funções de constituinte, essa gazeta passou a ser dirigida por Cipriano Barata que, por sua vez, em abril de 1823, momentos antes da reunião inicial da Assembléia Consti-tuinte, fundará o seu primeiro jornal, Sentinella da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Ainda em julho de 1823, surgiu o periódico Escudo da Liberdade do Brazil, inicialmente redigido pelo padre Francisco Agosti-nho Gomes, que havia sido deputado às Cortes de Lisboa, tendo feito par-te do grupo que se recusou a jurar a constituição nesse fórum promulgada. Depois foi dirigido pelo capitão João Mendes Viana.24 Ainda, no natal de 1823, vinha à luz o primeiro número do Typhis Pernambucano, redigido por Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, em rota de colisão com o go-verno central, que destituíra a Assembléia Constituinte.
Por sua vez, de modo articulado com os recifenses, editava-se na Bahia O Liberal, periódico cuja edição transferiu-se para o Recife no início de 1824. Seu redator, o padre João Batista da Fonseca restaurou também nesse momento a publicação da Sentinella da Liberdade, suspen-sa pela repressão que se abatera sobre Cipriano Barata a partir de fins de 1823. Elemento de prol entre os liberais radicais, nascera nessa cidade, recebera ordens na Bahia e estudara em Coimbra; participou dos movi-mentos de 1817 e de 1824.
Foi nesse campo, ao menos no plano da imprensa, majoritário de oposição ao Rio de Janeiro e aos jornais aí elaborados com posiciona-mentos centralizadores, que se desenvolveu no próprio Recife a atividade 22 – LIMA, Manoel Oliveira, op. cit., p. 203 e SANTOS, Fernando Pio dos, op. cit., p. 727. A Gazeta Pernambucana teve em parte o caráter de órgão oficioso da Junta de Ger-vásio Pires, reproduzindo muitos dos documentos exarados por esse organismo. 23 – Op. cit.,, p.166. 24 – Como é natural, essa imprensa, que genericamente denomina-se no presente texto como “de oposição ao centro político do Rio de Janeiro”, era permeada por diferentes matizes de posicionamentos. Como exemplos, enquanto O Marimbondo foi contra a con-vocação da “Assembléia brasílica”, a Gazeta Pernambucana lhe foi favorável, ainda que em determinadas condições; posteriormente, o Typhis Pernambucano entrou em rota de colisão com essa gazeta, devido à postura a ser adotada em relação à presidência da pro-víncia, após a saída de Medeiros de Albuquerque.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200838
Marisa Saenz Leme
de O Conciliador Nacional, propondo, ao contrário, a aproximação com o governo central. É interessante observar que, no novo contexto político, O Conciliador surgiu, ainda que com pequena diferença cronológica, an-tes do Marimbondo e de A Gazeta Pernambucana. 25
O editor de O Conciliador Nacional foi frei Miguel do Sacramen-to Lopes Gama, lente de Retórica do Seminário de Olinda, de acordo com Nelson Werneck Sodré,26 “uma das figuras mais lúcidas da época”. Destacou-se ele na vida cultural e na política pernambucana durante o Primeiro Império e as Regências, tendo sido várias vezes deputado por Pernambuco e um dos deputados da sua primeira Assembléia Provincial. Depreende-se assim que seus posicionamentos expressaram os desígnios de parcela das elites locais: na referência de Evaldo Cabral de Mello, era ele o “porta-voz da facção unitária”.27 Embora o sentido do seu de-sempenho político, após a Confederação do Equador, seja considerado “reacionário”, “conservador” – assunto de cuja análise não se ocupa o presente texto – na primeira fase da sua exposição pública, assumiu ele posicionamentos efetivamente liberais, em avaliação uníssona de autores como Nelson Werneck Sodré e Luiz do Nascimento.
O periódico surgiu no Recife a 4 de julho de 1822, em formato pe-queno, com quatro páginas, com periodicidade de quinzenal a mensal. Na sua primeira edição circulou continuamente até 11 de outubro de 1823, perfazendo um total de 37 números em 15 meses, numa média de 2 a 3 edições mensais. O período de edição desta primeira fase do jornal ocor-
25 – Com orientação favorável ao Rio de Janeiro, registra-se nesse período em Pernam-buco apenas o periódico Relator Verdadeiro, com 10 números publicados entre 13 de dezembro de 1821 e 25 de maio de 1822 (NASCIMENTO, Luiz, op. cit., p. 28ss). 26 – Op. cit., p. 84.27 – Op. cit., P.86. Monge beneditino, Lopes da Gama pertencia ao clã familiar dos Ga-Monge beneditino, Lopes da Gama pertencia ao clã familiar dos Ga-mas, que atuaram localmente no sentido da centralização. Como sói acontecer, também neste campo, que Evaldo Cabral de Mello designou como “unitário”, existiam distinções internas de comportamento político, envolvendo a relação com José Bonifácio e com os componentes dos governos locais. O que não invalida o sentido geral das concepções centralizadoras, expostas no periódico analisado.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 39
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
reu, portanto, entre a convocação da Assembléia Geral das Províncias do Brasil, em 03 de junho de 1822, e a sua dissolução, em 11 de novembro de 1823. Cobriu desse modo o primeiro período constitucional especifi-camente delimitado ao Brasil. 28
Durante esse período de circulação, o jornal tornou-se de modo cres-cente alvo da crítica dos próceres radicais, crítica também acirradamente feita pelos liberais “radicais” da Bahia, e que, além da imprensa periódi-ca, refletiu-se nas Cartas de Pítia a Damião, de Frei Caneca. 29
Pelas próprias referências mútuas, contudo, tanto Lopes da Gama como os periodistas radicais tiveram um comum tronco liberal, tendo sido O Conciliador Nacional, na sua fundação, bem recebido pelos seus futuros oponentes; conforme um deles, fora ele “um periodico que antes de se admirara[...]”30 .
Embora as diferenças já se apresentassem quando do surgimento dos referidos jornais, o antagonismo implícito nas suas proposituras originais radicalizou-se no decorrer de 1823, sobretudo no 2o.semestre desse ano, quando se colocou em apreciação na Assembléia Geral o projeto de Cons-tituição elaborado pela Comissão para tanto designada.
Nesse cenário, as concepções expostas no Conciliador e as dos “li-berais radicais” foram disputadas com grande alarde verbal. Como bem afirmou Marco Morel, a imprensa no Brasil da época caracterizava-se,
28 – Houve uma segunda fase, em que se retomou a sua publicação, como continuidade da anterior, com a edição do no. 38, em 4-10-1824, portanto, após o esmagamento da Confederação do Equador; seguiram-se então mais 22 números, encerrando-se definitiva-mente a sua edição em 25 de abril de 1825, no número 60. Em pouco mais de 6 meses, foram 22 números, com uma média de cerca de 3 a 4 por mês, quase semanal.29 – Para tanto vide: CABRAL, Evaldo de Mello (organização e introdução). Frei Joa-quim do Amor Divino Caneca, p.246ss.. São Paulo: Editora 34, Coleção Formadores do Brasil, 2001.30 – O Liberal, 03-07-1823.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200840
Marisa Saenz Leme
entre outros fatores, pela
veemência da linguagem [...] O estilo panfletário, pasquineiro, dava a tônica, independente da coloração política. Por tudo isso, a imprensa da primeira metade do século XIX privilegiava o doutri-nário, o propagandístico, em detrimento do factual e descritivo.31
Trata-se de um contexto discursivo em que as diferenças entre os posicionamentos em disputa não ficam claras por si mesmas. Embora fundamental, compreender o que efetivamente separava os entendimen-tos de quem compunha esse campo liberal é tarefa bastante difícil, no emaranhado retórico da luta política de então.
No que se refere às diferenças de composição social, em termos de classe socioeconômica, elas não foram expressivas, pois, nos dois grupos, defendiam-se interesses de comerciantes e senhores de engenho. Por sua vez, divergem os historiadores sobre qual das correntes teria maiores ba-ses sociais. Apontam-se, contudo, diferenças de status e acesso político que importa registrar. Segundo Marcus Carvalho, embora não de modo rígido, pode-se distinguir, na composição dos segmentos “centralistas”, maior antigüidade na formação social, ascendência aos cargos políticos e obtenção de privilégios sociais, durante a existência da América Portu-guesa. Também indicou esse historiador a vinculação dos “centralistas” ao tráfico negreiro,32 o que introduz um importante matiz para o conceito mais geral de classe socioeconômica.33 Em relação à distribuição geográ-fica, Cabral de Mello localiza, embora não de modo rígido, os “unitários” na parte mais ao sul da Província.
Em que possam as diferenças apontadas terem influído na adoção de posicionamentos políticos pelos grupos então em disputa, o presente texto visa a compreensão dos conceitos por eles esposados, remetendo,
31 – Op. cit., p. 169.32 – Para tanto, vide: Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no Recife: 1822-1850. Recife: Editora Universitária UFPE, 1998.33 – Toma-se como base a conceituação marxista de classe socioeconômica, ancorada nas relações sociais de produção.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 41
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
sobretudo, para diferentes concepções de organização do estado, em suas relações com a representação da sociedade inclusiva. Como horizonte teórico, coloca-se a importância das mediações conceituais, de sua rela-tiva autonomia, na expressão dos interesses de classe, ou de segmentos de classe.34
Adequadamente inseridos nas modernas concepções do mundo en-tão contemporâneo, tanto Lopes da Gama como Frei Caneca e Cipriano Barata, no caso das elites políticas pernambucanas, advogavam a noção de”pacto “ como constituinte das bases da nação e do estado. Nesse sen-tido, remetem-se à Constituição em projeto e à Assembléia encarregada da sua elaboração. Esse ponto dos debates é crucial para a percepção das diferenças conceituais entre as referidas correntes políticas.
Os acontecimentos políticos nas matérias de 3. O Conciliador Na-cional 35
Inaugurando-se o periódico num momento de dominação das for-ças por assim dizer “radicais”, deduz-se que a sua fundação decorreu da necessidade de se contrapor uma outra visão àquela aparentemente he-gemônica na política local, nele se desenvolvendo uma postura política de reforço ao governo central. De acordo com Marcus Carvalho, era “o grupo centralista bem organizado em Pernambuco” 36 e, nesse sentido, pode-se considerar o beneditino como um intelectual orgânico37 dessa ca-mada da elite.
34 – Para tanto, vide: REMOND, René. Por uma história política. Rio de janeiro: Editora UGV, 1988; GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. 35 – Entre o Arquivo Público Estadual João Emerenciano, no Recife, e a seção de obras raras da Biblioteca Nacional, os números encontrados e analisados de O Conciliador Na-cional foram: 1(04-07-1822) e 36(04-10-1823), na primeira instituição; 4,5,7,8,9 e10 (co-brindo de 04-09-1822 a 21-02-1823), na segunda. 36 – Op. cit., p. 349.37 – Para o conceito de intelectual orgânico, veja-se GRAMSCI, Antonio. “A formação dos intelectuais” In Os intelectuais e a organização da cultura. 5a. ed.: Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1985.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200842
Marisa Saenz Leme
O próprio título do periódico é indicativo da referida postura, real-çando-se o “nacional”, enquanto os seus oponentes principais vieram a ter títulos em que se enfatizava o local: Gazeta de Pernambuco, Sentinella da liberdade em Pernambuco, Typhis Pernambucano . As concepções do redator do jornal contrapuseram-se claramente aos comportamentos “ger-vasistas”, sobretudo em relação ao que parte da historiografia identifica como as “vacilações” do mandatário entre os dois centros políticos em disputa pelo domínio territorial do Brasil: Lisboa e Rio de Janeiro.
No seu número de inauguração, além do aspecto teórico, O Concilia-dor Nacional definiu também em termos práticos o seu posicionamento no espectro liberal da Província. No plano da ação, avultou inicialmen-te o julgamento da revolução pernambucana de 1817, movimento que, como se sabe, eclodido em março de 1817, contra a dominação da Corte portuguesa estabelecida no Rio de Janeiro, teve dimensões republicanas e regionalistas, durando cerca de dois meses e meio, com a ocupação do Recife e outras vilas da Capitania e a formação de um governo provisório dirigido pelo comerciante Domingos José Martins.38
Referiu - se Lopes da Gama com simpatia ao espírito liberal da revo-lução, por ter ela se realizado em oposição ao absolutismo. Mostrou-se o redator do periódico indignado com o arbítrio e a repressão do governo joanino, mas visualizou no movimento a origem dos problemas políticos de Pernambuco, no momento em que escrevia:
A Revolussam de 1817 he huma d’aquellas epochas memoraveis, que aos olhos do pensador imparcial serve para explicar os feno-menos politicos, que tem apparecido nesta formosa, e malfadada Província.39
Cabe considerar que a revolução de 1817 foi um marco encampado pelas diferentes forças que se opunham na política provincial e o reco-
38 – Para a revolução pernambucana de 1817, veja-se: MOTA, Carlos Guilherme. Nor-deste: 1817: estrutura e argumentos. São Paulo: São Paulo: Perspectiva, 1972. BERNAR-DES, Denis Antonio de Mendonça, op. cit.; MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit.. 39 – O Conciliador Nacional, 04-07-1822.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 43
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
nhecimento da justiça envolvida nas suas reivindicações fora tão geral que, mesmo os que dela não participaram, pediram pela não repressão aos republicanos. Entre outros, destacou-se nesse sentido Hipólito da Costa40, redator do Correio Braziliense, como se sabe, periódico editado desde 1808 em Londres e de fundamental importância no processo político-intelectual da Independência.
Conceitualmente, a divergência de intelectuais como Lopes da Gama e Hipólito da Costa em relação à revolução pernambucana fora quanto à oportunidade da ação armada. Mais tarde, termos semelhantes foram utilizados, conforme informa Marcus Carvalho,41 por Nabuco de Araújo e os participantes do movimento que vieram a aderir ao centro do Rio de Janeiro. Por sua vez, esse historiador assim avaliou o acontecimento:
1817 é fascinante. Mas pelas idéias, não pelas ações. É talvez a menos heróica de nossas ´revoluções´, se é que podemos usar um termo assim tão carregado para um levante militar, apoiado por maçons e padres, do qual se aproveitaram os proprietários contrá-rios ao governo sediado no Rio de Janeiro para cortarem os laços políticos de vez.
Em meados de 1822, o redator de O Conciliador Nacional – que não fora participante dessa revolução – considerou o movimento imaturo e a ele imputou a gênese das discórdias que vicejaram na Província após a Revolução do Porto. De acordo com o intelectual, quando desse último acontecimento, os pernambucanos o saudaram como continuidade do pri-meiro. A generalidade de tal sentimento não impediu, contudo, a irrupção mais profunda das divergências, pois rapidamente dividiram-se eles “em várias facções, fratricidas”. O que em parte decorrera do esmagamento da Revolução de 1817:
40 – Para tanto, vide: LEME, Marisa Saenz. “A revolução pernambucana em perspecti-va intercontinental: a visão de Hipólito da Costa” In AXT, Gunter;D´ALESSIO, Márcia Mansor;JANOTTI, Maria de Lourdes de Monaco.Espaços da negociação e do confronto na política. Porto Alegre: Nova Prova, 2007.41 – Op. cit., p.343.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200844
Marisa Saenz Leme
Os Pernambucanos, que ja haviam saboreado o fructo, bem que prematuro, de hum governo liberal... viram despontar os dias de suspirada fortuna, mas, “...sofregos” por estabelecerem uma “nova ordem”, dividirams-e porem em varios partidos, tendências... (que levaram) à ´guerra civil´[...] Hu Pais, que ao sahir dos sustos de uma comossam geral, vio presos, e cobertos de ferros os mais caros, e distinctos de seos Cidadaons; que vio levar ao patibulo seos Sacerdotes, cujos corpos decapitados eram depois arrastados a caudas de cavallos; que vio suas familias dispersas, e foragidas ... hum Povo no meio do qual se levantou o horrendo Tribunal de Minos, isto he, huma Alsada...que abrio campo à delassam, à vingança, à intriga... devia guardar um fermento de inimisades, e discordias, sobejo a empecer todos os passos de sua regenerassam politica. 42
De acordo com esse redator, a discórdia surgida após novembro de 1820, com a permanência do governador Luís do Rego na nova ordena-ção do poder, só pôde ser contida em suas manifestações armadas em conseqüência da ação do “Soberano Congresso, e de El Rei o Senhor D. Joam VI”, que trouxe a “pacificacao das mazelas”. Cabe frisar, as nego-ciações envolvendo as disputas políticas na Província – polarizadas na Junta de Goiana e na figura de Luís do Rego – foram intermediadas por Lisboa, mediante a ação congressual. Dessa maneira, na visão de Lopes da Gama, ao contrário do que ocorrera em 1817, a ação do governo cen-tral, desta vez agindo por intermédio das Cortes – e, portanto, em espectro amplo, de modo constitucional – senão produziu a harmonia, pelo menos obrigou as facções à paz.
Porém, a seu ver, como sói acontecer quando o fim das disputas ar-madas decorre da ação governamental – e, nesse sentido, realiza-se de cima para baixo, e não em sentido contrário, do amadurecimento e con-córdia das facções em luta para o acordo de estado – o clima político na Província, em meados de 1822, passados alguns meses da posse de Gervásio Dias, continuava ainda bastante tenso, sendo necessário muito cuidado por parte de quem “escrevesse ao publico ou a ele se dirigisse
42 – O Conciliador Nacional, 04/07/1822.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 45
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
oralmente” .43
Na seqüência da posse da junta presidida por Gervásio Pires – lem-bre-se, que se deu em outubro de 1821 – a avaliação de Lopes da Gama sobre os acontecimentos do ano de 1822 coadunou-se com o que se tor-nou hegemônico na forma como se deu a Independência do Brasil. Ava-liou ele de modo extremamente positivo o “Fico”, com ênfase no centro político, formado pelo executivo:
Sendo o nosso parecer, que o Senhor Principe Real nam deve sahir do Brasil pela necessidade de hum centro commum, nexo politico, representassam de Reino.
Por sua vez, já no próprio número inaugural – quando ainda não chegara ao Recife a notícia da convocação da Assembléia Geral das Pro-víncias do Brasil – defendeu a autonomia brasileira, por intermédio de processos constitucionais, dando coerência, num pensamento amplo em prol da ação legislativa, simultaneamente, à defesa das Cortes de Lisboa e à ruptura com elas. Instava também nesse momento por uma articula-ção entre as províncias do Brasil. Na sua formulação, a defesa das Cor-tes reunidas em Lisboa, tão enfatizada em contraposição ao absolutismo, coadunava-se com a existência de uma Assembléia Geral das Províncias do Brasil – ” unico meio de mantermos a Grande familia luso-Brasilica” – pois a sua convocação deveria ser solicitada, com todo o “respeito”, “ao Soberano Congresso” ; e por isso deveriam os pernambucanos “iden-tificarmo-nos com as Provincias do Sul do Brasil quando levarem suas justas reclamassoens sobre ‘ este objecto ao Soberano Congresso”.
Como já referido, o tratamento da questão constitucional tornou-se num foco fundamental de divergência entre o redator de O Conciliador Nacional e os “liberais radicais”, o que de início se evidenciou na própria avaliação das posturas mais adequadas para a obtenção de uma Consti-tuinte no Brasil.
Claramente favorável à convocação da “Assembléia Brasílica”, o
43 – Conciliador Nacional, 04/09/1822.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200846
Marisa Saenz Leme
que veio a implicar na ruptura com as Cortes de Lisboa, Lopes da Gama a queria por meios que evitassem a violência, física ou verbal, condenando a utilização de expressões rudes e as manifestações de rua. Reprovou “as expressoens insultadoras” com que, na sua visão, “alguns escritores” “maltratam a Assembléia (as Cortes de Lisboa) mais respeitavel, que teem os Governos representativos”, considerando, no espírito do diretio natural, que deviam os pernambucanos fazer ou apoiar um “manifesto solenne”, com “as rasoens, por que nos desligavamos do juramento, que haviamos dado, e reassumiamos nossos direitos”. Dessa maneira, legitimar-se-ia o “cessar a procuracam dos nossos deputados em Cortes”. Para ele nisto se constituía o “caminho da razão”, em contraposição ao que considerava a “anarquia” feita nas ruas em nome da Constituição:
Nao he atroando as ruas com vivas maquinaes a Constitucao e a El Rei, fallando mal dos empregados, ralhando com todo mundo, querendo reformar os outros, sem se reformar a si, que se da pro-vas de legitimo Constitucional.44
Se essas posturas do beneditino evidenciam um elitismo contrário às manifestações políticas populares, é de se salientar a sua coerência com o pensamento liberal da época: a legitimação da ruptura política com base no direito natural, uma vez rompido o pacto político por parte dos representantes do poder. No caso, um poder em construção, numa ordem liberal recém-instituída.
No que se refere ao campo da política interna a Pernambuco, Lopes da Gama foi em linhas gerais favorável à Junta de Governo que substituiu Gervásio Pires em 25 de setembro de 1822, 45tendo inclusive se responsa-bilizado, a partir do número 6, editado em 27 de março de 1823, pelo seu órgão oficial, Diário do Governo, fundado um pouco antes com o nome de Diário da Junta do Governo. É de se salientar, para uma percepção da orientação política do periódico que, logo no seu número 2, reproduziu o 44 – O Conciliador Nacional, 04-07 -1822.45 – Entre a deposição de Gervásio Pires, em 16 de setembro, e a posse de Albuquerque Maranhão instituiu-se uma “Junta Temporária”, que governou por seis dias e editou A Gazeta do Governo Temporário (número único). NASCIMENTO, Luiz, op. cit., p. 39.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 47
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
jornal artigo do Correio Brasiliense, comentando e resumindo o “projeto de Constituição política do Brasil”. 46
A nova junta permaneceu sob a presidência de Afonso de Albuquer-que Maranhão, representante da antiga aristocracia pernambucana até outubro de 1823, quando passou por um remanejamento, por intermédio de ação armada. De acordo com Marcus de Carvalho, sua existência sig-nificou “a adesão de Pernambuco ao projeto de independência liderado por José Bonifácio”.47 Cabe referir, durante o governo de Albuquerque Maranhão teve início a circulação da Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, ao mesmo tempo em que o jornal O Marimbondo deixou de cir-cular, alegando “falta de liberdade”. Mas este jornal era criticado no seu próprio campo, de oposição radical.
A situação acima descrita transformou-se profundamente em fins de 1823, quando Pernambuco foi palco dos seguintes acontecimentos his-tóricos: a deposição de Albuquerque Maranhão e de outros membros da junta que presidia, a prisão de Cipriano Barata e o encerramento da pri-meira fase do Conciliador Nacional.
Nesse momento, ainda não chegara na província a notícia da disso-lução da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa das Províncias do Brasil. Lopes da Gama então apoiava D. Pedro I e a “nossa constituição liberal” em elaboração. Nesse momento radical na defesa da separação – sem concessões às formas aventadas de recomposição de um “Reino-Unido”, ou da manutenção de D. Pedro I como Rei do Brasil e de Por-tugal – esposava uma concepção moderna, pactista, de nacionalidade: era favorável a uma ação enérgica contra os portugueses que agiam de acordo com os interesses de Portugal, mas a favor de todos aqueles que aderissem à causa do Brasil. Nesse sentido, coadunava-se perfeitamente com Frei Caneca que, como bem mostrou Maria de Lourdes Viana Lyra, 48 defendia a noção de “pátria” como a terra de adoção para o desenvolvi-46 – NASCIMENTO, Luiz, op. cit., p. 41.47 – Op. cit., p.358-9.
48 – “Pátria do cidadão: a concepção de pátria/nação em Frei Caneca”. In Revista Brasileira de História, vol. 18, no. 36, dossiê: Do Império Português ao Império do Brasil.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200848
Marisa Saenz Leme
mento da vida, e não como aquela em que se nascera.
Praticamente no encerramento do jornal, Lopes da Gama reproduziu as concepções filosóficas que apresentara no momento da sua estréia. E a seu modo invocou mais uma vez a Revolução de 1817, que na sua avalia-ção exercera corretamente a ação de polícia:
“que atividade, que energia, que policia no meio dos balanços de huma revolução intempestiva, imprudente, e mal sucedida!”49
Relações sociedade-estado na visão de Lopes da Gama4.
De acordo com o que se observa pelos posicionamentos dos jornais em disputa, o embate entre as facções implicava, acoplado aos interesses locais e de modo mais ou menos consciente, concepções de relações entre estado e sociedade importantes de se buscar identificar para uma com-preensão mais ampla do processo de Independência em suas conexões regionais.
Logo no primeiro número de O Conciliador Nacional, Lopes da Gama expôs claramente as suas premissas teóricas. Partiu do que con-siderava comum aos diversos grupos em disputa, para discutir a seguir as diferenças entre eles. Nesse sentido, destacam-se as concepções de ordem, de soberania nacional e, nesta imbricado, o entendimento do mo-nopólio da violência.
De acordo com o redator desse periódico, os princípios comuns entre ele e seus opositores residiam na defesa da Constituição, cujas “bases” deveriam ser construídas sobre o direito natural que, por sua vez, tinha os seguintes “axiomas políticos fundamentais”:50
“a Soberania da Nassam reside essencialmente em a mesma Nas-• sam” ;“Todo cidadam he livre”.•
49 – O Conciliador Nacional , 04-10-1823.50 – O Conciliador Nacional, 04-07-1822.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 49
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
De acordo com o beneditino, essas formulações levaram, contudo, a interpretações a seu ver extremamente equivocadas a respeito da liberda-de política dos indivíduos e grupos em sociedade. Nos seus dizeres,
Se o Povo he Soberano (dizem huns), póde, quando bem lhe aprouver, mudar o sistema atual, dissolver os Governos, apear as Auctoridades, destribuir ao seo sabor empregos, e officios, e fazer, e desfazer-se sem outra rasam, ou lei, que o seu caprixo, pelo sim-ples facto da Soberania.
Para o intelectual em análise, pela forma acima exposta, “nam p’ode haver seistema permanente , e a maquina politica seria a toda hora des-montada”. No seu modo de pensar, num momento crucial em que o esta-do constitucional se fazia sobre as cinzas do absolutismo, a recusa a essa construção levaria ao avesso da medalha absolutista:
[...] Se o antigo Governo flagellava pelo despostismo de certo numero de Aulicos, e seos adherentes; o novo (com esse entendi-mento de soberania) arrastaria os Povos aos horrores da anarquia, que he o despotismo de todos.
Se, de modo elitista, Lopes da Gama intitulava o que considerava “anarquia” como “mal entendidos do vulgo”, observa-se que os conceitos políticos por ele esposados remetem às concepções originais do liberalis-mo que, como bastante ressaltado em discussões teóricas e aportes histo-riográficos, nada tiveram de democráticas.
Dessa maneira, verifica-se grande sintonia entre as concepções es-posadas pelo redator de O Conciliador e os preceitos exemplarmente formulados por John Locke. De acordo com o exposto no Segundo Tra-tado sobre o Governo,51 se, contrariamente à compreensão hobesiana do estado de natureza como estado de guerra, o pressuposto do estado de natureza – e sua decorrência de igualdade entre os homens – é positivo para a organização social, a ele é preciso colocar os limites da lei, dada a
51 – Para tanto vide: LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: IBRASA, 1963.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200850
Marisa Saenz Leme
imperfeição da natureza humana.
De modo semelhante às formulações do teórico inglês, nos dizeres do beneditino, se o homem “fosse impecavel, se suas accoes fossem sem-pre dirigidas pelos sabios dictames do Direito natural, inuteis se torna-riam associacoes, contractos, governos e leis”. Como, porém, não foi isso que se verificou,
Foi [...] preciso, que cada hum expressa, ou tacitamente fizesse sacrificio de huma parte da liberdade natural em beneficio do todo, e depositando aquelle numero de direito nas maos de hum, ou de muitos, tivessem huma forca moral, que dirigisse a communidade ao melhor estado da associacam humana.”52
No pensamento de Lopes da Gama, coadunavam-se perfeitamente soberania do povo e hierarquia de organização social. Enfatizou a neces-sidade de respeito, da mais baixa autoridade,”o beleguim” , até a “primei-ra Auctoridade”: quando não, “quebrados estarao os laços sociaes, perdi-da a segurança publica,tudo perdido”. Condenando o recurso à violência e à rebelião, advogava as “armas da rasam, e do bom senso, unicas, que nos parecem liberaes”.
Pois se trata, repita-se, da ordem liberal, a que se advogava no pen-samento de Lopes da Gama. Colocou-se ele claramente contra a idéia de base patriarcal das Monarquias, em que pesassem “vários livros” queren-do prová-lo: “os Reis nam sam pais dos P’ovos: os Povos he, que se pode chamar pais dos Reis”53.
Tendo por base o referido entendimento de ordem, elaborou o reda-tor de O Conciliador Nacional suas formulações sobre a soberania nacio-nal e a questão militar, assuntos grandemente ressaltados na disputa que então travava, pregando o que considerava significativo para a construção de um estado liberal no Brasil.
52 – O Conciliador Nacional, 04-07-1822.53 – Não é demais lembrar que John Locke dedicou todo um livro, o primeiro tratado so-bre o governo civil, para se contrapor ao fundamento da monarquia em bases patriarcais, expresso no Patriarcha de Sir Robert Filmer.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 51
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
4.1. Congresso, soberania nacional e provincial
A disputa entre O Conciliador e os periódicos a ele oponentes sobre a questão da soberania, parece, num primeiro momento, decorrer apenas das contraposições entre poderes executivos e legislativos, em formula-ção no projeto constitucional, quando, para além dos interesses concretos, estiveram em jogo os níveis de centralização ou descentralização consi-derados ideais para o estado em formação. Assim, A Gazeta de Pernam-buco, logo quando da sua fundação, declarou-se por uma Constituição em que se elaborasse um Pacto Social, compreendido este como a abdicação da soberania parcial para se constituir a soberania total. Posicionamentos esses que, com essas formulações, se aproximavam daqueles esposados por O Conciliador Nacional.
A questão se torna, contudo, mais complexa, nela residindo um dos pontos fundamentais das diferenças que vieram a se estabelecer no cam-po liberal, ao se procurar conhecer no que consistiria essa “abdicação parcial” da soberania. A definição dada em A Gazeta de Pernambuco se fez pelo negativo, pela limitação do Poder Executivo. Inferindo-se o Le-gislativo como o lócus de elaboração do pacto, afirmou-se não poder ser nele a posição do Regente forte, decisiva: “livre-nos Deos que o Príncipe Regente tenha a preponderância no Corpo Legislativo [...] Quem e pois o mais interessado na conservassam do estado, os Povos representados em seos deputados, ou o Príncipe Regente?”54
Semelhantes formulações possivelmente levaram ao entendimento historiográfico de que um dos embates decisivos entre os projetos para o Brasil independente residia na polarização entre federação/descentraliza-ção, com força no poder legislativo, e centralização/autoritarismo/absolu-tismo, com força no executivo e no poder real. Análise reforçada pelo fato de que o debate sobre a soberania/autonomia das províncias mesclou-se com os posicionamentos a respeito do Ministério do Rio de Janeiro, um dos alvos centrais dos ataques “liberais”.
Mas, adelgaçando-se a temática, observa-se que as diferenças resi-54 – Gazeta Pernambucana, 14-09-1822.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200852
Marisa Saenz Leme
diam também nos conceitos sobre as próprias atribuições congressuais, enquanto soberania de um governo central que tem no legislativo um eixo fundamental de poder. Ainda na linha de pensamento do liberalismo clás-sico, anunciou Lopes da Gama seu conceito de representação:
Nao sendo possivel, que todos os homens convenham em a mesma coisa, sendo impraticavel, que todos se reunam em hum mesmo lugar, e nem podendo a sociedade ser governada por todos, pois seria o mesmo, que nam ser governada por nenhum; a rasam en-sina, que, para dar-se vontade de geral, bastam os votos da maior parte da Nassam, representada por seus Deputados, ou Procurado-res, em os quais colletivamente existe por delegaçao a Soberania do Povo.55
Por sua vez, o beneditino não revelou escolha preferencial pela Mo-narquia. O seu pressuposto fundamental era a nação e seu pacto de repre-sentação. No seu raciocínio, podia haver “nassam muito bem governada sem rei”, mas, nunca, “Rei sem Nassam”. E, assim como os “povos” eram os “pais dos Reis”, se o Congresso contrariasse a vontade do povo, “este poderia nao cumprir as suas determinacoes, ao menos na parte afetada”.
Observa-se desse modo a radicalidade liberal de Lopes da Gama, ao centrar na “Soberania do Povo”, independentemente da forma monárqui-ca do estado, o seu conceito de pacto que, realizado pela representação dos Deputados ou Procuradores, poderia ser desfeito se o Congresso dei-xasse de corresponder aos desígnios que o informaram. Contudo, nessa instância se constituiria um poder soberano, no sentido de se colocar aci-ma das partes componentes de uma nação.
No que se refere ao legislativo, uma divergência fundamental entre Lopes da Gama e seus opositores residia nos poderes que o Congresso pudesse vir a ter em relação às províncias. O beneditino indispôs-se con-tra os raciocínios regionalistas e localistas, ao afirmar que não se podia “admitir Soberania em huma so Provincia, [...] Cidade, ou Villa.”. Uma vez constituído, era do congresso que deveriam emanar a organização so-
55 – O Conciliador Nacional, 04-07-1823.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 53
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
cial de uma nação. Dele dependeriam não apenas as leis civis e criminais, mas também a constituição do “emprego publico”. Outorgava-se assim à soberania nacional –“Soberania do Povo”–, representada no Legislativo, o poder de se construir o novo estado, por sobre as diferentes partes que o compunham.56
Embora o foco do presente texto não resida na análise do pensamen-to político dos liberais radicais, uma breve avaliação do seu entendimento a respeito de ordem e soberania, nas condições da época, é bastante es-clarecedora dos próprios posicionamentos de O Conciliador Nacional. Considerando-se apenas o discurso jornalístico, um excelente contrapon-to teórico, diretamente dirigido a O Conciliador, foi feito por O Libe-ral, em número ainda redigido da Bahia, em outubro 1823, num momen-to, portanto, em que ferviam os debates na Constituinte, colocando-se os “liberais radicais” contra os “projetistas” que, na Assembléia Geral, defendiam, articulados com o executivo instalado no Rio de Janeiro, o projeto elaborado pela Comissão de Constituição.57 Indispôs-se o redator desse periódico contra o entendimento de soberania esposado por Lopes da Gama,58 ao questionar este a legitimidade da deposição, por pequenos grupos, das autoridades constituídas.
De acordo com a reprodução feita em O Liberal do pensamento do beneditino, para esse intelectual a legitimidade da ruptura política ocorre-ria apenas quando se tratasse da inépcia das autoridades constituídas em promoverem a proteção externa – no caso, a “entrega” do Brasil a Portu-gal ou a qualquer outro país – ou se agisse contra o sistema de governo, no caso, o “Systema Constitucional”. De acordo com Lopes da Gama, como acusava O Liberal, somente nessas condições deveriam essas auto-ridades serem presas e remetidas ao Imperador.
Ao contrário, o redator desse jornal, o padre João Batista da Fonseca, 56 – O Conciliador Nacional, 16-09-1823.57 – Para os trabalhos da Constituinte e o projeto de Constituição dela resultante, vide: RODRIGUES, José Honório. A Assembléia Constituinte de 1823.Rio de Janeiro, Vozes, 1974.58 – O Liberal, 03-10-1823. Referência básica ao no. 29 do Conciliador Nacional.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200854
Marisa Saenz Leme
advogava que a deposição de algumas autoridades era necessária, a bem da liberdade. Rebateu as acusações de anarquia aos procedimentos de manifestação de rua que redundavam nessas deposições, considerando-os legítimos, bem como o direito de derrubada deles decorrente, quando, “pelo brado de um Soldado se desperta uma Corporacao, que pede a de-posicao de um Commandante, que nao cumpre com os seus deveres”.
A discussão se colocou em termos das autoridades militares, mas se reportava também à deposição de autoridades civis, a condenações crimi-nais, bem como à destituição de “empregos”, fatos que ocorriam com fre-qüência no Pernambuco da época. Para O Liberal, todos eles movimen-tos legítimos, não devendo ser desqualificados enquanto “incendiários”, como o fazia Lopes da Gama.
Como já referido, o equacionamento do direito de insurreição foi um ponto fundamental nas formulações clássicas a respeito da ordem liberal, que, de modo hegemônico, procuraram cingi-lo a situações específicas de política externa ou interna, de modo muito semelhante ao estipulado por Lopes da Gama para as condições do Brasil da época.
Por sua vez, nos Artigos Federalistas, a falta de controle da atuação de facções políticas foi claramente condenada, ao se realçar, entre as “as numerosas vantagens prometidas por uma União bem construída” (grifo nosso) “a sua tendência a deter e controlar a violência e o facciosismo”, pois
Instabilidade, injustiça e confusão introduzidas nos conselhos pú-blicos foram doenças mortais, que fizeram perecer governos popu-lares por toda parte [...]. De toda parte se ouvem queixas de nossos cidadãos mais conscienciosos e virtuosos, partidários ao mesmo tempo da fé pública e privada e da liberdade pública e pessoal, de que os nossos governos são demasiado instáveis, o bem público é desconsiderado nos conflitos entre partidos rivais, e que, com muita freqüência, adotam-se medidas não segundo as normas da justiça e os direitos do partido minoritário, mas pela força supe-rior de uma maioria interessada e despótica (grifos nossos).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 55
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
Em decorrência dessas avaliações, também muito elucidativa para o debate que se desenvolvia na imprensa pernambucana, no período da Independência do Brasil, é a conceituação de facção apresentada nos Ar-tigos, como se sabe, obra considerada o principal fundamento teórico da construção federalista dos Estados Unidos. No Artigo X, redigido por Ja-mes Madison, afirma-se o entendimento de “facção” como
[...] certo número de cidadãos, quer correspondendo a uma maioria ou a uma minoria, unidos e movidos por algum impulso comum, de paixão ou interesse, adverso aos direitos dos demais cidadãos ou aos interesses permanentes e coletivos da comunidade59 (grifo nosso).
No que diz respeito à relação entre províncias e governo central na construção da soberania nacional, atacou O Liberal a fala de O Con-ciliador, de que a soberania somente poderia ser nacional, se entendida pela ótica de “que uma província, ou mais províncias, com tanto que não façam a maioria da Nação, não podem fazer nada; e só tem o direito de petição, porque não tem a Soberania”.60
A este conceito de soberania – com a sobreposição do todo às par-tes – rebateu o padre João Batista com uma argumentação embasada na história de Pernambuco, em que, no seu modo ver, desde o período da dominação holandesa até a constituição da Junta de Goiana havia-se re-gistrado uma ação autônoma, gerando fatos de alcance “nacional”. Ar-gumentou que, ao não esperaram nem a ação das autoridades, nem a de outras províncias, não por isso deixaram as atitudes dos pernambucanos de serem nacionais.
A formulação indica bem a compreensão de um “nacional” como justaposição das diferentes partes que o compõem, sendo a ação de uma província isolada passível de incorporação pelas demais. É muito inte-ressante observar que, no mesmo diapasão de análise, avaliou o revolu-
59 – MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, artigo X, pp. 133-4.60 – O Liberal, 03-10-1823.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200856
Marisa Saenz Leme
cionário o sentido das ações ocorridas no Rio de Janeiro e no Sudeste do Brasil, quando
[...]mui poucas províncias do sul, sem consultar a vontade da plu-ralidade das Províncias, aclamaram o Imperador, e proclamaram a independência: eis aqui no seu conceito, e de muita Gente hum acto arbitrario, e maxime porque muito se duvidava entao da von-tade, e mesmo da possibilidade das outras Províncias. 61
Considerando desta forma os movimentos políticos que haviam de-sencadeado o processo da Independência, O Liberal apontou o que no seu entendimento consistiam contradições conceituais de O Conciliador, e perguntava-se se seriam, portanto, “illegais e nullos” os atos governa-mentais do ano de 1822, nisso compreendendo-se a convocação da As-sembléia Constituinte.
Observa-se, pelas posições enunciadas, que, enquanto O Concilia-dor pensava uma soberania construída a partir de um centro dinâmico, independentemente do nível de centralização daí decorrente, os “liberais radicais” esposavam concepções conceitualmente muito próximas ao en-tendimento de um pacto confederativo. Questão que também fica clara-mente indicada ao se avaliarem os entendimentos então apresentados a respeito das forças armadas.
4.2. Executivo e monopólio da violência
No início de outubro de 1823, num momento já próximo à extinção da primeira fase do periódico, posicionava-se Lopes da Gama em relação à organização militar do estado em construção. Foi simultaneamente con-tra a militarização do governo, em prol da sua condução civil, mas com o controle da força armada por parte do governo central.
No plano interno da Província, colocou-se contra a nomeação de ofi-ciais superiores para comandantes e a criação de companhias de primeira linha para distritos e vilas do mato. Na sua concepção, contra a ação mili-
61 – O Liberal, 03-10-1823.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 57
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
tar, a melhor “governança” se daria por intermédio dos elementos civis:
os nossos bons matutos se governarão melhor com os seus capi-taes-mores, e Vigarios, do que com os de bayonetas, que para la forem [...] se he para manterem n’ aquellas Villas a seguranca, e tranquilidade publica, a experiencia mostra, que os lugares, onde não ha soldados, são os mais pacificos, e socegados.62
No mesmo diapasão, condenou a existência de força armada pró-pria às províncias, o que implicaria um controle militar da sociedade, em detrimento do exercício da cidadania. Analisava a situação, ainda, tendo em vista também o mal produzido pelos recrutamentos militares, que tra-ziam, sobretudo, prejuízo à agricultura:
discursem, como quizerem, os defensores de Exercitos nos Esta-dos,... que nos escudados com respeitaveis Publicistas sustenta-remos, que enquanto houverem Tropas salariadas, he vacilante, e ephemera a liberdade dos Povos: se hoje defendem os direitos so-ciaes, amanhã, havendo quem as seduza, destroem a ferro, e fogo estes mesmos direitos.
No plano nacional, bateu-se pela redução da importância do Exército e propôs, com outro nome, a criação de uma Guarda Nacional. Defen-deu a formação de “Guardas Cívicas”, compostas por “Cidadãos de todas as classes”, e que serviriam simultaneamente ao policiamento e à defesa externa, “sem pesarem para o Tesouro Público” . Recriminava ainda o incremento das despesas militares numa situação financeira precária, tal qual se encontrava o país. Achava que assim que a independência fosse garantida, o “Soberano Congresso” deveria cuidar da redução do “Exer-cito Braziliense”.
Às províncias, que não deveriam ter força armada própria, caberia, contudo, papel ativo no policiamento social. Manifestando o seu horror à guerra civil e suas mazelas, com “a vitória do mais forte e a submissão do mais fraco”, instou a Junta comandada por Gervásio Pires a agir, simulta-62 – O Conciliador Nacional,04-10-1823. As demais citações a respeito da questão mili-tar foram extraídas desse número.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200858
Marisa Saenz Leme
neamente, contra o banditismo e os “anarquistas”: “estamos convencidos de que sem Autoridade para a segurança pública [...] não pode existir sociedade”. Se, num momento, referia-se aos crimes ocorridos no Recife, que considerava muito inseguro a partir do anoitecer, no mesmo diapasão passava a atacar os adversários políticos:
Hum punhado de peralvilhos, sem officio, emprego, ou fortuna, reos de todas as policias do mundo, assentarão, que para campe-arem de liberaes, devem espancar, roubar, e assassinar. Não reco-nhecem a Authoridade, não querem domínio, e se acaso alguem he tão imprudente, que os reprehenda,...he logo taxado de carcunda, Aristocrata, servil, e que merece apanhar... batendo nos peitos gri-tam, que são muito Patriotas. Liberaes julgam-se com licensa para perpetrar todos os crimes. Maldictos, vós, que assim obraes, não sois “Patriotas nem liberaes,”,... mas sim assassinos, membros po-dres da sociedade!
Monopólio da violência militar para o governo central e execução do policiamento civil pelos governos provinciais consistiam as palavras de ordem de Lopes da Gama para a num aspecto chave na estruturação do estado então em curso no Brasil.
Muito ao contrário posicionavam-se os liberais radicais. Logo no início da sua circulação, a Sentinela da Liberdade na guarita de Per-nambuco colocava-se contra a unificação do comando militar sob o então chefe do executivo, D.Pedro I, e advogava a existência de força militar própria às províncias.
Em junho de 1823, o jornal, ao se colocar contra a atuação do mi-nistério, centrando-se na figura de José Bonifácio, referia-se à “atmos-fera carregada, tempestuosa, e ameaçadora”da vida política no país em formação. Afirmando estar “o Brazil em uma perigosa crise”, “alertava o Imperador” sobre a possibilidade de ruptura das províncias com o go-verno central:
nao pense Vossa Majestade que pode chegar ao fim de dirigir a Constituicao e de abraca-la se quiser; por este sistema Vossa Ma-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 59
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
jestade fica no perigo de ver malogrados os trabalhos do Soberano Congresso, seguindo-se imediatamente a desuniao das provincias que ja estao indispostas pelo arrojado comportamento do Minis-terio.63
Nesse cenário, o remédio para se evitar semelhante ruptura estaria na solução militar. Na postura de “um Sudito fiel reverente” aconselhava-se no jornal a D. Pedro I:
a se desarmarem as forcas militares sediadas na capital [...] fican-do so as Milicias e Guerrilhas, por que sao os corpos da confianca do povo”; [...] senao, [...] ficara perdida a confianca que as Provin-cias tem no Congresso, e breve aparecera a desuniao de todas, sem que nem Vossa Majestade nem seus Ministros possam obstar [...]
Em outubro, considerava-se na Sentinella que deveriam os patriotas livrarem-se “do Comando das Tropas do Imperador”. 64 Também no caso da questão militar, as denúncias da pressão exercida pelas tropas em rela-ção aos trabalhos da constituinte adquiriram grande visibilidade, no que tange à liberdade de manifestação e expressão. Contudo, sob elas também se percebe a recusa dos liberais radicais à constituição do monopólio da violência por parte do governo central, representado no executivo.
Centralização, federação ou confederação?5.
O modo por que em Pernambuco se embateram, entre 1822 e 1823, as concepções de ordem e hierarquia, soberania e questão militar, mostra a cisão no campo liberal no que concerne, para além das disputas mais imediatas e conjunturais, a organização do estado independente no Brasil. Nesse contexto, os “liberais radicais” foram grandemente interpretados como portadores de um ideal federativo. Isto porque, provavelmente, o admirável apelo de liberdade encontrado na imprensa “radical” contami-nou a visão que se formou do processo político então em curso.
63 – A Sentinella da Liberdade na guarita de Pernambuco, 14-06-1823.64 – Sentinella da Liberdade na guarita de Pernambuco, 01-10-1823.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200860
Marisa Saenz Leme
Mas, ao se contraporem ao entendimento de soberania como algo acima das partes, ao combaterem as atribuições de um poder central, exe-cutivo e legislativo, bem como a obediência a uma escala hierárquica construída do centro para as províncias, evidenciam os liberais radicais terem efetivamente no seu horizonte conceitual a idéia de uma confede-ração, que resultaria da justaposição das províncias. Possibilidade inscri-ta na própria designação da primeira reunião constitucional ocorrida no Brasil: tratava-se de uma “assembléia geral das províncias”, e não de uma “assembléia nacional”.
Os “radicais” pernambucanos contrapuseram-se de modo aguerrido às ações e concepções dos que vieram a ser denominados “projetistas”, por atuarem na Assembléia Geral, em defesa do projeto constitucional elaborado pela comissão para tanto designada, acusada de articulação com o executivo do Rio de Janeiro. Nesse enfretamento, indica-se que a noção de soberania precedia os níveis de centralização/descentralização passíveis de serem adotados na organização político-administrativa de um estado nacional.
O embate que se verificou na primeira constituinte ocorrida em ter-ras brasileiras remete conceitualmente ao debate travado no Congresso dos Estados Unidos da América, no momento da formação do país inde-pendente, quando o estado federativo se impôs por intermédio de uma encarniçada defesa da soberania nacional, perante os que defendiam os “Artigos da Confederação”. Ao exporem a necessidade de um governo e, em decorrência, de uma constituição “forte”, para a “preservação da união”, os fundadores do primeiro estado federal americano advogavam que os poderes desse estado deveriam “existir sem limitação” para se cumprirem adequadamente os “principais objetivos” da União:
A defesa comum dos membros, a preservação da paz pública, seja contra convulsões internas ou ataques externos, a regulação do comércio com outras nações e entre os estados [...]65
65 – MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, artigo XXIII, pp.200-201.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 2008 61
Soberania, centralização, federação e confederação no discurso jornalístico da Inde-pendência: a visão de “O Conciliador Nacional”
Para o contexto brasileiro da época, impõe-se a reflexão sobre até que ponto o sentido do termo “federação”, então utilizado pelos “radi-cais”, na defesa do que na época se apresentou sob a forma de uma efeti-vidade liberal, não remeteria a posturas regionalistas, a se afirmarem num pacto confederativo. Registre-se que, já próximo ao fechamento da Cons-tituinte, afirmou Cipriano Barata defender o “governo federativo” como o “melhor”, possível no contexto da época, pois “não se podia obrigar ao Confederativo”, que seria o ideal.66
Foi no campo dos “projetistas” que se colocaram as posições defen-didas pelo Conciliador Nacional. No que tange à representatividade so-cial desses posicionamentos, o próprio funcionamento regular desse peri-ódico mostra a existência, em Pernambuco, de uma elite que também se articulava, grosso modo, no campo dos “projetistas”. Sintomática nesse sentido foi a denúncia feita na Sentinela, no início de novembro de 1823, quando Cipriano Barata deplorou a existência de
alguns miseraveis pernambucanos [...] ligados aos projetos e ações do Rio de Janeiro [...]que atraiçoam a sua Patria, vendendo-a ao Governo Absoluto por teteias pueris, e alguns insignificantes orde-nados, premios, ou postos.67
Retomando Cipriano Barata posicionamentos já enunciados em nú-meros anteriores da Sentinella, realçou Pernambuco como a província “capaz de servir de farol ao espírito publico do Brazil inteiro” e ameaçou – no que se pressente a irrupção da Confederação do Equador – que a província “não querera perder a gloria e a luz que tanto o deve imortalizar para o futuro”.
Mas a divergência em Pernambuco já se mostrara no momento do Fico, quando uma parcela da sua elite, que vivia então no Rio de Janeiro, em parte como decorrência das lutas intestinas que avassalavam a Provín-cia, 68 aderira ao movimento, enfatizando, no campo das razões apresen-66 – Sentinella da Liberdade, 05-11-1823.67 – Sentinella da Liberdade, 05-11-1823. 68 – Para tanto vide LIMA, Manoel de Oliveira , op. cit., p.199ss.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):29-62, jul./set. 200862
Marisa Saenz Leme
tadas para justificar a permanência do Príncipe no Brasil, a importância de um centro político de constituição nacional. Apesar da ênfase colocada no pacto social – cujo entendimento se identificava ao do pacto político – neste documento enfatizava-se a manutenção da unidade territorial por intermédio da figura do Príncipe:
“tem dado à nação inteira o único impulso capaz de salva-la da anarchia, capaz de mante-la em perfeita integridade...” 69
Retoma-se, dessa maneira, a hipótese formulada no início do pre-sente texto, sobre a importância de se compreenderem, no processo de constituição do Brasil independente, com manutenção da unidade terri-torial advinda da colônia, as dissidências no interior de províncias que se contrapuseram ao centro político do Rio de Janeiro, dissidências essas que, no caso de Pernambuco, podem ter o sentido geral das concepções que as embasaram inferido no modo por que se apresentou no Concilia-dor Nacional, independentemente de arranjos institucionais mais ou me-nos centralizadores, a questão da soberania nacional, em contraposição a concepções que, ao se apresentarem como federativas, recendem ao entendimento confederativo.
69 – “Memoria, que a Sua Alteza Real o Principe Regente do Brazil dirigirão os pernam-bucanos residentes nesta Corte”. In Correspondencia Official das Provincias do Brasil, durante a legislatura das Cortes Constituintes, nos annos de 1821 e 1822. 2ª ed., Lisboa, Imprensa Nacional, 1872 . O documento contou com 58 assinaturas, entre elas a do De-sembargador da Casa da Suplicação, do Desembargador da Relação de Pernambuco, do Juiz da Alfândega do Algodão de Pernambuco, de elementos de altas patentes militares, de membros do poder judiciário, bem como do clero.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 63
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
O MUNDO LUSO-BRASILEIRO VISTO POR UM INGLÊS, NO COMEÇO DO SÉCULO XIX
Corcino Medeiros dos Santos
Introdução
Donald Campbell era um brilhante oficial da Marinha Britânica que havia servido por largo tempo à Companhia Inglesa das Índias Orientais. Era exímio conhecedor do seu ofício e das relações comerciais do oci-dente/oriente, ou seja, do comércio do ocidente europeu com os povos do Índico Afro-asiático. Além disto, conhecia muito bem as relações in-ternacionais intraeuropéias e os mais diferentes interesses em jogo e em confronto. Depois de servir no comando da Esquadra Portuguesa do Me-diterrâneo foi nomeado, pelo príncipe Regente D. João, comandante da Esquadra Real da América Portuguesa, surta no porto do Rio de Janeiro1, com plenos poderes e para fiscalizar toda a costa, dar combate ao contra-bando, nomear oficiais inferiores com a confirmação Real, informar sobre as condições de defesa da costa brasileira, sobre a preservação das matas e do corte das madeiras para a construção naval ainda sobre a produção de carnes salgadas no Rio Grande do Sul para o fornecimento da arma-
1 – Carta Régia de 29/08/1800 – A. H. U. – Rio de Janeiro caixa 185, doc. 110.
Resumo:Este artigo foca a correspondência de Donald Campell, oficial da Marinha Britânica que ser-viu à Companhia Inglesa das Índias Orientais, posteriormente nomeado pelo Regente D. João de Portugal para patrulhar a costa brasileira. Em carta para ambas as Coroas, a inglesa e a por-tuguesa, ele dá conta de inúmeros aspectos tais como a situação da cidade do Rio de Janeiro, o tráfico de escravos para a bacia do Prata, os pri-meiros sinais de independência das colônias sul-americanas e a vinda da família real portuguesa para o Brasil.
Abstract: This article focuses Donald´s Campell mail. He was an officer of the British Royal Navy who ser-ved the West Indies Company an was named, by the Regent, D. João, to patrol de brazilian coast. In his writings for the two crowns he describes the situation of the city of Rio de Janeiro, the sla-ve trade to the Prata´s region, the firsts sights of Independence in South America and the coming of the royal portuguese family to Brazil.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200864
Corcino Medeiros dos Santos
da. Devia também informar as condições dos arsenais e dos hospitais militares, sobre a produção do linho-cânhamo no Rio Grande do Sul e ainda estava incumbido de dar combate aos franceses na costa brasileira e especialmente no Rio da Prata. Ao assumir o posto de comandante da esquadra procurou cumprir todas as ordens expressas na carta régia de sua nomeação.
Em carta dirigida a Dom Domingos de Souza Coutinho, diz-se sentir muito feliz com a nova missão e considera como a passagem mais feliz de sua vida ter vindo para a América.
O primeiro aspecto que nos chamou atenção foi a demonstração de patriotismo e preocupação com a defesa dos interesses portugueses, em sua correspondência à corte Lisboeta. Mas quando descobrimos que escreveu também para autoridades britânicas, levantamos a hipótese de que teria sido um agente duplo. Não cremos que o fosse, mas podemos assegurar que as informações sobre todas as capitanias do Brasil, suas produções, comércio, portos, condições de defesa que mandou para Lon-dres foram tão importantes e em alguns pontos melhores do que as que fornecera a Lisboa.
Não pretendemos esgotar o assunto no espaço deste trabalho e nem temos condições de fazê-lo porquanto não esgotamos as possibilidades de pesquisa da matéria. Não consultamos a documentação referente ao assunto que deve conter o arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a Bibliote-ca Nacional, o arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o arquivo e Centro de Documentação da Marinha do Brasil.
1. Sobrevivência de Portugal na Europa em convulsão
Em carta dirigida ao Secretário de estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, Visconde de Anadia, em 21 de agosto de 1802, (carta que ele diz ter o ar de memória)2, dá grande importância à aliança anglo-por-tuguesa, mas afirma ter inabalável lealdade ao soberano português e firme determinação na defesa dos seus interesses e na defesa dos seus domínios. 2 – A. H. U. – Rio de Janeiro, caixa 202, doc.31.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 65
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
Deseja a felicidade de Portugal, mas tem a convicção de que esta depende de sua Marinha e deseja que “Portugal faça aquela conspícua figura e que tenha aquele peso político que pela sua opulência e poder comercial e colonial, realmente lhe compete”. E, diz mais: “Nunca houve uma época em que fosse mais essencialmente da obrigação de todo o governo regular cuidar da vigilância com eficácia no estabelecimento de seus poderes de estabilidade e defesa, ou seja, por interiores e domésticos arranjos comer-ciais e militares” e ou pelo aumento, renovação ou ainda adoção de novos tratados de aliança e comércio com outras nações.
Campbell dizia que a insegurança e instabilidade provocada pelos conflitos de interesses da política externa das nações européias exigiam que o país (Portugal) eliminasse as disputas internas entre facções que representavam interesses divergentes (no caso os anglófilos e os francó-filos), para concentrar-se na defesa, segurança e soberania em relação às nações estrangeiras. De fato Valentim Alexandre afirma que “uma vulne-rabilidade permanente, estrutural, que vem da origem do sistema, no sé-culo XVIII, revelando-se mais claramente em todas as épocas de conflito internacional aberto à escala européia e que se acentua no início do século XIX...” 3 E, continua afirmando que a política externa de Portugal pode-ria ser sintetizada em quatro vetores estratégicos a levar em conta pelo Estado ao longo do século XVIII: 1º defesa da metrópole perante a von-tade expansionista da Espanha; 2º proteção dos tráficos coloniais, parte essencial do comércio externo português; 3º fixação de limites territoriais favoráveis para o Brasil; 4º preservação dos pontos da costa africana de onde vinha à mão-de-obra escrava.4
Campbell afirma que os choques políticos que tem ocorrido ultima-mente (final do século XVIII), na Europa romperam o equilíbrio de po-deres estabelecido pela Convenção de Westphalia. Alguns acreditavam, nestas condições, que o interesse de Portugal era conservar a neutralida-de, o que era plausível em teoria, mas impossível na prática, porquanto as
3 – ALEXANDRE, Valentim – Os Sentidos do Império. Porto, Afrontamento, 1993, p.93.4 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200866
Corcino Medeiros dos Santos
reiteradas pressões das potências beligerantes vinha aumentando. Portu-gal não poderia resistir, pois pela sua privilegiada posição geográfica se envolveria nas contendas. Por outro lado, pelo tamanho do seu comércio e importância de suas colônias, atrairia a atenção dos beligerantes. “Estes motivos frustram os esforços de Portugal em conservar a neutralidade na luta entre a França e a Inglaterra”. Havia outros que admitindo a impos-sibilidade da neutralidade preferiam a aliança de Espanha e França, ainda que a invariável prática da corte de Lisboa fosse a favor da Inglaterra. En-tão Campbell argumenta: “Se é impossível existir sem relações de aliança com outras nações, a primeira preocupação era saber qual dos dois parti-dos seria mais capaz de oferecer proteção a Portugal, o que só se poderia decidir comparando suas relativas forças marítimas, pois sendo as mais preciosas e vulneráveis considerações de Portugal as suas colônias e o seu comércio, a superioridade no mar forma a mais essencial preponderância neste equilíbrio”. Os mesmos argumentos servem para decidir qual dos partidos se devia temer como inimigo, porquanto “os mesmos poderes marítimos que como amigo oferece proteção, de outra parte ameaçam dano. Neste ponto de vista a Inglaterra tem uma decidida superioridade, quaisquer que sejam os esforços franceses e a riqueza dos espanhóis...”.
Estabelecida a hipótese de que Portugal devia preferir a aliança da Inglaterra à de outra potência, restabelecia-se a tese do Marquês de Pom-bal exposta nestes termos: “Como expressou o grande patriota Marquês de Pombal, quando pela pena do Secretário de Estado D. Luiz da Cunha, nas célebres contendas diplomáticas que houve a este respeito em 1762 disse” “que era mais fácil ao soberano deixar cair à última telha do seu palácio do que abandonar a sua aliança com a Inglaterra”.
É curioso observar que Campbell chama Pombal de Grande Patriota e cita uma afirmação de D. Luiz da Cunha. Convém lembrar que Pombal representou ameaça aos interesses britânicos em Portugal. No mesmo ano que escreveu D. Luiz da Cunha, o embaixador britânico em Lisboa, Edu-ardo Hay escrevia à Corte de Londres fazendo graves denúncias contra a política do Marquês de Pombal e atuava ostensivamente contra a política do pacto de família, casamentos entre as cortes de Lisboa e Madrid e
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 67
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
contra criação de Companhias de Comércio como a do Grão-Pará e Mara-nhão e de Pernambuco e Paraíba, conseguindo impedir a criação de uma 3ª projetada, que era a da Bahia e Rio de Janeiro.
A aliança franco-espanhola no final de 1790 colocou em risco a po-lítica de boa vizinhança entre as famílias reinantes de Madrid e Lisboa. A partir daí até 1807 a política externa portuguesa passa a ser à busca da neutralidade e Carlota Joaquina passa a ter destacado papel. Depois de receber carta do seu pai ameaçando Portugal, em 20 de julho de 1798 ela responde: “... não posso ocultar a V.M. a sensação, que me causa-ram as expressões das quais V. M. se serviu para persuadir meu marido do partido (francês)... Logo muito prontamente lhe comuniquei tudo, e o encontrando sempre com a maior amizade...”. E numa espécie de ante-visão do que iria acontecer depois com Carlos IV e sua família, ela diz: “Quem assegura V.M. que o dito governo (francês), estando oferecendo felicidades com uma mão, com a outra está armando, e em alguns anos seja forçoso cair?”5
Campbell procura convencer a corte Portuguesa de que a neutrali-dade é impossível e que a aliança que mais convinha a Portugal era a com a Inglaterra. No entanto a primeira condição básica de permanência do interesse britânico no sistema imperial português era a importância do mercado do império luso-brasileiro para a produção da Grã-Bretanha. Esse interesse diminui no final do século XVIII com a queda da produção aurífera do Brasil. Mas sobrevive outros interesses estratégicos da aliança para a Inglaterra, a quem não convinha ver a Península Ibérica toda na esfera de influência da França. Do lado português a aliança cumpriria seu objetivo desde que proporcionasse defesa eficaz do sistema imperial e da metrópole. Por outro lado, a hegemonia inglesa poderia fazer perigar a aliança, na medida em que desvalorizaria as posições portuguesas, levan-do-se á conclusão de que a possibilidade de uma ação inglesa visando o desmantelamento do império luso-brasileiro não seria descartada.6
5 – AZEVEDO, Francisca L. Nogueira de. Carlota Joaquina na Corte do Brasil. Rio, Civilização Brasileira, 2003, p.27.6 – ALEXANDRE, Valentim – op. Cit. P.94.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200868
Corcino Medeiros dos Santos
2. O Comércio Internacional de Portugal no Contexto da Aliança Luso-Britânica
Falar de relações comerciais, e, sobretudo do comércio com o orien-te é assunto no qual Donald Campbell se sente à vontade, uma vez que em suas viagens a serviço da Companhia das Índias, aprendeu muito, conforme ele mesmo informa. Assim, nesta parte começa por dizer ao ministro: “Tenho ouvido alguns políticos avançando que Portugal só deve cuidar do seu comércio da América e África e que qualquer outro lhe é não só infrutífero, mas até prejudicial. Em parte eu concordo com essa opinião”. Mas continua afirmando que enquanto Portugal continuasse a realizar a navegação triangular de Portugal-América-África, possuía uma inesgotável fonte de opulência e mais enérgicos esforços para o conduzir àquele grau de estabilidade e perfeição de que era merecedor. E, para falar da importância do comércio internacional faz uma interessante analogia. Ei-la:
“Se o comércio em geral conservasse em todos os seus compli-cados e variáveis movimentos á semelhança de um engenho me-cânico, mas ao inverso do que sucede nas máquinas, as quais de-mandam aumento de forças promoventes em proporção ao número de rodas que essa força tem de conservar em movimento. Aqui a grande roda da prosperidade nacional adquire não só aceleração e firmeza no seu movimento, mas até a mola real que promove sua ação ganha força pela acumulação de subordinadas rodas que nutrem com o seu giro o giro universal do comércio da nação”. Em outros termos se o comércio da Índia enfraquecesse, o mais essencial comércio da América e da África, deveria recomendar-se a sua supressão. “Mas a verdade é que o comércio da América e da África renderá muito mais a Portugal se as fazendas para o consumo destes dois continentes fossem conduzidas das Índias em navios portugueses e comercializadas por capitães portugueses”.
O consumo de fazendas asiáticas oferecia a Portugal um importan-te ramo de comércio tão lucrativo quanto essencial para conservar em seu vigor o mais importante comércio do Brasil, que não só envolve ser
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 69
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
Lisboa o Empório do Comércio da Índia em relação às suas colônias, como a fornecer aos nossos vizinhos castelhanos com vantagem política e comercial para Portugal. Sendo os portugueses ativos comerciantes e possuindo possessões na Índia teriam sempre vantagem no fornecimento da América espanhola com fazendas asiáticas. Este argumento, segundo Campbell devia também ser posto na balança para se decidir qual era amais importante aliança para Portugal, “pois possui esta preeminência comercial tão favorável a si quanto desvantajosa à Espanha. Assim, a inevitável conseqüência é que a Espanha olhará com inveja tudo que pos-sa aumentar esta superioridade”. Desse modo era aconselhável, sob to-dos aspectos aumentar o comércio com a Índia, outrora florescente. Daí expressar-se:
“Sendo então, por todas as luzes recomendáveis vigorizar o co-mércio de Portugal na Índia; primeiro, porque seus interesses tanto políticos quanto comerciais assim o demandam; segundo, porque ele por si e pela sua relativa conexão com as colônias de Espanha possui os meios de conduzir esse negócio com particular vantagem pela abundância de prata que circula na corrente do seu comér-cio”.
Campbell afirma que Portugal tinha boas condições em comparação com as outras potências por causa da sua aliança com a Inglaterra, por-quanto as marinhas da França e Espanha juntas não podiam enfrentar o poderio naval da Inglaterra. Desse modo era recomendável que a Inglater-ra ajudasse a Portugal melhorar a sua marinha para poder competir com a Espanha. Por outro lado, vê na atual (1802) administração da Companhia Inglesa das Índias a abertura para favorecer a progressiva recuperação do poder de Portugal na Índia: 1º) Porque a restituição dos territórios tomados durante a guerra era suficiente para causar inquietação, pelos esforços que os franceses fariam par atear o fogo da discórdia entre as potências asiáticas contra os ingleses. Por esta razão era importante con-servar a amizade de Portugal na Índia. 2º) Porque, ainda que os ingleses, tanto o gabinete, como a Companhia das Índias e corpo mercantil traba-lhassem para atrair o comércio geral da Índia para a Inglaterra e fazer de
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200870
Corcino Medeiros dos Santos
Londres o Empório universal daquele comércio, a razão indicava que a restituição daqueles territórios o tornava impraticável. Daí a necessidade de que toda aquela porção de comércio que a Europa havia de Ter com a Índia seguisse o canal mais propício aos seus interesses, que era Portugal. 3º) Uma das queixas dos ingleses é que o comércio dos concorrentes na Índia era feito em navios estrangeiros para portos estrangeiros, mas com capital inglês, por isso desejavam afastá-lo. No estado atual (1802) da questão, a prosperidade mercantil de Portugal mostrava que era compe-tente para conduzir o seu comércio sobre fundos portugueses sem roubar à Inglaterra os seus capitais. Mas para conseguir resultados favoráveis aos interesses luso-britânicos era preciso que Portugal ampliasse seus do-mínios territoriais na Índia. 4º) Outra preocupação dos ingleses contra o comércio das potências da Europa e da América do Norte era o grande número de marinheiros ingleses que ele atraía. No caso de Portugal havia muito poucos ingleses em sua marinha mercante e de guerra e ao contrá-rio havia cerca de 10.000 marinheiros portugueses a serviço da Inglaterra. 5º) Sendo do interesse britânico, que aquela parte do comércio da Índia feito por outras nações viesse contribuir para o aumento das exportações inglesas; o aumento do comércio português na Índia significaria o aumen-to das exportações britânicas para Portugal, uma vez que suas fábricas e manufaturas eram atrasadas em relação às outras nações. Além de todos esses aspectos acrescentaria o fato de as terras do Brasil serem um espaço aberto aos manufaturados ingleses. Desse modo, os interesses do gabine-te e da Companhia Inglesa das Índias seriam atendidos com o aumento do comércio de Portugal na Índia, pelo fato de abastecer a si e suas colônias como também as de Espanha com fazendas da Índia e da Inglaterra.7
Noutra carta datada de 28 de setembro de 18028 faz reflexões sobre o comércio internacional e intercolonial de Portugal. Além do seu comércio do Índico Afro-Asiático, analisa também as causas da decadência desse comércio. Nessa carta explica como a prata espanhola vai para o Oriente
7 – (A. H. U. – Rio de Janeiro caixa 202, doc. 31), Carta-memória de 21 de setembro de 1802, folhas30 a 38.8 – A. H. U. – Rio de Janeiro, caixa 202, doc. 32.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 71
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
passando por Portugal e afirma que não era um mau negócio para os por-tugueses. Referindo-se à questão diz:
“... Entre os mais tenho ouvido sustentar que a passagem do prata da América para a Índia é prejudicial, pois priva a Fazenda Real de 1% de direito pago em Lisboa e priva a vantagem comercial que muitos desejam dar à introdução do dinheiro”.
E, acrescenta:
“... Para analisar a justiça ou injustiça deste modo de pensar é necessário imaginar um caso. Suponhamos um milhão de pesos duros no Rio de Janeiro. Vou traçar a progressiva influência que este capital tem, sendo remetido em direitura a Portugal ou sendo enviado a Bengala. Em ambos os casos acharemos que há duas vantagens neste negócio, uma positiva e outra especulativa. A van-tagem positiva é que indo a Lisboa a Fazenda Real lucra 1%. A especulativa nasce da superioridade que o comando do dinheiro tem no giro do comércio sobre os gêneros”.
E, continua:
“É para mim evidente que o indivíduo que possui dinheiro pode comerciar com maior vantagem do que aquele que possui merca-dorias, porém, não é tão evidente a vantagem nacional por várias razões. Mas admitindo o mais favorável cálculo, suponhamos que o dinheiro remetido em direitura a Lisboa rende ao Estado 5%, então o lucro positivo e especulativo é de 6% ou 60 mil duros”.
Ele passa a mostrar depois que o mesmo dinheiro indo direto da América (não era incomum) para a Índia e depois retornando a Lisboa em fazendas era mais vantajoso, dizendo:
“Veremos agora o resultado do mesmo dinheiro que vai para a Índia e volta para Lisboa em fazendas da Ásia. Admitindo nesta operação a mesma vantagem de 5% de possuir dinheiro em espé-cie, a porção de mercadorias em Bengala é aumentada em igual razão e por conseqüência a carga embarcada ali é de um milhão
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200872
Corcino Medeiros dos Santos
e cinqüenta mil duros. Estas fazendas em Lisboa eram avaliadas pela pautada alfândega para fins de tributação, mas essa avaliação acrescentava aproximadamente 20% sobre o preço de Bengala e neste caso o capital passaria a ser de um milhão e duzentos e ses-senta mil duros, que paga o dízimo de 15%, donde se segue que a vantagem positiva é de 189.000 duros, o que por si só é suficiente para eliminar a controvérsia”.
Campbell esclarece mais:
“... O preço das fazendas da Índia em Lisboa é bastante flutuante; tem havido exemplos de cargas da Índia se venderem a cento por cento. Uma das cargas pertencentes à Casa dos Caldas, no ano passado (1801) rendeu-lhes 80% livre de toda a despesa e direitos. Porém, para evitar exceder, suponhamos 50%, o capital nas mãos do negociante vem a ser de 1.575.000 duros, de que se devem abater 26.250 duros de 2,5% que lá paga de direito de saída. Se esta porção de fazenda é necessária para o consumo de Portugal ou de suas colônias e não viesse por esta via, é evidente que era preciso comprá-la e não chegaria o capital remetido em direitura a Lisboa senão a 2/3, fazendo falta de uma terça parte que era pre-ciso suprir com outro dinheiro ou ficava nação sem aquela porção de fazendas”.
De outro lado, afirma: “Suponhamos que as fazendas referidas não são necessárias em Portugal e que se podem vender para fora” (para o Rio da Prata, por exemplo) em troca de outros gêneros, ninguém há de negar, afirma:
“... que um milhão e meio em fazendas da Índia comprará mais fazendas européias do que um milhão em dinheiro. Enfim o lucro especulativo do giro da Índia não pode render menos de 50%, po-rém, digamos 40%, o agregado dá positivo, e o especulativo vem a ser 470.000 duros; a diferença então entre os lucros de uma e outra negociação vem a ser 410.000 duros”.
Parafraseando-o poderíamos alegar que o dinheiro que ia em direi-tura para Lisboa chegava em menos tempo e que no intervalo entre a sua
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 73
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
chegada e a negociação da Índia ele renderia alguma coisa a seu possui-dor. Admitindo então que esse dinheiro pudesse render 8% anualmente e que houvesse um ano e meio de diferença de tempo em ambos, tanto no juro como no tempo extremamente favorável aos que argumentavam contra o plano da Índia; então verificamos que a diferença se reduziria a 284.000 duros. Poder-se-ia alegar em favor da Índia a vantagem nacional que se obtinha com o frete que em tempo de guerra montava a 15%, mas no momento estava reduzido. Supondo, pois que a carga pertencesse a um negociante e o navio a outro, o dono dele e conseqüentemente o Estado lucrariam proporcionalmente. Daí Campbell argumentar:
“... todo o navio estrangeiro que entra em Calcutá paga 2,5% de entrada por toda a carga, menos dinheiro e 2,5% de saída (...). Os navios portugueses geralmente na sua entrada pouco rendem à alfândega da Companhia, por que o vulto da sua carga é dinheiro. Mas ainda que a Companhia, bem como os soberanos, não lucras-sem muito como os negociantes, o seu ganho era considerável pela circulação do dinheiro assim levado e que geralmente depois de vários giros, todos eles beneficiais, vem a concentrar-se nos seus cofres e são remetidos à China para a compra de suas cargas para a Europa”.
O giro da Índia e, portanto do Índico Afro-Asiático era tão importan-te e proporcionava lucros tão compensadores que era impossível conter a evasão de prata. Nos longos trechos que transcrevemos, Donald Camp-bell, que era profundo conhecedor das rotas e dos mecanismos do comér-cio da Europa Ocidental e do Índico Afro-Asiático, demonstra todas as vantagens dessa variante do comércio. E, para completar as informações acerca desse comércio afirma haver muito dinheiro tomado a juros, apli-cado nessas transações, quando expressa:
“... Haja vista o progresso das somas de dinheiro emprestadas por indivíduos de Lisboa e América a aventureiros no comércio da Índia, debaixo do título de risco. Esse dinheiro rende ao Estado 15%, ao original proprietário 40%, ao dono do navio de 10 a 15%, porém, digamos 12,5% de frete fazendo o agregado de 67,5%. É
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200874
Corcino Medeiros dos Santos
presumível que o aventureiro obtivesse lucro compensador, pois do contrário não continuaria a prática de pagar até 40% sobre o dinheiro emprestado”.
Enquanto Campbell explica os mecanismos de evasão de prata para o Oriente, F. Braudel, citando um historiador chinês afirma ter passado, pelo menos metade da prata produzida na América para a China e aí teria ficado retida.9
Outro ilustrado, em 1794 já chamava a atenção do governo portu-guês para a importância do comércio da Ásia para o reino e o Império Ultramarino português. Passado a fase do avanço dos ingleses na Índia, Portugal ainda possuía meios de reerguer o seu comércio asiático. Dizia ele que além de Goa que já fora a mais rica feira da Índia, Portugal ainda possuía a praça de Diu no Reino de Guzarate, Damão na foz do Golfo de Cambaia, Cananor na Costa do Malabar, Divar ao sul de Goa e Macau na China.10(10) E, acrescenta que estes estabelecimentos com os da Costa oriental africana seriam suficientes para que Portugal tivesse condições de fazer “um comércio muito vantajoso. Portugal não tem ali conquistas a fazer nem praças a fortificar, nem estabelecimentos a formar. Em lugar de conquistas Portugal não tem mais do que a concorrência a combater...”.11 Para combater a concorrência sugere o mesmo método utilizado pela In-glaterra, Holanda e França, a criação de uma Companhia de Comércio das Índias Orientais.
O alvará de 27 de dezembro de 1802 procura redisciplinar o comér-cio com a Ásia de modo que as outras partes do Império e a metrópole não sofressem prejuízo de qualquer espécie. Estabeleceu-se a prática, ao longo do século XVIII, com apoio da legislação e dos comerciantes in-teressados, de os navios que iam de Lisboa para o Oriente (Ásia) fazer escala no Rio de Janeiro e na torna-viagem escala, na Bahia. Essa prática,
9 – BRAUDEL, Fernand. Os Jogos das trocas. Lisboa, Cosmos, 1985, p.176.10 – COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo – Ensaio Econômico sobre o Co-mércio de Portugal e suas Colônias. Lisboa, Academia de Ciências, 1794, p.101.11 – COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo – op. cit. p. 102.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 75
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
sobretudo a escala do rio de Janeiro começou a tornar-se inconveniente. Por isso,
“havendo representado a Mesa da Inspeção do Rio de Janeiro, que os navios, que saem de Lisboa para a Ásia com escala por aquele porto, causam um prejuízo incalculável ao comércio à agricultura e á Minha Real Fazenda”.12
Ao comércio porque os sobrecargas, marinheiros e caixeiros traziam fazendas que vendiam no Rio de Janeiro por preços inferior e aos de mer-cado para apurar dinheiro rápido, à agricultura porque tiravam dinheiro da circulação; à Fazenda Real porque perdia o 1% sobre o dinheiro e o ouro que do Rio de Janeiro ia para Ásia e não para Lisboa. Por isto no seu Art. II do mesmo alvará diz:
“Ordeno, que no Consulado de saída se não dê despacho à fazenda alguma, que em tais navios haja de conduzir-se ao Rio de Janeiro, e na alfândega do Rio de Janeiro se não dê despacho algum para embarque de ouro ou prata que haja de levar-se a bordo dos mes-mos navios para as negociações da Ásia (...). Art. V. Igualmente sou servido declarar que a Junta do Comércio deve vigiar daqui em diante não só em que se não acumulem negociações para a Ásia, tanto para as Costas de Malabar e Coramandel, como para os por-tos de Bengala e Macau (...) não venham navios armados da Ásia e se aumentem assim as carregações dos mesmos Gêneros com o risco de produzirem graves empates...”.13
Por outro lado, documento de 11 de Janeiro de 1803, sem assinatura defende o desenvolvimento do comércio da Ásia vinculado ao tráfico ne-greiro. Para ele a maior oferta de fazendas asiáticas no Reino e na costa africana diminuiria o preço do escravo e conseqüentemente aumentaria a cultura e a produção do Brasil.
“É preciso que se facilitem todos os ramos que prendem com o comércio de escravos, assaz contingente e mais diminuto do que
12 – Alvará de 27 de dezembro de 1802 in. AHU – Rio de Janeiro, caixa 204, doc. 09.13 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200876
Corcino Medeiros dos Santos
poderia ser; é preciso que os gêneros que vão à África pagar o escravo cheguem ali aliviados de imposições (impostos). Por mais que o Brasil precise destes braços, quando o negociante que os introduz, não achar vantagem em seu tráfico, há de desistir dele. De Benguela e Angola passam ao Rio de Janeiro e seu sertão os cultivadores que este precisa e compram os seus comissários com fazendas que recebem de Lisboa e alguns efeitos do mesmo Brasil. Metade ou ¾ daquelas fazendas que recebem de Lisboa, são da Costa do Malabar. Quanto maior for o concurso destas, menor será o seu preço e mais barato chega o escravo ao Brasil e maior será a sua exportação”.
E, continua:
“O nosso (comércio) deste Reino com a Costa do Malabar sem-pre foi pobre e de pouco interesse, e os seus gêneros grossos, que por isso mesmo sentem dobradamente a carga das contribuições e fretes. Esse comércio tem sofrido a 20 anos tantas alterações em direitos e preços que desta razão nasceu à introdução de fazendas de Bengala à mesma imitação que por serem mais baratas e isentas dos direitos de nossas alfândegas do Malabar iam fazendo perder este ramo da nossa navegação nacional”.14
Esta desordem foi corrigida pelas proibições e providências deter-minadas pelo alvará de 25 de novembro de 1800, mas na data em que escreveu (1803) ainda não havia produzido todos os efeitos desejados. Referindo-se ao alvará de 25.11.1800 ele se propõe a demonstrar que o principal objetivo dele
“não pode entender com o comércio do Malabar, antes parece olhar essencialmente a extração dos fundos efetivos que absorve Bengala e China por isso passo a demonstrar a importância destes três ramos de comércio. Do Malabar recebemos mais ou menos o seguinte: 3/12 em pimenta que se vende ao estrangeiro por mais que o dobro do custo; 3/12 em fazendas que consome o Brasil e paga com suas produções; 5/12 em fazendas do consumo da Áfri-
14 – AH – Rio de Janeiro, caixa (1803), doc. Datado de 11 de janeiro de 1803.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 77
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
ca, que vão trocar por escravos; 1/12 de fazendas que consome o Reino. Estes gêneros não perfazem a importância para a carga do retorno, que vem do a depender de alguma parte metálica, que há 20 anos se tem permitido receber no Rio de Janeiro em patacas do espanhol que não pagam nenhum direito... De Bengala recebemos fazendas de algodão de maior luxo e em branco para estampar, sem terem pago direitos. 4/12 delas se vendem em Lisboa para o estrangeiro e esta paga em patacas; 6/12 para o Consumo do Reino, cujas fábricas podem sofrer alguma concorrência destas fa-zendas...; 2/12 partes consome o Brasil e paga em efeitos para o mercado de Lisboa; jamais o Brasil pagará o que recebe de Lisboa sem um grande equivalente de metal... Da China recebemos chá, porcelanas, cangas, e muitos efeitos de luxo: 3/12 partes ao que vendemos paga o estrangeiro; 3/12 partes ao Brasil com o prin-cipal em moeda metálica; 6/12 que se consome no Reino, Lisboa ou Rio de Janeiro deve pagar em metais porque só esta casta de equivalente recebe da China”15
Ele calcula o valor por esta variante de comércio nos seguintes ter-mos: para cada navio de Bengala, a média de um milhão de metálico; da China meio milhão; da Costa do Malabar (média da três últimas monções não levaram mais de 100.000 patacas cada). A seguir faz uma relação dos navios que se encontravam em viagem ou a partir na presente monção para a Índia (1803). Para a Costa do Malabar, 04; para a China, 06; para Bengala, 08 em viagem e 06 a partir. Desse modo, o comércio da Ásia re-tiraria da circulação do reino e América aproximadamente 17.400.000 em moeda metálica. Não era um mau negócio, pois do contrário o governo não seria aconselhado a promover o aumento desse comércio.
Atendendo as sugestões dos funcionários projetistas ilustrados ou não a verdade é que no final do século XVIII e começo do século XIX, a administração portuguesa dispensou especial atenção ao comércio do Índico Afro-Asiático. Os resultados foram aparecendo em termos de au-mento do tráfico da Costa Oriental da África para o Brasil e da circulação da riqueza no mundo português com o aumento do número de navios em navegação e mercadorias e dinheiro em circulação. Esse aumento foi 15 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200878
Corcino Medeiros dos Santos
diagnosticado por Olga Pantaleão no artigo “Aspectos do Comércio dos domínios portugueses no período de 1808 a 1821”.16 De fato só praça de Damão um dos portos da Costa do Malabar havia em 1807, 119 embarca-ções entre pequenas e grandes e três de guerra.17
3. O Mar Territorial Brasileiro e a Navegação Internacional
Donald Campbell em sua carta-memória18, argumenta que o comér-cio do hemisfério norte se ramifica em um grande número de rotas, todas influenciadas pela grande rota do sul (Atlântico-Sul) da qual tem depen-dência.19 Para ele esse fato pode ser ilustrado pelos esforços dos ingleses durante a guerra para acumular rotas e dos franceses em destruir a influ-ência dos seus rivais na Índia. A expedição de Napoleão ao Egito tinha como objetivo destruir o poder dos ingleses na Índia, mas fracassou. Esse fracasso no oriente os levaria a recorrer a outros meios para atingir aos in-teresses da Inglaterra. Seja interceptando sua navegação, seja forçando-os a mandar os navios da Índia em comboios protegidos por navios de guer-ra, o que causaria inevitáveis transtornos e aumento dos custos. Ainda que as marinhas da França e Espanha juntas fossem incapazes de enfrentar a Inglaterra, não desistiriam de organizar esquadras ligeiras para fustigar os ingleses. Mas tudo que precisavam para isto era de portos situados à derrota dos ingleses.
As Ilhas Maurícias não ofereciam essas vantagens porque não esta-vam na linha da navegação da Índia. Restava-lhes o Cabo da Boa Espe-rança que também não podia ser transformado num “Rendez-vous” marí-
16 – PANTALEÃO, Olga. “Aspectos do comércio dos domínios portugueses no período de 1808 a1821” in Revista de História nº 41 (jan/mar 1960) p. 91 a 104.17 – B.N.L. Coleção Pombalina, vol. 642 Mapa de todos as embarcações mercantes e de guerra pertencentes aos mercadores da praça de Damão.18 – Donald Campbell – “carta-memória...”. AHU – Rio de Janeiro, caixa 202, doc. 31.19 – Veja-se GODINHO, Vitorino de Magalhães – Introdução à História Econômica. Lis-boa, s/d, Ensaios, t. II, Sá da Costa, 1968 e “Portugal e as frotas do açúcar e do ouro”, in Revista de História, nº15. São Paulo, 1953 o leitor a compreender a tecitura e interdepen-dência entre as múltiplas rotas de comércio que se organizam a partir do declínio da Idade Média.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 79
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
timo para a interceptação do comércio da Índia, por vários motivos. Diz Campbell:
“É verdade que aposição geográfica desta proeminência no mapa lhe dá um ar de teórica possibilidade para este fim, mas na prática vê-se: 1º) que os grandes temporais e correntes que constantemen-te reinam sobre aquele Cabo, ainda para os mais espertos nave-gadores, lhes torna absolutamente impossível conservarem-se ali cruzando; 2º) porque a derrota dos navios que passam por aquele Cabo não é tão limitada como parece, pois sucede passarem fre-qüentemente a 5, 6,7 e até 10 graus ao sul dele, o que poria o tran-sitório cruzeiro dos franceses na maior incerteza de encontrar os ingleses; 3º) porque os dois portos do Cabo da Boa Esperança não oferecem abrigo contra os temporais nem contra o inimigo”.
Eliminadas essas possibilidades e levantando as hipóteses possíveis, vê-se que o litoral brasileiro tinha a mais importante posição, a do Cabo Santo Agostinho, ou a Costa desde a Ilha de Fernando de Noronha até os Abrolhos podia servir de base para um cruzeiro francês. Na opinião de Campbell:
“A natureza dos ventos sueste, chamados de brisas que os nave-gantes encontram desde a equinocial, pouco mais ou menos até a vizinhança do Trópico de Capricórnio, obrigam todo o navio que vai para a Índia ou para a América do Sul (Rio da Prata) e os que são empregados no enorme comércio que gira por essa rota a pas-sar com pouca diferença em uma linha paralela à Costa do Brasil a uma distância que os ventos dão lugar, o que com vigilância e habilidade se pode ajuizar observando se os ventos se inclinam mais à leste ou ao sul, pois entre uma e outra destas quadras eles inalteravelmente sopram e os navios navegando à bolina irão mais ou menos distantes da costa, conforme o vento reinar.”
É verdade que não havia um ponto específico em que os navios fos-sem obrigados a cortar a equinocial, mas acrescenta:
“... a experiência ensina que quando este se verifica muito a leste, os navios encontram as brisas tão escassas ou tanto ao sul que a
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200880
Corcino Medeiros dos Santos
infalível conseqüência é aproximarem-se da Costa do Brasil, onde só se acham mais largas, caindo assim na universal linha de na-vegação ou derrota geral que raras vezes excede a 4 ou 5 graus de distância da Costa e muitos navios passam às vistas dela. Esta limitada linha de navegação para um tão vasto número de navios de todas as nações na minha opinião estabelece esta posição como o mais importante cruzeiro do mundo, pois além da limitada esfera de navegação, os cruzadores ali terão a vantagem de estarem em mares nunca visitados por temporais e tendo infinitos portos nas vizinhanças que lhes oferecem proteção e as suas prezas contra o tempo e contra os inimigos e ainda uma extensão de linha de cru-zeiro onde podem interceptar os navios de passagem a menos de 23 graus, pois desde passar a equinocial, o comércio da Índia fica exposto às esquadras da Costa do Brasil até a linha de Capricórnio, sem poder alargar para um e outro lado”.
Por todos os motivos deve se considerar “a porção da costa do Brasil desde o Cabo de São Roque até Abrolhos ou ainda todo Brasil como a mais importante do mundo, pela sua dominante influência sobre o comér-cio dele”. Depois de mais esta afirmação apologética sobre a costa bra-sileira. Campbell questiona qual seria futura conduta política da França e ele mesmo responde que a partir de mensagens consulares e discursos do corpo legislativo, “podemos calcular que toda a energia e esforços daquela nação hão de ser empregados na extensão do seu comércio e no estabelecimento de colônias”.
De acordo com suas opiniões as dificuldades enfrentadas em São Domingos e outras Ilhas não desviaram a atenção das contendas com a Inglaterra. Havia outras peculiaridades prontas para atear o fogo da dis-córdia entre as duas nações
“... e no caso de hostilidade é indubitável que a nova guerra come-çará com os mesmos sintomas que caracterizaram a conclusão da última, isto é, que a França empregará as mais enérgicas medidas para destruir os seus rivais e aumentar o seu poder e opulência”.
Nestas circunstâncias não seria de se estranhar se os franceses di-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 81
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
rigissem suas hostilidades às costas do Brasil, onde, de um só golpe po-deriam adquirir o domínio do comércio da Índia e possuir colônias de valor incalculável. “A importância desta conquista é tão conhecida que os ingleses nunca relaxarão nos cuidados de apoio aos interesses de Portugal no Brasil...”.
4. O Porto do Rio de Janeiro e sua Defesa
Escrevendo a Lord Harrowly em 14 de agosto de 1804, Donald Campbell faz descrição do Rio de Janeiro20, da qual extraímos o seguinte trecho:
“A cidade de São Sebastião fica aproximadamente a três milhas do mar do lado sul do rio, de onde sai o nome da Capitania e é a maior e mais regular cidade do Brasil. Nos subúrbios (regiões mais pobres) há muito mais doenças do que na Bahia, ou em qualquer outra parte do país. Provavelmente isto se deve à presença de altas montanhas que circundam a cidade, tornando-se lenta a circulação da brisa marinha e das brisas continentais...”.
E, acrescenta:
“O refúgio é talvez o melhor do mundo. O abrigo externo é sufi-cientemente tranqüilo para o propósito de descarga e carga, mas o abrigo interno onde há até cinco braças de profundidade é tão tranqüilo que os navios podem ficar ao longo das pedras sem ne-nhum risco. A entrada para o abrigo interno é muito estreita e há uma rocha quase em seu centro, na qual fica uma forte bateria e do lado norte somente grandes barcos podem passar. A natureza parece ter feito imenso esforço na formação da entrada deste forte
20 – Public record office, Forcing office 63 – Carta de Donald Campbell para Lord Harro-wly foi datada de Londres, em 14 de agosto de 1804. Como aquela escrita ao Secretário de Estado da Marinha e Domínios ultramarinos, tem o caráter de Memória na qual fornece à corte britânica todas informações úteis sobre o Brasil, tais como condições de navegação, sistema de administração, condições de defesa de norte a sul, produções, principais cen-tros de comércio, população, escravidão e tráfico, etc.Esta descrição do Rio de Janeiro aparece no meio de uma descrição que faz de todo o litoral atlântico da América do Sul que começa pelo Pará e termina em Buenos Aires.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200882
Corcino Medeiros dos Santos
refúgio e mais arte foi conferida a ela do que em qualquer outra parte do Brasil. Eu não conheço nenhum outro refúgio tão difícil de forçar, por onde as baterias foram construídas, bem manejadas e fixas com apropriado canhão para defendê-lo (o porto) contra qualquer frota naval. A cidade e o abrigo interno são defendidos pelas fortalezas das ilhas avançadas à frente como uma barreira de fortificações; mas como as da cidade são muito descuidadas”.
A importância do porto do Rio de Janeiro é ressaltada pela grande quantidade de mercadorias européias que dele são mandadas para Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio da Pra-ta.
“A força militar do Rio de Janeiro é maior do que em qualquer outra capitania do Brasil e consiste atualmente de três regimentos de infantaria, um de artilharia e duas companhias de cavalaria que servem de guarda ao vice-rei; todos devem formar um efetivo de dois mil homens. Deve haver também dois mil milicianos e um regimento da milícia de cavalaria”.21
No que diz respeito às defesas do Rio de Janeiro, Donald Campbell parece ser mais condescendente do que John Byron, cujo diário da via-gem ao redor do mundo foi publicado em Londres em 1767 com descrição detalhada do porto e suas fortificações com alusão à fragilidade e inefici-ência de suas defesas.22 Em 20 de junho de 1767, o Marquês de Pombal dirigindo-se ao vice-rei afirmava que a vitória dos ingleses na Guerra dos Sete Anos havia despertado a vaidade e arrogância a ponto de se conside-rarem capazes de conquistar os domínios ultramarinos de quaisquer outras potências da Europa. Atribuía-se o poderio britânico ao fato de disporem de um grande número de tropas disciplinadas, de artilheiros versáteis, de um corpo experimentado de marinheiros ao que se somava a insuperável
21 – A descrição do Rio de Janeiro feita por Donald Campbell coincide com as feitas pelos viajantes estrangeiros do século XVIII. Veja-se... ALDEN, Dauril – Royal Gover-nment in Colonial Brazil, University of Califórnia Press, Berkeley, 1968; BICALHO, Maria Fernanda - A Cidade e o Império. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.22 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 90.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 83
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
força de sua esquadra tanto mercante quanto de guerra.23 Por outro lado, alertava o vice-rei para a inveja que devorava os comerciantes londrinos, do ouro e dos diamantes das Minas, de que era empório a cidade do Rio de Janeiro. Lembrava-lhe o desprezo com que os ingleses se referiam às suas fortalezas. Nestas condições generalizou-se na corte a suposição de que na Inglaterra se articulava um movimento para a conquista do Rio de Janeiro como ponto de partida o domínio de toda América do Sul. Por isso recomendava ao vice-rei dedicar especial cuidado ao reparo das fortificações e á organização da forças de defesa. Mas tais medidas eram insuficientes, então “Sua Majestade resolveu enviar ao Rio de Janeiro um competente corpo de tropas regulares composto dos regimentos prove-nientes de Moura, Bragança e Estremoz”24 Essas tropas necessitavam de um comando firme, experiente e capaz para isto recorreu-se a dois oficiais estrangeiros que já estivera a serviço da Inglaterra, o tenente general João Henrique de Böhn e o brigadeiro e engenheiro sueco Jacques Funck. O primeiro foi nomeado encarregado da inspeção geral de todas as tropas do Estado do Brasil – “para que todas elas constituam um só e único exército debaixo das mesmas regras e da mesma disciplina”, Jacques Funck ficava responsável pelo projeto de reparo e construção das fortificações.25
De fato, todas essas providências eram necessárias, uma vez que as condições de defesa eram realmente precárias. Tanto era verdade que em 9 de outubro de 1765 o Embaixador britânico em Lisboa Edward Hay em correspondência secreta para o Lord Henry Seymour, informa que em 30.09.1765 havia chegado do Rio de Janeiro uma nau de guerra portugue-sa com cabedais de dois milhões de cruzados para a coroa e um milhão de cruzados para o comércio. Esse navio trazia despachos do vice-rei Conde da Cunha que davam conta da presença de navios de guerra es-panhóis na Costa entre o Rio de Janeiro e o Rio da Prata e que mais de dois mil homens haviam desembarcado desses navios no Rio Grande de São Pedro. Informa ainda estar bem informado de que no Rio de Janeiro
23 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 86.24 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 87.25 – Ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200884
Corcino Medeiros dos Santos
havia naquele momento só três regimentos muito mal abastecidos com artilharia e munições. Por outro lado disse que o Conde de Oeiras tinha absoluta confiança na marinha britânica para a preservação da colônia de um ataque da esquadra francesa ou espanhola. Então ele informa ter dito que “na presente condição dos fortes do Brasil, os espanhóis, se dispostos a isso, poderiam com uma pequena força tomar posse de um ou mais des-ses fortes antes que qualquer esquadra pudesse vir em socorro”.
Não perde a oportunidade para, mais uma vez, manifestar a sua dis-cordância da política pombalina de desvencilhar-se das amarras da Ingla-terra quando diz:
“Enquanto o Conde de Oeiras declara firmemente um princípio de que é interesse indubitável da Grã-Bretanha ajudar a Portugal em toda emergência, toda a inovação que tem introduzido no comér-cio de Portugal nesses últimos dez anos, tende evidentemente a reduzir este interesse”.26
Na descrição das condições de defesa da colônia apresentada por Campbell à corte britânica nota-se uma preocupação maior com alguns portos importantes do ponto de vista estratégico e econômico-comercial, tais como Belém (Pará), São Luiz (Maranhão), Pernambuco (Recife e Olinda), Salvador, Rio de Janeiro e Santa Catarina no Brasil e no Rio da Prata, Montevidéu e Buenos Aires.27
Do Rio de Janeiro anotou que além de estar numa posição que faci-litava a movimentação de tropas tanto para o norte como para o sul, que era também a porta de saída do ouro e dos diamantes do interior e da prata espanhola que vinha parar nesta cidade.
De norte a sul encontrou – e informou a Londres – baterias sem con-dições de uso, armamentos precários, soldados mal vestidos e com venci-mentos em atraso de até um ano, sendo obrigados a dedicarem-se a outras
26 – Public Record Office, Chancery Lane, State Papers Portugal, S.P. 89. vol. 60 – Secret Dispatch Edward Hay to Henry Seymour.27 – Public Record office, Foreign office 63 Carta de Donald Campbell a Lord Harrowly, datada de Londres, em 14 de agosto de 1804.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 85
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
atividades para sobreviverem. Diz ainda que não houve investimento no setor, nos últimos 40 anos. Essa informação confirma os investimentos feitos na defesa, sobretudo do Rio de Janeiro, na década de 1760 com medo de uma ação dos mesmos ingleses. Por outro lado comprova que a preocupação da metrópole em 1795 com a defesa do seu patrimônio colonial resultou em quase nada para o Brasil.
Teoricamente a barra do Rio de Janeiro estava protegida por 12 for-talezas, mas na prática as condições de defesa eram extremamente vulne-ráveis em conseqüência da falta de manutenção, do desmazelo e relaxo de que fala Campbell. De fato as 12 fortalezas possuíam 388 peças de artilharia, mas a maior parte sem condições de uso. Dispúnhamos para a defesa da barra do Rio de Janeiro de apenas 142 peças de calibres varia-dos, sendo a sua maioria de ferro. Se considerar que as ditas fortalezas estavam com um total de 388 peças, concluímos que menos de 50% de-las estavam aptas para ação, o que representa uma situação de abandono extremamente grave. Na década de 1760 Jacques Funck havia calculado que o mínimo indispensável para a defesa do Rio de Janeiro era 380 ca-nhões prontos para combate, 18 obuses, 30 morteiros, 22.410 bombas e 160.960 balas.28
Em carta de 03 de abril de 1801 ao Príncipe Regente29, Donald Cam-pbell faz importantes considerações sobre o livre comércio e sobre a de-fesa do sul do Brasil. Informa ter mandado e continuará mandando navios de guerra em cruzeiros pelo litoral sul. E, diz:
“A Ilha de Santa Catarina é da maior importância, pois a sua si-tuação local (localização) necessariamente atrairá a atenção dos nossos inimigos para a conquista e conseqüentemente a nossa para a sua defesa. É de pouca utilidade construir fortificações se não há gente para as guarnecer. O conservar constantemente um exér-
28 – SANTOS, Corcino Medeiros dos – “O Rio de Janeiro como base de apoio Logístico à Campanha do Rio Grande do Sul”, Revista Militar Brasileira. 115, jan./aabril, 1979, p. 47.29 – Carta datada do Rio de Janeiro em 03 de abril de 801 ao Príncipe Regente. A.H.U. Rio de Janeiro, caixa 183, doc. 106.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200886
Corcino Medeiros dos Santos
cito em pé suficiente par a defesa desta Ilha é, pela sua despesa, impossível. O recurso natural é uma bem disciplinada milícia que nasce de uma ampla população e esta nasce de um extensivo co-mércio...”.
Nesta carta Donald Campbell deixa transparecer um novo conceito de defesa costeira diferente do que dominava em meados do século XVIII. Quando afirma que mais importante do que fortalezas é uma esquadra bem armada e em cruzeiro permanente, que seria complementada pelas milícias em terra, parece apontar para uma transformação do conceito de segurança. Não se trata de uma defesa estática (grandes fortificações armadas à espera do inimigo), mas dinâmica e móvel (navios de guerra e milícias), mais barato do que as fortalezas e os grandes efetivos militares e armas mobilizados à espera do inimigo.
5. As Condições Sanitárias e a Saúde no Rio de Janeiro
Donald Campbell ao escrever à corte de Londres apresenta o Bra-sil dividido em duas partes com características diferentes.30 Ao tratar das enfermidades e pestilências do Rio de Janeiro, informa que a primeira divisão, aquela que se estende da Foz do Rio amazonas a Cabo de São Roque é a mais sem saúde (insalubre) do país, fato que segundo ele pode ser atribuído a dois fatores: 1º por ser uma região mais próxima da linha do equador e 2º pela proporção de mistura.31 A verdade é que essa região com a chegada dos europeus foi vítima de muitos surtos de doenças con-tagiosas e epidemias que dizimaram as populações indígenas.32 O que mais nos surpreende é o fato de afirmar que nenhuma das cidades daquela região (amazônica) estava sujeita a mais doenças do que o Rio de Janeiro. Para Campbell esta circunstância provinha de várias causas, umas físicas e outras morais; os formadores, a situação de alta umidade da cidade e os
30 – Public Record office, Foreign office 63.31 – Não sabemos a que mistura se refere; se a mistura de povos ou a movimentação das massas de ar.32 – Veja-se SANTOS, Corcino Medeiros dos – Amazônia; Conquista e desequilíbrio do ecossistema. Brasília, Thessaurus, 1998. Capítulo As Doenças Epidêmicas.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 87
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
altos montes que a circundam.
“Mesmo não tendo esta desvantagem, isso era a 50 ou 60 anos atrás, possuía muito mais saúde do que agora por causa do cresci-mento da cidade e do grande grau de relaxo na polícia. Já foi uma das cidades mais limpas do mundo, mas agora deixou de sê-lo”.
Um outro problema sanitário de que o Rio de Janeiro padecia e que ele informa a Londres era referente ao tráfico de escravos. Diz que os escravos eram trazidos da África em navios superlotados e depois de lon-gos dias de viagem eram desembarcados no Rio de Janeiro com a saúde debilitada. Mas, além disso, a maioria vinha impregnada de infecções que exigiam cuidados imediatos ao desembarque. Mas ao invés disto, eram trancados numa casa fechada no centro da cidade e em alguma hora do dia eram expostos na rua para a venda e aos raios de um sol forte.33 Nes-se caso era comum que essas pessoas fossem surpreendidas por aquelas febres malignas que as quebravam. Informa que sua surpresa foi verificar que elas não são mais freqüentes nem mais fatais do que luxuria, a em-briaguez e a devassidão de costumes. Estas traziam também à cidade uma contaminação assustadora, inflamação nas pernas e hérnias terríveis.34 Se-gundo suas observações o ataque desse tipo de inflamação era moderado entre soldados e marinheiros com muita atividade; do que resulta que as pessoas que viviam regularmente e faziam muitos exercícios raramente eram atacadas por estas terríveis moléstias. Possuíam maior imunidade e maior resistência à doença.
33 – Todos os cronistas e historiadores do Rio de Janeiro são unânimes em assinalar entre as obras de saneamento das cidades realizadas pelo Marquês do Lavradio a remoção do centro para a praia do Valongo, os armazéns em que os negros que vinham da África eram expostos à venda, providência que visava afastar as moléstias contagiosas que os negros espalhavam pela população. No entanto, em 1801 Campbell informa encontrar a prática de manter os escravos na cidade e sua exposição na rua para venda. É estranho. Ou o Va-longo era insuficiente ou não havia fiscalização para impedir que os guardassem em seus armazéns ou depósitos nas partes baixas ou porões de suas casas para os exporem à venda nas ruas.34 – Campbell parece estar a descrever sintomas de DST (doenças sexualmente transmis-síveis) especialmente da sífilis.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200888
Corcino Medeiros dos Santos
Para Campbell, a geral insalubridade do clima do Rio de Janeiro podia ser provada pelo seguinte fato:
“Assumindo o comando no Brasil eu encontrei o esquadrão mal e tão maltratado nos hospitais militares da cidade que achei necessá-rio fazer um hospital num convento situado numa das numerosas ilhas desta baia, aproximadamente a três milhas da cidade para a acomodação dos enfermos da marinha e quando eu deixei o Rio de Janeiro os livros de registro desse hospital mostravam que de 3.600 homens atendido somente 35 morreram. A proporção entre as curas e as mortes é dificilmente acreditável se considerar que a maior parte dos doentes eram de duas linhas de combate, que contraíram doenças epidêmicas na Costa da África, de onde um só navio perdeu 40 homens no mar até o momento do desembarque no porto...”.
Essas foram informações enviadas a Londres e eram verdadeiras. Um dos mais recentes pesquisadores do Rio de Janeiro afirmou, de certo modo confirmando o que dissera Campbell que:
“o acúmulo de lixo e de dejetos nos terrenos baldios, nos logradou-ros da periferia e nas praias do centro da cidade e o sepultamento dos mortos no interior das igrejas e nos cemitérios ao lado eram os responsáveis pelo aparecimento de doenças endêmicas e epidêmi-cas na população tais como sarna, impinge, escorbuto..., as vermi-noses e outras como hepatite, febres renitentes, lepra, tuberculose. As más condições ambientais provocavam surtos de disenteria, be-xiga, sarampo e coqueluche como a que grassou no Rio de Janeiro a partir de 1797”.35
Verificamos que às autoridades portuguesas Donald Campbell não disse as mesmas coisas que disse às britânicas sobre os aspectos sanitá-rios e a insalubridade do Rio de Janeiro. Para comprovarmos isso recor-remos a uma carta que Campbell escreveu ao vice-rei D. Fernando José de Portugal, Conde de Rezende a bordo da nau D. João de Castro em 20
35 – CAVALCANTI, Nereu – O Rio de Janeiro Setecentista. Rio de Janeiro, Zahar, 2004, p.35.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 89
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
de agosto de 1802.36 Nesse documento ele explica as razões da escolha do Convento de Santo Antônio para montar o hospital da esquadra, lamen-tando o fato de obrigar os religiosos a evacuá-lo. Entre as razões aponta-das ele destaca que a 1ª era de ordem econômica, pois visava a diminuir a despesa da Fazenda Real,
“pois o grande número de doentes que naquele tempo se achava na esquadra pagando um cruzado por dia no hospital militar da cidade com um equivalente pelos remédios montava a um grande desembolso, muito maior do que pela experiência viemos a achar no hospital da Esquadra”.
Mas acrescenta que sobre essa posição as coisas já estavam mudadas no momento em que escrevia. O número de doentes estava reduzindo e as despesas regular do hospital com medicamentos, cirurgiões e boticários não podia ser reduzida, o que o levava a considerar a possibilidade de voltar a usar o hospital militar.
“A 2ª circunstância a que me refiro foi o tratamento dos doentes, pois (para usar a frase mais moderada que posso escolher) na mi-nha chegada a este continente achei os doentes da esquadra injudi-cialmene tratados no mesmo hospital, pois não tendo competentes meios de evitar que os doentes freqüentassem as muitas lojas de cachaça que o cercam, desse modo o desvelo dos médicos era bal-dado pela avidez com que a gente do mar se lança a esta bebida, ainda com queixas inflamatórias. Disto tivemos provas inequívo-cas pela mudança do hospital para a Ilha, local que possibilitou uma total exclusão deste pernicioso espírito...”.
Além disso, assegura ter havido os motivos que aconselhavam a lo-calização do Hospital marítimo na ilha, mas a maior importância foi ter evitado
“perigosas e contagiosas epidemias comunicarem com a cidade as quais reinavam na esquadra com horrendo vigor. A nau D. Maria I se achava na esquadra com a mais maligna e incurável inflamação
36 – A.H.U. Rio de Janeiro, caixa 202, doc. 31.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200890
Corcino Medeiros dos Santos
dos olhos37 e a nau Meduza tinha chegado da costa africana com quase toda guarnição infestada de queixas epidêmicas peculiares àquele clima”.
Toda essa explicação tinha por finalidade mostrar ao vice-rei as ra-zões que o levou a construir (montar) o hospital naval no convento de Santo Antônio, por outro lado refere-se a uma representação dos religio-sos que pretendiam a retomada do seu convento. Afirma ser necessário ouvir primeiro o Príncipe Regente sobre a matéria e inclusive sobre o fu-turo da esquadra da América38, mas disse que estaria disposto a desmontar o referido hospital se o vice-rei houvesse por bem atender ao pleito dos religiosos. Continuando afirma:
“não posso concluir esta carta sem lançar uma reflexão nada irrele-vante do assunto tratado e bem digna da atenção de V. Exa., ainda que não imediatamente inerente à minha comissão, não deixa de ter uma imediata relação com assuntos marítimos e que é de im-portância tal à vida, saúde e até prosperidade dos vassalos de S. A. R. que me autoriza a falar nela. ‘Tenho visitado os principais portos dos quatro quadros do mundo e posso observar que em par-te nenhuma tenho observado tão pouco cuidado na saúde geral como no Brasil’. A rigorosa quarentena observada nos portos da Europa por todo o navio que vem do levante é bem notória. Mas o levante não é a única parte donde podem vir os mais fatais con-tágios. A América Setentrional acabou de experimentar os mais tristes efeitos dele, donde passou a cidade de Cádiz com incrível prejuízo dela e dos seus vizinhos. ‘A cidade do Rio de Janeiro tem padecido suas epidemias. Se estas tiveram sua origem nas ciladas da comunicação dos navios de fora ou não’, não posso dizer, mas o que eu posso dizer é que não há coisa mais natural do que assim quando não seja de outra fonte, os mesmos navios empregados no tráfico da escravatura e cujos escravos logo desembarcam na cidade é muito fácil comunicarem se as suas moléstias. Eu não nego que existem algumas cautelas a este respeito, porém, afirmo
37 – Conjuntivite ou tracoma quando em estado mais agudo era doença causada funda-mentalmente pela falta de vitamina A.38 – Com esta afirmação deixa claro que a corte de Lisboa teria mandado a esquadra para América em caráter provisório.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 91
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
não são adequadas nem para a segurança da saúde dos vassalos de S.A.R. na cidade nem para favorecer a convalescença da mesma escravatura que chega ao menos débil da viagem. O único remédio é um competente Hospital ou Lazareto longe da cidade em ar livre e campo espaçoso onde os escravos posam passar os preliminares preparativos até as bexigas desaparecerem antes de serem admiti-dos no corpo da sociedade”.
Além da peste que deveria dar tanto cuidado à América quanto,
“existe a consideração das bexigas peculiares à América, pois até que a inoculação seja universalmente adotada deve haver o maior cuidado em admitir comunicação com os navios, até saber se tem ou não bexigas a bordo, evitando assim um fato semelhante ao que aconteceu quando a nau Meduza foi a Santos e por ter a bordo um marinheiro com bexigas, esta grassou em terra e morreram algu-mas 1300 pessoas além do prejuízo que fez pela estagnação do comércio e da agricultura”.
Todos os vice-reis desde o Conde da Cunha se preocuparam com a insalubridade e as condições sanitárias do Rio de Janeiro. O Marquês do Lavradio fez importantes obras visando a melhorar as condições sanitárias da cidade, D. Luís de Vasconcelos igualmente se preocupou com a ques-tão, no entanto parece ter mudado muito pouco, pois Campbell encontrou em 1800 quase os mesmo problemas sanitários e de saúde pública que estiveram na pauta de todas as administrações do Rio de Janeiro.39
O penúltimo vice-rei, o Conde de Rezende se preocupou também com a qualidade dos medicamentos distribuídos no Rio de Janeiro e mui-to mais com a qualificação dos profissionais da saúde. Em ofício datado de 12 de abril de 1796 à Luís Pinto de Souza, novo Secretário de Estado dos negócios do Reino e Domínios Ultramarinos40 diz que era sua respon-sabilidade impedir maiores danos à população, uma vez que
39 – KITZINGER, Alexandre Max – Resenha Histórica da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Separata da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Brasileiro, p. 216 a 225; CAVALCANTI, Nireu – op. cit. p. 37/38.40 – A.H.U. – Rio de Janeiro, caixa 162, doc. 13.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200892
Corcino Medeiros dos Santos
“a saúde e a conservação dos povos foi sempre um objeto digno de atenção e cuidado de quem governa, pois o número dos vassalos é o que decide o aumento e força dos Estados...; faz-se necessá-rio mais do que em outro qualquer domínio de S. Majestade o acréscimo da população que é desproporcionada ao tamanho do território, cujo clima concorre para a diminuição pelas influências malignas”.
Por isso resolveu apontar algumas práticas nocivas à população, es-perando o apoio Real para exterminá-las. E, diz:
“as infinitas moléstias agudas, crônicas, contagiosas e principal-mente endêmicas que experimentam os habitantes desta região teriam merecido maior cuidado tanto dos que devem aprontar os remédios como dos que os receitam...”.
Mas não era o que acontecia. A má qualidade dos medicamentos e dos vegetais conservados nas boticas somados à ignorância e à ganân-cia dos que os manejavam causavam lastimável prejuízo à população. Havia na cidade muitas boticas administradas por pessoas inabilitadas e inescrupulosas e sem conhecimento para o emprego de delicada cirurgia e farmácia. Alguns tornavam-se boticários porque herdavam as boticas, outros por ser caixeiro, pelo falecimento do patrão e ainda um grande nú-mero de pessoas de ambos os sexos que se metiam a curar todo o tipo de moléstia somente por vil interesse ou por curiosidade, causando prejuízos à população.
Outro problema era que qualquer rapaz que sentava na praça como ajudante dos cirurgiões-mores dos regimentos saia dos hospitais com al-gumas noções da profissão, sem exame e sem licença começava a clinicar à custa dos escravos e da gente pobre.
As causas desses males eram a falta de profissionais habilitados não só nos distritos da cidade e porque sendo poucos não podiam acudir a quantidade de enfermos que por isso recorriam aos ignorantes e curan-deiros.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 93
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
“Estas considerações me fazem persuadido da grande necessidade que há de um físico (médico) investido nas funções de examinar junto com outros professores os boticários, a qualidade dos remé-dios que usam e das remessas que vem do Reino”.
Este mesmo professor devia ter autoridade para examinar e corrigir a conduta dos cirurgiões e principalmente os curandeiros e meizinhei-ros que fizessem uso de remédios desconhecidos. Por outro lado, sugeria a instituição de um prêmio a ser atribuído àqueles que descobrissem as propriedades curativas de alguma erva nova ou algum segredo útil à hu-manidade.
“Sugeria ainda o estabelecimento de uma aula de botânica e de cirurgia” tanto para promover o conhecimento dos muitos e ex-celentes vegetais que produz este país, úteis à saúde dos seus ha-bitantes e ao comércio como para instruir todos aqueles que se interessavam a professar a arte da cirurgia e farmácia”.
Sugeria mais a criação de um horto botânico para onde deviam ser transplantadas “as ervas e plantas de conhecido préstimo, a fim de se examinar a sua analogia com outras que vem de fora, as quais deveriam desprezar por não serem precisas e por custarem muito dinheiro”. Todas as Câmaras Municipais deveriam ter um ou mais profissionais examina-dos para residirem no município com a obrigação de cuidarem de todos os enfermos e de “remeterem ao horto as ervas e outros vegetais em que notassem ao público algum remédio” novo. Com todas essas iniciativas e providências, pensava o vice-rei, cessaria a maior parte dos erros e preju-ízos que se cometia contra a lei de Deus, o serviço de S. Majestade, a vida de seus vassalos e o aumento do comércio.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200894
Corcino Medeiros dos Santos
6. “Abominável Contrabando”
O contrabando foi sempre um problema nas colônias ibero-america-nas, mas os responsáveis por essa prática de comércio não foram os úni-cos culpados. Culpados foram também as inúmeras regulamentações do comércio entre as metrópoles e as colônias; os monopólios; a excessiva carga tributária e a cumplicidade das autoridades coloniais.
Uma das atribuições de Donald Campbell, quando nomeado co-mandante da Esquadra do Brasil, era dar combate ao contrabando. Como fazê-lo, se os ingleses eram os principais responsáveis pela introdução de mercadorias de contrabando na América? Curiosamente na sua corres-pondência para a corte de Lisboa há uma única referência ao contrabando inglês e na correspondência para Londres não menciona contrabando de qualquer espécie. Mas denuncia a presença de navios norte-americanos a fazer o contrabando na costa brasileira, especialmente no Rio de Janeiro. Este fato não é estranhável, uma vez que no começo do século XIX os norte-americanos iniciavam um desafio à hegemonia econômica política e militar britânica.41
Em carta de 1 de fevereiro de 1801 a D. Rodrigo de Souza Coutinho, informa ter apresado um navio norte-americano com mercadorias a serem vendidas.
“À vista dos papéis conheci logo que este navio era legitimamente americano vindo de Filadélfia e que ia vender sua carga de contra-bando em alguma das colônias espanholas ou em qualquer outro porto onde achasse melhor preço...”.42
Ao que parece esse navio teria sido liberado sem maiores problemas. O problema maior para as autoridades portuguesas era mesmo o contra-
41 – WRIGHT, Antônia Fernanda de Almeida – Desafio Americano à Preponderância Britânica no Brasil: 1808 – 1850. Rio de Janeiro, C.F. C/IHGB, 1972; RIPPY, J. Fred. La Rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por América Latina (1808-1830). Buenos Aires, Eudeba, 1967.42 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 190, doc. 45 – Carta de Donald Campbell datada do Rio de Janeiro em 1 de fevereiro de 1801 para D. Rodrigo de Souza Coutinho.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 95
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
bando inglês. Tanto é assim que por volta de 1784, saíam anualmente da Inglaterra 12 navios grandes de 500 a 600 toneladas, carregados de mer-cadorias destinadas aos principais portos do Brasil.43 Esta notícia alarmou a corte que no ano seguinte enviava instruções ao vice-rei para que im-pusesse “vigilância sobre todos os navios portugueses que transitassem entre os portos coloniais e os metropolitanos”. ...Mas no que diz
“respeito aos navios estrangeiros, os pontos de maior vulnerabili-dade não eram os portos das grandes cidades e sim os ancoradouros e enseadas mais distantes e menos freqüentados, onde se supunha que no lugar de obstáculos da parte do governo que embarcassem os referidos contrabandos, hão de encontrar cooperação e auxílio da parte dos habitantes”44.
De fato, Campbell achava que era tão importante policiar as costas contra o inimigo, quanto contra o contrabando. Por isso, expressa ser
“necessário estabelecer cruzeiros não só para defender as nossas costas do inimigo, mas também para evitar o contrabando (...). o vasto número de portos, rios, baias, ilhas, praias e lugares que se acham amplamente distribuídos sobre todas estas costas facilita muito as operações dos contrabandistas, fazendo indispensável maior extensão da guarda-costas...”.45
Mas para ele o primeiro passo seria estabelecer em Pernambuco, Cabo Frio e Ilha de Santa Catarina que eram pontos a partir dos quais se podia interceptar navios inimigos. Propõe ainda montar um grande arsenal no Rio de Janeiro que teria inclusive o objetivo de “firmar mais solidamente a obediência e sujeição dos habitantes desta colônia”.
Campbell demonstrou estar realmente interessado na eliminação do contrabando, pelo menos aquele que não era praticado pelos ingleses, mas encontrou muitas dificuldades, tais como a conivência de militares
43 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 133/34.44 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 134.45 – A. H.U. Rio de Janeiro, caixa 190, doc. 46 A – Carta de Donald Campbell a D. Ro-drigo de Souza Coutinho, datada do Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1801.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200896
Corcino Medeiros dos Santos
autoridades de todos os níveis desde os guardas porteiros das alfândegas até ministros.
“...Quanto ao contrabando sobre esta costa, cada vez que deito os meus olhos para este lado sou obrigado a considerar mais inevitá-vel a sua extinção. As circunstâncias da última tomada do navio de escravos relatada na minha carta nº 5 se for bem dirigida a diligên-cia legal a este respeito pode servir de guia de muitas e interessan-tes descobertas, porém este serviço está inteiramente nas mãos dos ministros e eu me contento em observar de longe lembrando-me de que este exemplo sem proceder ao último rigor das leis não serve de expurgar este tráfico...”.46
Vê-se a delicadeza da situação quando aprisionados os navios con-trabandistas e entregues à justiça para a decisão final de confisco do na-vio, de sua carga e condenação dos responsáveis, isto não acontecia. Pou-co tempo depois estava o comandante retomando a sua viagem sem que Campbell pudesse fazer alguma coisa. Daí dizer-se:
“Uma circunstância de que eu posso assegurar a V. Exa. É que me tem criado alguns inimigos, porém espero ainda assim que o serviço não padeça, pois não faltará da minha parte toda a contem-plação, condescendência e obsequio que o bem do serviço requer, quanto ao que me toca a mim tenho a consolação de que eles tam-bém são inimigos do Estado, com os quais tenho declarado guerra eterna...”47.
No ano seguinte, em correspondência para o vice-rei, conde de Re-zende, Campbell demonstra não estar satisfeito com as soluções que a justiça e a administração davam aos problemas de contrabando por ele encaminhados. Inicialmente ele trata de um assunto mais ameno que foi a devolução de certa quantidade de moedas espanholas que havia apreen-dido porque o capitão do navio não apresentou explicações satisfatórias. Campbell concorda com a atitude do vice-rei, nesse caso, para discordar 46 – A. H.U. Rio de Janeiro, caixa 190, doc. 45 – Carta de Donald Campbell a D. Rodrigo de Souza Coutinho, datada do Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1801.47 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 97
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
de outras mais adiante. Quanto à devolução do dinheiro pronuncia:
“...eu lisonjeio os sentimentos de V. Exa. Sobre a entrega dos duros que corroboram aqueles que eu já tinha expressado, minha dúvida era se os suplicantes eram ou não legítimos donos (...), porém eu entro no espírito da manifesta vantagem nacional que resulta da concorrência de patacas espanholas para as nossas colônias e que com viva vontade abracei toda ocasião de facilitar a sua condução para os nossos portos, mas não posso deixar de observar que toda a cautela é necessária para evitar que embarcações se sirvam deste subterfúgio para se aproximarem das nossas costas, ilhas e baias despovoadas com vistas a facilitar a condução de escravatura das nossas colônias para as de Espanha, tão prejudicial a nós como alguns outros ramos de comércio são favoráveis...”48.
Nisto Campbell tinha razão porquanto desde o século XVI as autori-dades coloniais portuguesas no Brasil desenvolveram esforços no sentido de captar a prata espanhola das minas do Alto Peru. Inclusive a fundação e manutenção da Colônia do Sacramento teria sido também com este ob-jetivo.
Na correspondência referida, depois de ter apoiado uma iniciativa do vice-rei, delicadamente o censura e igualmente a atuação dos tribunais.
“No dia 23 de fevereiro escrevi a V. Exa. sobre uma escuna ameri-cana que o Cuter D. Rodrigo de Souza tinha conduzido a este porto e em conformidade com a resposta de V. Exa. a mesma escuna, sua carga, papéis, estes foram entregues ao Desembargador ouvidor Geral do Crime e Juiz privativo dos Contrabandos. Depois daquele tempo até agora não tenho tido nenhuma participação no caso, mas pela voz comum entendo que o referido navio foi entregue ao seu capitão que está preparando para seguir viagem”.
A seguir Campbell lamenta a “injudicial” sentença por não levar em conta os motivos da prisão do navio e sua carga e ainda o fato de não ter
48 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 2002, doc. 31, ofício do comandante da Esquadra, Donald Campbell ao vice-rei D. Fernando José de Portugal, Conde de Rezende a bordo da nau D. João de Castro em 25 de agosto de 1802.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 200898
Corcino Medeiros dos Santos
sido ouvido e cientificado da decisão, pois não era seu desejo intrometer nem influir em tais decisões,
“... nem tão pouco citar as determinações de S. A. R. expressas na Carta Regia de 2 de setembro dirigida a V. Exa., como também aos governadores do Brasil com estas vistas. Mas sendo as mesmas determinações compreendidas numa Carta Régia, cujo objetivo é o contrabando, é de presumir que as minhas esperanças de ser ciente ao menos dos motivos que influíram na dita sentença (...). Eu não pretendo ser versado em conhecimentos forenses, mas me con-tento em possuir aqueles inseparáveis da minha profissão entre os quais tem lugar os elementos das leis marítimas e direito mercantil universais”.
E, continua quase que chamando a atenção do vice-rei para a sua res-ponsabilidade, já que ele Campbell cumpria as determinações emanadas da corte de Lisboa, quando afirma:
“...Nas minhas ordens aos comandantes se exige o maior cuidado pelo delicado jogo que se lhe apresenta na execução delas. De uma parte devem empregar os mais enérgicos esforços para evitar o contrabando que nestas colônias têm sido tão fatal aos verdadeiros interesses da pátria e tão positivamente determinado pelo PRNS e da outra evitar mal fundadas suspeitas e injudiciosas retenções que de algum modo possa atrair o escândalo de potências aliadas...”49.
Um apresamento irresponsável poderia possibilitar ao capitão do na-vio, armador e negociante entrarem com processo exigindo reparação por perdas e danos. Daí a necessidade de os comandantes agirem com muito cuidado. E, diz mais:
“...V. Exa. bem sabe o direito universal que todo o navio mercante tem de reclamar prejuízos e danos no caso de inqualificadas re-tenções, direito este ainda erigido sobre os mais puros princípios de justiça com vistas a conter nos seus limites os poderes de ação dos navios de guerra (...). É evidente que se o poder dos navios de guerra for limitado a apresar somente navios estrangeiros quando
49 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 99
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
os apanharem no ato de fazer o contrabando e que o agregado de colaterais evidências não autorizar uma confiscação, é então bal-dada toda a despesa de SAR conservar aqui uma esquadra com vistas a suprimir o contrabando...”.50
Essas reflexões a propósito da ineficácia da justiça e da vigilância para coibir a atuação dos contrabandistas coincidem com as conclusões do vice-rei manifestadas algum tempo antes quando afirmou que tal práti-ca era atribuída não só à insolência dos estrangeiros, mas aos comercian-tes portugueses sediados no Rio de Janeiro que clandestinamente fomen-tavam o contrabando. A seu ver os homens de negócio naturais do país faziam passar “por alto” as fazendas, tanto das nações estrangeiras como dos navios metropolitanos fraudando dessa forma os reais direitos devi-dos às alfândegas que por esta causa têm experimentado tão sensível di-minuição. Anteriormente o mesmo vice-rei queixou-se da inutilidade das medidas que vinha tomando para cercear o contrabando no porto do Rio de Janeiro51. O próprio vice-rei informava ainda que as rondas comanda-das por oficiais resultavam infrutíferas porque alguns oficiais eram tão infiéis que facilitavam a comunicação e o comércio entre os estrangeiros e os moradores da cidade.
“Apesar da recorrência da legislação e da rigidez das penas, o contrabando não cessou nos portos coloniais, sendo, ao contrá-rio, cada dia maior a audácia dos contrabandistas, freqüentemente auxiliados por funcionários portugueses e por moradores naturais da colônia ...as pessoas que deveriam estar encarregadas de con-trola-lo e suprimi-lo eram as que mais se envolviam na atividade ilícita”52.
Há um outro contrabando que quando não era estimulado, era tole-rado pelas administrações coloniais era aquele realizado entre a América Portuguesa (Brasil) e a América Espanhola. Esse comércio ilegal era tão
50 – Ibidem, ibidem.51 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 136.52 – BICALHO, Maria Fernanda – op. cit. p. 137
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008100
Corcino Medeiros dos Santos
importante para Portugal que o Marquês de Pombal com o objetivo de as-segurar o fluxo da prata espanhola para o Brasil, elaborou em 1770 e pôs em execução o secretíssimo Plano de Comércio. Com esse plano criou-se mecanismos de introdução de mercadorias européias na América espa-nhola pelos rios Madeira e Negro, por meio da corrupção de administra-dores espanhóis e padres da região. Era uma busca de outras alternativas, além daquela do Rio da Prata já manjada e naquele momento sob a mira do fisco espanhol53.
A esse contrabando, Donald Campbell se refere nos seguintes ter-mos:
“É fora de toda a dúvida que a simples operação de carregar gêne-ros nos nossos portos para os transportar aos espanhóis receben-do em troca os gêneros espanhóis que quase consiste em moeda vem a ser muito vantajoso ao nosso comércio; e se esse comércio em todos os seus ramos fosse conduzido em navios portugueses o lucro seria imenso. Mas o brilhante aspecto que apresenta essa figura perde muito o seu brilho quando se considera que a maior parte do dinheiro que vem das colônias espanholas é arrancado das nossas mãos pelos navios estrangeiros, principalmente os ingleses e anglo-americanos”.54
Mas continua argumentando que
“a vantagem era a de ser o meio de introduzir dinheiro nesta ci-dade e tão necessário na aproximação dos navios da Índia que se esperam de Lisboa. A vantagem de exportar daqui fazendas que demorando nas mãos dos negociantes não deixam de embarcar a venda das carregações que se espera de Lisboa e finalmente sem ser acompanhado das impolíticas conseqüências que resultam da exportação de escravatura...”55.
53 – SANTOS, Corcino Medeiros dos – “Las Relaciones Hispano-lusitanas en América y el Secretíssimo Plan de Comércio Del Marquês de Pombal”. Actas Del II Congreso Internacional de Hispanistas. Málaga, Algrazara, 1998, p. 25/44.54 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 189, doc. 31, Carta de Donald Campbell ao vice-rei Conde de Rezende a bordo da nau Rainha de Portugal, em 20 de fevereiro de 1801.55 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 101
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
J. M. Mariluz Urquijo informa que no ano de 1800 aportaram a Mon-tevidéu 11 embarcações portuguesas procedentes do Brasil com merca-dorias no valor de 267.965 pesos. Foram despachados de Montevidéu com o mesmo destino 16 navios com frutos no valor de 43.311 pesos. No porto de Buenos Aires teria havido movimento superior, tanto de entrada como de saída. Por outro lado informa que os descaminhos surpreendidos na área da jurisdição de Montevidéu no ano anterior não ultrapassaram o valor de 16.000 pesos. Veja a diferença entre o valor de entrada e de saída em Montevidéu. Essa diferença saía em pratas. Esses números entretanto, são apenas os números oficiais, supondo-se que a movimentação do co-mércio ilícito era superior. Neste caso os dados conhecidos permitem-nos levantar a hipótese de que a retirada dos portugueses andava por volta de 1.000.000 de pesos anuais. Examinando 9 expedientes de comissos realizados em 1802, encontramos apenas uma apreensão de embarcações com 31.849 pesos e mais 52 marcos de prata em pinha e pasta que os es-panhóis pretendiam passar para o Brasil. Desse modo, vê-se que o fisco era ineficiente no combate ao contrabando, daí não ter muita significação as apreensões realizadas. Estas, em geral, quase nunca eram de prata nem de negros.56
7. O Tráfico de Escravos do Brasil para o Rio da Prata
O intercâmbio comercial entre a América Portuguesa e a Espanhola, pelo Rio da Prata foi organizado desde o segundo quartel do século XVI. No começo com temidos ensaios que foram se tornando sistemáticos e acabaram se desenvolvendo com regularidade.
A evolução do comércio de contrabando no Rio da Prata teve a seu favor o desenvolvimento do comércio negreiro feito fundamentalmente pelos portugueses, que foram os primeiros asientistas, antes dos franceses
56 – SANTOS, Corcino Medeiros dos – O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica. Rio, Expressão e Cultura, 1993, p. 186/87. Sobre o comércio ilícito entre as duas colônias ibéricas ver BENTACUR, Arturo Ariel – Contrabando y Contrabandistas. Montevidéu, Arca, 1982; CESAR, Guilherme – O Contrabando no Sul do Brasil. Porto Alegre, UCS/EST, 1978.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008102
Corcino Medeiros dos Santos
e dos ingleses. O Rio de Janeiro teve importante papel como porto inter-mediário do intercâmbio com a América Espanhola, via Rio da Prata. Não só foi usado como escala pelos portugueses, mas também pelos franceses e ingleses. Além do Rio de Janeiro, a colônia do Sacramento teve grande importância como ponto de articulação do comércio hispano-lusitano do Rio da Prata. Concluído o período de maior importância dessa praça, o Rio de Janeiro absorveu toda essa função. E assim durante todo o século XVIII e começo do século XIX, as frotas do Rio de Janeiro para Lisboa conduziram muita prata, couros e outros gêneros provenientes de Buenos Aires e Montevidéu.
O comércio de escravos, ponto de partida para o comércio autori-zado e de contrabando com o Rio da Prata teve grande importância, pois segundo levantamento de Elena F. S. Studer, no período de 1742 a 1805 foram introduzidos legalmente, do Brasil no Rio da Prata, seguramente 15.000 negros57, sem contar os que entraram de contrabando, cujo núme-ro se desconhece, sabe-se, no entanto, que não era pequeno.
Ao lado do comércio de escravos e a partir dele, o comércio em geral oferecia grandes perspectivas de lucros e por isso, com o apoio das autoridades coloniais ou não, autorizado ou clandestino desenvolveu-se regular e continuamente. Daí o interesse de alguns investigadores pelo assunto58.
O tráfico de escravos para a América Espanhola começou por volta de 1511 e seu crescimento obedeceu às circunstâncias do mercado consu-midor. Três etapas caracterizaram esta marcha ascencional do tráfico: 1ª o
57 – STUDER, Elena F. S. – La Trata de Negros em el Rio de la Plata durante el siglo XVIII. Buenos Aires, 1958.58 – CABRAVA, Alice P. – O Comércio Português no Rio da Prata (1580-1640). São Paulo, USP, 1944; PANTALEÃO, Olga – A Penetração Comercial da Inglaterra na Amé-rica Espanhola, 1713-1783. São Paulo, USP, 1946; ALMEIDA, Luis F. – A Diploma-cia Portuguesa e os Limites Meridionais do Brasil. Coimbra, atlântica, 1957; MUNIZ BARRETO, A.E. – Evolução do Comércio Argentino-brasileiro, 1800-1830. Porto alegre, EMMA, 1982; MOLINARI, Diego L. – La Trata de Negros datos para su estúdio em el Rio de la Plata. Buenos Aires, EUDEBA, 1954; FRANCO, Mariza Vega – El Trafico de Escravos com América, Sevilha, EEHA, 1984.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 103
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
período das remessas livres, desde o descobrimento até 1513; 2ª o período das licenças de 1513 a 1595; 3ª o período dos asientistas, a partir do qual o tráfico se estabilizou dentro de um padrão que com pequenas variações orientou o abastecimento de negros para a América Espanhola durante todo o período colonial59.
A partir da união das Duas Coroas Ibéricas, o Acordo de Tomar em 1581 estabelecia que o comércio de escravos negros seria confiado aos portugueses. Era a oficialização de quanto os portugueses eram os prin-cipais fornecedores de escravos para as Índias de Castela. Os registros da Casa de Contratacion indicavam o volume e a regularidade das remessas no período de 1577 a 1585. assim temos: 1577 – 2511; 1578 – 1358; 1579 – 770; 1580 – 1003; 1582 – 1766; 1583 – 2039; 1584 – 1169; 1585 – 1690, totalizando os 9 anos 12.820 negros60. O primeiro asientista português pa-rece ter sido Pedro Gomes Reynel que o comprou por 61.467 ducados, com o que se comprometia a introduzir 4.250 escravos por ano durante 9 anos de vigência do seu contrato. Para se ter uma idéia da importância que passava a ter esse ramo de negócio basta dizer que na década anterior, segundo os registros da Casa de Contratacion, foram introduzidos 12.575 escravos, mas Reynel se comprometia introduzir 31.500 negros nos nove anos do seu contrato61. Reynel não conseguiu cumprir os compromissos assumidos pelo referido contrato, teria introduzido somente 5.241 escra-vos, por outro lado com o mesmo contrato encobria considerável contra-bando, pois no mesmo período que introduziu os 5.241, as licenças so-maram 6.367, conforme documentação do pleito entre a coroa espanhola e o referido asientista, com respeito ao descumprimento das clausulas contratuais “carianse en estas 6.367 licencias que estan despachadas en el livro Del asiento de P. Gomes Reyinel que tocan y pertnence a este como lo dice glosa de abajo...”62.59 – GARCIA, Rozendo S. – “Contribuição ao Estado do Aprovisionamento de Escravos negros na América Espanhola”. In Anuais do Museu Paulista, vol. XVI, São Paulo, 1962, p. 19.60 – Archivo General de Índias (AGI). Cedulário 2766, lib. II.61 – AGI – Indiferente General – Esclavitud, 2795.62 – AGI – Contratacion, 2766, libro III, p. 50.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008104
Corcino Medeiros dos Santos
A experiência foi valiosa para o comércio de Espanha com suas colô-nias e em consequencia no asiento seguinte (1604) foram introduzidas al-gumas inovações cuidando especialmente de impedir a entrada de escra-vos por contrabando. O segundo asientista parece ter enfrentado dificul-dade, porquanto depois da remessa de 2.538 escravos em pouco mais de um ano ocorreu uma interrupção até outubro de 1606. mas eliminadas as dificuldades conseguiu despachar em dois meses 5.790 escravos63. Quan-to às licenças vendidas nota-se que em 1608 totalizaram 9.790; em 1609, 7.777; em 1610, 3.379; em 1611. 362. terminavam assim as atividades le-gais dos asientistas com uma introdução de 27.379 escravos nos domínios de Espanha entre outubro de 1607 e abril de 161164. Entre 1614 e 1615 o governo espanhol fez tentativas de nacionalização do tráfico de escravos para suas colônias, mas os resultados não foram animadores e então pre-feriu continuar se servindo da experiência dos portugueses. Foi assim que os asientos se estabilizaram nas mãos dos portugueses entre 1615 e 1640 e apesar das dificuldades advindas da restauração o asiento continuou nas mãos dos portugueses até o começo do século XVIII. Parece mesmo que na segunda metade do século XVII o negócio prosperou a tal ponto que não ficava preso às licenças dos asientistas, levando o governo português a legislar sobre a matéria. Assim, pelas cartas régias de 19 de agosto de 1651, de 30 de julho de 1653, de 18 de janeiro e de 9 de março de 1654 e ainda de 28 de setembro de 1658, o comércio de escravos das colônias de Portugal para as de Espanha não só era permitido como era recomendado. Do mesmo modo aos espanhóis era permitido busca-los, se assim lhes conviessem nos domínios portugueses das costas africanas, ou ainda que os portugueses fossem vende-los nas colônias do Rio da Prata. As referi-das ordens régias regularam esse comércio de modo que fosse vantajoso aos portugueses (a Portugal). A referida legislação, em última análise, ti-nha como principal objetivo, “aumentar o nosso comércio de escravatura, desviar os espanhóis de formarem para o mesmo efeito feitorias sobre a costa da África Ocidental e atrair por este meio a prata e outras precio-
63 – GARCIA, R.S. – op. Cit. P. 60.64 – Ibidem, ibidem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 105
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
sidades que exportam das suas colônias da América”65. O fato especial é que essas franquias e demonstrações de boa vontade foram concedidas no tempo em que Portugal lutava contra ela na Europa, na áfrica, na Amé-rica e na Ásia para assegurar a independência que tinha recuperado em dezembro de 1640 e as mesmas vantagens políticas se concederam depois da paz celebrada com a Espanha em 1668.
Com a ascenção dos Bourbons ao Trono de Espanha o asiento de negros passou para a França que ocupou o lugar de Portugal no tráfico. Esse novo monopólio, entretanto, não durou muito, porquanto foi substi-tuído pelo inglês, sendo o contrato celebrado com o Rei da Inglaterra que o transferiu para a South Sea Company. Esse privilégio permaneceu com os ingleses até o terceiro quartel do século XVIII, quando se permitiu o livre comércio de escravos para os domínios de Espanha. Durante a vigência desse sistema sobreviveu paralelamente outro, o dos permisos. Com os privilégios concedidos a franceses, os portugueses não chegaram a ser expulsos desse mercado, por conta da demanda de mão-de-obra nas colônias espanholas não serem plenamente atendida pelos contratantes privilegiados e pela atração que sempre teve a prata espanhola. Nestas condições, por lei de 8 de fevereiro de 1711 o governo português houve por bem proibir,
“com novas e mais apertadas providencias todo o comércio direto feito nas nossas colônias e nações estrangeiras ou daquelas com vassalos de outros príncipes, com excepção concedida a favor do Reino de Angola e das Colônias Castelhanas do Rio da Prata e outras das Índias Ocidentais...”.66
Mas o governo português, talvez para atender às exigências do espa-nhol, por Alvará de 14 de outubro de 1751,
65 – Biblioteca Nacional (BN) do Rio de Janeiro. MS. 8-2,16. “Lembrança das razões dos que seguem poder ser útil a Portugal vender escravos aos castelhanos do Rio da Prata e de como se poderá fazer sem dano das colônias da América Portuguesa”.66 – Lembrança das razões...
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008106
Corcino Medeiros dos Santos
“proibiu a passagem de escravos do Brasil para os domínios da Coroa de Costela. Isto sabido, cumprirá expor as vantagens que re-tiramos e podemos retirar ainda de vender aos castelhanos escravos e os fins que tiveram nossos príncipes para umas vezes concede-rem, outras denegarem aos portugueses o referido comércio...”.67
Como se vê o fornecimento de escravos às colônias espanholas, prin-cipalmente do Rio da Prata ora era proibido, ora era permitido. A verdade é que proibido ou não, ele nunca chegou a ser totalmente interrompido de fato, pelo contrário no final do século XVIII e começo do século XIX não só o comércio de escravos como também de outros gêneros europeus ou do Brasil para o Rio da Prata sofreu aumento significativo.
Donald Campbell ao assumir o comando da Esquadra portuguesa do Brasil, tendo também a missão de combater o contrabando, se pre-ocupou de maneira especial com o contrabando de escravos para o Rio da Prata. Em carta de 4 de dezembro de 1800 para D. Rodrigo de Souza Coutinho, depois de tecer comentários sobre o contrabando que se fazia para o Rio da Prata por meio do Brasil e mostrar que havia vantagem em remeter fazendas européias e receber em troca principalmente a prata, ele acrescenta:
“...porém, parece-me que a escravatura não deve entrar nesta con-templação, pois em razão do número de escravos que passam das nossas colônias para as colônias dos espanhóis, diminuem nossos braços aumentando os da outra potência”.68
Na mesma correspondência, Campbell afirma que Portugal poderia adquirir a preferência na venda do seu açúcar na Europa, mas para estabe-lecer essa preferência, além de oferecer um açúcar de melhor qualidade, teria que ser de
“baixo preço, vem a ser da última necessidade que o indispensável artigo da escravatura do Brasil se conserve pelo mais baixo preço,
67 – Lembrança das razões...68 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 189, doc. 31.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 107
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
o que nunca pode ser se a prata espanhola entra em competência com os senhores dos nossos engenhos na compra da escravatura. Segundo o que dizem o preço da escravatura tem avançado neste últimos três anos incrivelmente”.
Noutra correspondência, datada do Rio de Janeiro a bordo da nau Rainha de Portugal em 1 de abril de 1801, ao vice-rei do Brasil diz: “...O contrabando de escravos tem mostrado um sério choque e seguiram-me que em conseqüência disto o preço da escravatura no Rio de Janeiro subiu 30%...”69. Em quase todas as oportunidades Campbell condenou a venda de escravos portugueses aos espanhóis, mas houve uma em que ele viu oportunidade de os portugueses ganharem muito com esse negócio.
“No momento atual mandando madeiras de certas qualidades para o Cabo da Boa Esperança, donde levando em dinheiro o produto destas cargas a Moçambique e comprando escravos podia voltar à América em seis meses, quando muito em oito meses com lucros enormes. Conservando as ‘caixas’ no estado atual eu responderia por ajuntar em dois anos escravos e dinheiro suficiente para pre-encher a importantíssima empresa que eu proponho; e se a posi-ção política entre Portugal e Espanha permite a prudência mandar algumas carregações de escravos conduzidas por esta maneira a Montevidéu, o ganho à Fazenda Real seria enorme...”.70
Em outros documentos fez referência ao problema que representava o comércio e o contrabando de escravos do Brasil para a América espa-nhola, mas há um que merece maior atenção e foi oferecido ao Senhor Visconde de Anadia, Ministro e Secretário de Estado da Marinha e domí-nios Ultramarinos por ofício datado do Rio de Janeiro em 30 de abril de 1802. trata-se das “Reflexões Imparciais sobre o tráfico de Escravatura entre as Colônias de Portugal e as de Espanha”71. Nesse documento afir-ma Campbell;
69 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 189, doc. 31.70 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 190, doc. 46A.71 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa (1802 verde escuro).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008108
Corcino Medeiros dos Santos
“que entre todos os extensivos arranjamentos comerciais de Por-tugal não há um só ramo deles tão importante à sua prosperidade como é o da escravatura. À primeira vista esta matéria apresenta um muito favorável prospecto a Portugal mandar escravos às colô-nias de Espanha, recebendo em troca dinheiro que pelos princípios gerais todo o comércio que ajunta dinheiro é acompanhado pela vantagem nacional...”.
E, argumenta que seria muito mais vantajoso a Portugal vender o produto do trabalho dos escravos, ainda que em troca de manufaturas da Europa do que vendendo os mesmos escravos por dinheiro nas colônias de Espanha. Ainda admitindo que os escravos podiam se classificar como produto em bruto de Portugal, o que em grande parte é justo, como uma porção de escravos comprados por tabaco, aguardente e outros produtos das colônias de Portugal”.72
Outro aspecto da questão levantado por Campbell foi a do preço do escravo que tenderia a elevar-se no Brasil a ponto de equiparar ao que ele alcançava nas colônias espanholas, contribuindo para diminuir lá o custo da produção enquanto aumentava no Brasil, quando expressa:
“... a venda da escravatura nas colônias de Espanha aumentará o seu preço nas nossas. Animando ou ainda permitindo este tráfico necessariamente conduzirá o preço da escravatura mais próximo da igualdade e é muito mais fácil aumentar o preço dela aqui do que diminuí-lo lá. Mas admitindo que a diferença atualmente exis-tente se reduza a proporções iguais e que o preço da escravatura aqui aumenta na razão do que lá cae, o resultado vem a ser que o valor do trabalho nas colônias de Espanha cae”.73
O resultado geral seria um aumento no custo dos mesmos escravos que acabaria envolvendo em dificuldade a agricultura do Brasil. Desse modo o benefício imediato que podia ter os comerciantes envolvidos nes-se comércio seria anulado e eles acabariam perdendo mais de um lado do que ganhando de outro. Por isso tornava-se necessário limitar72 – Reflexões imparciais sobre o tráfico de escravatura...73 – Reflexões Imparciais sobre o Tráfico de Escravatura...
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 109
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
“por todos os meios possíveis a exportação de escravatura para as Colônias de Espanha, sejam quais for as conveniências comerciais que possam resultar de receber dinheiro de Espanha, ainda que todo o produto viesse em moeda metálica”.
Suposição que julga plausível em teoria, mas que não existia na prá-tica, o que procura demonstrar debaixo dos seguintes argumentos: 1º) Boa parte dos escravos era conduzida por embarcações estrangeiras, prin-cipalmente anglo-americanas. Essas embarcações chegavam no Rio de Janeiro ou na Bahia onde vendiam suas cargas ou parte delas e com o produto embarcavam escravos, “roubando-nos assim por uma dobrada operação de contrabando o sangue da nossa prosperidade”. Esses escra-vos eram levados para o Rio da Prata para, inclusive, facilitar a admissão dos navios que ali vendiam os escravos e outras mercadorias européias. O dinheiro que produzia os escravos não voltava para o Brasil mas era leva-do para a conclusão dos seus negócios na China. A grande “necessidade dos espanhóis de ter escravos faz que eles admitam a iguais privilégios um navio estrangeiro que leva escravos para as suas colônias, como os seus próprios navios, podendo carregar dos gêneros do país por sua conta ou por frete com a mesma franqueza que os mesmos navios espanhóis... 2º) O resto dos escravos conduzidos às colônias espanholas ou são em embarcações nossas ou nas dos próprios espanhóis. É inesgotável que nestes vem porções de dinheiro na sua torna-viagem...”. Mas além da prata traziam também outras mercadorias, cuja venda era lucrativa nos portos brasileiros com prejuízo para o Estado.
8. O Brasil e suas Perspectivas de Independência
Por muitos anos Portugal considerou suas colônias como apêndice totalmente dependente da metrópole. Esta, por sua vez, devia administrá-las de modo que jamais tivessem condições de tornar-se independentes. Contudo, afirma Campbell, não ser necessária muita observação e perspi-cácia para perceber “... que o Brasil não deve demorar para libertar-se do domínio da metrópole. A política, porém, tem considerado o Brasil como o laço forte, mas deve crescer a alternativa de separação, mas a coroa
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008110
Corcino Medeiros dos Santos
procura jogar esta para um período mais remoto possível, mantendo a colônia sob toda a espécie de opressão” 74.
Em relação aos escravos, afirma que no Brasil eram mais dóceis do que os dos domínios holandeses, franceses e ingleses. Este fato se devia à “poderosa influência da Religião católica” que funcionava como “a mais firme liga sobre a mente humana, afastando-os de desordens e subleva-ções. Restos desta influência ainda existem no Brasil, mas sinto dizer que visivelmente abalada, principalmente nas cidades onde o aumento do número de mulatos, negros forros, vadios e desocupados sustentados só pelo produto do vício, roubos e ladroeiras, torna mais difícil sustentar en-tre eles aquela decorosa observância da religião” que algum tempo atrás distinguia a negraria do Brasil. Estas mudanças “que tem havido, tanto religiosas como políticas na Europa neste últimos anos”, tem estendido suas
“influências aos mais remotos quadros do mundo e no Brasil estas bravas e quiméricas especulações são reconhecidas pelas publica-ções mais inflamatórias e mais próprias para perverter o conheci-mento humano. É verdade que a classe de gente (escravos) de que trato não devia ter imediato e inteiro conhecimento destas publi-cações. Tanto pior porque a sua mutilada inteligência destas maté-rias foi lhes comunicada pelos corruptos de sua classe que tiveram oportunidade de extrair algumas idéias daquelas conversações dos seus mais insolentes nomes, cujas mentes eram já envenenadas lendo as obras de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Abe Raynal e ultimamente as de Thomaz Paene” 75.
A preocupação com a disseminação das idéias subversivas da Revo-lução Francesa de 1790. o perigo da ameaça revolucionária pairava não só sobre as metrópoles, mas principalmente sobre as colônias. A Corres-pondência ultramarina dessa fase reflete esse medo. M. Fernanda Bicalho citando correspondência do governador da Bahia para a Corte, expressa: 74 – Donald Campbell para a corte de Londres, em 1804. Public Record Office, Foreign Office 63.75 – Reflexões Imperiais sobre o tráfico de escravatura. Entre as Colônias de Portugal e de Espanha.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 111
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
“O período da disseminação nas colônias dos princípios revolucionários franceses, as abomináveis idéias de liberdade e igualdade” era real, por-quanto “os súditos ou cidadãos da França tem feito os possíveis esforços para introduzir o espírito de sedição entre todas as outras nações, pro-pagando nelas as suas traidoras e horrorosas doutrinas”. Por outro lado, o embaixador português em Paris informava do pernicioso e perverso intento com que os clubes estabelecidos em França procuram propagar os abomináveis e destrutivos princípios de liberdade e igualdade com que tem iludido o espírito do povo, para alienar da devida sujeição e obediên-cia ao seu legítimo soberano, e para efetivarem por este meio a fatal Re-volução. Segundo Mello e Castro, com a propagação destes abomináveis princípios os mesmos clubes atearam nas colônias francesas o fogo da Revolta e da Insurreição, fazendo levantar os escravos contra seus senho-res, e levando a Ilha de São Domingos a uma sangrenta guerra civil em que se cometeram as mais atrozes crueldades que jamais se praticaram, nem ainda entre as nações mais bárbaras e ferozes”76.
A Donald Campbell não passou despercebido o clima de inseguran-ça, tensão e medo que reinava na Europa e nas colônias. Tanto em sua correspondência para a corte de Lisboa como para a de Londres manifesta tais sentimentos. Para ele a independência do Brasil seria inevitável e es-tava mais próxima do que Portugal podia acreditar. Assim se manifesta:
“Pode parecer impossível que Portugal no seu presente estado de deterioração política, possa conservar a soberania de tão extensa, importante e valiosa Colônia, mas apesar disso alguns políticos parecem ver a aproximação da separação com apatia (...). Eu irei falar da política que deve desejar mais que tal evento de tão grande conseqüência para o mundo em geral e a Grã Bretanha em particu-lar. Já houve esforços prematuros dos brasileiros para fugir da sua dependência de Portugal, sendo auxiliados ou não por um poder estimulador, para provar abortivamente que aos negros eram ape-sar de tudo, permitido ganhar ascendência...”.
Quando falo sobre um conflito, não quero dizer que ele viria dos
76 – BICALHO, M. Fernanda – op. cit. P. 154/155.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008112
Corcino Medeiros dos Santos
esforços de Portugal para manter a sua soberania sobre o Brasil. Não, eu acho que aquela colônia, no atual estado de Portugal, se não ajudada por uma outra potência européia, deve ser evitado. Esse grande conflito iria surgir das contradições entre eles mesmos”. Mas para entrar mais minu-ciosamente nas diferentes considerações deste tema e desenhar a refle-xão geral resultado de tão complicado assunto de maneira mais detalhada sobre as diferentes circunstância que irão muito provavelmente surgir, deve ser dito. “A Emancipação do Brasil ou da América do Sul, quando quer que venha acontecer, deve sê-lo aproximadamente em uma das três seguintes direções”77. Primeiro, iriam seguir o exemplo dos norte-ame-ricanos e estabelecer um governo livre entre eles mesmos; segundo, os brasileiros iriam se libertar do jugo de Portugal, mas submeter-se a uma dependência mais suave de outra potência capaz de proteger o seu comér-cio e torná-los mais felizes; terceiro, que a soberania de Portugal seria transferida à América e o rei tornar-se-ia imperador da América do Sul. Sobre a primeira hipótese, ou seja a independência total do Brasil, afirma Campbell, seria a linha de procedimentos mais aprovada entre os brasilei-ros particularmente os fazendeiros e mercadores, mas é natural supor que a maioria dos governadores iria se opor e que muitos funcionários civis da coroa e do exército, com uma certa porção das tropas deve juntar-se a eles naquela resistência. Assim iria surgir entre eles comoções, mas a di-ficuldade de comunicação entre as capitanias iria dificultar a cooperação possibilitando a primeira divisão da Costa do Brasil que estendendo-se do Rio Amazonas ao Cabo de São Roque onde um ou poucos indivíduos colocando-se na liderança poderia dar-lhes a independência tanto de Por-tugal como do resto do Brasil.
“Mas nesta luta eles devem ser arrasados ou auxiliados pelo atual poder bélico da Europa mas supondo que sejam deixados à sua própria sorte e neste caso eles teriam dificuldade até em preservar seus escravos e índios em sujeição, na medida em que o número de brancos naquela região era menor do que em qualquer outra parte do país e também pela mesma razão que as outras partes do Brasil
77 – Correspondência de Donald Campbell para a corte de Londres em 1804 – Public Record Office.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 113
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
não podiam impedir as medidas nem cooperar com eles na hora de necessidade. Desse modo ele não podia depender de nenhuma de suas reservas internas, a não ser que os franceses encontrassem nas Guiana uma travessia para o Brasil, coisa que não seria impossível nem difícil. Com isto far-se-ia uma barganha, dariam apoio àquela parte do Brasil independente e em troca obteria livre navegação de todos os trechos do Rio Amazonas e então teriam comunicação por terra e por água com todas as províncias e ilhas do Brasil”.78
A segunda opção dos brasileiros seria estabelecer uma aliança com outra potência européia. A primeira dificuldade seria a da escolha da sede do governo central. A Bahia que já havia sido sede do governo e ainda era o principal rival em poder e opulência ao Rio de Janeiro, onde os habitan-tes premiados por serem considerados de grande importância, olhavam com desprezo os baianos. Estas divergências os distrairiam da segurança e poderia obstruir em sua infantilidade o bom entendimento. Neste caso a interferência das províncias do interior, particularmente, Minas Gerais pelas suas riquezas minerais e pela sua aparente posição defensável iria habilitar-se para residência do governo. Segundo Campbell, se os jesuítas ainda estivessem no Brasil, constituiriam um pólo de aglutinação, antes que uma revolução viesse a explodir. Como não estão,
“atualmente é difícil dizer, o que poderá acontecer, mas eu estou certo que os brasileiros seriam precipitados em qualquer esforço prematuro para a liberdade tanto pela fraqueza em seu próprio go-verno como pela imprudência de qualquer setor de indivíduos ou pela interferência desqualificada de qualquer potência estrangeira. Eles certamente iriam tornar-se presa fácil para aquela espécie de anarquia que prevalece agora em São Domingos. Estas pessoas não são nem de hábitos, nem princípios ou educação capazes de governar-se poucos deles tiveram oportunidade de qualquer edu-cação e aqueles poucos descobriram um incomum grau de penetra-ção e vivacidade, mas apressados pela impetuosidade de sua dis-posição natural e descobrindo-se como se tivessem sido removido de uma nuvem escura para uma luz inesperada, impregnados com novas doutrinas, também comuns na Universidade de Coimbra em
78 – Donald Campbell para a Corte de Londres.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008114
Corcino Medeiros dos Santos
Portugal, eles são genericamente educados, retornando ao Brasil Jacobinos professados e defensores dos interesses que os afastava das mais sensatas e pouco instruídas companhias que tinham no Brasil”79.
Desse modo, os brasileiros estavam muito mais desejosos que prepa-rados para proclamarem a sua independência.
A segunda direção ou caminho sobre o qual as mudanças no Brasil deviam ser consideradas, sendo tuteladas por uma potência estrangeira, “ou poderes que devem necessariamente ser divididos em duas partes. 1ª que este poder irá ser um esforço para o estabelecimento, sem consulta dos brasileiros; 2ª que a medida trará cansaço e carrega para a execução com as suas conseqüências. Para começar com a 1ª, eu tenho que obser-var que a Grã-Bretanha e a França podem a qualquer hora tomar posse de qualquer parte da costa do Brasil, sem muita resistência, exceto o Rio de Janeiro, cujo porto não pode ser tomado, mas pode ser carregado.(...) Mas para considerar quão longe a Grã-Bretanha ou a França poderiam se manter lutando contra a vontade dos brasileiros possibilita várias refle-xões das quais irei me esforçar para tratar de acordo com as observações feitas sobre o assunto e começando exibindo os diferentes pontos de vista nos quais os brasileiros seguram as duas nações. (...) Na Bahia e até em Pernambuco os ingleses são mais populares, mas no Rio de Janeiro os franceses tiveram e ainda têm ascendência. Uma razão geral para isto é que quando enviaram seus jovens para educar em Portugal os permitiram depois ir a qualquer parte da Europa. Os primeiros preferiram a Ingla-terra, mas os últimos escolheram a França. Cada grupo encantado com a superioridade do país que escolheu, descobriu em Portugal e nos dois países tanta injuria de seus rivais que retornou ao Brasil trazendo total parcialidade para um e desprezo para o outro; falando em seus méritos e deméritos com tamanho fervor que até os cidadãos desinformados parti-cipavam de sua forma de pensar”.
“A Bahia por possuir um forte corpo de comerciantes e armadores
79 – Donald Campbell para a Corte de Londres...
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 115
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
aspirava o livre comércio e isso os identificavam com os interesses ingleses que possuíam instituições comerciais dignas de imitação. O Rio de Janeiro a parcialidade para os franceses sofreu uma re-cente diminuição. Os franceses republicanos estavam lá na mais alta estima, mas quando Napoleão se declarou Primeiro Cônsul vitalício e procurou fixar este título hereditário em sua família causou uma profunda desilusão(...). Num sentido mais amplo, eu estou autorizado a dizer que os ingleses são mais universalmente estimados do que os franceses e aquela inveja individual ao co-mércio é a mais séria objeção a eles”.80
Para Campbell o caso com a Inglaterra era completamente diferente: ela não pretendia territórios coloniais, não era obrigada a abandonar um objetivo superior como as avançadas costas brasileiras por medo do seu rival e adotar uma situação politicamente inadequada como o Rio de Ja-neiro pelo fato de ser protegido. Seu objetivo mais amplo seria prevenir um ataque inimigo às posições estratégicas do Brasil por meio das quais pudesse atingir o propósito de manter uma grande força naval e proteger seu próprio comércio. Por outro lado, a superioridade naval nesta parte da costa significaria possuir completo domínio sobre todo o resto, en-quanto se estivesse estacionada em qualquer outra parte da costa como Pernambuco ou Bahia estaria exposta e longe do ponto central de transito de embarcações para o norte e para o sul. Diante destas observações, a Inglaterra parece que teria melhor chance do que a França de obter su-cesso em estabelecer no Brasil independente. Mas, de acordo com suas observações qualquer iniciativa nessa direção teria que ter o maior cuida-do para não encontrar um comércio paralisado, cidades desertas ou uma violenta reação dos brasileiros.
Uma mudança no que poderia propiciar desdobramentos, uma delas seria no Rio da Prata. Campbell escreve:
“Os espanhóis do Rio da Prata, mais particularmente aqueles da parte norte (vale dizer Uruguai) estão igualmente maduros como os portugueses para mudar a sua condição e se qualquer plano ge-
80 – Donald Campbell para a corte de Londres.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008116
Corcino Medeiros dos Santos
ral for apresentado respondendo também a seus anceios eles iriam até se juntar aos brasileiros e estabelecer um sistema geral de go-verno. Mas se acontecer qualquer mudança no Brasil que não for do seu agrado e cuja mudança pudesse fazer surgir uma confusão no Brasil, eles iriam tanto como pessoas livres ou sob a dependên-cia de Espanha marchar ao ataque do Rio Grande...”81.
Outro aspecto que merece consideração é saber o clima de animo-sidade que havia entre brasileiros (portugueses nascidos no Brasil) e os naturais de Portugal. Para isto recorremos a um documento que não é imparcial, mas nos dá bem a medida das tensões interétnicas do Brasil no final do século XVIII. Esses conflitos pavimentavam o caminho para a independência de Portugal e explicariam motins e convulsões que ocor-reram logo depois da separação. Trata-se de carta do português Amador Patrício da Maia, datada do Rio de Janeiro em 4 de março de 1790, para o ministro Martinho de Mello e Castro. Nesta ele começa por dizer que:
“Sua Majestade e o seu ministério estão muito mal informados de algumas circunstancias da América, respeito ao gênio, compor-tamento e intenções de seus nacionais. (...) São os mesmos que tratam com o maior desprezo e ódio aos europeus seus melhores progenitores”82.
E, continua desfilando um rosário de acusações contra os naturais da América dizendo que eles tinham os portugueses na conta de gente vil, cativos do trabalho e condenavam aqueles que se dedicavam às atividade comerciais para sair da pobreza.
“Não podiam ver sem inveja que um filho de Portugal salte no Rio de Janeiro pobre e que entrando em casa de um negociante como caixeiro venha dentro de doze ou mais anos constituir-se em outro negociante, vivendo em opulência com o seu negócio. Contentam-se de os murmurarem, tendo-os em classe de marinheiros, dizendo que os viram saltar todos descalços, com calças breadas para de-pois os verem tratar de sege.
81 – Donald Campbell para a corte de Londres.82 – A. H. U. Rio de Janeiro, caixa 145, doc. 28.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 117
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
Todo o filho do Brasil tem em desprezo todo o gênero de trabalho, ainda o mais decente. São criados na maior ociosidade e vivem na maior dependência porque nem se podem vestir sem contraírem dívidas em casa dos mesmos de quem falam mal. Vivem, porém, muito enriquecidos e muito abundantes de amor próprio, de forma que bem se pode dizer deles que são um verdadeiro emblema em que se vê retratada a vaidade ao lado da miséria. Padecendo todos a loucura de se terem na conta de fidalgos, quando apenas seus pais ou avós foram almotaceis ou vereadores. Eles tratam gene-ricamente os filhos de Portugal por marotos, galegos, mochilas e lacaios. Este mesmo desprezo com que tratam a todos os filhos de Portugal é tão geral em todos os nacionais da América que até mesmo o bispo diocesano deu prova em ato público de ser anima-do pelo mesmo espírito”83.
Diz ainda que os americanos tinham sua pátria (Brasil) no maior apreço imaginando-lhe uma grandeza que não tinha ao mesmo tempo em que ouviam com desprezo e indiferença o que eles contavam sobre as grandezas da metrópole. Estavam convencidos de que na Europa tudo era pobreza e nada nela podia ser magnífico sem o socorro da riqueza do Brasil. Essa riqueza que
“supõem possuir seria muito menor se não fosse meneada pelos europeus, porque eles pela sua natural inércia e habitual ociosida-de nem podem ser prestativos a si nem úteis ao Estado. Apesar do ódio que lhes tem, respeitam os europeus por serem mais ativos, porque os filho do Brasil são naturalmente frouxos e pusilânimes, menos em vaidade e amor próprio. Por essas circunstâncias não há, por hora, que temer por parte deles a rebelião”84.
Mas afirma haver o que temer em um futuro bem próximo, uma vez que todos os regimentos estavam contaminados por oficiais americanos. Para evitar que numa possível rebelião e que os militares passassem para o lado dos brasileiros, recomendava que S. Majestade determinasse a tro-ca de regimentos. Os do Rio de Janeiro seriam transferidos para a metró-
83 – Carta de amador Patrício da Maia – A. H. U. – Rio de Janeiro, caixa 145, doc. 28.84 – Carta de Amador Patrício.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008118
Corcino Medeiros dos Santos
pole enquanto os do Reino viriam para o Brasil, porquanto,
“os oficiais dos regimentos da terra falam com um desaforo que não se lhes notava há alguns anos atrás quando nos três regimentos da Europa estavam os seus europeus e tinham chefes de respeito, tanto pelo seu distinto nascimento como pelo seu comportamento grave e respeitoso”.
O Brasil independente precisaria de uma poderosa força naval por-que, segundo Campbell, “a marinha de qualquer potência é peculiarmente adaptada para delinear e difundir ao longe a característica de sua nação”. Quando conhecemos e observamos um estrangeiro, a sua conduta e atri-butos são atribuídos ao caráter de sua nação. “Segue-se então quanto é essencial a toda a nação, que a sua Marinha, a qual é exposta à observação do mundo todo, possua aquelas qualidades próprias para representar no ponto de vista mais favorável a sua pátria”.
Afirma não ser a Marinha de Portugal o mais desfavorável lado, mas pelo contrário existem considerações interiores e exteriores que induzem a vê-la como a mais favorável, contudo, convém observar “que pela idade podem ter perdido o brilho, tornando-se pálida, ou ainda pelo avanço dos conhecimentos marítimos, podem requerer nova forma”.
“...Tenho motivos para dizer que Portugal possuindo uma ativa Marinha e um constante sistema de energia nas colônias, seria o mais eficaz argumento para silenciar as objeções que alguns ingle-ses pudessem opor à original proposição. (...)
Comecei esta carta no Rio de Janeiro, escrevi parte dela em Santa Catarina e agora estou escrevendo no porto da Vila de Santos, e confesso que cada passo que dou neste continente me confirma cada vez mais os meus cálculos de aritmética política, comercial ou ainda de defesa peculiar a ele, e que a Marinha constitui a sua essencial e mais apropriada proteção”, porque há meios de tê-la em um alto grau de perfeição com superiores e reais vantagens. As verdades permanentes que direcionam esta conclusão são: “ma-deiras, metais, e cânhamo que constituem os três principais gê-neros para o uso dela; estes o Brasil os tem ou pode ter na maior
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 119
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
abundância e perfeição, como também todos os mais subordinados gêneros, independente de qualquer outra potência. (...)
Entendo que algum dia o comércio costeiro destas colônias foi conduzido pelos escravos, havia em cada embarcação um ou dois brancos, mas hoje em dia é raro ver um escravo nas embarcações desta descrição; ainda que o comércio costeiro tenha crescido mui-to, mudança esta que julgo favorável aos interesses da pátria e que eu tenho procurado animar.85.
A primeira vantagem desta mudança foi a diminuição da despesa de navegar e a conseqüente redução do frete pelo aumento das embarca-ções.
Anteriormente quando um indivíduo propusesse construir um navio precisava ter outro tanto de capital para comprar escravos, para equipá-lo e assim navegava com maior despesa, “pois o juro deste crescido capital e o prêmio dos seguros eram superiores às soldadas de marinheiros bran-cos, cujas vidas o negociante não tinha necessidade de segurar, pois pela morte deles nada perdia...”.
Pelo o novo sistema o indivíduo pode construir um navio ou dois, aumentando seu lucro e as rendas do Estado. Estas condições favoráveis não devem levar à idéia de que o aumento do número de marinheiros privava o Estado de braços para a agricultura ou manufatura. Por outro lado afirma Campbell esperar que em Portugal se criem leis e instituições para proteção deste utilíssimo corpo de gente de modo que evitasse as injustiças praticadas pelos mestres e proprietários dos navios e que os induzissem a preferir o serviço da pátria a qualquer outro e ainda por es-tes meios aumentar a demanda de marinheiros no Brasil com aqueles que atualmente servem na Inglaterra e em outros países.
“Se o marinheiro em geral é útil à pátria, mais úteis ainda são aqueles empregados na navegação costeira. O fato de não terem longas ausências lhes permite casar e sustentar família, assim en-
85 – Carta de Donald Campbell, comandante da Esquadra portuguesa da América, ao Sr. Visconde de Anadia, Ministro e Secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramari-nos, datada do Rio de Janeiro, em 21 de setembro de 1802.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008120
Corcino Medeiros dos Santos
quanto o trabalho do homem produz vantagem ao Estado, porque “o marinheiro serve no comércio com os estrangeiros sua mulher se ocupa na criação de recrutas para o mesmo Estado”.
O costeiro, pela consideração de liga doméstica e pela diferença de educação é mais seguro vassalo e “se forem animados na Costa do Bra-sil com apropriadas restrições a todo o tempo oferecerão o mais amplo socorro de bons marinheiros para a condução do comércio ou para a de-fesa dele e do Estado. Mas para colher o fruto que esta árvore oferece é necessário nutri-la com uma vigorosa, enérgica e bem apropriada política marítima e não só dá proteção ao comércio, mas estender sua influência a coibir ramificantes desordens e libertinagem tão peculiar à natureza desta gente, muito particularmente em colônias tão distantes do trono”86.
86 – A mesma correspondência citada na nota 86.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 121
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
A Transferência da Família Real para o Brasil
O projeto de transferência da corte portuguesa para o Brasil, motiva-do pela crise da invasão francesa não era novidade. Ele já tinha aparecido “nas conversações políticas desde o século XVII, no período da Restau-ração” e volta a ser cogitado “no século XVIII, com D. Luis da Cunha e o Marquês de Pombal. Novamente se pensa nessa alternativa por ocasião do terremoto de 1755 e depois durante a invasão do país em 1792”87. Mas a aliança franco-espanhola de 1795 representou um alarme de perigo para Portugal. Com ela rompe-se a política de boa vizinhança existente entre as famílias reinantes de Lisboa e Madrid, trazendo de volta as discus-sões sobre o projeto de transferência da Família Real portuguesa para o Brasil. Mas Donald Campbell vê a questão como um projeto britânico e essencial ao prestígio político e á preponderância marítima e comercial da Inglaterra. Ele começa dizendo:
“Eu devo relembrar que se a Inglaterra aumentar a sua influência na Europa terá de aumenta-la na América e em ambos os casos descobrirão que o destino de Portugal passa por sérias implica-ções. Os argumentos que aparecem no primeiro caso são de na-tureza extensiva e integrante. Devo dizer ainda algumas palavras sobre o envolvimento de Portugal com a política de seus vizinhos e devo prevenir que suas colônias com laços que estão sendo enfra-quecidos com o crescente poderio naval da Inglaterra, cujo poder ela é obrigada a opor pela pressão da França”.88
Ao mesmo tempo que a Espanha via a ameaça de perder suas colô-nias, abandonou todo e qualquer plano de transferir a sede do governo para a América, consolava-se com a idéia de reincorporar Portugal e tornar-se única na Península Ibérica. Dessa forma com ambição de um lado e medo do outro, a Espanha não se oporia às medidas da França, ainda mais que elas estavam de acordo com as visões de reconquista e anexação de Portugal. Apesar da possibilidade concreta de o Brasil se
87 – AZEVEDO, Francisca L. N. de – op. cit. p. 2688 – Public Record Office, Carta de Donald Campbell a Lord Harrowly, datada de Lon-dres, em 14 de agosto de 1804.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008122
Corcino Medeiros dos Santos
separar de Portugal e de não continuar sob a opressão metropolitana, a idéia de transferência para o Brasil estava totalmente posta de lado. En-quanto estes sentimentos prevaleciam na corte portuguesa, a influência do embaixador francês na mente do Príncipe impedia que ele prosseguisse com o plano do Brasil, deixando-o indeterminado. Mas Campbell afirma: “O plano de Portugal para o Brasil é uma medida de tão grande impor-tância que eu tenho que entrar em uma detalhação mais minuciosa dos sentimentos do Príncipe sobre esse assunto. Tão tarde quanto pode, em 1803 o príncipe deixou claro que o plano do Brasil seria o último recurso e conseqüentemente contemplou a sua aliança com a Inglaterra como um acordo para não ser usado no momento”.
O embaixador francês sabia do poder dos seus argumentos quando voltou com a ameaça de um exército francês, usando todos os sentidos incluindo o de invalidar a importância do Brasil, como ele mesmo asse-gurou a Campbell o desejo de banir o tratado da frota naval britânica. Mas informa que “em uma conversa que teve com o Príncipe, no mês de julho de 1803, ele declarou que seus sentimentos em relação ao plano do Brasil tinham passado por uma grande mudança – Primeiro suas obriga-ções de religião, moralidade e patriotismo o obrigavam suportar o destino de seu país. Segundo que as rebeliões em São Domingos evidenciaram que não havia soberania dos brancos, em minoria, num país trabalhado pelos negros. E, por último afirmou que na eventualidade de uma sepa-ração, a experiência tinha mostrado que a Inglaterra tinha ganho e não perdido com a emancipação de suas colônias”. Campbell argumentou que as vantagens que a Inglaterra obtivera da emancipação dos Estados Unidos vieram da superioridade de sua marinha e de seu comércio. As mesmas que iriam colocar nas mãos britânicas os benefícios provenientes da emancipação das colônias da América do Sul, quando quer que vies-se acontecer. Neste caso Portugal encolheria, tornando-se Província da Espanha. A esta argumentação respondeu o Príncipe que tinha garantia da França de que jamais permitiria aos espanhóis deslocar um exército para ocupar Portugal. Nesta resolução o Príncipe era apoiado pela França pelos próprios espanhóis e por uma grande parte da nobreza que temia
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 123
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
perder seus privilégios. Desse modo, a maioria de seus homens da corte, mesmo os mais fieis estavam contra o plano de transferência para o Bra-sil, além disso, havia aqueles que defendiam os interesses dos espanhóis que tinham consciência de que essa transferência iria acelerar o processo de independência de suas colônias. Acrescenta Campbell:
“Ainda há lá mais agentes poderosos para aconselhar, quero dizer um exército britânico, o Príncipe podia reassumir a sua sonhada independência. Muitos importantes assuntos reais iriam reunir-se em torno do trono e Portugal com facilidade iria entrar num formi-dável estado de defesa que iria requerer um exército maior do que a França tinha disponível no momento.”
A Espanha via com indiferença a tropa de 12.000 franceses de pron-tidão em Bayonne e podia até passivamente vê-los marchar pela Espanha para o ataque a Portugal, como aquele número não podia oferecer perigo a sua própria segurança, mas podia jogar Portugal em suas mãos. Mas ver um exército de 50 a 60.000 franceses iria faze-la pensar seriamente em sua própria integridade e perder as esperanças de conseguir Portugal e por último veria suas colônias indo para as mãos de Portugal”89. Nesse caso, o governo português sentindo-se incapaz de resistir ao poderio bélico dos franceses naturalmente iria transferir-se para o Brasil, tornando-se estran-geiro na América do Sul. Mas para prevenir essa calamidade segundo Campbell, “é possível e até provável que Espanha venha a juntar-se a Portugal em oposição à ocupação francesa e desse modo a combinação criada no oeste pode operar fortemente no leste da Europa e renovar a influência britânica no Continente”. Este resultados não seriam produzi-dos mandando tropas britânicas para Portugal, essa medida poderia ser convertida “em um essencial passo preliminar para o grande projeto de remover o Brasil da órbita de influência da França, em empreendimento que não poderia ser feito sem estabelecer lá (no Brasil) um governo de princípios sólidos e permanentes, como pode ser feito com a transferência da família Real sob a proteção de uma força britânica, quando Portugal deveria ser deixado por não ser mais defensável, tendo enviado preven-89 – Carta de Donald Campbell a Lord Harrowly de 14 de agosto de 1804.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008124
Corcino Medeiros dos Santos
tivamente para o Brasil a frota naval portuguesa, colocando-a fora do alcance dos franceses”90.
O Caráter de D. João
D. João, esse desconhecido, sobre quem existe algumas versões cari-catas. Que tipo de homem e de governante era? Sobre sua personalidade e seu governo no período de crise que antecedeu a transferência da corte para o Brasil, Campbell tece considerações. Para ele o Príncipe Regente de Portugal podia estar abençoado pelas suas virtudes pessoais, mas não possuía aquela firme energia de caráter que possibilitaria desembaraçar o seu país dos perigos internos e externos que sua própria indecisão estimu-lava. Os estratagemas de seus inimigos, organizados em função da inope-rância do governo, ameaçavam o país com uma dissolução próxima. Seu reinado era distinguido pela negligência e indecisão. Mas o assunto da transferência do governo para o Brasil passou a ocupar o seu pensamento mais do que qualquer outro e talvez até tivesse convencido a pessoas como Campbell se não fosse “a fácil”indolência de sua disposição que tem possibilitado o seu rodeamento de inimigos para enfraquecer e até destruir o projeto do Brasil.
“Com o pensamento naturalmente voltado para a benevolência e inclinado para a humanidade ele se torna uma presa fácil para as astutas maquinações da corte. Um semblante de arrogante, indo-lência, falta de confiança em si mesmo e medo estão misturados nele de tal forma que alternadamente se torna um sacrifício para aquela parte que pode mais efetivamente administrar sua predomi-nante raiva. Orgulhoso por ser chamado um homem de Estado e por ser considerado o diretor de tudo, mas relutante em administrar e até duvidando de sua própria capacidade. Ele está sempre consul-tando, mas nunca decidindo e ainda assim, sempre temeroso que qualquer outro assumisse a liderança no governo. A idéia do surgi-mento de outro Marquês de Pombal o aterrorizava tanto quanto a ameaça da invasão de Portugal por um exército francês”91.
90 – Ibidem, ibidem.91 – Carta de Donald Campbell para a corte de Londres em 14 de agosto de 1804.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 125
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
Essa situação era conveniente aos interesses particulares da nobre-za e a uma parte principal do clero que usavam esforços conjuntos para manter sempre viva em sua imaginação essa idéia quando quer que um de seus ministros parecesse assumir uma postura ativa e zelosa na admi-nistração pública. De fato, “Esta foi a pedra na qual tropeçou D. Rodrigo de Souza Coutinho e até o Monsenhor D’Almeida experienciou algumas inconveniências por ser seu sistema fundamentado nos princípios da ad-ministração de Pombal. A nobreza e o clero que pertence àquele corpo estão igualmente alerta para impedir uma administração vigorosa e tam-bém impedir que ele assuma a postura de um governo forte. Apesar de no princípio terem concordado com alguma diferença, surge em segundo o que não falha em promover uma destruição mutua e invejas. O Príncipe, por conseqüência, enquanto eles agem sobre este princípio, nunca poderá ter uma administração firme e cordial ou até ter ministros com quem ele possa tratar confidencialmente”. Ele recorreu a um gabinete secreto, “no momento composto de três indivíduos pouco qualificados para guia-los numa direção de liberdade ou de glória. O primeiro, um frade, Frei João que originalmente foi chamado para organizar a biblioteca privada do Príncipe, mas agora freqüentemente dirige assuntos da maior importância. Este frade pegou para seu auxílio um homem de pouco berço, José Gil, que por ter estado um pouco no exterior é supostamente capaz de discutir os assuntos políticos da Europa. A eles se juntou Francisco Soares, um advogado secretário do balcão de comércio. Enquanto os ingleses tinham assegurada influência em Portugal este homem era quase um inglês, mas mais tarde ele se tornou tudo junto, um francês, freqüentemente visto com o embaixador francês. Esse triunvirato nunca falhou em enganar Londres, os franceses e ao Príncipe”92. Também o frade era visto com freqüência atrás de Lannes (o embaixador de França) que achava conveniente e com isto ganhou suficiente ascendência sobre o Príncipe e trabalhou com in-comum perseverança e com sucesso para explorar os seus pontos fracos. Sua benevolência e humanidade estão gratificados pelas promessas, ilu-sórias de neutralidade de M. Lannes” que ao mesmo tempo alimentava
92 – Carta de Donald Campbell para a corte de Londres, em 14 de agosto de 1804.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008126
Corcino Medeiros dos Santos
o seu ego dizendo que ele era o único homem capaz de governar em seu reinado. Era capaz de se humilhar como pessoa perante o príncipe, mas como agente diplomático explorava o seu medo ao dizer das intenções de Napoleão Bonaparte, de enviar um exército francês. Por outro lado a nobreza usava todo o tipo de intrigas para remover em definitivo das cogitações do Príncipe e os dois grandes males – o 1º a introdução de um marquês de Pombal e 2º a transferência da Família Real para o Brasil. O primeiro procedimento era alimentado por futricas de que um certo ministro (D. Rodrigo de Souza Coutinho) iria mutilar, senão aniquilar o poder já limitado do Príncipe e iria cobrar as dívidas da nobreza para com o Estado.
Ainda que a primeira vista o Brasil pudesse parecer formidável para os interesses marítimo-comerciais da Grã-Bretanha num futuro bem pró-ximo os bons resultados não seriam imediatos. Esta circunstância deter-minava a perda do seu peso na urgente necessidade de se estabelecer no Brasil, fora do alcance dos franceses. Mas o que importa assinalar é que qualquer que fosse o desenrolar dos acontecimentos na política européia Portugal constituía o centro mais importante, em termo de quem girava o círculo político da Inglaterra.
O tratado de paz, celebrado pela mediação de S. M. Católica, entre o Príncipe Regente e a República Francesa, assinado em Madrid em 7 de setembro de 1801 tornou-se a base das relações comerciais e políticas luso-francesas.
A seguir o tratado de 1803 consolidou a influência francesa no go-verno português, contudo, as circunstâncias sinalizavam para uma neutra-lidade precária e o partido inglês não tinha dúvidas de que Portugal não resistiria a uma invasão das tropas francesas.
Os inconciliáveis interesses e conflitos com a Inglaterra, a França os resolveu temporariamente com a paz concluída em 25 de março de 1802. Mas pouco depois de assinada, essa paz foi rompida em conseqüência das antagônicas pretensões de ambos os lados e a guerra reacendeu en-tre as duas potências. Napoleão Bonaparte proclamado Cônsul Perpétuo,
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 127
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
tornou-se chefe hereditário do Estado. Então substituiu o seu embaixador em Lisboa, o general Lannes por Junot que entregou suas credenciais em 18 de fevereiro de 180593.
A influência que o gabinete de Londres sempre exerceu sobre o de Lisboa, não convinha à França que para elimina-la torna sua política mais agressiva com a nomeação de novo embaixador. Mas as disputas franco-britânicas pela hegemonia econômica e política não podiam esperar mui-to. Por isso depois do Tratado de Tilsit (julho de 1807), Napoleão dirigiu abertamente suas ambições para a Península Ibérica como meio de retirar a influência britânica de quase todo o continente europeu. Com este obje-tivo decretou o bloqueio continental, “proibindo toda a correspondência e comércio com a Inglaterra”, mas esta respondeu no mesmo tom94.
A política de neutralidade portuguesa tornou-se insustentável. Por-tugal fingiu cumprir as exigências, mas a França exigiu mais e então Por-tugal enverendou-se pelo caminho da astúcia. A esta atitude artificiosa a França respondeu com o Tratado de Fontenebleau, pelo qual se o gabinete de Lisboa não cumprisse à risca todas as determinações do bloqueio, Por-tugal seria invadido pelas hostes combinadas de Bonaparte e Carlos IV, o que efetivamente ocorreu.
Assim, a remoção da Família Real para a América torna-se cada vez mais cogitada pelo gabinete do Príncipe Regente. Nestas condições articula-se com o ministério inglês a consolidação do projeto de remoção da corte ou pelo menos de um membro da família real para o Brasil. Não seria uma mudança transitória mas em definitivo. Tanto é assim que ainda em 1803, D. Rodrigo de Souza Coutinho escrevia: “...Portugal..., não é a melhor e mais essencial parte da Monarquia; que depois de devastado por uma longa e sanguinolenta guerra, ainda resta aos seu soberano, e aos seus povos irem criar um poderoso Império no Brasil”95. Esse assunto transtornava profundamente a princesa Carlota Joaquina para quem a ida
93 – PEREIRA, Ângelo. D. João VI Príncipe e Rei. Lisboa, 1953, p. 97.94 – PEREIRA, Ângelo. op. cit. p. 157.95 – AZEVEDO, Francisca L. N. de. op. cit. p. 30.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008128
Corcino Medeiros dos Santos
para o Brasil significava trocar a Europa pelas Índias e estar longe da fa-mília. Assim, começa uma acirrada oposição contra qualquer proposta de transferência de alguma pessoa da família para a América. Por isso, “até as vésperas do embarque, deixar Lisboa é considerado pelo regente como última opção. Após o texto da “Convenção Secreta” assinada em Londres que prevê a transferência da corte para o Brasil, Lord Strangford, embai-xador inglês em Lisboa, escreve ao gabinete britânico: ... nada de grande deve ser esperado deste governo e o projeto de retirar-se para o Brasil só será posto em execução como última fuga em perigo, pois a idéia é en-carada com horror pelo Príncipe”96. A derrota franco-espanhola em Tra-falgar (outubro de 1805) mutilou a tentativa de recuperação da frota de guerra espanhola, amisquinhou a marinha mercante e deixou o domínio dos mares à frota britânica. Com a vitória de Trafalgar, começa pois, uma nova etapa no progressivo controle da América espanhola e portuguesa pela a Inglaterra. A fase anterior começou com os tratados de Methuen (1703) e Utrecht (1713). O primeiro permitiu a Inglaterra o domínio da economia portuguesa, frustrando sua industrialização e limitando-lhe a capacidade de usufruir das riquezas auríferas e diamantíferas do Brasil. O segundo representou uma cunha de penetração no mercado hispanoa-mericano por meio dos navios de permisos e dos asientos de negros que passaram à South Sea Company, além dos diversos mecanismos de intro-dução do contrabando. Esse comércio ilegal já vinha sendo praticado com grandes vantagens no século XVII, a partir de duas bases estratégicas: a inglesa da Jamaica (1655) e a portuguesa da Colônia do Sacramento (1680).97 A partir de 1805 D. João passa a ser acometido de fortes crises de depressão que acabam por afasta-lo da vida pública. Deixou de mon-tar, de caçar, recolhendo-se a uma vida sedentária no convento de Mafra, onde era cercado de atenções pelos frades. “...mas ainda aí enfastiando-se do cantochão e das comezainas, mudou-se para o Alentejo, indo habitar o solar da família em Vila Viçosa, levando em meio de charnecas desoladas e povoado de tristes visões, que sorriam umas e outras ao seu espírito 96 – AZEVEDO, Francisca L. N. d. op. cit. p. 32.97 – AICARDI, Aníbal Abadie e Oscar Abadie. Portugueses y Brasileños Hacia el Rio de la Plata. Recife, Pool, 1977, p. 10/11.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 129
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
atribulado”98.
O afastamento de D. João do centro das decisões do poder fomenta as intrigas palacianas. Boatos sugerem de que se preparam o impedimen-to do Príncipe por ter herdado a doença da mãe. A boataria sobre a doença de D. João ultrapassa os muros do palácio e espalham por todo reino propiciando o aparecimento de versos satíricos como: “...nós temos um rei chamado João. Faz o que lhe mandam. Como o que lhe dão. E vai para Mafra. Cantar o cantochão”. O desgaste do Príncipe e a crescente ameaça à Monarquia faz com que ele seja chamado a Lisboa, ele vem, mas fica apenas alguns dias voltando ao seu retiro de Vila Viçosa. O seu retorno deixou o campo livre para as intrigas palacianas nas quais se articulam a sua destituição por incapaz e a entrega da regência à princesa, projeto que acabou sendo abortado. Diante de tanta confusão, a Inglaterra também resolve aumentar a sua pressão e em agosto de 1806 envia uma grande expedição a bloquear o Tejo, a pretexto de colaborar com a defesa do país. Enquanto isto, “...duas facções antagônicas digladiam-se cada uma tentando fazer prevalecer suas tendências e simpatias políticas. De um lado, está D. Antônio Araújo Azevedo, ministro do exterior, partidário da França; do outro, D. Rodrigo de Souza Coutinho, anglófilo sincero. Numa época em que as disputas internacionais e a diplomacia de guerra exigem a presença de forte autoridade real, a atitude vacilante de D. João abre brechas para todo tipo de ambição...”99).
A igreja mantém a sociedade sob controle, mas na esfera política não consegue afastar as agitações que ameaçavam a Monarquia. No ano de 1807, altera-se profundamente a tranqüilidade lusitana. Em 1806 já haviam entrado nos portos lusitanos 354 navios britânicos, anunciando o aprofundamento da crise.
Em julho de 1807, o embaixador português em Paris recebeu ultima-to exigindo rompimento com a Inglaterra. Como se não bastasse, Napo-leão ordenou o fechamento dos portos portugueses, a prisão dos ingleses
98 – AZEVEDO, Francisca L. N. de. op. cit. p. 34.99 – AZEVEDO, Francisca L. N. de. op. cit. p. 42.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-1131, jul./set. 2008130
Corcino Medeiros dos Santos
residentes no país e o confisco de seus bens. Portugal promete cumprir as determinações. Strangford fecha a embaixada e retira-se para a esquadra inglesa estacionada na costa portuguesa. Diante da pressão francesa de um lado e a inglesa de outro, “a transferência da família real para o Brasil torna-se a única saída possível para evitar um confronto direto com a In-glaterra, seu antigo aliado”.
Os acontecimentos demonstram que Napoleão quer mesmo assumir o controle da Península Ibérica. Em outubro chegou a Queluz um número do Moniteur de Paris onde o imperador anuncia que “... a Casa de Bra-gança deixara de reinar na Europa. Praticamente um mês depois D. João recebe a notícia formal da invasão francesa a Portugal”100. Logo que se recebeu a nota formal da invasão retomaram-se os contactos com Stran-gford que retornando a Lisboa escreve a Canning expondo a estratégia usada para convencer o Príncipe a deixar Portugal:
“...Vi que não havia um momento a perder e que meu dever era destruir no espírito de sua Alteza Real todas as esperanças de uma acomodação com os invasores em seu país: aterroriza-lo com descrições dramáticas da situação na capital, que eu acabava de atravessar e, então, deslumbra-lo, de súbito, com as brilhantes perspectivas que o aguardavam; orientar todos os temores contra o exército francês e dirigir suas esperanças no sentido da proteção que lhe poderia oferecer a esquadra britânica”101.
Finalmente em 26 de novembro de 1807 o Conselho de Estado deci-diu por unanimidade transferir a família real para o Brasil. No dia seguinte ao anoitecer concretizou o embarque, pois a esquadra britânica já estava ancorada na embocadura do Tejo sob o comando do almirante Sir Sidney Smith. Era natural que houvesse desordem no embarque precipitado.
O corpo diplomático britânico dá demonstração da importância que tinha aquela transferência para os interesses da Inglaterra. Há mesmo regozijo deles ao anunciar a partida, ao mesmo tempo a correspondên-
100 – AZEVEDO, Francisca L. N. de. op. cit. p. 61101 – Citação de Francisca L. N. de. in op. cit. p. 61.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):63-131, jul./set. 2008 131
O mundo luso-brasileiro visto por um inglês, no começo do século XIX
cia para a corte de Londres “evidencia a arrogância e o nível de pressão imposto pela Grã-Bretanha a Portugal. Fica claro que, caso o príncipe regente não concorde em partir para o Brasil, a Inglaterra está decidida a usar de força para concretizar o seu projeto. O gabinete britânico não está disposto a abrir mão da expansão de seus mercados e, neste caso, dos valiosos mercados americanos”102(103).
A esquadra portuguesa que devia conduzir a corte para o Brasil con-tava com 36 navios e 15.000 pessoas a bordo e acabou zarpando da barra do Tejo em 29 de novembro de 1807.
102 – AZEVEDO, Francisca L. N. de – op. cit. p. 63/64.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 133
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
II – COMUNICAÇÕES
DESENVOLVIMENTISMO E SERTÃO NORDESTINOCelso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da
“Operação Nordeste” e Sudene1
Tayguara Torres Cardoso2
Fins dos anos 50, intelectuais e a “Operação Nordeste”
Em fins dos anos 50, voltava a ter as atenções da cena política brasi-leira a região sertaneja nordestina, palco das secas célebres. Em meio ao governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, uma grande seca, tragédia secular, se abatia novamente sobre os sertões e obrigava medidas enérgicas do governo para que se evitasse que levas e levas de sertane-jos continuassem se retirando. Por esta mesma época, um grupo de agri-cultores da zona da mata pernambucana também chamaria a atenção da imprensa e do governo ao instituir as famosas ligas camponesas, concre-tizadas pelo advogado militante Francisco Julião, assustando os grandes proprietários do Nordeste.
É em meio a este clima tenso que Kubitschek institui a “Operação Nordeste” e posteriormente a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e que entra em cena um importante intelectual, cien-tista e homem público brasileiro, o economista paraibano Celso Furtado, idealizador e arquiteto dos planos de desenvolvimento do Nordeste em 1 – Este texto foi base e origem da comunicação realizada por mim na reunião da Ce-phas no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 25 de junho de 2008.2 – Mestre em Ciências Sociais - PPCIS/UERJ - Professor de Sociologia da rede estadu-al de educação do Estado do Rio de Janeiro - e-mail: [email protected]
Resumo:Este artigo aborda os pressupostos e a discussão em torno dos planos desenvolvimentistas da cha-mada “Operação Nordeste”, posterior base da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) entre dois intelectuais brasileiros e nordestinos de projeção internacional no campo intelectual do Desenvolvimento, o economista Celso Furtado, arquiteto da “Operação Nor-deste”, e o Geógrafo, médico e sociólogo Josué de Castro, com o objetivo de iluminar os pressu-postos dos planos de desenvolvimento voltados para o Sertão Nordestino, as críticas que receberam e os resultados que proporcionaram para esta região Brasileira
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008134
Tayguara Torres Cardoso
geral e do sertão Nordestino em particular em fins dos anos 50.
Os diagnósticos, as propostas desenvolvimentistas e os planos de desenvolvimento elaborados por Furtado e pelos organismos instituídos pelo governo suscitaram um grande debate dentro do campo intelectu-al desenvolvimentista, cujos intelectuais já vinham realizando debates e diagnósticos da situação brasileira desde a década de 1940. Dentro deste campo de debates e idéias, um intelectual e homem público de proje-ção nacional e internacional se tornou um dos grandes interlocutores dos diagnósticos e planos de desenvolvimento de Furtado e da Sudene, o mé-dico, nutrólogo, geógrafo e sociólogo pernambucano Josué de Castro.
Furtado e Castro realizaram diagnósticos sobre a região nordestina brasileira e seus sertões, e Furtado elaborou planos de desenvolvimento baseados em seus diagnósticos, concretizados no documento “Uma Po-lítica de Desenvolvimento para o Nordeste” em 1959. Nestes planos e diagnósticos emergem perspectivas particulares destes intelectuais sobre o sertão nordestino, reforma agrária, industrialização, emprego de mão-de-obra etc.
Neste artigo, abordo os pressupostos, perspectivas e diagnósticos particulares presentes de Celso Furtado nos planos de desenvolvimento para o Nordeste em geral e para o sertão nordestino em particular em fins dos anos 50 bem como a interlocução, os pressupostos e os diagnósticos de Josué de Castro sobre a região. Esta abordagem se torna relevante no sentido de melhor iluminar o campo de debate desenvolvimentista sobre o Nordeste bem como o caráter e pressupostos que norteavam as políticas públicas voltadas para esta região e para seus sertões em particular e as conseqüências socioeconômicas destas.
Sertões do Nordeste, lugares fluídos
Antes de entrar no debate entre Castro e Furtado propriamente dito, cabe aqui fazer algumas considerações sobre a região foco das preocupa-ções destes dois intelectuais e com a qual eles têm, como manifestaram
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 135
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
em algumas ocasiões, uma ligação telúrica3.
A região sertaneja nordestina se configura como um lócus prenhe de significações e visões que perpassam diversos campos como literatura, imprensa, ciência e senso comum, significações estas sempre permeadas pela aura criada historicamente em torno desta região interiorana onde se desenvolveu uma economia essencialmente pastoril. A noção de sertão, que não diz respeito só ao Nordeste e que é, a princípio, uma noção de lugar geográfico, vem historicamente acompanhada das idéias de dife-renciação cultural e de distância. Apresentam-se recorrentemente junto à palavra “sertão” imagens de “longínquo”, muitas vezes de “terra ignota” – como Euclydes da Cunha chamava o sertão nordestino em Os Sertões – e do homem sertanejo como um “outro”, de psicologia e hábitos distintos. “Sertão” tem significados múltiplos, e a memória e o imaginário criado em torno do fenômeno das secas torna o sertão nordestino o mais célebre dentre os sertões.
Na literatura, o tema Sertão, principalmente o nordestino, foi larga-mente abordado em contos e romances. Um sertão inóspito e belo de um Euclydes da Cunha; de gente prosaica e forte, como em um Graciliano Ramos; de gente de caráter, como em Rodolfo Teófilo e Rachel de Quei-roz e, principalmente, do drama da seca e de seu cortejo de horrores como na obra destes e de outros escritores. Tendo os horrores da seca, as pai-sagens do sertão e o imaginário social como ricos mananciais de estórias chocantes e cativantes, estes escritores buscavam descortinar o mundo
3 – Tanto Josué de Castro quanto Celso Furtado buscaram evidenciar a ligação que ti-nham com sua região natal. Este, paraibano da cidade sertaneja de Pombal certa vez afirmava: “... Saí em passeio pelo meu sertão de origem, em plena estação seca, e dei asas à fantasia, antecipando a transfiguração daquelas terras ásperas mediante a proliferação de oásis onde se repetiria o milagre da multiplicação dos frutos do trabalho humano. É caminhando à noite, sob o céu estrelado, que o sertanejo se deixa arrebatar pelo orgulho de sua terra. Os ventos que prolongam os alísios avançam céleres pelo horizonte aberto, e o mundo inteiro parece estar ao alcance da vista.” FURTADO, Celso, A Fantasia Desfeita, São Paulo, Paz e Terra, 1997, pp. 132. Já Castro costumava afirmar sua ligação com o sertão, contando as estórias da retirada “pelas terras cinzentas do sertão seco, onde nasceu meu pai e de onde emigrou na seca de 1877 com toda a família” CASTRO, Josué de – Homens e Caranguejos – Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 2001, pp. 16.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008136
Tayguara Torres Cardoso
“longínquo” dos sertões para os olhos citadinos e dos centros de poder. Procuravam construir imagens do sertanejo como homens e mulheres de caráter e ponto de honra fortes, um “outro”, que, na maioria das vezes, sofria com iniqüidades mais sociais que naturais. A literatura que tinha os sertões nordestinos como foco se configurava como apelo e denúncia, e se situava, pelo caráter militante dos “sertanistas”, no pólo oposto da grande maioria dos políticos e de grande parte da imprensa, que enxergavam os sertões nordestinos com “outros olhos”, com olhos que enxergavam apenas pobreza.
Na imprensa, as imagens recorrentes que geralmente apareceram e aparecem dos sertões nordestinos são as imagens da estiagem, da seca e da miséria. Desde os termos genéricos “Seca do Norte”, “monturos hu-manos”, “infelizes” da grande seca de 1877; passando pelos “retirantes” e “flagelados” e a imagem da “caveira de boi” – célebre na seca de 1958 – e chegando às imagens da “chuva salvadora”, das vacas agonizantes de inanição e da “religiosidade resignada” dos sertanejos nas estiagens de 2003 e 2006, os sertões do nordeste são identificados e representa-dos socialmente através da imprensa – não obstante algumas mudanças ocorridas ao longo dos anos – como seca e flagelo, fome e miséria. Esses elementos são creditados, na quase totalidade das apreciações, a proble-mas e causas “naturais” tais como a irregularidade das chuvas e a pobreza de um solo catinguento e esturricado. Na imprensa, em obras literárias e em apreciações políticas se disseminavam visões e representações sobre o sertão como a terra do célebre “mandonismo”; do voto de cabresto, do coronelismo e do cangaço. Um jornalista em 1877 chegou a afirmar, no Jornal do Commercio, que “em Pernambuco, o que não é Cavalcanti, há de ser cavalgado”.
Na comunidade científica, a partir de 1877, o ignoto, o desconhecido – alvo de expedições científicas dos primeiros anos do governo imperial – deu lugar progressivamente ao rótulo de “região problema”, que até nossos dias denomina o Nordeste e principalmente seus sertões. Muitos projetos foram tentados, incorporando tensões entre diagnósticos “natu-rais” (enfatizando questões como água e solo, por exemplo) e “sociais”
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 137
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
(técnicas agrícolas, reforma agrária, pauperismo, relações de produção arcaicas...) ao longo dos anos, sempre às voltas com a “indústria da seca” e os interesses políticos de grupos poderosos. Estas tensões foram a base da produção científica sobre os sertões, do diagnóstico sobre seu “atraso” e da proposição de soluções por organismos governamentais, institutos de pesquisa e muitos intelectuais, dentre eles, Josué de Castro e Celso Furtado.
A noção de Sertão, portanto, de certa forma, ultrapassa a idéia de lugar. Torna-se uma noção prenhe de contradições e ambivalências onde as dimensões política, geológica, social e cultural se reúnem, num todo, num significado, numa noção. Sertão, para além de um lugar, torna-se um lugar fluído, maleável, moldável, conforme o ângulo, a posição intelectu-al que se toma diante dele, torna-se um lugar ao mesmo tempo imaginário e concreto, que tem um pouco da noção de lugar de memória de Nora, “Fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, e recolhido so-bre seu nome. Mas constantemente aberto sobre a extensão de suas sig-nificações4”. Por ter esta configuração obrigará, daqueles que se ocupam do sertão nordestino como objeto, uma tomada de posição quanto à sua memória, à sua história, ao imaginário social que o ronda, posições estas que nos casos de Celso Furtado e Josué de Castro influíram diretamente nos diagnósticos e propostas de cada um, que, por terem visões e posições distintas sobre esta região da qual se consideravam “filhos”, elaboraram propostas e projetos distintos para ela dentro de um mesmo campo de propostas de desenvolvimento para o país.
Neste sentido, um “certo sertão” estará presente nas obras destes dois intelectuais. A forma como diferentemente o vêem e se posicionam diante dele estará presente em seus diagnósticos, pressupostos e planos, influenciando nas políticas aplicadas a esta região e nas críticas perpetra-das contra estas.
4 – NORA, Pierre – Entre a Memória e a História: a problemática dos lugares – In: Projeto História. São Paulo, PUC, n. 10, pp. 7-28, dezembro de 1993, pp. 27.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008138
Tayguara Torres Cardoso
Pressupostos e Visões sobre o Nordeste e seus Sertões – Celso Furta-do e Josué de Castro
Celso Furtado e Josué de Castro estão inseridos num amplo debate científico que teve lugar em fins da década de 1950 que buscava traçar di-retrizes para o desenvolvimento econômico do Brasil. O desenvolvimen-tismo nacionalista buscava diagnosticar a situação econômica e social do país em termos nacionais e em suas relações internacionais e buscavam através deste elaborar estratégias e políticas de desenvolvimento na maio-ria das vezes de caráter industrialista para que o país se tornasse uma nação verdadeiramente autônoma. Vários nomes e opiniões se destaca-ram neste amplo campo de debates, iniciado desde o início dos anos 40, que tinha como ponto central tentar diagnosticar a razão da estagnação ou do “atraso” brasileiro e que elegia o “campo”, a agricultura, como um de seus principais focos analíticos. Nomes como Jacques Lambert, Roger Bastide, Alberto Passos Guimarães e Caio Prado Júnior discutiam amplamente a condição econômica brasileira e caminhos para o desen-volvimento, conformando um campo de discussão bastante profícuo e que influenciou sobremaneira os rumos das políticas de Estado voltadas para a agricultura e indústria no Brasil até o final dos anos 60 e que de certa maneira influencia nos debates sobre o desenvolvimento até os dias de hoje5
O economista Celso Furtado se configura como uma figura de des-taque neste campo intelectual desenvolvimentista. Membro eminente da
5 – Sobre este amplo campo de debates e seu contexto histórico ver LINHARES, Maria Yedda & SILVA, Francisco Carlos Teixeira da – História da Agricultura Brasileira: com-bates e controvérsias – São Paulo, Brasiliense, 1981, e também LINHARES, Maria Yedda (org.) – História Geral do Brasil – Rio de Janeiro, Campus, 1996.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 139
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
Cepal6, produziu um sem-número de diagnósticos sobre a situação da economia brasileira. Seu mais famoso livro, Formação Econômica do Brasil, faz um diagnóstico da formação da economia nacional desde os tempos do descobrimento até a década de 50 do século XX. Nesta obra, considerada um clássico do pensamento social brasileiro, o economista analisa as características econômicas dos diversos “ciclos” por que passou a economia brasileira, tentando entender, em primeira instância, a contri-buição de cada um deles para a situação do país em termos internacionais
6 – A Comissão de Estudos para a América Latina (Cepal), instituição das Nações Uni-das, ganharia em projeção internacional e seus membros ocupariam cargos importantes nos governos de seus países de origem. Sob a direção do economista argentino Raúl Pre-bish, o organismo produziria inúmeros diagnósticos da situação econômica dos diver-sos países da América do Sul e Central, através da grande inovação teórica – proposta inicialmente por Prebish e posteriormente refinada pelos membros da instituição – de se enxergar o subdesenvolvimento como “processo” dentro de um todo, não como “au-sência” ou “etapa” de desenvolvimento, criticando, além da visão que pressupunha uma linha evolutiva e etapista rumo ao primeiro mundo, a própria fraqueza dos instrumentos da ciência econômica neoclássica para se pensar a economia dos países “ex-coloniais”. Buscando superar os paradigmas neoclássicos dominantes no pensamento econômico, que para a escola Cepalina são de insuficiente poder explicativo (pelo menos em relação aos países primário-exportadores), Prebish e os Intelectuais da Cepal dariam à perspectiva estrutural – a qual entende por “estrutura” como conformações, relações e instituições econômicas em um tempo e espaço específicos, subentendendo-se aí a “história” dos “es-paços” – crescente importância na análise econômica dos problemas latino-americanos. A teoria de fundo neoclássico das vantagens comparativas – que servia à justificação de políticas que reforçassem a “vocação” de cada país da América Latina, geralmente por produtos primários – e a neoclássica assunção de que o mundo econômico tem caráter sincrônico e funciona eminentemente em equilíbrio eram criticadas em prol de uma vi-são que buscava salientar as dimensões da conformação estrutural específica dos países latino-americanos, da tecnologia e da divisão internacional do trabalho como fatores que geram assimetrias e desequilíbrios nas relações de troca em jogo no sistema econômico. Tal visão engendraria progressivamente o conceito de subdesenvolvimento, definido como uma situação específica que resulta de uma posição assumida pelas e relegada às nações do chamado “Terceiro Mundo”, dentro de um sistema mundial, conjugada às estruturas econômicas internas destas nações. Esta caracterização conceitual e teórica, hoje já quase terreno de “senso comum”, seria a grande inovação teórica da Cepal e conferiria um papel central à industrialização como meio de superar o subdesenvolvimento latino-americano. Sobre a perspectiva Cepalina ver BIELSCHOWSKY, Ricardo – Pensamento Econômico Brasileiro; o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, 1930-1964, Rio de Janeiro, Ed. Contraponto, 2004.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008140
Tayguara Torres Cardoso
e nacionais em sua época e, em última instância, em que contribuíram estes ciclos, de maneira geral, para a situação econômico-estrutural do Brasil na década de 50, com seus problemas e suas possibilidades de de-senvolvimento. Em sua análise encontram-se uma série de pressupostos e diagnósticos que marcariam suas propostas de desenvolvimento para o sertão nordestino e que estariam presentes em documentos oficiais como em “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”, passando, portanto, de um âmbito científico-intelectual, acadêmico, para um âmbito científico-oficial, político, concretizado em políticas públicas. Analisando seus pressupostos científicos muito se pode interpretar das políticas oficiais voltadas para o Nordeste e seus sertões.
O Problema Nordestino e Sertanejo em Celso Furtado
O Nordeste, com seu “ciclo do açúcar”, ocupa lugar particular nas reflexões do autor em Formação Econômica do Brasil. Buscando anali-sar e entender a situação econômica nordestina de então (1959), Furtado empreende um estudo em perspectiva histórica da formação econômica desta região e das conseqüências dos ciclos econômicos por que esta pas-sou.
A primeira e grandemente lucrativa “empresa colonial” brasileira se localizaria no Nordeste. De caráter monocultor e escravista e altamen-te concentradora de renda, a empresa comercial açucareira teria sido, segundo o economista, responsável – por ter um escasso efeito multi-plicador e distribuidor de renda fruto de seu caráter escravista – por uma grande concentração da maioria da renda nas mãos de grandes proprietá-rios e grandes comerciantes e teria sido o pólo indutor, através das crises açucareiras, da formação de uma espécie de hinterland, de um interior nordestino de escassa monetarização, trabalho semi-servil e economia pastoril, que, ao se formar em lócus geográfico que reputava pobre de recursos naturais, tornar-se-ia uma das regiões mais problemáticas do
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 141
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
Brasil. Nascia aí o sertão nordestino7.
A narrativa de Furtado sobre a formação econômica do Nordeste e seus sertões insere-os já num quadro problemático. Seria um “problema dentro do problema” pois, seriam a região pobre em recursos naturais e de escassa monetarização que teria absorvido a população excedente e à procura de sobrevivência proveniente da posterior crise do setor açu-careiro8. No sertão, num lugar de pobreza monetária e natural, ter-se-ia instalado um grande contingente populacional, contingente este pobre e sujeito a crises sui generis de abastecimento, as secas. A esta visão do sertão nordestino como lócus da pobreza, a este quadro lúgubre “de nas-cença”, pintado para os sertões nordestinos, somam-se as memórias e a visão sombria que Furtado manifestara em outras ocasiões sobre sua re-
7 – Segundo Furtado: “A renda que se gerava na colônia estava fortemente concentrada em mãos da classe de proprietários de engenho. Do valor do açúcar no porto de embarque apenas uma parte ínfima (não superior a 5 por cento) correspondia a pagamentos por serviços prestados fora do engenho no transporte e armazenamento. Os engenhos manti-nham, demais, um certo número de assalariados: homens de vários ofícios e supervisores do trabalho dos escravos. Mesmo admitindo que para cada dez escravos houvesse um assalariado – mil e quinhentos no conjunto da indústria açucareira – e imputando um salário monetário de 15 libras anuais a cada um, chega-se à soma de 22500, que é menos de 2 por cento da renda gerada no setor açucareiro(....)” mais adiante Furtado afirma: “ Ao expandir-se a economia açucareira, a necessidade de animais de tiro tendeu a crescer mais que proporcionalmente, pois a devastação das florestas litorâneas obrigava a buscar a lenha a distâncias cada vez maiores. Por outro lado, logo se evidenciou a impraticabili-dade de criar o gado na faixa litorânea, isto é, dentro das próprias unidades produtoras de açúcar. Os conflitos provocados pela penetração de animais em plantações devem ter sido grandes, pois o próprio governo português proibiu, finalmente, a criação de gado na faixa litorânea. E foi a separação das duas atividades econômicas – a açucareira e a criatória – que deu lugar ao surgimento de uma economia dependente na própria região nordestina” FURTADO, Celso, Formação Econômica do Brasil,- Rio de Janeiro Ed. Fundo de Cultu-ra, 1964, pp. 59-60. 8 – Segundo Furtado: “(...) A dispersão de parte da população, num sistema de pecuária extensiva, provocou uma involução nas formas de divisão do trabalho e especialização, acarretando um retrocesso mesmo nas técnicas artesanais de produção. A formação da população nordestina e a de sua precária economia de subsistência – elemento básico do problema econômico brasileiro em épocas posteriores – estão assim ligadas a esse lento processo de decadência da grande empresa açucareira que possivelmente foi, em sua me-lhor época, o negócio colonial agrícola mais rentável de nosso tempo” FURTADO, Celso, Formação Econômica do Brasi , op. cit., pp. 170.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008142
Tayguara Torres Cardoso
gião natal como terra de arbitrariedades e mandonismo, visão esta que se aproxima do imaginário social disseminado pela imprensa sobre o inte-rior do Nordeste:
“As histórias das secas, nas quais se entremeiam a violência do mundo físico e as arbitrariedades dos homens povoam o meu espí-rito na primeira infância. Também ocorria de as chuvas chegarem com violência excessiva...” (...)“Nesse mundo marcado pela incerteza e pela brutalidade, a forma mais corrente de afirmação consistia em escapar para o sobrenatural. Os grandes milagreiros existiam não somente como legenda, mas também como presença. Não longe de onde morávamos, reinava o Padre Cícero, cujos milagres atraíam legiões de peregrinos. De forma mais imediata, existia a ne-cessidade de se estar ligado a um chefe político, sem o que um mínimo de segurança era praticamente inconcebível...”9
Tal quadro traçado por este autor será um ponto de partida de seus diagnósticos sobre a situação sertaneja de fins da década de 1950 e irá contribuir para fundamentar a sua visão de desenvolvimento como “total mudança” da região, sua proposta de transferência de populações serta-nejas para as terras maranhenses e para sua proposta de industrialização, vetor este que seria capaz de absorver o contingente de população ex-cedente e ainda teria caráter monetarizador e dinamizador da economia deste hinterland. Propostas estas concretizadas e presentes no documento “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”.
9 – FURTADO, Celso, A Fantasia Desfeita, São Paulo, Paz e Terra, 1997, pp 12.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 143
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
As Propostas de Furtado – “Operação Nordeste” e “Uma política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”
Em abril de 1959, com base em pesquisas de anos anteriores realiza-das pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), Furtado e seus colaboradores emitiam um diagnóstico que seria ao mes-mo tempo um plano de desenvolvimento para a região Nordeste, a ser conduzido pelo Estado, abrangendo litoral, zona da mata e sertões, ex-pressa no documento “Uma política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”10. Por ser um documento de caráter oficial e por ter sido produzido, em tese11, pelo grupo comandado por um economista, que era Celso Furtado, este tem um caráter eminentemente econômico, combinado com pinceladas, de caráter peremptório, sobre a situação do “suporte físico” do Nordeste. A importância destas “pinceladas” no docu-mento não é de maneira nenhuma de pequena monta, pois, logo em sua abertura, Furtado identifica e enuncia – antes de propriamente relatar o diagnóstico – como três grandes problemas do Nordeste: a) a “escassez relativa de terras aráveis”; b) a “inadequada precipitação pluviométrica” e c) o fato da drenagem da renda nordestina pelo centro-sul.12
O cerne de suas propostas, o principal objetivo que, segundo Furta-do, deveria ser levado a cabo através de uma política estatal de desenvol-vimento para o Nordeste seria, antes de tudo, o de integrar a economia nordestina ao “ritmo de produtividade” da economia do resto do país, mormente à economia do centro-sul, tornando-a capaz de atrair para si
10 – Brasil, Conselho de Desenvolvimento, GTDN, Uma Política de Desenvolvimento Econômico Para o Nordeste, 2a Ed. Recife, Sudene, 1967.11 – O próprio Furtado assumiria a autoria do documento em algumas ocasiões, como o fez em uma entrevista concedida a Maria da Conceição Tavares, Manuel Corrêa de An-drade e Raimundo Rodrigues Pereira em 1998: “(...) Fiz o texto, então, do trabalho “Uma nova política para o Nordeste”, TAVARES, Maria da Conceição, ANDRADE, Manuel Corrêa de, PEREIRA, Raimundo Rodrigues, Seca e Poder: entrevista com Celso Furtado, São Paulo, Perseu Abramo, 1998, pp. 64. Este trabalho ao qual se refere Furtado seria convertido, com a mudança de título, no texto de “Uma Política de Desenvolvimento Econômico Para o Nordeste”. 12 – Brasil, Conselho de Desenvolvimento, GTDN, op. cit., pp. 10.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008144
Tayguara Torres Cardoso
investimentos que provocassem o impulso dinâmico necessário à indus-trialização, principal elemento capaz de desenvolver a região, resolven-do problemas como mão-de-obra flutuante e criando também uma nova mentalidade, uma classe dirigente nova e progressista na região13.
Partindo desta base ideológica e a fim de contornar os entraves ao desenvolvimento desta região, o projeto se pautou em quatro diretrizes fundamentais: a) A intensificação de investimentos industriais; b) A trans-formação da economia agrícola da faixa úmida; c) A transformação pro-gressiva da economia das zonas semi-áridas e d) O deslocamento da fron-teira agrícola nordestina14. Fazendo a análise propriamente dita do pro-blema nordestino, o documento aborda, dando grande destaque, a questão do suporte físico da região. Considerando-a como uma das regiões menos desenvolvidas – e mais populosas – do hemisfério ocidental, o documento salienta que, dentre outros, sua “pobreza física”, ou seja, pobreza relativa em termos de recursos naturais em geral, seria um problema importantís-simo – senão o maior deles – a ser atacado e contornado, tomando como “dados” a concepção de um excesso de população no sertão nordestino e a pobreza física dos solos do sertão nordestino em particular15.
Tratado como terra de pouca potencialidade, de alta densidade de-
13 – “A política de industrialização visa ao tríplice objetivo de dar emprego a essa massa populacional flutuante, criar uma classe dirigente nova, imbuída do espírito de desen-volvimento, e fixar na região os capitais formados em outras atividades econômicas, que atualmente tendem a emigrar”. Brasil, Conselho de Desenvolvimento, GTDN, op. cit., pp. 12.14 – Brasil, Conselho de Desenvolvimento, GTDN, op. cit., pp. 14.15 – “Sem embargo, como a acumulação de capital é, por si mesma, sintoma do estádio de desenvolvimento, infere-se que a verdadeira causa do atraso da economia nordestina, em face do centro-sul do Brasil, está na pobreza relativa do seu suporte físico. É este um dado fundamental do problema, e a ele teremos de voltar adiante (...) Já observamos que a baixa produtividade da agricultura nordestina tem duas causas fundamentais: menor quantidade de terra por pessoa ocupada e mais reduzida dotação de capital por unidade de terra (...)”“(...) A causa básica da baixa renda da agricultura nordestina está na sua pobre-za relativa de recursos naturais, e não, principalmente, no grau de capitalização”. Brasil, Conselho de Desenvolvimento, GTDN, op. cit., pp. 17-18.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 145
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
mográfica e sujeita a crises climáticas, o sertão nordestino tomaria lugar específico no projeto de Furtado, sendo, como outros aspectos, subordi-nado à idéia de industrialização. O sertão que emerge deste projeto é um sertão algo condenado. Uma região onde as limitações climatogeológicas e de ordem demográfica apresentam-se com peso ampliado ante as outras regiões do país e do Nordeste; neste sentido, para o sertão, a idéia básica de Furtado para contornar os problemas apresentados era instaurar uma política estatal que direcionasse o investimento do Estado, na forma de créditos, assistência técnica e investimento em infra-estrutura de modo a dar um impulso dinâmico-industrializador. Para absorver a mão-de-obra flutuante e diminuir a pressão demográfica no semi-árido nordestino o autor propõe uma política de transferência de populações para as terras úmidas maranhenses16, no sentido de que estas sejam utilizadas na produ-ção de alimentos necessários ao projeto de incremento da industrializa-ção, necessários a uma política industrialista. Tal política, segundo Furta-do, teria o mérito de, ao mesmo tempo, criar uma economia resistente às secas e monetarizada, de baixa pressão demográfica e dinâmica. Neste ponto, se faz presente em seus planos, um outro pressuposto importante da visão do economista brasileiro sobre os problemas nordestinos: sua visão particular sobre a reforma agrária, suas características e “funções”. Através de seus diagnósticos, Furtado chega a tangenciar o problema da estrutura agrária, de distribuição de terras, tomando-a, entretanto, como algo apenas arcaico e como apenas uma limitação, sendo a conseqüente
16 – “O problema é simples. A atual fronteira agrícola do Nordeste foi estabelecida quan-do a técnica de deslocamento do homem era muito primitiva. O homem penetrou onde o gado podia penetrar. O gado foi detido nos contrafortes da selva. Mas, hoje em dia, dispomos de outras técnicas e podemos transpor esses contrafortes. Podemos fazer cres-cer o Nordeste. Podemos incorporar ao Nordeste precisamente aquilo que lhe falta: terras úmidas, terras com invernos regulares. Isso que o homem, com a técnica mais ou menos primitiva do século XIX, não conseguiu fazer, cabe-nos realizar agora, abrindo estra-das adequadas, colonizando, organizando uma economia adaptada ao meio”. FURTADO, Celso, Operação Nordeste, op. cit., pp. 33.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008146
Tayguara Torres Cardoso
questão da “reorganização da produção” tratada através de uma visão essencialmente tecnicista, que não se aprofunda em aspectos como opres-são e latifúndio. Furtado procura dar uma conotação racional “apartidá-ria”, técnica e racional à reforma agrária, como mecanismo que ataque às limitações da estrutura e seus entraves à industrialização, concepção que emerge mais claramente em sua palestra proferida no ISEB, publicada com o nome “Operação Nordeste”17.
Tomando a pobreza física e a idéia de superpopulação como “dados”18, sem maiores críticas e aprofundamentos, o economista concebe a reforma agrária possível na caatinga como uma reforma em prol da média pro-
17 – “Temos de acabar com a lenda de que as terras só produzem açúcar, não dão outra coisa. Temos de estudar os solos e aproveitar muito mais racionalmente o conjunto das terras, e isto sem prejudicar em nada o atual plantio de cana. Introduzindo a irrigação, como se começa a fazer, é possível reduzir a extensão do plantio de cana, elevando os rendimentos por hectare, que ainda são baixíssimos no Nordeste, e aumentando a dis-ponibilidade de terras para outros fins. Se para tanto é necessário tomar as terras das mãos do fazendeiro, impor a apropriação ou desapropriação pelo Estado, esse já não é um problema econômico, mas um problema político (...). O que tenho a dizer, com toda a franqueza, é que se a grande maioria quiser adotar esta ou aquela solução, por exemplo, tomar as terras de uns e dar a outros, não sou eu quem vai se opor a isso, nem o técnico, nem o indigitado latifundiário. O que não posso é acobertar, na qualidade de técnico, uma bandeira política qualquer. Antes, teria de dizer que falo como simples cidadão ou apren-diz de político”.18 – Por ocasião de um debate direto com Josué de Castro na Rádio Nacional, em 1959, Furtado afirmaria: “Dando um passo adiante nas observações eu chamaria a atenção para um outro aspecto da questão de excedente populacional, que é aquele que chamei de des-locamento de fronteira agrícola. Na verdade, se se considera que o Nordeste é um sistema econômico relativamente pobre do fator terra – porque esse é um princípio básico de toda a nossa concepção do problema – se se tem um excedente estrutural, relativamente ao sul do Brasil; se é possível incorporar esse fator terra ao sistema econômico nordestino; se é possível aumentar a oferta de terra , obviamente estaremos caminhando para uma possi-bilidade de combinação mais harmônica dos fatores. Daí a concepção de deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste. Trata-se de incorporar ao Nordeste aquilo que é escasso no Nordeste, que são as terras úmidas, as terras com precipitação pluviométrica regular”. FURTADO, Celso & CASTRO, Josué de, Operação Nordeste: Dois Nomes e Duas Opi-niões in O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, abril de 1959, nº 278, pp. 26-33, pp. 28.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 147
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
priedade, de um modelo de propriedade mais “racional”19 em oposição ao minifúndio insuficiente e irracional, de baixo nível de produtividade. Para ele o “racional” se configura em relação ao potencial agrícola da região, ao que, no entender de Furtado, seria “possível” produzir20.
Nestes diagnósticos e nestas propostas depreende-se, portanto, uma grande fé no poder multiplicador da industrialização, uma concepção par-ticular de reforma agrária essencialmente técnica e racional, subordinada ao projeto maior de industrialização, e uma concepção sobre o sertão nor-destino como uma terra de pobreza física inexorável e superpovoada. Tais pressupostos marcariam profundamente as políticas públicas voltadas para o Nordeste em geral e para o sertão nordestino em particular Com os pressupostos da industrialização e de uma reforma agrária “contornado-ra” e “racional” Furtado partirá com sua proposta de transformação para a Operação Nordeste com uma política de “esvaziamento” dos sertões.
19 – “Na economia da caatinga, a divisão de terra seria o tiro de misericórdia na econo-mia, inclusive com a possível liquidação da pecuária. Reforma agrária, para o homem da rua, significa divisão da terra, eliminação do proprietário do latifúndio, eliminação da renda da terra. Se fizéssemos isso na caatinga, nós a despovoaríamos, desorganizando completamente a economia da região, o que seria grave erro. Dadas as condições ecoló-gicas da caatinga e dado o tipo de técnica que ali se utiliza, a subdivisão das terras viria despovoá-la porque nenhum homem pode subsistir na caatinga com uma propriedade pequena, mesmo média. Uma propriedade de 25 hectares, na região, somente provida de uma tomada de água pode subsistir. A unidade de produção na caatinga, para subsistir, precisa ser relativamente grande, pois as terras são pobres e, de certo modo, têm de com-pensar em quantidade sua deficiência qualitativa.” FURTADO, Celso, Operação Nordeste , op. cit., pp. 57.20 – “Assim sendo, na caatinga não se poderia jamais caminhar para a pequena proprie-dade, porque a pobreza do solo, o clima da região e a pequena carga animal que suportam os pastos não permitem uma economia de grande densidade demográfica. Ao contrário, é preciso reduzir a carga da população sobre os recursos. (...) Para implantar nessa área uma economia desenvolvida, de alta produtividade, que possa, portanto, proporcionar salários mais altos, devemos partir de uma unidade de produção agrícola de tamanho médio, ou de dimensões a determinar, de acordo com a sub-região.” FURTADO, Celso, Operação Nordeste, op. cit., pp. 58.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008148
Tayguara Torres Cardoso
Josué de Castro – Sertão e Reforma Agrária
Em um outro pólo de considerações, com uma ótica desenvolvimen-tista, mas com uma outra visão sobre o sertão nordestino encontra-se o médico nutrólogo, geógrafo e sociólogo pernambucano Josué de Castro. Em sua principal obra, Geografia da Fome, referência mundial sobre a análise do fenômeno da fome no Brasil, Castro produz uma outra visão sobre os sertões e suas possibilidades, procurando traçar um quadro do problema da fome no País, analisando o regime alimentar das regiões brasileiras. Empreendendo uma análise das carências ou desequilíbrio de cada regime alimentar – através de instrumentos fornecidos pela fisiolo-gia e nutrologia – ,estudou também as relações sociais e sua matriz histó-rica vigentes no Brasil desde tempos coloniais – através de conhecimen-tos de história, sociologia e antropologia. Com estes elementos, procurou estabelecer uma divisão que compreendesse todas as regiões do Brasil conforme seu grau de exposição ao problema da fome. Por meio desta metodologia e análise dos dados obtidos, Castro propôs uma classificação das regiões Norte e Nordeste Açucareiro como áreas de fome endêmica (carências graves, de caráter crônico); as regiões Sul-Sudeste e Centro-Oeste como áreas de subnutrição (carências parciais) e a área do Sertão nordestino como área de fome epidêmica (surtos intermitentes de fome aguda devido às quadras das secas, ao latifundiarismo e ao arcaísmo crô-nico no lidar com a terra no campo)21. Já nesta classificação se evidencia o olhar diferenciado que Castro tinha para com os sertões. Ao longo desta obra o autor tecerá considerações elogiosas ao equilíbrio alimentar e à sabedoria do povo sertanejo22, buscando sempre, por outro lado, apontar as causas dos problemas vividos pela população que habita esta região,
21 – CASTRO, Josué de, Geografia da Fome: o dilema brasileiro: pão ou aço, 10ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Antares 1987 [1946], pp. 41.22 – Sobre a alimentação sertaneja, Castro conjectura: “A verdade fácil de se apreender é que esta alimentação tão sóbria e tão enxuta, de tão espartana sobriedade, contrastando, contrastando violentamente, na simplicidade de seus processos culinários, com a rebusca-da cozinha do Nordeste açucareiro, sempre tão adocicada ou lambuzada de azeite, repre-senta um traço de alta compreensão do colono português e do mameluco seu descendente, em face das contingências especiais do meio geográfico.” CASTRO, Josué de, Geografia da Fome, op. cit., pp. 260.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 149
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
as causas dos eventos calamitosos que tomam lugar em meio às secas periódicas. Neste ponto Castro procurará evidenciar que estes efeitos só tomam lugar devido a uma estrutura agrária e relações de trabalho “se-mifeudais”. A catástrofe das secas só tomaria lugar não devido à pobreza de base física23 ou excesso de população dos sertões, mas devido ao la-tifundiarismo predominante nestes e às relações de produção como foro e arrendamento, que deixam o sertanejo, um ser forte e de certa forma culturalmente sábio, desprovido de reservas acumuladas.
Em sua mais famosa obra pululam referências elogiosas quanto à sabedoria cultural e estudos sobre as potencialidades do sertão. Anali-sando as referências utilizadas por Castro em seus livros, observa-se a recorrência do uso de obras literárias que tinham como principal foco a terra e o homem dos sertões e o triste espetáculo das secas. Obras como O Quinze de Rachel de Queiroz, A Bagaceira, de José Américo de Almeida, Os Sertões de Euclides da Cunha buscam fazer um retrato do homem sertanejo como um forte, que ama sua terra e retratam também o drama da retirada.
A estas referências soma-se a vivência que Castro nos junto aos man-gues do Recife. Tomando-a como base para escrever seu romance Ho-mens e Caranguejos, ele busca evidenciar que a “civilização do mangue” no Recife é produto da irracionalidade da estrutura agrária dos sertões e da zona da mata, da retirada e das urbanizações sem projeto:
“... sociedade que, economicamente, também é anfíbia, pois que vegeta nas margens ou bordas de duas estruturas econômi-cas que a história até hoje não costurou num mesmo tecido: a estrutura agrária feudal e a estrutura capitalista. Estruturas que
23 – “Pelo Brasil afora se tem a idéia apressada e simplista de que o fenômeno da fome no Nordeste é produto exclusivo da irregularidade e inclemência de seu clima. De que tudo é causado pelas secas que periodicamente desorganizam a economia da região. Nada mais longe da verdade. Nem todo o Nordeste é seco, nem seca é tudo, mesmo nas áreas do sertão. Há tempos que nos batemos para demonstrar, para incutir na consciência nacional o fato de que a seca não é o principal fator da pobreza ou da fome nordestinas. Que é apenas um fator de agravamento agudo desta situação, cujas causas são outras. São cau-sas mais ligadas ao arcabouço social do que aos acidentes naturais, às condições ou base física da região” CASTRO, Josué de, Geografia da Fome, op. cit., pp. 260.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008150
Tayguara Torres Cardoso
persistem no nordeste do Brasil, lado a lado, sem se fundirem, sem se integrarem até hoje no mesmo tipo de civilização. A so-ciedade dos mangues é uma sociedade imprensada entre estas duas estruturas esmagantes. É uma sociedade que, comprimida pelas duas outras, escorre como uma lama social na cuba dos alagados do Recife, misturando-se com o caldo grosso da lama dos mangues “24.
Todas estas referências e este quadro teórico contribuem para a construção de uma visão que valoriza mais a terra sertane-ja, o aproximando das visões perpetradas pela literatura que, embo-ra não esquecesse dos problemas sertanejos, procuravam evidenciar a ”riqueza” de sua terra e sua gente, infelizmente obscurecida pelas iniqüi-dades sociais vigentes e que dá maior peso à questão da reforma agrária e da fixação do homem à terra sertaneja, contrária a uma idéia de pobre-za inexorável, superpovoamento25 e de pouca potencialidade dos sertões
24 – CASTRO, Josué de, Homens e Caranguejos, op. cit. pp. 14.25 – No debate direto com Furtado na Rádio Nacional, já citado anteriormente, Castro chamaria a atenção do economista: “O problema que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: eu creio que o Dr Celso está de acordo que não se pode considerar que há exces-so de população quando se faz um estudo comparativo de densidade de população entre o Nordeste e várias outras regiões do mundo. O Nordeste tem de ser considerado, dentro desse aspecto, como uma região subpovoada, talvez uma região medianamente povoada, nunca uma região superpovoada. Isto é uma tese de princípio de geografia econômica ou geografia humana.” E, mais adiante: “Eu daria o exemplo da China, que era considerada um país tipicamente superpovoado, com seus 600 milhões de habitantes – a maior massa de população do mundo – com algumas áreas com a densidade demográfica de 1.500 pes-soas por quilômetro quadrado (população rural, não urbana). Esta China é o país da super-povoação. País onde Malthus parecia ver consagrada a sua teoria, a China, com dez anos de trabalho intensivo de desenvolvimento econômico, tanto no campo industrial quanto no campo rural, veio provar que nem havia excesso de gente nem falta real de terra, como se apregoava. E a demonstração disso é que a china agora, nesse ano de 1959, vai cultivar apenas um terço das terras que eram cultivadas anteriormente. Um terço vai ser para a restauração de suas florestas. O outro terço vai ficar em repouso. A China, através dos métodos agrícolas uperintensivos, sem máquinas (não é mecanização, mas uma conju-gação de fatores de produção, de técnicas manuais), aproveitando o seu aparente excesso de gente, pôde promover um tipo de agricultura superintensiva que absorveu uma grande parte de sua população.” FURTADO, Celso & CASTRO, Josué de, op. cit., pp. 29.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 151
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
nordestinos. Embora partindo de um mesmo diagnóstico “dualista”26 so-bre a formação da economia nordestina e de seus sertões, semelhante ao de Furtado, Castro assume uma outra perspectiva em relação à concepção de reforma agrária e sua importância estratégica em relação à visão do economista brasileiro. Enquanto este considera o problema agrário uma questão de reorganização agrícola em prol de um projeto de industrializa-ção, que seria capaz de criar uma nova classe dirigente mais progressista, aquele considera a reforma agrária como um imperativo político capaz de trazer para a arena política as massas excluídas dos processos de decisão e realizar um verdadeiro processo de desenvolvimento do Nordeste e seus Sertões. Em um debate com Furtado, Castro afirmaria:
“O senhor sabe, Dr Celso, muito bem, os enormes interesses em jogo no problema da reforma agrária em qualquer parte do mundo. E, no Nordeste, sabemos que existem lado a lado os dois fenô-menos mais graves: o açambarcamento da terra, o latifúndio e a pulverização da terra, que é o minifúndio. Ora, se encontrássemos no seu relatório – mas eu espero encontrar em outras declarações suas – expressões nítidas de que essa reforma é indispensável e es-sencial, ela não poderia ser interpretada como uma demagogia ou como uma medida puramente de finalidade política. Ela é uma ne-cessidade, um verdadeiro imperativo histórico do momento, sem o que nada será feito de positivo. Daí o meu interesse em provocar-lhe esse pronunciamento a fim de que não se pense que a Operação
26 – A perspectiva teórica “dualista” concebe a formação histórica brasileira e sua estrutu-ração econômica como um processo onde a um sistema econômico moderno e “rentável” se superpõe um sistema econômico “arcaico” ou “de subsistência” de tênues ligações com o moderno. Tal perspectiva se tornou “clássica” principalmente na análise das diferentes estruturações econômicas brasileiras, mormente a diferença entre “sertões” e litoral. O dualismo concebe a existência de uma espécie de “sistema feudal” no interior nordestino, fechado (não-monetarizado, fechado e de subsistência, como na idade medieval euro-péia), de relações sociais de cunho feudal (onde a “parceria” o “foro” , o “arrendamento” seriam os correlatos brasileiros das relações de servidão da idade média européia) e isola-do do seu entorno. Tal perspectiva do “feudalismo brasileiro” recebeu críticas teóricas e metodológicas profundas, que afirmavam as diferenças entre o sistema brasileiro e o sistema europeu, afirmando energicamente o caráter capitalista de todo o sistema econô-mico brasileiro e o papel de “complementaridade” que a economia interiorana exercia em relação à economia do litoral. Dentre estas críticas, se destaca a “Crítica à Razão Dualista” de Francisco de Oliveira, que busca evidenciar a estreita ligação e complementaridade econômica existente entre sertões e litoral brasileiros.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008152
Tayguara Torres Cardoso
Nordeste foi concebida sem pôr em linha de conta aquilo que eu chamo um pré-requisito para o desenvolvimento da agricultura, que por sua vez, é ao meu ver, um pré-requisito para a industria-lização racional do Nordeste.(...) Se me permite um aparte, eu lhe mostraria como foi a estrutura da terra que fez com que ela não fosse irrigada. Não interessa ao grande latifundiário promover ne-nhum investimento em sua terra. O que interessa é a terra espe-rando a valorização natural. Daí o desinteresse do chamado poder político do Nordeste em tomar uma posição progressista que leve o progresso real em benefício das grandes coletividades. Se a terra fosse melhor dividida, essas novas coletividades se tornariam mais progressistas, mais conscientes desse sentido social e teriam os representantes que o Dr Celso Furtado almeja que venham ao Par-lamento. E assim ter-se-ia já irrigado essas terras com as águas que hoje servem apenas para espelhar o céu do Nordeste na mais inútil das inutilidades. Há um problema social, de estrutura, que fez com que não se promovesse o desenvolvimento econômico pelo uso de técnicas adequadas.”27
Emergem, portanto, dois projetos de desenvolvimento distintos e duas visões distintas sobre reforma agrária e possibilidades do sertão dentro de um campo de debate desenvolvimentista, projetos estes for-temente imbricados da perspectiva, da “tomada de posição”, que tanto Castro como Furtado tiveram em relação à região interiorana nordestina – este, tomando-a como terra de pobreza inexorável e aquele tomando-a como terra de potencialidades – bem como dos diferentes campos cientí-ficos a qual cada autor estava ligado, como a economia de Furtado e a ge-ografia de Castro. Estes campos de referência, estes quadros intelectuais, se revelam de extrema importância para se mapear posições e se entender propostas dentro do campo desenvolvimentista. As visões distintas sobre a terra sertaneja e sua gente também se concretizavam na discussão sobre a industrialização e transferência de população, dois aspectos básicos das propostas de Furtado que Castro procurava discutir. Quanto à questão do suposto superpovoamento e da proposta de transferência de população castro as considerava equivocadas e a transferência cara e desnecessária
27 – FURTADO, Celso & CASTRO, Josué de, op. cit. pp. 31- 32.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 153
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
e embora comungasse da visão otimista sobre a industrialização, o geó-grafo pernambucano a via com maior “distanciamento” do que Furtado, procurando afirmar que só surtiria os efeitos necessários se conjugada com uma verdadeira reforma agrária e política, em um debate com Furta-do, Castro afirmava :
“Eu estou plenamente de acordo em que existe um excesso de mão-de-obra estrutural em face da falta de horizonte de traba-lho, da falta de possibilidades, da falta de recursos, ou melhor, em face da falta de investimentos que tenham provocado a di-namização da economia daquela região. Isto significa que não há excesso de senão em face da improdutividade do Nordeste. Estou de acordo que no Nordeste o grosso da população não trabalha. Há o que se chama de desemprego disfarçado ou o su-bemprego, tanto na região urbana quanto na região rural. Quan-to à região urbana, fui talvez dos primeiros a denunciar aquele fato das mocambópolis em torna da cidade em que nasci, o Re-cife, com cerca de 150.000 indivíduos vivendo nos mocambos, dentro do “ciclo do caranguejo”; marginais, sem terem nada que fazer a não ser pescar caranguejo, lançar os seus dejetos ali mesmo para o caranguejo comer e comer o caranguejo outra vez. É, por isso, que eu disse que ali tudo é, foi, ou vai ser ca-ranguejo. E, como se sabe, o caranguejo caminha para trás.(...) Não havia possibilidade nenhuma de desenvolvimento, senão de regresso econômico e social para aqueles grupos humanos. Longe de mim, portanto, ser contra a industrialização que deve absorver esse excedente de população, que não tem ocupação em face de ter sido expulso da zona rural por uma conjuga-ção de fatores naturais e culturais; o fator natural do fenômeno da seca mais o fator de base que é o subdesenvolvimento da zona rural, a subprodutividade agrícola, o atraso econômico da região.(...) Agora, pergunto eu, será esse desequilíbrio estru-tural, impossível ou difícil de corrigir? Talvez seja mais fácil corrigi-lo do que deslocar essas populações, desde que o que visa exatamente o plano chamado Operação Nordeste é dinami-zar a economia tanto rural quanto urbana da região de um lado através da industrialização e de outro lado através da utilização
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008154
Tayguara Torres Cardoso
racional da terra.”28
As propostas e diagnósticos que transparecem das análises de Castro, diferentemente das de Furtado à época, tomam a reforma agrária como um imperativo não apenas econômico, mas também político e social, de-vendo se começar por ela para que não só uma nova “classe dirigente” se erigisse, mas principalmente uma nova “massa” saísse da ignorância e da miséria e passasse a participar ativamente do destino e do desenvolvi-mento do Nordeste e do país, seja na indústria ou na agricultura.
Ambos os projetos enfrentaram resistências das forças mais reacio-nárias do Nordeste, entretanto, o de Celso Furtado, por ser “contornador”, por não ferir totalmente interesses emergentes de um clima ideológico desenvolvimentista e, principalmente e em decorrência, por ter o aval do governo Federal como “Operação” triunfou e pôde ser aplicado, com exceção a algumas desapropriações, projetos de irrigação e “reformas agrárias racionais” previstas no projeto original da Sudene – que con-tinha alguns projetos onde Castro e Furtado estavam de razoável acordo – em quase a sua totalidade. Os financiamentos industriais e assistência técnica foram regularmente realizados sob a supervisão de Furtado, que participou não só do governo de Juscelino Kubitschek, mas também do de Jânio Quadros e de João Goulart, neste último como ministro do pla-nejamento.
Tais projetos e pressupostos “vencedores” influenciaram sobrema-neira na transformação daquele Nordeste no Nordeste de hoje, um Nor-deste mais moderno, mas ao mesmo tempo moderno e conservado devido ao próprio caráter dos pressupostos e das políticas aplicadas ao Nordeste e a seus sertões.
Alguns resultados das políticas de desenvolvimento adotadas para o Nordeste e seus Sertões
O Novo Nordeste que emergiu destas políticas foi um Nordeste mais
28 – FURTADO, Celso & CASTRO, Josué de, op. cit. pp. 29.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 155
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
integrado ao resto do país, com infra-estrutura bem desenvolvida, com energia elétrica. Entretanto, como em toda política de desenvolvimento, cabe refletir para quem estes benefícios foram realmente efetivos e rele-vantes.
O resultado da industrialização, em termos humanos, empreendida pela Sudene, pode ser vislumbrado através dos seguintes dados de final da década de 1960:
“recente pesquisa mencionada no estudo da Sudene, “A nova etapa do Desenvolvimento Nordestino” indica que 26% dos chefes de família em Recife estavam desempregados e 23% re-cebiam salários abaixo do mínimo legal. Do total de oferta de empregos gerados no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janei-ro e na Guanabara apenas 14,5% foram gerados no Nordeste, região que conta com uma população de quase 30% da brasilei-ra, ao passo que somente em São Paulo, cuja população é tão-somente de 18,6% do total, gerou 64,3% dos empregos.”29
Tais dados revelam que em termos sociais a industrialização nordes-tina não logrou os efeitos multiplicadores e libertadores esperados muito devido ao fato de que a industrialização se baseou no emprego de tecno-logia intensiva poupadora de mão-de-obra. Um outro aspecto, dentro da questão industrialização, que é importante abordar seria a possibilidade de se falar na possibilidade de uma industrialização nordestina. O que garante uma industrialização do Nordeste, voltada para o Nordeste? Tal problema se acresce ao problema da criação de empregos e da dinamiza-ção do mercado nordestino.
A Sudene foi uma autarquia que financiava projetos de industriali-zação através de empréstimos, incentivos fiscais e assistência técnica que supostamente beneficiariam o Nordeste. No entanto, a famosa resolução
29 – ALBUQUERQUE, Marcos Cintra C., Planejamento Regional: O Caso da Sudene. In: Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro 11(3):, jul.-set. de 1971, pp. 97-103, pp. 102.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008156
Tayguara Torres Cardoso
34/18 da Sumoc30, que garantia incentivos fiscais e capitais a baixo custo para as empresas que se estabelecessem na área do Nordeste, provocou uma autêntica correria das empresas do Centro-Sul do país para se es-tabelecer no Nordeste e desfrutar das vantagens dos incentivos, finan-ciamentos, assistência técnica e da proximidade de centros produtores de matérias primas. Estas empresas, na realidade, passaram a concorrer com as indústrias tradicionais nordestinas pelos financiamentos e com um nível tecnológico e de produtividade alto. Tais empresas produziam não para uma dinamização do mercado nordestino, mas para o mercado do centro-sul, e a maioria dos lucros conseguidos graças a créditos e incenti-vos eram remetidos para suas sedes:
“na realidade os projetos implantados no Nordeste concentram-se, devido a restrições de mercado, na produção de bens interme-diários e de capital , sendo que no período de 1960-1965 os in-vestimentos projetados para novas fábricas de bens de consumo, mediante facilidades do mecanismo 34-18 representam somente 9,1% do total.(...) tal tendência deve-se ao fato de que o mercado local não foi ampliado durante o processo em decorrência da inefi-cácia da força criadora de novas oportunidades de emprego. Assim sendo, as indústrias que se estabeleceram na área da Sudene, só o fizeram como um recurso para o barateamento subsidiado do custo de sua produção, já que, como se observa, a maior parte da produ-ção industrial retorna ao Centro-Sul.”31
Pode-se perceber que a política desenvolvimentista da Sudene fez muito mais integrar o Nordeste em um mercado nacional mais amplo, e neste ponto tem-se em conta a infra-estrutura de transportes e energia construída por este órgão, do que propriamente “desenvolver” a região. Quanto aos indicadores relacionados a condições de vida, saúde e assis-tência médica até o final da década de 1960 os resultados não eram muito positivos:
30 – Artigo 34 da Lei nº 3995 de 14 de dezembro de 1961, que permitia a dedução do imposto de renda de pessoas jurídicas de recursos destinados a investimentos na região nordestina.31 – ALBUQUERQUE, Marcos Cintra C., op. cit., pp. 101.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 157
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
“Em termos de condições de vida, saúde e assistência médica, alimentação, mortalidade infantil e expectativa de vida, déficit habitacional, analfabetismo etc., as condições do Nordeste in-dicam uma sociedade extremamente subdesenvolvida. Exem-plificando, a população alfabetizada do Nordeste era 49% do total em 1968 ao passo que em São Paulo era 78,1%, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 74,9% e Minas Gerais e Espírito Santo, 62,8%.”32
A perspectiva industrialista foi seguida à risca e até exagerada pela ditadura e transformou os tradicionais latifúndios em verdadeiros com-plexos agro-industriais, uma verdadeira indústria agrícola que soma às vi-cissitudes de uma grande indústria moderna, as vicissitudes do latifúndio. O crescimento do latifundiarismo é um verdadeiro “dado”, juntamente com a decorrente manutenção de oligarquias políticas e a decorrente in-tensificação das lutas em torno da terra. No sertão nordestino tal conjun-tura constitui a base da manutenção de um quadro triste, que atravessa a modernização das estruturas atual:
“Não é sem razão que, nos momentos de irregularidade de chuvas, ocorridos nos anos recentes, as tradicionais “frentes de emergência” (como são chamados os programas assistenciais do Governo) alistam número enorme de agricultores (2,1 mi-lhões de pessoas em 1993). Nessas áreas, nos anos de chuva regular, os pequenos produtores, rendeiros e parceiros produ-zem, mas não conseguem acumular: descapitalizados ao final de cada ciclo produtivo, são incapazes de dispor de meios para enfrentar um ano seco. Nesse quadro, portanto, não houve mu-danças significativas, e as que aconteceram, em geral, tiveram impactos negativos, como o desaparecimento da cultura do al-godão. De positivo, a extensão da ação previdenciária, cobrin-do parte da população idosa e assegurando uma renda mínima, mas permanente, a muitas famílias sertanejas.”(...)“E, após tantos anos de dinamismo econômico, a questão fun-
32 – ALBUQUERQUE, Marcos Cintra C., op. cit., pp. 102.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008158
Tayguara Torres Cardoso
diária permanece praticamente intocada, apesar da miséria alarmante dominante nas áreas rurais do Nordeste. Segundo o Mapa da Fome feito recentemente pelo Ipea, dois terços dos indigentes rurais do País estão no Nordeste.(...) Na zona semi-árida, onde se reproduz a estrutura desigual do resto do Nordeste, a situação é agravada pela presença de “latifúndios maiores”: lá a área média do 1% dos maiores estabelecimentos (1.914 hectares, em 1985) é superior ao tamanho médio desses estabelecimentos no resto do Nordeste (1.002 hectares). No semi-árido, o acesso à terra é feito por formas precárias (par-ceria, por exemplo), caracterizando maior instabilidade, e se registra maior presença de grandes posseiros em comparação com o resto do Nordeste”33
Deste ponto, como se pode depreender, emergira um novo Nordeste, mais moderno, no entanto, sofrendo dos mesmos problemas debatidos por Castro e Furtado: a miséria e a estrutura agrária irracional. Um proje-to de desenvolvimento que tinha como pressupostos a fé cega na indus-trialização, na racionalidade e a falta de crença nas potencialidades do sertão contribui, sobremaneira, na transformação do Nordeste arcaico e “semifeudal” no Nordeste da modernização conservadora, cujo retrato se vislumbra em suas modernas capitais de prédios luxuosos de beira-mar e de pauperismo na periferia e no seu interior onde ainda se assiste o velho “espetáculo” da espera ansiosa pela chuva por um povo que, em pleno século XX, sofre com fenômenos conhecidos desde longínquos tempos: o descaso, o latifúndio e a iniqüidade social, que dão vida longa à fome e a pobreza.
33 – ARAÚJO, Tânia B de, Nordeste, Nordestes, Que Nordeste? Ensaios sobre o desen-volvimento brasileiro – Heranças e Urgências, 2000.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008 159
Desenvolvimentismo e Sertão Nordestino – Celso Furtado, Josué de Castro e o debate em torno da “Operação Nordeste” e Sudene
Referências BibliográficasALBUQUERQUE, Marcos Cintra C. Planejamento Regional: O Caso da Sudene . In: Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro 11(3), jul.-set. de 1971, pp. 97-103.ARAÚJO, Tânia B de. Nordeste, Nordestes, Que Nordeste? Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro – Heranças e Urgências, 2000.BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento Econômico Brasileiro; o ciclo ideológico do desenvolvimentismo – 1930-1964, Rio de Janeiro, Ed. Contraponto, 2004.CASTRO, Josué de. Geografia da Fome: o dilema brasileiro: pão ou aço, 10ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Antares. 1987__________________ Documentário do Nordeste , 2ª ed., São Paulo, Ed. Brasiliense, 1959.__________________ Homens e Caranguejos. Rio de janeiro, Civilização Brasileira 2001. FURTADO, Celso . A Fantasia Organizada, São Paulo, Paz e Terra, 1997._________________ A Fantasia Desfeita, São Paulo, Paz e Terra 1997._________________ Formação Econômica do Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Fundo de Cultura, 1964. _________________ Operação Nordeste. Rio de Janeiro, ISEB, 1959.FURTADO, Celso & CASTRO, Josué de. Operação Nordeste: dois nomes, duas opiniões. Revista O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, abril de 1959, nº 278, pp. 26-33.NORA, Pierre. A Problemática dos Lugares. Revista Projeto História, São Paulo (10), dez. 1993 . OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à Razão Dualista/O Ornitorrinco, São Paulo, Boitempo Editora, 2003.TAVARES, Maria da Conceição; ANDRADE, Manuel Corrêa de & PEREIRA, Raimundo Rodrigues – Seca e Poder; entrevista com Celso Furtado – São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1998
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):133-160, jul./set. 2008160
Tayguara Torres Cardoso
DocumentosUma Política de Desenvolvimento para o Nordeste. Brasil, Conselho de Desenvolvimento, GTDN, 2a Edição, Recife, Sudene, 1967.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008 161
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe
DOM PEDRO AUGUSTO E SEUS CONTACTOS COM A AVÓ CLEMENTINA, DUQUESA DE SAXE
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança1
Dom Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança, o neto primogê-nito e predileto de Dom Pedro II, nasceu e foi criado no Rio de Janeiro. Educado pelo Imperador, órfão de mãe, a bondosa Princesa Dona Leopol-dina, aos 5 anos de idade.
A falta materna o deve ter acompanhado, no subconsciente, em toda a sua existência.
A sua vida era o Brasil. Sua índole foi modelada pelo avô assim como pela freqüência ao Colégio D. Pedro II e pelo curso na então Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
Foi o primeiro príncipe engenheiro do mundo. Publicou importantes trabalhos sobre mineralogia e numismática. Deixou uma correspondência abundante com amigos, cientistas e personagens ilustres. Muitas cartas foram publicadas.
Todavia, de vez em quando, ainda surgem novas missivas. Os con-tactos com os parentes europeus de seu pai, o Duque de Saxe, foram superficiais. A troca de correspondência com os mesmos foi escassa. As cartas dirigidas ao pai desapareceram. Sobraram algumas dirigidas a avó,
1 – Sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008162
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança
a Princesa Clementina de Orléans, Duquesa de Saxe.2
Os arquivos europeus, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, tive-ram grandes perdas com os bombardeios e com as tropas de ocupação que usaram bibliotecas e arquivos para lenir o frio invernal.
Quantos documentos importantes se transformaram em fumaça !
Publicamos hoje seis cartas que Dom Pedro Augusto endereçou à avó. As unicas que se salvaram dessa correspondência.
Cobrem um período de 26 anos com grandes intervalos. Encontra-mos nas mesmas férias em Petrópolis, na casa do tio Gaston, que lhe dava aulas de ortografia francesa, os passeios nos bosques, os piqueniques na cascatinha Itamaraty e as brincadeiras com o Príncipe do Grão-Pará; mos-tram a sua infância e a vida em casa de férias da Princesa D. Isabel.
Transparece o temperamento de primogênito de quatro irmãos, como também a saudade dos dois confrades menores José e Luís, que ficaram na Europa.
Entre a primeira e a segunda carta existe um intervalo de 10 anos.
Não era mais um menino de 11 anos, mas sim um jovem maduro e 2 – A Princesa Clementina de Orléans nasceu no Castelo de Neuilly a 3 de junho de 1817, filha de Louis Philippe de Orléans, em seguida Rei dos Franceses, e da Princesa Maria Amélia de Bourbon das Duas Sicilias. Recebeu ao nascer o Título de “ Mademoi-selle de Beaujolais ”por Louis XVIII. Foi batizada na Capela do Castelo de Neuilly a 20 de julho, tendo como padrinho Leopoldo de Bourbon, Príncipe de Salerno, seu tio ma-terno, e como madrinha Maria Clementina de Absburgo, Princesa de Salerno. A Princesa Maria Clementina era irmã de Dona Leopoldina, Imperatriz do Brasil. Os padrinhos se fizeram representar pelo Embaixador do Reino das Duas Sicilias, Don Fabrizio Ruffo, Principe de Castelcicala e sua mulher Donna Giustina Pinto. Casou por contrato a Viena a 21 de fevereiro de 1843 e a 20 de fbril de 1843. Foi realizado o casamento religioso no Castelo de Saint-Cloud com o Príncipe Augusto Louis Victor de Saxe-Coburgo e Gotha, Duque de Saxe ( 1818-1881). Até 1848 o casal viveu na França, tendo o segundo filho do casal Augusto, genro de Dom Pedro II, nascido em 1845, no Castelo d’Eu. Depois de 1848, fixaram residência no Palácio Coburgo, em Viena, e no Castelo de Ebenthal, perto da capital austríaca. Mulher de notável sensibilidade política. Foi grande o seu apoio ao filho Ferdinando para a sua eleição a Príncipe da Bulgária e posteriormente a Czar dos Búlgaros. Manteve contatos estreitos com todas as Casas Reais da Europa e foi grande amiga da Rainha Victória da Inglaterra. Faleceu em Viena, no Palácio Coburgo, a 16 de fevereiro de 1907. Está sepultada na cripta da Igreja de Sto. Agostinho, em Coburgo.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008 163
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe
cheio de interesses.
A sua caligrafia estava formada e tinha semelhança com aquela do avô Pedro.
Em 1887 ele acompanhava os avós em Cannes, com eles passaria o Natal, como costumava fazer no Brasil.
O Imperador se estava restabelecendo e o neto seguia os avós nos passeios na “ Promenade des Anglais ”, numa conversação, que satisfazia certamente a sua sede de cultura.
Nota-se nas cartas o seu interesse pelos acontecimentos no Brasil, que seguia de perto, e os da Bulgária, onde o tio Ferdinando, com hábil ajuda da Princesa Clementina, estava galgando o Principado e depois o Reino balcânico. Vemos as tentativas da avó em procurar-lhe uma noiva, uma das Princesas da Bélgica, filhas do Conde de Flandres.
Encontramos a sua firme e diplomática oposição.
Foram as únicas noivas que lhe foram atribuídas.
Aprendemos que o Imperador queria enviá-lo a representar o Brasil no enterro do Imperador Guilherme da Alemanha e outros detalhes.
Enfim, o declínio.
Nota-se o começo da doença, a sua “agitação febril” e a sua instabi-lidade. Quando podia estava perto do Imperador.
Em 1889, os golpes sofridos foram duros. Deixar a Pátria, a morte da Imperatriz no Porto e a distância dos amigos, a perda dos seus haveres, tudo isso foi devastador para o espírito tão sensivel desse moço cheio de qualidades.
Estas cartas, escritas em francês, são mais um fragmento para uma biografia do “Principe Engenheiro”.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008164
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança
Petrópolis, 4 de fevereiro de 1877
Minha querida avó,
Faz muito tempo que eu desejava vos escrever para mostrar que eu vos penso freqüentemente e que eu vos amo muito, mas as minhas aulas me deixam pouco tempo. Eu aproveito para escrever esta carta, pois estamos aqui em férias e o tio Gaston deseja ajudar-me na ortografia. Espero que tereis tido festas de Natal muito felizes, assim como o meu querido avô, meus tios e minhas tias e meus pequenos irmãos e que o ano novo seja muito afortunado para vos todos. Augusto3 e eu estamos bem. Atualmente estamos de férias junto a tia Isabelle e o tio Gaston, e estamos muito satisfeitos, pois o tio Gaston e a tia nos fazem realizar belos passeios na floresta, a cavalo ou a pé. O pequeno primo é também muito amável e isto nos diverte de jogar com ele. Nós já fomos almoçar juntos à cas-catinha do Itamaraty e antes de ontem fomos pescar com a Tia e pescamos muitos pequenos peixes que fizemos fritar.
O Tio Gaston e a Tia Isabelle me encarregam de vos apresentar as mensagens mais afectuosas como tambem ao vovô. Antes de on-tem recebemos cartas de José4 e Luís5 e do Senhor Fleischmann6. Isto nos causou um grande prazer e achamos que os nossos peque-nos irmãos escrevem muito bem.
3 – O Príncipe Dom Augusto, segundo filho da Princesa Dona Leopoldina e do Duque e Saxe, nasceu em Petrópolis a 6 de dezembro de 1867. Segundo Tenente da Armada do Brasil. Veja-se “O Ramo Brasileiro da Casa de Bragança”, Anais do Museu Histórico Nacional, vol. XVIII, Rio 1968.4 – O Príncipe Dom José nasceu no Rio de janeiro em 21 de maio de 1869. Faleceu na Academia Militar de Wiener Neustadt, perto Viena, de pneumonia, em 13 de agosto de 1888.5 – O Príncipe Dom Luís nasceu no castelo de Ebenthal a 15 de setembro de 1870 e faleceu em Innsbruck a 23 de janeiro de 1942. Seguiu a carreira militar na Áustria, como os filhos da Princesa Isabel depois da proclamação da república.6 – Duque de Monpensier. Era filho do rei Louis-Philippe dos Franceses e irmão da Princesa Clementina. Nasceu em Neuilly em 31 de julho de 1824 e faleceu em San Lucar de Barrameda em 4 de fevereiro de 1890. Casou em Madrid em 22 de setembro de 1846 com a Infanta Maria Luísa Fernanda, filha do Rei Fernando VII. Teve uma vida política das mais movimentadas.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008 165
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe
Vos peço querida avó, de transmitir de parte minha afeição ao avô e também ao papai, quando o vereis e eu vos abraço de todo cora-ção, como vosso muito afeiçoado e respeitoso neto
Pedro
Cannes, 15 de dezembro de 1887
Minha querida avó.
Eu espero que a vossa viagem foi agradável. As notícias dos jor-nais me dizem isso. A vossa chegada a Sófia deve ter sido magnífi-ca. Eu li com prazer o programa do cerimonial, enviado pelo caro tio Montpensier7. Que alegria vos deveis sentir ao rever o querido tio Ferdinando, satisfeito e com boa saúde. Queria dizer ao mesmo mil recomendações de minha parte . Todos os meus amigos do Rio não fazem que elogiar a magnífica conduta e a inteligéncia do tio. Somente as Grandes Potências têm temores. A Bulgária poderia bem jogar um grande rol no campo internacional. Eu conto, toda-via, com a Presidência e com o bom senso do chefe do Governo.
O Imperador, que renunciou a sua viagem ao Egito, está muito bem. A avó está tambem num estado de saúde muito satisfatório. As notícias de Gusty, de Papai e dos dois irmãos são excelentes. Papai vai chegar proximamente a Cannes. Não há nada de novo re-lativamente ao programa de viagem do Imperador. Todo este mês vai-se passar em Cannes. O tempo é magnífico e frio. Os queridos tios Montpensier estão muito bem e estão em Nice. Vou visitá-los com freqüência. Estou ansioso em receber vossas notícias e do dia da vossa volta.
Vosso muito devoto neto.
Pedro
7 – Educador dos Príncipes Dom José e Dom Luís.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008166
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança
Cannes, 15 de março de 1888
Querida avó .
Somente hoje me é possível de responder a vossa carta de 31 de janeiro. Estou com vergonha por este longo atrazo. O motivo prin-cipal foi uma reclusão de 25 dias por causa de uma “ variolose ”. Por este motivo não me foi possível viajar para Bulgária, o que lastimo, pois desejava ver o tio e o seu interessante país.
Eu espero, que como senhor do exército, o Príncipe possa domar e vencer inteiramente as pequenas afirmações dos intrigantes. Fica-ria encantado em ver todos os presentes que recebestes.
Quanto à Grã-Cruz8, a receberia com grande satisfação como amá-vel lembrança do tio, e a ostentaria em todas as grandes ocasiões. O uniforme falta sempre. Eu devia representar o Brasil no enterro do imperador Guilherme. Este foi o desejo do meu avô, o Impe-rador. Não fui por causa da marcha de 2 horas na neve e outras coisas incompatíveis com o meu estado de saúde, mesmo estando este agora satisfatório.
Não possuindo um só hábito preto, teria sido imprudente estar no frio. Quanto ao hábito não seria um motivo para minha renúncia, pois 4 placas e um “grand cordon” teriam feito efeito para repre-sentar o avô.
Creio ver acabar os ruídos de Guerra. A paz é desejada por todos os Soberanos.
8 – Dom Pedro Augusto era Sócio Honorário do Instituto Histórico e Geográfico Bra-sileiro, possuía as seguintes Grã-Cruzes: Imperial Ordem do Cruzeiro do Brasil, Torre e Espada de Portugal, Ernestina da Saxônia, Leopoldo da Bélgica e Sto. Andréia da Bul-gária. Importantes são as suas publicações sobre Mineralogia e Numismática. Veja-se: “ Trabalhos de Mineralogia e Numismática ”. Martins Editora, São Paulo, 1958.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008 167
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe
O noivado Belga9 não tem razão de ser, o mesmo é para mim im-possivel, depois daquilo que ouvi dizer. Espero vos ver em breve em Cannes, junto aos primos Chartres, que vejo muitas vezes.
Muitas amizades ao tio. O Luís teve a “escarlatina”, mas está me-lhor, graças a Deus.
A tia Chica e os tios Philippe vão chegar entre o dia 20 em Cannes. O Imperador e a Imperatriz estão passando bem. Vão partir em breve para a Itália. As notícias do Brasil são muito satisfatórias. Até breve, na esperança de vos rever aqui proximamente.
Vosso muito devotado neto
Pedro
Thermes d’Aix-Les-Bains (Savoie) 3 de junho de 1888
Minha querida avó.
Eu vos escrevo com data do dia 3, mesmo tendo chegado nesta cidade no dia 4 deste mês. A partida precipitada e cheia de dificul-dades de Milão, me fizera esquecer, por minha grande vergonha, a data do seu aniversàrio.
Vos peço perdão e vos desejo longos anos de uma vida feliz.
Aproveito da ocasião para acrescentar os meus mais sinceros votos pela subida do tio Ferdinando ao trono, que ele bem mereceu.
9 – A noiva escolhida pela avó era a Princesa Henriette da Bélgica, nascida em Bruxelas a 30 de novembro de 1870 e falecida em Sierre (Valais) a 28 de março de 1948. Casou em Bruxelas a 12 de fevereiro de 1896 com Emanuel de Orléans, Duque de Vendome. Era filha do Príncipe Philippe da Bélgica, Conde de Flandres e da Princesa Maria de Hohenzollern-Sigmaringen. O Conde de Flandres foi pai do Rei Alberto I dos Belgas e irmão do rei Leopoldo II. Renunciou às coroas da Grécia e da Romania ,que lhe haviam sido oferecidas.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008168
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança
O Imperador (dia 14) saiu pela primeira vez de carruagem. Tudo correu bem. Espero que dentro de um mês ele poderá caminhar perfeitamente. A avó daqui está passando bem. Os tios Montpen-sier vão chegar no próximo mês. As notícias do Rio são sempre as melhores.
Nenhuma novidade mais. Até logo. Vosso todo devotado
Pedro
Paris, 5 de julho de 1890
Minha cara avó.
Antes de mais nada perdoe-me de não ter dado as minhas notícias durante a vossa estadia em Aix. Se eu guardei um silêncio, não creia que isto foi por esquecimento de vossa pessoa. Os aconteci-mentos do Brasil discutidos com o Conde de Carapebus10, chegado do Rio e as desagradáveis notícias sobre coisas bastante delicadas, chegadas de Cannes, me reduziram a uma desanimação ou a uma agitação febril a qual me tomou a força de escrever. Gusty, [o ir-mão Dom Augusto] ao qual eu deixo uma carta, chega segunda-feira de manhã .
Eu lhe aconselhei de me alcançar em Londres, se ele não se decidir a ir a …[ilegível] Nós todos nos decidimos de voltar a Schladming 11 no dia 15 de agosto.
Eu estarei de regresso a Paris por volta do primeiro de agosto e seguirei para Stíria através de Basel e Innsbruck. Vou ficar um dia
10 – Carapebus. Antonio Dias Coelho Neto dos Reis. Nasceu em Campos a 4 de setembro de 1829 e faleceu em Paris a 9 de fevereiro de 1896. Conde por Decreto de 8 de agosto de 1888.11 – Schladming. Localidade na Áustria (Stíria), onde se encontrava o Castelo do Duque de Saxe. No mesmo eram guardados muitos objetos indígenas do Brasil, a sela, com apliques de prata, de Dom Pedro II, usada na Rendição de Uruguaiana, a qual o Duque de Saxe tambem havia participado, e 3.000 troféus de caça provenientes de todas as partes do Mundo.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008 169
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe
naquela cidade.
(Peço de pedir a Baronesa Pach o endereço e uma palavrinha para aquela casa que tem umas curiosidades, que desejo adquirir !)
A minha partida para Londres, Claridge’s Hotel, terá lugar amanhã às 11 e 30, através de Calais. Vou talvez ficar lá se o Mar da Man-cha vai ser demasiadamente agitado.
Os acontecimentos na Bulgária e a morte de Paniga me dão a pen-sar. Os Russos estão de um furor terrível. Faço votos a fim que o tio consiga sair desses grandes perigos.
A avó [Clementina], eu o sei, é como eu, contra a pena de morte. Enviei um telegrama a tia Amélia para felicitá-la pelo nascimento do novo primo.
A Senhora me prometeu de me ajudar um pouco quando eu me estabelecer em abril em Viena. Vos peço de não o esquecer e de me apoiar com força naquela ocasião, a fim de que eu possa gastar o meu dinheiro para acabar a viagem à Bélgica entre 1 e 15 de agosto.
A Senhora não vai se arrepender, pois com aquilo que possuo, o meu apartamento vai ficar encantador e eu ficarei feliz.
Adeus, e creia que vos estais sempre bem presente para o vosso devotado neto
Pedro.
P.S. Eu teria ido a Aix les Bains, se eu não tivesse tido Carapebus e outros amigos em Paris. A Londres eu terei também outros assun-tos bem mais interessantes. As minhas amizades à tia e tio e aos primos. Meus cumprimentos à Baronesa.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008170
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança
Hotel de Flandre, Bruxelas, 16 de Julho de 1892
Programa da minha viagem se Deus ajudar.Minha querida avó.Não tendo recebido uma resposta vossa, querida avó, tomei a deci-são de deixar uma palavrinha escrita.Minhas amizades a todos os parentes que vos tereis ocasião de ver. O colera parece ser menos forte aqui. Barão de Mösna vai ser o meu nome ( durante esta viagem).17. Rotterdam. Hotel des Brison18. Rotterdam. Excursão a Delft19. Partida para Den Haag. Grand Hotel des Indes20-21-22-23. Fico em Den Haag e Schreweningen ( H.d’Orange). Excursão a Utrecht.24. Partida para Leyden. Hotel Lion d’Or.25. Partida para Harlem. H.Füssettler26. Partida para Amsterdam. Hotel Amstel27-28-29 Fico em Amsterdam e redondezas30. Partida para Hamburg. Hotel Hamburgerhof31. Fico em HamburgPartida para Berlim. Hotel Continental2-3-4-5-6-7 Fico em Berlim8. Partida para Dresde. Hotel Bellevue9-10. Fico em Dresde11. Partida para Leipzig. Hotel Hauffe12. Partida para Nuremberg. H. Bayrischerhof13. Fico em Nuremberg14. Partida para Munique. H. Bayrischerhof15. Fico em Munique16. Fico em Munique17. Partida para Viena. Orient Express18. Fico em Viena.19. Partida e volta para Schladming.Adeus. Fique com boa saúde!Vosso muito devotado neto
Pedro
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):161-171, jul./set. 2008 171
Dom Pedro Augusto e seus contactos com a avó Clementina, Duquesa de Saxe
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 173
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
O TEATRO JESUÍTICO E OS PROBLEMAS DE SUA APREENSÃO NO BRASIL
Magda Maria Jaolino Torres1
“É inegável o serviço prestado com a publicação de tais documen-tos, muitos deles, porém, estão a pedir nova revisão e confronta-ção com as fontes originais, para se apresentarem na sua absoluta pureza. Fazemos votos para que se institua nalguma grande universidade brasileira a cadeira de estudos jesuíticos, como já se fez nos Esta-dos Unidos da América do Norte, com menor dívida à Companhia de Jesus do que o Brasil, não só sob o ponto de vista nacional, como até o da simples cultura científica, histórica e literária.”(Serafim Leite S.I.2).
A epígrafe desta apresentação são as palavras de Serafim Leite, que quase se impuseram e sempre me provocam um misto de indignação e perplexidade. Isto porque, como historiadora, senti na pele, na virada do
1 – Doutora em História pela Universidade de Brasília - Professora Adjunta do Departa-mento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.2 – História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Livraria Portugália, Rio de Ja-neiro: Civilização Brasileira, 1938. T. I, p. xxiv-xxv, Ratificando a atual importância da contribuição dos estudos desenvolvidos por Leite, os 10 volumes que compõem esta obra mereceram recentemente uma bela e monumental edição: organização César Augusto dos Santos et al. São Paulo: Edições Loyola, 2004, 4 v.
Resumo:Considerando os objetivos maiores do IHGB – “coligir, metodizar, publicar ou arquivar os docu-mentos necessários para a História e a Geografia do Brasil...” –, pareceu-me oportuno alargar aqui a discussão sobre o estado das possíveis fontes do que chamei de “teatro jesuítico da missão”, no Brasil do século XVI. Minha experiência de um quadriênio de estudos realizados em Florença, berço do teatro moderno, e em Roma, sede dos arquivos mais relevantes da Companhia de Jesus, pode revelar a inexistência de edições críticas destas fontes, as questões envolvidas em sua leitura e sinalizar possíveis vias de superação. Com efeito, este trabalho trata dos problemas que tal situação vem acarretando para a percepção das dimensões das problemáticas em que se insere o tema, geral-mente tratado entre nós de forma bastante reduzida sob o título de “teatro de Anchieta”.
Palavras-chave: História do Brasil: séc. XVI – História do teatro no Brasil – Teatro jesuítico - Fontes
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008174
Magda Maria Jaolino Torres
séc. XX para o XXI, as mesmas necessidades por ele apontadas nesta obra publicada em 1938, mesmo não compartilhando de sua ilusão na possibilidade de apresentação das fontes em sua absoluta pureza. Da mesma forma, espero poder desenvolver estudos sobre a Companhia de Jesus, com o rigor que a História exige, numa universidade brasileira do porte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ensino e dirijo o laboratório História, discurso e imaginário na América portuguesa entre os séculos XVI e XVIII, com um grupo de alunos que se ocupam do tema, submetendo-o a novos problemas e novas abordagens.
Exatamente por isso, venho insistindo sobre a necessidade imperio-sa e incontornável de que se produza uma edição crítica dos escritos da Companhia de Jesus, ao menos desde 1997 de forma pública, quando em Tenerife, Ilhas Canárias, participei do Congresso Internacional IV Cen-tenário de Anchieta: 1597- 19973. Na ocasião obtive todo o apoio do in-cansável estudioso, o Prof. Dr. Leodegário Amarante de Azevedo Filho. De fato, ele conseguiu reunir o primeiro grupo de especialistas dispostos àquela empreitada e que tomaria significativas proporções, inclusive pelo seu caráter internacional. Ao entusiasmo e competência do grupo, uniu-se a capacidade e determinação da Profa Dra Maria Emília Barcellos da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que assumiria a Coordenação-geral. Surgia assim o Projeto Bi-nacional (Brasil – Espanha): Edição crítica da obra de José de Anchieta S.I., sob os auspícios da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Brasil e Ministério da Educação Nacional da Espanha.
No momento em que este projeto se encontra em fase de reestrutura-ção e reproposição à Capes, agora em bases nacionais, considero essen-cial que se revejam as suas próprias dimensões, estabelecendo-se critérios de relevância para o conjunto dos escritos atribuídos ao Beato Anchieta. Nesse conjunto, considero a sua mais original e marcante contribuição a produção de um teatro de tipo novo, realizado de maneira especial com os nativos, mas também com os colonos. Venho chamando-o em meus 3 – Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, 1997.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 175
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
escritos de teatro jesuítico da missão, marcando sua especificidade frente ao teatro de colégio que os inacianos institucionalizaram entre as suas práticas, quase na mesma época, na Europa e nas colônias4.
*
A Companhia de Jesus e a conformação de uma cultura
Entre os séculos XVI e XVIII, na Europa, a Companhia de Jesus teve a primazia na formação intelectual das elites e ampliou as suas ativida-des nas terras do Oriente ao Ocidente então submetidas à ação européia: confessores de reis e príncipes, apóstolos entre os gentios. Em todas estas experiências, as práticas teatrais estariam presentes. Analisar as suas pos-sibilidades de emergência, ainda no século XVI, dá uma nova dimensão ao seu estudo no espaço colonial português, onde se inaugurou a ativida-de dos inacianos na América, podendo vir a iluminar também o teatro que os jesuítas faziam no espaço europeu.
Tenha-se, portanto, presente a importância da Companhia de Jesus na construção do Mundo Moderno e na conformação da cultura. Tomar esta instituição por objeto no momento de sua configuração, mesmo que se delimite o estudo ao teatro jesuítico da missão, pode trazer novas matrizes para a inteligibilidade da ação dos jesuítas em todos os outros campos em que deixaram suas marcas: no apostolado cristão, na cultura humanística, na retórica, na arquitetura, nas artes plásticas, na música, na literatura, no pensamento político, na pedagogia, nas ciências, enfim, nos valores cotidianos que regem práticas comuns, sem esquecer o próprio fazer teatral, considerado de forma mais ampla.
Para dar a dimensão do poder que a Companhia através de sua ação pedagógica viria a assumir, Alain Woodrow5 propõe a seguinte questão anedótica: o que teriam em comum Fidel Castro, o general Jaruzelskji,
4 – Particularmente, veja-se: Magda Maria Jaolino Torres. As práticas discursivas da Companhia de Jesus e a emergência do teatro jesuítico da missão no Brasil do séc. XVI. Brasília (DF): UnB/ICH, 2006. (Tese de doutorado.)5 – Alain WOODROW. I gesuiti: una storia di poteri. Roma: Newton & Compton, 1991, p. 9.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008176
Magda Maria Jaolino Torres
Luis Buñuel e Alfred Hitchcock? (Chefes de Estado de Cuba e, outrora, da Polônia, os dois primeiros, e famosos cineastas, os outros dois.) A res-posta, segundo ele, é que todos seriam, em primeira instância, ex-alunos dos jesuítas. Recordando somente a França, o estudioso acrescenta a es-ses, os nomes de Descartes, Molière, Corneille (eu acrescentaria), Voltai-re, Diderot, Turgot, Balzac, Foch, Charles de Foucauld, Saint-Exupéry e Charles de Gaulle.
Leonel Franca6 elencaria outros, para o caso da Espanha: São João da Cruz, Cervantes, Calderón, Lope de Vega, José Zorrilla, Ruben Dario e Ramon Jimenez; na Itália: Torquato Tasso, Vittorio Alfieri, Giambattis-ta Vico, Carlo Goldoni, Paolo Segneri, Daniello Bartoli, Prospero Lam-bertini (Papa Bento XIV); na Bélgica, Justo Lipsio; na Irlanda, Daniel O’Connel; em Portugal e na América Latina: Antonio Vieira, Gregório de Mattos (eu acrescentaria), João de Lucena, Baltazar Teles, Zorrilla de San Martin.
Mito político, segundo Raoul Girardet7, componente essencial do mito da conspiração e do complô, que tornou o século XIX a Idade de Ouro da conjuração, a Companhia de Jesus constaria ainda, no século XX, do elenco, feito por Sartre, das potências obscuras que conduzem o mundo, segundo ele: a maçonaria, os jesuítas e duzentas famílias.8
Sem que me deixe levar pelo mito ou por conclusões simplistas (a lista acima poderia, de fato, impressionar e ser notavelmente ampliada), cumpre não perder de vista, a partir da construção da própria Companhia, o espaço que esta ocupou, as imagens e as marcas que imprimiu e ao mesmo tempo recebeu em sua atuação no Brasil no século XVI, como observado, a primeira experiência por ela desenvolvida na América.
*6 – Leonel FRANCA S.I. (Introdução e tradução). O método pedagógico dos jesuítas: o “Ratio Studiorum”. Rio de Janeiro: Agir, 1952, p. 6.7 – Raoul GIRARDET. Mitos e mitologias políticas. Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. Especialmente, Cap. 2. A conspiração, p. 25-62. Veja-se, ainda, René Fülöp-Miller. Segreto e potenza dei gesuiti. Milano: TEA, 1977.8 – Apud. Alain WOODROW, op. cit., p. 10.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 177
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
A relevância do teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
Admite-se cada vez mais a importância do teatro jesuítico, sobretudo no contexto europeu. Apesar disso, para o caso das colônias, não consi-go reconhecer um vigor semelhante. Na Europa, há estudos considerá-veis sobre o tema, divulgados e, inclusive, estimulados pela promoção de eventos que procuram dar visibilidade e interação aos seus resultados. Registro, entre outros, o Congresso internacional Os jesuítas e os primór-dios do teatro barroco na Europa9, em que se alargou a investigação, no sentido de iluminar a contribuição jesuítica para o conjunto da produção teatral na época barroca. Considere-se que, entre o final do séc. XVI e du-rante o séc. XVII, o teatro jesuítico talvez tivesse sido o mais representado no continente europeu, permitindo projeção semelhante para as áreas sob sua influência. Incontornável capítulo para uma história do espetáculo, entre nós, passou muitas vezes desapercebido – e algumas vezes rejeitado pelos estudiosos –, ou por não considerá-lo como o verdadeiro teatro ou por não ser suficientemente nacional. Quando referido, ao contrário, foi transformado em uma das bases da construção da nacionalidade, exal-tado o seu suposto papel civilizador e nacional. Entretanto, em nenhum caso foi relevado, em toda a sua extensão, o seu aspecto fundamental, o seu caráter jesuítico, perdendo-se, assim, a possibilidade de apreendê-lo na forma que lhe imprimiu a Companhia, no Brasil.
Com efeito, não parece surpreender a nenhum dos estudiosos o te-atro desenvolvido pelos inacianos na América portuguesa – a primeira experiência missionária dos jesuítas neste continente –, como se fosse praticamente natural que o fizessem e daquele modo. Na maioria das vezes, sua adoção vem sendo justificada por um suposto alto poder de adaptação atribuído aos jesuítas, frente a situações a eles estranhas, sem
9 – XVIII Convegno Internazionale I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa. Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Roma, 26-29, ottobre 1994.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008178
Magda Maria Jaolino Torres
que a noção evocada seja clarificada10. Esta aparente obviedade, porém, se por um lado pareceu alimentar-se dos propósitos que norteavam a ação missionária – seu objetivo catequético e evangelizador –, por outro lado, acabou por encobrir e ignorar as suas próprias condições de emergência. Raras vezes foram realizados estudos que, ultrapassando os limites na-cionais ou locais de cada experiência, procurassem flagrá-las no seio da própria Companhia de Jesus.
As matrizes européias do fenômeno em algumas ocasiões foram evocadas. Alguns trabalhos visaram demonstrar, até mesmo, a força de modelos ligados a autores específicos, como os que afirmam a suposta influência de Gil Vicente nos textos atribuídos a Anchieta11. Sem negar a possível importância das contribuições desses estudos, permaneceu à sombra o seu caráter institucional.
A maneira como nos chegaram os registros dos textos, do século XVI, com aparente destinação teatral (fragmentos de textos), pode ter sido, em parte, responsável pelas sérias distorções na apreensão do fenô-meno. A primeira foi a de induzir alguns estudos a tratá-lo como teatro de autor, o que significou superestimar biografias individuais como elemen-to explicativo. A outra, ainda ligada à aparência da documentação, leva a imaginar a existência de um caderno de poesias produzido no séc. XVI, na medida em que o códice que o contém, catalogado Opp. NN. 24, foi intitulado no arquivo custódio como Repertorium ad Anchieta spectans, auctore P. Van Meurs. Opuscoli poetici. “Molte pp. di proprio mano” 12.
Tal fato poderia criar alguns equívocos, autorizando conclusões, no mínimo, questionáveis. Uma delas, por exemplo, seria a de imaginar que
10 – Magda Maria Jaolino TORRES. A noção de “adaptação” no apostolado jesuítico: uma perspectiva histórica. Comunicação apresentada no XI Encontro Regional de His-tória: Democracia e conflito da ANPUH na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro: ANPUH, 2004. 11 – Id. O teatro de Gil Vicente e Anchieta. Comunicação apresentada no “Congresso Internacional Brasil: 500 anos de língua portuguesa”, Departamento de Letras da UERJ, Rio de Janeiro, 1999. 12 – Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Opera Nostrorum 24 (Opp. NN. 24).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 179
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
ali estaria o chamado teatro de Anchieta e que, para recuperá-lo, a tarefa se resumiria a reordenar os fragmentos ali misturados a escritos de outras espécies, sem títulos ou indicações. Registro, a este propósito, que sequer a organização deste teatro em atos é pacífica. Referência original a este procedimento só é encontrada na quadragésima quarta composição, que inicia: No 2° acto entrão tres Diabos / querem destruir a aldea […] (f. 60). No mesmo códice, não se encontra nenhuma marca de um provável 1º ato ou de um suposto 3º.
Portanto, nem ao menos fixou-se ainda, inclusive no trabalho filo-lógico, um corpus documental consistente para este teatro. Sem nenhum fetichismo das fontes, trata-se somente de assinalar o conjunto de textos reconhecidos pelos historiadores como tal. Somente três autores, de fato, fixaram os textos que passariam a ser considerados como o teatro de An-chieta. Esses passaram a ser trabalhados com base no que foi fixado, sem jamais se colocar em questão a forma como foi fixado.
É preciso considerar que o referido códice se trata de um documento miscelâneo, composto por um conjunto de fascículos manuscritos enca-dernados, escritos ou copiados em várias épocas e por diversas mãos, entre a segunda metade do séc. XVI (alguns deles são apresentados com base somente na tradição, como autógrafos de Anchieta) e, provavelmen-te, as primeiras décadas do séc. XVIII. Textos conservados e esparsos em locais diversos na colônia que foram selecionados e reunidos para ser enviados a Roma, onde devem ter chegado em 1730, com o objetivo es-pecífico de compor um perfil biográfico, o do p. José de Anchieta, visando à sua canonização.
Coube ao p. Serafim Leite S.I. a primeira tentativa de listagem siste-mática e cronológica das produções e representações teatrais no Brasil do séc. XVI, nas suas próprias palavras. Ele sublinha o fato de estar tra-balhando com documentação inédita. Seu pequeno trabalho, Introdução do teatro no Brasil, séc. XVI, produzido por ocasião do IV Centenário de Gil Vicente, o glorioso fundador do teatro português, foi publicado em
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008180
Magda Maria Jaolino Torres
1937, pela Brotéria13. Ele fixou essas representações jesuíticas, de forma precária, nos limites de um ensaio, em doze autos.
Parece-me de suma importância o exame direto daquela fonte, pou-quíssimo visitada para avaliar a fragilidade das hipóteses levantadas nos raros ensaios de reconstrução desses textos –, mas de grande fortuna, en-tre nós. Os estudiosos de maior repercussão nesta empreitada são Ma-ria de Lourdes de Paula Martins e o p. Armando Cardoso S.I., autores respectivamente de: José de Anchieta. Poesias: manuscrito do séc. XVI, em português, castelhano, latim e tupi14 e Teatro de Anchieta15. Ambos trabalharam com métodos pouco convencionais. Martins, em sua edição diplomático-interpretativa, não se ocupou particularmente desse teatro, mas daquele códice que supostamente o contém, do qual nos ocuparemos ainda, mais adiante. Entretanto, ela insinuou algumas hipóteses para a lei-tura dos fragmentos que julgou como teatrais, advertindo com grande se-riedade que suas condições de trabalho foram bastante precárias. Revelou a este propósito não ter podido confrontar os resultados de sua transcrição nem com os originais do documento, ao qual teve acesso somente por um microfilme, nem com as cópias coevas, presentes no Arquivum Ro-manum Societatis Iesu (ARSI). O p. Cardoso S.I., em contato direto com os manuscritos, ampliou o número de representações proposto por Leite, apresentando-as em uma tradução em forma de versos. Demonstrando o decoro e, ao mesmo tempo, o limite preciso que ele mesmo imprimiu ao seu trabalho, não deixou jamais de revelar seus procedimentos de inter-polações duvidosas – inventio, montagens e rearranjos textuais contrários aos princípios mais básicos da Ecdótica.
13 – Serafim LEITE S.I. Introdução do teatro no Brasil, séc. XVI. In: Brotéria. Lisboa: Brotéria, 1937. v. XXIV, p. 395-409; Id. História da Companhia de Jesus no Brasil. Or-ganização César Augusto dos Santos et al. Op. cit. V. 1, t. 2, l. 5, cap. 5, p. 407-412, que reproduz o artigo citado, transformado, pelo autor, no capítulo sobre o teatro.14 – José de ANCHIETA. Poesias: manuscrito do séc. XVI, em português, castelhano, latim e tupi. Transcrição, tradução e notas de Maria de Lourdes de Paula Martins. São Paulo: Boletim do Museu Paulista, 1954, n° 4, p. 1-833.15 – Armando CARDOSO S.I. Teatro de Anchieta. Originais acompanhados de tradução versificada, introdução e notas pelo p. Armando Cardoso S.I. São Paulo: Loyola, 1977.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 181
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
Em favor desses estudiosos, há que se considerar a impossibilidade de uma iniciativa de tal monta ser realizada por qualquer especialista de forma isolada, necessariamente limitado a um dos campos do saber re-queridos para esta tarefa, e são vários. Reforça esta idéia a recente inicia-tiva de produzir a primeira edição crítica desses escritos, reunindo profes-sores universitários brasileiros e espanhóis, de diversas especialidades, na qual estou engajada nos limites de minha competência como historiadora, como já assinalado.16
O que se dispõe, portanto, sobre os textos deste teatro são ensaios e/ou trabalhos de divulgação de autoria, muitas vezes, dos próprios histo-riadores jesuítas mais próximos da documentação que é de propriedade privada da Companhia de Jesus. É dever nomear, entre eles, além dos já citados padres Serafim Leite S.I. e Armando Cardoso S.I., o p. Hélio Abranches Viotti S.I., todos eles incansáveis trabalhadores da causa de canonização do, então venerável e, já beato, p. José de Anchieta17.
Para os fins da presente análise, torna-se irrelevante reportar todos os estudos que retornaram ao tema, na medida em que se referiram aos três autores aqui mencionados. Resta assinalar mais algumas das caracte-rísticas deste códice de que se ocupou especificamente Martins e, depois dela, Cardoso, o mais significativo para quem se ocupa do teatro jesuítico no Brasil, no séc. XVI: o supracitado Códice ARSI. Opp. NN. 24. Este já foi referido por mim, em outra ocasião, como a relíquia18, pelos cuidados dispensados à sua conservação não terem considerado suficientemente 16 – Projeto Binacional (Brasil-Espanha): “Edição crítica da obra de José de Anchieta S.I.” Coordenação-geral da Profª Maria Emília Barcellos da Silva, da Universidade Fede-ral do Rio de Janeiro (UFRJ), sob os auspícios da Fundação Coordenação de Aperfeiçoa-mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Brasil e Ministério da Educação Nacional de Espanha. 17 – Respectivamente, Serafim LEITE S.I. Introdução do teatro no Brasil. Art. cit.; Ar-mando CARDOSO S.I. Teatro de Anchieta. Op. cit.; Monumenta Anchietana: obras com-pletas. Armando Cardoso S.I. e Hélio Abranches Viotti S.I. (orgs.). São Paulo: Loyola, 1975- 1992. 11 v.18 – Magda Maria Jaolino TORRES. ARSI, Opera Nostrorum 24: a relíquia. Comuni-cação apresentada ao Congreso Internacional "IV Centenário de Anchieta: 1597-1997", Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, 1997.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008182
Magda Maria Jaolino Torres
os procedimentos críticos esperados no trato de um possível documento histórico. A relíquia, como observei, é um códice miscelâneo, em mau estado de conservação, com algumas folhas ausentes, outras recortadas, visivelmente restauradas em ocasiões diversas, sem que se tenha conhe-cimento dos protocolos de registro das operações a que foi submetido. Nele parecem estar agregados escritos, originalmente dispersos e, gene-ricamente, chamados de Poesias, embora nem todos possam ser reconhe-cidos como tais.
Quase todos os 86 escritos que pude individuar como possivelmente independentes, na maioria acéfalos, pareceram-me ter, de alguma forma, destinação espetacular, embora somente alguns possam ser considerados especificamente teatrais. Trata-se de litanias; diálogos para serem reci-tados em ocasiões, por vezes explicitadas, como a do recebimento que fizeram os índios de Guaraparim ao padre provincial Marçal Beliarte; cantigas, indicadas como tais, algumas sugerindo até mesmo o tom e a sua inserção em uma cena, como por exemplo, Outra pola mesma toada / Esta secantou estando S. / L.ço nas grelhas e teatro, com indicações cênicas e didascálias. Todas estas composições, portanto, destinadas a um público vário e situações diversas. Reafirmo que sua importância é, entre outras, a de conter o único resíduo e tangível testemunho de textos com destinação cênica (fragmentos), no Brasil do séc. XVI. Escritos em português, tupi, espanhol e latim, alguns dos quais multilíngües, foram conservados naquela forma e tornaram-se conhecidos exatamente porque a tradição os atribuiu ao p. Anchieta.
A citada transcrição e tradução do volume por Martins em 1954, de-pois incorporada às Monumenta Anchietana19, continua a ser considerada praticamente até hoje como uma versão definitiva daquele códice. Assim sendo, quase todas as análises daqueles textos ficaram comprometidas por esta transcrição, na medida em que não houve retorno à fonte.
Para dar uma idéia do que se fala, proponho um breve ensaio de reconstrução de um Auto. Tenho o objetivo único de ilustrar os procedi-
19 – Op. cit.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 183
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
mentos que vêm sendo adotados na leitura do códice ARSI. Opp. NN 24, nele visando o teatro de Anchieta, assim chamado com base na tradição. Selecionei as leituras dos dois citados estudiosos que mais contribuíram para a construção do que se passou a considerar tal teatro: as leituras do p. Armando Cardoso S.I. e de Maria de Lourdes de Paula Martins, que lhe teria servido de referencial.
*
As metamorfoses de alguns fragmentos em Da Festa de S. Lourenço ao Auto da pregação universal
Na festa de Natal é o título hipotético atribuído a um possível auto reconstruído por Martins20 que, para tal, reuniu duas composições apa-rentemente independentes, que se seguiam no referido códice: as 60ª e 61ª21.
A 60ª é composta de 436 versos em quintilhas, escritos em tupi, e é considerada autógrafa de Anchieta segundo a tradição. Uma didascália, a indicar o personagem falante, nela aparece ao modo de título: Guaixará. O texto, segundo a autora, é repetição parcial com pequenas variações da 44ª composição, bem mais longa e elaborada, do mesmo códice. Esta também é considerada autógrafa do missionário, cujo início vem igual-mente assinalado por uma didascália que atesta de forma mais evidente o seu estado de fragmento de uma composição maior ao incluir a palavra ato: No 2° acto entraõ três Diabos… Trata-se, portanto, do 2° ato de uma representação. A 44ª composição estava intitulada, no original, Na festa de São Lourenço22.
Registra-se, a propósito, o problema de difícil solução, acenado por 20 – Cf. José de ANCHIETA. Poesias: manuscrito do séc. XVI, em português, castelha-no, latim e tupi. Op. cit. 21 – ARSI. Opp. NN. 24. Respectivamente, f.135-142 e f. 143-145. 22 –Idem. f. 60-61. Ver também a proposta de Paula Martins para esta peça em José de AnchietA. Auto representado na festa de São Lourenço. Peça trilíngüe do séc. XVI, trans-crita, comentada e traduzida por Maria de Lourdes de Paula Martins. São Paulo: Museu Paulista: Boletim 1, Documentação lingüística 1, ano 1, 1948.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008184
Magda Maria Jaolino Torres
Martins, que consistiria em determinar qual das duas – a 60ª ou a 44ª – teria precedência de composição, considerando a possibilidade de uma delas ser, quase certamente, a adaptação da outra. Os argumentos que apontam para a maior ou menor elaboração verificada para cada um dos dois textos não consentem, por si sós, a meu ver, concluir por um deles na atribuição de prioridade.
A 61ª, em outra caligrafia, considerada apógrafa, traz como título original Dança dos Reys.
Resumindo, as duas hipóteses de reconstrução do possível auto em questão são as seguintes:
a primeira refere-se ao possível – Na festa de Natal23, título hipotético dado por Martins, como já se fez referência, que o considera uma adaptação da Festa de São Lourenço e reconhece-lhe dois atos: 60ª [1° ato] + 61ª [2° ato];
a outra proposta considerada é a de Cardoso – 24, que inclui a composição reconstruída por Martins como uma parte de outra, ainda maior, o famoso Auto da pregação universal, segundo ele, de cinco atos, assim identificados pelo estudioso: 60ª [2° ato] + 61ª [4° ato] + 65ª [1° ato e 5° ato].
Cardoso toma a 65ª composição, apresentada no original em duas partes seguidas – presente no códice às f.158–162, sob o título Já furtaraõ ao moleiro o pelote domingueiro, e às f. 162-165, Ja tornaraõ ao Moleiro opelote domingueiro25. Em seguida, ele passa a considerá-las como se fossem, respectivamente, o 1° e o 5° ato, numa ousada e pouco funda-mentada hipótese de reconstrução do Auto da pregação universal. O 1° ato, segundo esta hipótese, seria a parte inicial do texto: a figura do mo-
23 Maria de Lourdes de Paula MARTINS. In: José de ANCHIETA. Poesias, op. cit., p. 751-776.
24 Armando CARDOSO S.I. Teatro de Anchieta, op. cit,. p. 115-140. 25 Estas duas partes foram consideradas por Paula Martins como uma composição in-dependente e intituladas pela estudiosa, simplesmente, O pelote domingueiro. José de AnchietA. Poesias… Op. cit., p. 424-483.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 185
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
leiro representando Adão, o primeiro pai, no momento em que tem o seu pelote26 roubado por Lúcifer (vv.7-9, f. 158) e, maltrapilho, é a imagem da sua situação após a queda em pecado. A parte final do texto deveria corresponder ao 5° ato, quando o moleiro reencontra o pelote roubado, isto é, a Graça perdida restituída por Jesus. A operação executada por Cardoso parece ser o resultado de uma observação sem conseqüências, feita por Martins, em nota ao seu próprio trabalho27. Nesta nota, a estudio-sa, observando uma referência feita pelo terceiro biógrafo de Anchieta, Simão de Vasconcelos, de que o Auto da pregação universal se destinava a uma festa da Circuncisão [1° de janeiro], questiona-se sobre a possibi-lidade d’O pelote domingueiro, parecendo destinar-se ao mesmo tipo de comemoração, guardar alguma relação com aquele Auto28. Sem acrescen-tar nenhuma nova evidência, entretanto, Cardoso tentou levar adiante o comentário de Martins, construindo uma imaginosa reconstituição da ma-neira pela qual o texto sobre o moleiro estaria integrado ao que, segundo ele, poderia ter sido o Auto da pregação universal. O autor vai ainda mais longe, quando, literalmente, inventa o 3° ato. Neste caso, Cardoso se vale do mesmo biógrafo de Anchieta, Simão de Vasconcelos, acima referido. Nesta obra de Vasconcelos há uma transcrição de duas estrofes atribuídas ao Beato, que ele apresenta como partes do referido Auto da pregação… Ambos os fragmentos reportados em Vasconcelos não estão, muito signi-ficativamente, presentes no códice objeto desta análise, o que indica que este não reúne todos os fragmentos, então conhecidos, do chamado teatro de Anchieta e o biógrafo também não fornece maiores referências sobre a procedência dos fragmentos citados.
O texto de Vasconcelos diz o seguinte:
“Na comedia que acima dissemos fizera a São Vicente do caso da suspensão da chuva [trata-se da adaptação, de 1576, do Auto
26 O pelote é uma peça de vestuário antigo, espécie de casaco, que nos versos é identifi-cado com a Graça divina: “[o pelote] deram-lho, de graça, / porque Graça se chamava / e com ele passeava, / mui galante pela praça.” ARSI. Opp. NN. 24. vv. 17-20, f. 158r.27 Maria de Lourdes Paula MArtins. In: José de AnchietA. Poesias… Op. cit. p. 424. 28 Idem. p. 34.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008186
Magda Maria Jaolino Torres
da pregação universal, tratado por Vasconcelos com o intuito de narrar um dos milagres atribuídos a Anchieta]. Celebraram-se algumas profecias que [Anchieta] inseria nos ditos das figuras, e pertenciam a cada uma delas, segundo seu estado, que podiam servir-lhe de aviso, para emendá-los. Uma destas figuras era um Francisco Dias Machado, homem de ruim viver, a quem parece tinha avisado sem efeito de emenda. Em parte de seu dito dizia assim…” 29
Neste ponto de sua narrativa, Vasconcelos insere a composição em décima a que se refere Cardoso, que corresponde, segundo o depoimento do biógrafo, somente a uma parte do referido personagem. Em seguida, Vasconcelos insere uma outra décima, também copiada por Cardoso, re-ferente à fala de outra figura, a de Pedro Guedes, homem amancebado, e devia ser com escândalo…30
Cardoso reproduz essas duas estrofes e completa-as com outras es-trofes, de sua própria autoria, inspiradas, como ele admite, na 82ª com-posição retirada, esta sim, do Opp. NN 24 que aqui se analisa, sem título no original, mas vulgarizada por Martins, como Desdichado pecador31. É deste modo que ele recria o suposto 3° ato. É necessário ressaltar que Cardoso, mais preocupado com uma obra de divulgação e sem maiores compromissos com a Ecdótica, entretanto, não esconde o seu procedi-mento, revelando a natureza de seu intento, a seriedade e a honestidade de seu trabalho. Cardoso adverte, claramente, que as duas primeiras décimas são tiradas de Vasconcelos, que as conservou pela fama de serem profe-cias, e, quanto às outras, textualmente declara: pode-se suprir, a modo de sugestão prática, e com estrofes inspiradas no próprio Anchieta tiradas da poesia Desdichado Pecador32. Tal procedimento, entretanto, veio a trazer mais elementos de confusão para a fixação do corpus literário desse
29 – Simão de VASCONCELOS. Vida do Venerável Padre José de Anchieta. Rio de Ja-neiro: Imprensa Nacional, 1943 (1ª ed. 1672), p. 56-57. Observações e itálicos meus.30 – Idem, p. 57-58.31 – Cf. Maria de Lourdes Paula MArtins. In: José de AnchietA. Poesias. Op. cit., p. 513-517. 32 –Armando cArdoso S.I. Teatro de Anchieta. Op. cit., p. 116. Itálicos meus.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 187
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
teatro.
O problema é que, apesar de todos os cuidados demonstrados, o auto recriado por Cardoso, na tentativa de preencher o vazio de informações sobre o Auto da pregação universal – do qual se tem conhecimento his-tórico apenas do título e de duas estrofes –, passou a constar em trabalhos que se pretendem críticos do chamado teatro de Anchieta, inclusive de caráter antológico, nem sempre com as devidas ressalvas. Esse é o caso de uma tentativa de reunir a obra de Anchieta, publicada em sua cidade natal33. Cito este trabalho por se tratar de uma das mais recentes obras, escritas por diversos especialistas, que se pretende um levantamento do estado atual da questão e dos rumos da pesquisa sobre a figura e os escri-tos atribuídos ao p. José de Anchieta.
No Capítulo dedicado ao teatro, sobre a contribuição do p. Armando Cardoso S.I. para a fixação do teatro anchietano, afirma-se:
“La última edición del teatro de Anchieta, 1° de mayo de 1977, como volumen 3° de sus obras completas, se debe al p. Armando Cardoso y creo que puede considerarse definitiva.” […] “Por ra-zones de crítica externa resulta evidente la autenticidad del teatro anchietano, es decir, de las doce piezas que han llegado hasta no-sotros a través del manuscrito que se conserva en Roma.”34
Esta última afirmação sobre a autenticidade do teatro anchietano pode estar apoiada, quando muito, numa crítica interna do referido ma-nuscrito ou em outras fontes que fazem referências ao teatro feito no séc. XVI, no Brasil. Não se pode aceitá-la, considerando-se a inexistência de uma crítica externa do códice referido, que preencha os requisitos básicos exigidos para tal.
Que fique bem claro o limite desta minha última observação na au-sência de uma edição crítica daquele documento, de modo a não autorizar nenhuma conclusão apressada sobre a autenticidade do códice aqui trata-33 – José Maria Fornell LOMBARDO. A obra em verso: teatro. In: José de Anchieta: vida y obra. La Laguna–Tenerife: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1988. 34 – Idem, p. 190 e 191, respectivamente. Itálicos meus.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008188
Magda Maria Jaolino Torres
do e a autoria dos escritos neste contidos. Refiro-me, particularmente, a um recente trabalho onde, questionando a autoria deste teatro, os autores me atribuem a refutação de sua autenticidade, manipulação com propósi-tos os mais diversos, autoria e até mesmo as aspas na natureza santa de Anchieta35. Como foi visto, sem nenhuma dúvida, o documento foi pro-duzido para servir ao único propósito de compor o processo de canoniza-ção do missionário. Quanto ao resto, os limites de minha competência de historiadora não me concedem autoridade para tal. Entretanto, não nego de modo algum a tese, com base na crítica interna e que considero muito razoável, destes textos terem sido de fato produzidos por Anchieta, não me parecendo ser este o problema.
Quando grafo em itálico o teatro de Anchieta, trata-se de um alerta para que suas leituras não fiquem comprometidas pelo estado atual de sua publicação e com a visão de um teatro de autor, o que é muito diferente de negar-lhe uma autoria. Isso porque aponto a consistente possibilidade de vê-lo como teatro jesuítico da missão, enfatizando, isto sim, o seu caráter institucional. Em nenhum caso é colocada em séria dúvida a au-tenticidade ou a questão de autoria dos escritos do códice ARSI. Opp. NN. 24.
O problema central é procurar, com a ajuda dos especialistas neces-sários, a aproximação, as condições de possibilidade daquilo que Anchie-ta efetivamente teria dito e escrito. Talvez seja esta a maior dívida de con-sideração para com quem escreve e o primeiro passo para o trabalho de qualquer historiador. A meu ver, é exatamente aquela ligeireza encontrada em alguns estudos sobre o tema, – ausência de pesquisa, despreparo e fal-ta de preocupação com o exame das fontes, as leituras apressadas e pouco digeridas, inclusive das obras já produzidas e que trouxeram significati-
35 – “Para tanto, basta verificar uma tese recente da Dra. Magda Maria Jaolino Torres, onde a autora refuta a autenticidade dos mesmos e observa as razões pelas quais tais escritos foram manipulados com propósitos os mais diversos, como, por exemplo, o de corroborar com a “natureza santa” de Anchieta.” Cf. Edélcio Mostaço e Carla Ladeira Machado. As representações do feminino no Teatro de José de Anchieta. Disponível em: http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume2/numero2/cenicas/Edelcio%20-%20Carla.pdf
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):173-189, jul./set. 2008 189
O teatro jesuítico e os problemas de sua apreensão no Brasil
vas contribuições – a responsável pelo estado atual de sua ignorância.
Prova disso é que essas leituras superficiais do sério trabalho de Ar-mando Cardoso, com efeito, redundaram no equívoco de considerar o seu referido texto, apesar de todas as suas advertências, como aquele da própria época e do próprio Anchieta. O que pretendi aqui destacar, entre-tanto, foi somente a espécie de consenso que se foi produzindo em torno de um corpus teatral que se baseou, fundamentalmente, em leituras de segunda mão de uma fonte raramente visitada e estudada.
*
Reafirmando a importância da Companhia de Jesus na conformação do Mundo Moderno, restituindo ao teatro feito na América portuguesa ainda no séc. XVI as suas dimensões institucionais, que ultrapassaram em muito uma temática de coloração apenas local ou de interesse biográfico, parece-me ser este o fórum por excelência para que se avalie a pertinên-cia, relevância e a urgência da empreitada que torno a propor: uma edição crítica dos fragmentos com destinação cênica atribuídos ao p. José de Anchieta.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 191
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
GÊNESE DA INDúSTRIA SIDERúRGICA NO VALE MÉDIO DO PARAÍBA
A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
J. C. Vargens Tambasco1
1. O pano de fundo: Uma pintura necessária
Uma abordagem sobre alguns fatos históricos relacionados à cria-ção da indústria de centrifugação de tubos, no Brasil, foi apresentada na “Revista do Mestrado de História,” da Universidade Severino Sombra, no ano de 2006 (TAMBASCO, 2006; pp.121-144). Visando melhor com-preensão dos leitores com relação à continuidade dos acontecimentos que serão apresentados neste ensaio, apresentaremos breve síntese destes, em seus aspectos mais relevantes, anteriormente ocorridos.
As duas primeiras décadas do século XX constituíram-se em mo-mentos de reconstrução de uma política de saneamento urbano que, razo-avelmente elaborada durante o Império, tinha sido desbaratada pela ação republicana jacobina (BITTENCOURT, 1986; pp. 163-306). Vivia-se um momento em que o saneamento urbano se encontrava na ordem-do-dia, porque as estatísticas epidemiológicas mostravam a elevada taxa de mortalidade prevalente: o tifo matava cerca de duas pessoas em cada 1.000 habitantes; a mortalidade infantil respondia por cerca de 30% dos
1 – Doutor em História pela UFF. Do Instituto Histórico e Geográfico de Vassouras. Da Academia de Letras de Vassouras. Pesquisador Independente.
Resumo:O autor situa a implantação da Companhia Metalúrgica Barbará, na cidade de Barra Mansa, no vale médio fluminense do rio Paraíba do Sul, como o momento em que foi despertada a vocação side-rúrgica daquela região. Mostra as razões da implantação daquela indústria, originariamente situada na cidade de Caeté, na Região Metalúrgica mineira, como resultado de uma ingerência equivocada das elites industrial e política mineiras sobre a indústria de transformação, nascente naquela cidade Histórica. Evidencia as figuras de Baldomero Barbará e Euvaldo Lodi, o primeiro como empre-endedor e capitão, de indústrias à feição daqueles descritos por Sombart e por Oliveira Vianna; o segundo, como representando as tendências cartelizantes surgidas no bojo da Revolução de 1930.
Palavras-Chave: História industrial do vale do Paraíba; Indústria fluminense de fundição de tubos; História do saneamento urbano no Brasil.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008192
J. C. Vargens Tambasco
óbitos, sobremodo devido às infecções gastrintestinais. Em Santos, por outro lado, em 1898, a morbidade fora de 33%, devido à febre amarela, que dali se irradiava para o interior do Estado. Contudo, a maior causa da insalubridade naquela cidade portuária era devida à precariedade do abastecimento de água, além das deficiências das redes de esgotamento sanitário. Havia, por outro lado, uma enorme pressão dos meios médico-sanitários no sentido de uma imediata melhoria das condições sanitárias da cidade. As pressões públicas exigiam a mesma atenção para as demais cidades daquele Estado, inclusive da sua capital: a captação, tratamento, transporte e distribuição da água, em condições de potabilidade, haviam-se tornado em prioridades emergenciais e inadiáveis. A importação maci-ça de tubos de ferro fundido era a conseqüência de tal necessidade.
Indicando que a preocupação com o saneamento básico era geral em todo o País, em 1914, naquela mesma cidade de Santos, Dimitri Sensaud de Lavaud desenvolveu um projeto para fabricar tubos centrifugados em ferro fundido. Convidou Fernando Arens Jr. para, juntos, realizarem e ensaiarem industrialmente o seu projeto.2 Verificada a pertinência deste projeto, Arens aceitou a participação como financiador e, juntos, inicia-ram a construção de uma primeira máquina centrifugadora experimental. Após um período de intensos trabalhos, os inventores produziram cerca de 800 tubos, todos de qualidade aceitável, o que lhes permitiu a depo-sição de um pedido de patente de invenção e de processo, na repartição pública competente, na cidade do Rio de Janeiro. O pedido de patente foi depositado em nome dos dois inventores, sendo o processo nomeado Processo Sensaud-Arens, recebendo o nº 8682, em 12 de março de 1915. Constava do seu memorial descritivo, o título:
Memória descritiva de invenção de um novo processo para fabri-car, revestir ou reforçar peças metálicas por meio da força centrífu-ga, e de uma máquina para a aplicação deste processo à fabricação de tubos.
2 – Sobre quem eram Dimitri S. de Lavaud e Fernando Arens Jr..,ver TAMBASCO, 2003; pp. 105-107.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 193
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
Os sucessos, continuamente obtidos nos diversos ensaios em insta-lações-piloto, levaram Arens a criar, ainda em fins de 1915, a Companhia Brasileira de Metalurgia, a qual foi implantada no então longínquo su-búrbio de Indianópolis, da cidade de São Paulo, e da qual De Lavaud era sócio. Esta usina foi equipada com cinco máquinas centrifugadoras das quais três eram capazes da produção de tubos de 4” (100 mm) por 5’(1,5 m) e duas, capazes dos diâmetros de 6” até 15” ( 150 mm até 375 mm) , por 10’ (3,00 m).
Em 1916, o Ocidente encontrava-se conflagrado. Arens, descenden-te de germânicos, sofrera a recusa de um visto para entrada nos Estados Unidos da América, onde pretendia adquirir equipamentos para continuar o desenvolvimento da tecnologia de centrifugação e da própria empresa que fundara com De Lavaud. Este, de origem francesa, viajou em lugar de Arens, representando a Companhia Brasileira de Metalurgia, e en-carregando-se de comprar os equipamentos necessários, além de efetuar o registro da patente brasileira, Sensaud-Arens, nos EUA. Em abril de 1916, De Lavaud partia com o objetivo de realizar tal missão.
Chegando à América do Norte, De Lavaud dedicou-se à implantação de uma fábrica de tubos na cidade de Buffalo,3 desenvolvendo e realizan-do um equipamento de fabricação de tubos com paredes finas, destinados ao esgotamento de águas pluviais e residuais, nas edificações prediais. Tratava-se de tubos de 4” de diâmetro e 10’ de comprimento, para os quais a demanda do mercado nos EUA era muito elevada, e continuando a sê-lo até o presente.
3 – Por que foi escolhida a cidade de Buffalo? Esta era uma cidade situada em um im-portante pólo industrial na época, o dos Grandes Lagos; a própria cidade de Buffalo era, naquele momento, um grande centro industrial e, próximo a ela, ficava a cidade de Irvine, sede de uma importante indústria de forjaria pesada, hoje o maior fabricante mundial de moldes forjados para as máquinas de centrifugar tubos, a National Forge Company. Sabe-mos, também, que um dos grandes problemas tecnológicos daqueles primórdios era a du-rabilidade dos moldes, então produzidos em ferro fundido, moldados em areia. É bastante provável que De Lavaud tenha buscado aquela proximidade visando ao equacionamento daquele que era, talvez, o seu maior problema técnico-econômico e que, não equacionado, poderia inviabilizar a exploração econômica do processo Sensaud-Arens.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008194
J. C. Vargens Tambasco
Em 7 de setembro de 1916, De Lavaud fazia publicar na prestigiosa revista especializada em metalurgia, The Iron Age, um artigo promocio-nal que se intitulava: Máquina centrifugadora para tubos fundidos (De LAVAUD, 1916). Em seguida, apresentava a máquina em feira de amos-tra realizada por ocasião da tradicional reunião anual dos metalurgistas americanos: “The American Foundrymen’s Convention”, que se realizou na cidade de Cleveland, entre os dias 11 e 16 de setembro do mesmo ano. Em fotografia da época, tomada no stand da exposição, nota-se o nome da Companhia Brasileira de Metalurgia, bem como a bandeira brasileira, o que parecia indicar ser do propósito inicial de De Lavaud a criação de um braço norte-americano da empresa que constituíra no Brasil, juntamente com Arens (HAITE,; 1965).4
Surpreendentemente, logo após a Convenção de Cleveland, De La-vaud registrava a patente original em seu próprio nome, bem como dava novo nome ao processo de fabricação, como “Processo De Lavaud”. Mu-dou-se para o Canadá, onde fundou, em Toronto, a empresa “Internatio-nal De Lavaud Manufacturing Corporation Ltd.” A partir daí dedicou-se à exploração comercial do processo, rompendo os contatos telegráficos com Fernando Arens (HAITE, 1985).
Finda a Primeira Guerra Mundial, Arens viajou para os Estados Uni-dos onde, em demanda judicial contra De Lavaud, defendeu seus inte-resses. Convergiram a um acordo judicial em 17 de maio de 1919, for-malizando o fim da mútua colaboração. Passariam a desenvolver as apli-cações das suas patentes de forma independente, além de concordarem com uma divisão do mercado para as futuras negociações de licenças, seja para as fabricações sob os dois processos de centrifugação, seja para a fabricação dos equipamentos fabris correspondentes (HAITR, 1965). Estava, portanto, oficialmente, reconhecido o “Processo De Lavaud”, de centrifugação de tubos, ao lado do “Processo Arens”.
4 – Esta hipótese torna-se muito plausível ao levarmos em conta o acima, quanto à loca-lização em Buffalo, bem como ao fato do esplêndido mercado comprador de tubos para esgotamento sanitário, constatado por De Lavaud. Ignoramos se houve alguma divergên-cia de opiniões entre esses protagonistas.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 195
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
No Brasil, em fins da segunda década do século XX, surgiria a oca-sião para um novo licenciamento Arens, com a disposição de um grupo de investidores, com capitais nacionais, liderados por Baldomero Barbará.. Esse grupo criaria a Companhia Mineira de Metalurgia (CMM), cuja usi-na de fabricação seria implantada na cidade de Caeté, no Estado de Minas Gerais, em 30 de dezembro de 1928. A empresa operiu durante qua-se três anos sob aquela razão social; em 1931, sobreviria uma alteração constitutiva nessa empresa, que passaria a denominar-se “Barbará S.A.”
Em 1937, “Barbará S.A.” seria incorporada à então recém-constitu-ída “Companhia Metalúrgica Bárbara”; sua usina de fabricação da cidade de Caeté foi, então, transferida para a cidade de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, por motivos e em condições que abordaremos a seguir (TAMBASCO, 2003, capítulos 2,3 e 4, passim).
2. A criação da Companhia Metalúrgica Barbará
A indústria da centrifugação foi, para o Brasil, a ocasião de desen-volver uma indústria nacional de porte, mormente porque o seu merca-do foi, desde o início da atividade, protegido por barreiras alfandegárias adequadas. Lamentavelmente, ao contrário do que se passou na Europa – como, de resto, há que ser assinalado também para o caso da siderurgia a carvão vegetal –, não houve preocupações e estímulos para com a pes-quisa tecnológica continuada, no setor.
Tal comportamento – entre outros mais, industrialmente viciosos – concorreu para impedir o desenvolvimento da plena autonomia dessa in-dústria, tornando o País o Locus Privilegiatum da aplicação dos capitais internacionais, estes, sem compromissos maiores com a nacionalização de parte dos seus lucros e da sua permanência no País. Dessa forma, des-de muito cedo foi preparado o terreno para aquela situação industrial que, atualmente, é referida como “Globalização”.
No caso de Barbará S.A., em Caeté, foi ela vítima do seu próprio projeto industrial, muito inovador para a época: ela se instalou em Caeté buscando uma horizontalização industrial, não produzindo o ferro-gusa
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008196
J. C. Vargens Tambasco
que usaria como matéria-prima; projetou adquiri-lo dos produtores lo-cais. Surgiu esse projeto da circunstância do mercado guseiro de Minas Gerais, desde 1927, estar vivendo forte crise de produção de ferro-gusa; a cidade de Caeté era, então, um dos pólos guseiros do Estado de Minas Gerais, e sua indústria dessa matéria-prima siderúrgica vivia forte retra-ção de preços, que se desenhava prolongada em vista da crise financeira internacional, de 1929 (TAMBASCO, 2003; pp.171-2).
Como mecanismo de autodefesa da crise de produção, os produtores mineiros do ferro-gusa criaram um organismo sindico-patronal que ficou conhecido como o “cartel mineiro do gusa”, formado pela associa-ção das empresas Queiroz Júnior S.A. (com usina na cidade de Itabirito), Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (com usina na cidade de Sabará), Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas (com usina em Barão de Cocais) e Companhia Ferro Brasileiro (com usina na cidade de Cae-té), entre outras. Neste sindicato, Euvaldo Lodi5 surgiu como figura de proa, assumindo a sua presidência, com o firme propósito de defender o produto (BAUDANT, 198[?]; p. 216). Notemos que Euvaldo Lodi era, também, o presidente e o acionista principal da maior guseira caeteense, a Companhia Ferro Brasileiro (TAMBASCO, 2003: p.171).
Fato curioso e determinante do que narraremos, a antiga e pequena usina guseira de Caeté, girando sob a razão social de Gerspacher , Purri & Cia., e que fornecia gusa para a Companhia Mineira de Metalurgia (CMM), não participou do cartel mineiro do gusa. É certo, essa usina foi uma atividade praticamente cativa da CMM; em seguida, tornara-se tam-bém a fornecedora principal de Barbará S.A, o que muito incomodava a Euvaldo Lodi. Tanto que este, em 1936, declarava a importante dirigente do grupo industrial francês Pont-à-Mousson (PaM), “que vendia a baixos preços o ferro-gusa de seus altos-fornos ao sr. Baldomero Barbará, que fazia enormes lucros sobre os tubos com ele produzidos.” (TAMBASCO, 5 – Euvaldo Lodi era engenheiro de Minas e Civil, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto, em 1920. Após a Revolução de 1930, foi Deputado Classista na Assembléia Legislativa, até 1937. Foi Deputado Federal de 1945 até 1954. Foi Presidente da Firjan e da CNI. Juntamente com Roberto Simonsem e Valentim Bouças, foi membro da Comis-são para a criação do SenaiI. Como industrial, atuou nas cidades de Belo Horizonte e Caeté.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 197
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
2003; p.214).
Depoimentos de auxiliares, muito próximos, de Baldomero Barbará, dizem da profunda antipatia nutrida por Baldomero com relação a Euval-do Lodi; essa antipatia foi sendo construída em função da tenaz oposi-ção que Lodi fazia à Barbará, quanto aos planos de desenvolvimento de Bárbara S.A., oposição que veio a se transformar em aberta perseguição política, após a Revolução de 1930. Explicavam aqueles colaboradores de Barbará, que Lodi dificultava os planos para a implantação de um alto-forno, de Barbará S.A., em Caeté, quando esta se deu conta da inviabili-dade da continuação do seu projeto inicial, de horizontalização industrial, sob as novas condições do mercado do ferro-gusa em Ninas Gerais.6
O ato final dessa disputa deu-se quando, após alteração estatutária que lhe permitiria explorar altos-fornos e, ao se dispor à aquisição do peque-no alto-forno que lhe fora satélite, em 1931, Baldomero foi surpreendido pela compra intempestiva desse pequeno alto-forno (o antigo alto-forno de Gerspacher, Purri & Cia.). Comprou-o uma misteriosa “Sociedade Side-rúrgica, Ltda”, a qual o adquiria para desativá-lo em seguida.
A “Sociedade Siderúrgica Ltda.” era uma sociedade anônima compos-ta pelas seguintes pessoas jurídicas: Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira S.A.; Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas S.A.; Companhia Fer-ro Brasileiro S.A. e Usina Queiroz Júnior Ltda. Sua sede social era na Rua Primeiro de Março, nº 101, no Rio de Janeiro; era o mesmo endereço que o dos escritórios comerciais da Usinas Queiroz Júnior Ltda., além de que o representante daquela singular sociedade era o sr. Marcos Carneiro de Mendonça, também diretor e principal dirigente da Usinas Queiroz Júnior, Ltda. (Escritura de Compra e Venda; 10 de março de 1932).7
O fechamento da antiga usina de Gerspacher, Purri & Cia. colo-
6 – Depoimento do sr. José Vinciprova, ao Autor. O sr Vinciprova foi Gerente Admi-nistrativo da usina da Cia. Metalúrgica Barbará, em Barra Mansa, tendo ingressado na organização em 1937, quando do início de sua operação naquela localidade.7 – A venda em questão foi realizada pelo sr. Josué Pezzi à Sociedade Siderúrgica Ltda.; O sr. Pezzi – que até então nunca aparecera na história da siderurgia em Caeté – era domi-ciliado em Belo-Horizonte; tudo indica ter sido ele pessoa de confiança de Israel Pinheiro e de Euvaldo Lodi.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008198
J. C. Vargens Tambasco
cou Barbará S.A. como dependente do Cartel Mineiro do Gusa; mais inquietante, ficara dependente da ação política dos industriais mineiros. Efetivamente, quando Barbará S.A. procurou construir outro alto-forno próprio, em Caeté, foi obstado por aquele cartel, cuja influência nos governos Federal e Mineiro era determinante. Em seguida, por meio de bem articulada influências do próprio Cartel junto à EFCB, Barbará S.A. passou a sofrer discriminações para efetuar suas expedições: não lhe eram fornecidos os vagões ferroviários indispensáveis.8 Por outro lado, Euval-do Lodi procurava manter contatos com PaM, com o fim de criar uma nova fábrica de tubos em Caeté. Sua intenção foi manifestada a alto exe-cutivo de PaM,. que a transmitu :
O senhor Lodi vende o ferro-gusa proveniente de seus altos-fornos de Caeté a baixos preços à Barbará, que faz enormes lucros so-bre os tubos. Ele deseja, em conseqüência, com o apoio técnico de uma sociedade como Pont-à-Mousson, montar uma fundição usando o ferro-gusa dos altos-fornos de Caeté, onde ele, Lodi, teria a maioria (BAUDANT, 198[?]; p. 214).9
Nada mais haveria a ser acrescentado para o pleno entendimento das reais intenções do “Cartel”, ao dificultar a ação industrial de Barbará S.A.. Assim foram conduzidos os grandes interesses ligados aos capitais inter-nacionais, tanto quanto dificultados aqueles nacionais; eram posturas que se realizavam, em Minas Gerais, de forma oposta à feição nacionalista assumida alhures, pelas Associações Comerciais na época em foco. Sem dúvidas, marcas remanescentes do pensamento – também denominado “nacionalista,” por alguns historiadores – que dominou as elites mineiras
8 – Vivia-se os momentos que precederam o Estado Novo, do qual Euvaldo Lodi era um dos adeptos, enquanto que Baldomero Barbará, sendo de nacionalidade espanhola , não podia manifestar-se politicamente. Outro fato determinante: o Presidente da CMM, Caio Luís de Souza, era filho do Presidente da República, deposto, Washington Luís.9 – Nota de Roger Walewski a Marcel Paul Cavalier, em 14.12.1936. Roger Walewski era delegado de Pont-à-Mousson no Brasil, enquanto Marcel-Paul Cavalier era o seu Pre-sidente; Wallewski agia juntamente a Jules Velrest, que era o delegado da Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, no sentido de obterem uma opção de compra da Cia. Ferro Brasileiro, fato ignorado pelo próprio Lodi.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 199
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
desde os governos de Artur Bernardes e de Raul Soares.
Em conseqüência das múltiplas dificuldades que lhe eram impostas, Baldomero Barbará traçou um plano industrial de longo fôlego, inician-do-o após ter-se dado conta de que o “Cartel mineiro do gusa” continua-ria a dificultar sua atividade industrial em Minas Gerais. Efetivamente, no final do ano de 1936 e início de 1937, ele constituiria uma nova empresa, a Companhia Metalúrgica Barbará. Anteriormente, negociava a aquisi-ção – e a incorporara ao seu grupo industrial – da Companhia Brasileira de Metalurgia.
Em seguida, negociava a aquisição da Fazenda Barra Mansa, em cujas terras implantaria a sua nova usina. Tratava-se de grande proprieda-de, nas imediações da cidade de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janei-ro. Situada à margem direita do rio Paraíba do Sul e junto à Linha do Cen-tro, da EFCB, era essa propriedade muito bem localizada, entre os dois maiores mercados consumidores de tubos, o Rio de Janeiro e São Paulo; local dotado de fartura de águas, transportes, energia elétrica, disponibili-dade de carvão vegetal e também servido pela via férrea da Rede Mineira de Viação (RMV), que ligava o porto de Angra dos Reis ao Sul de Minas Gerais, chegando a Belo Horizonte. Era, realmente, local privilegiado e nele construiria sua nova usina, para onde transferiria a de Caeté, tão logo construísse o seu alto-forno. O minério de ferro que o alimentaria, bem como o calcário necessário às operações metalúrgicas, seriam trans-portados para a usina através da EFCB, ou pela RMV; o carvão vegetal seria fornecido a partir das matas das encostas da Serra do Mar, da região de Angra dos Reis. Angra dos Reis seria, também, um conveniente porto de exportação dos tubos, para clientes como Uruguai e Argentina, ou de embarque para as capitais brasileiras do Norte, Nordeste e do Sul.
A escolha do local para a nova usina não poderia ter sido melhor, do ponto de vista da logística industrial. Também a empresa Siderúrgica Bar-ra Mansa, do grupo paulista Votorantim, se encontrava em implantação na região, impelida por razões de similaridades estratégico-industriais, já que também possuíam um alto-forno de pequeno porte na localidade de
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008200
J. C. Vargens Tambasco
São Julião, no Estado de Minas Gerais.
A construção do alto-forno da usina de Barra Mansa foi imediata-mente contratada com o siderurgista mineiro José Gerspacher, que o pro-jetou para a capacidade de 30 toneladas por dia e o entregou, em marcha produtiva, em maio de 1938 (GERSPACHER; APM: cap. sobre a Usina de Barbará &Cia.).10
A escolha daquela região do vale Sul-fluminense do Paraíba apenas realçava as qualidades de “entrepreneur”, de que era dotado Baldomero Barbará, bem como da visão estratégica dos dirigentes do Grupo Voto-rantim. Efetivamente, foi nas proximidades da nova usina de Barbará, a não mais que oito quilômetros, à jusante do rio Paraíba do Sul que, cerca de cinco anos mais tarde, a “Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional” viria a escolher o sítio de implantação da grande usina side-rúrgica, a coque (combustível derivado do carvão mineral), que seria a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, marco fundador da moderna indústria pesada brasileira.
Durante esse tempo, em Caeté, incidente de natureza política entre o então gerente da usina de Barbará S.A., o sr. Savério Labatte, e o próprio prefeito de Caeté, o “Coronel” José Nunes de Melo, determinava a saída antecipada das instalações de Barbará S.A. daquela cidade, e o início das operações em Barra Mansa. Foi medida inusitada e inesperada, que atordoou os rivais mineiros de Baldomero.
Baldomero Barbará não era um “arrivato” – um recém-chegado, provável “testa-de-ferro” de interesses americanos – nas atividades eco-nômicas mineiras, como pareciam pensar, levianamente, Euvaldo Lodi, 10 – Gerspacher fala sobre o início da construção da usina em junho de 1937. Todavia, esta data refere-se ao início da construção do alto-forno, por ele dirigido. Quando Barbará deixou Caeté, a usina de Barra Mansa já se encontrava em operação, ainda que limitada, operando com fornos cubilôts. Tal foi o depoimento, ao Autor, do sr. José Vinciprova, gerente administrativo da usina de Barra Mansa até 1976 e auxiliar direto de Baldomero, desde a fundação dessa usina. José Vinciprova informou que parte das máquinas pro-venientes de Caeté foi montada na usina de Indianópolis, enquanto aquelas capazes de maiores diâmetros o foram em Barra Mansa, operando com capacidade reduzida até maio de 1938, a partir de quando passaram a trabalhar com sua capacidade plena.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 201
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
seus mentores luxemburgueses e seus seguidores, membros da elite in-dustrial mineira. Encontramos forte indicação sobre esse engano em te-legrama, seco e sucinto, enviado por J. Cadier e M. Vicaire (negociadores de PaM junto à CSBM, para a compra dos interesses de Lodi na Cia. Ferro Brasileiro), em abril de 1937, à PaM. Afirmam os autores desse telegrama:
“Informações sobre origem de Barbará são errôneas” (BAUDANT, 198[?]; p. 217).
Ora, para aqueles negociadores de PaM, que pretendiam usar Barba-rá S.A. como massa de manobra para forçar melhores condições de nego-ciação na aquisição do controle da Usina da CFB, a situação que encon-traram na usina daquela, em processo de desmontagem e transferência, era uma visão inesperada, surpreendente e terrificante para o sucesso da sua missão. Foram surpreendidos devido a uma avaliação irreal, induzida por informações errôneas sobre a pessoa e a organização industrial de Baldomero Barbará, informações essas que, certamente, tiveram origem no próprio Cartel mineiro do gusa.11
3. A imagem do industrial brasileiro percebida pelos seus iguais estrangeiros
Lamentavelmente, na época em que nos situamos, a imagem do in-dustrial brasileiro, tal como percebida por aqueles investidores franceses, era a pior possível. Tal apreciação é sentida em nota abaixo reproduzida, oriunda do Presidente de PaM, a propósito da implantação de uma usina de centrifugação no Brasil:
Bendigamos aos céus de não termos comprado a usina Arens. Se, para exportarmos, for necessário comprarmos todos os “bezerros de cinco patas” que os imbecis queiram nos oferecer, melhor será
11 – Em realidade, PaM tentou comprar Barbará S.A., como alternativa à negociação com Euvaldo Lodi, não o conseguindo entretanto. Face às animosidades detectadas, aprovei-taram-nas para forçar Lodi a ceder a CFB por um preço vil. Ver: BAUDANT, 198[?], p. 215.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008202
J. C. Vargens Tambasco
não fazermos nenhuma exportação (BAUDANT, 198[?]; p. 214).
E, a essa deselegância, seguia-se outra maior, evidenciando a perma-nência, naquela geração de industriais franceses, do espírito colonialista de antanho:
Ele pensa [Roger Cadier] que uma usina no Brasil, protegida por formidáveis direitos alfandegários, seria um bom negócio. Ele es-quece os “sanguessugas” que se encarregariam de sugar todos os resultados, admitindo-se que pudesse haver algum resultado (...) (Ibidem).
Não temos conhecimento completo sobre as múltiplas atividades fi-nanceiras, comerciais e industriais desenvolvidas por Baldomero Barbará, mas podemos indicar que, em 1940, eram as seguintes as suas empresas e suas inversões de capital: 12
Grande acionista do Banco (da Província?) do Rio Grande do Sul; – 13
Companhia Metalúrgica Barbará – Usinas de centrifugação, em São –Paulo e Barra Mansa;
Cimento Monte Líbano – Cimenteira no Estado do Espírito Santo; –arrendada a Barbará pelo Governo do Estado do Espírito Santo e, posteriormente, adquirida por Barbará;
Barbará & Cia. Ltda. – Distribuidora de tubos, conexões, –equipamentos para adução e distribuição de água, etc.;
Frigorífico de Uruguaiana – Na cidade de Uruguaiana, RS, –exportando carnes enlatadas para o Japão;
Indústria de estamparia – estamparia e galvanização de latas para –acondicionamento de alimentos, no Rio Grande do Sul;
12 – Entrevista com José Vinciprova, em 28 de setembro de 2001, em Barra Mansa-RJ;13 – Idem; não nos foi possível bem identificar o Banco em questão; presumimos tratar-se do Banco da Província do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, a recusa da parte dos descendentes de Baldomero Barbará, em nos conceder qualquer entrevista sobre a vida do fundador da Bárbara S.A.., não nos permitiu ir mais longe que o apresentado acima.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 203
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
Empresa Rural de Colonização – No Estado do Rio de Janeiro, com –propriedades que se estendiam da região de Rodeio e Vassouras, até à região de Búzios;
Concessionário das Loterias do Estado do Espírito Santo; –
Concessionário das Loterias do Estado de Minas Gerais; –
Concessionário da distribuição de leite na cidade do Rio de –Janeiro;
Águas de Lambari – Concessionário do engarrafamento e distribuição –de águas minerais na cidade de Lambari-MG, para os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;
Sobre as duas últimas atividades comerciais de Barbará, tão mar-cantes elas eram, no dia-a-dia da população servida, que se viu forjado um dito jocoso, na época, assegurando ser a cidade do Rio de Janeiro abastecida com “o único leite que já vinha com um peixinho dentro”. Tal dito, maldoso para alguns, mas de qualquer forma que fosse interpretado, demonstrava a popularidade das atividades comerciais de Barbará.
O período situado entre os anos de 1937 e 1951 foi de intenso traba-lho de consolidação técnico-empresarial para a Companhia Metalúrgica Barbará. Contudo, o fim desse período foi marcado pela transferência do controle acionário da empresa que, saindo das mãos dos herdeiros de Bal-domero Barbará, passou ao controle de Pont-à-Mousson S.A., empresa francesa de fundição e centrifugação, com sede social e usina principal na cidade de Pont-à-Mousson, na Lorena, histórica província francesa. PaM, pelo que acabamos de ver, nunca desistira de conquistar o mercado brasileiro, visando estabelecer um monopólio do comércio de tubos cen-trifugados, como fazia em todos os países em que atuava.
Lembremo-nos que o período em questão fora marcado por um no-tável crescimento da população urbana brasileira, a qual evoluíra de um total de 10.050 milhões de habitantes em 1937, para 18.783 milhões em 1950, ou seja, apresentando um crescimento médio sustentado de 4,9%
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008204
J. C. Vargens Tambasco
ao ano. Era uma evolução que decorria dos movimentos de industriali-zação do País, que foram crescentes após 1930 e, agora, fomentado e acelerado pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial.
A demanda reprimida levava o País a dar ênfase à sua política in-dustrial de substituição dos importados, com notáveis incrementos das indústrias metalúrgicas, do cimento e dos químicos. Entre 1939 e 1947, somente para exemplificar, o produto interno real cresceu de 5,1% ao ano, em média; a componente industrial desse índice evoluiu, também em média, de 6,5% ao ano. Entre 1947 e 1956 – o auge da substituição de importações, inclusive com a implantação das indústrias de bens duráveis e de bens de capital – o produto interno real cresceu à média de 6,4% ao ano, devendo-se ao setor secundário a contribuição de 8,0% ao ano (S I -MONSEN, 1972 ;p .34) .
A segunda metade dos anos 30 fora o prenúncio das atividades cres-centes e bastante lucrativas no setor de centrifugação do ferro, o que já determinara a transformação, em centrifugadora, da guseira Companhia Ferro Brasileiro, de Caeté. Por outro lado, foi um período de intensas transformações econômicas e, também, de dificuldades financeiras. Real-mente, o processo de substituição de importações, durante o pós-guerra, coincidiu com um período de inflação crescente, entre cujas conseqüên-cias situou-se a atrofia de diversos segmentos do mercado brasileiro de capitais. Ocorreu que a taxa de juros nominais foi mantida a 12% ao ano e, com a ascensão dos preços a níveis bem superiores àquele limite, min-guaram as aplicações em depósitos a prazo fixo, debêntures e outros títu-los similares; em conseqüência, atrofiou-se, também, o mercado de crédi-to a médio e longo prazo. O endividamento bancário de curto prazo foi o caminho que restou para as empresas financiarem as suas operações.
Duas outras ocorrências fiscais exerceram um grande impacto so-bre a vida econômica das empresas, naquele momento: a incidência de tributos indiretos, representada pelo Imposto de consumo, vendas e con-signações, gravando enormemente os bens de capital; depois, o impos-to de renda, incidindo pesadamente sobre os lucros das empresas; mas,
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 205
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
principalmente danoso, era o efeito inflacionário que tornava realmente ilusória uma importante parcela do lucro, aquela devida exclusivamen-te aos acréscimos inflacionários. Mas esta não era reconhecida, porque naquele momento o conceito de manutenção do capital de giro não era reconhecido. Além desse, o cálculo das depreciações com base no custo histórico dos equipamentos e instalações levava a uma rápida deteriora-ção dos capitais investidos (SIMONSEN, 1972; p.35).
Tais eram os fatores atuando na descapitalização da indústria. E, no caso da indústria de fabricação de tubos para o saneamento urbano, ou-tros fatores indiretos também se faziam presentes, como já nos referimos antes, com relação aos créditos das empresas fornecedoras, pagos sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Era dessa ordem a motivação pela qual Baldomero Barbará mantinha uma extensa gama de atividades de produção e prestação de serviços, a qual lhe permitia a geração de um fluxo de caixa estável em seu conjunto, confortável e capaz de levá-lo, na maior parte do tempo, a prescindir dos empréstimos bancários de curto prazo: suas empresas se autofinancia-vam, não havendo ainda restrições legais a respeito.
Ressaltemos, a propósito, que a aplicação de métodos de gestão semelhantes foi, novamente, empregada por empresas multinacionais, durante os anos 80, quando das crises financeiras, precedendo a globa-lização: estabeleceu-se, então, a prática de créditos mútuos entre suas coligadas (VELASCO E CRUZ, 1997; p. 160). É este um novo exemplo da modernidade dos métodos administrativos de Baldomero Barbará.
Quanto às características das máquinas centrifugadoras que equipa-vam a usina de Barra Mansa, eram aquelas transferidas da usina de Cae-té; foram selecionadas, dentre as nove máquinas ali disponíveis, aquelas capazes dos grandes e médios diâmetros, todas no comprimento de 4,0 m; as demais, nos comprimentos de 2,0 e 3,0 m, para os diâmetros peque-nos, foram concentradas na usina de Indianópolis, a qual, desde então, encarregar-se-ia da produção dos tubos para água na distribuição predial, nos diâmetros de 1½”(38 mm) até 3”(75 mm) e dos tubos para esgotos
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008206
J. C. Vargens Tambasco
prediais, nos diâmetros de 2”(50 mm) até 6”(150 mm)14. Tratava-se de uma estratégia industrial muito coerente, posto que a grande capacidade geradora de metal ficaria situada na usina de Barra Mansa, a qual seria do-tada com dois altos-fornos; a usina de Indianópolis permaneceu sempre como usina complementar, gerando o metal líquido que lhe era necessá-rio através equipamentos de segunda fusão.
Contudo, a usina de Indianópolis não foi transformada em uma usina secundária, posto que toda a produção de fundidos de precisão, em areia, ficou ali sediada; além disso, era equipada com excelente parque de má-quinas operatrizes, para a fabricação de válvulas, registros, comportas e adufas, além de uma extensa linha de componentes para usos especiais.
A usina de Barra Mansa foi equipada com uma fundição em areia, de grande capacidade, além de uma oficina mecânica dotada de tornos de grande porte para a época: tratava-se de máquinas operatrizes com capa-cidade para a usinagem de peças de até 600 mm de diâmetro, e distância entre pontas de 5,0 m.
Todo esse conjunto de facilidades industriais era a resultante de uma outra importante postura estratégico-industrial de Baldomero Barbará: a sua empresa manteria a fabricação de tubos no comprimento máximo de 4,0 m, pelo que ela mesma poderia fabricar, in loco, e em ferro fundido, os moldes de centrifugação (coquilhas) que lhes fossem necessários. Bal-domero não importaria esses moldes dos EUA, que os podia fornecer em aço forjado e em comprimentos de até 6 m. Apesar de uma durabilidade superior, Baldomero considerava o seu custo, importado e posto na usina, proibitivo, porque antieconômico quando comparado com a produtivida-de dos moldes que fabricava, face à realidade do mercado cambial a que se obrigaria , na eventualidade da importação destes.
A usina, assim concebida, era capaz de uma produção de até 2.000 14 – Lembremos que a construção civil tornava-se importante consumidora de tubos de 1½” a 2” para as colunas de distribuição dos prédios que se tornavam mais e mais altos. As exigências legais para a proteção contra incêndios exigiam grandes capacidades de vazão nas colunas de distribuição daqueles edifícios, cujo maior mercado encontrava-se em São Paulo.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 207
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
toneladas mensais de tubos, cujo diâmetro médio estaria próximo ao 200 mm. Sua presença no mercado foi satisfatória e rentável, posto que em 1945 já possuía em operação um segundo alto-forno, com capacidade para 40 toneladas diárias de ferro-gusa. Além disso, o primeiro alto-for-no, construído a partir de 1937, também tivera a sua capacidade aumen-tada para 40 toneladas por dia. Dessa forma, todo o complexo industrial da CMB tornara-se auto-suficiente em ferro-gusa, com uma capacidade de geração de 28.000 toneladas por ano, muito embora pudesse fabricar mais, caso complementasse suas necessidades através de aprovisiona-mentos externos de ferro-gusa.15
Baldomero Barbará faleceu no decorrer dos últimos anos da década de 1950. Contudo, o conjunto de suas empresas, desde o início dessa década, perdera a centralização de mando, que era uma característica de Baldomero, provavelmente por motivos de sua saúde, então combalida. Com a descentralização administrativa, seus familiares e futuros herdei-ros assumiram o comando das empresas, algumas delas sendo liquidadas por conveniências da reorganização do grupo. Do primitivo complexo, a CMB passou à administração familiar direta, a presidência tendo sido assumida por Baldomero Barbará Filho.
Barbará Filho, agora sem poder contar com as disponibilidades fi-nanceiras que anteriormente eram garantidas pelas demais empresas do complexo, não pôde contornar as sérias dificuldades econômicas caracte-rísticas daquele decênio, que atingiram duramente o grupo. Estas reper-cutiram fortemente nas atividades operacionais da CMB, de forma que, tal como recordaram alguns dos seus antigos colaboradores, poderíamos caracterizar este como um dos piores períodos da sua história empresa-rial.
O interesse de PaM pela CMB não deixara de se fazer presente, como podemos constatar através das constantes visitas, ditas de cunho técnico,
15 – Informações obtidas nas entrevistas com o sr. José Vinciprova, ex-gerente adminis-trativo da usina de Barra Mansa, da CMB.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008208
J. C. Vargens Tambasco
que os diretores da CFB faziam à usina de Barra Mansa, desde 1938.16
Em meados de 1951, finalmente, Baldomero Barbará Filho, cedendo às dificuldades financeiras que o atormentavam e à CMB, transferia o controle acionário da sua empresa ao capital francês. Em carta manuscrita de próprio punho, datada de 28 de junho de 1951, em Paris, e endereçada ao seu colaborador e superintendente da usina de Barra Mansa, José Vin-ciprova, Baldomero Barbará Filho comunicava a conclusão da operação, não escondendo o seu entusiasmo pela realidade industrial e domínio tec-nológico que constatara nas visitas empreendidas às usinas francesas de PaM: sonhou em vê-las transplantadas para o Brasil.17
Tão logo assumido o controle acionário da CMB, Pont-à-Mousson nomeou como Superintendente-Geral da empresa a René Martial Canaud, engenheiro industrial daquela empresa multinacional, até então destacado na usina de Caeté, da CFB. Para gerenciar a usina de São Paulo, da CMB, este último escolheu a René Lobisommer, também engenheiro de for-mação industrial, especialista em fundições de ferro, que também estava destacado na usina de Caeté. Foram conservadas as demais estruturas da administração, exceção feita às superintendências comercial e financeira, que foram supridas com quadros da confiança do capital francês.
A conversão das centrifugações à tecnologia “De Lavaud”, com má-quinas capazes de produzir tubos em seis metros de comprimento e com diâmetros até 600 mm, teve início imediatamente; para tanto uma equipe de especialistas franceses permaneceu nas usinas pelo tempo necessário aos projetos. Fazia parte da estratégia industrial do grupo uma imediata substituição das máquinas, sendo aproveitadas antigas máquinas substitu-ídas nas usinas francesas que, em passado muito recente, haviam sofrido 16 – São conhecidas as notas de “despesas de viagem” do Diretor da CFB, Gaston Maig-né, entre as quais uma em particular, tratando de uma viagem com longa estadia – de 27 de abril a 7 de maio de 1938 – à usina de Barra Mansa e às suas fontes de abastecimento de carvão de madeira, no sertão de Bananal, Estado de São Paulo. Ver: cópias nos arquivos do Autor.17 – Carta redigida em papel de correspondência do Royal Monceau Hotel, em 28. 6.1951. Cópia xerox dessa carta se encontra nos arquivos do A., gentilmente cedida pelo sr. José Vinciprova, seu destinatário.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 209
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
uma renovação tecnológica. Tais equipamentos, recondicionados, foram importados pela CMB, com todas as vantagens fiscais aplicáveis a equipa-mentos novos. Era prática comum, em casos semelhantes, que os equipa-mentos fossem importados como novos, o que acarretava lucros adicio-nais à efetiva operação, tendo em vista os valores das parcelas anuais de amortização aplicadas aos equipamentos na sua origem. É óbvio que, dos cofres da empresa importadora saía, efetivamente, o valor declarado de importação, mas, ao nível do grupo econômico, o procedimento funcio-nava como uma transferência de lucros, disfarçada. Não podemos afirmar que tal operação tenha ocorrido na CMB, posto que não tivemos acesso aos documentos de importação desses equipamentos.. Consideramo-la, contudo, operação altamente provável, dado que praticada por inúmeras empresas industriais que para cá vieram, com tecnologia própria.
Quanto à tecnologoa “Arens”, todas as suas patentes e projetos pas-saram ao domínio empresarial de PaM, que a utilizou, durante os anos 70 do século XX, para o projeto das suas máquinas centrifugadoras de carter fixo e distribuição de metal em translação, permitindo a fabricação de tubos centrifugados de até 1,8 m de diâmetro e 8 m de comprimento. A notar que, no Brasil, dadas as nossas características de mercado, fabricou-se tubos de até 1,2 m de diâmetro por 7 m de comprimento.
Finalmente, resta assinalar que, com a aquisição do controle acionário da CMB em 1950, PaM passou a ser a proprietária das patentes e licença ARENS, tanto de centrifugação de tubos quanto do revestimento interno destes, com argamassa de cimento, como proteção contra águas agressi-vas. Da mesma forma, quando da aquisição da CFB pela CMB, em 1991, tal situação tornou a ocorrer com algumas patentes de melhoramento de produtos. Finalmente, em 2001, todo esse universo de acervo tecnológico tornou-se exclusivamente francês, em função do fechamento do capital e transformação da razão social das anteriores sucessoras , para “Saint Gobain Canalisações”. Atualmente, se desejarmos desenvolver qualquer estudo histórico sobre essas patentes e indústrias, além da bibliografia apresentada neste artigo, obrigatoriamente teremos que recorrer a Saint Gobain, em Paris, onde esses arquivos estão conservados.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008210
J. C. Vargens Tambasco
Bibliografia1. Fontes PrimáriasCARTAde Baldomero Barbará Filho a José Vinciprova. Redigida em papel de correspondência do Royal Monceau Hotel, Paris, em 28.06.1951. Cópia xerox dessa carta se encontra nos arquivos do A., gentilmente cedida pelo sr. José Vinciprova, seu destinatário.De LAVAUD, D. S. A centrifugal machine for casting pipes. The IronAge [s.l.],[s.n.] sept.7, 1916.Escritura de Compra e Venda, que faz Josué Pezzi à Sociedade Siderúrgica, Ltda., em 10 de março de 1932. Cartório do 1 º Ofício de Notas, em Belo Horizonte, Livro 103, fls 67;GERSPACHER, José. Notas sobre usinas siderúrgicas..B. Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 23F 69G,Cx.F7a4;HAITE, Louis. Pesquisa pessoal: Memórias sobre a invenção do processo de centrifugação e da constituição da Companhia Brasileira de Metalurgia.Local da pesquisa: Arquivo morto da Companhia Metalúrgica Bárbara, Usina de Indianópolis, em São Paulo; data provável: 1965. Cópia xerox no arquivo do ANOTAS DE “despesas de viagem” do Diretor da CFB, Gaston Maigné, entre as quais uma em particular, tratando de uma viagem com longa estadia – de 27 de abril a 7 de maio de 1938 – à usina de Barra Mansa e às suas fontes de abastecimento de carvão de madeira, no sertão de Bananal, Estado de São Paulo. Origem: Arquivo Morto da CFB, em Caeté; cópias xérox nos arquivos do Autor.2. Fontes secundárias, impressasBAUDANT, Alain. Pont-à-Mousson(1918-1956): Stratégies industrielles d’une dynastie lorraine. Paris: Publications de La Sorbonne, 198[?].BITTENCOURT, Corrêa de. Saúde Pública. In: Década Republicana. 2ª ed. Brasília: Edunb, 1986; vol.II, p. 163-306.LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Serra. Rio de Janeiro: Edit. do IBGE, 1950.SIMONSEN, Mario Henrique. Brasil, 2002. Rio de Janeiro: APEC/Bloch, 1972.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):191-211, jul./set. 2008 211
Gênese da indústria siderúrgica no Vale Médio do Paraíba A fabricação de tubos centrifugados em Barra Mansa
TAMBASCO, J. C. Vargens. Do ferro cinzento ao ferro nodular. Uma História da industria de tubos centrifugados no Brasil (1915-1995). Niterói: UFF, 2003. Tese de Doutorado apresentada ao PPGH do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, em abril de 2003. TAMBASCO, J.C. Vargens. Um capítulo da História do saneamento urbano no Brasil: Invenção do tubo de ferro fundido centrifugado. Revista do Mestrado de História. Vassouras: Univ.Severino Sombra, ano 2006; pp.121-144; volume 8.VELASCO e CRUZ, Sebastião C. Estado e economia em tempo de crise: Política Industrial e transição política no Brasil nos anos 80. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):213-214, jul./set. 2008 213
O Instituto Histórico e o Marquês de Olinda
O INSTITUTO HISTÓRICO E O MARQUÊS DE OLINDA
Luiz de Castro Souza1
Assisti prazerosamente, no dia 11 de abril, à sessão do Instituto His-tórico e Geográfico Brasileiro, presidida pelo professor Arno Wehling quando tomou posse, como sócio correspondente o eminente senador Marco Maciel, que foi saudado pelo sociólogo Vamireh Chacon. A so-lenidade se realizou no Salão Nobre do IHGB, onde colocaram, em 26 de junho de 1975, o grande painel da “Coroação de Dom Pedro II”, de autoria de Porto Alegre, e recinto que sediou as sessões do “Congresso do Segundo Reinado”, certame efetivado no fim do referido ano.
Naquela ocasião significativa, e diante dos dois ilustres pernambu-canos, após os cumprimentos, arvorou em mim o impulso incontido de lembrar a ambos o vexame para Pernambuco, ao abandonar os despojos do Marquês de Olinda, depositados há mais de trinta e cinco anos no Pan-teon Duque de Caxias.
Falei no assunto primeiramente ao nosso confrade Vamireh Chacon, que prontamente concordou comigo e aconselhou-me a conversar, na-quele momento, com Marco Maciel, quando então ao ex-presidente da República externei essa mágoa. Ambos ficaram sensibilizados pelo caso muito pesaroso para Pernambuco.
Depois comuniquei o ocorrido à primeira secretária do IHGB, pro-fessora Cybelle de Ipanema, referindo-me ao material que possuía a res-peito da transladação e ao valioso desempenho do Instituto, no episódio. Assegurei que a documentação em meu poder e todo o dossiê seriam entregues ao Projeto Memória dos Sócios do IHGB, criado pelo operoso e atento presidente Arno Wehling. Ela ficou estarrecida e me solicitou, em face de assunto tão relevante e inédito, que fizesse antes um trabalho sobre a matéria, para ser publicado na Revista do Instituto. Disse-lhe ain-da que muitos documentos estavam perdendo nitidez, por se tratarem de
1 – Sócio Benemérito do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):213-214, jul./set. 2008214
Luiz de Castro Souza
cópias xerográficas muito antigas.
A exumação do marquês e da marquesa de Olinda foi executada no dia dois de junho de 1971, às 10 horas, no Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi, Rio de Janeiro, procedida de acordo com todos os preceitos legais. Presenciaram o ato os membros da Comissão de Transla-dação, organizada pelo chefe do antigo escritório do governo de Pernam-buco no Rio de Janeiro, o dr. Amaury Pedrosa, O IHGB, por iniciativa do então presidente, professor Pedro Calmon, se fazia representar na Comis-são pelos sócios pernambucanos Barbosa Lima Sobrinho, Joaquim Souza Leão Filho, Manoel Xavier de Vasconcelos Pedrosa, Roberval Bezerra de Menezes e mais três confrades, além do autor deste registro. No dia se-guinte da exumação, três de junho, os despojos, colocados em duas urnas, foram conduzidos em carro blindado do Exército ao Panteon Duque de Caxias, onde ficaram, em caráter provisório, até serem transladados para Pernambuco.
Nas solenidades ocorridas no Cemitério de São Francisco de Paula e no Panteon Duque de Caxias estavam o governador de Pernambuco, Eral-do Gueiros, o vice-governador do antigo Estado da Guanabara, Erasmo Martins Pedro, os prefeitos do Recife e de Olinda, o marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, representando a comunidade pernambucana no Rio de Janeiro, os descendentes dos marqueses de Olinda, os membros da Comissão de Transladação e, entre outras figuras representativas, o dr. Amaury Pedrosa – o grande responsável por tudo que de imponente se passava. Tributaram , no curso das solenidades, as devidas honras de Es-tado à memória do Marquês, já que ele fora um dos regentes do Império brasileiro, na menoridade de Dom Pedro II. Pela magnitude e pompa de que se revestiu a cerimônia no Panteon Duque de Caxias, a imprensa do Rio de Janeiro registrou o fato com destaque merecido. Entretanto, os despojos do marquês de Olinda se encontram ainda na antiga capital da República, quando deveriam descansar, para sempre, em terras pernam-bucanas.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):215-218, jul./set. 2008 215
Presidente Emílio Garrastazu Médici e o Instituto (Centenário de nascimento)
PRESIDENTE EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI E O INSTITUTO 1
(Centenário de nascimento)
Luiz de Castro Souza2
Atendendo solicitação prazerosa do eminente presidente, professor dr. Arno Wehling, para rememorar o presidente da República, general de Exército Emílio Garrastazu Médici não só em sua posse como Presidente de Honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e, principalmente, mostrar o seu devotamento demonstrado à Casa da Memória Nacional.
Após a eleição o ato de posse se revestiu na sessão solene realizada em 3 de junho de 1970, no salão nobre e denominado de conferências do IHGB, no velho prédio do Silogeu brasileiro, a única associação cultural que ainda permanecia naquele local.
A saudação ao novo Presidente de Honra coube ao presidente Pedro Calmon e, como sempre, magnífica. Reconstituiu seu passado de militar e o de iniciador dos parques históricos em honra aos grandes vultos de nacionalidade, começando a série com o Parque que envolve a casa natal e os sítios de infância do general Osório. E disse o nosso presidente: “Não lhe pedimos apenas a bondade de prestigiá-la com o cobiçado patrocínio. Requeremos a sua assistência, os seus conselhos, a sua participação, a sua possível assiduidade, sempre que puder dispensar-lhe alguns momentos da agenda repleta”. E, finalmente, o que seria seu desejo mencionar e dizer: “Lamentamos não poder oferecer-lhe os salões compatíveis com a importância do acervo: 500 mil peças documentais, 200 mil volumes da biblioteca, em que entram os da livraria particular de D. Pedro II: Vale dizer, um dos arquivos mais opulentos, uma das bibliotecas mais ricas do País, embutidos por ora na pobreza monástica de instalações insuficien-tes...” Concluiu o presidente Pedro Calmon seu pensamento:
1 – Lido em sessão especial do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 7.12.2005.
2 – Sócio Benemérito do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):215-218, jul./set. 2008216
Luiz de Castro Souza
“Também disso falaremos ao Presidente que conosco dividirá as suas preocupações com os esclarecimento da consciência brasilei-ra – no que concerne às razões e às fontes da unidade, da solidez, do progresso, da perenidade do Brasil. Hoje, só lhe dirigimos a cordial palavra de reconhecimento”
A seguir proferiu o discurso o novo Presidente de Honra, presidente Emílio Garrastazu Médici.
Para o sócio Mozart Monteiro o presidente Médici pronunciou um discurso memorável, bastante diferente dos discursos protocolares de seus antecessores. E acrescentou: “Nessa oração, suficientemente ampla e objetiva, o novo presidente da República, mostrou conhecer a importân-cia secular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na vida cultural da Nação”. Lembrou que D. Pedro II compareceu a mais de quinhentas sessões da Casa da História e que sempre a tratou carinhosamente. E ci-tando o sócio Mozart Monteiro, ainda, o presidente Médici quando este expressou:
“O meu Governo conta com as instituições docentes e culturais li-gadas à História, e especialmente com este Instituto, para o relevo maior da comemoração do Sesquicentenário da nossa Independên-cia, à maneira do que fez o Presidente Epitácio, em 1922”
Após a cerimônia da posse o grande presidente Pedro Calmon levou o novo Presidente de Honra do IHGB para mostrar parte do acervo que o Instituto cuidadosamente guardava, “na pobreza monástica de instalações insuficientes”, como salientara no seu discurso de saudação. E como era seu desejo aproveitou a oportunidade para mostrar e revelar a situação aflitiva onde funcionava o venerando Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, desde o ano de 1913. A Revista do IHGB, volume 288, julho-setembro de 1970 está ricamente ilustrado registrando aquele momento auspicioso que ficou marcado o destino do Instituto.
O presidente Pedro Calmon aguardou a volta do presidente da Repú-blica ao Nordeste brasileiro, bem como sua presença no Rio de Janeiro,
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):215-218, jul./set. 2008 217
Presidente Emílio Garrastazu Médici e o Instituto (Centenário de nascimento)
a fim de marcar a audiência com o mesmo, conforme havia sido anterior-mente acertado e programado.
Para a audiência no Palácio das Laranjeiras o presidente Pedro Cal-mon levou uma comissão de sócios do IHGB e entre estes o sócio bene-mérito marechal Estevão Leitão de Carvalho. A recepção da mesma não poderia ser melhor. O presidente Médici ao ver na comissão o marechal Leitão de Carvalho, exclamou: – Meu comandante! E logo a seguir fez menção de segurar o espaldar de uma cadeira levando-a até perto do mes-mo, para que ele se assentasse. Foi um gesto nobre que comoveu a todos pela simplicidade espontânea como o fato se revestiu.
A audiência decorreu a contento e ouvida com muita atenção pelo presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. O presidente Pedro Calmon fez uma exposição clara, precisa e realista; apontou os meios e a maneira como encontrar os recursos necessários para a continuação da construção do edifício do IHGB interrompido na terceira laje. Ele co-nhecia os meios que o governo poderia utilizar para atingir os anseios do Instituto.
Aceita pelo presidente da República as providências sugeridas, ele imediatamente determinou aos seus auxiliares imediatos que ali estavam presentes, que providenciassem todas as maneiras sugeridas e necessárias para o fiel cumprimento de sua determinação.
A comissão saiu do Palácio das Laranjeiras irradiante de alegria, na certeza de que o IHGB terminaria o prédio iniciado pelo saudoso presi-dente perpétuo, Embaixador José Carlos de Macedo Soares que, diante da doença que foi acometido não pode continuar a obra. Ficou parada durante sete anos.
No venerando Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a expec-tativa e a ansiedade predominavam. E o tempo foi decorrendo e nada de concreto era anunciado. Foi, então, quando o dinâmico presidente Pedro Calmon resolveu voltar à presença do presidente Médici, em comissão. E foi daí que surgiu, finalmente, a solução tão esperada. O próprio presi-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):215-218, jul./set. 2008218
Luiz de Castro Souza
dente da República pegou ao telefone e disse ao então poderoso dirigente da Caixa Econômica Federal – “Mas não foi o presidente que determi-nou?...” Foi ai o toque final e definitivo.
No dia seguinte surgiram no velho Silogeu as autoridades e respon-sáveis por vários setores da Caixa Econômica Federal e todas as provi-dências foram iniciadas e tomadas, com a devida presteza que era espera-do e desejado da autoridade superior da República.
Com os meios necessários e a direção lúcida do presidente Pedro Calmon começaram as obras já planejadas do Edifício iniciada em 1960, e agora com a ajuda da Comissão de Obras compostas de sócios do so-dalício. E os recursos indispensáveis começaram a aparecer a tempo e a contento, como era de se desejar, cumprindo as normas estabelecidas pela Caixa Econômica: preço fixo e prazo determinado.
Já em outubro de 1971, em artigo publicado na imprensa do Rio de Janeiro e de autoria do sócio há 22 anos, Mozart Monteiro e transcrito na Revista do IHGB, volume 293, out./dez. de 1971, ele escreveu: “Graças ao patriotismo e à visão do presidente Médici, a inauguração do edifí-cio, de doze andares, que será a sede definitiva do Instituto, constituirá um dos pontos mais notáveis das Comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil”. E encerra o artigo: “Hoje, como historiador, quero fazer justiça ao presidente Médici”, acrescentando: “Deus permita que, no próximo ano, durante as comemorações do Sesquicentenário da Independência, ele inaugure, pessoalmente e festivamente, o Palácio da Historia do Brasil”.
A previsão do ilustre sócio Mozart Monteiro se concretizou: Nos festejos comemorativos do Sesquicentenário da Independência, o edifício majestoso e sonhado por tantas gerações foi inaugurado pessoalmente pelo presidente da República e presidente de Honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, general de Exército Emílio Garrastazu Médici.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 219
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
HISTORIADORES DO IHGB/CATEDRÁTICOS DO COLÉGIO PEDRO II NA REPúBLICA
Vera Lucia Cabana Andrade1
A presente comunicação, inserida no campo temático “História do Ensino de História”, tem como objetivo central investigar o “saber his-tórico escolar” como objeto de pesquisa histórica. Para tanto, buscamos analisar a dimensão cultural cognitiva do ensino da história escolar, atra-vés da aproximação de duas categorias de análise: o conhecimento acadê-mico ou saber científico e o conhecimento escolar como saber docente.
Nesta perspectiva, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é es-tudado como lugar de produção do conhecimento histórico-científico de referência, isto é, lugar da competência do saber de natureza epistemo-lógica, e o Colégio Pedro II como lugar de produção de conhecimento próprio da disciplina escolar em relação direta com a cultura geral da so-ciedade, ou seja, o conhecimento construído no processo educativo. As-sim, os professores que foram historiadores do IHGB e ao mesmo tempo catedráticos de história do CPII são analisados como agentes principais do saber docente, a partir das mediações entre a matriz acadêmica e as competências pedagógicas do processo ensino-aprendizagem. (MON-TEIRO, 2007, p.14)
O aporte teórico da história cultural nos permite localizar em dife-rentes tempos históricos os diversos modos de “ler documentos e escre-ver a história para poder contar a história”, pressuposto aqui entendi-do como o trabalho de pesquisar documentos de natureza plural e textos historiográficos para ensinar a disciplina escolar de forma significativa, levando o aluno a compreender a historicidade da vida social. Nestes ter-mos, retornar às “oficinas do fazer histórico dos antigos professores”, nos possibilita compreender como, em vários momentos do passado, a
1 – Profª Drª em História Social pelo IFCS/UFRJ. Professora Aposentada da UERJ e CPII. Pesquisadora do Nudom – Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008220
Vera Lucia Cabana Andrade
relação ensino-aprendizagem era pensada e vivida, em outras palavras, como a “prática de tecer em fios cuidadosamente selecionados (conteú-dos), os elos entre o passado (valores), o presente (formação) e o futuro (cidadania).” (MATTOS, 1998, p.6)
O ensino da história faz parte do “Plano de Estudos” do Colégio Pedro II, primeira escola oficial e modelo do ensino secundário no Brasil, desde sua fundação, constando do Decreto de 2 de dezembro de 1837:
“O Regente Interino, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro II decreta:Art. 1º. O Seminário de São Joaquim é convertido em colégio de instrução secundária.Art. 2º. Este colégio é denominado Colégio de Pedro II.Art.3º. Neste colégio serão ensinadas as línguas portuguesa, lati-na, grega, francesa e inglesa, retórica e os princípios elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, álgebra, ge-ometria e astronomia.
Pedro de Araújo Lima, Regente Bernardo Pereira de Vasconcelos, Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, encarregado interinamente dos do Império.
(ANUÁRIO, 1927, p. 26)
Portanto, a história integra, desde o Império, ao lado do estudo das línguas e das matemáticas “o quadro dos saberes fundamentais do pro-cesso de escolarização brasileira” (BITTENCOURT, 2004, p.33).
Em todo o período monárquico, no Imperial Colégio de Pedro II, o ensino da história pode ser analisado segundo a concepção da “transpo-sição didática” do pesquisador francês Yves Chevallard, que considera a disciplina escolar dependente do conhecimento erudito-científico e da boa didática, que tem por objetivo adequar a “ciência-mãe” acadêmica à escola, através de instrumentos metodológicos próprios. Contudo, nesta concepção do especialista em ensino da matemática, refutamos o status
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 221
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
inferior conferido ao processo de ensino como vulgarização do conheci-mento científico, e para tanto, citamos, também, a abordagem crítica do pesquisador do ensino da gramática francesa André Chervel quando, para além da questão epistemológica, afirma que qualquer disciplina escolar deve ser estudada historicamente, contextualizando o papel exercido pela escola como instituição em cada momento histórico (ver BITTEN-COURT, 2004, p.36/38).
Sustenta esta perspectiva de abordagem da concepção da transposi-ção didática, a análise da ação docente dos historiadores/catedráticos do Império, autores de obras históricas e manuais escolares que levaram o saber erudito da academia para as salas de aula e que tiveram sua produ-ção acadêmica e didática reconhecidas como processo de criação original do modelo de educação humanística.
A concepção humanística foi essência da educação clássica, que pri-vilegiava o conhecimento ilustrado das línguas, notadamente o francês como garantia da participação social no mundo civilizado; o saber erudito da literatura e da retórica, como forma de domínio político do homem culto, e o estudo da história como base da construção da identidade na-cional.
Os professores catedráticos do Imperial Colégio, através dos progra-mas e dos manuais, inspirados no ensino secundário francês, ensinavam aos futuros “dirigentes imperiais” (MATTOS, 1994, p.3) que “a história é a árvore genealógica das nações e da civilização de que são portado-ras” (FURET, s/d. p.135), e, nestes termos, o estudo da História Univer-sal e da História Pátria tinha origem na História da Civilização Ocidental: branca, européia e cristã.
QUADRO I – Catedráticos/ Historiadores do Império em anexo no final do texto
No final do século XIX, a educação clássica foi objeto de acirradas polêmicas político-educacionais. A defesa do curso de humanidades era feita pelo grupo político conservador, que considerava o ensino secundá-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008222
Vera Lucia Cabana Andrade
rio como uma etapa preparatória para os cursos superiores, principalmen-te os de Direito. Outro grupo de políticos liberais criticava, com veemên-cia, a concepção elitista da “educação ilustrada” e procurava introduzir na legislação de ensino disciplinas de caráter mais científico, como as ciên-cias matemáticas e as ciências naturais, tais como: trigonometria, física, química e história natural, defendendo um modelo educacional científico mais voltado para a modernização.
Desde os “anos finais dos oitocentos”, a idéia libertária de República representou uma necessidade imposta pelo progresso e um sentimento estético de crítica intelectual presente nos projetos políticos de recons-trução do Estado/Nação. Buscando explicitar a idéia de evolução cultural no sentido da transformação natural, as políticas educacionais adotaram um modelo de instrução pública laica e popular para o ensino elementar, de base “humanístico-científica”, para o ensino secundário e, continuada-mente, elitista para o ensino superior.
Ao lado das disciplinas literárias e científicas, o ensino da história tinha como objetivo formar o cidadão republicano segundo os pressupos-tos da teoria do progresso e da razão.
A perspectiva enciclopédica da educação e a concepção universalista da história, características do período, podem ser exemplificadas pelas Reformas da Instrução Pública de 1890 e 1901, dos ministros Benjamin Constant e Epitácio da Silva Pessoa, respectivamente.
Pelo Regulamento da Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal (Decreto nº 981 de 8 de novembro de 1890), no Plano de Es-tudos de sete anos do curso secundário do Ginásio Nacional2, o estudo das ciências prevalecia, em carga horária e número de matérias, sobre o estudo das disciplinas clássicas tradicionais. A classificação das ciências, proposta pelo filósofo de Montpellier Augusto Comte, foi utilizada para determinar a ordem do estudo dos fenômenos matemáticos, astronômi-cos, físicos, químicos, biológicos e sociais, numa correspondência biu-
2 – Segunda designação do CPII na República (1890), sendo a primeira a de Instituto Nacional de Instrução Secundária (1889).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 223
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
nívoca entre os mais simples e os mais complexos, os mais gerais e os mais específicos, construindo uma representação real da ordem universal (BARBOSA, 1972, p.25).
Os estudos de teologia e metafísica, eliminados da interpretação dos fatos, cederem lugar para os estudos da história e da sociologia. O cam-po de estudos históricos foi ampliado para além da genealogia da nação e do progresso material cumulativo das sociedades, na medida em que a interpretação científica das tradições da civilização ocidental concede legitimação à história nacional em seus diferentes momentos de constru-ção, e, ainda neste contexto “a história é a nação, a história é a civiliza-ção” (FURET, s/d. p.135). A sociologia, segundo concepção original da natureza do social, foi colocada no Plano de Estudos como a ciência mais geral, que trata da totalidade do comportamento social transmitido por símbolos, sendo as relações sociais, por forças evolutivas, elementos das leis do progresso dos fenômenos históricos (BARBOSA, 1972, p. 28).
A Reforma Constant foi considerada inexeqüível pela Congregação do colégio e o pedido de sua reavaliação foi encaminhado ao Ministério pelo Inspetor-Geral de Ensino, também Secretário do IHGB e lente do Ginásio Nacional, o professor Benjamin Franklin Ramiz Galvão: “Se-gundo informação prestada pelo presidente da respectiva Congregação, a grande maioria dos lentes do Ginásio concorda com a inexeqüibilidade do plano de ensino da reforma e adota este mesmo parecer que vos exter-namos” (ANUÁRIO, 1914, p.91).
O novo Regulamento do Ginásio Nacional, expedido pelo Decreto nº 3914 de 26 de janeiro de 1901 do Ministério dos Negócios Interiores, extinguiu a cadeira de “Corografia e História do Brasil”, cujo professor catedrático era o historiador Capistrano de Abreu, e criou a de “História Geral, especialmente do Brasil”, englobando conteúdos de História Uni-versal, das Américas e do Brasil.
Em atendimento ao Regulamento da Instrução Pública Primária e Secundária, o Professor Pedro Ribeiro assumiu a cadeira de história do Externato do Ginásio Nacional, nomeado em 1890, no lugar de Capis-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008224
Vera Lucia Cabana Andrade
trano de Abreu, colocado “em disponibilidade”, por se negar a lecionar a nova matéria.
Abolicionista e republicano do grupo de Quintino Bocaiúva e Alcin-do Guanabara, o sergipano João Ribeiro foi membro do “Pedagogium”, centro educacional de aperfeiçoamento de professores criado por Ben-jamin Constant (1890), Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (1894), membro da ABL (1898) e sócio do IHGB (1915).
Em 1895, João Ribeiro foi comissionado pelo Governo para estudar o processo de instrução pública na Europa, visitando a França, Inglater-ra, Holanda e Alemanha, onde recebeu forte influência da historiografia de Lamprech. De volta ao Brasil, reassumiu seu cargo, em 1899, sendo transferido para o Internato do Ginásio Nacional, em 1905 (ALMANA-CK, 1921, p. 28/29).
João Ribeiro participou da Comissão encarregada de elaborar pare-cer a respeito dos programas de ensino propostos pela Congregação para os anos letivos de 1899 e 1900. Os programas aprovados foram prece-didos de uma orientação metodológica específica para cada cadeira. No caso do ensino de história, o Programa de Ensino recomendava:
“Na História mencionar-se-ão, com rigoroso cuidado de jamais descer a minudências, os acontecimentos políticos, científicos, li-terários e artísticos de cada época memorável; serão expostas as causas que determinaram o progresso ou o estacionamento da ci-vilização nos grandes períodos históricos, apreciados os homens extraordinários que concorreram para as revoluções benéficas ou perniciosas da humanidade, mormente os da América e, sobretudo ,os do Brasil, agrupando-se em torno desses vultos os fatos ca-racterísticos das fases em que dominaram o espírito, devendo ser principal preocupação do programa e do ensino, na História Pátria particularmente, instituir-se a história verdadeiramente educativa e vivificada do sentimento nacional.” (Art. 90, Nº X, Regulamento de 8 de abril de 1899).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 225
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
Como catedrático do colégio e em conformidade com os progra-mas oficiais, João Ribeiro publicou os compêndios de História do Brasil (1900) e História Universal (1918). Seus livros foram favoravelmente recebidos pela crítica que foi unânime em reconhecer seu papel inovador na escrita da História. O Compêndio de História do Brasil tornou-se obra de referência dos estudos históricos sociais e foi adotado na maioria das escolas de todo Brasil, tendo ao todo, 15 edições (1954), sendo revisto e reeditado pelo autor até a sua 11ª edição, sendo as quatro últimas de res-ponsabilidade de seu filho Joaquim Ribeiro, também professor de história do colégio.
João Ribeiro é considerado um “historiador moderno”, posto que reúne as qualidades de escritor erudito (ABL) e de pesquisador de fontes (IHGB), tendo produzido um trabalho histórico interpretativo dos fatos em sentido processual (GOMES, 1996, p. 123).
A chamada inovação, trazida por João Ribeiro aos estudos históricos brasileiros, é a mudança do foco da análise do passado, não mais con-cebido como um tempo-lugar fixo, mas apresentado como um objeto de conhecimento construído a partir da compreensão do tempo presente e da visão do historiador comprometido com seu tempo: “A História é ci-ência de síntese. O presente é quem governa o passado e é quem fabrica e compõe nos arquivos a genealogia que lhe convém” (RIHGB, 1915, p. 616). Nesta perspectiva filosófica de estudo crítico da realidade históri-ca, o autor destaca as singularidades das culturas no tempo e no espaço, demonstrando que não há uma única história da civilização da qual todos os povos participam e que o passado e o futuro são construídos de for-ma singular pelos homens. Rompe com a abordagem factual e amplia o campo dos estudos históricos através de conhecimentos antropológicos, étnicos e culturais.
No âmbito do pedagógico, a característica inovadora de sua obra consiste em oferecer aos professores uma orientação metodológica para “dar aula”, na medida em que seus livros assumem a condição de guia da prática pedagógica, apresentando a maneira correta do “que” (seleção de
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008226
Vera Lucia Cabana Andrade
conteúdos) e do “como” (estratégias/procedimentos didáticos) deve ser ensinado na disciplina escolar história. Ainda neste contexto pedagógico, “o saber que ensina” do professor catedrático pode ser analisado segundo o conceito de “transposição didática”, a partir das relações estabeleci-das entre o conhecimento historiográfico e o saber escolar (MONTEIRO, 2007, p.17).
Na Introdução do Compêndio de História do Brasil, o professor-autor registra o pioneirismo de seu método e de sua abordagem dos temas tratados:
“Fui o primeiro a escrever integralmente a nossa história segundo nova síntese. Ninguém antes de mim delineou os focos de irradia-ção da cultura e civilizamento do país; nenhum de nossos historia-dores ou cronistas seguiu outro caminho que o da cronologia e da sucessão dos governadores.”
Na apresentação do livro, o autor explica ainda que, metodologi-camente, correlaciona o descobrimento do Brasil aos ciclos dos nave-gadores; relaciona as lutas externas às causas econômicas da expansão européia; enfoca a submissão dos índios ao Cristianismo como resultante do confronto cultural e critica a posição da Igreja diante da escravidão negra, sem negar seu papel importante no processo da colonização; ana-lisa a Monarquia e a República como períodos de construção da história nacional e explica sua opção pelo corte temporal trabalhado:
“Não passei além da proclamação da República, os sucessos são ainda do dia de hoje e seria prematuro julgá-los em livro destinado ao esquecimento das paixões do presente e à glorificação da nossa história” (RIBEIRO, 1956, p.22 e 24).
As Lições de História Universal foram compiladas e resumidas se-gundo os melhores autores que escreveram nesta matéria, como esclarece o professor-pesquisador ao iniciar o livro enfatizando o caráter de síntese e advertindo que:
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 227
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
“Não se deve buscar numa obra desta natureza as coisas e informa-ções que se não podem achar; o compêndio como diz Colby é sem-pre mais sugestivo que exaustivo (...). Evitamos propositadamente as dissertações complementares que fazem o objeto próprio das chamadas histórias da civilização. Preferimos a narrativa dos fatos e dos acontecimentos em que se pode fundar qualquer filosofia ou teoria da história” (RIBEIRO, 1920, p. 5/6).
A produção historiográfica do período foi retomada com a promo-ção do “Primeiro Congresso de História Nacional”, realizado no Rio de Janeiro, em setembro de 1914, sob a presidência de honra do Marechal Hermes da Fonseca (ex-aluno do Ginásio Nacional) e presidência acadê-mica de Ramiz Galvão. A proposta do IHBG foi a de reunir seus sócios e membros dos Institutos Históricos estaduais com o objetivo de “reafirmar o espírito da nacionalidade brasileira e estimular a produção de memó-rias históricas: dissertações de temas históricos desde o descobrimento até a lei de libertação dos nacituros.” O Tomo Especial consagrado ao Congresso registra cerca de 90 teses apresentadas nas seções temáticas de História Geral, Constitucional e Administrativa, Parlamentar, Econômi-ca, Militar, Literária e das Artes, Explorações geográficas, Explorações arqueológicas e etnográficas e História diplomática (IHGB, 1915.)
O IHBG, nas primeiras décadas do século XX, continuou a ser um reduto conservador da produção da história-memória, mantendo sua fi-delidade às raízes imperiais e sua marca de autodidatismo acadêmico no estudo das fontes documentais e na produção de textos de história política e de coreografias ilustradas.
Nas décadas de 1920 e 1930, um significativo movimento de renova-ção educacional foi promovido pela Associação Brasileira de Educação. Fundada em 1924, por inspiração dos intelectuais Heitor Lira da Silva, Francisco Venâncio Filho, Edgar Sussekind de Mendonça e Everardo Ba-cheuser, funcionou, inicialmente, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e foi organizada em seções estaduais autônomas com departamentos es-pecializados: ensino técnico e superior, ensino secundário, ensino pro-fissional e artístico, educação física e higiene, educação moral e cívica e
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008228
Vera Lucia Cabana Andrade
cooperação da família.
Possuindo em seus quadros intelectuais de renome como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, a ABE se tornou um centro de documenta-ção e pesquisa das questões de educação e ensino no Brasil, dedicando-se a promover cursos de aperfeiçoamento de professores e conferências pedagógicas com grandes figuras do movimento renovador da educação na Europa e nos Estados Unidos.
Os “anos trinta” são marcados pelos discursos político-nacionalistas e pelas críticas dos historiadores do IHGB e dos educadores da ABE às Instruções Metodológicas e aos Programas oficiais da Reforma de1931.
Os Programas refletiam a concepção da história como produto inte-lectual acabado e ratificavam a função pragmática do ensino de história para a formação do cidadão. No pensamento do grupo político reforma-dor do ministro Francisco Campos, a História foi considerada a disciplina escolar específica para a formação da cidadania:
“Conquanto pertença a todas as disciplinas do curso a formação da consciência social do aluno, é nos estudos da História que mais eficazmente se realiza a educação política, baseada na clara com-preensão das necessidades da ordem coletiva e da estrutura das atuais instituições políticas e administrativas” (HOLLANDA, 1957, p.18).
Os conteúdos da História Universal, nova disciplina implantada pela Reforma Campos, foram divididos pela periodização clássica, e os da História da América e do Brasil foram distribuídos em correspondência com a história européia – “com o propósito de estabelecer uma estrita vinculação entre o estudo do passado nacional e americano com o pas-sado europeu” (CASTRO, 1955, p.57). A divisão tradicional da História em períodos – Antigüidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea –, segundo o historiador francês Henri Moniot, foi criada para organizar os estudos históricos, tornando-se princípio definidor das cadeiras univer-sitárias e princípio correspondente das matérias da disciplina escolar no
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 229
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
nível secundário, como atestam as propostas curriculares e a organização dos livros didáticos das décadas de 1930 a 1960.
Envolvido no movimento de renovação educacional, o professor Jonathas Serrano, como membro da ABE e, também, sócio do IHBG e catedrático do CPII3, participou do Congresso de Educação de 1932, pro-movido no Rio de Janeiro pela citada Associação. Defendendo a idéia de que a “História deveria passar de disciplina de memória para disciplina de reflexão e crítica”, propôs uma mudança teórica e prática no campo da pedagogia, no sentido de desenvolver uma metodologia ativa de ensino, com a “participação viva do aluno em sala de aula.” Criticou duramente as Comissões Ministeriais que estabeleceram a fusão da História Geral com a História do Brasil em uma só cadeira, a redução da carga horária e a extensão dos Programas de Ensino:
“Basta examinar o número de pontos do programa, quando as au-las foram reduzidas de 3 para 2 por semana, e logo se conclui que o reformador não atendeu de modo satisfatório às exigências impe-rativas da realidade concreta (...) Dir-se-ia que os programas foram elaborados por quem jamais esteve em contato com a realidade de classes secundárias do nosso meio.” (SERRANO, 1935; p.25).
As questões mais polêmicas acerca do caráter centralizador da Re-forma Campos foram discutidas na “5ª Conferência Nacional da ABE”, realizada em Niterói, em 1933, quando foi lançado o “Manifesto dos Pio-neiros da Educação Nova”, escrito por Fernando de Azevedo e assinado pelas figuras brasileiras mais expressivas da educação e cultura da época. O documento apresentava como pontos capitais para a política educacio-nal: “a nacionalização do ensino; a defesa do princípio da laicidade; a organização da educação popular; a remodelação do ensino secundário e do ensino técnico profissional; a criação de universidades e de institu-
3 – Bacharel em Ciências e Letras e Bacharel em Direito pela Faculdade Livre de Ci-ências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, Jonathas Serrano prestou concurso para a cátedra de História do Colégio Pedro II, em 1926, apresentando a Tese: “A Idéia de In-dependência na América.” A designação histórica do Colégio Pedro II foi restaurada em 1911, pela Reforma do ministro Rivadávia Correa.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008230
Vera Lucia Cabana Andrade
tos de alta cultura para o desenvolvimento dos estudos desinteressados e da pesquisa científica” (VENÂNCIO FILHO, 1995, p.105).
O paradigma educacional da ABE, identificado pelo movimento da “Escola Nova”, foi defendido pelo grupo partidário do ideário da escola universal para ambos os sexos, do ensino público obrigatório completa-mente livre e laico, que se opunha, ao mesmo tempo, aos projetos doutri-nários da Igreja e à política intervencionista da União.
Contra a perspectiva universalista do ensino da história foi colocada a concepção nacionalista dos estudos históricos defendida pelos historia-dores do IHGB. Esta polêmica ganhou grande espaço de discussão nas academias, congressos e colégios, chegando à Câmara Federal. Em maio de 1934, o Secretário-Geral do IHGB Max Fleiuss encaminhou ao presi-dente Vargas um memorial expondo as razões para o restabelecimento da cadeira de História do Brasil como disciplina formadora da consciência nacional da juventude no ensino secundário:
“O conhecimento da História Pátria e do idioma de um país cons-tituem o cunho da própria nacionalidade. Suprimir a noção de história de um país seria pretender vê-la apagar-se com a própria consciência Nacional” (FLEIUSS, 1934, p.8).
A Constituição de 1934, em seu artigo 152, preconizou a organiza-ção de um Conselho Nacional de Educação para o estabelecimento das “bases do ensino nacional”. O Plano Nacional de Educação formalizou a volta dos “estudos clássicos” como “bases constitutivas” da grade curri-cular da escola secundária. No Conselho Nacional de Educação, o grupo conservador nacionalista derrotou o grupo defensor dos modernos princí-pios científicos e universalistas, que refutava, segundo argumentação de Delgado de Carvalho, “o ensino clássico enquanto método e conteúdo” (REZNIK, 1992, p.103).
Serrano participou ativamente dos debates em torno da renovação pedagógica, fazendo parte da corrente conservadora da “pedagogia so-cial moderada”, contramão dos pioneiros da “pedagogia social radical”.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 231
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
Defendendo sempre a lei, a ordem e as autoridades constituídas como princípios básicos do processo educativo, advogou a volta da disciplina História do Brasil e do ensino religioso à grade curricular, considerando fundamental para a formação da personalidade do educando: “recuperar as tradições cristãs e históricas da Pátria” (REZNIK, 1992, p.73).
Jonathas Serrano é mais considerado como pedagogo criativo do que como historiador. Como tradicional pesquisador de arquivos, participou do Congresso de História Nacional (1914) e do Congresso Internacional de História da América (1922), promovidos pelo IHGB, apresentando a memória histórica “A Colonização. Capitanias”, na seção de História Ge-ral do primeiro evento, sendo relator da subseção de História Geral da América, no segundo. Como professor-autor de livros didáticos, procu-rou sempre inovar metodologicamente e criar motivações para o ensino da disciplina escolar, tornando-se um dos autores mais difundidos nas décadas de trinta e quarenta. Seus compêndios de história e seus livros de didática foram pioneiros no campo da metodologia de ensino e na utiliza-ção de novas técnicas e recursos didáticos:
Epítome de História Universal – Rio de Janeiro: Liv Francisco Alves, 1913.Metodologia da história na aula primária – Rio de Janeiro: Liv. Francisco Alves, 1917.História do Brasil. Colaboração da Profª Maria Junqueira Schimi-dt – Rio de Janeiro: Ed. Briguiet, 1931.Cinema e Educação. Colaboração do Profº Francisco Venâncio Fi-lho. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1931.A Nova Escola. Rio de Janeiro: Ed. Briguiet, 1932.Epítome de História do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Briguiet, 1933.Como se ensina História. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1935.
O livro “Epítome de História Universal” foi escrito a partir das ex-periências do autor nos dez primeiros anos de exercício do magistério no ensino secundário e foi adotado no Colégio Pedro II, na Escola Normal
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008232
Vera Lucia Cabana Andrade
do Distrito Federal e em muitos estabelecimentos de ensino da capital e dos estados, chegando à 10ª edição em 1926.
O Prefácio escrito por Escragnolle Dória, também professor cate-drático de história do CPII e membro do IHGB, relembra as qualidades eruditas de Serrano ainda aluno do Ginásio Nacional e a influência do professor de francês Henrique Monar que o direcionou para o magistério; enfatiza seu perfil de intelectual na escola, na academia e na imprensa; e destaca as inovações propostas pelo jovem mestre, inexistentes em outros compêndios da época: “muitas ilustrações, quadros sinóticos abundan-tes, afastamento da árida cronologia e da seca nomenclatura” avaliando como “excelente ensaio da nova orientação dos estudos históricos, ou-trora apenas confiados à memória” (SERRANO, 1929, p. 8 e 9).
A apresentação do livro, desde a escolha do título Epítome (resumo de livro de História) até a organização dos capítulos (seleção de conteúdos básicos da periodização tradicional) evidencia o desejo do professor-autor de “quebrar os esquemas rígidos e extensos dos compêndios recheados de nomes e datas, destinados à memorização e erudição, pelo acúmulo de conhecimentos.” Metodologicamente, na Introdução, “conversa” com os professores, sugerindo a utilização (observação, reprodução, criação) de gravuras, retratos, mapas, quadros e desenhos em sala de aula, com o objetivo de “ensinar pelos olhos”, recomendando, também, a utilização de quadros sinóticos para a fixação do essencial.
O livro “Epítome de História do Brasil” foi publicado originalmente com 266 páginas de textos, recheadas de mapas, ilustrações, anedotas, retratos e foi baseado no Programa de Ensino do CPII. Serrano inicia seu compêndio com uma epígrafe de Claparède, uma espécie de dedi-catória aos professores em geral, lembrando que: “Um programa nada vale sem um espírito que o anime e o faça frutificar. Esse programa vivo é, deverá ser, dentro da própria capacidade, cada professor.” Ainda na parte introdutória (Explicação Necessária), se propõe a “dialogar” com os professores, atores executivos de sua proposta didática, apresentando seus objetivos pedagógicos:
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 233
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
“Sugerir, despertar novos meios de apresentação da matéria, inte-grá-la na história da civilização humana, estimular o espírito crí-tico e de pesquisa pessoal, mostrar que a história não é apenas o relato árido de guerras e mudanças de governo, rasgar horizontes mais largos mesmo em compêndio elementar” (SERRANO, 1941, p. 2).
O livro de metodologia “Como se ensina História” foi escrito em 26 capítulos e dois anexos, a partir das reflexões do autor sobre suas ex-periências no magistério, recolhidas nas escolas públicas e particulares onde trabalhou. Considerado pioneiro no campo da pedagogia da “Escola Nova”, o livro faz parte da Coleção Biblioteca de Educação, organizada pelo Dr. Lourenço Filho, que também é o autor do texto introdutório “O ensino renovado e a História”. Neste prefácio chama a atenção para a positividade do tema “metodologia do ensino” e enfatiza a preocupação didática do autor ao tratar “com propriedade, senso de equilíbrio e de realidade” das questões relativas à causalidade dos fatos, da cronologia, da onomástica e da narração histórica” (SERRANO, 1935, p.7/11).
Serrano, ainda na Explicação Necessária, ratifica a importância da escolha do novo método e da urgência de se “aplicar no ensino da His-tória todas as conquistas reais da psico-pedagogia e da didática renova-da”; reforça a crítica aos Programas Oficiais expedidos pelo Ministério da Educação e Saúde, em 1931 e ainda em vigor, e define o lugar de sua reflexão: a sala de aula, e de seu público alvo: os professores de história – “Livro de experiência, mais do que obra de erudição abstrata – ofere-cemo-lo ao exame e reverificação dos militantes do ensino” (SERRANO, 1935, p.14).
A análise dos livros citados nos permite observar que Jonathas Serra-no apresenta seus livros didáticos aos professores como um instrumento de trabalho dos conteúdos históricos e como uma das possibilidades de leitura do mundo enquanto realidade construída.
Formador de opinião, Serrano utilizou seus cargos públicos (Con-selho Nacional de Educação, Instituto Nacional do Livro), sua projeção
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008234
Vera Lucia Cabana Andrade
cultural (IHGB, ABE, Sociedade Capistrano de Abreu), sua atuação na imprensa (Associação dos Jornalistas Católicos), sua prática docente (CPII e Escola Normal) e, principalmente, seus livros didáticos como im-portantes veículos de transmissão de idéias para a formação do cidadão no novo regime republicano. Em seu conservadorismo cristão entendia que “a educação tinha a missão regeneradora do Estado e da Nação.”
Ao lado de João Ribeiro, Mello e Souza, Delgado de Carvalho, Hé-lioViana e Rocha Pombo foi responsável pela “didatização” de parte da produção historiográfica da época. Sua “visão de história” é considerada conservadora, linear e antropocêntrica no que concerne aos conteúdos priorizados como objetos de estudo e pesquisa, na perspectiva da análise da história da civilização ocidental e cristã, da qual o Brasil faz parte. Contudo sua obra didática é também considerada progressista e inova-dora com relação à proposição do método dinâmico e criativo da “peda-gogia moderna da Escola Nova”, cujo objetivo era fazer a passagem do ensino da história de disciplina de memória para disciplina de reflexão e crítica.
As polêmicas travadas na década de trinta levaram à Reforma de 1942 do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema. A política educacional responderá aos novos interesses pactuados entre “o interven-cionismo protetor” e a representação da ordem social, sendo a educação recolocada como instrumento do Estado na tarefa de reorganização da Nação. Apesar do rompimento doutrinário com os intelectuais católicos e com os pedagogos da ABE, na “Exposição de Motivos da Lei Orgânica do Ensino Secundário”, Capanema referenda a História do Brasil como disciplina autônoma, privilegiando no currículo oficial: “o estudo da Lín-gua, da História e da Geografia Pátrias” (MINISTÉRIO da Educação e Saúde, 1942.)
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 235
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
QUADRO II – Catedráticos/ Historiadores da República em anexo no final do texto
Tomando como base os estudos do pesquisador inglês Ivor Godson, podemos observar que o “ensino da disciplina escolar História” no Co-légio Pedro II, a partir das primeiras décadas republicanas, vai-se cons-tituindo como “um campo de conhecimento escolar próprio que recebe múltiplas interferências, como as oriundas das pesquisas do campo his-toriográfico, educacional e social” (MONTEIRO, 2007, p.29) .
Ao projetarmos este enfoque teórico pelas diferentes conjunturas re-publicanas, podemos verificar, principalmente após a Reforma de 1942, a construção social do currículo do CPII, um currículo em ação, mais real do que idealizado, pensado pelo “saber docente”, científico de referên-cia, e vivido pelo “saber escolar”, nas práticas pedagógicas do processo educativo.
Para além da hierarquização das disciplinas e para além dos proble-mas epistemológicos, a compreensão do papel da escola e da disciplina escolar como instrumento de poder nos permite identificar a existência de uma cultura escolar própria – “petrossegundense” – como referência de qualidade de ensino e institucionalização da identidade do colégio-padrão. A tradição manteve as estruturas de continuidade e autoridade da cátedra na gestação de discípulos. Na memória coletiva institucional sobrevivem os grandes nomes de intelectuais, escritores e historiadores que foram “professores catedráticos do Colégio Pedro II”, contribuindo para perpetuá-lo como tradicional instituição de ensino dotada de alma e historicidade.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008236
Vera Lucia Cabana Andrade
QUADRO ICATEDRATICOS/ HISTORIADORES DO IMPÉRIO
CATEDRATICOS/ HISTORIADORES
PROCEDENCIA/FILIAÇÃO
FORMAÇÃO/ INSTITUIÇÕES CULTURAIS
ATUAÇÃO PROFISSIO-NAL/ VIDA PÚBLICA
PRINCIPAIS OBRAS/ LIVROS DIDÁTICOS
Justiniano José da Rocha
(1811 – 1864)
Província de Minas GeraisJosé Joaquim da Rocha e uma escrava
Colégio Henrique IV (Paris – exílio)Faculdade de Direito de São Paulo.Sócio do IHGB
Catedrático de História e Geografia do CPII (1838)Colaborador do: O Correio do Brasil; O Constitucional; O Regenerador;.Sensor teatralParlamentar conservador
Compêndio de Geografia Elementar (1838)Competência de História Universal (1848)Ação, Reação, Transação (1858)
João Batista Calógeras
(1810 – 1878)
Ilha de Corfu (Grécia)Brasil (1841)
Universidade de Bolonha (Itália)Sócio do IHGB
Catedrático de História e Geografia Descritiva do CPII (1847)Professor do Colégio Ateneu Fluminense e do Colégio KopkeFuncionário público Chefe da Secretaria de Negócios Do Império (1858)
Compêndio de História da Idade Média (1859)Biografia de Manoel Teodoro de Araújo Azambuja (1860)
Joaquim Manuel de Macedo
(1820 – 1882)
Vila de Itaboraí – Província do Rio de JaneiroSeveriano de Macedo de Carvalho e Benigna Catarina da Conceição
Escola de Medicina do Rio de JaneiroMembro da Sociedade PetalógicaPrimeiro- Secretário do IHGB
Catedrático de Geografia e História Media e Moderna do CPIICatedrático de Corografia e História do Brasil do CPII (1858)RomancistaEscritor: Minerva Brasilien-se; Jornal do Commercio; A Nação.Deputado Provincial e Geral pelo Partido Liberal (1854/1864/1878)
A Moreninha (1844); O Moço Loiro (1845); Os Dois Amores (1848); Rosa (1859).Lições de História do Brasil para uso dos alunos do Imperial Colégio de Pedro II (1861) e Lições de História do Brasil para uso das Escolas de Instrução Primária (1863); Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro (1862)Efemérides da História do Brasil (1877)
Manoel Duarte Mo-reira de Azevedo
(1832 – 1903)
Província do rio de JaneiroDr. Manoel Duarte Moreira e Maria Dulce Cherubina de Azevedo
Imperial Colégio de Pedro IIFaculdade de Medicina do Rio de Janeiro1º Secretario do IHGB
Catedrático de História An-tiga e Medieval do externato do CPII (1864)Catedrático de História Moderna do Internato do CPII (1865)Médico; Professor; Romancista; Teatrólogo; Historiador:A Pátria; O Conservador; Jornal das Famílias; O Marmota.Membro doConselho Diretor daInstrução Pública Primária e Secundária da Corte.
Compêndio de História Antiga para uso no Imperial Colégio e nas Escolas da Corte (1864)Os Franceses no Rio de Janeiro (1870)Homens do Passado. Crônicas dos séculos XVIII e XIX (1875)O Rio de Janeiro. Sua História, Monumentos, Homens notáveis, usos e curiosidades (1877/2V.)História Pátria. O Brasil de 1831 a 1840 (1884)
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 237
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
João Capistrano Honório de Abreu
(1853 – 1927)
Província do CearáMajor da Guarda Nacional Jerônimo Honório de Abreu e Antônia Vieira de Abreu.
Colégio dos Educandos do Ceará / Ateneu Cearense.Seminário de FortalezaMembro do IHGB
Catedrático de História do Brasil do CPII (1883)Professor do Colégio AquinoOficial de Secretaria da BNJornalista: Gazeta de Notí-cias; Jornal do Commercio; Revista Kosmos.
O Descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no Século XVI (1883)O Descobrimento do Brasil. Povoa-mento do Solo. Evolução Social (1º V.Livro do Centenário – 1900)Capítulos de História Colonial: 1500 – 1800 (1907)Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil (1930)
Luiz de Queirós Mattoso Maia*
Rio de JaneiroJosé da Silva Mais FerreiraÂngela Matoso de Andrade Maia
Doutor em Medicina – Escola de Medicina do Rio de Janeiro
Prof. Catedrático de Geogra-fia do Brasil e Corografia do Brasil do CPII
Tese sobre os Aneurismas Arteriove-nosos; Eletricidade Animal e Febre Amarela (1859)
Lições de História do Brasil (1880)Lições de História Universal – 1ª parte – História Antiga (1887)
QUADRO IICATEDRATICOS/ HISTORIADORES DA REPÚBLICA
CATEDRATICOS/ HISTORIADORES
PROCEDENCIA/FILIAÇÃO
FORMAÇÃO/ INSTITUIÇÕES CULTURAIS
ATUAÇÃO PROFISSIO-NAL/ VIDA PÚBLICA
PRINCIPAIS OBRAS/ LIVROS DIDÁTICOS
João Batista Ribeiro de Andrade
Fernandes(1860 – 1934)
SergipeManoel Joaquim Fernandes e Guilhermina Rosa Ribeiro Fernandes
Curso Secundário em SalvadorGeração da “Escola de Recife”Faculdade de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro (1894)ABL (1898)IHGB (1915)
Oficial de Secretaria da Biblioteca.Nacional. (1885)Concurso para a Cátedra de Português C.P.II Tese: “Morfologia e Colocação dos Pronomes” (1887)Catedrático de História Universal e do Brasil do Externato do C.P.II(1890)Comissionado do Governo para Instrução Pública (1895) Membro do Pedagogium (1900)Jornais: O Imperial, Gazeta de Noticias, Jornal do Brasil, Estado de S. Paulo, O Jornal.
Dicionário Gramatical (1887)História da Literatura Brasileira com Silvio Romero (1888)História do Brasil (1900)O Folk-lore – Estudos de Literatura Popular (1913)História Universal (1918)Fronteiras do Brasil (1930)
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008238
Vera Lucia Cabana Andrade
Luiz Gastão D’Escragnolle
Dória(1869 – 1948)
Rio de JaneiroGen..Dr. Luiz Manuel das Chagas Dória e Adelaide D’Escragnolle Taunay Dória
Colégio Aquino e Colégio AmorimImperial Colégio de Pedro II (Bacharel em1886)Faculdade de Direito de São Paulo (1889)Membro: IHGB (1912)Instituto dos Bacharéis em Letras (1864)Instituto Genealógico de S.PauloSociedade de Geografia de LisboaAcademia Amazonense de Letras
Professor do Ginásio Nacio-nal (1902)Catedrático de História Ge-ral, Especialmente do Brasil e da América do Colégio Pedro II (Externato – 1906)Professor da Faculdade de Direito Livre do Rio de Janeiro (1896)Redator do Senado (1896)Membro do Pedagogium (1908)Professor da Escola Normal (1909)Diretor do Arquivo Nacional (1917 – 1922)Colaborador dos Jornais: Folha da Tarde, Jornal do Comércio, Gazeta de Notí-cias, Revista: Renascença, Kosmos e A Semana.
Artistas de outros tempos (RIHGB, 1909)Figuras do Passado (RIHGB, 1913)Notas Biográficas da Família Imperial (1917)Terra Fluminense. Descrição de todos os Municípios do Estado do Rio de Janeiro (1929)Memória Histórica do Colégio Pedro II. 1837 – 1937 (1938)
Jonathas Arcanjo da Silveira Serrano(1885 – 1944)
Rio de JaneiroFrederico Guilherme de Souza e Serrano e Inês da Silveira Serrano
Ginásio Nacional (Externato)Faculdade Livre de Ciências Jurídi-cas e Sociais do Rio de janeiroMembro da Sociedade Capistrano de AbreuABEIHGBABIAssociação dos Jornalistas Católicos.
Catedrático de História Universal do Colégio Pedro II (Externato, 1926)Professor e Diretor da Escola Normal (1927 – 1928)Membro do Conselho Nacional de Educação e da Comissão Nacional do Livro Didático (1928 – 1930)
Capitanias Hereditárias (RIHGB, 1914)O Precursor de Tiradentes (1920)Da Independência à República (Dic.Hist. do IHGB, 1922)O Clero e a República (1924)Teses: A Idéia de independência na América (1926)O Movimento Corporativo na França Medieval (1926)Epítome de História Universal (1913)Metodologia da História na Aula Primária (1917)História do Brasil (1931)Cinema e Educação (1931)A Escola Nova (1932)Epítome de História do Brasil (1933)Como se ensina História (1935)
João Batista de Mello e Souza*
(1888 -1969)
Queluz (São Paulo)João de Deus de Mello e SouzaCarolina Carlos de Toledo de Mello e Souza
Bel. CPII (Internato)Membro da Academia Carioca de LetrasCongresso Nacional e Internacional de Esperanto (Org.)
Catedrático de História Universal do Colégio Pedro II (Internato – 1926)Docente da escola NormalCatedrático de História da América do Colégio Pedro II (1942)
Os meninos de Queluz (1949)Teses: A Idéia de Independência na América (1926)O Ensino da História na Formação do CaráterCompendio de História da América
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 239
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
Pedro do Coutto*(1872 – 1953)
Rio de Janeiro Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade do Rio de JaneiroMembro do IHGB do CearáIntendente Municipal do Distrito FederalCongresso Brasileiro de Ensino Secundário e Superior (1922)
Professor Substituto de História Geral e do Brasil do Colégio Pedro II(1915)Catedrático Interino de História do Colégio Pedro II (1917 – 1922)Professor da Escola NormalProfessor do Liceu de Artes e Ofícios
Tese: Origens da França contem-porânea.
Páginas de Crítica (1906)Caras e Caretas (1911)Livro de História do Brasil
Pedro Calmon Mo-niz de Bittencourt
(1902 – 1985)
Salvador/BA Faculdade de Direito da BahiaDeputado EstadualDeputado FederalMinistro da Educação e SaúdeMembro da OEASócio, orador oficial e presidente do IHGBMembro da Academia de Ciências de LisboaMembro da Academia Portuguesa de História
Professor-Historiador-Bio-grafo, Ficcionista-Ensaista-Critico-Orador-ConferencistaCatedrático da Faculdade de Direito da UB (1938)Diretor da Faculdade de Direito da UB (1939)Vice-Reitor da UBCatedrático de História do Colégio Pedro II (1950)Professor Emérito da UFRJProfessor Honorário da Fa-culdade de Filosofia da UBMembro da Real Academia de História da EspanhaMembro da Academia Brasi-leira de Letras (1936)
Tese: O segredo das minas de prata (1950)História da Independência do Brasil (1927)José de Anchieta: O Santo do Brasil (1929)O Raí Cavaleiro: vida de D. Pedro I (1930)O Rei Filósofo: vida de D. Pedro II (1934)O Reio do Brasil: vida de D. João VI (1945)História de D. Pedro II (1975) – 5 v.
Obs.: Os professores assinalados (*) não pertenceram ao IHGB.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008240
Vera Lucia Cabana Andrade
BibliografiaANDRADE, Vera Lucia Cabana. Historiadores do IHGB/Catedráticos do CP II. (Império) In: Revista do IHGB. nº 434. Rio de Janeiro, 2007.__________. Colégio Pedro II um lugar de memória. Rio de Janeiro: UFRJ, Tese de Doutorado. 1999ANUÁRIO do Colégio Pedro II. Nº 1. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunaes, 1914.ANUARIO do Colégio Pedro II. Nº 6. Rio de Janeiro: A Encadernadora, 1927.BARBOSA, Luís Bueno Horta. Sociologia Positiva: explicação da Lei dos três estados. Rio de Janeiro: Igreja Positivista do Brasil. 1972.BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004._____________. O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.CASTRO, Amélia Domingues de. A história no curso secundário brasileiro. São Paulo: Revista de Pedagogia, nº 2, 1955.DORIA, Escragnolle. Memória histórica do Colégio de Pedro II (1837-1937). Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1937. FLEIUSS, Max. A cadeira de História do Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo IHGB. (Coleção Max Fleiuss), 1934.FURET, François. A Oficina da História. Lisboa: Gradiva, s/d. v. 1.GOODSON, Ivor. Currículo: teoria e história. 2 ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 1996.GOMES, Ângela de Castro. História e historiadores: a política cultural do Estado Novo. Rio de Janeiro: EFGV, 1996.HOLLANDA, Guy de. Um quarto de século de programas e compêndios de História para o ensino secundário. 1931-1956. Rio de Janeiro: INEP, 1957.LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: Enciclopédia Einaudi. v.1 (Memória e História). Porto: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 1984.MATTOS, Ilmar Holhof de. As oficinas da Velha Senhora. In: História do Ensino de História do Brasil. Rio de Janeiro: Access, 1998.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):219-241, jul./set. 2008 241
Historiadores do IHGB/catedráticos do Colégio Pedro II na República
___________. O Tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Access, 1994.MONTEIRO, Ana Maria. Professores de História. Entre saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.PEREIRA. Octacílio A. Almanack do Pessoal Docente e Administrativo do Colégio Pedro II. Rio de Janeiro: Typ. Revista dos Tribunães, 1921.REZNIK, Luís. Tecendo o amanhã. A História do Brasil no ensino secundário: programas e livros didáticos. (1931 a1945). Niterói: UFF. Dissertação de Mestrado, 1992.RIBEIRO, João. História do Brasil. 15 ed. revista e ampliada por Joaquim Ribeiro. Rio de Janeiro: Liv São José, 1956._________. História Universal. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Ed Jacintho Ribeiro dos Santos, 1929.SEGISMUNDO, Fernando. Grandezas do Colégio Pedro II. Rio de Janeiro: Unigraf, 1996.SERRANO, Jonathas. Epítome de História Universal. 10 ed. Rio de Janeiro: Liv Francisco Alves, 1929.__________. Como se ensina história. São Paulo: Melhoramentos, 1935. __________. Epítome de História do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Ed Briguiet, 1941.VENANCIO FILHO, Alberto (Org.). Francisco Venâncio Filho um educador brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 243
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
HOMENAGEM A MACEDO SOARES
MACEDO SOARES REúNE IBGE E IHGB Em Busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
Nelson de Castro Senra1
José Carlos de Macedo Soares (1883-1968), referido na tradição ib-geana apenas como “O Embaixador”, presidiu os destinos de diversas instituições. A todas levava seu inegável prestígio, sua inolvidável capa-cidade de diálogo, de negociação, de conciliação. Por suas redes sociais, amparava as iniciativas institucionais; as prestigiava e as propagava, in-fluindo seus destinos; foi sempre atuante, presente, pese seus muitos afa-zeres, tinha idéias e as passava aos auxiliares. Pois, entre aquelas diversas instituições, inclusive ministérios, estiveram, com especial distinção, o IBGE e o IHGB: na presidência do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-leiro esteve por quase trinta anos, de 1939 a 1968, com a rara distinção de presidente perpétuo; na presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística esteve em dois períodos, de 1936 a 1951, quando da implanta-ção e consolidação, e de 1955-1956, numa rápida transição. Não presidiu esses Institutos, separadamente, antes, os uniu em vários instantes, asso-ciando seus intelectuais em atividades conjuntas; entre vários outros, um desses instantes merece realce, hoje pouco sabido ou lembrado, qual seja, a construção do majestoso e monumental Palácio do Silogeu Brasileiro
O INE, logo IBGE, é criado à margem de Macedo Soares:
Em 06 de julho de 1934, Getúlio Vargas assina o Decreto nº 24.609, criando o Instituto Nacional de Estatística (INE). A idéia viera de Teixeira de Freitas, e a força da criação, vencendo burocracias, viera de Juarez Távora. Não por outra razão, Getúlio dará a Juarez a honra de ser o pri-
1 – Doutor em Ciência da Informação (UFRJ / ECO) - Pesquisador Titular no Centro de Documentação e Disseminação de Informações, do IBGE. - Professor de “Sociologia das Estatísticas”, no programa de mestrado em “Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais”, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008244
Nelson de Castro Senra
meiro ministro a assinar o referido decreto, quando o normal seria que fosse o ministro da Justiça. Macedo Soares é então Ministro das Relações Exteriores.
Naquele momento coroava-se uma luta que começara em 1931, quando Mário Augusto Teixeira de Freitas, encerrada sua década mineira, voltara ao Rio de Janeiro com Francisco Campos, integrando sua equipe no recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública. Nos anos 1920, organizara as estatísticas mineiras, dando cobro, então, na esfera estadual os dilemas que assombravam e emperravam a elaboração das estatísticas nacionais; e será essa prática de sucesso que aportará ao ministério, orga-nizando as estatísticas nacionais de educação e saúde pública. Um pac-to federativo é negociado, envolvendo todos os estados da federação, as parte cedendo vontades e assumindo obrigações, tudo em caráter volun-tário: surgia, assim, a famosa fórmula da cooperação interadministrativa, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal. Notáveis educadores participaram das negociações, entre os quais Anísio Teixeira e Sud Me-nucci. Terá sucesso imediato, atraindo a atenção de Juarez Távora (um dos líderes da vitoriosa revolução que derrubara a Primeira República), que, querendo organizar serviços estatísticos semelhantes no Ministério da Agricultura, que então ocupava, solicita o concurso de Teixeira de Freitas. Este, aproveitando o momento favorável, amplia a discussão á organização das estatísticas brasileiras, como um todo, não mais apenas temática. E o INE é criado, subordinado diretamente à presidência da República.
Pois, criado, era preciso instalá-lo, para o quê era chave haver um presidente, a quem caberia convocar uma Convenção Nacional de Esta-tística que pactuasse o sistema estatístico, tal e qual se fizeram nas estatís-ticas de educação e saúde pública. Teixeira de Freitas, em seu incansável apostolado, usa suas relações e seus recursos a sugerir nomes, a solicitar empenho, envolvimento. As dificuldades na instalação seriam muitas, gerando conflitos, donde, seria preciso um presidente conciliador, com capacidade de mediação, enfim, um homem público de grande prestígio, com acesso tranqüilo ao presidente da República. É quando dirige carta
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 245
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
a Gustavo Capanema, já o novo ministro da Educação e Saúde Pública, pedindo seu apoio; Nessa carta, sugere alguns nomes, entre os quais o do Conde de Affonso Celso, presidente naquela ocasião do IHGB; as duas funções poderiam ser simultâneas, e eram muitíssimo compatíveis. Ou-tros nomes: Bulhões Carvalho, Ildefonso Simões Lopes, Affonso Penna Júnior, Francisco Mendes Pimentel, e Félix Pacheco. Nenhum deles será o nome.
Macedo Soares é escolhido presidente do IBGE:
Entrementes, em final de 1934, o Conselho Superior do Comércio Exterior, afeto ao Ministério das Relações Exteriores, percebendo as in-consistências, as contradições, e a dispersão das estatísticas brasileiras, o que dificultava a presença do Brasil nas publicações internacionais, des-prestigiando sua administração, reúne os diretores federais (temáticos) de estatística, entre eles está Teixeira de Freitas.
Macedo Soares, como Ministro das Relações Exteriores, preside es-sas reuniões, e ouve discursos inflamados de Teixeira de Freitas em favor da instalação do INE, afirmando e reafirmando, em alto e bom som, que tão logo começasse a funcionar, em pouco tempo, aquele quadro de de-salento estaria resolvido. Os presentes entendem as palavras de Teixeira de Freitas, apreendendo sua argumentação; Macedo Soares o terá dito a Getúlio Vargas, acordando no Presidente da República a necessidade da implantação imediata daquele órgão.
À frente do DASP, Luiz Simões Lopes, recebe a missão de escolher um presidente para o INE. Recorre a Juarez Távora, uma escolha natural, pelo quanto lutara na criação do mesmo, que, contudo, prefere retomar sua vida militar. Então, se volta a Macedo Soares, que também recusa o convite, tão envolvido estava na solução da Crise do Chaco, na qual triunfaria. Ainda que tendo recusado, Vargas o nomeia em ato de 19 de julho de 1935, por que o fez, não temos noção; é nomeado, mas toma pos-se apenas em 29 de maio de 1936, por que adia a posse, e por que afinal aceita assumir, é algo que ainda nos escapa.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008246
Nelson de Castro Senra
Macedo Soares ilustra e reúne o IBGE e IHGB
Como previsto, a Convenção é convocada para daí a dois meses, e para fazê-la executar nomeia uma Junta Executiva Provisória, secretaria-da por Teixeira de Freitas. Tudo se dá às mil maravilhas, e o INE começa a funcionar. Não está completo, todavia; falta-lhe duas sendas, e para abri-las com sucesso Macedo Soares será a peça-chave.
Primeiro, falta o braço que Teixeira de Freitas associava à cartografia, mas que com Macedo Soares será maior, sendo o braço da geografia. A ampliação de horizonte surgiria, pouco a pouco, da idéia do Brasil aderir à União Geográfica Internacional (UGI), levando á criação de um órgão, o Conselho Nacional de Geografia (CNG) encarregado de sistematizar as informações territoriais, e de interpretá-las. O CNE é criado e ligado ao INE em janeiro de 1938, par a par com o CNE, o que faz surgir o IBGE. Desde então, o Brasil seria revelado pela conjunção das representações quantitativa (através das estatísticas) e cartográfica (através da geografia ou, como querem no presente, das geociências), dito de outra forma, reve-lou-se, desde então, e mais e mais de forma mais contínua e sistemática, a população, em si, e em suas relações (sociais e econômicas), no território. Por essa senda maior, Macedo Soares ligava o IBGE a várias instituições geográficas externas, e, em amplo sentido, ao IHGB.
Segundo, falta o braço da presença operativa nos municípios brasilei-ros. Sem esse acesso aos arquivos municipais, onde estavam as informa-ções individuais, fundadoras das estatísticas e da cartografia, não havia, então, como fazer as estatísticas e os mapeamentos. Em cada município, previra a Convenção, devia haver uma Agência Municipal de Estatística, integrante da estrutura municipal de administração, mas seguindo orien-tações técnicas do IBGE. O momento oportuno virá em 1942, no contexto do esforço de guerra, e é quando Macedo Soares, fazendo-se presente e atuante junto aos Generais Góes Monteiro e Gaspar Dutra (este, futuro Presidente da República), consegue os recursos para instalar as Agências Municipais de Estatística. O IBGE estava completo, finalmente, tendo agora as melhores condições de realização dos programas estatístico e
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 247
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
geográfico brasileiros; os municípios brasileiros seriam revelados, reali-zando um velho sonho do IHGB.
Sim, um sonho que vinha do Império, e que seria renovado na elabo-ração do Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico. Pese os ingentes e esforços, sempre lúcidos, de Ramiz Galvão, só mesmo através do IBGE foi possível revelar as realidades dos municípios brasileiros. (IBGE, A geografia..., 1959, p. 11; GUIMARÃES, 2006)Não tardou muito e vie-ram as monografias municipais, entre outras publicações específicas aos municípios, como anuários estatísticos, e os mapas; logo os atlas, e tam-bém a monumental Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (anos 1950 e 1960).
Mais ainda, em final de 1938, o IBGE encampou a proposta do IHGB no sentido de haver uma data “oficialmente consagrada à exaltação do papel do Município na organização da Pátria Brasileira”. Isso se daria pelo Decreto-Lei nº 846, de 09 de novembro de 1938, pelo qual o “Dia do Município” seria uma festa nacional a ser celebrada a 1º de janeiro dos anos de milésimo 9 e 4; a primeira comemoração ocorrendo em 1º de janeiro de 1939, tendo o IBGE, por sua presença nacional, estado à frente dos festejos. (Esta medida se associava ao Decreto-Lei nº 311, de 02 de março de 1938, a dita Lei Geográfica do Estado Novo).
Dois outros pontos de reunião:
Em 1945, o IBGE tomou a iniciativa da realização do X Congres-so Brasileiro de Esperanto (o IX se realizara no distante 1936). Desde Bulhões Carvalho, na Primeira República, o Esperanto era tomado em caráter oficial como língua auxiliar da atividade estatística brasileira (re-gistre-se que Teixeira de Freitas, na sua década mineira, teve Guimarães Rosa como auxiliar na redação em esperanto da correspondência interna-cional). Pois, o X Congresso teve Macedo Soares como presidente, e teve suas sessões realizadas em auditório do IHGB (afora outros eventos do referido Congresso). Para essa ocasião, e para os demais Congressos, o IBGE preparou monografias municipais em esperanto.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008248
Nelson de Castro Senra
Quando da realização do IV Congresso de História Nacional, em abril de 1949, sob os auspícios do IHGB, seus participantes coletivamen-te visitaram o IBGE, onde foram recebidos por Macedo Soares, e recep-cionados por Teixeira de Freitas (já não mais seu Secretário-Geral, mas especialmente chamado a fazer a saudação aos visitantes). Na ocasião o orador realçou os interesses de ambas as instituições pelos municípios brasileiros, e lembrou a recém-criada Revista Brasileira dos Municípios (1948), pelo IBGE, junto a Associação Brasileira dos Municípios (criada em 1946). E foi essa Revista que noticiou a visita:
Aos estatísticos e geógrafos do Instituto, disse o orador, a honra da visita era sumamente grata. O Instituto, que forma o sistema dos serviços nacionais de Geografia e Estatística, e constituía, por isso mesmo, um colaborador indispensável aos historiadores patrícios, e era justo que lhe merecesse o maior interesse. Muito pouco, efetivamente, poderiam con-seguir os que elaboram a História, sem o conhecimento do meio físico e social que a Geografia e a Estatística propiciam. [...] Assim, as saudações cordiais que o Instituto dirigia pela sua voz aos membros do Congresso de História Nacional eram formuladas de envolta com um veemente apelo. Como patriotas esclarecidos, e conhecedores profundos da Histó-ria Nacional, verdadeiros arquitetos políticos, portanto, da grandeza do Brasil, porque estudiosos do passado nacional para assegurar à Pátria um futuro condigno, não deixassem de dar ao ideário cívico do IBGE as luzes do seu idealismo com o calor da sua simpatia, do seu aplauso e mesmo da sua eventual colaboração. Esses esforços, embora aparentemen-te isolados, e mesmo ocasionais, dariam vida e força àqueles ideais, aproximando-os da realização. Não importava que fossem aparentemente fracos, poucos e dispersos. Porque a sua solidariedade, o seu alto sentido cívico e a constância da sua manifestação os tornariam impulsos permanentes e cada vez mais eficazes em prol do engrandecimento da República, da construção desta grande Pátria, que precisa sublimar-se
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 249
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
para sobreviver (IBGE, IV Congresso..., 1949, p.363-364).
Pelos visitantes, em rápidas palavras, falou José Pedro Leite Cor-deiro (autor de várias teses submetidas ao Congresso). Em seu discurso, primeiro, relevou o que chamou de “lições” dadas por Teixeira de Frei-tas, com realce aos pontos em comum entre a Geografia e a História. Ao concluir seu discurso, assim disse: “Afirmo, em nome dos Congressistas, que daqui saímos certos de constituir o IBGE um verdadeiro padrão das glórias nacionais e que se depender dele ou de seus dirigentes, o Brasil se tornará cada vez mais e mais respeitado no conceito das nações” (IBGE, IV Congresso..., 1949, p.365).
O Palácio do Silogeu Brasileiro
Em 08 de fevereiro de 1939, Fernando de Azevedo, na qualidade de Presidente da Associação Brasileira de Educação (ABE), envia ofício a Macedo Soares, em que manifesta interesse em repassar ao IBGE a “pre-cedência e preferência” nas iniciativas de construção do Palácio do Silo-geu Brasileiro tomadas por aquela ABE. O edifício seria feito no “local em que se acha o atual Silogeu Brasileiro e destinando-se às mesmas fina-lidades deste, mas segundo um plano de muito maior significação”, vale dizer, abrigar juntos vários órgãos de cultura, de educação e afins, entre as quais o IBGE, e, por certo, o IHGB. Antes de tornar oficial o projeto e o remeter ao governo, houve consultas preliminares a Luiz Simões Lopes e a Gustavo Capanema, de ambos vindo apoio à idéia. Contudo, ao ser formulado oficialmente, o projeto recebeu ressalvas de Capanema, entre outras, o ser a Associação uma instituição privada, ademais, do terreno não pertencer ao Ministério da Educação.
E por se afigurar a esta presidência que a renúncia por parte da ABE à precedência e preferência que moralmente lhe cabiam por lhe pertencer a autoria do projeto, beneficiaria a um só tempo a todas as entidades interessadas no acordo e ao próprio Governo, é que resolveu ela formular a sua desistência, para colocar nas mãos desse Instituto a liderança do movimento que iniciara no intuito de
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008250
Nelson de Castro Senra
dar à cidade um belíssimo monumento, à causa da cultura um dos mais eficazes estímulos a duas, pelo menos, dentre às instituições oficiais, um vantajoso auxílio material. Por conseguinte, peço a V. Excia., Senhor Presidente, se digne considerar a proposta que te-nho a honra de fazer em nome da Associação e cujos destinos pre-sido, para que, sucedendo a esta no legítimo uso da preferência que lhe competia, tome esse Instituto a si o encaminhamento do nosso projeto, substituindo-se, para todos os efeitos, à primitiva propo-nente. [...] Aguardando a resposta de V. Excia. depois de ouvidos os órgãos deliberantes do Instituto, tenho a honra de apresentar-lhe as expressões muito cordiais do meu maior apreço e mui distinta consideração. (IBGE, Construção..., 1941, p. 105-106).
Em resoluções de fevereiro de 1939, se manifestaram favoravelmen-te os colégios do IBGE: em 16 o Conselho Nacional de Estatística (CNE) o faz por sua Junta Executiva Central (JEC), pela Resolução nº 64; em 17 a Comissão Censitária Nacional (CCN), o faz pela Resolução nº 17; em 18 o Conselho Nacional de Geografia (CNG) o faz por seu Diretório Central (DC), pela Resolução nº 32. Os debates internos, é natural perce-ber, decorreram da resolução da JEC / CNE, em cujos artigos iniciais se encontra as seguintes definições:
Art. 1º É aceita pelo Instituto a proposta da Associação Brasileira de Educação no sentido de lhe ficar transferida a iniciativa, já to-mada por aquela sociedade, de promover, sem ônus para o Tesouro Federal, a construção do Palácio do Silogeu Brasileiro em substi-tuição ao antigo prédio à Avenida Augusto Severo, nº 4, onde já têm sede várias instituições culturais.Art. 3º Obtidas as sugestões que sobre o projeto entendam for-mular o Conselho Nacional de Geografia e a Comissão Censitária Nacional, a presidência do Instituto submeterá à consideração do Governo o projeto da Associação Brasileira de Educação com as alterações decorrentes do acordo ora consumado e das disposições decorrentes dos artigos seguintes.Art. 4º As instituições privadas, propriamente de fins culturais, a que ficará reservado, no edifício a construir, sede gratuita de acor-do com a amplitude dos respectivos serviços, a juízo do Conselho
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 251
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
Nacional de Estatística, serão as seguintes:a Associação Brasileira de Educação• o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro• o Instituto da Ordem dos Advogados• a Academia Nacional de Medicina• a Federação das Academias de Letras• a Liga da Defesa Nacional• a Academia Carioca de Letras• a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro• a Liga Esperantista Brasileira• a Sociedade Brasileira de Estatística• a Academia Brasileira de Ciências• a Sociedade Brasileira de Cultura• a Sociedade Brasileira de Economia Política• a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres• os Institutos de Alta Cultura (Ítalo-Brasileiro, Luso-Brasilei-• ro, etc.)e mais cinco sociedades de âmbito nacional, a juízo do Conse-• lho Nacional de Estatística.
Art. 5º Afim de integrar no convívio das atividades culturais reuni-das no Silogeu Brasileiro os três grandes instrumentos modernos de cultura – a Imprensa, a Rádio-Difusão e a Cinematografia, o projeto incluirá a obrigação de ser oferecida sede gratuita, no pré-dio a construir, para as três entidades, ainda não dotadas de sede própria, que representarem, com caráter nacional, a coordenação socio-cultural das atividades ligadas à imprensa, à rádio-difusão e à cinematografia.
E haveria, no topo do prédio, o Planetário Cruzeiro do Sul (art. 8º), e, em corredores, a Exposição Permanente de Educação e Cultura (art. 9º). Espaços porventura desocupados seriam alugados para geração de fundos. (IBGE, Construção..., 1941, p. 103-104).
Antes de seguir, valerá lembrar a Resolução nº 93, de 19 de julho de 1938, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, que
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008252
Nelson de Castro Senra
aplaude o projeto da ABE de construir o Palácio do Silogeu Brasileiro. Desde então, o IBGE esteve envolvido.
Voltando. Havidos os aplausos dos colégios do IBGE (CNE, CNG e CCN), Macedo Soares dirige ofício ao Presidente da República, Getúlio Vargas, datado de 23 de fevereiro de 1939, em que pede apoio ao projeto, como segue:
Aceitando a transferência de iniciativa que a este Instituto propôs a Associação Brasileira de Educação, e de acordo com o pronuncia-mento das Resoluções nºs 64, 32 e 17, respectivamente baixadas pela Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatística, pelo Diretório Central do Conselho Nacional de Geografia e pela Comissão Censitária Nacional, tenho a honra de vir solicitar a Vos-sa Excelência a devida autorização por decreto-lei – cujo esboço a este acompanha – para que, mediante acordo ou contrato entre o Ministério da Justiça e o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-tística possa este promover a construção, no local do velho prédio que se acha ocupado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasi-leiro e outras instituições (imóvel esse ora sob a jurisdição daquele Ministério), de um grande edifício destinado a ser o “Palácio do Silogeu Brasileiro”, ou da “Educação e Cultura”, em o qual, sem prejuízo e em harmonia com a sua finalidade, possam instalar-se definitiva e confortavelmente não só os órgãos dirigentes e a Se-cretaria Geral do Instituto, mas também as cinco diretorias minis-teriais que se constituem os seus órgãos executivos centrais, o Ser-viço Nacional do Recenseamento e ainda a Diretoria de Estatística Municipal, do Distrito Federal. [...] Tem pois, Vossa Excelência, Senhor Presidente, submetido à sua alta aprovação, um plano sem dúvida alguma feliz, uma vez que, sem qualquer ônus para o Governo, enriquece a um só tempo o parque arquitetural da cidade, o patrimônio da União, os recursos de expansão cultural do Brasil e dos Estados, as possibilidades de ação de vários serviços públicos da maior importância e o prestí-gio e poder de irradiação civilizadora deste grandioso sistema que a Nação ficou devendo à clarividência de Vossa Excelência – o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na expectativa de
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 253
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
que ao projeto seja favorável o parecer do Sr. Ministro da Justi-ça, de cuja pasta depende a concessão pleiteada, ficando, assim, a Vossa Excelência facilitada uma decisão completamente desem-baraçada de objeções, permito-me formular, em meu nome e no dos Colégios dirigentes do Instituto, os melhores votos pelo feliz encaminhamento deste empolgante empreendimento que o gesto magnânimo da benemérita Associação Brasileira de Educação co-locou em nossas mãos. (IBGE, Construção..., 1941, p. 108-110).
Por ser de praxe, a Resolução nº 64 da JEC / CNE foi submetida à apreciação da Assembléia Geral do CNE, sendo ratificada pela Resolução nº 153, de 22 de julho de 1939. O tempo passa e a presidência da Repú-blica não se manifesta, frustrando o sonho do IBGE de anunciar o projeto por ocasião do seu 4º aniversário de fundação a 29 de maio; e o fato é que o ofício anterior se extraviara. Em face disso, Macedo Soares dirige novo ofício ao Presidente da República, datado de 20 de maio de 1940, em que reitera a demanda anterior:
Nessas condições, rogo a Vossa Excelência se digne permitir que junte à presente exposição a documentação anteriormente ofereci-da ao seu exame, modificada apenas a redação do anteprojeto de decreto que lhe estava apenso. Essa substituição, todavia, em nada altera a substância do projeto, que continua a mesma aprovada pelos Colégios dirigentes deste Instituto. Apenas toma em consi-deração alguns fatos novos, como sejam as mudanças recentes de denominação, relativas às entidades citadas, e a circunstância de se haver verificado a liquidez do título de plena propriedade que tem o Governo Federal a respeito do imóvel de que se trata, e ainda a conveniência de introduzir uma fórmula pela qual a concessão possa prevalecer, sem embaraços para a Prefeitura Municipal, na hipótese e vir a ficar o terreno em causa definitivamente abrangido pelo plano já esboçado, de remodelação urbanística da área ocupa-da pelo Largo da Lapa e adjacências. [...] Na grata expectativa de mais uma vitória magnífica dos ideais de organização brasileira a que se acham integralmente devotados os servidores desta Casa, - é-me grato, Senhor Presidente, renovar a Vossa Excelência, as ho-menagens de meu profundo reconhecimento e respeitoso apreço.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008254
Nelson de Castro Senra
(IBGE, Construção..., 1941, p. 111-112).
Agora, a reação é presta, e a 20 de junho de 1940 é editado o De-creto-Lei nº 2.326, que “concede ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a construção do Palácio do Silogeu Brasileiro e dá outras pro-vidências”. Seus artigos primeiros anunciam:
Art. 1º O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fica auto-rizado a construir, no local do próprio federal situado na Avenida Augusto Severo n. 4, um edifício que, constituindo parte integran-te do patrimônio da União, será administrado pelo Instituto, res-peitadas as condições especificadas nesta lei.
Art. 2º A Prefeitura do Distrito Federal comunicará ao Instituto, dentro de seis meses, a situação da área compreendida pelo imóvel a que se refere o artigo anterior e de suas adjacências dentro do plano urbanístico fixado para o local.
Art. 3º Caso esse plano importe modificação da área aludida, a Diretoria do Domínio da União a entregará à Prefeitura, recebendo a União, em troca, área equivalente e em situação correspondente à do atual imóvel. À nova área transferir-se-á a autorização dada por esta lei ao Instituto.(IBGE, Construção..., 1941, p. 112-113)
De posse do referido decreto-lei, a JEC do CNE toma medidas ope-rativas, e o faz pela Resolução nº 101, de 20 de setembro de 1940: trata-se do projeto, dos recursos, da construção. O projeto do edifício resultaria “de um concurso entre arquitetos brasileiros” (art. 7º); a “direção artística e técnica dos trabalhos de construção do edifício” teria o apoio do Insti-tuto Brasileiro dos Arquitetos (art. 8º). Entrementes, Assembléia Geral do CNG, pela Resolução nº 73, de 15 de julho de 1941, reiterou a demanda de que no edifício fossem sediadas instituições integrantes do sistema geográfico brasileiro, com assento no CNG: “o secular e prestigioso Ins-tituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, a benemérita e tradicional Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, a respeitável Academia Bra-sileira de Ciências e a conceituada e dinâmica Associação dos Geógrafos
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 255
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
Brasileiros” (algumas já previstas).
Conclusão
O tempo passa: o regime de Vargas cai em 10/1945; Macedo Soa-res assume o governo paulista, de 11/1945 a 03/1947; o país ganha uma nova Constituição, em 09/1946 Teixeira de Freitas deixa a Secretaria-Geral em 05/1948. O novo tempo jurídico não favorece a cooperação interadministrativa que configura os alicerces do IBGE; o fundo estatísti-co é questionado, e mingua em crescendo. Em reação, para manter víncu-los municipais, desde 1946 o IBGE reforça e valoriza o movimento mu-nicipalista, à frente Rafael Xavier, não por acaso sucessor de Teixeira de Freitas na Secretaria-Geral. Mas o tempo democrático traz complicações; a autonomia federativa lembra muito do tempo da Primeira República, e o IBGE começa a receber desatenções dos Municípios, afora também dos Estados; os órgãos colegiados se empobrecem em intelectualidade.
Nesse contexto, a construção do majestoso Palácio do Silogeu Bra-sileiro, conforme o projeto que ganhara o concurso nacional, de autoria do arquiteto Sérgio Bernardo, não sai do papel. A Prefeitura modifica o espaço urbano da região, e a área, um imenso quarteirão, onde seria feito aquele edifício é reduzida a uma nesga de terra. Ainda ocorre um espasmo na Resolução nº 390, de 21 de julho de 1948, da Assembléia Geral do CNE, envidando esforços para ultimar o edifício, contudo, nada avança. Logo o IBGE passaria por grave crise (1951-1952), a dita Crise Polli Coelho, general que assumira a presidência em substituição a Macedo Soares, logo no início do segundo Governo Vargas. Três presidentes o sucederiam, como resultante das mudanças na Presidência da República.
Em 1955, com Macedo Soares de novo no IBGE, era hora de acordar do sonho, e a doação ao IHGB do terreno restante seria feita. A partir de 1961 começa a subir sua atual sede, Edifício Pedro Calmon, finalmente inaugurado em 1972. O ainda chamado Silogeu Brasileiro, sem mais a idéia de Palácio, mantendo um espírito de cultura, embora valioso, não tem a beleza e a majestade daquele sonho que o IBGE sonhou, e que
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008256
Nelson de Castro Senra
teria ao IHGB também atendido. Hoje, IHGB e IBGE estão instalados dignamente, mas separados fisicamente, na verdade, infelizmente, mais que isso, os tempos de reunião de vocações, como queria Macedo Soares, por sólido que fossem, e o eram, se desmancharam no ar. Mas é sempre possível um recomeço, a depender da elevação dos intelectos.
BibliografiaGUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Da Escola Palatina ao Silogeu: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1889-1938). Rio de Janeiro: Ed. Museu da República: 2006. 246 p.IBGE. Palácio do Silogeu Brasileiro. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, n. 2, p. 379-380, abr./jun. 1940.IBGE. Silogeu Brasileiro – Palácio da Cultura. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 3, p. 490, jul./set. 1940.IBGE. Palácio do Silogeu Brasileiro. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 4, n. 14, s.p., abr./jun. 1943. (Inclusive estampa do edifício).IBGE. IV Congresso de História Nacional. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 6, p. 362-368, abr./jun. 1949.IBGE. A Geografia Municipal do Império. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 12, n. 45-46, p. 11, jan./jun. 1959. (Documentos Históricos: notícia na Gazeta Literária, de 1º de julho de 1884, sobre iniciativa de Ramiz Galvão no sentido das Câmaras Municipais enviarem à Biblioteca Nacional informações municipais).IBGE. Construção do Palácio do Silogeu Brasileiro In: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a Educação. Elucidário apresentado à Primeira Conferência Nacional de Educação. Volume II. Rio de Janeiro: IBGE, 1941. P. 97-115.IBGE. A Estatística Brasileira e o Esperanto. Uma história centenária: 1907-2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 160 p. (Série Memória Institucional, nº 10. Organizado por Nelson de Castro Senra).IBGE. Embaixador Macedo Soares: um príncipe da conciliação. Recordando o 1º Presidente do IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 330 p. (Série Memória Institucional, nº 12. Organizado por Nelson de Castro Senra).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):243-257, jul./set. 2008 257
Macedo Soares reúne IBGE e IHGB. Em busca do Palácio do Silogeu Brasileiro
IBGE. O IBGE na história do municipalismo e sua atuação nos municípios. O pensamento de Teixeira de Freitas e de Rafael Xavier. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. (Série Memória Institucional, nº 13. Organizado por Nelson de Castro Senra).SENRA, Nelson. Estatísticas Organizadas: c.1936-c.1972. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 950 p. (Volume 3 da coleção História das Estatísticas Brasileiras, dedicado a Macedo Soares e a Teixeira de Freitas).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 259
Macedo Soares, embaixador da geografia
MACEDO SOARES, EMBAIXADOR DA GEOGRAFIA
Alexandre de Paiva Rio Camargo1
José Carlos de Macedo Soares construiu uma sólida e notável carrei-ra pública, cintilando em posições como as de chanceler (em 1934-1937 e 1955-1958), ministro da Justiça (em 1937 e 1957), deputado constituinte (em 1934) e governador de São Paulo (em 1945-1947). Homem de ação, soube traduzir seu capital político em prestígio acadêmico, como com-prova a presidência de entidades como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (em 1936-1951 e 1955-1956), o Instituto Histórico e Geográ-fico Brasileiro (presidente perpétuo desde 1940), a Academia Brasileira de Letras (em 1942, reeleito em 1943), o Instituto Pan-americano de Ge-ografia e História (em 1944-1949) e a Sociedade Brasileira de Geografia (em 1945-1951), entre tantas.
Diplomata de nomeada, erudito de formação humanista, Macedo So-ares também seria reconhecido por uma antiga paixão, a historiografia brasileira. Bibliógrafo contumaz, o embaixador nos legou livros que pri-mavam pelo esmero de sua apresentação gráfica. Seguidor de Langlois e Seignobos, suas principais obras sobre a administração e a religiosidade da colônia se destacaram pela laboriosa compilação documental, como Fronteiras do Brasil no regime colonial (de 1939); Santo Antônio de Lis-boa, militar no Brasil (de 1942) e Fontes da Igreja Católica no Brasil (de 1954).
Pelas datas dos títulos e encargos reunidos por Macedo Soares, salta aos olhos como a rápida ascensão do intelectual se nutriu da influência do político nos salões do Palácio do Catete. Ainda mais impressionante, na construção de sua trajetória, é o exercício quase concomitante da presi-
1 – Mestre e Bacharel em História Social pela Universidade Federal Fluminense. - Pro-fessor do Departamento de História da Universidade Estácio de Sá. - Colaborador e autor de vários capítulos da coleção História das Estatísticas Brasileiras (1822 – 2002), coorde-nada por Nelson de Castro Senra. E-mail: [email protected]
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008260
Alexandre de Paiva Rio Camargo
dência dos principais espaços produtores de conhecimento geográfico do País. Esta convergência será o objeto do presente artigo, em que sugeri-mos a importância ainda pouco investigada de Macedo Soares na organi-zação do campo geográfico, privilegiando as representações mútuas entre o IBGE e o IHGB.
Do INE ao IBGE: obra de Macedo Soares
Este vínculo com as associações geográficas surge de forma marcan-te quando o embaixador aceita o comando do Instituto Nacional de Esta-tística, instalado em 29 de maio de 1936. A escolha de Getúlio Vargas por seu nome se justificava pela atuação pregressa do chanceler que, no ano anterior, dirigiu uma equipe de especialistas reunida no Conselho Federal de Comércio Exterior, para unificar os trabalhos estatísticos, que não se harmonizavam com as estatísticas internacionais.
Poucos meses depois, em agosto de 1936, tinha lugar a Convenção Nacional de Estatística, que formulou as bases da produção e da coor-denação das estatísticas brasileiras, a cargo do INE. Nos anais da Con-venção, apenas a cláusula XIII dispõe sobre os serviços de “cartografia geográfica”, nos seguintes termos:
os governos comprometem-se a colaborar, através dos serviços técnicos competentes, nos trabalhos geográficos e cartográficos necessários à Estatística, centralizados na Seção de Estatística Ter-ritorial da Diretoria de Estatística da Produção do Ministério da Agricultura. Os governos colaborariam, em especial, no preparo de cartas físicas e políticas do território estadual, bem como de mapas dos territórios municipais, a serem divulgados nos anos de milésimo nove, precedentes aos censos gerais do País (INSTITU-TO ..., 1936, p. 18).
A cláusula atribui à cartografia um caráter subordinado aos serviços estatísticos, reduzindo-a ao mapeamento das circunscrições de contagem populacional. Nos termos ainda tão restritos desta concepção, como de-vemos pensar a incorporação de uma geografia interpretativa e sistemá-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 261
Macedo Soares, embaixador da geografia
tica no seio do Instituto2? É quando entra em cena o empenho pessoal e decisivo de Macedo Soares.
Terminados os trabalhos, as resoluções da Convenção foram enca-minhadas ao presidente do INE, anexadas a uma carta de Pierre Deffon-tainnes3, em que este apelava para a adesão do Brasil à União Geográfica Internacional, formalizando o apoio do IHGB, da SBG, da Associação dos Geógrafos Brasileiros e da Academia Brasileira de Ciências para a criação de um espaço oficial de geografia4. A fundação de um comitê na-cional de geografia era a principal exigência da União Geográfica Interna-cional para incluir o Brasil entre seus credenciados. Em 1934, a Academia Brasileira de Ciências fizera uma primeira tentativa. Impulsionada pela visita do grande geógrafo Emmanuel de Martonne, então secretário-geral 2 – Na verdade, a concepção original do idealizador e primeiro secretário-geral do órgão, Mario Augusto Teixeira de Freitas, previa a criação do Instituto Nacional de Estatística e Cartografia, descartando, portanto, a dimensão da pesquisa geográfica. No anteprojeto apresentado ao ministro da Educação Francisco Campos, em 5 de fevereiro de 1932, e no ofício dirigido a Gustavo Capanema, em 6 de fevereiro de 1935, Freitas buscava acelerar a instalação do INE, insistindo sempre na importância dos serviços estatísticos e de “car-tografia geográfica”. Ambos os documentos podem ser consultados no Fundo Teixeira de Freitas, depositado no Arquivo Nacional.3 – Geógrafo fundamental na institucionalização dos cursos de geografia, primeiro na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934, de-pois na Universidade do Distrito Federal, em 1935, dando continuidade à sua atuação na Universidade do Brasil até 1939, quando retorna à França. Embora sua importância para o campo geográfico tenha se vinculado mais à organização dos cursos universitários, foi o responsável pela formação das mentes do primeiro grupo de profissionais que criaria o núcleo de pesquisas geográficas do Conselho Nacional de Geografia. Uma vez mais, foi decisivo na ampliação dos espaços institucionais de geografia, ao criar a Associação dos Geógrafos Brasileiros, em 1934, e ajudar a pavimentar a Revista Brasileira de Geografia, em 1939. Entre seus trabalhos considerados clássicos, que afirmam as potencialidades dos estudos geográficos no Brasil, estão Geografia Humana do Brasil, Como se constitui no Brasil a rede de cidades e Meditação geográfica sobre o Rio de Janeiro.4 – A pressão do governo francês e da UGI, através do envio de missões culturais, visa-vam a integrar o Brasil no esforço de classificação enciclopédica da geografie universelle, em seu objetivo de reunir o conhecimento das diversas regiões naturais do globo. Em sua perspectiva neocolonialista, a matriz francesa considerava que o conhecimento do território dos Países periféricos era essencial à elaboração de um panorama da geografia mundial, incorporando-se nele toda a variedade de ecossistemas dos diferentes recantos do planeta.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008262
Alexandre de Paiva Rio Camargo
da UGI, e apoiada pelo IHGB e pela SBG, buscou organizar um comitê nacional de geografia, que resultou em fracasso, dada a carência de estru-tura física adequada e de recursos financeiros suficientes. A experiência inspira a mudança de estratégia. Não mais edificar uma entidade privada para coordenar os trabalhos geográficos, mas encarregar a tarefa ao poder público. Afinal, a criação do comitê deveria envolver negociações entre os governos de Brasil e França. A oportunidade perfeita parecia surgir com a criação do INE, presidido por um vulto de grande respeitabilidade na seara das relações internacionais.
A implicação da Convenção de agosto era clara: criar as condições para melhor articular a coordenação das atividades estatísticas à exigência dos trabalhos cartográficos e geodésicos. Mas, Macedo Soares iria muito além, valendo-se de sua autoridade de chanceler e de homem público, para liderar o movimento em favor da institucionalização de um conselho nacional de sistematização e interpretação das informações territoriais.
Nos entendimentos que surgiram, o ministro convocou, com a apro-vação do presidente Vargas, uma comissão das figuras mais representati-vas da cultura geográfica brasileira, no Palácio Itamaraty, com o intuito de apresentarem sugestões para a constituição de um organismo nacional de geografia, destinado a promover a coordenação das atividades geo-gráficas brasileiras. Em reuniões realizadas entre outubro e novembro de 1936, todas sob a presidência do embaixador, foram vencidas as últimas resistências para a criação do Conselho Brasileiro de Geografia, logo Conselho Nacional de Geografia, como parte estrutural do então Instituto Nacional de Estatística. Sob seus auspícios e influência direta, foi insta-lado o Conselho Brasileiro de Geografia no próprio Palácio do Itamaraty, no dia 1º de julho de 1937. Em 26 de janeiro de 1938, a sigla de alargava. Nascia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 263
Macedo Soares, embaixador da geografia
Modernidade e tradição em diálogo
Desde seus primeiros momentos de existência, o Conselho Nacional de Geografia se responsabilizaria pela renovação dos métodos e técni-cas da investigação geográfica, que apresentariam forte caráter empírico, para responder com eficiência e rapidez à política de povoamento e colo-nização da “organização nacional”, a grande agenda do governo Vargas. Para tanto, a associação prestigiosa com o recém-criado curso de geogra-fia da Universidade do Brasil se mostraria fundamental, ao recrutar em suas fileiras os mais destacados geógrafos de formação para ingressar no quadro técnico do CNG. Enquanto o curso superior preparava professores de nível secundário, o Conselho seria, desde seus primeiros anos, o locus de fermentação da pesquisa aplicada. Os programas de intercâmbio com a universidade apontam nesta direção. O currículo dos futuros geógrafos incluía visitas freqüentes e sistemáticas às instalações do IBGE e a ini-ciação na metodologia de pesquisa, integrando as equipes das expedições geográficas, na qualidade de estagiários. Poderíamos lembrar, ainda, que grande parte do quadro técnico do CNG acumulava cátedras na Univer-sidade do Brasil. Merecem destaque os casos de Pierre Deffontaines e de Francis Ruellan5, ambos responsáveis pela coordenação do ensino de ge-ografia naquela universidade e pela criação (Deffontaines) e consolidação (Ruellan) do núcleo de pesquisas geográficas do Conselho, formando as mentes de uma geração inteira de geógrafos. Uma geração que, todavia, só apareceria a partir de meados da década de 1940. Isto quer dizer que
5 – Geógrafo francês que substituiu Deffontaines na coordenação do ensino de geografia da Universidade do Brasil, em 1941, teve atuação fundamental na formação do corpo de geógrafos do IBGE, assumindo o cargo de consultor científico do CNG. Neste sentido, destacam-se seus trabalhos em metodologia e seu papel de organização das excursões científicas e dos trabalhos práticos de campo. Treinou equipes inteiras de pesquisadores do IBGE, orientando sua formação acadêmica e técnica, o que incluía seu encaminha-mento para cursos nas universidades francesas. Por este papel, nas palavras de Roberto Schmidt, era “o único geógrafo que pode ser chamado de chefe de escola sem nenhuma restrição classificatória” – (ALMEIDA, 2000, p. 126). Entre suas pesquisas mais reconhe-cidas, encontra-se seu trabalho sobre a geomorfologia da Serra do Mar.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008264
Alexandre de Paiva Rio Camargo
a estruturação do Conselho contou com a participação ativa de militares, engenheiros e homens de ação ilustrados em geografia, ligados às asso-ciações científicas mais tradicionais.
Uma modernidade lastreada de tradição, como nos mostra o caso da Revista Brasileira de Geografia. Editada desde janeiro de 1939, o perió-dico seria o principal instrumento do CNG para a divulgação dos métodos de pesquisa e das práticas de ensino da geografia. A dimensão moderna se fazia presente em artigos como o de Francis Ruellan, O trabalho de cam-po nas pesquisas originais de geografia regional. Nele, o autor opõe a ve-lha “geografia de gabinete” à “geografia científica”, que exigiria trabalhos empíricos profundamente metódicos e a incorporação de instrumentos de medição (bússolas, câmeras, podômetros, barômetros, alidades), utiliza-dos nas viagens de reconhecimento físico do território, de sua geomorfo-logia e de seu habitat rural (RUELLAN, 1944, p. 35 – 50).
O prestígio da tradição, por sua vez, seria evocado desde os primei-ros números do periódico, chancelando suas estratégias editoriais. Na apresentação do volume inaugural, José Carlos de Macedo Soares ressal-tava as funções de “contribuir para um melhor conhecimento do território pátrio, difundir no País o sentido moderno da metodologia geográfica e promover o intercâmbio cultural com as instituições congêneres” (APRE-SENTAÇÃO, 1939, p. 4) – grifo nosso. O intercâmbio se revelava, desde o início, nas comissões editoriais e entre os autores dos artigos, muitos dos quais eram sócios do Instituto Histórico. Diga-se a este respeito que, pelo menos de 1939 a 1943, a redação do periódico abrigou-se nas de-pendências do antigo Silogeu, sede do IHGB. O prédio também foi palco de quase todas as sessões das assembléias gerais dos dois Conselhos do IBGE (Estatística e Geografia), até meados de 1941.
A força da tradição (e do IHGB) reaparece nas páginas da revista destinadas a moldar um passado coberto de nomes e marcos gloriosos para a geografia nacional. A afirmação de continuidade em sucessão aos
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 265
Macedo Soares, embaixador da geografia
grandes desbravadores respaldava o alcance da mudança que o CNG de-veria imprimir à atividade geográfica. Nestes termos, a seção Vultos da Geografia do Brasil é lapidar. De forma ininterrupta desde sua tercei-ra edição, de julho/setembro de 1939, até a de janeiro-março de 1951, e depois, sem regularidade, até o número outubro-dezembro de 1963, a publicação trazia duas biografias, de uma a duas páginas, de pensadores, políticos e homens de ação que se envolveram nos assuntos geográficos, especialmente na questão das fronteiras e das expedições científicas. En-tre nomes tão díspares quanto os de Barão do Rio Branco, Homem de Melo, Von Martius, Cândido Rondon, Joaquim Nabuco e Capistrano de Abreu, abundam as referências à colônia e ao império, com realce para os pioneiros do IHGB.
A primeira comissão editorial da publicação era composta por nomes como Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia, e posteriormente foi dirigida por Virgilio Corrêa Filho, figuras caras à história do Instituto Histórico. Nos primeiros anos de circulação da Revista, os artigos eram escritos principalmente por engenheiros como Sílvio Fróis de Abreu, Everardo Backheuser, Moacir Malheiros da Silva, Sampaio Ferraz, Virgílio Correia Filho, e militares como Lima Figueiredo, Rodrigues Pereira, Jaguaribe de Matos, entre outros. Eles dividiam espaço principalmente com artigos de colaboradores estrangeiros e grandes da geografia dita “científica” como Pierre Deffontaines, Preston James, Francis Ruellan e, depois, Leo Wai-bel, além de comentários sobre as publicações internacionais, assinados principalmente por Delgado de Carvalho. Só a partir de 1941, e muito lentamente, começam a figurar artigos e comentários dos geógrafos que então se formavam, de autoria de Fabio de Macedo Soares Guimarães e de Jorge Zarur, e, posteriormente, de José Veríssimo da Costa Pereira, Orlando Valverde, Lucio de Castro Soares, entre outros. Tal fato mostra a importância dos quadros e da tradição reunida pelo IHGB para a consoli-dação do Conselho Nacional de Geografia, que seria ainda mais favoreci-da pela dupla gestão de Macedo Soares.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008266
Alexandre de Paiva Rio Camargo
A ascensão meteórica no IHGB
A visibilidade conquistada por Macedo Soares já excedia, portan-to, os canais da representação política, tão bem conhecidos pelo minis-tro, pelo deputado constituinte, pelo pacificador da revolta de São Paulo, em 1932. Como mostra o exemplo da Revista Brasileira de Geografia, o presidente do IBGE revelava-se um exímio articulador dos espaços de produção do conhecimento geográfico, pelo menos desde sua atuação de-cisiva nas reuniões que levaram à criação do Conselho Nacional de Geo-grafia, um órgão oficial que aproximava ainda mais o IHGB das políticas territoriais do governo Vargas.
Este cenário nos parece ser a principal razão para a ascensão me-teórica que o embaixador conheceria nos quadros sociais do Instituto Histórico. Até então, sua filiação limitava-se a de sócio-correspondente, distinção concedida em 1921, quando Falsos Troféus de Ituzaingo, seu primeiro trabalho, foi reconhecido como tese original para a historiogra-fia da época6. Nos dezessete anos seguintes, no entanto, parece não ter freqüentado uma única sessão da confraria. Entretanto, sua apatia inicial ganharia contornos de militância, a partir de 21 de outubro de 1938, quan-do se realiza o III Congresso de História Nacional, em celebração ao cen-tenário do renomado sodalício cultural. Preparara uma tese especial para apresentar na cerimônia, Fronteiras do Brasil no Regime Colonial, que seria editada no ano seguinte, com o selo da agremiação de Varnhagen e da livraria José Olympio.
Esta obra constitui uma singular contribuição ao pensamento geo-gráfico brasileiro. Nela, a fronteira deixa de ser um fenômeno da nature-za, um limite físico e jurisdicional à ação do Estado, para tornar-se um fenômeno sócio-cultural, um convite à integração e à cooperação entre Países vizinhos, a demandar a efetiva ocupação do território nacional (SOBRINHO, 1989, p. 10). Pode-se imaginar o quanto esta concepção 6 – Pedro Lessa foi o primeiro a vaticinar, naquele ano, os prodígios de Macedo Soares: “o distinto brasileiro revela excelentes qualidades de investigador dos fatos históricos, segurança e precisão em seus estudos e grande erudição na matéria” (CORRÊA FILHO, 1963b, p. 80).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 267
Macedo Soares, embaixador da geografia
inovadora devia à sua gestão no Itamaraty, fundada na identificação de heranças culturais e sociais dos Países do Prata, base de planejamentos conjuntos para o desenvolvimento da região7.
Eram tempos turbulentos para o IHGB. Os festejos confundiam-se com o imenso pesar pela perda recente de uma das direções mais mar-cantes de sua história. A “trindade do Silogeu”, na expressão de Lucia Guimarães (GUIMARÃES, 2007, p. 59 – 76), desfazia-se com a morte do orador Ramiz Galvão e do presidente Afonso Celso, respectivamente em 9 de março e 11 de julho de 1938. Restaria ao primeiro vice-presidente Manuel Cícero Peregrino da Silva ocupar a presidência interina e coor-denar as comemorações, sob olhares desconfiados do secretário perpétuo Max Fleiuss. Como a Assembléia Geral julgou por bem prolongar sua in-terinidade, Fleiuss atuou nos bastidores, reunindo o apoio de importantes consortes, a exemplo de Rodrigo Otávio Filho, Afonso de Taunay, Olivei-ra Viana e Epitácio Pessoa, com o fim de garantir a ascendência do embai-xador ao topo da instituição8. Elevado à categoria de sócio-benemérito, a 14 de abril de 1939, Soares se mostrava coerente na nova atitude, buscan-do agradar seus confrades, doando-lhes livros raros, a máscara mortuária e um retrato a óleo do antigo presidente Afonso Celso. Ao compor a mesa diretora, tornava-se elegível, fazendo-se presidente em 1940, e perpétuo já no ano seguinte.
O secretário perpétuo reconhecidamente não via no perfil apenas
7 – Além de ser o principal articulador dos tratados que levaram à cessação da guerra do Chaco, em 1935, ocasião em que recebeu da imprensa argentina a distinção de “chanceler da paz”, o ministro das Relações Exteriores promoveu importantes medidas de aproxi-mação política, econômica e cultural com os países da América do Sul. Citemos algumas delas: sua atuação garantiu concessões para a exploração brasileira da zona petrolífera da Bolívia (MOREIRA; BRANCATO, 2003, p. 100-101); foi o primeiro chanceler a visitar oficialmente o Equador; selou convênio entre Brasil e Argentina para a revisão dos currí-culos escolares de história e geografia, silenciando sobre as tensões regionais e exaltando a idéia de um patrimônio e de uma identidade comum. Em medidas como estas, a rede-finição da noção de fronteira já estava em gestação, esboçando-se na prática política de Soares como convite à integração entre os países.8 – Lucia Paschoal Guimarães descortina esta estratégia em seu artigo, publicado nesta edição.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008268
Alexandre de Paiva Rio Camargo
acadêmico de Manuel Cícero as virtudes necessárias para comandar a “Casa da Memória Nacional”. Entendia que era preciso doses de lideran-ça e de influência política, de que carecia o interino9. Ainda assim, resta-nos a pergunta: por que os esforços envidados por Max Fleiuss recaíram justamente sobre Macedo Soares, a ponto de driblar o estatuto do Insti-tuto para torná-lo presidente? Uma resposta adequada deve considerar não apenas a atuação pregressa do embaixador como conciliador político, mas também o papel central do IBGE na dinamização do campo geográ-fico, capaz de reunir as principais associações geográficas e importantes instituições de militares e engenheiros, que tinham participação destacada nos conselhos e nas políticas do governo Vargas10. Os editoriais, os arti-gos e os temas da Revista Brasileira de Geografia são particularmente sugestivos a este respeito, como se verá.
A centralidade do IBGE na coordenação do sistema geográfico, e mesmo das instituições culturais do País, já era visível antes até do cen-tenário do IHGB. Em resolução de 19 de julho de 1938, seus órgãos co-legiados já aplaudiam a moção da Associação Brasileira de Educação de construir o “Palácio do Silogeu”. Em resoluções de fevereiro de 1939, as assembléias do CNE e do CNG aprovavam a transferência da iniciativa da ABE ao próprio IBGE. A esta altura, o projeto do Silogeu já previa, em uma única sede, a reunião das mais expressivas associações científicas e
9 – Conforme discurso pronunciado por ocasião da posse do embaixador Macedo Soa-res, localizado no arquivo do IHGB. Coleção Max Fleiuss. DL 469.3.10 – Na ata da segunda sessão ordinária da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geografia, podemos ler os termos da resolução n. 22, de 18 de julho de 1938: “Art. 1º: fica aprovada e enaltecida, com aplausos calorosos, a integração no sistema geográfico do Ins-tituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Ciências, do Clu-be de Engenharia e da Associação de Geógrafos Brasileiros; Art. 2º: “a integração destas magnas instituições fica reconhecida como sendo para o CNG um acontecimento notável ocorrido durante a segunda sessão ordinária da Assembléia Geral do Conselho” (IBGE, 1938). Vale ressaltar, ainda, que, além do Clube de Engenharia, militares e engenheiros do Instituto Nacional de Tecnologia e da Escola Técnica do Exército tinham assento nas deliberações do Conselho Nacional de Geografia, na qualidade de membros natos ou de consultores técnicos, além de contribuírem com freqüência para a Revista Brasileira de Geografia.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 269
Macedo Soares, embaixador da geografia
culturais do País, dentre as quais o IHGB11. Mas, não se tratava apenas de aceitar a transferência e de ampliar a estrutura da mais moderna ins-talação da capital federal. O próprio Macedo Soares se encarregaria de dirigir ofício a Getúlio Vargas, solicitando apoio ao projeto “do grande edifício destinado a ser o ‘Palácio do Silogeu Brasileiro’ ou da ‘Educação e Cultura’”12 (IBGE, 1941, p. 108). A autorização legal viria em 20 de junho de 1940, através do Decreto-Lei n. 2.326, mas, por razões que não cabem aqui analisar, o projeto seria arquivado, pese a insistência incansá-vel de Teixeira de Freitas e de Macedo Soares.
As articulações em torno do legendário Palácio do Silogeu sugerem, mais uma vez, que nosso personagem se encontrava em evidência frente às associações geográficas, em um delicado momento de substituição de lideranças. Seu nome estava profundamente enredado nos diálogos entre modernidade e tradição, o que muito convinha ao delicado período atra-vessado pelo já centenário Instituto Histórico.
Impulsionado por sua carreira política e pela reformulação do campo disciplinar, praticada pela Universidade do Brasil e pelo Conselho Nacio-nal de Geografia, o embaixador Macedo Soares assumia o posto máximo do IHGB. A rápida ascensão que experimentou nos mostra a autoridade de que gozava para promover a renovação de seus quadros sociais e de suas práticas institucionais, sempre que possível associando-as às reali-zações do IBGE.
Simbioses institucionais
Marcada pela aproximação com os principais institutos históricos sul-americanos, sua administração apostaria na ampliação da visibilidade internacional do Instituto Histórico. Congressos, conferências e missões culturais enfatizavam a importância do resgate de uma história comum - com destaque para as glórias e revezes históricos da disputada bacia do Prata. A idéia era a de construir uma identidade sul-americana, subjacente
11 – Conforme artigo de Nelson Senra, publicado nesta edição.12 – A íntegra do ofício pode ser conferida no referido texto, de Nelson Senra.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008270
Alexandre de Paiva Rio Camargo
às identidades nacionais, diluindo os seus conflitos internos, nos moldes da historiografia então praticada por expoentes como Gilberto Freyre. Uma história que realçava os heróis, do passado distante e recente, dig-nificando as nações e sua descendência, em detrimento das rebeliões, dos separatismos e exclusões. Seria a vertente político-ideológica de um pro-jeto que ambicionava a superação das deficiências sociais e econômicas de nações que traziam o fado da inferioridade do colonizado e o aviltante dilema étnico, fruto seja das marcas da escravidão negra, como no Brasil, ou da servidão indígena, como nos países de língua espanhola. Nestes países, a solução da questão social e a incorporação do negro e do índio deveria se fazer partindo de uma padronização conjunta do fazer históri-co, etapa ideológica que precederia quaisquer planos de ação comum em outras esferas.
A nova orientação política tinha o claro propósito de renovar e au-mentar o quadro de sócio-correspondentes naquela região, promovendo-se solenidades em que se expressavam “sentimentos de solidariedade” e se exaltavam “os benefícios que produziria a colaboração dos povos irmanados” (CORRÊA FILHO, 1963b, p. 84). O mesmo espírito pode ser observado na celebração do centenário de fundação do Instituto His-tórico do Uruguai, a 27 de maio de 1943. Seu presidente apontou, com muita propriedade, que os laços que vinculavam aquele Estado ao nosso, “os sentimentos fraternais”, eram conseqüência natural da hidrografia, que unia o Amazonas ao Prata, “da geografia sul-americana que indicava o natural estreitamento de suas relações” (CORRÊA FILHO, 1963b, p. 89).
Impressiona o recurso à fronteira como pretexto para a dinamização da relação entre os países, o que se harmonizava bem com a prática políti-ca e o pensamento de Macedo Soares. Muito simbólica a este respeito foi a ocasião em que este ofereceu ao presidente da Academia Nacional de la Historia uma moeda de ouro com a efígie de D. Pedro II, cunhada em 1851. O ritual cumpria a relevante função de estender a ação iluminista do mecenato de Pedro II a toda a bacia do Prata. Ao evocar a figura de Pedro II, o presidente perpétuo atualizava o mito fundador do Instituto
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 271
Macedo Soares, embaixador da geografia
e do discurso sobre nossa identidade nacional, redefinindo e ampliando o papel do IHGB para além de nossas fronteiras, com o fim de melhor integrá-las.
O investimento internacional ampliaria ainda mais sua visibilidade na direção das duas principais agremiações geográficas do País, que reu-niam a força da tradição e o triunfo da modernidade. Estes prodígios tão singulares credenciariam o embaixador a ocupar a presidência do Institu-to Pan-americano de Geografia e História, entre 1944 e 1949. Neste pe-ríodo, pavimentou sua já expressiva liderança, irmanando IBGE e IHGB nos certames que se dedicavam a pensar a metodologia e a disseminação da pesquisa geográfica. Foi assim que a II Reunião Pan-Americana de Consulta sobre Geografia e Cartografia realizou-se, em agosto de 1944, patrocinada pelo Conselho Nacional de Geografia e sediada pelo Instituto Histórico. Analogamente, a I Reunião Pan-Americana de Consulta sobre Geografia teve lugar, em setembro de 1949, “promovida pelo IPGH, or-ganizada pelo Conselho Nacional de Geografia (...) encetada no salão de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro” (CORRÊA FILHO, 1963a, p. 40).
A preocupação em ampliar e fortalecer a comunidade de geógrafos e seu circuito editorial transparece ainda no esforço de regularização da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com a publicação de seus números atrasados13.
O ensino da geografia também mereceu destaque em suas adminis-trações. As “tertúlias geográficas” do IHGB, criadas em novembro de 1943, divulgavam as pesquisas e vulgarizavam suas conclusões para inte-ressados em geral e professores da rede de educação básica. Em sintonia com as tertúlias, a Sociedade Brasileira de Geografia (presidida por nosso personagem entre 1945 e 1951) em acordo com o Conselho Nacional de Geografia, organizou um curso de aperfeiçoamento para professores, ofi-cializado pelo ministério da Educação, ao garantir a emissão de diplomas. 13 – Conforme discurso de Arno Wheling na mesa de abertura do seminário “Macedo So-ares, um príncipe da conciliação”, realizado pelo IBGE em 7 de abril de 2008, em alusão aos 40 anos de seu falecimento.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008272
Alexandre de Paiva Rio Camargo
Realizava, assim, um dos principais objetivos de sua gestão: “incentivar o gosto pelos estudos geográficos até a demonstração de sua necessidade como imperativo nacional” (RELATÓRIO ..., 1945-1946, p. 137).
Geografia científica e tecnologias políticas
De sua parte, o Conselho Nacional de Geografia se engajou não so-mente na confecção de mapas escolares, como também na iniciação dos professores em sua utilização e nas possibilidades das representações espaciais, em sala se aula e fora dela, em nível secundário e superior. Os cursos promovidos pelo Conselho, bem como as tertúlias geográfi-cas, realizadas em parceria com o Instituto Histórico, congregavam e atu-alizavam professores de rede básica e vulgarizavam as conclusões das pesquisas geográficas. Com propósito semelhante, o Boletim geográfico, publicação inicialmente mensal, editada entre 1943 e 1978, era utilizado como suporte didático das práticas de ensino.
Alguns artigos publicados na Revista Brasileira de Geografia resu-mem bem o papel assumido pelo CNG na orientação de uma metodologia do ensino. O já citado O trabalho de campo nas pesquisas originais de geografia regional, de Ruellan, trata da composição das equipes e do iti-nerário a ser seguido nas excursões geográficas, da definição, da ordem, da tipologia e do modo de execução dos trabalhos de campo, assim como das formas de utilização do equipamento de pesquisa (RUELLAN, 1944, p. 35 - 50).
Em A excursão geográfica, Delgado de Carvalho apresenta algumas virtudes que este expediente permite desenvolver no futuro geógrafo. Ele “precisa tornar-se um viajante-inteligente” (CARVALHO, 1942, p. 133). Sublinha a “necessidade de constituir, no educando, uma consciência do espaço, de dotá-lo de uma faculdade de ver e observar, de se ambientar topograficamente, isto é, de interpretar paisagens geográficas” (CARVA-LHO, 1942, p. 135). E pontifica: “a observação dirigida não é outra coisa do que um processo de utilização visual do meio geográfico para a educa-ção” (CARVALHO, 1942, p. 136).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 273
Macedo Soares, embaixador da geografia
A preocupação com o ensino secundário também se faz fortemente presente. Em Esboço das regiões naturais do estado da Bahia, Silvio Fróis de Abreu insiste na interpretação dos mapas produzidos pelo Insti-tuto, enfatizando a necessidade de se trabalhar em sala de aula a perspec-tiva regional pela ótica do nacional. Destinado a professores da rede bá-sica de ensino, o artigo compreende recomendações de que os trabalhos geográficos nas escolas primárias descrevam “com precisão cada região natural, com seus caracteres mais típicos e uma adequada documentação fotográfica” (ABREU, 1939, p. 68-74).
Nesta mesma linha pedagógica, a contribuição de Jorge Zarur é pre-ciosa para auferirmos o papel do CNG na uniformização cartográfica, na coordenação dos trabalhos geográficos e, em particular, na consagração de uma representação oficial do território brasileiro. Em A geografia no curso secundário, o autor afirma com precisão:
No Brasil, infelizmente, ainda não temos bons mapas murais di-dáticos, quer de geografia pátria, quer de geografia geral. Os pro-fessores lançam mão de mapas feitos e impressos no estrangeiro, quase sempre em língua francesa, apresentando graves erros lingü-ísticos e geográficos quando tratam da geografia do Brasil. O Con-selho Nacional de Geografia procura nesse movimento remediar nossa insuficiência nesse setor, resolvendo organizar, imprimir e distribuir pelas escolas coleções de mapas murais [físico, econô-mico, histórico, político e das regiões naturais], obedecendo a um plano didático, que aliasse a exatidão ao baixo preço” (ZARUR, 1942, p. 17).
Há várias contribuições na RBG que apontam para a mesma direção: a consciência da nacionalidade deveria se realizar na representação oficial do território brasileiro. Nesta acepção, a geografia seria a “ciência nacio-nalizadora” por excelência, na expressão de Christovam Leite de Castro, o primeiro secretário do CNG (CASTRO, 1940, p. 163). Uma ciência que teria como principal função edificar uma pedagogia da identidade pela
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008274
Alexandre de Paiva Rio Camargo
localização espacial, vulgarizando a perspectiva utilizada pela reflexão intra-estatal (MORAES, 1991, p. 167).
Trata-se de uma concepção da geografia que esteve fortemente pre-sente nas atividades do CNG. Como órgão oficial, suas disposições o autorizavam a influenciar a legislação das políticas territoriais e educa-cionais, especialmente no governo Vargas. Um bom exemplo nos vem de uma das resoluções do Diretório Central do Conselho Nacional de Geografia (votada e aprovada por sua estrutura colegiada e parlamentar). Em 5 de agosto de 1940, a resolução n. 66 autorizava a realização de um inquérito junto a “professores de geografia, personalidades e instituições interessadas”, relativo ao estabelecimento do ensino de geografia e coro-grafia do Brasil como aulas isoladas no curso secundário, separadas da geografia geral (IBGE, 1941, p. 95).
Esta destacada função pedagógica do CNG se explicava também pe-las prerrogativas que lhe rendiam a competência de coordenação dos tra-balhos geográficos, reconhecida por lei. As tabelas, os censos, os mapas e os cartogramas produzidos pelo Instituto afirmavam a referência a uma dimensão nacional, fixavam o poder do Estado sobre o espaço físico e sua população, em sociedade, num território. Estas tecnologias de distância, ajustadas às tecnologias de governo, contribuíam decisivamente para es-vaziar as representações espaciais que com elas concorressem.
Citemos como exemplo algumas das maiores realizações do órgão nesta área, quando presidido pelo embaixador Macedo Soares: os traba-lhos de uniformização das toponímias dos municípios e de seus respec-tivos mapas, previstos pelo Decreto-Lei n.º 311, de 2 de março de 1938; de uniformização cartográfica em variadas escalas e de atualização da carta do Brasil ao milionésimo. Outro empreendimento de vulto foi o da arbitragem do CNG nas históricas e polêmicas questões de limites inter-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 275
Macedo Soares, embaixador da geografia
estaduais14. São medidas que se aplicavam diretamente à formulação das políticas sobre o quadro territorial, em seus aspectos físico, econômico, jurídico, político e populacional. Em todas elas, muitas grandiloqüentes como a exposição dos mapas municipais15, desenhava-se o controle do governo central sobre os regionalismos e os poderes locais.
A não resolução destas questões poderia comprometer vários aspec-tos da administração pública em geral, principalmente no tocante à di-visão de tributos e verbas orçamentárias, regularização de terras rurais e urbanas, centros e pleitos eleitorais e conflitos recorrentes em torno da repartição do poder local e estadual e entre as elites rurais e urbanas (EVANGELISTA, 2006, p. 9). No contexto da centralização política do Estado Novo, “a representação cartográfica mais precisa do território traz à luz irregularidades político-territoriais, como demarcação de terras e
14 – Em Resolução de sua Assembléia-Geral, de 24/06/1939, o Conselho argumentava que a questão das divisas estava profundamente vinculada aos empreendimentos básicos do IBGE, pois sua solução dependia da exatidão dos dados do censo de 1940 e da precisão da carta geográfica do Brasil ao milionésimo, no tocante aos circunscricionamentos ter-ritoriais. Graças a tal intervenção, até 1945 foram resolvidos os seguintes impasses entre estados: Minas-Goiás, Minas-Rio de Janeiro, Minas-São Paulo, Minas-Bahia, Pernambu-co-Alagoas, Piauí-Maranhão, Maranhão-Goiás, Bahia-Piauí, Bahia-Goiás (FLEMMING, 1947, p. 261). 15 – A exposição dos mapas municipais foi um dos mais grandiosos eventos cívicos já realizados no Brasil. Reuniu, no Pavilhão da Feira de Amostras da cidade do Rio de Ja-neiro, os mapas de todos os municípios do País, contendo informações racionalizadas so-bre limites, nomenclatura dos elementos territoriais apresentados, localização e acidentes cartográficos, relevos, cursos de água, povoações, fazendas, estradas e caminhos, linhas telefônicas e telegráficas, planta da cidade e vilas dos municípios, dispondo os perímetros urbanos e suburbanos, de acordo com os textos dos atos legislativos que os fixaram (PE-NHA, 1993, p. 100). O calendário da exposição incluía a queima das bandeiras dos esta-dos da federação em piras especificamente instaladas para este fim, ritual que encarnou de maneira catártica toda a perspectiva anti-regionalista da administração da Era Vargas. Os discursos oficiais do IBGE em honra da centralização política do Estado Novo também não fizeram por menos. No pronunciamento de abertura da exposição, o presidente José Carlos de Macedo Soares, em saudação a Getúlio Vargas, salientou que a valiosa coleção de mapas municipais fazia meditar sobre o real significado da doutrina do “espaço vital”, pois sua apreciação permitia o conhecimento do que deve constituir o programa da admi-nistração pública (EXPOSIÇÃO..., 1940, p. 448-461).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008276
Alexandre de Paiva Rio Camargo
manipulação de fronteiras político-administrativas, feitas de forma ilícita pelas oligarquias rurais” (DAVIDOVICH, 1985, p. 3). Concebidas em uma estrutura técnica e oficial a serviço da administração do território, as atividades do Conselho Nacional de Geografia permitiam ao governo central enfraquecer os sentimentos regionalistas e a liderança das oligar-quias locais, precipitando-as à cooptação pelo governo de Getúlio.
Veja-se o caso do clássico estudo de Fábio de Macedo Soares Gui-marães, Divisão Regional do Brasil, publicado em 1941 (GUIMARÃES, 1941, p. 318 – 373). Sua proposta, que subdividia as “grandes regiões” dos estados e territórios federais em zonas fisiográficas, tornou-se oficial no País, pela Circular n. 1, de 31 de janeiro de 1942, da presidência da República. Deste então, os dados estatísticos por estados e municípios in-sertos no Anuário estatístico do Brasil passaram a ser tabulados segundo as unidades regionais brasileiras (VALVERDE, 2006, p. 271). O argu-mento da autonomia técnica mascarava as implicações administrativas da produção geográfica para a prática política, que permitiam ao governo Vargas evitar um confronto direto com as oligarquias rurais. Neste sen-tido, a grande obra de Fábio de Macedo Soares representou uma forma de intervenção técnico-administrativa sobre os estados, ao mesmo tempo em que incentivava o municipalismo, contribuindo para erodir o ‘muro federalista’ por cima e por baixo (PENHA, 1993, p. 108).
Estas contribuições do Conselho Nacional de Geografia revelam sua ambigüidade, sempre oscilante entre a vocação político-pragmática de um órgão oficial de geografia e a dimensão da inovação e da reflexão acadêmica. Afinal, até a década de 1970, o IBGE foi o principal centro de adoção e difusão das mais variadas correntes, como é o caso da geografia sistemática de Leo Waibel, da geomorfologia bioclimática de Jean Tricart e da geografia quantitativa de J. P. Cole. Como órgão de planejamento es-tratégico sobre o território, esta era a raison d´être do Conselho, próximo ao mesmo tempo das academias e dos canais oficiais de representação política.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 277
Macedo Soares, embaixador da geografia
O eclipse de uma liderança
O investimento na pesquisa aplicada e na formação dos geógra-fos de carreira, presente na modernidade que encarnavam, desde 1937, o Conselho Nacional de Geografia e a Universidade do Brasil, resultaria em um significativo turning point no campo geográfico. O ano de 1947 parece ser central a este respeito. No intervalo 1939 – 1946, o Conse-lho conheceu uma profusão de pesquisas alinhadas com as questões ge-opolíticas, oscilando entre temas como segurança nacional; transportes e comunicações para a integração do território; saída estratégica para o Pacífico; controle dos recursos minerais, com destaque para a exploração das bacias petrolíferas. A produção da Revista Brasileira de Geografia acentua esta tendência, totalizando 24 artigos, a grande maioria de mili-tares e engenheiros, ligados ao tema fronteiras – território – povoamento, que praticamente desaparece após este período16.
Em contraste, nos anos seguintes, a formalização dos estudos ge-ográficos ganharia força com a qualificação de parte expressiva do corpo técnico do CNG nos quadros das universidades norte-americanas. Em 1944, firmava-se um valioso intercâmbio, que levou à indicação dos mais notáveis geógrafos do CNG, como Jorge Zarur, Fábio de Macedo Soares Guimarães e Orlando Valverde para os cursos de mestrado e doutorado das universidades de Winsconsin, Northwestern e Chicago, especializa-das em estudos regionais voltados para o processo de ocupação do terri-tório (ALMEIDA, 2000, p. 113).
Resultado desta aproximação política e científica com a geografia anglo-saxã foi a vinda de Leo Waibel ao Brasil, mediada por seus alunos Orlando Valverde e Fabio de Macedo Soares Guimarães. Seria consultor técnico do CNG, entre 1946 e 1950. Um dos próceres da nova geografia 16 – São exemplos, entre muitos outros, os textos do tenente-coronel Lima Fi-gueiredo, A ferrovia Corumbá-Santa Cruz de la Sierra, de 1943, no contexto do interesse sobre o petróleo boliviano; e o de Silvio Fróis de Abreu, Fundamentos geográficos da mineração brasileira, de 1946, sobre o controle dos recursos mi-nerais.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008278
Alexandre de Paiva Rio Camargo
vinculada à economia espacial, Waibel orientou diversos estudos que re-lacionavam a distribuição espacial da produção agrícola aos processos de mercado17.
A tendência dos estudos sócio-econômicos, que só aumentaria com as análises sobre industrialização e urbanização ao longo da década seguinte, aguçava as diferenças entre os novos geógrafos de formação e os antigos nomes ilustrados em geografia, precursores outrora tão impor-tantes para credenciar as iniciativas do CNG18. É sintomático que Chris-tovam Leite de Castro se afastasse da secretaria do órgão, em 1950, sendo acompanhado pela saída do próprio Macedo Soares, já no ano seguinte. Seu retorno à presidência do IBGE, em 1955, mal completaria um ano. Seria breve e pálido. Entrementes, daria curso à gestão vitalícia no IHGB, cultivando sua virtuose intelectual em certames e tertúlias, além de garan-tir a doação do terreno em que se edificou a moderna sede da entidade.
No irrefreável movimento de profissionalização da geografia, os elos entre o IBGE e o IHGB se arrefeceriam com o passar dos anos, assumin-do as duas instituições perfis bastante diversos. Nosso homenageado, o grande articulador desta aliança, passaria à memória do IBGE como um mero político influente, que governava de longe, com prestígio para chan-celar as demandas do Instituto no Palácio do Catete. Em direção oposta, os historiadores devem revelar a liderança do embaixador na organização da geografia e recuperar o papel da tradição intelectual do IHGB e de seus
17 – Entre os diversos trabalhos de sua autoria, publicados na Revista Brasileira de Geo-grafia, podemos destacar Uma viagem de reconhecimento ao sul de Goiás, de 1947; Prin-cípios da colonização européia no sul do Brasil, de 1949; e A teoria de Von Thünen sobre a influência da distância do mercado relativamente à utilização da terra, de 1948, em que faz uma divulgação científica dos modelos de economia espacial aplicados às formas de exploração da terra, em áreas agrícolas. 18 – Em outro lugar, tecemos uma análise sobre o conflito de gerações entre os geó-grafos, inserido-o nas lutas pelo monopólio de definição da carreira e da disciplina, no movimento de profissionalização da geografia. Cf. CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. “Território modelado: notas sobre redes, saberes e representações da geografia do IBGE”. Trabalho inédito a ser divulgado no volume 4 da obra História das Estatísticas Brasileiras (1822 – 2002), dirigida por Nelson de Castro Senra, editada pelo IBGE.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 279
Macedo Soares, embaixador da geografia
pioneiros na sedimentação do Conselho Nacional de Geografia.
BibliografiaABREU, Sílvio Fróis de. “Esboço das regiões naturais do Estado da Bahia”. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v.1, n. 1, p. 68-74, janeiro/março 1939.ALMEIDA, Roberto Schmidt de. A geografia e os geógrafos do IBGE no período 1938-1998. 2000. 712 p. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2000.CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. “Um homem de fronteiras: ação e criação de José Carlos de Macedo Soares”. In: SENRA, Nelson de Castro. História das estatísticas brasileiras: estatísticas organizadas (c. 1936 – c. 1972). V. 3 Rio de Janeiro: IBGE, 2008. P. 559 – 611.__________. “Território modelado: notas sobre redes, saberes e representações da geografia do IBGE”. Trabalho inédito a ser divulgado no volume Estatísticas formalizadas (c. 1972 – 2002) da obra História das Estatísticas Brasileiras, dirigida por Nelson de Castro Senra, editada pelo IBGE.CORRÊA FILHO, Virgilio. “José Carlos de Macedo Soares e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, v. 261, p. 33-73, outubro/dezembro 1963a.__________. “O Instituto Histórico e José Carlos de Macedo Soares”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, v. 261, p. 80-105, outubro/dezembro 1963b.CARVALHO, Delgado de. “A excursão geográfica”. Geografia e Educação. Rio de Janeiro: IBGE, 1942. P. 131-142.CASTRO, Christovam Leite de. “Atualidade da cartografia brasileira”. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 3, p. 462-470, julho/setembro 1940.DAVIDOVICH, Fanny. “Um informe sobre a posição da geografia no IBGE”, março 1985, mimeo. Documento para discussão interna.EVANGELISTA, Helio de Araújo. “Geografia tradicional no Brasil: uma geografia tão mal-afamada quanto mal conhecida!”. Revista geo-paisagem.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008280
Alexandre de Paiva Rio Camargo
v. 5, n. 10, p. 1-26, julho/dezembro 2006.FLEMMING, Thiers. “Pelo Brasil unido: limites, territórios federais e símbolos nacionais face à Constituição de 1946”. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, v. 5, n. 51, p. 259-262, julho 1947.GUIMARÃES, Fábio de Macedo Soares. “Divisão regional do Brasil”. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v. 3, n. 2, p. 318-373, abril/junho 1941.GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Da Escola Palatina ao Silogeu: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1889-1938). Rio de Janeiro: Editora do Museu da República, 2007. 246 pIBGE. “Resolução n. 22, de 18 de julho de 1938”. In: Resoluções da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geografia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938.IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a Educação: elucidário apresentado à Primeira Conferência Nacional de Educação. V. 2. Rio de Janeiro: IBGE, 1941.INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Brasil). Convenção Nacional de Estatística. Rio de Janeiro: Departamento de Estatística e Publicidade do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 1936. 33 p. MORAES, Antonio Carlos Robert. “Notas sobre identidade nacional e institucionalização da geografia no Brasil”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro: Editora FGV, v. 4, n. 8, p. 166-176, 1991.MOREIRA, Earle D. Macarthy; BRANCATO, Sandra Maria Lubisco (Orgs.). O Arquivo de José Carlos de Macedo Soares: correspondência ativa e passiva selecionada. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 123 p.PENHA, Eli Alves. A criação do IBGE no contexto da centralização política do Estado Novo. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. 123 p. RUELLAN, Francis. “O trabalho de campo nas pesquisas originais de geografia regional”. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 1, p. 35-50, janeiro/março 1944.VALVERDE, Orlando. “Fábio de Macedo Soares Guimarães: in memoriam”. O pensamento de Fábio de Macedo Soares Guimarães: uma seleção de textos. Rio de Janeiro: IBGE / CDDI, 2006. P. 271-274. Documentos para
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):259-281, jul./set. 2008 281
Macedo Soares, embaixador da geografia
disseminação / Memória institucional n. 7.ZARUR, Jorge. “A geografia no curso secundário”. Geografia e Educação. Rio de Janeiro: IBGE, 1942. P. 1-32. “APRESENTAÇÃO”. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, n. 1, p. 3-6, janeiro/março 1939. “EXPOSIÇÃO nacional dos municípios”. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 3, julho/setembro 1940, p. 448-461. “RELATÓRIO das Atividades da Sociedade durante o ano de 1945”. Revista da Sociedade Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: SBG, t. 52-53, p. 137, 1945-1946.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008 283
Como o Instituto evoluiu sob Macedo Soares
COMO O INSTITUTO EVOLUIU SOB MACEDO SOARES
Cybelle Moreira de Ipanema 1
O convite para integrar a Mesa que se vincula aos 40 anos da morte de Macedo Soares levou em conta, não o sermos uma sócia sob sua pre-sidência – entramos bem depois de seu desaparecimento (oito anos preci-sos) –, mas uma participante, transitando num Instituto presidido por ele, podendo vislumbrar sua presença.
A presidência Macedo Soares cobre um período largo do século XX (1939-1968), mais de 1/4, antecedido desde 1891, por Olegário de Aquino e Castro, João da Cunha Paranaguá, marquês de Paranaguá (1906-1907), pelo barão do Rio Branco (1907-1912), o conde de Afonso Celso (1912-1938) e Manuel Cícero Peregrino da Silva (1938-1939), renunciante nes-te último ano.
José Carlos de Macedo Soares, 3o vice-presidente, a quem Manuel Cícero se dirige, assume a presidência interinamente, pois o 1o e o 2o se declararam sem condições, até a eleição de 15 de dezembro que o consa-gra no cargo máximo, com posse solene em 8 de janeiro de 1940.
Se o Instituto é o depositário de informações que vão embasar, desde 1838, é até ..., a construção da história e a preservação da memória bra-sileiras, não é menos verdade que ele não ficaria à margem, quando se pretende levantar sua própria trajetória. Valêmo-nos de documentos do Arquivo e do registro da Revista, em suas Atas, os melhores aportes para esse desiderato. Contamos com a colaboração efetiva da chefe do primei-ro, Lúcia Maria Alba da Silva, e de Célia da Costa, chefe da Hemeroteca, guardiã das coleções de periódicos, em que sobrepaira, pela antiguida-de contínua de publicação, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em seu ano 169 de edição, com o último volume publicado, o 436, correspondente ao terceiro trimestre de 2007.1 – Sócia emérita e 1a Secretária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008284
Cybelle de Ipanema
A tradição nos obriga – rotina administrativa e cultural – ao lança-mento do acontecido nas suas páginas, letras amarradoras para a posteri-dade, a nos lembrar, quem sabe, se se pode falar assim, o jornal de Roma, criação de César, a Ata Diurna do Povo Romano.
Registros que permitem acompanhar a vida do Instituto nos já quase 170 anos e sentir sua adaptação a regras e comportamentos, em mutação que define as sociedades.
Na Ata da posse de 1940, lavrada pelo secretário perpétuo, Max Fleiuss, chama a atenção detalhe da solenidade, bem diferente dos dias atuais: “Ao penetrar no recinto o novo presidente, a banda de música do Corpo de Bombeiros executou o hino da “Coroação”, de Francisco Manuel da Silva (V. 175, p. 358, 1941). Bem retumbante e austero, não parece?
O conde de Afonso Celso – Afonso Celso de Assis Figueiredo Jú-nior – fora presidente perpétuo. Empossado Macedo Soares presidente, em 1941, resolve a Assembléia Geral promover-lhe a mesma ascenção (DL 1111.39), anexada a seu cargo, até o desaparecimento, em janeiro de 1968.
De sua gestão, destacará esta fala algumas realizações e providências tendentes a melhorias do Instituto e, sobretudo, à repercussão de sua ima-gem no Brasil e no exterior. Às chamadas, se acoplarão as referências da Revista, ou as indicações de catálogo do Arquivo, como forma de não se perder a pesquisa, útil, possivelmente, a outras finalidades.
Cursos
Tem sido prática seguida no Instituto a realização de Cursos, evoca-tivos de figuras da vida brasileira, com os objetivos expressos de louvar suas realizações, transferir cabedal de conhecimentos a terceiros, sócios e interessados, e preservar a memória dos evocados.
Durante Macedo Soares, realizaram-se os dedicados a Joaquim Nabu-co (V. 205, out./dez. 1963), Rui Barbosa (V. 205, out./dez. 1949), José Bo-nifácio (V. 261, out./dez. 1963) e Epitácio Pessoa (V. 269, out./dez. 1965).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008 285
Como o Instituto evoluiu sob Macedo Soares
Homenagens
O cardeal – legado d. Sebastião Leme e o Episcopado receberam homenagem do Instituto, em 18 de julho de 1939 (V. 174, 1939).
Em 1941, é a vez do próprio presidente. Cláudio Ganns requer in-serção em Ata de voto de louvor ao emb. José Carlos de Macedo Soares, pela doação de 340 volumes à Biblioteca, sobre revoluções brasileiras (DL 360.58).
Em 1939, também, a Olavo Bilac (DL 1110.17).
Através de placa de bronze e pergaminho, em 1955, o Instituto ho-menageou o decano da imprensa carioca, o Jornal do Commercio, por seus 128 anos (V. 225, out./dez. 1954), surgido que foi em 1827 e per-manecendo o mais antigo jornal do Rio de Janeiro, em circulação, marca vencida para o Brasil, pelo Diário de Pernambuco, de 1825.
Prêmios
É também da prática do Instituto a concessão de prêmios. Por pro-posta dos secretários Virgílio Correia Filho e Feijó Bittencourt, estrutu-raram-se os Prêmios “Pedro Segundo” e “Conselheiro Olegário” (V. 187, abr./jun. 1945).
Estatutos
A norma legal do IHGB, como em geral, nas instituições, tem so-frido periodicamente reformas para se adequar a dispositivos legais ou outras implicações de natureza social ou cultural. O presidente Macedo Soares nomeia Comissão Especial para o assunto, em 1961 (V. 253, out./dez. 1961) e 1964 (V. 265, out./dez. 1964), por duas vezes, para sua atu-alização.
A última reforma estatutária da Casa é de 2003, para acompanhar o novo Código Civil, então adotado.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008286
Cybelle de Ipanema
Comemorações
Lembrem-se algumas, apenas. Exemplificando: a do 4o Centenário da Companhia de Jesus, em que a indicação do presidente incluiu pro-grama de estudos, investigações, ocorrências e publicações científicas (V, 174, 1939); do Dia Panamericano e homenagem a Francisco Miranda, em 1950 (DL 1110.7), V Centenário de nascimento da rainha d. Leonor (DL 1110.33).
Congressos
No setor, foi rico o mandato do emb. Macedo Soares.
O Instituto já realizara três Congressos de História Nacional, o pri-meiro deles, em 1914, o primeiro realmente, de toda a série.
Em 1949, por proposta de Pedro Calmon, realiza-se o quarto (V. 197, out./dez. 1947; V. 201, out./dez. 1948; V. 205, out./dez. 1949). Houve ou-tros de novas denominações e temáticas, como o I Congresso Brasileiro de Teatros, com participação do Instituto (DL 1110.12).
O Instituto, a esse tempo, engajou-se naquele que marcaria o IV Centenário da Cidade de São Paulo, em 1954 (V. 225, out./dez. 1954).
Poucos anos depois, com grande participação – o Instituto ao coman-do do mesmo presidente perpétuo –, realizou-se o Congresso Comemo-rativo do Bicentenário da Transferência da Sede do Governo do Brasil da Cidade do Salvador para o Rio de Janeiro, de que o grande incentivador foi o sócio Marcos Carneiro de Mendonça (V. 261, out./dez. 1963; V. 265, out./dez. 1964). Dele resultou, em 1963, além do Congresso propria-mente dito, uma Exposição e a publicação de um álbum iconográfico As cidades do Salvador e do Rio de Janeiro no século XVIII.
Logo em seguida, o relacionado ao IV Centenário da Fundação da Cidade do Rio de Janeiro (V. 265, out.;dez. 1964). Com esse, por indi-cação do vice-presidente do Instituto, José Wanderley de Araújo Pinho, presidente da Comissão, tivemos a satisfação de poder colaborar, secreta-riando as reuniões semanais, com a trazida de sugestões, projetos, convo-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008 287
Como o Instituto evoluiu sob Macedo Soares
cação de conferencistas. Desenvolveu-se o Curso Panorâmico de História do Rio de Janeiro, em dez aulas, idealizado por Marcello de Ipanema e Enéas Martins Filho. Aquele, professor universitário e de ensino médio, fez trabalho de grande penetração nas escolas desse nível, do estado da Guanabara, carreando enorme freqüência às sessões, realizadas no prédio do Automóvel Club do Brasil, nas vizinhanças do Instituto, o que resul-tou em entrada significativa de recursos de que carecia a instituição no momento. Constituiu a publicação “Curso sobre a Fundação do Rio de Janeiro” (Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 276, jul./set. 1967).
As reuniões semanais das quartas-feiras tornaram-se rotina, transfor-mando-se na Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas – CEPHAS, o forum de debates do Instituto, ainda atuante, mais de 40 anos depois, que nos reúne, como hoje.
Lembre-se de que, recentemente – 2003 –, o Instituto publicou o Ín-dice dos Anais dos Congressos e Simpósios realizados entre 1914 e 2000, totalizando 13 eventos e 79 volumes, com a matéria distribuída por autor, título e assunto.
De reunião análoga abrangida pelo período da presidência Macedo Soares, referência ainda ao 10o Congresso de Esperanto, de 1945, que o Instituto apoiou (DL 569.36).
No relacionamento externo do IHGB, mencionar carta de M. de Pi-mentel Araújo, de julho de 1951, ao presidente, solicitando a indicação de representante na comissão brasileira encarregada de executar o Acordo de Cooperação Intelectual entre Brasil e Portugal (DL 993.39). Ou o ofí-cio do contra-almirante Manuel Pinto Ribeiro Espínola, comunicando ter sido o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro eleito representante das entidades integradas no Conselho Nacional de Geografia, junto à Assem-bléia Geral, em 1952 (DL 996.49).
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008288
Cybelle de Ipanema
Obras e aporte de recursos
Não esquecer que, ao tempo do presidente perpétuo José Carlos de Macedo Soares, o Instituto tinha por sede, já bastante insuficiente, o pré-dio do Silogeu, na esquina da avenida Augusto Severo, e um “esqueleto” de obra nova, interrompido na terceira laje.
Nomeou ele Comissão encarregada das obras do Instituto ou Comis-são da Construção da Sede Nova (V. 249, out./dez. 1960).
Foram várias providências com pedidos e promessas de recursos. Por exemplo, o Projeto no 412, de 1959 rezava que: “O Congresso Na-cional concede um auxílio de Cr$ 30.000.000,00 durante quatro anos ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para conclusão das obras de sua sede” (V. 245, out./dez. 1949).
Bem mais tarde, “Decreto no 58.763, de 28 de junho de 1966. “Abre ao ministério da Educação e Cultura o crédito especial de Cr$ 110.000.000,00, destinado à construção de uma nova sede para o Insti-tuto Histórico e Geográfico Brasileiro”. Também, relatório do presidente do IHGB, em 1967, ao presidente do Conselho Federal de Cultura, Josué Montello, solicitando subvenção anual para as obras da nova sede.
Vê-se que são numerosas as tentativas de Macedo Soares, com vistas à obtenção de recursos financeiros da União, e estaduais, transformados ou não, em atos legais.
Há registro de uma subvenção de Cr$ 500.000,00 para restauração e conservação do arquivo e biblioteca (V. 205, out./dez. 1949).
Outros: aumento da subvenção anual para Cr$ 300.000,00 (v. 205, out./dez. 1949) ou a Lei da Subvenção, anual, concedida ao Instituto pelo governo da Guanabara, no valor de Cr$ 8.000.000,00 (V. 265, out./dez. 1964).
A conclusão da sede nova só vai ser conquistada, porém, por seu sucessor, Pedro Calmon, com inauguração em 1972, no Sesquicentenário da Independência e a presença do presidente da República que a possibi-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):283-289, jul./set. 2008 289
Como o Instituto evoluiu sob Macedo Soares
litara, Emílio Garrastazu Médici, como apregoa a grande placa colocada na Portaria do edifício.
São, naturalmente, muitas as voltagens desse espírito, atento para as solicitações e necessidades de seu campo de ação, em um Instituto já centenário e mais.
A canonização do padre José Anchieta, pesquisas em torno do local preciso do desembarque do descobridor do Brasil, abertura do sarcófago dos despojos do padre Diogo Antônio Feijó, a I Exposição Geral do Exér-cito, Sessão em lembrança da “Rerum Novarum” ... São convocações a que não faltavam a presença e a palavra do IHGB.
De duas, no entanto, não queríamos passar ao largo. Uma Moção as-sinada por sócios, em 1940, solicitando que o Arquivo da Família Impe-rial, guardado no Castelo d´Eu, fosse removido para outro local da França, em função da guerra, e posteriormente enviado para o Brasil (DL 360.57). Desejo cumprido pelo sócio grande benemérito, recém-falecido, decano do Corpo Social, o príncipe d. Pedro Gastão de Orléans e Bragança.
De grande alcance, infelizmente perdida, a providência do secretário Virgílio Correia Filho, ao Departamento dos Correios e Telégrafos, re-querendo o registro do IHGB para franquia postal de livros e publicações (DL 1110.40). Era uma boa economia, para o envio da Revista.
O pequeno painel exposto deixa claro que a dedicação desse presi-dente, em quase 30 anos de gestão, é incontestável, em abrangência ma-terial e cultural, buscando cobrir todos os setores das atividades associati-vas, como as que empreendia por seu próprio prestígio e relacionamento pessoal e social.
Na trajetória de vida de Macedo Soares, pontuam-se as presidências do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Academia Brasileira de Letras e o cargo de chanceler – ministro das Relações Exteriores do Brasil.
O que promoveu pelo IHGB engrandeceu o Instituto que as gerações sucessivas porfiam por não deslustrar.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):291-294, jul./set. 2008 291
José Carlos de Macedo Soares e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES E O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO
Arno Wehling1
Diplomata, político, empresário, ministro, acadêmico, sócio do IHGB por 44 anos, presidente por 29 anos. Ainda: biógrafo, historiador, hermeneuta. Homem de ação de múltiplas facetas e também um polígra-fo: este o duplo perfil de José Carlos de Macedo Soares.
Como homem de ação, esteve envolvido em acontecimentos rele-vantes da vida pública nacional por cerca de quarenta anos, dos anos vinte ao final da década de 1950. Foi empresário e revolucionário, governista e exilado. Na esfera pública, foi secretário de estado em São Paulo, depu-tado constituinte em 1933, interventor em seu estado, ministro de justiça interino e por duas vezes titular da pasta do Itamaraty, a primeira vez no primeiro governo constitucional de Getúlio Vargas, entre 1934 e 1937, a segunda com Juscelino Kubitschek.
Nos hiatos dessa atividade presidiu o Instituto Brasileiro de Geogra-fia e Estatística, a Academia Brasileira de Letras e permaneceu na presi-dência do Instituto Histórico por três décadas.
Como polígrafo, escreveu livros, opúsculos, artigos, discursos e tra-balhos de referência, sobre assuntos que cobriam temas brasileiros, por-tugueses, espanhóis e hispano-americanos.
“Multiforme”, chamou-o Mozart Monteiro, sócio do IHGB, ainda em 1951, quando continuou a agir e a produzir intensamente.
Seu duplo perfil corresponde ao de um intelectual e homem de ação de que sua geração ainda teve vários representantes, mas que nas seguin-tes foi escasseando. Certamente na geração que sucedeu à sua um Pedro Calmon e um Affonso Arinos de Mello Franco ainda ostentaram forma e estilo semelhantes. Mas a especialização de funções, mesmo intelectu-
1 – Sócio Titular e Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):291-294, jul./set. 2008292
Arno Wehling
ais, foi tornando raro o tipo: homens de ação concentraram-se em esferas mais limitadas, polígrafos simplesmente saíram de cena.
Sua presença no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem ni-tidamente duas fases, a do sócio, entre 1921 e 1939, e a do presidente, entre 1939 e 1968.
Foi sócio correspondente em 1924, benemérito em 1939. Sua pro-posta apresentada, em 1921, quando tinha 38 anos, justificava desta for-ma o ingresso: “Propomos que se eleja sócio correspondente do Instituto o sr.Dr. José Carlos de Macedo Soares, residente em S.Paulo. No trabalho publicado o ano passado e que oferecemos com esta proposta – “Fal-sos Trophéos de Ituzaingó”- o distinto brasileiro, a par do mais intenso e louvável patriotismo, revela excelentes qualidades de investigador dos factos histricos, segurança e precisão nos seus estudos e grande erudição na matéria.
Em outros escritos tem o dr. José Carlos de Macedo Soares demons-trado as suas preocupações com as questões pedagógicas, econômicas e jurídicas, como provam as publicações que juntamos a esta proposta. Rio, 20 de Abril de 1921. – Pedro Lessa. – Henrique Morize. – Liberato Bit-tencourt. – Raul Tavares. – Fleiuss. – Jonathas Serrano. – Conde Affonso Celso.
Vai à Comissão de Historia, relator o sr. Alfredo Valadão.”
A comissão de História deu parecer muito favorável às obras até então publicadas pelo proposto: - “Com o seu trabalho sobre os – Fal-sos tropheus de Ituzaingo – foi o sr. Dr. José Carlos de Macedo Soares, advogado residente na capital do Estado de São Paulo, proposto sócio correspondente do INSTITUTO. Esse trabalho só póde merecer aplauso, pois que fala ao patriotismo, E’ mais um protesto contra o erro histórico de que bandeiras brasileiras houvessem sido tomadas na batalha de Passo do Rosário. E, dissertando, o autor não se apoia, apenas, na valiosa do-cumentação existente em nosso país, sobre o assunto, senão, ainda, em provas que colheu nos arquivos e biografias argentinas e uruguaias, com
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):291-294, jul./set. 2008 293
José Carlos de Macedo Soares e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
paciência e demorada pesquisa.”
Também a comissão de .admissão de sócios reconheceu-lhe o méri-to: –“ Nada tem a Comissão de Admissão de Sócios a opôr à proposta que apresentou o sr. José Carlos de Macedo Soares para sócio correspondente do INSTITUTO, antes a aplaude e recomenda a sua aprovação. – Rio, 10 de Julho de 1921. – Dr. B. F. Ramiz Galvão, relator. – A. Tavares de Lyra. – Manuel Cícero. – Antonio Olyntho. – Miguel J.R. de Carvalho.”
A produção historiográfica de Macedo Soares avolumou-se justa-mente no período em que permaneceu na presidência da instituição, não obstante as interrupções que as atividades públicas lhe exigiam, inclusive com longos períodos de ausência do Rio de Janeiro.
Somente na Revista do Instituto estão registrados vinte trabalhos, entre discursos, biografias, guias de fontes, relatórios e pesquisas. Dentre estas, sobressaem-se dois deles, as Fontes da História da Igreja Católica no Brasil, publicado na Revista e o livro Fronteiras do Brasil no regime colonial.
Sobre sua atuação à frente do IHGB foram publicados na Revista, a propósito de diferentes assuntos e circunstâncias, 32 trabalhos e sobre aspectos de sua obra, 9.
Quais foram os pontos mais significativos da gestão de Macedo So-ares no Instituto?
Período tão extenso e personalidade tão multifacetada certamente dificultam a escolha de destaques, mas seguindo um critério institucional, poderíamos encontrar alguns pontos de efetivo realce:
a consolidação da Revista do Instituto. Conquanto tivesse comemorado –um século de existência ininterrupta no ano da eleição de Macedo Soares para a presidência e se constituísse em repositório fundamental de fontes e estudos para a história do Brasil, a Revista enfrentou dificuldades ao longo de seu desenvolvimento, sobretudo atrasos de edição. Na gestão de Macedo Soares garantiu-se a tradicional periodicidade trimestral e a qualidade das colaborações.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):291-294, jul./set. 2008294
Arno Wehling
a realização de eventos científicos. Continuando política iniciada pelo –presidente conde de Afonso Celso em 1914, Macedo Soares estimulou a realização do “V. Congresso de História Nacional”, em 1948 e os congressos do bicentenário de transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1963 e do 4º centenário de fundação da cidade, em 1965.
a edição de guias de documentos históricos brasileiros, como as fontes –para a história da Igreja no Brasil e a importante publicação, em mais de uma dezena de volumes, dos resumos de documentos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, referentes à capitania de São Paulo.
a criação da Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas – CEPHAS – –que se reúne até hoje, semanalmente, às 4ª feiras, sendo um dos focos dinâmicos da instituição desde então. Embora sua atuação pessoal nesse particular fosse rarefeita, por motivos de saúde, tanto o vice-presidente Wanderley de Araújo Pinho quanto o coordenador da Cephas, Marcos Carneiro de Mendonça, agiram em seu nome para desenvolver atividades de pesquisa e a discussão de questões históricas.
Aureliano Leite, da mesma geração, e paulista como Macedo Soa-res, quando do seu falecimento, escreveu pequeno texto sobre o amigo, intitulando-o “Macedo Soares, o filantropo”.
No que respeita ao Instituto, este traço da sua personalidade também se revelou. Entre outras doações, passou ao patrimônio do IHGB 320 volumes sobre “revoluções brasileiras”, um repertório de fontes sobre a História da Igreja, telas e o seu medalheiro, que se constitui ainda hoje em coleção principal do tema no museu da Casa.
Quando ingressei no Instituto, em 1976, ainda eram muito fortes as lembranças de Macedo Soares, entre sócios e funcionários. Lembravam-se dele uns como o historiador das fronteiras ou da Igreja, outros como o doador de peças e obras importantes de nosso acervo, outros ainda como o chanceler ou o presidente do IBGE ou do IHGB. Todos, porém, reco-nheciam nele, como denominador comum, uma enorme simpatia e afa-bilidade. Josué Montelo,em 1968, traduziu isto no título de um artigo em sua homenagem: “Macedo Soares, um mestre de polidez”.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 295
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
III – DOCUMENTOS
OS CEMITÉRIOS COMO UMA QUESTÃO DE (CONSELHO DE) ESTADO NO SEGUNDO REINADO
Cláudia Rodrigues1
Consulta sobre as dificuldades que ocorrem para o enterramento de pessoas que não professam a Religião do Estado, em 4 de feve-reiro de 1870. (Ministério do Império)2
“Senhor,
Mandou Vossa Majestade Imperial por Aviso de 3 de dezembro úl-timo que as sessões reunidas dos Negócios do Império e Justiça do Con-1 – Doutora em História pela UFF e Professora Titular do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira – [email protected] – Arquivo Nacional - Caixa 1226, pacote 3. Documento 24. (Documentos Diversos “Enterro”)
Resumo:Em fins da década de 1860, na conjuntura das acirradas disputas entre regalismo e ultramonta-nismo e da intensa campanha de parte da elite política e intelectual em defesa da causa protes-tante, a hierarquia eclesiástica promoveu uma sé-rie de interdições ao sepultamento dos chamados não-católicos nos cemitérios “públicos” de várias localidades brasileiras, sob o argumento de que eram destinados aos cidadãos do Império. Ao atingirem os protestantes, estas interdições ame-açaram a política imigrantista de substituição da mão-de-obra escrava, tornando-se uma questão de Estado delicada o suficiente para ser levada ao Conselho de Estado. O documento transcrito apresenta o encaminhamento dado pelos conse-lheiros ao difícil problema da conciliação entre os interesses do Estado e da Igreja na condução das dificuldades existentes para os sepultamentos em cemitérios públicos no contexto da crise do Império.
Palavras-chave: Cemitérios públicos, Conselho de Estado, Crise do Império, Protestantes.
Abstract:In the ends of the decade of 1860, in the conjunc-ture of the incited disputes between regalism and ultramontanism, and of the intense campaign from the part of the political and intellectual elite in the defense of the protestant cause, the eccle-siastical hierarchy promoted a series of interdic-tions to the burial of the so called non-catholic in the public cemeteries of some localities, under the argument that they were addressed to the citizens of the Empire. Those orders of restrain affected the protestants, and became a threaten to the immigrant policy which concerned the re-placement of the slave labor. This matter became critical enough to the State, and had to be brou-ght up to its State Council. The transcribed docu-ment refers to the recommendation given by the councils to the difficult proposition of agreement between the interests of the State and the Chur-ch, in order to get to a consensus in the existing difficulties to the burials in public cemeteries in the context of the Empire Crisis. Key words: Public cemeteries, State Council, Empire Crisis, Protestants.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008296
Cláudia Rodrigues
selho de Estado consultassem com seu parecer indicando as providências que seriam tomadas para facilitar os enterramentos dos indivíduos não católicos nos lugares em que não haja cemitério especial.
Deu causa a esta consulta o fato do enterramento do suicida David Tompson, da Seita Protestante, narrado no seguinte ofício da Diretoria da Estrada de Ferro de D. Pedro II, dirigido ao Ministério do Império pelo Ministro da Agricultura e Obras Públicas em Aviso de 11 de novembro.
‘Diretoria da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 30 de outubro de 1869 = Ilmo. Exmo. Snr. = Havendo-se suicidado ontem à noi-te o protestante Norte Americano David Tompson, empreiteiro na terceira sessão e não consentindo o Pároco de Sapucaia que fosse enterrado em lugar sagrado, oficiei imediatamente ao Reverendís-simo Vigário Geral Governador do Bispado pedindo licença em nome da humanidade para dar sepultura ao corpo do suicida e em resposta recebi o ofício que tenho a honra de juntar por cópia.
Este fato obriga-me a pedir a V. Ex. que se digne de solicitar pro-vidências a fim de estabelecer-se uma regra geral para casos idên-ticos, que, podendo-se infelizmente reproduzir em futuro, trarão como agora dúvidas, forçando esta Diretoria a dirigir-se a autori-dades eclesiásticas, do que sempre resultam mais ou menos delon-gas prejudiciais.
V. Ex., compreendo perfeitamente que esta empresa não podendo distinguir religião nos contratos que firma, tem diversos emprei-teiros e trabalhadores que seguem a religião protestante e a esses a decisão do Reverendíssimo Vigário Geral deve causar bem má impressão e talvez mesmo fazê-los abandonar o serviço nesta es-trada com grave prejuízo para ela.
Num país como este tão necessitado de braços e cujo governo en-vida tantos esforços para chamar a imigração, não me parece mui-to consentânea com os interesses mais vitais essas discriminações estremadas de religião.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 297
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
V. Ex., porém, dando ao que acabo de expor, a consideração que entende-se dignará de providenciar como for mais acertado = Deus Guarde a V. Ex. = Illmo. Exmo. Snr Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, Digno Ministro e Secretário dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas = Mariano Procópio Fer-reira Lage.’
Acompanhou este ofício o do Vigário Geral Governador do Bispado que as sessões pedem licença para transcrever aqui.
‘Ilmo. Snr. Em resposta ao ofício de Vossa Senhoria de 30 do cor-rente mês, em que pede em nome da humanidade licença para ser enterrado o cadáver do infeliz suicida David Thompson, da Seita Protestante, tenho a honra de declarar-lhe que as Leis da Igreja Ca-tólica proíbem o enterrar-se [grifo no original] em sagrado os que se suicidam, uma vez que antes de morrer não tenham dado sinais de arrependimento, acrescendo a circunstância no presente caso de ser o falecido protestante, o que ainda é outro impedimento para ser enterrado em Cemitério Católico.
Porém, para conciliar as Leis da Igreja com o dever da Caridade que devemos aos nossos semelhantes, autorizo o Reverendo Pá-roco de Sapucaia para fazer o enterramento do infeliz junto ao Cemitério do lado de fora.
Deus Guarde a V. Sª. Illmo. Snr. Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, Digníssimo Diretor-Geral da Estrada de Ferro de D. Pedro II = Monsenhor Félix Maria de Freitas e Albuquerque, Vigário Geral e Governador do Bispado.
Está conforme com o original. Rio, 30 de outubro de 1869. =’
As sessões reunidas deploram que em País civilizado como o nosso, e neste século de tolerância civil e religiosa ainda seja objeto de questão o enterramento, dentro de um cemitério, que é Municipal, e por conseqü-ência público de um indivíduo a quem a Igreja Católica nega sepultura. Deplora mais que o ilustrado Vigário Geral no citado ofício considerasse
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008298
Cláudia Rodrigues
conciliadas as Leis da Igreja com o dever de caridade permitindo que se enterrasse o acatólico fora do muro do cemitério público.
Por que é que a Igreja Católica sempre prescreveu que os cemitérios fossem fechados?
Sem dúvida e como diz o Canonista André (Dicionário) para não ficarem os corpos expostos aos animais e às profanações.
Pois bem, sendo essa razão, não se pode ter como caridade o enterrar e não-católico fora dos muros, exposto aos animais e às profanações.
Conciliaram-se as Leis da Igreja com a caridade devida ao homem os Antigos Concílios Provinciais da França notavelmente os de Avignon, e Reims, os quais, como refere o citado Canonista, prescreveram que nos mesmos cemitérios católicos houvesse lugar separado, por muro ou fos-so, para aqueles aos quais se não podia conceder sepultura eclesiástica.
E que, em França, e na Bélgica, antes da Lei do Ano Doze, que secu-larizou os cemitérios, e os tornou Municipais, havia Cemitérios Católicos destinados aos enterros de todos os habitantes, dá testemunho a citada Lei, quando diz:
‘Se o cemitério católico desde sua origem não foi afetado a todos os habitantes e constitui uma propriedade da seita religiosa, a auto-ridade local não tem o direito de designar um lugar deste cemitério aos dissidentes.’
Assim, essa lei supõe o fato de haverem cemitérios católicos afeta-dos, todavia, a todos os habitantes.
A verdade é que quando os cemitérios não são propriedades da Igreja Católica ou das Fábricas respectivas, não são particulares, mas públicos e, pois, devem ser designados aí, mediante as necessárias separações, lu-gares para o enterramento de católicos ou não católicos.
Até o ano de 1850, quando as epidemias assolavam as nossas popu-lações, os enterros se faziam nas Igrejas ou Cemitérios contíguos.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 299
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
Esses cemitérios eram parte ou acessório da Igreja e não podia o Po-der Civil mandar que fossem aí enterrados aqueles aos quais os Cânones negam sepultura.
Desde esse tempo, porém, os enterros se fizeram fora das cidades e vilas, e foram estabelecidos pelas Câmaras Municipais os Cemitérios.
Sendo estes cemitérios estabelecidos com as rendas municipais, e pelas Câmaras são municipais e como municipais são públicas, são pú-blicos: Primeiro porque todos os habitantes e não só os católicos pagam impostos; segundo, porque a Constituição garante a liberdade de consci-ência, e não quer que seja alguém perseguido por motivo de religião e é uma perseguição a injúria e aflição rogada à família daquele, cujo corpo é excluído do cemitério público.
A Lei de 1° de outubro de 1828, incluindo as Câmaras Municipais o estabelecimento de cemitérios, não teve em vista senão cemitérios para todos, como um dever de humanidade e uma necessidade de salubridade pública.
Aviso de 25 de janeiro de 1832, declarando que as Câmaras podiam e deviam fazer cemitérios; o que não obstava a que qualquer confraria ou Irmandade tivesse o seu cemitério contanto que fosse em lugar de-signado pelas mesmas Câmaras conforme a destinação dos Cemitérios Municipais para todos, e cemitérios particulares para as confrarias que os instituíssem.
À vista do exposto, quais as providências a tomar?
Havendo, como há, uma Religião de Estado, e sendo, como é, quase unânime no Império a população católica, as sessões não propõem que os cemitérios públicos deixem de ser bentos, como são os de Paris, onde as sepulturas católicas somente são bentas na ocasião de cada enterro católico.
A providência, que ocorre às sessões, é muito simples e consiste em mandar Vossa Majestade Imperial por Decreto que nos cemitérios esta-belecidos pelas Câmaras, e nos da Corte criados em virtude da Lei 583
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008300
Cláudia Rodrigues
de 1850 seja designado ou separado por muro ou vala, um lugar para os enterros sem distinção, por indivíduos de outras religiões, e daqueles aos quais os Cânones negam sepultura eclesiástica como os meninos não ba-tizados, os suicidas e duelistas.
É esta a Lei da França e Bélgica: Lei 23 prairial ano 12.
Em Portugal a mesma providência foi adotada como consta do se-guinte Aviso de 17 de Dezembro de 1866:
‘Sua Majestade El-Rei Manda responder ao ofício em que o Gover-nador Civil de Faro participa haver ordenado as Câmaras que nos Ce-mitérios Públicos separassem por um pequeno muro um espaço de ter-reno, que servisse para os enterramentos das pessoas que faleciam fora do grêmio da Igreja, e dos recém-nascidos não batizados, a fim de evitar contestações com os Párocos, que se negaram a consentir o enterramento daquelas pessoas nos Cemitérios bentos que é judiciosa a providência por eles tomadas mas que enquanto ela se não leva a efeito não deve o Governador Civil consentir que algum cadáver seja sepultado fora do cemitério pondo-se de acordo com o Prelado Diocesano para fazer enten-der aos Párocos que os Cemitérios são estabelecimentos municipais que estão sob a superintendência e fiscalização da autoridade civil e não do Pároco e que a circunstância de qualquer indivíduo morrer fora do grêmio da Igreja, autoriza o Pároco a negar as preces e orações instituídas em benefício dos mortos, mas, não a impedir o enterramento em lugar para isso destinado.’
Satisfeita esta questão, ponderam as sessões que, achando-se como se acham bentos os Cemitérios Municipais existentes, talvez convenha que as Câmaras Municipais se entendam com os Párocos sobre as ceri-mônias que compre praticar, para que fique profana a parte dos cemitérios distraídas [sic] para o enterro das referidas pessoas.
Entendem, outrossim, as sessões que bastará a simples demarcação do terreno, com marcas ou sinais conspícuos nos lugares em que for difí-cil o muro, ou vala pela escassez dos recursos municipais.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 301
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
Tanto mais que no interior do País será muito eventual o enterramen-to de pessoas não- católicas por não havê-las aí.
Nenhuma outra providência parece, às Sessões, necessária sendo que para a recusa de sepultura eclesiástica dá-se o recurso à Coroa no caso do artigo 1 § 3° Decreto n° 1911 de 1857 [ou 1852?]
E este é o parecer das Sessões.
O Conselheiro de Estado Marquês de Olinda deu o seguinte parecer: Pondo de parte estas questões suscitadas no parecer, as quais não influem na resolução que se há de tomar, limitar-me-ei ao ponto das cerimônias que devem ser praticadas a fim de que uma parte dos Cemitérios fique destinada para as pessoas a quem na conformidade dos Cânones é negada sepultura eclesiástica.
A medida lembrada não evita conflito entre as respectivas autorida-des; porque muitos párocos, e pode-se dizer muitas Câmaras Municipais, levadas todas de um falso zelo religioso hão de negar-se a um acordo qualquer com o pretexto de que esses lugares já estão bentos.
Não se diga que os Cemitérios são obras municipais.
A Lei assim o considera, com efeito, e os constitui debaixo de juris-dição municipal.
Quando se fez a lei não ocorreu a espécie que agora se verifica, e porque só agora é que se conhece esta falta, não se segue por isso que ela deve deixar de ser observada, acrescendo a circunstância de que acima se faz menção de que hoje são bentos todos os cemitérios o que os coloca em posição especial, a qual não pode deixar de ser atendidas.
Nos primeiros tempos sendo bentos [grifo no original] todos os cemi-térios para aqueles a quem era negada a sepultura eclesiástica, e sempre dentro do recinto dos mesmos Cemitérios, fazia-se uma separação para os que estivessem nesta circunstância, e assim determinam vários Concílios Provinciais de França: esta prática faz crer que a bênção não compreende todo o âmbito do Cemitério.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008302
Cláudia Rodrigues
Mas esta prática não pode hoje ser adotada porque todos estes estão bentos.
Entretanto há um meio muito simples de habilitar estes mesmos lu-gares separados para sepultura dos outros indivíduos, o que se faz por meio de certas cerimônias praticadas pelos sacerdotes.
Como, porém, fazer que as autoridades eclesiásticas competentes não se neguem a prática dessas cerimônias?
Deixar isto ao arbítrio dos Párocos de combinação com as Câmaras Municipais é criar dificuldades para a execução.
Parece, pois, que o meio mais simples e de mais fácil execução é que por meio de Avisos da Secretaria do Império sejam convidados os Prelados para que ou por si se assim o entenderem ou por delegados seus, que poderão ser os mesmos Párocos, procedam à divisão interna dos mes-mos Cemitérios já existentes e sempre dentro dos mesmos muros, a fim de que fique lugar reservado para aqueles a quem é negado a sepultura eclesiástica.
Esta medida é de esperar não encontre relutância, porque além de se conformar com a disciplina antiga da Igreja, é reclamada pela caridade pública.
O Conselheiro de Estado Barão do Bom Retiro concorda com o pa-recer da maioria das Sessões do Império e Justiça combinada a parte no voto do Exmo. Sr. Conselheiro de Estado Marquês de Olinda em que aconselha o Governo que se entenda com os Prelados Diocesanos a res-peito da separação de uma parte dos Cemitérios já bentos, dentro dos mesmos muros, destinada para o enterro daqueles a cujos corpos as Câ-maras negam sepulturas.
Pede, todavia, licença para lembrar que no caso de não se poder por qualquer circunstância levar avante a medida indicada, da separação do terreno, nos Cemitérios já bentos ‘Convirá mandar-se estender sempre que for possível a área dos ditos Cemitérios por meio de novos muros ou cercas para no espaço acrescido serem enterrados os cadáveres dos indi-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 303
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
víduos sobre que versa a Consulta.’
Vossa Majestade Imperial Mandará o que for melhor.
Sala das Conferências das Sessões dos Negócios do Império e Justiça do Conselho de Estado, em 4 de fevereiro de 1870.
José Thomaz Nabuco d’Araújo
Visconde de Sapucahy
Bernardo de Souza Franco
Barão do Bom Retiro
Foi voto o Sr. Marquês de Olinda, que não assinou por não estar presente atualmente. Nabuco d’Araújo.
11 de março de 1870.
RESOLUÇÃO
Recomenda-se aos reverendos Bispos que mandem proceder às solenidades da Igreja nos Cemitérios Públicos, cuja área toda estiver ben-ta, para que neles haja espaço em que possam enterrar-se aqueles a quem a mesma Igreja não concede sepultura em sagrado, e aos Presidentes de Província que providenciem que para nos cemitérios que d’ora em diante se estabelecerem se reserve sempre para o mesmo fim o espaço necessá-rio.
Paço Imperial, em 20 de abril de 1870.
Com a Rubrica de Sua Majestade Imperial.
Paulino José Soares de Souza.”
* * *
A discussão acima descrita denota a importância que a questão dos
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008304
Cláudia Rodrigues
cemitérios públicos assumiu na conjuntura que anunciava a crise do Im-pério brasileiro no alvorecer da década de 1870. De sua resolução satis-fatória dependeria o sucesso da política imigrantista que, desde meados do Oitocentos, se tentara empreender a fim de substituir da mão-de-obra escrava. Resolução da qual também dependeria a direção para onde ca-minhariam as relações entre Igreja e Estado num momento em que um procurava se afirmar frente ao outro.
O mais difícil, no entanto, seria a obtenção de uma solução satisfa-tória para a questão colocada, uma vez que o casamento entre Estado e Igreja sofreria abalos. Afinal, tratava-se de um estado confessional que, a partir de um dado momento, teve que se deparar com a resolução de pro-blemas causados pela confessionalidade, uma vez que os trabalhadores mais almejados eram os provenientes de regiões de matriz protestante. Numa conjuntura em que a hierarquia eclesiástica católica via na dis-seminação do protestantismo algo a ser combatido, inaugurava-se uma conjuntura na qual o tenso embate entre Regalismo e Ultramontanismo culminaria na chamada Questão Religiosa (1872-1875) e na própria crise do regime.
Não por acaso, as interdições ao sepultamento de não-católicos nos cemitérios públicos que bispos e párocos de diferentes regiões do país passaram a realizar nos anos de 1860 desencadearam um intenso e ca-loroso embate no país que, iniciado na imprensa, acabou adentrando o Conselho de Estado e se desdobrando em longas sessões de discussão no parlamento geral e no de algumas províncias em torno das medidas que se deveriam tomar para coibir as ações eclesiásticas3. O encaminha-mento dado à questão no Conselho de Estado nos traz apenas uma das frentes do combate que membros da elite política imperial empreenderam no sentido de solucionar os problemas causados pela difícil combinação entre política imigrantista e Estado confessional, num momento em que a sociedade imperial atravessava uma conjuntura de profundas e decisivas transformações de natureza política, social, econômica, mentais, religio-
3 – RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 305
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
sas etc.
* * *
Se a reforma cemiterial, pela qual várias cidades do Império passaram em meados do século XIX, se desdobrou no fim dos sepultamentos nos templos e na criação de cemitérios públicos extramuros4, as necrópoles criadas continuariam a ter jurisdição eclesiástica. Não só por precisarem da bênção episcopal para entrar em funcionamento, como também por ser necessária a apresentação de uma declaração paroquial de encomendação do cadáver que lá fosse sepultado. Portanto, apesar de públicos no nome, estes cemitérios se destinavam apenas ao público católico.
Poucos foram os locais nos quais houve uma preocupação com o sepultamento dos não-católicos, a exemplo dos protestantes. No Rio de Janeiro, em que pese o funcionamento do cemitério público de São Fran-cisco Xavier ter-se iniciado em 1851, somente em 1855 seria construído um espaço destinado aos protestantes não-ingleses5. Até então, existia 4 – Sobre este processo, ver GUEDES, Sandra Paschoal Leite de Camargo. Atitudes pe-rante a morte em São Paulo (séculos XVII a XIX). São Paulo: USP, mímeo., 1986. (Disser-tação de Mestrado); REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991; e RODRIGUES, Cláu-dia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura/Divisão de Editoração, 1997; ARAÚJO, Henrique Sérgio. Assim na morte como na vida: arte e sociedade no cemitério de São João Batista. Fortaleza: Museu do Ceará; Secretaria da Cultura do Estado do Cea-rá, 2002; CYMBALISTA, Renato. Cidade dos vivos: arquitetura e atitudes perante a mor-te nos cemitérios paulistas. São Paulo: Annablume, 2002; PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito do sagrado ao cemitério público. São Paulo: IMESP, 2004; SIAL, Vanessa Viviane de Castro. Das igrejas ao cemitério: políticas públicas sobre a morte no Recife do século XIX. Campinas: SP: UNICAMP, 2005 (Dissertação de Mestrado); CARVALHO, Consuelo de Azevedo. No silêncio dos túmulos: fim dos enterros nas igrejas e construções do Cemitério Geral na Vila de São João Del Rei (1820-1858). Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2005 (Dissertação de Mestrado); COSTA, Fernanda Maria Matos da. A morte e o morrer em Juiz de Fora: transformações nos costumes fúnebres, 1851-1890. Juiz de Fora: UFJF, 2007 (Dissertação de Mestrado); dentre outros.5 – BIBLIOTECA NACIONAL. VASCONCELLOS, Zacarias de Góes e. Legislação sobre a Empresa Funerária e os cemitérios da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typ. da Escola de Serafim José Alves, 1879.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008306
Cláudia Rodrigues
apenas o Cemitério dos Ingleses, na Gamboa, destinado originalmente aos britânicos, mas que recebia cadáveres tanto de protestantes de outras nacionalidades como de outros estrangeiros, a exemplo dos judeus6. Nas demais localidades do Império nas quais não existissem cemitérios de in-gleses, parece ter inexistido maiores definições sobre o sepultamento dos protestantes, mesmo naquelas nas quais já houvesse cemitérios públicos. Situação que não apresentou grandes problemas, até a segunda metade do século XIX, tendo em vista que a Igreja parecia tolerar a prática de sepultamento de não-católicos nestes cemitérios.
Esta situação, no entanto, se tornaria complexa a partir do momento em que a imigração européia e, especificamente, a proveniente de regiões de matriz protestante entrou na ordem do dia no Império, na segunda me-tade do século XIX, como forma de substituição da mão-de-obra escrava. Provenientes de várias regiões em que predominava o protestantismo, os imigrantes que chegaram ao Brasil pertenciam a uma variada gama das religiões protestantes, como o luteranismo, o anglicanismo, o metodismo e o presbiterianismo7.
A complexidade desta situação estaria no fato de que desde meados do século XIX assistia-se a um processo de afirmação do projeto eclesi-ástico ultramontano e romanizante em diferentes dioceses, preconizando o fortalecimento do papado, a reafirmação dos dogmas do catolicismo e o forte combate ao liberalismo, à maçonaria, ao positivismo e ao protes-tantismo, dentre outros movimentos de afirmação das liberdades8. Neste contexto, se houvera até então uma certa tolerância eclesiástica para com os sepultamentos de protestantes em cemitérios públicos, nas regiões nas
6 – GRINBERG, Keila. Judeus, judaísmo e cidadania no Brasil imperial In: _________. Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 209.7 – VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. 2ª ed. Brasília: Editora da UnB, 1980, p. 498 – GOMES, Francisco José Silva. Le projet de néo-chrétienté dans le Diocèse de Rio de Janeiro de 1869 à 1915. Toulouse: Université de Toulouse Le Mirail, 1991. 3 vols. Thèse de doctorat.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 307
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
quais não havia necrópoles exclusivas, inaugurar-se-ia uma prática de in-terdição do sepultamento daqueles que fossem considerados hereges, a exemplo dos protestantes.
Os primeiros casos de que tenho conhecimento foram os menciona-dos pelo jornal A Imprensa Evangélica, em editorial de 1870. Em 1867, um norte-americano encontrado morto no hotel no qual estava hospe-dado, no interior da província de São Paulo, foi sepultado inicialmente no cemitério municipal da localidade, mas teve seu cadáver transladado para o lado de fora da necrópole por ordem do vigário local, após propa-larem que se tratava de um protestante. Por volta de 1870, em localidade não indicada pelo jornal, um “homem respeitável” teria caído no “pecado eclesiástico” de possuir e estudar com gosto a palavra de Deus e, muito embora não tenha se professado formalmente protestante, o vigário do lu-gar proibiu que fosse enterrado no cemitério público; o que teria ocorrido, se não fosse a intervenção do juiz municipal9.
Mas estes casos não tiveram a mesma publicidade e os desdobra-mentos de dois outros ocorridos na mesma época, nos quais o protestan-tismo foi utilizado por membros da hierarquia eclesiástica católica como argumento para a interdição do sepultamento em cemitérios públicos. Um deles foi o ocorrido em março de 1869, no Recife, quando o bispo D. Car-doso Aires recusou o sepultamento do cadáver do conhecido general José Inácio de Abreu e Lima no cemitério público do Bom Jesus da Redenção (Santo Amaro), com a justificativa de que ele praticara atos condenados pela Igreja ultramontana, dentre os quais a intensa atuação em defesa da distribuição de bíblias protestantes10.
O outro caso foi o que mais diretamente ensejou as discussões aqui transcritas, uma vez que afetou um trabalhador imigrante de uma im-portante obra do Império, que era a construção da Estrada de Ferro D. Pedro II. Tratou-se de David Sampson, um indivíduo pouco conhecido
9 – BIBLIOTECA NACIONAL. A Imprensa Evangélica, 28/05/1870.10 – VIEIRA, David Gueiros. Op. cit., p. 269-270; RODRIGUES, Cláudia. Nas frontei-ras do além, p. 158-161 e SIAL, Vanessa Viviane de Castro. Op. cit.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008308
Cláudia Rodrigues
no Império – em comparação ao general – que, após se matar, teve seu corpo sepultado do lado de fora dos muros do cemitério por determinação do pároco de Sapucaia, na Província do Rio de Janeiro.11 A argumentação do sacerdote foi de que se tratava de um suicida, além de protestante. Decisão que foi confirmada pelo Vigário Geral do Bispado, o monsenhor Félix Maria de Freitas e Albuquerque, sob a alegação de que as leis da Igreja católica proibiam o enterramento em sagrado dos suicidas que não tivessem se arrependido antes da morte, além dos protestantes.
As interdições ao sepultamento, principalmente do general Abreu e Lima e de David Sampson, fizeram ressaltar, em 1869, que transfor-mações eram prementes naquela sociedade e uma delas deveria ser a da natureza pública das necrópoles. Não parecia mais ser consenso que os cemitérios fossem de domínio eclesiástico. Iniciava-se, assim, um longo e tenso debate sobre a questão da jurisdição sobre os cemitérios públicos, envolvendo as autoridades civis e eclesiásticas e a opinião pública de uma sociedade que, no início da década de 1870, se apresentava profundamen-te transformada. Na medida em que o Império ganhava novos contornos sociais, econômicos e políticos, o caráter eclesiástico das necrópoles re-presentava um obstáculo a ser transposto, uma vez que o “público” a quem se destinavam não seria mais exatamente o mesmo “público” que antes predominava.
E foi por isso que estes dois casos de interdição repercutiram pro-fundamente. No caso de Abreu e Lima, tratou-se de um acalorado debate através da imprensa em Recife e na Corte, por quase dois meses, acalen-tado pelas argumentações dos partidários do bispo e os do general.12 No caso de Sampson, se o suicídio dificultou que a sua defesa fosse abraçada publicamente, inclusive entre os protestantes, o fato de ser protestante conduziu o caso ao Conselho de Estado. 11 – Para maiores detalhes sobre estes dois casos, ver RODRIGUES, Cláudia. Nas fron-teiras do além, pp.149-158.12 – Sobre o debate na imprensa, ver RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além, p. 161-188 e SIAL, Vanessa. Op. cit., p. 247-272.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 309
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
O documento acima transcrito demonstra como que, inconformado com o ocorrido e com receio de que o caso de David Sampson se repro-duzisse, o diretor-geral da Estrada de Ferro, Mariano Procópio Ferreira Lage, solicitou ao governo providências a fim de se estabelecer uma regra geral para casos idênticos que pudessem se repetir no futuro. Seu receio era que a decisão do vigário-geral causasse má impressão e fizesse os em-preiteiros e trabalhadores protestantes abandonarem o serviço, causando “grave prejuízo” para a Estrada. Para o diretor, não parecia conveniente aos “interesses” mais vitais do governo – “que envidava tantos esforços para chamar a imigração” – que existissem “discriminações extremadas de religião”.
A providência tomada pelo Ministério dos Negócios do Império foi levar o caso ao Conselho de Estado, para que desse seu parecer, indicando as providências que deveriam ser tomadas para facilitar os enterramentos dos indivíduos não-católicos em lugares onde não houvesse cemitério es-pecial. O caso chegava, desta forma, às instâncias superiores do aparelho de Estado ou “à cabeça do governo”, conforme a expressão que José Mu-rilo de Carvalho tomou emprestada de Joaquim Nabuco para se referir ao Conselho de Estado como o cérebro da monarquia por representar o locus de onde provinha a filosofia que guiava a política imperial13. Justifica-se, deste modo, a relevância da questão.
A leitura do documento demonstra que, ao alcançar o Conselho de Estado, em fevereiro de 1870, o impasse em torno da interdição do sepul-tamento de protestantes nos cemitérios públicos colocava o Estado entre a jurisdição eclesiástica sobre instâncias da sociedade e a necessidade de eliminar os embaraços jurídicos e legais – muitos deles impostos pelo próprio sistema de união – à integração do imigrante na sociedade brasi-leira, a fim de estimular a imigração. Não era simplesmente a sepultura eclesiástica que estava em jogo, portanto, mas as garantias de se viabilizar
13 – CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras: a política imperial. São Paulo:Vértice/Editora Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988, p. 107-108.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008310
Cláudia Rodrigues
o projeto imigrantista frente ao iminente fim da escravidão; sem contar, é claro, a questão racial que também estava por trás deste projeto14.
Reunidas em 4 de fevereiro de 1870, as Seções dos Negócios do Im-pério e Justiça do Conselho de Estado afirmaram que deploravam que num país civilizado como o Brasil, num século de tolerância civil e religiosa ainda fosse objeto de questão o enterramento, dentro de um cemitério municipal, e por conseqüência público, de um indivíduo a quem a Igreja católica negou sepultura. Deploraram, também, que o “ilustrado” vigário-geral considerasse conciliador entre as leis da Igreja e o dever de caridade o enterro do “acatólico” fora do muro do cemitério público, se a própria Igreja sempre prescrevera que os cemitérios fossem fechados a fim de que os corpos não ficassem expostos aos animais e às profanações.
Citando o exemplo da França, afirmaram que se fosse necessário conciliar as leis da Igreja com a caridade devida ao homem, conforme alegara o vigário-geral, dever-se-ia prescrever o mesmo que se fazia em algumas províncias francesas, que era manter nos cemitérios católicos um lugar separado, por muro ou fosso, para aqueles aos quais não se pudesse conceder sepultura eclesiástica. Buscava-se, assim, o exemplo de um país que também estava discutindo a questão das interdições de sepultamento eclesiástico aos considerados não-católicos pela Igreja. Fato que também se dava em Portugal15, bem como em outros países europeus e latino-ame-ricanos, no contexto da expansão da laicização, através da reivindicação de que atividades até então exercidas predominantemente pela Igreja fos-sem geridas pelo Estado por meio da implementação do casamento civil, 14 – A este respeito, ver SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1976; SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1830. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; SEYFERTH, Giralda. Construindo a nação: hie-rarquias raciais e o papel do racismo na política de imigração e colonização in: MAIO, Marcos Chor (org.). Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CCBB, 1996, pp.42-43; dentre outros.15 – CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Portugal (1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva, 1999.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 311
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
do registro civil, do enterramento civil, da secularização dos cemitérios, dentre outras16. E foi no âmbito deste debate internacional, que opunha ultramontanismo e regalismo/separatismo/laicização, que os membros do Conselho se posicionaram.
Com efeito, iniciaram o texto afirmando que os cemitérios não eram propriedade da Igreja católica ou das fábricas respectivas. Afinal, disse-ram, quando foram criados fora das cidades e vilas, após 1850, tinham sido estabelecidos pelas câmaras municipais e, enquanto tais, eram pú-blicos: em primeiro lugar porque todos os habitantes, e não só os cató-licos, pagavam impostos; em segundo, porque a Constituição garantia a liberdade de consciência, e determinava que ninguém fosse perseguido por motivo de religião. As interdições de sepultura representariam per-seguição, injúria e aflição às famílias daquele cujo corpo fosse excluído do cemitério público. Considerando, entretanto, que havia uma religião de Estado e que a população católica do Império era “quase unânime”, deixaram claro que não proporiam que os cemitérios públicos deixassem de ser bentos. Até porque a Constituição garantia o Estado confessional.
Percebe-se aqui um exemplo da ambivalência que perpassava as vá-rias instâncias e os vários setores intelectuais e políticos da sociedade imperial. Buscava-se a afirmação do Estado frente à Igreja sem, contudo, desejar romper com o sistema de união. Neste caso em especial, vê-se que o Estado, que era católico, não conseguia impor a plena liberdade
16 – A este respeito, ver principalmente os estudos de MARTINA, Giacomo. História da Igreja, t. III, p. 49-112; RÉMOND, René. Religion et société em Europe: essai sur la sécularisation des sociétés européenes aux XIX et XX siècles (1789-1998). Paris: Éditons du Seuil, 1998, p. 123-145 e 189-208; HAARSCHER, Guy. La laïcité. Deuxième édition, 11º. Mille. Paris: P.U.F, 1998, p. 45-60. Para a América Latina, ver os vários artigos em BASTIAN, Jean-Pierre (compilador). Protestantes, liberais y francmasones: sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX. México: Fondo de Cultura Eco-nómica, 1990. Para Portugal, ver, dentre outros, NETO, Vítor. O Estado, a Igreja e a sociedade em Portugal (1832-1911). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s/d, p. 219-295. Em relação ao Brasil, ver VIEIRA, David Gueiros. Op. Cit.; GOMES, Francisco José Silva. Op. Cit.; ABREU, Martha. O Império Divino: festas religiosas e cultura po-pular no Rio de Janeiro, 1830-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: FAPESP, 1999, p. 311-332; dentre outros.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008312
Cláudia Rodrigues
religiosa – a fim de responder às necessidades criadas pela imigração – e nem se livrar dos entraves causados pelo sistema de padroado para imple-mentação de medidas que pudessem garanti-la.
A ambigüidade que se verificará no posicionamento do Estado em relação a esta questão – incentivando a imigração protestante, embora se tratasse de um estado confessional – pode ser constatada na própria Constituição de 1824. Ao mesmo tempo em que mantinha a religião ca-tólica romana como religião do Estado, permitia a existência das demais, desde que sob o culto doméstico ou particular (art. 5°); afirmava que eram cidadãos brasileiros os estrangeiros naturalizados, independentemente de sua religião (art. 6°); e determinava que ninguém podia ser perseguido por motivo de religião, desde que respeitasse a do Estado e não ofendesse a moral pública (art. 179).
Na prática, contudo, evidenciava-se uma contradição entre estes ar-tigos e a realidade cotidiana, que limitava os direitos constitucionais dos indivíduos, tendo em vista o controle eclesiástico de uma série de atri-buições de natureza civil, a exemplo dos registros dos nascimentos, casa-mentos e mortes e do fato de ser o catolicismo um dos critérios de reco-nhecimento da cidadania17. Assim, os protestantes não podiam ter atuação político-partidária, não tinham direito à transmissão de heranças devido aos entraves burocráticos causados pela inexistência do registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos, dentre outros. Justamente por isso, na ação empreendida pelos missionários protestantes no Brasil, muitos pro-curaram se aproximar de políticos, fossem parlamentares, ministros ou o próprio imperador, no sentido de sensibilizá-los para a defesa de sua causa e para a implementação de medidas liberalizantes18.
Na fala dos membros do Conselho de Estado fica claro o grande nó de toda aquela questão; ou seja, como adaptar um discurso moderno a
17 – BASTOS, Ana Marta Rodrigues. Católicos e cidadãos: a Igreja e a legislação elei-toral no Império. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 1997 e LORDELLO, Josette Magalhães. Entre o reino de Deus e o dos homens: a secularização do casamento no Brasil do século XIX. Brasília: Editora Unb, 2002, p. 65-66.18 – VIEIRA, David Gueiros. Op. cit.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 313
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
uma sociedade de base tradicional que via no concurso da Igreja um ins-trumento de ordenamento social? Não era à toa que o governo imperial se veria diante da questão dos cemitérios que, se no nome eram públicos, na realidade não o eram. Assim, o que se verifica é que, apesar de se propor liberal e de querer implementar posturas liberalizantes, o Estado não con-seguia se livrar do peso que representava a confessionalidade.
Foi neste sentido que os membros do Conselho viram como provi-dência mais conveniente a ser tomada a de que o governo mandasse, por decreto, que nos cemitérios existentes fosse designado ou separado – por muro ou vala – um lugar para os enterros, sem distinção, dos indivíduos de outras religiões e daqueles aos quais os Cânones negavam sepultura eclesiástica. Segundo os conselheiros, esta era a lei da França e da Bélgi-ca, que, também, fora adotada em algumas províncias de Portugal, poden-do, portanto, ser igualmente seguida pelo Brasil.
Propuseram ainda que, sendo bentos os cemitérios existentes, talvez fosse conveniente que as câmaras municipais se entendessem com os pá-rocos sobre as cerimônias que se devesse praticar para que ficasse profana a parte dos cemitérios destinada ao enterro daquelas pessoas. Bastaria, para isso, a simples demarcação do terreno nos lugares em que fosse di-fícil construir o muro ou vala pela escassez dos recursos municipais. Ne-nhuma outra providência parecia ser necessária, segundo as Seções, a não ser afirmar que no caso de recusa do sepultamento eclesiástico caberia recurso à Coroa.
Abria-se, assim, um canal de futuros conflitos entre a Igreja e o Es-tado, o que foi imediatamente percebido pelo conselheiro Marquês de Olinda, segundo o qual a proposta das Seções não evitaria conflitos entre a autoridade civil e a eclesiástica, posto que muitos párocos e câmaras municipais “levados de um falso zelo religioso” poderiam se negar a um acordo, sob o pretexto de que os terrenos de todos os cemitérios exis-tentes já estariam bentos, colocando-os em posição especial. Pensava o Marquês que deixar a cargo dos párocos ou das câmaras a realização das cerimônias necessárias a habilitar os locais destacados no cemitério ao se-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008314
Cláudia Rodrigues
pultamento das pessoas a quem não se desse sepultura eclesiástica pode-ria criar dificuldades para a execução desta medida, visto que os párocos, por exemplo, poderiam se negar a realizar as devidas cerimônias. O mais simples, diante disso, seria que todos os bispos fossem convidados por meio de avisos da Secretaria do Império para que por si ou por delegados seus procedessem à divisão interna dos cemitérios já existentes – sempre dentro dos mesmos muros –, a fim de se reservar lugar para aqueles a quem fosse negada a sepultura eclesiástica. Proposta que, como veremos adiante, também não seria bem acolhida pela hierarquia da Igreja flumi-nense.
Concordando com o parecer da maioria das Seções e com a sugestão do Marquês de Olinda, o conselheiro Barão do Bom Retiro propôs, então, uma medida conciliatória, para o caso de não se poder “por qualquer cir-cunstância” levar adiante a medida sugerida de separação de terreno nos cemitérios já bentos. A proposta era que se mandasse estender, sempre que fosse possível, a área dos ditos cemitérios por meio de novos muros ou cercas para enterrar os cadáveres dos indivíduos em questão. Com isto, as Seções reunidas dos Negócios do Império e Justiça do Conselho de Estado finalizaram seu trabalho.
De acordo com este parecer, o governo baixou a Resolução de 20 de abril, determinando, em primeiro lugar, que se avisasse aos bispos que mandassem proceder às “solenidades da Igreja” nos cemitérios públicos cuja área toda estivesse benta, para que neles houvesse espaço no qual se enterrassem aqueles a quem ela não concedesse sepultura em sagrado, além de determinar que nos cemitérios que daquele momento em diante fossem construídos se deveria reservar sempre o espaço para o sepulta-mento dos não-católicos. Em segundo, determinou que se avisasse aos presidentes de província que tomassem medidas para que nos cemitérios doravante estabelecidos se “reservasse sempre” o espaço necessário para aquele mesmo fim.
Muito embora os eclesiásticos tenham respondido afirmativamente às determinações da circular, a hierarquia católica fluminense não de-
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 315
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
monstrou estar satisfeita com a medida proposta pelo Conselho de Estado de “desbenzer” parte do terreno cemiterial e nem mesmo com a medida de se criar terreno distinto dentro do cemitério público para o sepultamento dos “acatólicos”. Tão logo foi publicada a Resolução de 20 de abril, O Apóstolo19 abordou o assunto no editorial de 8 de maio, argumentando que esta medida afetava o sentido do cemitério cristão ao misturar sepul-turas sagradas às que ela considerava profanas. Para os editores da folha católica, era em plena confusão que andavam as obrigações do Estado para com os cidadãos e as da Igreja em relação aos fiéis. Em matéria de cemitério, era “indecoroso” o que se observava e praticava “sem nenhum respeito às leis canônicas, confundindo no mesmo lugar o réprobo e o justo”. Era escandaloso ver enterrado no mesmo lugar sagrado com os ca-tólicos e sem distinção protestantes, suicidas, duelistas e todos os que se ostentavam inimigos declarados da Igreja católica e que assim morriam.
Exemplos do cumprimento da Resolução podem ser identificados no nível da província do Rio de Janeiro, onde as determinações imperiais repercutiriam nos regulamentos dos cemitérios municipais que seriam doravante construídos. Nestes, passou-se a proibir a negação de sepultu-ra e a determinar a existência de espaço reservado para o sepultamento daqueles a quem a Igreja não concedesse sepultura em sagrado – como pude constatar nos regulamentos dos cemitérios de Campos, Araruama, Mangaratiba, Vassouras, Santa Maria Madalena e Pati do Alferes20.
Entretanto, é possível verificar que em outras regiões do Império, o cumprimento desta Resolução não se deu com facilidade. Em Recife, imediatamente após os problemas em torno do sepultamento de Abreu e Lima, o presidente da Província propôs a discussão sobre a construção de um cemitério destinado àqueles a quem a Igreja negasse sepultura. Entrementes, o processo foi atropelado pela referida Resolução; que não
19 – O Apóstolo foi um jornal católico que circulou no Rio de Janeiro entre 1866 e 1901. Representou um canal oficial do episcopado fluminense e tinha por objetivo propagar e defender os interesses da diocese. Para maior análise deste jornal, ver GOMES, Francisco José Silva. Op.cit., p. 349-35320 – RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além, p.216-256.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008316
Cláudia Rodrigues
foi cumprida, tendo em vista que a hierarquia eclesiástica local conseguiu evitar que se desbenzesse parte do cemitério público. Situação que levou as autoridades civis a construírem o Cemitério dos Acatólicos nos fundos da necrópole pública, em local discreto e de difícil visualização somente em 187121. O que se verifica neste caso, porém, é que este cemitério pare-ce ter tido o mesmo destino dos cemitérios para indigentes existentes no período anterior ao da criação dos cemitérios extramuros, em meados do XIX, a exemplo do Campo da Pólvora, em Salvador, e do Cemitério da Misericórdia, detrás do hospital da Santa Casa, na Corte. Ou seja, foi um local rejeitado por todos aqueles que pudessem evitá-lo.
Outros indícios de que não foi em todas as localidades que se efeti-vou as determinações da Resolução de 1870 foram os novos casos de in-terdição de sepultamento ocorridos em Queluz, na província de São Pau-lo, e no Maranhão, ambos em 1879. Muito embora se tratassem de casos, respectivamente, de pertença à maçonaria e de suicídio22, o fato indica a inexistência de cemitérios para não-católicos nestas localidades, mesmo dez anos depois do ocorrido com Abreu e Lima e David Sampson.
Justamente por estas dificuldades, neste mesmo ano de 1879 entrou em discussão na Câmara dos Deputados o projeto de Secularização dos Cemitérios, proposto pelo deputado maçom Saldanha Marinho e defen-dido por Joaquim Nabuco, dentre outros, em prol da liberdade religiosa e da causa protestante. O projeto propunha, agora sim, a jurisdição civil sobre os cemitérios municipais. Entretanto, mesmo aprovado com muitas dificuldades e intenso debate na Câmara e no Senado, em 1887, foi enga-vetado por pressão eclesiástica e somente com a República as necrópoles deixariam de ter a jurisdição da Igreja e de ser bentos, com o Decreto n° 510, de 1890, que finalmente as secularizava.
A leitura do documento aqui transcrito nos apresenta o delicado en-caminhamento dado pelos conselheiros ao difícil problema da concilia-ção entre os interesses do Estado e da Igreja na condução das dificuldades 21 – SIAL, Vanessa Viviane de Castro. Op. cit., p. 270-279.22 – INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Anais da Câmara dos Deputados. Sessões de setembro de 1879.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 317
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
existentes para os sepultamentos em cemitérios públicos no contexto da crise do Império. Demonstra, também, que a questão dos cemitérios re-presentou um objeto de discussões e disputas políticas dos defensores das transformações da sociedade imperial, mormente as relacionadas à liberdade religiosa e ao fim da jurisdição eclesiástica sobre diferentes ins-tâncias da sociedade, tornando-se assim uma questão não só de religião, mas de Estado.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008318
Cláudia Rodrigues
Fontes e BibliografiaARQUIVO NACIONAL. Caixa 1226, Pacote 3, Documento 24 (Documentos Diversos: “Enterro”).BIBLIOTECA NACIONAL (Periódicos). A Imprensa Evangélica, 28/05/1870.BIBLIOTECA NACIONAL. (Periódicos). O Apóstolo, 08/05/1870 e 11/12/1870.BIBLIOTECA NACIONAL. (Periódicos). Jornal do Comércio. 25/11/1870.BIBLIOTECA NACIONAL. (obras raras). VASCONCELLOS, Zacarias de Góes e. Legislação sobre a Empresa Funerária e os cemitérios da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typ. da Escola de Serafim José Alves, 1879.INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Anais da Câmara dos Deputados. Sessões de setembro de 1879.
* * *ABREU, Martha. O Império Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Fapesp, 1999.ARAÚJO, Henrique Sérgio. Assim na morte como na vida: arte e sociedade no cemitério de São João Batista. Fortaleza: Museu do Ceará; Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, 2002.BASTIAN, Jean-Pierre (compilador). Protestantes, liberais y francmasones: sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.BASTOS, Ana Marta Rodrigues. Católicos e cidadãos: a Igreja e a legislação eleitoral no Império. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.CARVALHO, Consuelo de Azevedo. No silêncio dos túmulos: fim dos enterros nas igrejas e construções do Cemitério Geral na Vila de São João del Rei (1820-1858). Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2005 (Dissertação de Mestrado).CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras: a política imperial. São Paulo:Vértice/Editora Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: Iuperj, 1988. CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Portugal (1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva, 1999.
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008 319
Os cemitérios como uma questão de (Conselho de) Estado no Segundo Reinado
COSTA, Fernanda Maria Matos da. A morte e o morrer em Juiz de Fora: transformações nos costumes fúnebres, 1851-1890. Juiz de Fora: UFJF, 2007 (Dissertação de Mestrado).CYMBALISTA, Renato. Cidade dos vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios paulistas. São Paulo: Annablume, 2002.GOMES, Francisco José Silva. Le projet de néo-chrétienté dans le Diocèse de Rio de Janeiro de 1869 a 1915. Toulouse: Université de Toulouse Le Mirail, 1991. 3 vols. Thèse de doctorat.GRINBERG, Keila. Judeus, judaísmo e cidadania no Brasil imperial In: _________. Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.GUEDES, Sandra Paschoal Leite de Camargo. Atitudes perante a morte em São Paulo (séculos XVII a XIX). São Paulo: USP, mimeo., 1986. (Dissertação de Mestrado).HAARSCHER, Guy. La laïcité. Deuxième édition, 11º. Mille. Paris: P.U.F, 1998.LORDELLO, Josette Magalhães. Entre o reino de Deus e o dos homens: a secularização do casamento no Brasil do século XIX. Brasília: Editora UnB, 2002.MARTINA, Giacomo. História da Igreja, t. III, p. 49-112; RÉMOND, René. Religion et société em Europe: essai sur la sécularisation des sociétés européenes aux XIX et XX siècles (1789-1998). Paris: Éditons du Seuil, 1998.NETO, Vítor. O Estado, a Igreja e a sociedade em Portugal (1832-1911). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, s/d.PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito do sagrado ao cemitério público. São Paulo: Imesp, 2004.REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura/Divisão de Editoração, 1997._________. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de
R IHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (440):295-320, jul./set. 2008320
Cláudia Rodrigues
Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1830. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.SEYFERTH, Giralda. Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na política de imigração e colonização. In: MAIO, Marcos Chor (org.). Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CCBB, 1996.SIAL, Vanessa Viviane de Castro. Das igrejas ao cemitério: políticas públicas sobre a morte no Recife do século XIX. Campinas: SP: Unicamp, 2005 (Dissertação de Mestrado).SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. 2ª ed. Brasília: Editora da UnB, 1980.
NORMAS
A Revista do IHGB aceitará trabalhos, sob a forma de artigos, resenhas, transcrições de fontes comentadas, conferências e comunicações com perspectiva histórica ou historiográfica, que serão encaminhados à apreciação de pelo menos dois pareceristas do Conselho Editorial.
Os trabalhos deverão ser originais mas em casos especiais será aceita a publicação simultânea em outras revistas estrangeiras ou nacionais. As traduções serão acompanhadas da autorização do autor.
Os artigos deverão conter título, autor(es), crédito(s) do(s) autor(es), endereço para correspondência incluindo telefone, fax, e/ou e-mail, etc, acompanhados de um resumo de no máximo 10 linhas e 3 palavras-chave em português e em inglês. Devem ser apresentados em 2 (duas) vias impressas e acompanhadas de disquete sendo que em 1 (uma) os dados deverão estar ocultos. Programa Word for windows ou compatível. Quaisquer figuras devem ser enviadas em arquivos separados do texto para serem devidamente editadas embora também constantes das vias impressas para a localização correta conforme designação do autor. Todos os trabalhos serão submetidos a dois pareceristas. Havendo pareceres contrários haverá um terceiro para desempate.
A digitação deverá seguir as seguintes especificações:
Fonte: Times New Roman 11, folha A4 e espaço simples.
O parágrafo deverá ter um recuo de 1 cm.
As notas deverão ser colocadas em pé de página. Se contiverem todas as referências bibliográficas de que o autor se serviu fica dispensada a repetição da bibliografia ao final.
Normatização das notas de rodapé:
- Livro:
SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico. Edição (se não for a primeira). Cidade: Editora, ano, p ou pp. Ex. : CASTELLO BRANCO, Carlos. Retratos e fatos da história recente. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1996, 206 p.
- Artigos de revistas ou capítulo de livro, ou parte de obra coletiva:
SOBRENOME, Nome. “Título do artigo (entre aspas)” In Título do periódico em itálico, volume e/ou número do periódico, local de publicação, data de publicação, número(s) da(s) página(s). Ex.: SOIHET, Rachel. “O drama da conquista na festa: reflexões sobre resistência indígena e circularidade cultural” In Estudos Históricos, vol. 5, n 9, Rio de Janeiro, 1992, pp. 44-59.
- Outros documentos:
IBGE. Anuário Estatístico do Brasil – 1995. Rio de Janeiro: IBGE, 1996.
A publicação e comentários sobre documentos inéditos seguirão as normas especificadas para artigos.
Cabe à Comissão da Revista a decisão referente à oportunidade da publicação das contribuições recebidas.
ESTA OBRA FOI IMPRESSAPELA GRÁFICA DO SENADO,
BRASÍLIA/DF,EM 2008, COM UMA TIRAGEM
DE 700 EXEMPLARES
A Gráfica do Senado limitou-se a executar os serviços de impressão e acabamento desta obra.










































































































































































































































































































































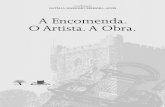











![La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312e0d5fc260b71020ed6a6/la-nascita-della-scienza-giuridica-in-lantichita-roma-a-cura-di-umberto-eco.jpg)


