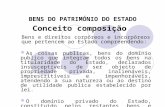O instituto do indigenato: caminhos do reconhecimento na América luso-brasileira
Transcript of O instituto do indigenato: caminhos do reconhecimento na América luso-brasileira
O INSTITUTO DO INDIGENATO: OS CAMINHOS DO RECONHECIMENTO NA AMÉRICA LUSO-BRASILEIRA
Wilson Rocha Assis
As contradições do processo colonial repercutiram na legislação portuguesa
editada entre os séculos XVI e XIX. No período colonial brasileiro, o reconhecimento de
direitos indígenas sobre seus territórios, corpos e instituições conviveu com sua negação
prática e sua destruição velada, tal qual ocorreu em toda a América. Cumpre-nos neste
capítulo perscrutar os caminhos pelos quais o reconhecimento dos direitos indígenas
tornou-se uma realidade exigível em seu sentido plenamente jurídico na América
portuguesa, não obstante as correlações de forças históricas desfavoráveis
inviabilizassem a concretização destes direitos.
Tal como o sistema de tratados da América anglófona, sobre o qual
longamente discorrem as obras de James Tully, Robert Williams, entre outros autores,
sustentamos que o indigenato luso-brasileiro compõe parte do constitucionalismo
escondido que conforma o núcleo duro dos modernos conceitos do constitucionalismo.
Revisitar a história dos direitos e das liberdades indígenas no Brasil servirá, ao menos,
para confrontar certas leituras simplistas de debates complexos e profundamente
conflitivos, cuja solução, apresentada pelos setores política e economicamente
hegemônicos, aponta sempre para o apagamento da diferença e destruição da alteridade
indígena.
O direito de propriedade no Brasil - especialmente quando confrontado a
direitos originários de povos indígenas, ou a direitos decorrentes de conformações sócio-
culturais características de comunidades tradicionais - deve ser lido, analisado e criticado
em sua perspectiva histórica, de modo a resgatar, no palimpsesto dos sucessivos
diplomas legais, os direitos e garantias que as violências históricas cuidaram de apagar. O
que se pretende afirmar é que, além de um direito originariamente indígena, formulado e
aplicado pelas comunidades pré-colombianas e que sobrevive até os dias de hoje na vida
comunitárias de seus descententes, que afirma as pretensões originárias dos índios às
suas terras, instituições e culturas, esse direito indígena foi reconhecido e abarcado pelo
constitucionalismo ocidental, tornando factível a afirmação, em termos estritamente
jurídicos, de direitos fundamentais fundados em uma identidade histórico-cultural distinta
da sociedade nacional.
Nesse sentido, devemos começar esclarecendo que o Brasil, entre os
séculos XVI e XIX, constituia-se de uma miríade de povos, cuja vida social e econômica
foi profundamente alterada pela chegada dos europeus na América. As impossibilidades
materiais de controle do território e das populações nele presentes não permitem
conceber um estado em sua acepção moderna, ou seja, como uma estrutura burocrática
apta ao exercício de um poder incontrastável sobre pessoas e territórios. Com essa
afirmação, pretende-se atentar para a inexistência do Brasil enquanto realidade nacional,
ou seja, enquanto realidade culturalmente homogênea e fundada em um poder soberano.
Nos primórdios da colonização, simultaneamente à implantação de
estruturas de dominação portuguesa no Brasil - como as capitanias hederitárias, o
Governo Geral e as Câmaras Municipais -, em Portugal, a colonização da América
promoveu também profundas alterações, entre as quais se deve destacar o fortalecimento
da burguesia mercante, o fortalecimento da administração monárquica, a ampliação da
base arrecadatória do estado nacional português e a consolidação do poder régio, que, 1
assim, venceu definitivamente os particularismos feudais.
A par de todas as discussões que a presença européia na América
despertou entre os espanhóis, Portugual encontrou seu próprio caminho de efetivação e
justificação do domínio exercido em terras americanas. Hartmut-Emanuel Kayser destaca
que “a questão do título jurídico para a expansão do domínio no Novo Mundo e a
aquisição local de propriedade não haviam obtido qualquer significado em Portugal por
longos períodos do século XVI. As soluções teóricas da Escola de Salamanca a respeito
dos títulos jurídicos permaneceram sem influência sobre Portugal. O Direito dos
portugueses sobre a aquisição de propriedade em terras indígenas no Brasil não foi
objeto de dúvidas nem submetido a quaisquer restrições” . 2
“Não devemos imaginar porém que, no século XVI, o Brasil proporcionasse riquezas consideráveis aos 1
cofres reais. Pelo contrário, segundo cálculos do historiador Vitorino Magalhães Godinho, em 1558 a arrecadação proveniente do Brasil representava apenas algo em torno de 2,5% das rendas da Coroa, enquanto ao comércio com a Índia correspondiam 26%”. FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade São Paulo, 1999, p. 47.
KAYSER, 2010, p. 142.2
No campo econômico, seguindo as diretrizes gerais do mercantilismo, a
lavoura canavieira - fundada sob o tripé monocultura, latifúndio e escravidão - forneceu o
impulso inicial para o aproveitamento econômico das terras americanas e a justificativa
para criação de uma estrutura burocrática de administração. A expansão da pecuária, a
comercialização das drogas do sertão e a mineração, esta última a partir do século XVIII,
asseguraram a interiorização da colonização e a consolidação do domínio português
sobre terras originariamente indígenas.
Logo após o envio da primeira expedição colonizadora à América,
comandada pelo experiente navegador Martim Afonso de Souza, em 1530, a Dinastia
Portuguesa de Avis inaugurou no Brasil o sistema de Capitanias Hereditárias, instalado
em 1534, pelo qual se dividiu o território brasileiro em 15 quinhões, definidos por linhas
paralelas ao Equador, que iam do litoral atlântico ao meridiano definido pelo Tratado de
Tordesilhas. Segundo Bóris Fausto, as capitanias representaram, em essência, “uma
tentativa trasitória e ainda tateante de colonização, com o objetivo de integrar a Colônia à
economia mercantil européia” . 3
Os donatários foram investidos na posse dos territórios concedidos, o que
significava a atribuição de poderes de ordem jurídica, administrativa (tal como a
concessão de autorização para fundação de vilas e engenhos), tributária (recebimento de
direitos relativos à agricultura, depósitos de sal, além de parcela dos tributos arrecadados
pela Coroa) e militar (especialmente a guarda e vigilância do território contra potências
estrangeiras). Conforme ensina Demetrio Ramos Pérez, “el año de 1534 se abrió con las
primeras donaciones. Éstas no significaban que el rey enajenara la tierra en favor del
donatario: a éste sólo se le daba el beneficio de ella, que tampoco era total. El donatario
era, pues, un pequeño virrey que administraba directamente la real hacienda y los
poderes de gobierno y las funciones militares. Tenía derecho a la propiedad directa de un
20 por 100 de la propiedad de la capitania y de los molinos e ingenios cuya instalación
sólo él autorizaba. Recibía también una vintena del palo de Brasil” 4
As capitanias hereditárias não contrariavam a estrutura patrimonialista do
Reino Português, pela qual, ao longo da história portuguesa, a monarquia transformou
FAUSTO, 1999, p. 45.3
PÉREZ, Demetrio Ramos. In SALMORAL, Manuel Lucena (coord.) Historia de Iberoamérica. II - Historia 4
Moderna. Madrid: Cátedra, 2008, p. 191.
seus largos domínios na península Ibérica em direitos de soberania, do dominare ao
regnare , como ensina Raymundo Faoro. O mesmo autor destaca que “os dois caracteres 5
conjugados - o rei senhor da guerra e o rei senhor de terras imensas - imprimiram a feição
indelével à história do reino nascente” . Os domínios do rei estendiam-se às terras 6
americanas por força das sucessivas bulas papais editadas ao longo do século XV. A
propriedade régia sobre as terras do Novo Mundo trazia como acessório o dever de
propagar a fé cristã, segundo o espírito cruzadista presente na expansão marítima
portuguesa.
Todavia, a colonização do vasto território brasileiro, determinada em 1530
pelo rei João III, deflagrava uma mudança no sistema mercantilista português, limitado,
até aquele momento, ao estabelecimento de trocas comerciais mais ou menos regulares
com povos autóctones da África e Ásia, asseguradas por forte poder bélico. Segundo
Bóris Fausto, “sem penetrar profundamente no território africano, os portugueses foram
estabelecendo na costa uma série de feitorias, que eram postos fortificados de comércio;
isso indica a existência de uma situação em que as trocas comerciais eram precárias,
exigindo a garantia das armas” . O sistema de feitorias não indicava, propriamente, a 7
necessidade de garantia de territórios e a afirmação da soberania portuguesa sobre
outros povos. Portanto, o sistema de capitanias hereditárias sinalizava maiores desafios,
que mobilizariam toda a estrutura administrativa, mercantilista e militar portuguesa, para a
garantia de seus territórios na América. A colonização das ilhas atlânticas de Madeira,
Cabo Verde e Açores, ao longo do século XV, representou um ensaio tímido do que viria a
tornar-se o empreendimento colonial português na América. Paralelamente, o sucesso
espanhol no descobrimento de metais preciosos no Peru estimulou a Coroa Portuguesa a
lançar-se à colonização das terras que lhe foram asseguradas pelo Tratado de
Tordesilhas, de 1494.
No contexto dessa nova experiência colonizadora, referindo-se à expedição
comandada por Martim Afonso de Souza, João Mendes Júnior destaca que “os indios
tratavam com Martim Affonso em 1531 como de potencia a potencia, a história nos
confirma; e o assalto de Piratininga, em 10 de julho de 1562, se teve por causa occasional
FAORO, 2001, p. 19.5
Ibidem.6
FAUSTO, 1999, p. 28-29.7
as intrigas entre João Ramalho e os jesuitas, teve por causa principal o rompimento do
tratado pelo qual Martim Affonso se obrigara a não permitir, sem licença prévia, a subida
dos europeus. Martim Affonso havia promettido que os portuguezes não se
estabeleceriam em serra acima, nem mesmo poderiam lá ir a resgatar ou negociar com
indigenas sem sua licença ou dos capitães-móres seus loco-tenentes, a qual não se daria
senão com muita circumspecção e unicamente a sujeitos bem morigerados” . 8
À vinda de novos colonos, entre os quais se destaca o Capitão-donatário
Duarte Coelho, responsável pela instalação da lavoura canavieira na próspera capitania
de Pernambuco, seguiu-se, em 1548, a instalação do Governo Geral cuja implantação foi
motivada pelas dificuldades do sistema anterior, que revelavam a necessidade do
empenhamento estatal para a consolidação dos domínios portugueses nas regiões em
que os esforços iniciais de colonização não prosperaram. Via de regra, houve pouco
interesse de capitais privados no lançamento da empresa colonial . O primeiro 9
Governador-Geral, nomeado pelo rei Dom João III, foi Tomé de Sousa, que aportou na
colônia em 1549, com extensos poderes descritos em seu Regimento. O Regimento de
Tomé de Sousa, de 17 de dezembro de 1548, “constituiu o fundamento da administração
civil do Brasil até 1677” , ano em que foi substituído pelo Regimento de Roque da Costa 10
Barreto . Coube a Tomé de Sousa e a seus sucessores (Duarte da Costa e Mem de Sá) 11
empreenderem um esforço de estruturação e centralização administrativa, iniciada com a
fundação da primeira capital da colônia, a cidade de São Salvador, em 1549.
Com Tomé de Sousa, vieram ao Brasil os primeiros jesuítas, capitaneados
por Manuel da Nóbrega. Em 1552, seguindo as prescrições contidas no Regimento de
Tomé de Sousa, a Companhia de Jesus iniciou o aldeamento das populações indígenas.
A catequese indígena nas aldeias era um dos vetores centrais da colonização. A reunião
dos índios em grandes aldeamentos - nos quais implementada uma rigorosa rotina de
MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. São Paulo, Typ. 8
Hennies Irmãos, 1912, p. 26-27.
Consta que apenas as Capitanias de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, 9
doada a Duarte Coelho, prosperaram. As demais capitanias fracassaram, ora por falta de recursos, ora em razão de ataques indígenas ou, simplesmente, por desinteresse dos donatários. Cf. FAUSTO, p. 44-45.
KAYSER, 2010, p. 136.10
Cf. LARA, Silvia Hunold. Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa, 2000, p. 21. 11
Disponível em < http://pt.scribd.com/doc/41888925/Legislacao-sobre-escravos-africanos-na-America-Portuguesa>. Acessado em 11 de novembro 2011.
trabalho e controle dos índios -, ao desestruturar as formas tradicionais de vida e
organização social, serviu de instrumento para impor os valores da civilização cristã
europeia, entre os quais se incluia o rigoroso respeito à autoridade real.
A catequese serviu, ao mesmo tempo, como mecanismo de exploração
ecônomica das populações indígenas; estratégia militar de proteção dos territórios
portugueses ; e instrumento político de dominação, tendo em vista a confusão entre 12
Igreja e Estado materializada, em Portugal, na Ordem de Cristo e no regime do
Padroado . Com a vinda dos primeiros jesuítas, iniciou-se também o conflito secular 13
entre missionários e colonos, pelo controle da mão de obra indígena. Não obstante
concebessem o mesmo destino à população autóctone - a servidão silenciosa ou o
extermínio - jesuítas e colonos pelearam ao longo de quase todo o período colonial em
torno da questão indígena, o que somente se resolveu, em favor dos colonos, em 1759,
com a expulsão da Companhia de Jesus dos domínios portugueses.
A atração de colonos à América, dando solução aos problemas
demográficos crescentes da Europa, foi estimulada pela visão edênica do Novo Mundo, 14
apresentado, nas descrições feitas por viajantes e cronistas, como uma terra de
fertilidade, liberdade e riquezas. Raymundo Faoro acrescenta que “um apelo a mais, além
das delícias edênicas prometidas por Caminha, se apresenta ao imigrante potencial: a
libertação do trabalho. Libertação que completa todas as liberdades - ensejando vida
aristocrática, de acordo com os suspirados modelos europeus” . 15
Todas as invasões estrangeiras no Brasil decidiram-se com o apoio das populações autóctones, a 12
exemplo do que ocorreu com a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, em 1565, ou a retirada dos holandeses de Pernambuco, em 1654. A continuidade ou descontinuidade de diversos núcleos de povoamento tambés dependeu de alianças militares indígenas, tal como ocorreu em São Paulo, que, em 12 de julho de 1562, quando atacada por diversos tribos indígenas, contou com o apoio do chefe indígena Tibiriça (MENDES JÚNIOR, 1912, p. 26-27). Em todos esses conflitos, as potências estrangeiras em conflito contaram, lado a lado, com o apoio de diferentes grupos étnicos.
“O padroado consistiu em uma ampla concessão da Igreja de Roma ao Estado português, em troca da 13
garantia de que a Coroa promoveria e asseguraria os direitos e a organização da Igreja em todas as terras descobertas. O rei de Portugal ficava com o direito de recolher o tributo devido pelos súditos da Igreja conhecido como dízimo, correspondente a um décimo dos ganhos obtidos em qualquer atividade. Cabia também à Coroa criar dioceses e nomear os bispos. [...] Para supervisionar todas essas tarefas, o governo português criou uma espécie de departamento religioso do Estado: a Mesa da Consciência e Ordens” (FAUSTO, 1999, p. 60-61)
“Uma rápida expansão demográfica, iniciada nos meados do século XV, irrompe em todos os países, na 14
França e na Espanha, na Itália e nos Balcãs. Entre 1500 e 1600 a população dobra de volume, com uma taxa provável de 7 por cento ao ano. A revolução biológica cria, de súbito, um problema social, que atordoa os reis, inquieta os proprietários rurais e ameaça os habitantes das cidades”. FAORO, 2001, p. 122.
Idem, p. 120.15
Assim, ao atrativo da posse de abundantes terras no novo mundo, somava-
se a possibilidade de obtenção de vasta escravaria, libertando o colono dos trabalhos
braçais. Vê-se que os desígnios dos colonos portugueses no Brasil atingiam duplamente
os direitos indígenas, antevendo-se a expropriação do território e a escravidão como
consequentes lógicos da empresa colonizadora. O embate em torno da escravidão
indígena foi deflagrado já nos primórdios da colonização, enquanto a vastidão das terras
interiores, livremente apropriadas pelos índios, empurrava para os séculos seguintes o
enfrentamento definitivo pelo território.
Faoro revela que “num quadro válido para o açúcar e o café, no curso de
trezentos anos, a terra representaria o valor de um décimo do valor da escravaria” . O 16
elevado valor do escravo africano, cujo comércio era monopolizado por comerciantes
portugueses, determinou a necessidade prática de exploração da mão-de-obra indígena.
A admissão da hipótese escravista, todavia, contrariava a fórmula ideológica em que
concebida a expansão marítima. A legitimação do empreendimento comercial e a
distribuição de vastas terras no globo demandou o referendo papal, pelo qual a tarefa
evangélica impôs-se como ônus acessório do empreendimento comercial e militar. Nesse
sentido, não obstante prenhe de contradições, a presença religiosa no empreendimento
marítimo levou para dentro das naus o humanismo da longa tradição filosófica ocidental,
contribuindo para civilizar, até certo ponto, a ganância de monarcas, comerciantes,
colonos e navegadores . 17
Definiu-se, portanto, uma fórmula anti-escravista para o trato com as
populações autóctones, consubstanciada na Bula Sublimis Deus, editada em 1537, pelo
papa Paulo III. Apesar disso, na prática colonial, a catequese tornou-se um instrumento de
subordinação política e econômica dos índios aos interesses metropolitanos, razão pela
qual o afastamento do escravismo não assegurou a integridade física e cultural das
populações americanas.
Idem, p. 149.16
Em certo sentido, causa estranhamento que a fórmula anti-escravista, definida em termos jurídicos e 17
teológicos em favor dos índios, não tivesse aplicação em relação às nações africanas. Por certo, esta é uma das razões, ainda pouco explicadas, pelas quais é verdadeira a assertiva de Raymundo Faoro, segundo a qual “a descoberta do Brasil entrelaça-se na ultramarina expansão comercial portuguesa. Episódio, bem verdade, perturbador e original, incapaz de se articular totalmente nas navegações africanas e asiáticas. Diante do português emergiu não apenas um mundo novo, mas também um mundo diferente, que deveria, além da descoberta, suscitar a invenção de modelos de pensamento e de ação” (FAORO, 2001, p. 117)
Do ponto de vista legal, as disposições atinentes à questão indígena
encontravam-se especialmente na legislação extravagante, conjunto de documentos
legais que extravasavam o texto das Ordenações. A legislação extravagante forma um
extenso e complexo corpo normativo, de variada designação, cujo acesso, conhecimento
e interpretação constituía tarefa difícil . Sobre as diversas modalidades de textos 18
normativos, que compunham a legislação extravagante, ensina Siliva Hunold Lara que as
leis expressavam ordens de caráter geral, válidas em todo o Reino e seus domínios com
validade indeterminada, costumando trazer mencionadas a legislação por elas revogadas;
os alvarás, por sua vez, referiam-se a modificações e declarações sobre assuntos já
estabelecidos e normalmente deveriam conter disposições com até um ano de validade,
sendo frequente que se perpetuassem indefinidamente através de uma cláusula expressa
em contrário; já os regimentos eram diplomas que estabeleciam um conjunto de
obrigações, normas e princípios que deveriam reger o funcionamento de um órgão,
tribunal, magistrado ou cargo; as cartas régias, por sua vez, eram dirigidas a uma
autoridade ou pessoa determinada e constituem também uma ordem real; por fim, as
provisões e avisos eram determinações expressas em nome do rei, emanadas dos
Conselhos e ministros reais, em seguimento a suas ordens ou no exercício de suas
atribuições legais . 19
A primeira lei a tratar das liberdades aplicáveis aos “gentios das terras do
Brasil, e mais Conquistas” foi editada em 20 de março de 1570, dispondo em que “casos
se podem, ou não podem captivar: determinando que todos sejão tratados, e reputados
por livres, sem se poderem por modo, ou maneira alguma captivar; salvo aquelles que
forem tomados em guerra justa, que os Portugueses fizerem aos ditos Gentios com
authoridade, e licença do Rei, ou do seu Governador nas ditas terras; ou aquelles, que
Ao longo dos séculos, foram publicadas diversas compilações dos diplomas legais editados pela Coroa 18
Portuguesa. Essas coleções, de grande valor histórico, estão disponíveis em <http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/>. Para a presente obra, utilizamos especialmente a Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, para o período de 1750 a 1830, publicada em Lisboa no ano de 1830; a Collecção Chronologica da Legislação Portugueza Compilada e Annotada, de José Justino de Andrade e Silva, para o período de 1603 a 1700, publicada em Lisboa em 1854; a Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para a historia e estudo critico da Legislação Portugueza, de Jozé Anastasio de Figueiredo, para o período de 1143 a 1603, publicada em Lisboa, em 1790; Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portugueza Posterior à Publicação do Codigo Filippino, de João Pedro Ribeiro, para o período de 1604 a 1750, publicada em Lisboa, em 1805; e Codigo Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal recopiladas por mandado d’El-Rey D. Philippe I, de Cândido Mendes de Almeida, publicada no Rio de Janeiro, no ano de 1870.
LARA, 2000, p. 25-26.19
costumão faltear os Portugueses, e a outros Gentios para os comerem, assim como são
os que chamão Aymores, e outros semelhantes” . 20
Em 22 de agosto de 1587, é assinada outra lei, confirmando-se a lei de 20
de março de 1570, acrescentando ainda “providencias a respeito dos que trabalham nas
fazendas, para nunca poderem ser nellas retidos como escravos, mas só como
inteiramente livres em quanto fosse sua vontade” . 21
Em seguida, por lei de 11 de Novembro de 1595, 25 anos depois do diploma
legal que admitia a escravização indígena quando decorrente de guerra justa, a Coroa
Portuguesa esclarece “as circunstancias, que devem concorrer para a guerra ser justa
nos termos da Lei de 20 de Março de 1570” . A brecha legal aberta pela hipótese da 22
guerra justa justificava a escravização quase generalizada da população americana,
especialmente nas regiões mais pobres, em que a carência de capitais financeiros
obstava o acesso à mão-de-obra africana. Na capitania de São Vicente, a despeito dos
protestos gerados entre os missionários jesuítas, organizaram-se grandes expedições, as
bandeiras de apresamento, destinadas ao ataque e captura de índios já aldeados, na
região dos Sete Povos das Missões, área sob domínio espanhol até meados do século
XVIII.
Os abusos dos colonos, levaram à Provisão, de 05 de junho de 1605, na
qual foi estabelecido que “em nenhum caso se podessem captivar os gentios do Brazil;
porque, com quanto houvesse algumas razões de direito para se poder em alguns casos
introduzir o dito captiveiro, eram de tanto maior consideração as que haviam em contrario,
especialmente pelo que toca á conversão dos gentios á nossa Santa Fé Catholica, os
quaes se deviam antepôr a todas as mais” . 23
Lei de 20 de março de 1570, conforme Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para a 20
historia e estudo critico da Legislação Portugueza, de Jozé Anastasio de Figueiredo, publicada em Lisboa, em 1790.
Lei de 22 de Agosto de 1587, conforme Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para a 21
historia e estudo critico da Legislação Portugueza, de Jozé Anastasio de Figueiredo, publicada em Lisboa, em 1790.
Lei de 11 de Novembro de 1595, conforme Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para 22
a historia e estudo critico da Legislação Portugueza, de Jozé Anastasio de Figueiredo, publicada em Lisboa, em 1790.
Provisão de 05 de Junho de 1605, conforme Collecção Chronologica da Legislação Portugueza 23
Compilada e Annotada, de José Justino de Andrade e Silva, publicada em Lisboa em 1854.
A vedação total para o apresamento de índios foi reiterada pela importante
lei de 30 de julho de 1609, na qual o Rei Habsburgo Felipe III considerando que, “Para se
atalharem os grandes excessos que poderá haver, se o dito captiveiro em algum caso se
permitir, para de todo se cerrar a porta a isto, com o parecer dos do meu Conselho,
mandei fazer esta Lei, pela qual declaro todos os gentios d’aquellas partes do Brazil por
livres, conforme o Direito, e seu nascimento natural, assim os que já forem baptizados, e
reduzidos á nossa Santa Fé Catholica, como os que ainda viverem como gentios,
conforme a seus ritos, e cerimonias; os quaes todos serão tratados, e havidos por
pessoas livres, como são; e não serão constrangidos a serviço, nem a cousa alguma,
contra sua livre vontade; e as pessoas que delles se servirem nas suas fazendas, lhes
pagarão seu trabalho, assim e da maneira, que são obrigados a pagar a todas as mais
pessoas livres, de que se servem” . 24
O conhecimento dos cativeiros realizados em contrariedade às leis
emanadas da Coroa, fez com que o Rei dispusesse, na mesma lei de julho de 1609 que,
“porque sou informado, que em tempo de alguns Governadores passados se captivaram
muitos gentios, contra a a fórma das Leis de El-Rei, [...] hei por bem, e mando, que todos
sejam postos em liberdade; e que se tirem logo do poder de quasquer pessoas, em cujo
poder estiverem, e os mandem para suas terras, sem embargo de os que delles estiverem
de posse dizerem, que os compraram, e que por captivos lhes foram julgados por
sentenças - as quaes, vendas e sentenças declaro por nullas, por serem contra o Direito,
ficando resguardado aos compradores o que pertenderem, contra os que lh’es venderam.
[...] e os que contra fórma desta Lei trouxerem gentios da serra, ou se servirem delles,
como captivos, ou os venderem, incorrerão nas penas, que por Direito commum, e
Ordenações, incorrem os que captivam e vendem pessoas livres” . 25
A mesma lei estabelece ainda disposições sobre o domínio das terras e dos
bens possuídos pelas comunidades indígenas, determinando que “Hei por bem, que os
ditos gentios sejam senhores das suas fazendas, nas povoações em que morarem, como
o são na serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes fazer molestia,
nem injustiça alguma”. Sobre os índios descidos pelos jesuítas, o Rei estabelece que o
Lei de 30 de Julho de 1609, conforme Collecção Chronologica da Legislação Portugueza Compilada e 24
Annotada, de José Justino de Andrade e Silva, publicada em Lisboa em 1854.
Idem.25
“Governador, com o parecer dos ditos Religiosos, aos que vierem da serra, assignará
logares, para nelles lavrarem, e cultivarem, não sendo já aproveitados pelos Capitães,
dentro no tempo, como por suas doações são obrigados; e das Capitanias, e logares, que
lhes forem ordenados, não poderão ser mudados para outros contra sua vontade (salvo
quando elles livremente o quizerem fazer)” . Não se trata da instituição de um direito 26
novo, mas do reconhecimento e declaração de direitos pré-existentes, fundados na posse
congênita e ancestral das comunidades autóctones. Referido reconhecimento, expresso
na Lei de 30 julho de 1609, marcou o início da positivação do regime jurídico das terras
indígenas.
Por fim, a mesma lei dispõe ainda sobre o estabelecimento de uma
jurisdição especial para os conflitos decorrentes das relações dos povos indígenas com a
sociedade colonial. Assim, para os povos indígenas, “nas povoações, em que estiverem,
aonde não houver Ouvidor dos Capitães, o Governador, lhes ordene um Juiz particular,
que seja portuguez, chistão velho, de satisfação, o qual conhecerá das causas, que o
gentio tiver com os mercadores, ou os mercadores com elle” . 27
Portanto, a lei de 30 de julho de 1609 abordou três questões da mais
elevada importância para a garantia das liberdades indígenas: i. “declaro todos os gentios
d’aquellas partes do Brazil por livres, conforme o Direito, e seu nascimento natural”; ii. “que os ditos gentios sejam senhores das suas fazendas, nas povoações em que
morarem, como o são na serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes
fazer molestia”; iii. “lhes ordene um Juiz particular, [...], o qual conhecerá das causas, que
o gentio tiver com os mercadores, ou os mercadores com elle”.
Disposição semelhante às anteriores foi disposta na lei de 10 de setembro
de 1611, pondo em liberdade todos os gentios que “até a a publicação desta Lei forem
cativos” , declarando nulas as vendas e sentenças das quais decorreram os cativeiros, 28
resguardado o direito dos compradores de haverem seus prejuízos em face dos
vendedores.
Idem.26
Idem.27
Lei de 10 de setembro de 1611, citada na Lei de 06 de junho de 1755, conforme Collecção da Legislação 28
Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
Sobre os índios sob administração de autoridades civis, dadas por repartição
ou por administração para a realização de trabalhos diversos, em 10 de novembro de
1647, o Rei considerou que “tendo consideração ao grande prejuizo, que se segue ao
serviço de Deos, e Meu, e ao augmento do Estado do Maranhão, de se darem por
administração aos Gentios, e Indios daquele Estado, por quanto os Portuguezes a quem
se dão estas administrações, usão tão mal dellas, que os Indios, que estão debaixo das
mesmas administrações, em breves dias de serviço ou morrem á pura fome, e excessivo
trabalho, ou fogem pela terra dentro, onde a poucas jornadas perecem, tendo por esta
causa perecido, e acabado innumeravel gentio no Maranhão, Pará, e em outras partes do
Estado do Brazil: Pelo que hei por bem mandar declarar por Lei (como por esta faço, e
como o declararão já os Senhores Reis deste Reino, e os Summos Pontifices) que os
Gentios são livres, e que não haja administradores, nem administração, havendo por
nullas, e de nenhum effeito todas as que estiverem dadas, de modo que não haja
memoria dellas; e que os Indios possão livremente servir, e trabalhar com quem bem lhes
estiver, e melhor lhes pagar seu trabalho” . 29
Todavia, as contradições do sistema colonial voltam a se manifestar em
1655, quando nova lei restabelece a possibilidade da escravidão indígena, explicitando
quatro casos em que o direito reconhece como justo e lícito o apresamento, “a saber
quando fossem tomados em justa guerra, que os Portuguezes lhes movessem, intrevindo
as circunstancias na dita Lei declaradas; ou quando impedissem a prégação Evangelica,
ou quando estivessem prezos á corda para serem comidos; ou quando fossem rendidos
por outros Indios, que os houvessem tomado em guerra justa, examinando-se a justiça
della na fórma ordenada na dita Lei” . A edição da lei expressa o recrudescimento do 30
poder dos colonos, aos quais a lei novamente franqueava a mão-de-obra indígena como
alternativa para o desenvolvimento da lavoura.
Por ora, observamos que, afora a Lei datada de 20 de março de 1570, o
início da positivação dos direitos indígenas no Brasil colonial deu-se durante a União
Lei de 10 de novembro de 1647, citada na Lei de 06 de junho de 1755, conforme Collecção da Legislação 29
Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
Lei de 09 de abril de 1655, conforme Lei de 1º de abril de 1680, citada na Lei de 06 de junho de 1755. 30
Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
Ibérica (1580-1640), período no qual a Coroa Portuguesa esteve em mãos dos reis
espanhóis da dinastia Habsburgo, a começar por Felipe II. O primeiro influxo que se
segue à Restauração portuguesa, em relação aos direitos indígenas, foi de retrocesso,
por ocasião da edição da citada Lei de 09 de abril de 1655.
Todavia, em 1680, em razão dos reiterados abusos cometidos pelos colonos,
novamente a Coroa reafirma a proibição geral do cativeiro indígena: “[...] Ordeno, e
Mando que da qui em diante se não possa cativar Indio algum do dito Estado em nenhum
caso, nem ainda nos exceptuados nas ditas Leis, que Hei por derogadas, como se dellas,
e das suas palavras fizera expressa, e declarada menção, ficando no mais em seu vigor:
e succedendo que alguma pessoa, de qualquer condição, e qualidade que seja, cative, e
mande cativar algum Indio pública ou secretamente, por qualquer titulo, ou pretexto que
seja, o Ouvidor geral do dito Estado o prenda [...] . 31
Para as hipóteses de guerra justa, a Lei de 1º de abril de 1680 determina
que se apliquem as mesmas regras do direito internacional, acrescentando: “E
succedendo mover-se a guerra defensiva, ou ofensiva a alguma Nação dos Indios do dito
Estado nos casos, e termos, em que por minhas Leis, e ordens he permitido; os Indios,
que na tal guerra forem tomados, ficarão sómente prisioneiros como ficão as pessoas que
se tomão nas guerras de Europa, e somente o Governador as repartirá como lhe parecer
mais conveniente ao bem, segurança do Estado, pondo-os nas Aldêas dos Indios livres
Catholicos, onde se possão reduzir á Fé, e servir o mesmo Estado, e conservarem-se na
sua liberdade [...]” . Referido tratamento - de aplicar-se aos povos indígenas regras 32
atinentes às guerras entre nações europeias - reforça a autonomia indígena e a
percepção de sua diferença. Reforça também a percepção de João Mendes Júnior sobre
o tratamento dispensado pelos portugueses aos índios no início da colonização, quando
“os indios tratavam com Martim Affonso em 1531 como de potencia a potencia”,
celebrando o tratado, descumprido pelos colonos, de que os portugueses não subiriam a
Serra do Mar, o que resultou no assalto da recém-fundada vila de São Paulo, em 10 de
julho de 1562 . 33
Lei de 1º de abril de 1680, citada na Lei de 06 de junho de 1755, conforme Collecção da Legislação 31
Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
Idem.32
Ver nota 75.33
No que se refere à questão fundiária, implantou-se, no Brasil, desde os
primórdios da colonização, o sistema de sesmarias, de origem medieval, então em vigor
no Livro Quarto, Título LXVII, das Ordenações Manuelinas, vigentes em Portugal de 1514
a 1603. Segundo as Ordenações, “sesmarias sam propriamente aquellas que se dam de
terras, casas, ou pardieiros, que foram ou sam dalguns senhorios, e que já em outro
tempo foram lavradas e aproveitadas, a agora o nom sam, as quaes terras, e os bens assi
danificados e destroidos, podem e dever seer dados de sesmarias polos sesmeiros [...]”.
Acrescenta ainda as Ordenações que “esto averá luguar assi nos bens de quesquer
Grandes, e Fidalgos, como dos outros de qualquer condiçam que sejam”.
As terras eram, pois, doadas, sob a condição de serem exploradas no prazo
máximo de 05 anos. Os sesmeiros - que eram, segundo as ordenações, os funcionários
encarregados de realizar a doação das terras - deverão ser avisados “que nam dem
maiores terras a hua pessoa de Sesmaria, que aquellas que razoadamente parecer que
no dito tempo poderam aproveitar”. O donatário, ao não aproveitar as terras concedidas
em sesmaria, enseja que “façam loguo os Sesmeiros executar as penas que lhe forem
postas, e dem as terras que aproveitadas nom esteverem a outros que as aproveitem,
assinando-lhes sempre tempo e poendo-lhes a dita pena”.
No Brasil, em face da grandeza do território e dos interesses mercantilistas
que orientaram a colonização, o regime sesmarial permitiu-se corromper. Raymundo
Faoro assinala que “a mudança de rumo, mudança que o contexto comercial da economia
acelerou, refletiu sobre o sentido da propriedade territorial, que se afasta da concessão
administrativa para ganhar conteúdo dominial. O pretendente à sesmaria deveria provar
ser homem de posses, capaz de ajustar o destino da terra aos produtos exportáveis. [...] A
terra, de base de sustento, expandiu-se para título de afidalgamento, com o latifúndio
monocultor em plena articulação” . 34
As Ordenações, no Título referente às sesmarias, parágrafo 12, destacam
que “se as terras onde estiverem forem isentas, se dem as sesmarias isentas; e se forem
tributarias, com o tributo dellas as dem, e nom lhe ponham outro tributo por mais favor da
lavoira, e pondo-lhe tributo ou forma algum, avemos a tal imposiçam de foro, ou tributo,
por ninhuma e de ninhum viguor, e as Sesmarias ficaram em sua força sem a tal
FAORO, 2001, p.150.34
obriguaçam do dito foro, ou tributo”. Tal imposição deixou de ser observada no Brasil a
partir de Ordem Régia de 27 de dezembro de 1695, segundo Ruy Cirne Lima, na seminal
obra Pequena história territorial do Brasil, que destaca que a “a imposição de foros, nas
sesmarias do Brasil, equivalendo a uma apropriação legal do respectivo domínio direto,
feria de frente esse preceito e inaugurava, entre nós, o regime dominialista da instituição
das semarias, que perde, desde então, o seu caráter de restrição administrativa do
domínio privado e dos das entidades públicas, para assumir definitivamente a feição de
concessão, segundo os preceitos ordinários, de latifúndios, talhados no domínio régio”.
A vastidão de terras fez que tampouco fossem observadas as restrições aos
limites territoriais das áreas concedidas, havendo sesmarias amplíssimas. Faoro lembra
que, “a sesmaria doada a Brás Cubas, lembra Eduardo Zenha, abrangia parte dos atuais
municípios de Santos, Cubatão e São Bernardo do Campo, enquanto, no Nordeste, foram
frequentes as concessões de terras, mais largas do que os Estados de nossos dias, como
as da Casa da Torre, dos Guedes de Brito, de Certão, etc.” . A mudança dava-se em 35
prejuízo dos direitos congênitos dos índios às terras americanas, na medida em que
consolidava a expansão do latifúndio como modelo de ocupação fundiária.
A legislação extravagante previa regras específicas para as territórios
indígenas. Além da já citada lei de 1º de abril de 1680, na mesma data, foi editado um
Alvará, em cujo Parágrafo 40, estabeleceu-se que, nas aldeias em que se encontram, os
índios são “senhores de suas fazendas, como o são no sertão, sem lhes poderem ser
tomadas nem sobre ellas se lhes fazer molestia. E o Governador com parecer dos ditos
Religiosos assignará aos que descerem do Sertão lugares convenientes para nelles
lavrarem, e cultivarem e não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade,
nem serão obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas terras” . Neste ponto, a lei 36
de 1680 reeditava os termos da Lei de 30 de julho de 1609.
Os territórios indígenas eram, pois, considerados glebas reservadas,
insuscetíveis de concessão na forma de sesmarias. Dispunha o Alvará de 1º de abril de
1680 que, na concessão das sesmarias, “se reserva sempre o prejuizo de terceiro, e
Idem, p. 148.35
Alvará de 1º de abril de 1680, Parágrafo 40, citado na Lei de 06 de junho de 1755, conforme Collecção da 36
Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
muito mais se entende, e quero se entenda ser reservado o prejuizo, e direitos dos Indios,
primarios, e naturaes senhores dellas” . João Mendes Junior, conforme se verá a seguir, 37
define no Alvará de 1680 a origem do sistema do indigenato, que estabelece a posição
das terras indígenas no sistema jurídico brasileiro.
O Regimento de 21 de dezembro de 1686, que estabelece regras para os
aldeamentos indígenas no Estado do Maranhão, por sua vez, dispõe expressamente que
“a justiça não permite que estes homens sejam obrigados a deixarem todo e por todo as
terras que habitam, quando não repugnam a ser Christãos; e a conveniencia pede que as
Aldêas se dilatem pelos Sertões, para que deste modo se possam penetrar mais
facilmente, e se tire a utilidade que delles se promete” . 38
Kayser cita também a Carta Régia de 9 de março de 1718, na qual foi
estabelecido que “os índios eram ‘livres’, ‘não se submetiam à jurisdição do rei português’,
e ‘por isso não poderiam ser obrigados a abandonar suas terras’” . 39
Em 06 de junho de 1755, o rei Dom José editou extensa lei, revigorando a
validade de todos os diplomas pretéritos que dispunham sobre as liberdades indígenas.
Considera o monarca português que “[...] havendo descido muitos milhões de Indios, se
forão sempre extinguindo de modo, que he muito pequeno o número das povoações, e
dos moradores dellas; vivendo ainda esses poucos em tão grande miseria, que em vez de
convidarem e animarem os outros Indios barbaros a que os imitem, lhes servem de
escandalo para se internarem nas suas habitações silvestres com lamentavel prejuizo da
salvação das suas Almas, e grave damno do mesmo Estado. [...] Foi assentado por todos
os votos, que a causa, que tem produzido tão preniciosos effeitos, consitio, e consiste
ainda em se não haverem sustentado efficazmente os ditos Indios na liberdade, que a seu
favor foi declarada pelos Summos Pontifices, e pelos Senhores Reis meus
Idem.37
Regimento de 21 de dezembro de 1686, citado em Collecção Chronologica da Legislação Portugueza 38
Compilada e Annotada, de José Justino de Andrade e Silva, publicada em Lisboa em 1854
KAYSER, 2010, p. 143. A Carta Régia de 9 de março de 1718 não foi localizada nas coleções constantes 39
de <http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt>. Há menção à referida Carta Régia, sem transcrição de seu conteúdo, no Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portugueza Posterior à Publicação do Codigo Filippino, de João Pedro Ribeiro, publicada em Lisboa, em 1805.
predecessores, observando-se no seu genuino sentido as Leis por elles promulgadas
sobre esta materia [...]” . 40
A partir dessa inicial constatação fática, o rei entendeu por “derogar, e
annullar; como por esta derogo, e annullo todas as Leis, Regimentos, Resoluções, e
ordens que desde o descobrimento das sobreditas Capitanías do Grão Pará, e Maranhão
até ao presente dia permittirão, ainda em certos casos particulares, a escravidão dos
referidos Indios [...]”. Assim, os índios foram declarados “livres, e izentos de toda a
escravidão, podem dispor das suas pessoas, e bens como melhor lhes parecer, sem outra
sujeição temporal, que não seja a que devem ter ás Minhas Leis, para á sombra dellas
viverem na paz, e união Christã, e na sociedade Civil, em que, mediante a Divina graça,
procuro manter os Povos, que Deos me confiou, nos quaes ficarão incorporados os
referidos Indios sem distinção, ou excepção alguma, para gozarem de todas as honras,
privilegios, e liberdades, de que os Meus Vassallos gozão actualmente conforme suas
respectivas graduações, e cabedaes” . 41
Sobre as terras e bens das comunidades indígenas, a Lei considera que
“não bastaria para restabelecer, e adiantar o referido Estado, que os Indios fossem
restituidos á liberdade das suas pessoas na sobredita forma, se com ellas se lhes não
restituisse também o livre uso dos seus bens, que até agora se lhes impedio com
manifesta violencia” . A este respeito, manda o Rei que se execute o disposto no Alvará 42
de 1º de abril de 1680, que declara o senhorio dos índios sobre suas fazendas e a
invalidade das sesmarias concedidas em prejuízo dos direitos primários e naturais das
comunidades indígenas.
Lei de 06 de junho de 1755, conforme Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação 40
das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
Acrescenta a Lei de 06 de junho de 1755: “Desta geral disposição exceptuo sómente os oriundos de 41
pretas escravas, os quaes serão conservados no dominio dos seus actuaes senhores, enquanto Eu não der outra providencia sobre esta materia. Porém para que com o pretexto dos sobreditos descendentes de pretas escravas, se não retenhão ainda no cativeiro os Indios que são livres: estabeleço que o beneficio dos Editaes assima ordenados se extenda a todos os que se acharem reputados por Indios, ou que taes perecerem, para que todos estes sejão havidos por livres sem a dependencia de mais prova, do que a plenissima que a seu favor resulta da presunção de Direito Divino, Natural, e Positivo, que está pela liberdade [...]”. Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
Idem.42
Já o Diretório dos índios do Pará e Maranhão, de 03 de maio de 1757,
estabelece que se “os Indios não possuem terras sufficientes para a plantação dos
precisos fructos, que produz este fertilissimo Paiz; ou porque na distribuição dellas se não
observarão as Leis da equidade, e da justiça; ou porque as terras adjacentes ás suas
Povoações forão dadas em sesmarias ás outras Pessoas particulares; serão obrigados os
Directores a remetter logo ao Governador do Estado huma lista de todas as terras
situadas no continente das mesmas Povoações, declarando os Indios, que se achão
prejudicados na distribuição, para se mandarem logo repartir na fórma que Sua
Magestade manda” . 43
De todo o até aqui exposto, observa-se que, situada a meio caminho dos
vários setores envolvidos na colonização do Brasil, a Coroa Portuguesa manteve
posições dúplices e ambivalentes sobre a questão indígena. Não havia equívoco da
Coroa ao referendar ora as pretensões da Companhia de Jesus (aldeamento indígena e
adestramento da mão-de-obra através da catequese), ora os desejos do número
crescente de colonos recém imigrados, franqueando as possibilidades jurídicas para a
escravidão indígena ou omitindo-se na fiscalização e punição dos agentes responsáveis
por ela. Segundo Raymundo Faoro, “absurda a admissão da preia ao índio, contrariando
a poderosa Companhia de Jesus, sem o afago, a tolerância e o velado estímulo dos
agentes reais na colônia” . Quanto à legislação portuguesa, o mesmo autor atesta que 44
“varrida de interesses contraditórios, tergiversou entre um pólo e outro, ao sabor das
influências, ora poderosas dos jesuítas, ora incontrastáveis dos colonos” . 45
Em comum, colonos e jesuítas operavam na América o plano colonizador
português, pelo mesmo caminho da opressão e apagamento das populações autóctones.
Quando o preço elevado dos escravos de origem africana inviabilizavam a sua aplicação
no empreendimento colonial, jesuítas e colonos lançavam mão da escravidão indígena
sem peias e amarras. O empreendimento jesuíta, não obstante a sinceridade missionária
de seus principais expoentes, não esteve isento de interesses econômicos, destinados,
em última instância, à sobrevivência institucional, à contínua expansão e crescente
Parágrafo 19, do Diretório dos índios do Pará e Maranhão, de 03 de maio de 1757, conforme Collecção 43
da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830.
FAORO, 2001, p. 184.44
Idem, p. 233.45
fortalecimento da Companhia de Jesus. O rompimento definitivo com a Companhia ocorre
em 1759, com a vitória do anticlericalismo do Marquês de Pombal, primeiro ministro do rei
Dom José I, interessado nas vultosas rendas da Companhia para restaurar Lisboa,
arrasada pelo terremoto de 1755. Em 1759 os jesuítas foram expulsos de Portugal e os
bens da Companhia foram incorporados ao patrimônio da Coroa.
Em 1808, soma-se à complexa rede de interesses que permeiam a questão
indígena a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. A chegada de mais de 10 mil
nobres ao Rio de Janeiro aumentou a pressão por terras, ensejando a publicação do
Decreto de 25 de novembro de 1808, pelo qual Dom João, então Príncipe Regente,
dispôs que “sendo conveniente ao meu Real serviço, e ao bem publico augmentar a
Lavoura, e população, que se acha muito diminuta neste Estado; e por outros motivos,
que me forão presentes: Hei por bem, que aos estrangeiros residentes no Brazil, se
possão conceder datas de terras por Sesmarias, pela mesma forma com que segundo as
minhas Reaes ordens se concedem aos meus Vassallos, sem embargo de quaesquer leis
ou disposições em contrario” . 46
Para assegurar as terras a serem doadas aos nobres portugueses e aos
estrangeiros recém-emigrados da Europa fugindo das guerras napoleônicas, foi editada
ainda a Carta Régia de 2 de dezembro de 1808 na qual ficou estabelecido “que seriam
consideradas sem dono as terras dos índios aos quais tivesse sido declarada a guerra e
que tivessem sido nela vencidos” . Anteriormente, em 2 e 5 de novembro de 1808, duas 47
Cartas Régias declaravam guerra aos índios nas províncias de Minas Gerais e São Paulo,
determinando, em São Paulo, “que os prisioneiros fossem obrigados a servir por 15 annos
aos milicianos ou moradores, que os apprehendessem” . Contrariando a vasta legislação 48
anterior, o chamado Período Joanino (1808-1821) foi pródigo na expropriação de terras
indígenas.
O fim do período colonial, acompanhando os novos ventos que sopravam na
Europa, viu nascer no Brasil o projeto civilizatório pautado no progresso técnico-científico,
Decreto de 25 de novembro de 1808, conforme Codigo Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de 46
Portugal recopiladas por mandado d’El-Rey D. Philippe I, de Cândido Mendes de Almeida, publicada no Rio de Janeiro, no ano de 1870.
KAYSER, 2010, p. 143. 47
As Cartas Régias de 1808 foram citadas nos artigo 1º e 2º, da Lei de 27 de outubro de 1831.48
que substituirá a catequese como ferramenta ideológica da dominação sobre o índio. Os
movimentos emancipacionistas de fins do século XVIII, no Brasil, não articularam a
questão indígena em sua formulação e prática, de modo que o índio permaneceu
estranho à sociedade colonial, bem como à sociedade nacional em formação, reflexo da
negação do direito a uma identidade cultural distinta daquela proposta pela dominação
europeia. O Diretório dos índios do Pará e Maranhão, de 03 de maio de 1757, deixa claro
o desprezo da sociedade colonial pela cultura indígena, ressaltando a imposição da
cultura europeia, especialmente da língua portuguesa, como instrumento para infundir o
“affecto, a veneração, e a obediencia” ao soberano. O Diretório determinava: 49
Sempre foi maxima inalteravelmente praticada em todas as Nações, que conquistarão novos Dominios, introduzir logo nos Póvos conquistados o seu proprio idioma, por ser indisputavel, que este he hum dos meios mais efficazes para desterrar dos Póvos rusticos a barbaridade dos seus antigos costumes; e ter mostrado a experiencia, que ao mesmo passo, que se introduz nelles o uso da Lingua do Principe, que os conquistou, se lhes radica tambem o affecto, a veneração, e a obediencia ao mesmo Principe. Observando pois todas as Nações polidas este prudente, e sólido systema, nesta Conquista se praticou tanto pelo contrario, que só cuidarão os primeiros Conquistadores estabelecer nella o uso da Lingua, que chamarão geral; invenção verdadeiramente abominavel, e diabolica, para que privados os Indios de todos aquelles meios, que os podião civilizar, permanecessem na rustica, e barbara sujeição, em que até agora se conservarão. Para desterrar este perniciosissimo abuso, será hum dos principaes cuidados dos Directores, estabelecer nas suas respectivas Povoaçõs o uso da Lingua Portugueza, não consentindo por modo algum, que os Meninos, e Meninas, que pertencerem ás Escolas, e todos aquelles Indios, que forem capazes de instrucção nesta materia, usem da Lingua propria das suas Nações, ou da chamada geral; mas unicamente da Portugueza, na fórma, que sua Magestade tem recomendado em repetidas Ordens, que até agora se não abservarão com total ruina Espiritual, e Temporal do Estado.
A independência do Brasil em 1822 não alterou as relações de força no
interior do novo estado americano, tampouco a percepção central sobre o elemento
indígena. Na tentativa de fundar uma identidade nacional, o romantismo literário lançou as
bases do indigenismo brasileiro, exaltando as virtudes da população autóctone e a
maldade intrínseca do dominador português. Houve um resgate das visões edênicas da
América, num esforço de justificar a nova soberania, fundada a partir do “grito do
Ipiranga”.
Analisando as tratativas diplomáticas que se seguiram à proclamação da
Independência, João Mendes Júnior destaca que “o tratado de 29 de Agosto de 1825,
Parágrafo 6, do Diretório dos índios do Pará e Maranhão, de 03 de maio de 1757, conforme Collecção da 49
Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830
pelo qual Portugal reconheceu a nossa independência, não alterou, em ponto algum, as
antigas relações dos indios; assim como os reis de Portugal não se julgavam com ampla
jurisdicção sobre os índios, também não se podia, desde logo, julgar com essa jurisdicção
o novo governo do Brasil” . 50
Em 27 de outubro de 1831, contudo, uma lei do Império declarava, em seu
artigo 4º, que os índios “serão considerados como orphams, e entregues aos respectivos
Juízes, para lhes applicarem as providencas da Ordenação Livro primeiro Titulo oitenta e
oito”. O artigo 6º, por sua vez, determinava que “os Juizes de Paz nos seus districtos
vigiarão, e ocorrerão aos abusos contra a liberdade dos Indios”. Concluia-se, pois, a
transformação das populações indígenas: de potentados livres, capazes para negociar em
igualdade com a soberania portuguesa, a incapazes. A situação perduraria no Brasil até a
edição da Constituição republicana de 1988.
O regime das terras, por sua vez, foi profundamente alterado com a edição
da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras. O governo
imperial editou o diploma com o fim de extremar os domínios públicos e particulares sobre
as terras brasileiras, definindo a forma e prazos dentro dos quais deveriam ser medidas e
demarcadas as terras adquiridas por posses ou por sesmarias. O artigo 3º da Lei de
Terras definia como terras devolutas as que não se achassem aplicadas a algum uso
publico nacional, provincial, ou municipal; as que não se achassem no domínio particular
por qualquer título legitimo, nem fossem havidas por sesmarias e outras concessões; e as
que não se achassem ocupadas por posses, que, apesar de não fundadas em titulo legal,
fossem legitimadas pela Lei de Terras. O artigo 14, por sua vez, autorizava o Governo a
vender as terras devolutas em hasta publica, ou fora dela, como e quando julgasse mais
conveniente, fazendo previamente medir, dividir, demarcar e descrever a porção das
terras que houvesse de ser exposta à venda.
Doravante, a partir de 1850, a compra e a herança passaram a ser a única
forma de aquisição de terras nos Brasil. O artigo 4º, por sua vez, revalidava as sesmarias
concedidas sobre o regime anterior, que vigorou até o ano de 1822, desde que se
encontrassem cultivadas, ou com princípios de cultura e morada habitual do respectivo
sesmeiro. Com o fim de estimular a agricultura e regularizar as ocupações até então
MENDES JÚNIOR, 1912, p. 43.50
realizadas , a lei previa ainda, no artigo 5º, a legitimação das posses mansas e pacificas, 51
adquiridas por ocupação primaria, ou havidas do primeiro ocupante, que se achassem
cultivadas, ou com principio de cultura e morada habitual do respectivo posseiro. Pelo
artigo 15, os posseiros ficavam obrigados a tirar os títulos dos terrenos que lhes ficassem
pertencendo por efeito da lei.
Na forma do artigo 12, o Governo reservava para si as terras devolutas que
julgasse necessárias para a colonização dos indígenas; para a fundação de povoações,
abertura de estradas e assento de estabelecimentos públicos; bem como para a
construção naval.
Citando Stanley J. Stein, Raymundo Faoro sustenta que “em que pese as
boas intenções, essa legislação veio tarde demais. Não obstante a resistência
encarniçada e, às vezes, altiva dos pequenos posseiros, estes não podiam sustentar por
muito tempo a luta com podererosos adversários possuindo relações no Rio de Janeiro,
recursos abundantes para pagar advogados [...].” Destaca Faoro que, em 1822, já não 52
havia mais terras a distribuir, tamanha a largueza e prodigalidade do regime anterior, que
chegou a conceder sesmarias de até cem léguas de testada a um só beneficiário . 53
Portanto, desde os estertores do sistema colonial, a concessão e ocupação
de terras no Brasil dava-se necessariamente em conflito com os direitos e interesses dos
povos indígenas às terras que ancestralmente possuíam. Nesse contexto é que João
Mendes Junior publicou a obra intitulada Os Indígenas do Brazil, seus Direitos Individuaes
e Políticos. Publicada em 1912, já no contexto republicano, a obra foi a primeira a definir
“o lugar dos direitos indígenas à terra dentro da lógica do sistema jurídico ocidental
implantado no Brasil. Assim é que, a partir de seu trabalho, se tem falado no instituto do
indigenato, definidor da especificidade dos direitos territoriais indígenas no Brasil” . 54
Vale notar que o regime das sesmarias deixou de ser aplicado no Brasil em 1822. Entre este ano e a 51
edição da Lei de Terras, em 1850, havia um verdadeiro vazio jurídico em matéria fundiária, período no qual grassaram as ocupações como única forma de apossamento da terra.
FAORO, 2001, p. 467.52
Cf. idem, p. 466.53
BARBOSA, Marco Antônio. Direito Antropológico e Terras Indígenas no Brasil. São Paulo: Plêiade, 2001, 54
p. 55.
Sobre a situação das terras indígenas no sistema inaugurado pela Lei nº
601, de 18 de setembro de 1850, Mendes Júnior destacava que “nas demandas entre
posseiros e indígenas aldeados, se tem pretendido exigir que estes exhibam os registros
de suas posses. Parece-nos, entretanto, que outra é a solução jurídica: - Desde que os
indios já estavam aldeados com cultura e morada habitual, essas terras por elles
ocupadas, si já não fossem delles, tambem não poderiam ser de posteriores posseiros,
visto que estariam devolutas; em qualquer hyphotese, suas terras lhes pertenciam em
virtude do direito á reserva, fundado no Alvará de 1º de Abril de 1680, que não foi
revogado, direito que jamais poderá ser confundido com uma posse sujeita á
legitimação” . 55
A original tese do autor consiste na afirmação de que as terras em posse das
comunidades indígenas não se submetiamm ao sistema criado pela Lei de Terras de
1850. Às terras indígenas, por sua especificidade, aplica-se diretamente o disposto no
Alvará de 1º de abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, que seriam
normas especiais em relação ao regime geral das terras. Ao tratarem especialmente do
título pelo qual os índios possuem seus territórios, referidos diplomas não foram
regogados pelas leis fundiárias de caráter geral que as sucederam. Assim, no tocante ao
regime inaugurado pela Lei de Terras de 1850, temos que:
i. as terras indígenas não são alcançadas por seu artigo 3º, que dispõe
sobre as terras devolutas que poderiam ser alienadas pelo Estado na forma do artigo 14;
ii. também não se refere às terras indígenas o artigo 5º, relativo às terras
possuídas sujeitas a legitimação, titulação (prevista no artigo 11) e medição (sem a qual
há pena de comisso, prevista no artigo 8º);
iii. tampouco refere-se às terras indígenas o artigo 12, que trata das terras
devolutas reservadas ao Governo para a colonização dos indígenas.
Analisemos detalhadamente cada hipótese, segundo a argumentação
construída por João Mendes Junior.
Sobre a primeira situação, Mendes Junior expõe que, as terras indígenas
não são terras devolutas, “uma vez que essas terras são tão particulares como as
possuidas por occupaçõa legitivamel, isto é, são originariamente reservadas da
MENDES JUNIOR, 1912, p. 57. 55
devolução, nos expressos termos do Alvará de 1º de Abril de 1680, que as reserva até na
concessão de sesmarias” . 56
A situação da terras indígenas não se transforma com o advento da
federação, instaurada em 1889 com a proclamação da Republica , momento no qual as 57
terras devolutas, por força do artigo 64 da Constituição de 1891, passaram ao domínio
dos estados . No novo quadro histórico-político, “aos estados ficaram reservadas as 58
terras devolutas; ora, as terras do indigenato, sendo terras congenitamente possuídas,
não são devolutas, isto é, são originariamente reservadas, na fórma do Alvará de 1º de
Abril de 1680 e por deducção da propria Lei de 1850 e do art. 24 par. 1º do Decr. de
1854” . 59
Em relação à segunda hipótese - terras possuídas sujeitas a legitimação,
titulação e medição -, Mendes Junior sustenta que “já os philosophos gregos affirmavam
que o indigenato é um titulo congenito, ao passo que a occupação é um título adquirido.
Comquanto o indigenato não seja a unica verdadeira fonte juridica da posse territorial,
todos reconhecem que é, na phrase do Alv. de 1º de Abril de 1680, ‘a primaria,
naturalmente e virtualmente reservada’, ou, na phrase de Aristóteles (Polit. I, n. 8), - ‘um
estado em que se acha cada ser a partir do momento do seu nascimento’. Por
conseguinte, o indigenato não é um facto dependentes de legitimação, ao passo que a
occupação, como facto posterior, depende de requisitos que a legitimem” . 60
A originalidade da construção de João Mendes Junior, na parte em que
diferencia os direitos indígenas dos direitos decorrentes das posses legitimadas pela Lei
de Terras de 1850 obriga-nos a transcrever a íntegra de seu raciocínio:
Idem, p. 60.56
“Quer em relação a direitos individuaes e politicos, quer mesmo nas relações estrictamente 57
administrativas, os indios na Republica, não passaram alteração alguma”. Idem, p. 67.
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e 58
terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais
Idem, p. 62.59
Idem, p. 58.60
O indigena, primariamente estabelecido, tem a sedum positio, que constitue o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto Paulo (Dig. titul. de acq. ve. amitt. possess. L. 1), a que se referem Savigny, Molitor, Mainz e outros romanistas; mas o indigena, além desse jus possessionis, tem o jus possidendi, que já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de 1º de Abril de 1680, como direito congenito. Ao indigenato, é que melhor se applica o texto do jurisconsulto Paulo: - quia naturaliter tenetur ab eo qui insistit. Só estão sujeitas á legitimação as posses que se acham em poder de occupante (art. 3º da Lei de 18 de setembro de 1850), ora, a occupação como título de acquisição, só póde ter por objecto as cousas que nunca tiveram dono, ou que foram abandonadas por seu antigo dono. A occupação é uma apprehensio rei nullis ou rei derelictae [...]; ora, as terras de indios, congenitamente apropriadas, não podem ser consideradas nem como res nullius, nem como res derelictae; por outra, não se concebe que os indios tivessem adquirido, por simples occupação, aquillo que lhes é congenito e primario, de sorte que, relativamente aos indios estabelecidos não ha uma simples posse, ha um titulo immediato de dominio; não ha, portanto, posse a legitimar, ha dominio a reconhecer e direito originario e preliminarmente reservado. O art. 24 do Decr. n. 1318 de 30 de Janeiro de 1854, explicando o pensamento da Lei, claramente define, no Par. 1º, que, em relação ‘ás posses que se acharem em poder de primeiro occupante’, estão sujeitas á legitimação aquellas ‘que não tem outro titulo senão a sua occupação’. Esse Par. 1º do art. 24 do cit. Decr. de 1854 reconhece, portanto, a existencia de primeiro occupante que tem titulo distinto de sua occupação. E qual póde ser esse primeiro occupante, com titulo distincto da sua occupação, senão o indigena, aquelle que tem por titulo o indigenato, isto é, a posse aborígene? O Decr. de 1854 repetiu desse modo o pensamento do Alv. de 1º de Abril de 1680: ‘quero se entanda ser reservado o prejuizo e direito dos Indios, primarios e naturaes senhores das terras’” . 61
Por fim - tratando da terceira hipótese alcançada na Lei de Terras de 1850 -,
João Mendes Junior entende que não se pode tratar as terras indígenas como terras
reservadas para fins de colonização, porque “dos indios aborígenes, organisados em
hordas, póde-se formar um aldeamento mas não uma colonia; os indios só podem ser
constituidos em colonia, quando não são aborígenes do lugar, isto é, quando são
emigrados de uma zona para serem immigrados em outra” . Reforçando esse raciocínio, 62
o autor acrescenta que “A colonisação de indigenas, como já ficou explicado, suppõe,
como qualquer outra colonisação, uma emigração para immigração.” Arremata o autor,
“seja, porém, como fôr, não podem ser applicadas ás terras de posse indigenata as
Idem, p. 58-60.61
Idem, p. 58. Noutro ponto, o autor acrescenta Idem, p. 60.62
mesmas regras applicaveis ás terras reservadas para colonisação: aquellas não estão
sujeitas senão ás cautelas da Ord. L. I tit. 88 Par. 26; estas, na forma do art. 72 do Regul.
de 1854, têm um encargo analogo ao usofructo e não podem ser alienadas emquanto o
Governo, por acto especial, não conceder aos indios o pleno gozo dellas” . 63
Portanto, por não apreender as especificidades do regime jurídico das terras
indígenas instaurado sob a legislação colonial, a Lei de Terras de 1850 não revoga o
direito positivo anterior pelo qual se reconhecem e declaram os índios “primarios, e
naturaes senhores” das terras que ocupam.
A única ressalva que faríamos à construção teórica de João Mendes Junior é
que o reconhecimento do indigenato deu-se desde a Lei de 30 de julho de 1609, e não
pelo Alvará de 1º de Abril de 1680. Ora, a Lei de 1609 já declarava que os “ditos gentios
sejam senhores das suas fazendas, nas povoações em que morarem, como o são na
serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes fazer molestia, nem
injustiça alguma”. A mesma lei reforçou a disposição, ao esclarecer que as comunidades
não poderiam ser mudadas para outros lugares contra sua vontade. O alvará de 1680, por
sua vez, a par de repetir a disposição da lei anterior, apenas explicitava a necessidade de
observância dos direitos indígenas nas doação de sesmarias, conclusão lógica que já
poderia, de toda forma, ser extraída da Lei de 30 de julho de 1609. Na doação de
sesmarias, reza o Alvará de 1680, “se reserva sempre o prejuizo de terceiro, e muito mais
se entende, e quero se entenda ser reservado o prejuizo, e direitos dos Indios, primarios,
e naturaes senhores dellas”. A redação do Alvará comprova que a disposição, no tocante
à sua aplicação às doações de sesmarias, é meramente explicitatória.
Concluindo, consideramos que a positivação do indigenato ocorre na Lei de
30 de julho de 1609, sendo confirmada pelo Alvará de 1º de abril de 1680 e pela Lei de 06
de junho de 1755. A legislação posterior, especialmente a Lei de Terras de 1850, ao não
tratar especificamente do regime jurídico das terras indígenas, mantém intacta a
legislação editada no período colonial. O indigenato viria a ser expressamente acolhido
Idem, p. 60-61. Em seguida, acrescenta o autor: “Esta distincção, que parece subtil, não o é; - tem 63
consequencias praticas, que os norte-americanos resolveram por tratados entre o governo e as tribus, pagando-lhes as terras a preço debatido; e as difficuldades nascidas desta distinção só desappareceram depois que foi applicada aos indios a lei de homestead. A jurisprudencia americana, como explica Carlier, sempre apprehendeu esta distincção, a ponto de sustentar como legitimas as vendas particulares feitas pelos indios do Indian country, desde que nellas não interviesse dólo ou frande, e sempre applicando ás terras do Indian reservation, regras distintas.” Idem, p. 61.
em todas as Constituições republicanas posteriormente editadas no Brasil, ou seja, em
1934 , 1937 , 1946 , 1967/69 e 1988 . 64 65 66 67 68
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1934). Art. 129. Será respeitada a posse de terras de 64
silvícolas que nelas se achem. permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937). Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das 65
terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas.
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946). Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das 66
terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem
Constituição da República Federativa do Brasil (1967). Art. 186. É assegurada aos silvícolas a posse 67
permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes.
Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Art. 231. São reconhecidos aos índios sua 68
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBAGLI, Sarita e MACIEL, Maria Lúcia. Informação e conhecimento na inovação e no
desenvolvimento local. Ciência da Informação, v. 33, n. 3, p. 9-16, set/dez, Brasília, 2004.
BARBOSA, Marco Antônio. Direito Antropológico e Terras Indígenas no Brasil. São Paulo:
Plêiade, 2001.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores,
2005.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004
BRAZIL, Maria do Carmo. Fronteira Negra. Dominação, resistência e violência escrava
em Mato Grosso (1718-1888). Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2002
BRIGGS, Herbert W.. The Law of Nations. New York: Appleton Century Crofts, 1955.
BULL, Heddley. A sociedade anárquica. Trad. Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade
de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo, 2002.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra:
Edições Almedina, 2003.
_________. Estudos sobre Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2007.
CLAVERO, Bartolomé. Nota sobre el Alcance del Mandato Contenido en el Artículo 42 de
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mejor Modo de
Satisfacerlo por Parte del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Apresentada
na Reunião Preparatória do Foro Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, em
Madri, entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2008.
_________. Happy Constitution. Cultura y lengua constitucionales. Madrid: Editorial Trotta,
1997.
_________. El Orden de los Poderes. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
_________. Presentación. MATTEUCI, Nicola. Organización del poder y libertad. Historia
del constitucionalismo moderno. Madrid: Editorial Trotta, 1998.
_________. Celebración Indígena y Contraofensiva Judicial en Brasil. Disponível em
<http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1187>. Acessado em 20 de novembro de 2011.
_________. Multiculturalismo, Derechos Humanos y Constitución. Disponível em: <http://
www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs5/clavero%20bartolome.pdf>. Acessado em
21/03/2011.
DENNINGER, Erhard e GRIMM, Dieter. Derecho Constitucional para la sociedad
multicultural. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro. São
Paulo: Editora Globo, 2001.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade São Paulo, 1999.
FERNANDES, Hélènemarie Dias. A (Re)Territorialização do patrimônio cultural tombado
do Porto Geral de Corumbá-MS. Campo Grande: Fundo de Investimentos Culturais do
Estado de Mato Grosso do Sul, 2010.
GOMES, Renata Andrade. Com que direito? Análise do debate entre Las Casas e
Sepúlveda - Valladolid, 1550-1551. Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, 2006, p. 51 (Dissertação de Mestrado).
HARRISE, Henry. The Diplomatic History of America. Its First Chapter. London: B. F.
Stevens Publisher, 1897.
HÖFFNER, Joseph. Colonização e evangelho: ética da colonização espanhola no século
de ouro. Rio de Janeiro: Editora Presença, 1977.
KAYSER, Hartmut-Emanuel. Os direitos do Povos Indígenas do Brasil. Desenvolvimento
histório e estágio atual. Tradução de Maria da Glória Lacerda Rurack, Klaus-Peter Rurack.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010.
LIMA, Oliveira. O Descobrimento do Brasil - Suas Primeiras explorações e negociações
diplomáticas a que deu origem. Memorias Annexas do Descobrimento do Brasil. Livro do
Centenário. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1900.
LION, Gaston. Concienciación sobre la Situación Mapuche. Discurso proferido ante o
Parlamento Europeu, em Bruxelas, em 24 de março de 2011.
LUNA, Francisco Vidal e KLEIN, Herbert S.. Brazil since 1980. Cambridge: Cambridge
University Press, 2006
MAGALHÃES, Luiz Alfredo Marques. Rio Paraguay - Da Gaíba ao Apa. Campo Grande:
Editora Alvorada, 2008.
MATTEUCI, Nicola. Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo
moderno. Madrid: Editorial Trotta, 1998.
MALDONADO, Daniel Bonilla. La Constitución Multicultural. Bogotá: Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes - Facultad de Derecho; Pontificia Universidad
Javeriana - Instituto Pensar, 2006.
MANDELL, Louise. Indian Nations: Not Minorities. Les Cahier de Droit, vol. 27, n. 1, mars
1986, p. 103. Disponível em <http://www.erudit.org/revue/cd/1986/v27/n1/042727ar.pdf>.
Acessado em 26 de junho de 2011.
MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. São
Paulo, Typ. Hennies Irmãos, 1912.
MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. São Paulo:
Max Limonad, 2000.
NETO, A. B. Cotrim. Constituição, Poder Constituintes e os participantes de sua
realização. In CLÈVE, Clèmerson Merlin e BARROSO, Luiz Roberto. Direito
Constitucional: Teoria geral da Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011.
PÉREZ, Demetrio Ramos. In SALMORAL, Manuel Lucena (coord.) Historia de
Iberoamérica. II - Historia Moderna. Madrid: Cátedra, 2008.
RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
ROTHENBURG, Walter Claudius. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Verbatim,
2010.
SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Editora Del Rey,
2010.
SARMIENTO, Daniel. Livres e iguais. Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010.
SILVA, José Afonso. O constitucionalismo brasileiro. Evolução institucional. São Paulo:
Malheiros Editores, 2011.
_________. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2007
TAVARES, André Ramos. Reflexões sobre a legitimidade e as limitações do Poder
Constituinte, da Assembléia Constituinte e da competência constitucional reformadora. In
CLÈVE, Clèmerson Merlin e BARROSO, Luiz Roberto. Direito Constitucional: Teoria geral
da Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
TULLY, James. Strange Multiplicity - Constitutionalism in an age of diversity. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007.
VALLÉS, Estrella Figueras. Las contradicciones de la conquista española en América: el
requerimiento y la evangelización en Castilla del Oro. Universidad de Barcelona.
Disponível em <http://www.americanistas.es/biblo/textos/c12/c12-061.pdf>. Acessado em
17/06/2011.
VATTEL, Emer de. O direito das gentes. Tradução: Vicente Marotta Rangel. Brasília:
Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2004,
p. 136.
WATSON, Blake A.. John Marshall and Indian Land Rights: A Historical Rejoinder to the
Claim of “Universal Recognition” of the Doctrine of Discovery.
WIESSNER, Siegfried. Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative
and International Legal Analysis.
WIGHT, Martin. A política do poder. Tradução: Carlos Sérgio Duarte. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.
FONTES LEGISLATIVAS
Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, de Antonio Delgado da Silva, publicada em Lisboa no ano de 1830;
Collecção Chronologica da Legislação Portugueza Compilada e Annotada, de José Justino de Andrade e Silva, publicada em Lisboa em 1854;
Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para a historia e estudo critico da Legislação Portugueza, de Jozé Anastasio de Figueiredo, publicada em Lisboa, em 1790;
Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portugueza Posterior à Publicação do Codigo Filippino, de João Pedro Ribeiro, publicada em Lisboa, em 1805;