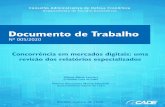O estudo de história em tempos de abundância de fontes digitais: algumas considerações
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of O estudo de história em tempos de abundância de fontes digitais: algumas considerações
1
O estudo de história em tempos de abundância de fontes
digitais: algumas considerações.
Lilian Starobinas
Resumo
O crescimento da disponibilidade, em meio digital, de acervos documentais variados,
coloca a nós, educadores, diante de questões importantes no que diz respeito à metodologia de
trabalho com o uso dessas fontes. Desde o surgimento da internet, era grande a expectativa de
facilitar o acesso a documentos, jornais, imagens e áudios pertencentes aos acervos de
instituições públicas, garantindo a oportunidade de contato com esses recursos a um público
muito mais amplo que aquele que poderia dirigir-se pessoalmente às instalações de cada
instituição. À medida que amplia-se a quantidade de documentos disponíveis para acesso via
internet, o foco de atenção dos professores deve voltar-se para a reflexão sobre as estratégias
de inserção desses materiais em atividades que promovam o estudo de diferentes situações
históricas. O exercício de pesquisa, seleção, leitura e reinserção desses materiais em novos
produtos culturais, frutos do processo de aprendizagem vivenciado por professores e alunos,
entretanto, demanda um fazer profissional apurado. A proposta desse artigo é discutir
questões conceituais que devem estar na base da orientação dessas práticas educacionais,
visando favorecer um contato reflexivo e aprofundado com o conhecimento da História.
Pretende-se igualmente discutir as perspectivas de estratégias dialógicas de participação do
leitor, buscando consolidar, nos marcos educacionais, uma cultura da participação, dando
sentido ao potencial tecnológico oferecido pelos recursos digitais. Autores como Carlos
Ginzburg, Yochai Benkler,Martin Weller, Rachel Goulart Barreto, e Roger Chartier são
alguns dos nomes de referência para essas reflexões.
@liliansta
2
O estudo de história em tempos de abundância de fontes
digitais: algumas considerações.
Ao considerar um contexto de expressiva ampliação do acesso a conteúdos diversos,
passíveis de ocuparem a condição de fontes históricas, coloca-se diante de nós uma série de
inquietações relacionadas a questões conceituais pertinentes ao estudo da história.
Diferentes considerações fazem-se necessárias, já que testemunhamos um processo de
transformação sócio-técnico-cultural que tem desdobramentos variados no que diz respeito às
possibilidades de pesquisa, apreensão e circulação da informação. Cabe também tomar em
conta mudanças do ponto de vista da organização das instituições e mesmo dos hábitos de
sociabilidade, pois nelas residem alterações importantes nos processos de registro e de
divulgação dos materiais que passam a compor o acervo histórico sobre essa época. Os pontos
que se seguem, assim, constituem questionamentos que nos parecem necessários num projeto
de investigação que possa nos oferecer subsídios mais consistentes para compreender
transformações em curso no campo do ensino/aprendizagem, da pesquisa e do diálogo social
sobre história.
Para começar, é preciso romper com a naturalização dos recursos da tecnologia,
compreendendo-os como aparatos programados por grupos específicos, e, dessa forma,
estruturados de acordo com um conjunto de valores e de objetivos característicos desses
grupos. As disputas por essas definições, seja no campo de equipamentos e programas, seja
no que diz respeito às determinações técnicas da internet, são acirradas e possuem
desdobramentos variados. Temas como adoção de software livre ou software proprietário,
formatos abertos ou fechados, licenças de publicação flexíveis ou a rigidez do copyright,
ilustram algumas das lutas que estão na pauta dos cadernos de economia, direito, tecnologia e
cultura nos últimos 15 anos1. São discussões inerentes às colocações que se seguem, como
veremos.
Bezerra (2003, p.44) define sinteticamente os objetivos principais do estudo de
história na educação básica:
1 Como leituras de referência, sugerimos Lessig, L. (2005) , Silveira, S.A (2009)., Doctorow,C. (2008)
3
A história, concebida como processo, busca aprimorar o
exercício da problematização da vida social, como ponto de
partida para a investigação produtiva e criativa, buscando
identificar as relações sociais de grupos locais, regionais e
nacionais e de outros povos; perceber as diferenças e
semelhanças, os conflitos/contradições e as solidariedades,
igualdades e desigualdades existentes nas sociedades; comparar
as problemáticas atuais e de outros momentos, posicionar-se de
forma crítica no seu presente e buscar as relações possíveis com
o seu passado.
Nas palavras de Schmidt (2010, p.57),
o professor de história pode ensinar o aluno a adquirir as
ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-
fazer-bem, lançar os germes do histórico. Ele é o responsável
por ensinar o aluno a captar e valorizar a diversidade dos pontos
de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar
problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros
problemas, procurando transformar, a cada aula de história,
temas em problemáticas.
"O livro didático tornou-se (…) um dos principais fatores que influenciam o trabalho
pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens
metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, a sala de aula" diz o Vieira (2004.
p.16). Propor atividades no marco da educação formal que possam ir além do estreitamento
do recorte proposto pelos autores de cada coleção didática demanda avaliar os ganhos
proporcionados pelo acesso a uma amplitude maior de suportes documentais, e os cuidados
necessários para um uso focado, aprofundado e crítico desses recursos.
1. A amplitude de acesso a vastos acervos de pesquisa, em diferentes
suportes
As perspectivas de estudo de história, nos dias de hoje, passam pela possibilidade de
acesso facilitado a um acervo expressivo de fontes, em formato digital e disponíveis na
internet. Esse fato representa um ganho importante para educadores e estudantes, de forma
geral. Em especial, destacamos o sentido que possui para habitantes de cidades distante dos
grandes centros urbanos, onde são poucas as bibliotecas, os museus, os cinemas e demais
equipamentos culturais.
O crescimento do acervo disponível para uso online, nas máquinas locais e mesmo
para a composição de novos materiais e impressão tem sido expressivo, como resultado de
projetos de digitalização de acervos de inúmeras instituições. Como exemplos, destaco o
trabalho que está sendo feito no Arquivo Público do Estado de São Paulo
4
(http://www.arquivoestado.sp.gov.br/), onde é possível ter acesso a diversos fundos
documentais, como jornais de diferentes cidades do estado, álbuns, cartas, anuários
estatísticos, etc. Ou a Brasiliana USP, livros, imagens, mapas, periódicos, obras de referências
e manuscritos estão acessíveis para leitura e usos educacionais variados. Igualmente podemos
mencionar o acervo de documentação produzida atualmente por diferentes instâncias do
Estado brasileiro, em formato digital, que cada vez vem sendo disponibilizados na rede - o
que só tende se avolumar, dado o início da vigência da Lei de Acesso à Informação Pública
(Lei 12527-2011), no último mês de maio2. Essa relação de exemplos mencionados, a que se
poderiam acrescentar muitas outras iniciativas, fala somente de acervos institucionalizados.
Soma-se a ela inúmeros outros espaços de publicação por usuários, em espaços como blogs,
serviços de compartilhamento de videos (Youtube, Vimeo, etc), de fotos (Flickr,
Wikicommons), em que é possível encontrar uma infinidade de referências interessantes para
os usos dos cursos de história.
A riqueza e variedade de acervos, entretanto, não são suficientes para um
deslumbramento com a chegada das tecnologias, nem atestam, em si, uma almejada
democratização do acesso a determinada gama de recursos culturais. Carlos Ginzburg começa
sua conferência, denominada "História na Era do Google" (Porto Alegre-2010), questionando
a ideia de que a internet é, em si, um instrumento democrático. Para Ginzburg, "a internet é
um instrumento potencialmente democrático", já que a própria perspectiva de uso desse
potencial demanda "dominar os instrumentos do conhecimento".
Nesse contexto de abundância, torna-se necessária uma ação de curadoria de fontes,
para qual é preciso um exercício continuo de desenvolvimento de critérios de seleção e
descarte, que não constituem ações triviais. Beiguelman (2011) fala de curadoria da
informação como uma ação que une o uso de mecanismos de busca, filtros pessoais,
agenciamento da informação e uso das plataformas para a divulgação desses links. Constitui,
portanto, uma atividade que agrega o olhar humano à seleção promovida pela mediação
automatizada, e enriquece essa seleção com referendos dos demais usuários das plataformas.
No espaço escolar, cabe aos professores agregar a crítica de fontes da internet às
habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. As inúmeras situações em que a atividade de
pesquisa integra-se aos projetos de trabalho em sala de aula são também oportunidades para o
2 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
5
trabalho de avaliação das fontes utilizadas, pelo próprio professor ou pelos colegas3. O uso de
fontes variadas, num processo de crítica e levantamento de hipóteses que possam auxiliar na
validação desses materiais, também oferecem boas oportunidades para esse debate em sala.
2. A capacidade diferenciada de interação com esses acervos, mediada por
filtros, programas variados, mecanismos de ampliação de imagens
cruzamento de dados, novas visualizações.
Mais além da utilização tradicional dos suportes culturais nas estratégias pedagógicas,
é preciso tomar em conta outras perspectivas de uso desses recursos, que agregam outras
experiências ao estudo da história.
No campo da pesquisa histórica, avança o uso de Sistemas de Informação
Georreferenciados (SIG) - um ambiente computacional que permite a articulação de bancos
de dados alfanuméricos com informações e visualizações espaciais. Segundo Ferla (2012) "a
incorporação privilegiada da dimensão espacial na agenda de pesquisas possibilitaria não
apenas o enriquecimento das possibilidades temáticas e da capacidade de integração de
distintas tipologias documentais, como também poderia fornecer novas perspectivas analíticas
e interpretativas para temas já relativamente bem explorados, mas que poderiam sofrer
ressignificações ou relativizações com o auxílio da tecnologia [...] proposta". Um estudo em
curso, numa associação entre o Laboratório da UNIFESP e o Arquivo Público do estado de
São Paulo é um SIG Histórico sobre a evolução das enchentes na cidade de São Paulo.
A experiência correlata, no âmbito escolar, permite a utilização de plataformas como o
Open Street Map ou do Google Earth, na integração a projetos em que a percepção espacial
inerente a situações da história possam agregar um outro olhar aos desafios que se colocavam
a sociedades específicas e aos arranjos territoriais que foram se configurando ao longo do
tempo.
O processamento de dados por filtros específicos de pesquisa proporcionam alguns
olhares de pesquisa que permitem boas constatações, como base para instigar a reflexão e o
3 Sobre uma experiência com gerenciamento de links, ver STAROBINAS, L. ; MANCEBO, E. ; LOCATELLI, S. O uso
de ferramentas da Web no Ensino Médio da Escola Vera Cruz, 2008. Disponível em: <
http://pt.scribd.com/doc/6218217/O-Uso-de-Ferramentas-Da-Web-No-Ensino-Medio-Da-Escola-Vera-Cruz>
Acesso em: 26/01/2012
6
debate entre os alunos. Um exemplo simples é uma busca básica - um simples Ctrl F - no
texto da Constituição Brasileira de 1824, por termos como escravos, escravidão, negro ou
índio - ou termos correlatos. A ausência por completo dessas referências oferecem uma boa
pauta de discussão sobre os traços da sociedade que se institucionalizava no país no momento
de sua formação enquanto estado nacional independente.
Ferramentas como o Scraperwiki podem facilitar o processamento de material mais
volumoso, em busca de determinadas terminologias. Programas como o Many Eyes, da IBM,
prestam-se a visualizações alternativas dos dados. Um exemplo prático recente desses usos,
em formato aberto, foi o desenvolvimento do aplicativo Radar Parlamentar4, que permite a
comparação das semelhanças na orientação dos votos de grupos de parlamentares, facilitando
a observação concreta dos apoios políticos nas casas legislativas do país. O aplicativo foi
esboçado por uma equipe de alunos da Poli-USP, a partir de um desafio lançado pela própria
Câmara Municipal de São Paulo, num evento denominado Hackaton, estimulando
visualizações mais profícuas e usos inteligentes do vasto banco de dados que a instituição
possui. Maratonas de produção de novos olhares a partir do processamento desses bancos, do
mesmo estilo, tem ocorrido em diferentes lugares do mundo, a partir de bases de dados
públicos ou de acervos particulares, como foi o caso de iniciativa recente do jornal O Estado
de São Paulo.
A marca de várias dessas iniciativas é uma ação embasada em processos mais intensos
de participação social. Assim como o acesso a uma multiplicidade de fontes demanda, como
dissemos, uma ação educacional que auxilie alunos e professores a fortalecerem seu preparo
para a curadoria da informação e posterior inserção contextualizada da mesma, o acesso e uso
socialmente significativo das vastas bases de dados que vão sendo produzidas no dia a dia
apontam para uma ação integrada de comunidades específicas. O mote de sua coesão pode ser
ocasional ou duradouro - ações voltadas a impedir a degradação de patrimônio histórico em
risco iminente, ou acompanhamento da evolução dos investimentos públicos e privados em
projetos de preservação. O caráter coletivo dessa trilha de produção de conhecimento sobre a
sociedade se apoia na contribuição de habilidades variadas, que passam pela elaboração da
questão que norteia o projeto; pela criação de estratégias de ação; pela identificação das
informações que podem dar base ao projeto; pelo acesso ou produção dessas fontes; pela
decisão das ferramentas a serem utilizadas, por desenvolvimento de aplicativos que facilitem
4 http://radarparlamentar.polignu.org/index/
7
o processamento, a visualização ou a circulação desses dados; pela comunicação dessa
proposta a um público mais amplo. Presta-se por completo ao engajamento de grupos
numerosos, com capacidades variadas, que podem trabalhar à distância e em horários
diversos.
Um exemplo de banco de dados produzido por alunos do Brasil inteiro, por exemplo,
são as imagens reunidas pelas equipes participantes das Olimpíadas Nacionais de História do
Brasil5. A cada edição, uma das tarefas tem sido a produção de imagens da cidade - um
monumento público, uma construção que teve seu uso alterado ao longo do tempo, etc.
Contando com a participação de estudantes mais de 4 mil escolas, em todos os estados do
país, é possível pensar nesse material como um acervo de interesse em propostas de trabalho
variadas do ponto de vista do estudo da história. Outros projetos em rede, que fazem uso do
potencial de produção de vídeo e fotos digital de equipamentos simples - celulares, câmeras -
tem contribuído para a circulação do registro de depoimentos de trajetórias de vida e
circulação de fotos do patrimônio material - cito como exemplo o "Coisas Boas de minha
Terra" promovido pelo Educarede - Cenpec - Fundação telefônica, em parceria com a
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, nos anos de 2004 e 20056.
5 Sobre a ONHB, ver Meneguello, C. Olimpíada Nacional em História do Brasil – uma aventura intelectual? IN
http://www.anpuh.org/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=14&impressao
6 Livros virtuais foram produzidos a partir do trabalho das escolas, e podem ser acessados nesse link
http://www.educared.org/educa/index.cfm?id_comunidade=1
8
3. Novas concepções de autoria, com a popularização de modalidades
variadas de criação e menor formalidade na relação entre autores e público
The Wealth of the Network, livro de Yochai Benkler, professor da escola de Direito de
Harvard, foi lançado em 2006. No capítulo três, Benkler analisar o que chama de "produção
por pares": processos de produção colaborativa, mediadas pela rede, de forma descentralizada
e não hierárquica, capaz de gerar resultados expressivos no campo do conhecimento. A
Wikipédia é o produto mais famoso desse tipo de processo, possuindo procedimentos internos
de regulação que permitem limites variados na capacidade de edição, de acordo com a
reputação que vai sendo adquirida por seus editores dentro da comunidade.
O próprio livro de Benkler, aliás, é um exemplo dessas outras formas de promover a
circulação e a recriação de ideias. O livro está à venda em formato impresso, mas pode
também ser acessado por meio de leitura em um arquivo eletrônico gratuito com diagramação
semelhante à impressa (pdf), em formatos que facilitam pesquisa e reutilização (html, xml,
odt), ou numa plataforma Wiki, onde há o texto, link para fontes explicativas de determinados
conceitos, ligações para casos variados que exemplificam as afirmações do autor, e
possibilidade de comentários dos leitores. Na página de remixagem, pode-se encontrar áudios
de narração do livro, produzidos pela comunidade de suporte.
A facilitação da publicação por meio das plataformas digitais; as combinações
possíveis para autorias e interação com autores; a inserção mais ágil do retorno dos leitores ao
próprio autor e do debate dos leitores entre si; a recombinação de textos com vídeos, áudios,
links; todos esses elementos compõem um processo recente de produção cultural, que abala a
posição consagrada da voz do autor e abre espaço para um processo dialógico promissor no
que diz respeito a ampliação dos debates e ao aprofundamento das reflexões.
A circulação entre pares e o sistema de referenciamento por citações não é,
certamente, um fenômeno novo. A digitalização, entretanto, facilita tecnicamente esse
processo e vem permitindo uma aproximação entre autores e leitores numa escala e ritmo que
é inédita.
Nesse sentido, a disseminação do conceito de Recursos Educacionais Abertos vem
contribuindo de forma consistente para auxiliar na reflexão sobre as formas de inserir essas
práticas no cotidiano da escola. De acordo com a definição estabelecida pela
9
Unesco/COMMONWEALTH OF LEARNING, em 2011, são Recursos Educacionais
Abertos:
materiais de ensino, aprendizado, e pesquisa em qualquer
suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão
licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados
ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos
facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados
digitalmente. Recursos educacionais abertos podem incluir
cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos,
artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra
ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao
conhecimento.
Esse convite à adoção de um suporte didático menos cristalizado, que pense em
conhecimento de uma forma mais dinâmica que estanque, é também um convite a reconhecer
a autoria de professores e alunos no processo educacional - o que vale tanto para a educação
básica quanto para o ensino superior. Trata-se de olhar para a autoria enquanto uma
capacidade que demanda exercício para desenvolver-se, e cujo esboços, rascunhos, tentativas
e erros, em suportes culturais variados, constituem parte da trajetória7.
4. A transformação dos valores definidores do que se registra, em que
suporte e sob que política de manutenção e conservação.
A penetração dos aparatos digitais nas diferentes esferas da vida nos obriga a pensar
em várias questões relativas aos registros que esses usos imprimem, os registros que
produzimos conscientemente - ou não - e os usos desse acervo.
Câmaras de monitoramento nas ruas, nos edifícios, nos estabelecimentos comerciais e
até nas escolas produzem a cada dia horas e horas de imagens sobre a vida cotidiana da
população. Sinais do telefone celular, aplicativos georreferenciados, GPS dos automóveis
permitem uma cartografia específica da mobilidade de grupos específicos. O uso do cartão de
crédito, os programas de bônus por emissão de nota fiscal, são fonte de terabytes de dados
sobre hábitos de consumo. O histórico de uso de motores de busca e as atividades nas Redes
Sociais constituem um ativo milionário das empresas que se apropriam e negociam essas
informações8.
7 Sobre Recursos Educacionais Abertos, sugiro a leitura dos artigos do livrorea.net.br, entre os quais encontra-
se um de minha autoria.
8 Sobre o tema, ver LEMOS, A. Mídias Locativas E Vigilância: sujeito inseguro, bolhas digitais, paredes virtuais e
territórios informacionais, in http://www2.pucpr.br/ssscla/papers/SessaoJ_A21_pp621-648.pdf
10
Se estamos falando em abundância de fontes a partir da digitalização de acervos
produzidos até o século passado, talvez seja necessária outra terminologia para especificar a
enxurrada de imagens, textos e vídeos agregados a plataformas variadas a cada minuto. O que
se observa é uma mudança de prática impulsionada pelas alterações dos suportes
tecnológicos: o barateamento da produção de imagens, seja pela popularização de câmeras ou
de celulares, seja pela substituição da impressão em papel pelo consumo nas telas do telefone,
tablets, etc. O exercício de curadoria dessas imagens, como hábito pessoal, é inexpressivo:
duzentas fotos são tiradas, duzentas fotos são publicadas, independente de sua qualidade
técnica, de sua redundância, dos olhos fechados e das caretas, da imagem do chão captada por
casualidade. Quando muito há a discussão sobre cuidados com imagens comprometedoras:
exposição demasiada do corpo, presença em lugares socialmente mal vistos, companhias
perigosas, enfim, um rol limitado de motivos que refreiam o impulso imediato de divulgar.
As crianças descabeladas; a bagunça na sala de estar; o coral desafinado dos amigos na
festa; as paródias dos artistas e dos fatos políticos; o deslize de comportamento do policial;
todos esses temas povoam as infindáveis imagens que estão sendo produzidas a cada dia,
compondo um acervo poderoso no que virá a ser, um dia, o legado dos registros históricos de
setores da sociedade no início do século XXI. Nas palavras de Lemos9, "a cibercultura não
pertence mais à sociedade do espetáculo, no sentido dado a essa pelo situacionista francês
Guy Debord. Ela é mais do que o espetáculo, configurando-se como uma espécie de
manipulação digital do espetáculo".
Do ponto de vista do historiador, o cuidado com a preservação documental e a
discussão sobre as manipulações de fontes documentais são de grande relevância. Os debates
sobre os quesitos orientadores da eliminação do suporte em papel na documentação pública e
mesmo da destruição de acervos institucionais de órgãos públicos em diversos estados vem
ocorrendo, nem sempre com resultados que garantam segurança ao patrimônio histórico nem
eficiência em sua aplicação. É fundamental, nesse sentido, uma postura atuante dos
profissionais do campo, demandando uma política pública que garanta a multiplicação das
cópias dos acervos, e também um olhar para os formatos digitais, com o objetivo de evitar sua
caducidade.10
9 Lemos, A. Ciber-Socialidade.Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea.In
http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/lemos/cibersoc.html
10 Sobre o tema o artigo de Sérgio Amadeu no livrorea.net.br.
11
5. Algumas reflexões para concluir
Diz Chartier em Inscrever e apagar:
O medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias da
primeira fase da modernidade. Para dominar a sua inquietação
elas fixaram, por meio da escrita, os traços do passado, as
lembranças dos mortos ou as glórias dos vivos e todos os textos
que não deveriam desaparecer. (...) Em um mundo em que as
escritas podiam ser apagadas, os manuscritos perdidos, e os
livros estavam sempre ameaçados de proibição, não era uma
tarefa fácil. Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez,
outro perigo: o de uma proliferação textual incontrolável, de um
discurso sem ordem nem limites. O excesso de escrita, que
multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sob o acúmulo
de discursos, foi considerado um perigo tão grande quanto seu
contrário. Portanto, embora temido, o apagamento era
necessário, assim como o esquecimento também o é para a
memória.
O texto de Chartier nos convida a pensar no ruído produzido pela informação em
excesso. E nos coloca no limite entre a angústia da escassez e do desnorteio diante do mar de
opções. É nessa condição que nos colocamos para acompanhar e buscar refinar uma prática do
estudo da história que procure caminhos para poder usufruir da riqueza de vozes, e ao mesmo
tempo propor desafios que obrigue ao aprofundamento da leitura e a tessitura coesa de links
entre os materiais em novas produções do pensamento.
Trata-se de inspirar-se no que Weller (2011) chama de "uma pedagogia da
abundância", apontando para processos que possam promover processos estudo e reflexão
apostando numa certa liberdade e imprevisibilidade dos caminhos de pesquisa, fazendo uso de
suportes culturais variados e incentivando a atuação coletiva na filtragem e disseminação dos
recursos.
Como sugere Barreto (2002).
o professor da sala de aula possível - como ela pode ser - não se
deixa seduzir apenas pela atratividade das novas tecnologias,
nem privilegia somente a interação dos alunos com elas. Tem,
como horizonte, a interação maior: a discussão (das
informações coletadas e dos processos vividos) para o confronto
dos diferentes percursos (individuais), visando a produção
(coletiva) de sínteses integradoras que extrapolam conteúdos
específicos.
12
BIBLIOGRAFIA
BARRETO, R. IN LOPES, A C.; MACEDO, E. ( orgs.) Currículo: debates contemporâneos.
São Paulo: Cortez, ed. 2002.
BEIGUELMAN, G. Curadoria da Informação. São Paulo , 2011. Apresentação de telas.
Disponível em: < http://www.desvirtual.com/curadoria-de-informacao/> Acesso em:
26/06/2012
BENKLER, Y. The wealth of networks how social production transforms markets and
freedom. New Haven: Yale, 2006. Disponível em <
http://cyber.law.harvard.edu/wealth_of_networks/Main_Page>
BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. IN Karnal, L.(org)
História na sala de aula : conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2003. p.37-48.
CHARTIER, R. nscrever e apagar : cultura escrita e literatura (séculos XI-XVIII) , São Paulo
: Editora UNESP, 2007.
DOCTOROW, C. Why I Copyfight. Locus magazine, 2008. Disponível em:
<http://www.locusmag.com/Features/2008/11/cory-doctorow-why-i-copyfight.html>; versão
em português: "Por que pratico copyfight". Disponível em:
<http://adoteumparagrafo.pbworks.com/w/page/1409364/Doctorow01>
FERLA ,L. " Implementação de GIS Histórico no Campus de Humanidades da UNIFESP e
projeto-piloto sobre a urbanização de São Paulo (1870-1940)" Disponível
<http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2012/files/31892.pdf> Acesso
em 13/07/2012
GINZBURG, C. "História na Era do Google". Porto Alegre-2010. Vídeo. Disponível em: <
http://www.youtube.com/watch?v=wSSHNqAbd7E> Acesso em: 05/07/2012
LEMOS, A. Ciber-Socialidade.Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea.
Disponível em <http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/lemos/cibersoc.html>, Acesso em
12/07/2012
LEMOS, A.. Mídias Locativas e Vigilância: sujeito inseguro, bolhas digitais, paredes virtuais
e territórios informacionais. In Vigilância, Segurança e Controle Social na América Latina,
13
Curitiba, p. 621-648. 2009, ISSN 2175-9596 Disponível em
<http://www2.pucpr.br/ssscla/papers/SessaoJ_A21_pp621-648.pdf>, Acesso em 12/07/2012
LESSIG, L. Cultura livre como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura
e controlar a criatividade. São Paulo : Trama, 2005.
SANTANA, B., ROSSINI, C., PRETTO, N.L. (Org.). Recursos educacionais abertos: práticas
colaborativas e políticas públicas. Recursos educacionais abertos: práticas colaborativas e
políticas públicas. 1ed.Salvador-BA / São Paulo-SP: EDUFBA; Casa de Cultura Digital,
2012. Disponível em < http://livrorea.net.br/>
SCHMIDT, M.A. A formação do professor de história e o cotidiano da sala de aula. In
Bittencourt, C. (org) O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2010. 11a ed.
p.54-66
SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Novas dimensões da política: protocolos e códigos na esfera
pública interconectada. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 17, n. 34, out. 2009 . Disponível
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782009000300008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 14 ago. 2012.
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782009000300008.
STAROBINAS, L. ; MANCEBO, E. ; LOCATELLI, S. O uso de ferramentas da Web no
Ensino Médio da Escola Vera Cruz, 2008. Disponível em: <
http://pt.scribd.com/doc/6218217/O-Uso-de-Ferramentas-Da-Web-No-Ensino-Medio-Da-
Escola-Vera-Cruz> Acesso em: 26/01/2012
VIEIRA, G.M. Estratégias de “contextualização” nos Livros Didáticos de Matemática dos
ciclos iniciais do Ensino Fundamental. 2004. (Mestrado em Educação) – Faculdade de
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/IOMS-
678HK2/1/disserta__o_glaucia_marcondes.pdf>
WELLER, M. A pedagogy of abundance. Spanish Journal of Pedagogy, 249/ (2011). pp. 223–
236. Disponível em <http://oro.open.ac.uk/28774/>