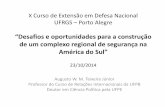CENAS MILITARES: IDENTIDADE, HIERARQUIA E MORAL NO COMPLEXO DO ALEMÃO
O complexo industrial da saúde no Brasil: uma abordagem a partir dos conceitos de circuito espacial...
Transcript of O complexo industrial da saúde no Brasil: uma abordagem a partir dos conceitos de circuito espacial...
38
O COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO BRASIL: UMA ABORDAGEM A PARTIR DOS CONCEITOS DE CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO E CÍRCULOS DE
COOPERAÇÃO NO ESPAÇO
RICARDO MENDES ANTAS JÚNIOR1 Universidade de São Paulo
Introdução Cooperação e solidariedade são dois elementos da teoria crítica da
geografia proposta por Milton Santos cujas relações permanecem num debate aberto – não obstante todo o esforço teórico que já se empreendeu para aclarar essa discussão –, já que assumem diferentes formas segundo o período histórico e os contextos social e econômico. E mudam as formas porque também foram mudando seus papéis históricos na organização e produção do território (SANTOS, 1979, p. 42).
Pode-se afirmar que as solidariedades organizam o território e o preparam para a produção stricto sensu, esta sendo o império das relações estabelecidas pela cooperação. É por meio da cooperação, elemento estrito da divisão do trabalho no encaixe de funções e etapas técnicas do processo de produção (MARX, 2008, p. 111-116), que se consolidam e expandem os circuitos produtivos que, segundo Santos (1988a, p. 50), podem evoluir de regionais a mundiais e se tornar circuitos espaciais de produção.
Mas, para se transformarem em circuitos espaciais, essas especializações produtivas são altamente dependentes da existência do que Milton Santos (1985, p. 68) chama de círculos de cooperação no espaço. Sem a formação desses círculos, as firmas industriais não escapariam à dependência e às oscilações das demandas meramente locais ou regionais.
1 Professor do Departamento de Geografia/FFLCH – USP. Contato: [email protected].
39
De fato, a formação de círculos de cooperação pertence à própria lógica de produção capitalista, e eles são frequentemente identificados às instituições públicas (estatais ou autarquias) e privadas na criação de contextos espaciais que estimulem a cooperação entre diferentes agentes produtivos. Aqui advogamos que, além dessas duas figuras jurídicas, também as organizações de determinados grupos sociais acabam por estimular a produção, ao reivindicar certos direitos. Ainda que seja secundário em suas lutas, esse efeito sobre a expansão da cooperação não pode ser ignorado, dada a importância estratégica que assume no período atual, sobretudo pelo volume de produção que engendra. É o que Wolkmer (2001, p. 119-121 et passim) denominou “novos movimentos sociais”, que, especialmente após a década de 1970, tornam-se “sujeitos históricos legitimados para a produção legal não estatal” (WOLKMER, 2001, p. 122) e, no contexto de crise institucional geral, criam condições de pressão para alcançar direitos materiais conferidos pela cidadania (saúde, educação, transporte e moradia, principalmente) não cumpridos pelos poderes vigentes.
Na medida em que se expandem as especializações regionais produtivas também aumenta o nível da cooperação necessária para a produção e, paralelamente, aumenta a dimensão dos instrumentos dessa cooperação. Assim, instituições de direito público (nacionais e internacionais), de direito privado (fundações e institutos) e, igualmente, organizações de solidariedade (ONGs e grupos sociais organizados em torno de objetivos comuns) estruturam em escalas cada vez mais amplas os círculos de cooperação correspondentes ao complexo industrial da saúde, configurando aquilo que, em outro momento, denominamos regulação híbrida do território.
Levando em conta essas ponderações sobre cooperação e solidariedade, propomos neste texto uma reflexão sobre circuitos espaciais produtivos que constituem o complexo industrial da saúde (GADELHA, 2003; 2006) e seus círculos de cooperação no espaço, tomando por base determinadas especializações industriais ligadas à saúde, como a vacina e os reagentes para diagnóstico presentes no território brasileiro.
40
Algumas considerações sobre circuitos espaciais produtivos, círculos de cooperação no espaço e complexos industriais
Diante do progresso nas reflexões que vêm sendo produzidas há pelo menos duas décadas, a partir de um conjunto de pesquisas sobre os circuitos espaciais produtivos e os círculos de cooperação no espaço propostos por Milton Santos (1979) já na década de 1980, cremos ser bastante laborioso somar contribuições aos conteúdos teóricos pressupostos nesses conceitos, que expressam a indissociabilidade entre as dinâmicas material e imaterial da produção capitalista no período de globalização (SANTOS, 2000).
No entanto, também é verdadeiro o fato de que ao nos debruçarmos sobre a análise específica de um ramo produtivo, dado fundamental para os estudos que buscam conhecer os circuitos espaciais produtivos, deparamo-nos com a dificuldade de operacionalizar as categorias de análise a uma realidade ao mesmo tempo histórica e geográfica. Se esses conceitos são fundamentais à análise geográfica por não permitirem negligenciar a configuração espacial nem seu processo de constituição (SILVEIRA, 2010; CASTILLO e FREDERICO, 2010), também o são para explicar uma realidade que se transforma quando um ramo específico atinge a qualidade de circuito espacial produtivo; isto é, quando o alcance da ação das empresas deixa de ser regional para tornar planetário um ramo específico da produção, numa cooperação ao mesmo tempo mais extensa e rígida (SANTOS, 1988a; ISNARD, 1982). Nessa passagem, vemos mudarem certos fundamentos dos sistemas sociais que marcam o período, e mesmo a modificação, dissolução e emergência de novas estruturas da totalidade. Trata-se, pois, de um método que permite compreender a dinâmica da totalização (SANTOS, 1988b).
Um aspecto importante que se questiona aqui é se o circuito espacial produtivo pode ser tratado como um dado econômico abstrato e estritamente técnico, independente do componente social específico que envolve determinada produção ou, se para cada circuito espacial produtivo é preciso levar em conta a transformação social que ele institui, como um elemento imperativo da teoria que o sustenta.
Sendo a técnica um componente intrínseco do espaço geográfico e que define as diferenças essenciais entre os períodos, parece não haver razões fortes para se negligenciar tal papel dos circuitos espaciais de produção na dinâmica da totalidade. Partimos do entendimento de que o
41
pesquisador que adota essa perspectiva metodológica não pode jamais ignorar este pressuposto, sob o risco de transformar os circuitos espaciais produtivos e os círculos de cooperação no espaço num modelo invariável, negando assim toda a filosofia por trás do método que permitiu chegar à formulação desses conceitos. Ambos resultam da concepção do espaço geográfico como instância social, sendo esse espaço constituído por conjuntos sistemas de ações, indissociáveis dos conjuntos sistemas de objetos em que tal relação pode ser solidária ou contraditória (SANTOS, 1978; 1994).
Entre as pesquisas sistemáticas que vêm apontando diversas transformações sociais devidas à emergência, consolidação e expansão dos circuitos espaciais produtivos no território brasileiro, podemos citar as dirigidas por Castillo (2003; 2008; 2011), que vem analisando a agricultura moderna produtora de commodities no território brasileiro e o mercado de alimentos no mundo. Os circuitos espaciais produtivos no campo acabaram por transformar a própria natureza da urbanização em grande parte do território brasileiro, especialmente em cidades pequenas e médias:
(...) pelo fato de que esses objetos geográficos [os sistemas técnicos constituintes dos circuitos espaciais produtivos] têm um conteúdo informacional cada vez mais distinto, distinção que se impõe porque o trabalho no campo é cada vez mais carregado de ciência; tudo isso faz com que as cidades locais deixem de ser a cidade no campo e se transformam nas cidades do campo (SANTOS, 1988b, grifos do original).
Na nossa pesquisa em curso são perceptíveis muitas transformações sociais decorrentes da emergência dos circuitos espaciais produtivos da saúde. Por exemplo no que tange à estrutura demográfica dos países ricos ou pobres, embora de modo distinto, no concernente às taxas de mortalidade, natalidade e longevidade de modo inédito - especialmente após a Segunda Guerra Mundial -, à medida que se deram descobertas em determinados campos científicos que revolucionaram as práticas de cura ou de prevenção e se transformaram em processos produtivos de alta complexidade técnica. Mas isso atinge diferentemente cada ramo industrial da saúde, conforme apontaram Bicudo (2006) e também David (2010), que estudaram as transformações ocorridas na saúde e na medicina, no Brasil e no mundo, com a formação desses circuitos espaciais produtivos específicos.
42
Um dado não menos importante que o da estruturação da produção industrial em redes abrangendo os mais diversos territórios do planeta é a conformação dos círculos de cooperação, sem os quais não seria possível a transformação produtiva escalar e integrada. Tais círculos têm grande variedade de formas e papéis, de acordo com o ramo industrial e organizacional de que se trata. Parece haver consenso entre os pesquisadores de que os círculos de cooperação no espaço se constituem em etapas imateriais do processo produtivo, enquanto os circuitos espaciais concentrariam os fluxos materiais (SANTOS, 1988a; SILVEIRA, 2010, p. 81-82; CASTILLO e FREDERICO, 2010, p. 464).
Assim, o que distingue os círculos de cooperação no espaço é a presença de agentes variados e que não necessariamente mantêm relações entre si, embora todos concorram para a ampliação das redes e, consequentemente, à escala de ação dos circuitos. Amiúde, esses agentes pertencem a estruturas estatais, mas há os que integram sindicatos nacionais ou ONGs internacionais e, evidentemente, organizações diretamente ligadas ao mercado, como as consultorias empresariais ou jurídicas (SILVA, 2001; ANTAS JR., 2005).
Se para a equação interna da firma hoje é mais rentável dividir as etapas técnicas de sua produção e abarcar as diferentes regiões do país, também se torna necessário unificar as etapas, tecendo verdadeiros círculos de cooperação que cingem o território sob a forma de ordens, informações, propaganda, dinheiro e outros instrumentos financeiros. Essa não é a única contradição aparente, pois hoje, boa parcela da base material dessa cooperação não é um custo operacional das empresas mas da sociedade, ora pelos investimentos do Tesouro Nacional, ora pelas parcerias público-privadas que garantem as infraestruturas para as grandes corporações e os lucros futuros pela exploração dos usos sociais de tais equipamentos (SILVEIRA, 2010, p. 81, grifos nossos).
Assim, os círculos de cooperação no espaço fornecem um dado importante sobre as empresas hegemônicas de um determinado circuito espacial produtivo, a sua força política. Quer dizer, expressa sua capacidade de atrair diferentes grupos de agentes que cooperam e produzem cooperação pela realização ampliada de algum processo produtivo específico. Essa é, sem dúvida, uma das formas de se ler, na ação
43
corporativa, aquilo que Milton Santos (1997) chamou de “política das empresas”. A regulação híbrida do território, definida pela presença conjunta, solidária ou contraditória do Estado, de corporações e de organizações de solidariedade (ANTAS JR., 2005), parece ser um esquema analítico proficiente para tratar dos círculos de cooperação no espaço, pois, ao contrário do momento em que o conceito foi cunhado, numa visão bipartida da regulação entre Estado e mercado, hoje temos um tripé regulatório em muitos setores e campos da vida social (SANTOS, B., 1979; FARIA, 1999, WOLKMER, 2001), e de modo dominante no que concerne às regulações do território.
Esse esquema analítico adverte que ao tratar dos círculos de cooperação no espaço se busquem reconhecer os diferentes agentes envolvidos que compõem a regulação híbrida do território. Silva (2001; 2010) vem apresentando resultados consolidados da existência intrincada e/ou independente da ação desses diferentes agentes, quando descreve as ações das consultorias de firmas jurídicas ou de organizações como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) na consolidação dos círculos de cooperação além da ação estatal.
Por fim, importa considerar que a pesquisa em tela trata da noção de complexo industrial, elemento característico da economia da saúde contemporânea (GADELHA, 2003; 2006) que é geralmente pensado por meio de um modelo alicerçado no conceito de cadeia produtiva e que, de certo modo, trata a saúde e a medicina empresarial e corporativa como um modelo industrial comum, sem reconhecer sua especificidade.
O foco encontra-se nas empresas ou nos aglomerados de empresas e nas relações estabelecidas entre elas, considerando os aspectos institucional (leis e regulações) e organizacional (centros de pesquisa, universidades, órgãos públicos, certificadoras etc.) como externalidades favoráveis ou desfavoráveis ao desempenho empresarial ou setorial (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 467).
De todo modo, o emprego do conceito de complexo industrial supõe a existência de várias empresas postas em comunicação entre si cooperando mais intensivamente. François Perroux (1975, p. 105) assinala três elementos importantes para essa noção de complexo: (1) uma indústria chave, (2) regime não concorrencial de preços e, (3) expressiva concentração territorial. Entendemos que não é forçoso que haja um complexo industrial para garantir a presença de circuitos espaciais
44
produtivos num território, no entanto, o que vimos - observando na produção bibliográfica da economia da saúde no Brasil2 e sobre a história do desenvolvimento de indústrias de fármacos, equipamentos, máquinas etc. no território brasileiro, assim como a própria dinâmica do setor em outras formações socioespaciais, aponta à tendência de formação de dois grandes complexos industriais (química e eletromecânica), integrados e interdependentes dos serviços médico-hospitalares, ressaltando a força do elemento regional a considerar.
No entanto, não se pode conceber a análise regional inerente à noção de complexo industrial do modo como se fez no passado, como uma dinâmica encerrada na cooperação regional. Em que pese ser uma realidade nesse contexto “que o lucro [da] empresa é função do seu volume de produção, da compra de serviços, do volume de produção e compra de serviços de outra empresa” (PERROUX, 1975, p. 102), em que diferentes empresas estão ligadas não só por essas trocas mas também pela especialização técnica e por certas vantagens de proximidade com seus consumidores por excelência – os hospitais e os centros de pesquisa e formação médica –, é preciso sempre considerar a estrutura do edifício regional contemporâneo, constituído por verticalidades e horizontalidades (SANTOS, 1988b; 1994).
Em outras palavras, a concentração territorial do complexo não pode ser tomada como uma dinâmica meramente regional, porque a análise dos dados revela uma cooperação muito forte entre um complexo concentrado territorialmente e outros igualmente configurados em outras formações socioespaciais.3 Nesse sentido, entender os complexos industriais da saúde
2 A produção acadêmica sobre a questão não é tão recente e apresenta uma variedade de abordagens. Aqui, podemos lembrar, entre outras, as pesquisas desenvolvidas por Hésio Cordeiro, A indústria da saúde no Brasil (1980) e Empresas médicas (1984), e Cid M. M. Vianna, Complexo médico-industrial: notas metodológicas (1993). A proposta de Gadelha (2003; 2006, entre outras) é a mais recente e a mais adotada nas produções bibliográficas especializadas. 3 Essa assertiva fica evidente quando observamos, por exemplo, as trocas de insumos para a produção de reagentes para diagnóstico entre o Brasil e os dois detentores dos maiores complexos industriais da saúde: em 2001, importamos U$ 155 milhões dos EUA e U$ 107 milhões da Alemanha e, para esses mesmos países, exportamos respectivamente U$ 615 mil e U$ 14 mil. Portanto, trata-se de uma troca extremamente desigual, bem como de
45
por circuitos espaciais produtivos – e não por cadeias produtivas – parece mais operacional para compreender a dinâmica desse setor.
O complexo industrial da saúde no Brasil
Podemos então falar num complexo industrial da saúde no território brasileiro sem no entanto tomá-lo como uma realidade autônoma, posto tratar-se de diferentes indústrias, organizadas em circuitos de diversas etapas distintas e com produtos muito variados: matérias-primas localizadas em diferentes fontes de todo o planeta, insumos de alto conteúdo tecnológico cuja produção especializada concentra-se em poucos complexos industriais de determinadas formações socioespaciais que fornecem às demais, produtos semiacabados que são finalizados conforme as legislações ambientais ou sanitárias nacionais, e mesmo bens de capital.
Assim, as localizações não podem ser “espontâneas”, isto é, os fatores contemplados não são aqueles do território como norma (SANTOS, 1996), de um modo amplo, em que os fatores básicos de produção como energia abundante e barata, mão de obra treinada e facilmente acessível, mais as vantagens fiscais que hoje se observam por toda parte onde os Estados se liberalizaram excessivamente e sem controle e servem de referência absoluta. Via de regra, muitas empresas que compõem a economia da saúde precisam da proximidade de seus maiores consumidores, os grandes hospitais gerais públicos e hospitais universitários, cuja demanda por equipamentos e insumos é extraordinariamente alta; e dos grandes hospitais privados com intensa especialização técnico-científica, que atendem preferencialmente ao público de renda alta e são capazes de atrair “clientes” de uma grande abrangência territorial, o que, no caso brasileiro, estende-se a toda a América Latina. Além disso, grande parte dessas indústrias precisa estar perto dos grandes centros de pesquisa e de formação médica, por razões das mais variadas e que não cabe arrolar aqui. Mas vale destacar o papel do médico e de sua formação para o maior ou menor êxito dos produtos corporativos num mercado nacional, tal como já trataram exaustivamente Illich (1984, p. 87-88 et passim) e Dupuy e Karsenty (1980).
uma divisão territorial entre complexos na qual não somos apenas consumidores. Esse padrão de trocas também é claro em outros circuitos espaciais do território brasileiro.
46
Logo, não é difícil compreender por que o complexo industrial da saúde no Brasil está majoritariamente localizado no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo e também entre essas metrópoles e Belo Horizonte. No caso paulista, o complexo vem se estendendo em forte ritmo ao longo dos eixos rodoviários em direção ao noroeste do estado, tendo como grandes centros e em franco desenvolvimento as cidades de Campinas e Ribeirão Preto (ANTAS JR.; ALMEIDA, 2011). Também se destacam outras importantes localizações industriais do complexo no território paulista: São Carlos, Rio Claro, Piracicaba, Araraquara, Sorocaba, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Além dessas concentrações no estado de São Paulo (em 2008, só a capital contabilizava 412 estabelecimentos industriais), há outros importantes polos no território brasileiro: Belo Horizonte (92 estabelecimentos), Rio de Janeiro (65), Curitiba (58), Porto Alegre (47), Fortaleza (40), Recife (33) e Brasília (28) (FIESP, 2009).
Outro dado relevante para essa concentração é o desenvolvimento de uma urbanização corporativa que veio desenvolvendo um ambiente institucional (e também corporativo) bastante atraente para essas indústrias, sobretudo pela concentração da formação médica e do desenvolvimento de pesquisa aplicada, que são algumas das formas que os círculos de cooperação no espaço assumem na economia da saúde. A metrópole paulistana é sem dúvida o grande centro desse complexo, e nossa pesquisa vem constatando dois aspectos marcantes no que tange à implementação do complexo industrial da saúde no Brasil com seu núcleo em São Paulo: por um lado, a cidade veio passando por grandes refuncionalizações espaciais – ao longo de todo o século XX e se estendendo até o presente –, a fim de acolher a implantação e expansão dos circuitos espaciais produtivos; de outro, como vimos, os círculos de cooperação no espaço de diferentes tipos de agentes também passaram a se concentrar na cidade, especialmente nas áreas privilegiadas por indústrias e hospitais.
Tomando em conjunto grande parte das indústrias relativas à economia da saúde, agrupadas sob a designação de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO), o relatório de 2009 da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) constatou um crescimento de 90,3% dessas indústrias em território brasileiro entre 1998 e 2007, passando de 1.120 para 2.139 estabelecimentos, mais que dobrando a força de trabalho empregada (de 20.911 para 44.385). Um fato marcante desse setor é a presença dominante de micro e pequenas empresas polarizadas por poucas grandes empresas, como se vê na Figura 1.
47
Figura 1 – Comparação do número de indústrias e do pessoal ocupado na atividade de produção de EMHO no Brasil – 1998-2007
Fonte: RAIS/MTE; Elaboração DECOMTEC/FIESP (FIESP, 2009).
Segundo ainda o mesmo relatório, em 2007, o Brasil exportou US$
368 milhões em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos (no ano seguinte, foram US$ 520 milhões e, em 2011, US$ 707,1 milhões, segundo a ABIMO), sendo o estado de São Paulo responsável por cerca de 50% desse volume; e as importações totalizaram US$ 1,43 bilhão, cabendo 51% desse total ao mesmo estado. Quanto ao valor de transformação industrial (VTI), o total no território brasileiro foi de R$ 1,8 bilhão, dos quais
São Paulo concentrou 47,8% (R$ 861,9 milhões). Em 2008, o faturamento total dessa indústria foi de R$ 7 bilhões, saltando para R$ 9,8 bilhões em 2011 (ABIMO). Em 2008, o consumo aparente do mercado de equipamentos, insumos e materiais médicos foi superior a R$ 11 bilhões, indicando que 55% (R$ 6 bilhões) da demanda nacional foi atendida por produtores instalados no país, e o restante por importações (PIERONI; REIS; SOUZA, 2010). Os dados econômicos sobre o complexo industrial da saúde no Brasil são fartos e reveladores, sobretudo a taxa de crescimento anual de quase todos os setores no território. Nosso intento
48
aqui é apenas apresentar alguns indicadores do complexo e de seu grau de concentração, especialmente no estado de São Paulo e em sua capital.
Conforme já afirmamos, o crescimento do complexo industrial se deve firmemente aos correspondentes círculos de cooperação no espaço dos circuitos espaciais produtivos. Assim, devem ser considerados protagonistas desse processo não só os agentes empresariais (isto é, o mercado), mas sobretudo o Estado, como propalador desse crescimento, com poucos paralelos na maioria dos países hoje (entre 2001 e 2006, só o setor EMHO cresceu 179,6%, atrás apenas da China), especialmente em função do Sistema Único de Saúde (SUS), que, ao garantir acesso à saúde pública a toda população, acaba sendo o principal ente demandador de indústrias de todo tipo ligadas à produção voltada para a economia da saúde. Também são relevadores outros agentes da organização social de modo amplo, como entidades de interesse específico em saúde ou ONGs atuantes nesse campo.
Os círculos de cooperação no espaço dos circuitos espaciais produtivos da saúde
Há um conjunto de características presentes no complexo industrial da saúde que nos leva a aplicar os conceitos de circuito espacial produtivo e de círculos de cooperação no espaço. São, sobretudo, elementos ligados às particularidades do atual período histórico: a intrínseca relação entre ciência e técnica (com subordinação daquela por esta) e o desenvolvimento das tecnologias da informação, que vêm transformando a lógica que preside a economia da saúde no Brasil e no mundo, na medida em que esses dois elementos potencializaram em escala planetária a capacidade de articulação produtiva e política da saúde.
Pode-se, ao mesmo tempo, fragmentar e unir diferentes etapas do processo produtivo em recortes espaciais cada vez mais afastados, diante da ampliação dos fluxos materiais e imateriais pelos territórios – geridos, nesse caso, pela ótica do mercado. Enquanto o circuito espacial produtivo pode ser entendido como a dimensão material da produção, distribuição, troca e consumo; os círculos de cooperação no espaço podem ser vistos como os fundamentos imateriais da divisão espacial da produção (MORAES, 1985, p. 11). Constituem, assim, um par indissociável de conceitos.
49
Integrando diferentes lugares e agentes, os círculos de cooperação no espaço sintetizam associações, hierarquias e fluxos, colocando-os em conexão. Com essa comunicação consubstanciada pela transferência de capitais, ordens e informação, garantem a organização necessária de diversas etapas espacialmente segmentadas da produção (CASTILLO; FREDERICO, 2010). Plural, essa relação pode se dar entre empresas e poderes públicos locais, regionais e nacionais; entre empresas, associações não governamentais e instituições sem fins lucrativos; por financiamentos oferecidos por instituições bancárias; por parcerias com universidades, institutos de pesquisa e certificadoras de qualidade; e com o trabalho de firmas de consultoria jurídica, de mercado e de publicidade, entre outros modos. Revelam, assim, toda sua complexidade para o estudo. Podem diversificar produtos, agentes, interesses e origem dos capitais, entre outras variáveis-chave demandadas em cada circuito espacial produtivo.
Os principais agentes da saúde produtores dos círculos de cooperação no espaço no território brasileiro podem ser divididos entre aqueles ligados ao Estado, a corporações e a organizações de solidariedade (ANTAS JR., 2005). Entre aqueles relacionados ao poder soberano, destaca-se o Ministério da Saúde, que em 2008 instituiu uma secretaria denominada Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS), cujo principal propósito é estimular a indústria de insumos à saúde em todos os setores presentes no território brasileiro de modo a alavancá-la e capacitá-la para competir nos mercados nacional e internacional.
Também as secretarias de saúde de diferentes esferas de poder estatal (estados e municípios) têm iniciativas de apoio às indústrias da economia da saúde. Por seu papel regulador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pode ser apontada como um agente importante para inserção e aumento da competitividade internacional, em que pesem as barreiras que impõe a muitas empresas pequenas do setor, acabando por favorecer aquelas com maior capacidade organizacional, geralmente as maiores de cada ramo. Outro agente de primeira ordem é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que desde 2007 vem criando linhas de crédito diferenciadas, com uma específica para o complexo industrial da saúde (BNDS, 2007).
Entre os agentes não estatais mais importantes, está a Associação Brasileira de Indústrias de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), fundada em 1962 por 25 fabricantes de produtos médicos e odontológicos que se
50
uniram com o objetivo de organizar e regulamentar o segmento, sendo, assim, um agente de cooperação que deriva de uma associação a partir de interesses do mercado propriamente. Outra associação, formada em 1971 com esse mesmo objetivo, é o Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de São Paulo (SINAEMO), que atua em conjunto com a ABIMO. É o que poderíamos considerar um círculo de cooperação no espaço paradigmático, pois formado pelo mercado e para o mercado. Segundo a ABIMO, as empresas que representa são capazes de suprir 90% das necessidades do mercado interno; exporta para mais de 180 países e gera cerca de 100 mil empregos. Em 2011, o complexo exportou US$ 707,1 milhões e importou US$ 4.066 milhões.
Há ainda que se destacar as instituições diretamente ligadas aos serviços de saúde, mas que acabam por cumprir um papel na cooperação produtiva. Entre as grandes organizações está a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), uma organização de solidariedade que representa um segmento importante e forte, que são as sociedades filantrópicas (especialmente as Santas Casas, primeiras instituições no território ligadas à saúde, atuando desde 1550). Fundada em 1963, a CMB representa cerca de 2.100 estabelecimentos de saúde (hospitais, clínicas e ambulatórios) sem fins lucrativos, mas com um faturamento de 18 bilhões de reais em 2011 (CMB, 2011).
Há também a Federação Brasileira de Hospitais (FBH), outra importante associação hospitalar que representa as associações hospitalares privadas de 16 estados mais o Distrito Federal, e que busca estabelecer diretrizes práticas e políticas para um “fortalecimento empresarial e gerencial das instituições”. Nos objetivos de uma das principais associações, a do estado de São Paulo, expressa-se uma diretriz fundamental para a cooperação tratada aqui:
Manter, quando conveniente, órgãos técnicos destinados a: § adquirir, fabricar, importar e distribuir aos hospitais associados instrumental médico e cirúrgico, produtos oficinais de laboratório e especialidades farmacêuticas, produtos de assepsia, higiene e limpeza, acessórios de enfermagem, gêneros alimentícios, material de cama, mesa e rouparia, móveis e utensílios hospitalares; § promover pesquisas e compras no exterior de material científico, técnico ou hospitalar;
51
§ estudar e pesquisar o mercado financeiro, com o fim de obter financiamento por meio de órgãos oficiais ou de instituições financeiras particulares, para a aquisição de materiais e equipamentos para a execução de planos de expansão dos estabelecimentos hospitalares associados (AHESP, 2011).
A importância dos hospitais para o complexo industrial da saúde é central, e as associações dessas instituições conferem grande poder de articulação e estímulo à produção industrial, pois são os grandes consumidores e também, em determinadas situações, se apresentam como produtores, conforme se verifica em muitos hospitais-escola, ligados a universidades e à formação profissional. Os caminhos que levam à formação de diferentes círculos de cooperação a partir do hospital, da formação médica e da pesquisa aplicada têm se mostrado centrais na produção de insumos médico-hospitalares. São agentes importantes na cooperação, de modo geral, para a economia da saúde. Quando analisamos um circuito espacial produtivo específico, vemos emergirem especificidades de cada ramo produtivo. É o que passaremos a abordar.
Algumas notas sobre os círculos de cooperação do circuito espacial produtivo da vacina
Quando, em consonância com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e com outros órgãos de âmbito nacional e internacional ligados à saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncia em 2005, com quatro ou cinco anos de antecedência, uma pandemia de H1N14 e, simultaneamente, cria um fundo para que os países possam se preparar para uma vacinação massiva das suas populações, não estão agindo como grandes e significativos círculos de cooperação, ao promover pressão no consumo final? E se considerarmos que, no caso do combate ao Influenza A H1N1, as instituições estatais do direito internacional intervieram no próprio desenvolvimento técnico e científico da vacina?
4 Sobre as primeiras ações contra a pandemia do vírus influenza A H1N1, ver OPAS/OMS (2005), BRASIL (2005) e também o artigo de Donalísio (2005), entre outros documentos importantes.
52
Num e noutro caso, não restam dúvidas de que a formação de círculos de cooperação no espaço pode estar relacionada tanto à conexão de agentes produtivos pela divisão técnica da produção quanto ao estabelecimento de conexões entre os diferentes agentes, até mesmo concorrentes no mercado, que, para atender a uma demanda excepcionalmente grande, estimulam alianças para atingir certos volumes de produção.
Em 2009, a OMS vivenciou sua função fundamental de coordenadora global das questões de vacinas e vacinação, no desenvolvimento e na produção rápida da vacina H1N1. Graças à ação de forte coordenação, congregando as instituições públicas e privadas e peritos da área, foi possível num prazo relativamente curto de sete meses – desde a primeira notificação da doença no México, em 22 abril de 2009, até a primeira vacina registrada em novembro de 2009 – desenvolver uma vacina contra o vírus H1N1 (HOMMA et al., 2011, p. 446).
Essa cooperação técnica possibilitou no Brasil a compra de 10 milhões de vacinas, cujo financiamento veio do Fundo Rotatório de Vacinas da OPAS/OMS e pelo Termo de Cooperação entre o Ministério da Saúde e a OPAS (HORST; SOLER, 2010). Podemos acrescentar a esse caso específico o combate permanente a endemias como o sarampo, a poliomielite, a rubéola etc., cujos fundos internacionais para debelá-las vêm crescendo, e as cooperações técnicas aumentam em volume e possibilidades de ação, envolvendo cada vez mais universidades, instituições de direito público e privado e ONGs especializadas, numa verdadeira ação organizacional.5
Bertollo (2012) mostra como, a partir desse anúncio da pandemia do Influenza A H1N1, se estruturou uma série de parcerias entre empresas brasileiras e grandes laboratórios transnacionais para a produção da vacina dentro e fora do país. Biomanguinhos e Instituto Butantã, por exemplo, estabeleceram contratos firmando parcerias que se efetivaram pela compra de grandes volumes de doses e, assim, trouxeram a tecnologia de produção (e de multiplicação por meio de adjuvantes) para o território brasileiro.
5 Um bom exemplo dessas associações é o caso da Fiocruz (Brasil) e do Instituto Finlay (Cuba), que, atendendo a um apelo da OMS, produziram e distribuíram milhões de doses de vacinas a baixo custo para o chamado “Cinturão da Meningite” na África, que se estende do oeste de Senegal até o leste da Etiópia (FIOCRUZ, 2013).
53
Desse modo, o que parece caracterizar tais círculos é a presença de agentes variados e que não necessariamente mantêm relações entre si, embora todos estimulem e favoreçam a ampliação das redes e, consequentemente, o alcance dos circuitos espaciais produtivos. É comum que, no combate às endemias e epidemias no território brasileiro, tais agentes pertençam a estruturas de Estado, além de organizações diretamente ligadas ao mercado, mas há também os que integram diferentes organizações sociais (especialmente sindicatos de abrangência nacional ou ONGs de ação internacional).
Na Figura 2 fica evidenciada essa assertiva. Observando o continente africano e também determinados países asiáticos e latino-americanos, notamos claramente o significativo número de ONGs, sobretudo de alcance internacional, muitas com sedes em países de capitalismo avançado – por exemplo, a dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), sediada em Paris, e a Cruz Vermelha e a GAVI, em Genebra. Tomando apenas o caso do MSF, 92% de seus recursos de origem institucional em 2011 (4,9 milhões de euros)6 provêm da União Europeia, da França, da Dinamarca, da Suécia e da Noruega; e os 8% restantes, do Canadá e das Nações Unidas.
Sem a ação organizacional e orgânica dessas ONGs, as campanhas de vacinação da OMS e da UNICEF, e mesmo as promovidas pelos próprios Estados nacionais dos países aludidos, não teriam chance de fazer escoar pelos territórios grandes quantidades de vacinas produzidas pelas chamadas Big Farmas e compradas, via de regra, pelos fundos públicos e internacionais citados acima. Vale destacar ainda que grande parte dos recursos financeiros do MSF é aplicada numa logística que a própria organização vem desenvolvendo com tecnologias variadas, de modo a dar conta de produzir fluxos de medicamentos (nos quais se incluem as vacinas) em regiões com baixas densidades técnicas, especialmente aquelas voltas à mobilidade (MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, 2011).
6 No balanço simplificado da organização, contando todas as suas fontes, especialmente as doações individuais, inteiraram-se, em 2011, 220,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões).
54
Figura 2 – Organizações não governamentais e institutos de pesquisa públicos ligados à vacinação e sua distribuição pelo globo – 2013. Fonte: Georreferenciamento de organizações não governamentais e institutos de pesquisa públicos a partir de endereços (mar. 2013). Base cartográfica: Disponibilizada por Natural Earth Data, ver. 2.0.0 Elaboração e organização das informações: Mait Bertollo. Elaboração cartográfica: Rodolfo Finatti.
A Figura 2 dá muitas pistas para investigação e levanta igualmente
muitos questionamentos, mas vamos discutir apenas mais um aspecto diretamente ligado a nossa preocupação: a pequena presença desses organismos não estatais em território brasileiro (como em outros territórios, mas de que não nos ocuparemos neste artigo).
De fato, observamos apenas a localização de suas sedes no Brasil, mas não há muitos pontos de campanha, isto é, acampamentos provisórios para proceder à vacinação, como nos países onde se veem altas concentrações dessas organizações não governamentais. Isso se deve à grande capacidade de capilaridade desenvolvida pelo Estado brasileiro no tocante às políticas públicas de imunização da população, já com um histórico considerável (por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações
55
[PNI], em 1973, e o Programa de Autossuficiência Nacional de Imunobiológicos [PASNI], em 1985), cujo desenvolvimento podemos situar – apesar de um início intermitente e pouco abrangente – desde meados do século XX. Tal capilaridade promotora de fluxos de vacinas a partir do Estado pode ser notada na Figura 3, na qual vemos a distribuição das UBS no território, e na Tabela 1, que mostra uma distribuição de unidades de vacinação ainda maior.
Figura 3 – Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 2013, por município.
56
Região Número
Norte 2.246
Nordeste 12.289
Sudeste 11.134
Sul 4.992
Centro-Oeste 2.523
Total 33.184
Tabela 1 – Brasil: número de centros de saúde e de unidades básica de saúde segundo a região (maio 2013). Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES).
Os dados da Tabela 1 referem-se apenas aos fixos de saúde públicos mais comuns e acessíveis a toda a população para esse fim – centros de saúde e unidades básicas de saúde. Mas, considerando todos os fixos aptos a proceder à vacinação numa campanha emergencial, esse número passará de 33.184 para, no mínimo, 115.996 unidades, já que se contam não só as unidades (hospitais, centros de saúde, UBS, policlínicas etc. e as unidades móveis de vacinação, terrestres e fluviais), mas também a capacidade logística de circulação das vacinas desenvolvida pelo poder público.
Vemos nesse caso, então, que é a criação e expansão da política de imunização do Estado que tem um papel central na grande produção de vacinas, atendida em parte por empresas públicas nacionais – de que se destacam a Biomanguinhos (FIOCRUZ, RJ) e o Instituto Butantã (SP). Apesar disso e da participação de mais algumas instituições públicas, são notáveis as compras anuais (e permanentes) dos grandes laboratórios internacionais, hegemônicos do circuito espacial da produção de vacinas.
Em 2008, tomando em conjunto as campanhas de combate a
57
poliomielite, gripe e rubéola, perfizeram-se 112.440.169 doses (e se poderiam computar ainda as campanhas contra sarampo e as vacinas tríplice, BCG, etc.). Em 2010, além das campanhas anuais, também foram aplicadas 89.580.203 doses para a prevenção do Influenza A H1N1. Sem dúvida, esses números merecem um estudo mais detalhado da ciência social crítica, e, em particular, da geografia, mas não nos cabe estendermo-nos a esse respeito agora. Nosso intento é mostrar como Estados ou ONGs podem participar de modos distintos do alargamento da cooperação capitalista, por exemplo, criando nos territórios uma tal capilaridade da vacinação que as próprias corporações não seriam capazes de produzir e, além disso, garantindo-lhes seus objetivos de lucros ampliados (BONIS, 2013).
E concluímos lembrando o controle que atingiram os fluxos de vacinas pelo território brasileiro, por meio de um tratamento científico de informacionalização das vacinas, isto é, desenvolveu-se um sofisticado aparato técnico-científico que hoje permite saber como foi aplicado cada lote, cada vacina, em cada unidade e se algum município aplicou menos que o previsto, se faltaram ou sobraram doses em determinado ano, para esta ou aquela idade, etc. (SI-PNI, 2013). Tal regulação converge absolutamente com as necessidades da produção, ou seja, é um componente central da cooperação, na medida em que assegura uma demanda firme e previsível e, assim, mantém no planejamento das firmas certas alianças que, de outro modo, se poderiam desfazer de um ano para outro.
Alguns exemplos de círculos de cooperação para o circuito espacial produtivo dos reagentes para diagnóstico
Na produção de reagentes para diagnóstico, vemos com frequência as relações entre o poder público e agentes empresariais na fabricação e no desenvolvimento de novos reagentes, ou no estímulo do Estado ao consumo desses produtos para o “cuidado com a saúde” por meio da criação de “estatísticas do corpo” - elemento fundamental para o combate dos males, tal como os define a medicina moderna. Esses vínculos são tanto materiais como imateriais, envolvendo sobretudo a troca de informações e a pesquisa científica.
Um exemplo desses círculos de cooperação no espaço, nesse setor, é
58
uma pesquisa sobre um novo kit de reagentes. Em 2010, a empresa Lifemed começou a desenvolver um novo aparelho de diagnóstico capaz de detectar até 20 tipos diferentes de doença (HIV, rubéola, sífilis, toxoplasmose, hepatites A, B e C, entre outras). É um dispositivo portátil que, por meio de um disco reagente, aponta a presença de qualquer uma dessas doenças. O desenvolvimento do aparelho e de seu disco reagente vem sendo conduzido por uma parceria entre a Lifemed e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), sendo esta responsável pela “pesquisa e [pelo] desenvolvimento de novas aplicações e dispositivos de diagnóstico. E a Lifemed pesquisará e produzirá todos os equipamentos necessários à utilização da plataforma” (VALVERDE, 2010). Segundo dados mais recentes (SILVEIRA, 2012), outros órgãos de pesquisa passaram a fazer parte do projeto, dentre eles o Instituto Carlos Chagas (ICC), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraná (UNCTPR), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), a agência Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). Assim, a pesquisa e o desenvolvimento desse novo insumo de saúde implicaram importantes cooperações entre diversos agentes – algumas instituições públicas e uma empresa privada.
E esse não é um caso isolado. Outros projetos análogos envolvem agentes públicos e privados, como a pesquisa para o desenvolvimento do kit de reagentes de diagnóstico para a detecção de hipertensão, que agregou instituições públicas de pesquisa e instituições privadas (VASCONCELOS, 2011). Esse reagente foi desenvolvido pela empresa brasileira Proteobras em parceria com o grupo alemão K&A, que figura entre os maiores produtores mundiais de insumos médicos. A pesquisa contou ainda com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da FINEP, e também com uma parceria juntamente à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tanto para desenvolver quanto para produzir o novo reagente para diagnóstico.
Também se pode questionar a natureza dos círculos de cooperação da saúde por outros tipos de estímulo que partem do Estado no fomento à produção de insumos, como a política administrativa da esfera governamental federal, cuja população de funcionários é significativa.
Recentemente a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) começou a implementar uma
59
política que beneficiará um conjunto grande de empresas da área de diagnósticos: trata-se de um programa de prevenção de doenças (Desenvolvimento do Sistema Integrado Atenção a Saúde do Servidor Público Federal – SIASS) que deve atingir cerca de 550 mil servidores. O sistema prevê a realização de exames diagnósticos preventivos em que o servidor é orientado a fazer um exame específico (segundo critérios médicos) e se dirige a um laboratório previamente acordado com o Estado.
Isso acarretará não só um alto volume de exames laboratoriais, mas também um movimento significativo para a produção dos reagentes para diagnóstico. Assim, trata-se de um circuito espacial produtivo da maior importância na saúde contemporânea, comandado por poucas empresas no país, notadamente a Dasa e os laboratórios Fleury (ALMEIDA, 2013).
As instituições públicas também desenvolvem seus insumos de saúde com vínculos de cooperação entre diversos agentes de saúde e da pesquisa científica. Por meio de sua unidade em Manguinhos (RJ), a FIOCRUZ tornou-se a maior produtora pública nacional de reagentes para diagnóstico, contando, só em 2012, com o apoio de mais de 63 órgãos municipais e estaduais, 31 instituições federais, 59 órgãos internacionais, 50 empresas privadas e, finalmente, 30 universidades, fundações e instituições de pesquisa, dentro e fora do país (FIOTEC, 2013).
Enfim, o que podemos inferir desses exemplos de círculos de cooperação no espaço, que se formam em torno do circuito espacial produtivo dos reagentes para diagnóstico, é que são ações dos mais variados tipos, oriundas do Estado e também de organizações empresariais que podem estabelecer novas alianças no setor produtivo ou fortalecer laços entre agentes produtivos com objetivos comuns de atenção à demanda.
Nos dois casos apresentados – os circuitos espaciais da vacina e os reagentes para diagnóstico – a produção é fomentada por ações organizacionais que põem em contrato diferentes empresas de um setor produtivo. Tais fomentos, que aproximam agentes produtivos para atender à demanda de consumo em escala (ou não necessariamente), poderemos chamá-los de círculos de cooperação no espaço?
Considerações finais
60
Os circuitos espaciais de produção são elementos de um processo de expansão e homogeneização de sistemas técnicos que se dispersaram em várias regiões do planeta à medida que o sistema capitalista se internacionalizou, e mais intensamente desde o início da globalização.
“A independência das técnicas em face do meio e a mundialização do modelo técnico fazem da técnica um verdadeiro universal concreto instrumento de crescente solidariedade entre momentos e lugares” (SANTOS, 1988a, p. 33). Assim, à medida que os sistemas técnicos se foram difundindo por todos os continentes, processo de uma relativa homogeneização dos meios cujo instrumento mais forte é a cooperação capitalista – entre diferentes empresas em busca de lucros crescentes –, foram ao mesmo tempo produzindo, por isso mesmo, uma planetarização do espaço geográfico (ISNARD, 1982). Nesse cenário atuam as instituições do direito internacional, as empresas transnacionais e os grandes organismos não governamentais, “que existem graças à expansão mundial dos meios de transporte e de comunicação” (SANTOS, 1988a, p. 33).
Não basta a expansão sistemática da técnica para que se estabeleça a cooperação entre os diversos agentes. É preciso a coerência organizacional e orgânica dos lugares e das regiões. O fato da homogeneidade técnica não pode ser interpretado como um imã que atrai inexoravelmente agentes produtivos de diferentes regiões e países para a realização conjunta do produto. Ao contrário, os círculos de cooperação frequentemente rompem conflitos e batalhas para alocar agentes competidores numa mesma produção.
Assim, as noções de solidariedade e cooperação servem para aprofundarmos o entendimento e o emprego dos conceitos de circuitos espaciais produtivos e círculos de cooperação no espaço propostos por Milton Santos (1985, p. 64), segundo quem “cada ponto do espaço é solidário aos demais”. No entanto, é preciso distinguir essa verdade daquela da união contratual das empresas e também da linha de produção, isto é, da dos trabalhadores.
Essa cooperação estrita se tem caracterizado por ser o modus operandi da construção dos novos edifícios regionais que rapidamente vêm se estruturando em todo o planeta. E o complexo industrial da saúde nos mostra como se formam certas especializações regionais que passam a se integrar em rede. Essa formação técnica e organizacional é, em grande
61
parte, fruto da ação dos círculos de cooperação no espaço, pois acabam rompendo as coesões meramente regionais e transformam os circuitos econômicos regionais em circuitos espaciais de produção.
O COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO BRASIL: UMA ABORDAGEM A PARTIR DOS CONCEITOS DE CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO E CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO NO ESPAÇO Resumo: O conceito de complexo industrial da saúde, proposto por Carlos G. Gadelha (2003; 2006) para designar as produções destinadas a fornecer insumos médico-hospitalares no território brasileiro, funda-se basicamente na constatação de diferentes cadeias produtivas que compõem dois grandes setores industriais especializados: as indústrias de base química/biotecnologias e as indústrias de base mecânica, eletrônica e de materiais; e, ainda, a relação destes com as necessidades materiais dos serviços de saúde (hospitais, unidades básicas de saúde, prontos-socorros, etc.). No presente artigo, discute-se esse complexo a partir dos circuitos espaciais produtivos e de seus correspondentes círculos de cooperação no espaço, tal como propõe M. Santos (1985; 1988a; 2005), posto que esses conceitos levam em conta a totalidade do espaço geográfico e revelam as articulações do complexo industrial da saúde não só com a economia, mas também com a política, o direito e a cultura; não se restringindo às relações entre as empresas implicadas estritamente na cooperação capitalista, foco privilegiado pelas análises que partem do conceito de cadeia produtiva. Palavras-chave: circuito espacial produtivo, círculos de cooperação no espaço, complexo industrial da saúde.
HEALTH INDUSTRIAL COMPLEX IN BRAZIL: AN APPROACH THROUGH THE CONCEPTS OF SPATIAL PRODUCTIVE CIRCUIT AND CIRCLES OF SPACE COOPERATION Abstract: The concept of health industrial complex, proposed by Carlos G. Gadelha (2003; 2006) to denominate productions meant to provide medical and hospital supplies on Brazilian territory, is basically founded
62
on the verification of distinct productive chains that compose two great specialized industry sectors: chemical/biotechnology-based industries and mechanical, electronic and material-based industries, and, furthermore, their relationship with material needs of the health services (hospitals, basic health units, emergency rooms etc.). In this article, this complex is discussed from spatial productive circuits and their correspondent circles of space cooperation, as proposed by M. Santos (1985; 1988a; 2005), seen as these concepts take into account the totality of the geographical space and reveal the articulation of the health industrial complex not only to the economy, but also politics, law and culture, not restricted to the relationships between companies strictly implicated on capitalist cooperation, focus privileged by the analysis that arise from the concept of productive chain. Keywords: spatial productive circuit, circles of space cooperation, health industrial complex
Bibliografia
ABIMO. Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios. Disponível em: <www.abimo.org>. Acessado em: 22 ago. 2013. AHESP. Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Principais objetivos. (2011) Disponível em: <http://www.ahesp.com.br/objetivos.html>. Acessado em: 2 jan. 2013. ALMEIDA, R. S. (2013) Círculos de cooperação no espaço dos reagentes para diagnóstico. In: XIV ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMÉRICA LATINA – EGAL. Anais Reencuentro de los saberes territoriales Latinoamericanos. Lima. ANTAS JR., R. M. (2005) Território e regulação: espaço geográfico, fonte material e não formal do direito. São Paulo: Humanitas. __________. (2011) Circuitos espaciais produtivos da saúde, serviços médico-hospitalares e transformações da urbanização no território paulista. Goiânia, Anais da ENANPEGE. __________; ALMEIDA, E. P. (2011) Os serviços de saúde no estado de São Paulo: seletividades geográficas e fragmentação territorial. In: MOTA, A; MARINHO, S. M. C. G. Práticas médicas e de saúde nos municípios
63
paulistas: a história e suas interfaces. São Paulo: USP Faculdade de Medicina CD. G Casa de Soluções e Editora, p. 281-295. BERTOLLO, M. (2012) O circuito espacial produtivo da vacina no Brasil: a ocorrência da pandemia Influenza A e a dispersão da vacina H1N1 no território. Boletim Campineiro de Geografia, Campinas, v. 2, n. 2, p. 341-356. BICUDO JR., E. C. (2006) O circuito superior marginal: produção de medicamentos e o território brasileiro. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. BNDES. Banco Nacional do Desenvolvimento. (2007) BNDES assina termo de cooperação para criação do Complexo Industrial da Saúde. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2007/20071205_not274_07.html> Acessado em: 10 jun. 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. (2005) Plano de preparação brasileiro para o enfrentamento de uma pandemia de influenza. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília, Secretaria de Vigilância em Saúde. BONIS, G. (2013) Preço das vacinas aumentou 2700% na última década. Carta Capital On-line. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/precos-das-vacinas-aumentou-2700-na-ultima-decada-3994.html>. Acessado em: 30 jul. 2013. CASTILLO, R. A.; FREDERICO, S. (2010) Espaço geográfico, produção e movimento: uma reflexão sobre o conceito de circuito espacial produtivo. Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 22, n. 3, p. 461-474. CASTILLO, R. A. (2011) Agricultura globalizada e logística nos cerrados brasileiros. In: SILVEIRA, Márcio Rogério (org.). Circulação, transportes e território: diferentes perspectivas. São Paulo: Expressão Popular, p. 331-354. CASTILLO, R. A. (2008) Sustentabilidade, globalização e desenvolvimento. In: OLIVEIRA, M. P. (org.). O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas. Rio de Janeiro: ANPEGE/CLACSO/FAPERJ/Lamparina, p. 401-410. CASTILLO, R. A. (2003) Tecnologias da informação e organização do território: monitoramento e fluidez. In: SOUZA, Maria Adélia Aparecida (org.). Território brasileiro: usos e abusos. Campinas: Territorial, p. 41-53.
64
CMB. Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. (2011) Relatório das Atividades e Demonstrações Contábeis de Exercício Social. Brasília. Disponível em: <http://www.cmb.org.br/documentos/balanco_social_2011.pdf>. Acessado em: 14 jan. 2013. CORDEIRO, H. (1980) A indústria da saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Graal. CORDEIRO, H. (1984) Empresas médicas. Rio de Janeiro: Graal. DAVID, V. C. (2010) Território usado e circuito superior marginal: equipamentos médico-hospitalares em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (SP). Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. DONALÍSIO, M. R. (2005) Influenza aviária: questões centrais. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 7-19. DUPUY, J. P.; KARSENTY, S. (1980) A invasão farmacêutica. Rio de Janeiro: Graal. FARIA, J. E. (1999) Direito e globalização econômica. São Paulo: Malheiros. FIESP. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. (2009) Análise setorial de mercado: setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. São Paulo. Disponível em: <http://fipase.com.br/pt/images/stories/Publicacoes/analise_setorial.pdf>. Acessado em: 25 jan. 2013. FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. (2013) Combate à meningite: atuação da Fiocruz na África é destaque na Science. Disponível em: <http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/combate-à-meningite-atuação-da-fiocruz-na-áfrica-é-destaque-na-science>. Acessado em: 22 mar. 2013. FIOTEC. Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. Parceiros. Disponível em: <http://www.fiotec.fiocruz.br/institucional/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=129&lang=pt>. Acessado em: 15 jan. 2013. GADELHA, C. A. G. (2003) O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico na economia da saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 521-535. GADELHA, C. A. G. (2006) Desenvolvimento, complexo industrial da
65
saúde e política industrial. Saúde Pública, São Paulo, v. 40, número especial. HOMMA, A.; MARTINS, R. M.; LEAL, M. L. F.; FREIRE, M. S.; COUTO, A. R. (2011) Atualização em vacinas, imunizações e inovação tecnológica. Ciência & Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2. Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1413-81232011000200008&script=sci_arttext>. Acessado em: 22 ago. 2013. HORST, M. M. L. L.; SOLER, O. (2010) Fundo estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde: mecanismo facilitador para melhorar o acesso aos medicamentos. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 27, n. 1, p. 43-48. ILLICH, I. (1984). Némesis médica: la expropiación de la salud. Cidade do México, Joaquín Mortis/Planeta. ISNARD, H. (1982) O espaço geográfico. Coimbra: Almedina. MARX, K. (2008) O capital: crítica da economia política, livro terceiro: o processo global de produção capitalista, v. IV. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. MÉDECINS SANS FRONTIÈRES. (2011) Rapport financier comptes 2011. Paris: Fondation Médecins Sans Frontières. Disponível em: <http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/00.rapport_fin2011.pdf>. Acessado em: 22 ago. 2013. MORAES, A. C. R. (1985) Os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação no espaço. São Paulo: Departamento de Geografia FFLCH-USP. (Mimeo) OPAS/OMS. Organização Pan-americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde. (2005) Plan de contingencia para hacer frente a una pandemia de influenza. 137a Sesión del Comité Ejecutivo. Washington, DC. PERROUX, F. (1975) O conceito de polo produtivo. In: FAISSOL, S. Urbanização e regionalização. Rio de Janeiro: IBGE, p. 98-110. PIERONI, J. P.; REIS, C.; SOUZA, J. O. B. (2010) A indústria de equipamentos e materiais médicos, hospitalares e odontológicos: uma proposta de atuação do BNDES. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3105.pdf>. Acessado em: 2 jan. 2013. SANTOS, B. S. (1979) O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade
66
de Coimbra, p. 227-341. Número especial em homenagem ao Prof. Dr. J. J. Teixeira Ribeiro. ________. (1978) Por uma geografia nova. São Paulo: Hucitec. ________. (1996) A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec. ________. (2000) Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Nobel. ________. (1985) Espaço e método. São Paulo: Nobel. ________. (1988a) Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Nobel. ________. (1988b) O meio técnico-científico e urbanização no Brasil. Espaço & Debates, São Paulo, n. 25, p. 58-62. ________. (1979) Espaço e sociedade. Petrópolis: Vozes. ________. (1994) Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico e informacional. São Paulo: Hucitec. ________. (1997) Da política dos Estados à política das empresas. Cadernos da Escola do Legislativo, São Paulo. ________; SILVEIRA, M. L. (2005) O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 7. ed. Rio de Janeiro: Record. SILVA, A. M. B. (2001) A contemporaneidade de São Paulo: produção de informações e novo uso do território brasileiro. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. SILVA, A. M. B. (2010) A cidade de São Paulo e os círculos de informações. Ciência Geográfica, n. XIV, p. 24-30. SILVEIRA, E. (2012) Diagnóstico fácil. Pesquisa FAPESP, São Paulo, n. 192, p. 62-65. SILVEIRA, M. L. (2010) Região e globalização: pensando um esquema de análise. Redes, Santa Cruz do Sul, v. 15, n. 1, p. 74-88. SI-PNI. Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. (2013) Controle de Arquivo 2011 (SI-API). Disponível em: <http://pni.datasus.gov.br/arq_env_api.asp?AnoControle=2011>. Acessado em: 6 ago. 2013. VALVERDE, R. (2010) Seminário anuncia duas parcerias inovadoras em produtos para diagnóstico. FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: <www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start. htm?infoid=3684&sid=9>. Acessado em: 15 jan. 2013.
67
VASCONCELOS, Y. (2011) Reagentes da Saúde. Pesquisa FAPESP, São Paulo, n. 189, p. 78-81. VIANNA, C. M. M. (1993) Complexo médico-industrial: notas metodológicas. Rio de Janeiro: IMS/UERJ. (Série Estudos em Saúde Coletiva, 55.) WOLKMER, A. C. (2001) Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura do Direito. 3. ed. São Paulo: Alfa Ômega. Data de submissão: 27/08/2013
Data de aprovação: 30/08/2014