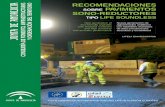O combate da doença do sono a partir do Boletim Geral das Colónias (1925-1942)
Transcript of O combate da doença do sono a partir do Boletim Geral das Colónias (1925-1942)
Para referências, citar: FERNANDES, Alexandre. O combate da doença do sono a partir do Boletim Geral das
Colónias (1925-1942). Artigo Final apresentado para a disciplina “Antropologia da Ciência”, ministrada pelo professor Guilherme José da Silva Sá no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília (PPGAS/UnB). Mimeo: 1º semestre de 2012.
O combate da doença do sono a partir do Boletim Geral das Colónias
(1925-1942)
Alexandre J. de M. Fernandes
0. Prólogo
Esse ensaio se trata de um investimento exploratório, sem qualquer
pretensão de fazer confirmações contundentes sobre o que significava a doença do
sono. No mesmo sentido, trata-se de um investimento de conectar uma bibliografia
estudada a uma leitura de textos do período colonial do III império português.
1. Introdução
Portugal foi um estado nacional que desenvolveu atividades coloniais por um
longo período, tendo iniciado sua trajetória como império com as grandes navegações
no século XV. O colonialismo, aqui entendido inicialmente como uma série de ações
realizadas pelo estado português para se relacionar e dominar territórios ultramarinos,
terminou em meados dos anos 1970, quando tal projeto de estado foi oficialmente
extinto1. Durante esse longo período, diversas ações são tributáveis à agência colonial
portuguesa, como o desenvolvimento de projetos urbanísticos, educacionais, de saúde
e econômicos nas colônias.
Junto a esta série de atividades, o colonialismo português constituiu uma
expertise sobre como administrar as colônias. A antropologia portuguesa, por
exemplo, durante este período relacionava-se ao império (THOMAZ, 2001), na medida
em que a compreensão sobre os “usos e costumes” das populações nativas servia para
1 As causas para o fim do império português são múltiplas, desde um contexto anticolonial no novo
cenário mundial, assim como a ocorrência de diversas rebeliões das populações nativas. Une-se a isto a falência do modelo do estado novo, culminando com o surgimento de um movimento popular chamado “A revolução dos Cravos”, que depôs os chefes de estado e instituiu uma nova ordem constitucional naquele país.
2
permitir modos de inserção do estado junto às populações nativas das colônias. A
arquitetura e urbanismo, a biologia, economia e engenharias, além de uma série de
outras disciplinas, tiveram seus papéis no império português, surgindo um
conhecimento para fins desse projeto de conquista.
A medicina também se envolveu no colonialismo. Algo que marca tal interesse
de produção de conhecimento para a colonização é a fundação, no início do século XX,
de um Instituto de Medicina Tropical em Lisboa, instituição que continua em atividade
até os dias atuais. Percebe-se que um conjunto de saberes foi desenvolvido no
contexto colonial para tratamento da saúde de pessoas que não viviam no território
europeu de Portugal.
Neste ensaio, pretendo compreender uma das diversas expertises da
medicina tropical feita por Portugal: as que se envolviam sobre a “doença do sono”,
uma enfermidade que atingia as populações dos países da África subsaariana, região
do continente que continha a maioria das colônias portuguesas (Guiné Bissau, Angola,
Moçambique e São Tomé e Príncipe). Inspirado pela questão de Evans-Pritchard
(2002), que apresentava a relação entre as crenças e os rituais dos azande em relação
à bruxaria, uma das questões que motiva tal descrição é tentar compreender como a
doença do sono era definida e como isto se relaciona aos meios de combate à doença
do sono.
Como eram os saberes formados pelo estado português sobre a doença do
sono? Quais são os conhecimentos produzidos sobre tal enfermidade? Como esse
conhecimento se relacionava com as formas de combate? Quais os sentidos morais
dados a esses saberes? Como esses saberes/tecnologias se vinculam aos projetos
coloniais, tentando discorrer sobre o que significavam os saberes da doença do sono
para o projeto colonial português naquele período?
Como meio de produção dos dados, analiso essa expertise a partir de uma
série de arquivos que registraram tais saberes coloniais: o “Boletim Geral das Colónias”
(doravante BGC), um periódico mensal do estado português editado entre os anos de
1925 a 1970, cujo objetivo, em suas próprias palavras, era mostrar a “acção e o valor
como povo colonizador” (BGC, 1925, nº 5, p. 7). A partir dos primeiros duzentos
volumes do periódico (1925-1942), em que o assunto da doença do sono é tratado
diretamente em trinta e sete reportagens, pretendo mostrar o conhecimento que se
3
tinha sobre a doença do sono, as formas de combate e o que significava a doença do
sono para o projeto colonial português.
Releva-se, entretanto, que o material analisado não foi produzido para
cientistas e médicos. Tais textos possuíam uma circulação para os mais diversos
leitores, visto que o Boletim Geral das Colónias se propusera, em certo sentido, à
divulgação de reportagens do empreendimento colonial2 em todas as suas dimensões.
Desse modo, a análise deste ensaio compreende tais textos não como um
conhecimento adstrito a uma comunidade científica, mas algo que tem alcance para
pessoas leigas em medicina.
2. Constituindo a doença do sono
Partindo inicialmente de uma discussao fundante, inicio uma reflexão sobre
como os textos apresentados construiram “a doença do sono”. Em termos gerais, a
doença do sono era caracterizada por uma coletividade de noções. Numa primeira
aproximação, a doença do sono era compreendida como um fenômeno em que certas
pessoas desenvolviam uma série de sintomas. Tal doença era ocasionada por um
parasita, que entrava no doente por meio de uma mosca.
os textos do BGC constituiram causalidades entre a doença do sono e a
agência de dois não-humanos. O primeiro agente é o “tripanossoma” (BGC, 1926, nº
5), ser microscópico que entra no corpo e produz uma série de sintomas num corpo
sadio. O segundo agente é o “tsé-tsé”, um inseto que transmite o tripanossoma, tendo
duas variações: a glossina palvalis e a glossina morsitans. A figura abaixo (BGG, nº 5)
mostra as representações do tsé-tsé feita a época:
2 MARRONI (2009) apresenta quem foram os principais assinantes dos Boletins Gerais das Colónias,
mostrando que havia uma diversidade de pessoas e instituições com diferentes feições disciplinares. Deste modo, isto confirma o caráter de não ter especialidade
4
A identificação do tsé-tsé (ou glossina) e do tripanossoma como os agentes da doença
do sono confirma-se em diversos textos, como, por exemplo, nas razões dadas quanto
à ineficácia do combate à doença em uma província na Angola (BGC, nº 24).
Doença nova na raça humana, passou como um incêndio devastador nas regiões onde existia a glossina, desgraçadamente na época em que a Medicina desconhecia o seu agente, o tripanosoma, e o seu transmissor, o tsé-tsé. (BGC, nº 24, p. 144)
Na compreensão sobre a doença do sono, a mosca tsé-tsé era o meio de
transmissão dos tripanossoma, pois, por realizar picadas, contaminava as pessoas e os
animais com o parasita. A picada da mosca era um momento importante para a
doença do sono, algo que se encontra recorrentemente nos textos lidos. Um texto se
mostrou contundente na afirmação do evento “picada da mosca” como o início da
doença, ao justificar a ocorrência maior de negros infectados do que brancos porque
esses, ao usarem vestimentas, teriam menos exposição às picadas. Falando sobre a
ineficácia de algumas medidas profiláticas, um autor afirma:
Os esforços empregados no combate das tripanosomíases têm muitas vezes sidos improfícuos por causa das grandes dificuldades naturais inerentes às regiões invadidas e pelo facto de se lidar com indígenas ignorantes e nus, e que estão por esta circunstância muito mais expostos às picadas dos insectos propagadores (BGC, nº 24, p. 73)
A doença do sono também é compreendida pelos sintomas e transtornos que
os portadores do tripanossomas desenvolviam. Um médico, falando sobre como
identificava um paciente, indicava quais eram os sintomas: “(...) graves lesões do
cérebro: tremores generalizados, paralisias, convulsões, fisionomia parada e idiota,
loucura, ambliopia e cegueira” (BGC, n° 98-99, p. 105). Em outro texto, um indivíduo
foi diagnosticado com doença do sono por estar com alguns sintomas característicos
que seriam característicos da doença: “febre remitente, cafalalgia, insônia e uma
5
mancha circular, vermelha, eritematosa, na perna, sem dores nem edema”(BGC, nº 11,
p. 60).
Além da picada e dos agentes, outra dimensão que constituía a doença do
sono era a sua localização geográfica. O local da doença era vinculado às áreas onde
existiam as moscas, já que a “tsé-tsé” era o principal meio de transmissão da doença.
Por ser compreendido que a reprodução das moscas acontecia na água, os locais onde
havia maior risco de contágio da doença eram áreas próximas aos rios. Tentando
apresentar as regiões de Angola onde havia focos de doença, um texto fez uma
representação do espaço geográfico em que se dava destaque aos rios em detrimento
de outros aspectos, como, por exemplo, o relevo, umidade e contigente populacionl
(BGC, nº 8, p. 93):
Assim, observa-se que a doença do sono é constituída por um conjunto de
noções. Inicialmente é tida como um estado da pessoa em que desenvolve sintomas
dolorosos, em que o principal causador é um não humano, o tripanossoma, às vezes
6
também classificado como um “vírus”3. O tripanossoma, por sua vez, tem um agente
transmissor: a mosca tsé-tsé. Esse inseto, por se reproduzir em áreas próximas a rios,
relacionava às regiões marginais do rio aos locais em que a doença é endêmica.
3. Combate à doença do sono
A caracterização da doença do sono por essas dimensões faz com que as
ações empregadas nas colônias para o combate à doença do sono sejam articuladas a
tais concepções sobre a doença. Um primeiro exemplo é o relacionamento da doença
com áreas próximas a águas. Em referência a experiências britânicas, mostra-se que a
evacuação de áreas próximas a água era um meio para erradicar a doença do sono de
uma determinada região: “A luta contra a doença do sono foi feita especialmente
evacuando tôda a população que habitava as ilhas de Sesse do Lago Vitória” (BGC,
1926, nº 5). Em outra situação, tal conhecimento tem efeitos na produção de normas
pelo governo colonial da Angola, que criou um regulamento publicado em 1912,
proibindo a pesca em determinados horários (BGC, nº 20, p. 201).
Como eram identificadas algumas localidades da doença do sono, foram
propostos meios para que o inseto não se espalhasse em outras áreas. Um médico do
Guiné Bissau afirmou que a doença do sono não atingia essa colônia e que, para que
assim continuasse, deveria haver fiscalização das áreas de contato:
“Temos, portanto, de organizar a defesa e a profilaxia desta colônia, especialmente dirigida no sentido de nos proteger contra as infecções exógenas vindas da África Equatorial (...) tenho como proposta o exame obrigatório, clínico e laboratorial de todo o imigrante vindo das regiões infectadas” (BGC, nº 11, p. 64).
Em conferência realizada no Zobué no ano de 1940, foi sugerido para os
emigrantes e imigrantes “não cruzarem extensas zonas infectadas e infestadas” (BGC,
nº 200, p. 149), assim como que os indígenas de áreas infectadas “fossem
transportados em veículos automóveis e munidos de passaportes sanitários quando
proviessem de áreas infectadas, sendo impedidos de circular por essas zonas os
indígenas portadores da doença do sono” (BGC, nº 200, p. 149).
3 A categoria de “vírus” se distancia bastante da minha compreensão. Hoje em dia, o tripanossoma não
seria classificado como “vírus”, mas como “protozoário”.
7
O vetor do tripanossoma, a mosca “tsé-tsé”, é combatido diretamente, sendo
proposta a extinção deste inseto por ser o meio de contaminação da doença. Em
outros casos, foi sugerida a destruição dos habitats da mosca tsé-tsé:
“(...) Convém derrubar, tanto quanto possível, os mássicos de verdura – bosques e moitas onde a tsé-tsé procria, e destruir as glossinas por todos os processos ao nosso alcance e os animais selvagens considerados armazéns de vírus” (BGC, nº36, p. 202).
Outro caso que mostra o combate à doença do sono por meio do
impedimento à reprodução da mosca é o que foi realizado em Moçambique, em que
se jogava petróleo nos rios:
Em Moçambique – dizem informações agora chegadas – essa acção atinge grau digno de registro. A estação anti-malária de Lourenço Marques desenvolveu uma actividade importante e benéfica. Exerceu vigilância, persistente sobre os locais pantanosos, com o objectivo de obstar ao desenvolvimento do insecto, lançando nos locais, duas vezes por mês, grandes quantidades de petróle, cuja acção evita a evolução da larva do mosquito, que, como é sabido, demora quinze dias (BGC, nº 196, p. 86)
Além da destruição dos habitats e impedimentos da reprodução, o combate à
tsé-tsé foi feito pela implementação de uma espécie de planta, a milinitis minutiflora,
pois essa teria uma ação prejudicial sobre o inseto:
“uma gramínea que ultimamente acusa resultados animadores na luta contra as glossinas (...) tem a propriedades de afugente a tsé-tsé, já pelo aroma, já como apanha moscas pelos suco viscoso que exsuda das folhas, aprisionando estes insectos” (BGC, nº 7, p. 206)
Como era compreendido que a transmissão da doença se fazia por meio de
picada, surgiram outros meios para impedir que seres humanos fossem contaminados
com a doença. Em Angola, foi obrigado o uso de redes de arame nas janelas do edifício
para impedir a entrada do mosquito (BGC, nº 20, p 201). Outra tecnologia surgida era
o chamado “óleo bamber”, um composto feito com “óleo de limão 1 ½ partes Kerosina
1 parte, óleo de coco 2 partes. Acrescente-se-lhe 1% de ácido carbólico” (BGC, nº 34,
p. 191). Um dos usuários relata a eficácia deste óleo:
“(...) a loção exercia um curioso efeito sobre a mosca. Pousava, por exemplo, durante um momento na mão, mas não picava e chegamos a esquecer sua presença. Não sei se a loção é igualmente eficaz contra todas as glossinas. Será o então preciso obterem-se informações precisas a tal respeito (idem, p. 132)
Além das medidas que tentavam impedir a contaminação, o combate à
doença também foi pensado por meio de remédios, em que se combatia os
tripanossomas no corpo. É sugerido o tratamento dos doentes por meio de inserção de
8
substâncias que destruíssem os tripanossomas. São exemplos das substâncias: “(...) o
atoxil e seus derivados, pelo tártaro emético e mais recentemente pelo 205 bayer, a
cura da doença nas suas fases iniciais” (BGC, nº 5, p. 73). Em outro texto, era buscado
“esterilizar os indivíduos” que tivessem a doença por meio de tratamentos como
injeções de atoxil (...) consistindo o tratamento em dar seis injecções de doses mássicas de atoxil, com dez ou quinze dias de intervalos, reforçadas com uma injecção intra-venosa de emético dada na semana intercalar, por proposta do Instituto Pasteur de Brazaville (BGC, nº 5, p. 235)
Além de atoxil e os outros anteriormente citados, foi sugerido o combate por meio de
outros compostos:
“As substâncias químicas, às quais até a data se tem podido recorrer, são bastante reduzidas. Pertencem a quatro grupos distintos: 1 – os sais arsenicais, 2- os compostos de antimônio – 3º as matérias colorantes – 4º - os produtos tais como o B 205, 0 B309, isso é, a Germanina” (BGC, nº 22, p. 147-148)
Dessa maneira, percebe-se, em parte, que o conhecimento produzido sobre a
doença do sono constituiu as tecnologias de combate à doença do sono, visto que tal
conhecimento dá inventividade a uma gama de instrumentos tecnológicos. São leis,
remédios, venenos, óleos, regulamentos, passaportes, remanejamento de plantas e
outras práticas que se desdobram em meios de impedir com que dois agentes, a
mosca e o tripanossoma, atinjam às populações das colônias.
Assim como Evans-Pritchard compreendia que os oráculos, a bruxa e a magia
na sociedade Zande eram “os três lados de um triângulo” (2002, p. 186), é possível
vincular as técnicas de combate à doença do sono e o seu conhecimento como faces
de uma mesma moeda, visto que ambas são determinantes e determinadas. Isso
remete a uma concepção de “tecnociência”, já que, no contexto da doença do sono, a
produção de conhecimento envolve-se com a produção de tecnologia.
4. Uma ciência normal
O conhecimento sobre a doença do sono era apresentado como algo
acumulado, em que certos cientistas identificaram causalidades entre os parasitas, as
moscas e a enfermidade:
“Pela mesma época (1901-1903), Forde e Dutton descobriram e classificavam o parasita no sangue de um preto; Castelani encontrava o tripanosoma no líquido céfalo raquidiano dos doentes do sono; Bruce estabelecia definitivamente a relação de causa para efeito entre a existência de tripanosoma no sangue a moléstia do sono e Brumpt aventava a
9
idéia da transmissão pela glossina, logo confirmada por muitos observadores” (BGC, nº 20, p. 201)
Pode-se afirmar que estas noções seriam como um paradigma (KUHN, 2007),
já que, a partir dessas concepções mais matizadas, eram compostos os novos
conhecimentos. Decorrendo desse paradigma, o conhecimento da doença do sono
encontrava-se com uma série de questões. Não esgotadas, elas ainda estavam para ser
respondidas, ou seja, o conhecimento da doença do sono não era apenas aplicado,
mas também (re)produzido. Em relato sobre a conferência da doença do sono
realizada em Londres em maio de 1925, o delegado português da conferência
apresenta, a partir dos saberes mais consensuais, quais são as principais questões para
a produção de saberes sobre a doença do sono. Em relação ao tripanosoma, o
conferencista sugeriu como um dos objetivos buscar a “existência de uma imunidade
humana para as tripanosomiases, sua natureza e os factores que a determinam” (BGC,
nº 5, p. 79). Além de descobrir formas de resistência, era proposto que fossem
compostas novas substâncias que tivessem um efeito de acabar com a ação do
tripanossomo (idem). Outra questão era saber sobre os agentes transmissores
(glossinas), como “as relações entre o T. gambiense e T. rodesiense” e a “prova das
precipitinas aplicadas ao sangue contido no canal alimentar das moscas tse-tse”. Além
disso, como a doença também infectava animais, uma das questões era saber o “papel
dos animais selvagens e domésticos como reservatório do vírus” (idem, p.79).
O desenvolvimento pelo estado português dessa “ciência normal” tem um
número considerável de relatos no Boletim Geral das Colónias. Por vincularem a
doença aos microorganismos tripanossoma, é relatado que um grupo de cientistas e
médicos foi em busca de populações que, em contato com as moscas tsé-tsé,
conseguiram sobreviver, para identificar o que fazia com que elas resistissem a doença
do sono:
“Em regiões onde não pôde chegar a assistência médica, e onde a moléstia do sono produziu vítimas sem conta, está nascendo uma população numerosa e robusta, o que significa que os geradores estão imunizados” (BGC, nº 24, p. 114).
Nos tratamentos das pessoas infectadas, havia como questionamento saber
quais as melhores substâncias para o combate da doença, já que muitas produziam
alguns efeitos colaterais:
10
“Os nossos cientistas ocupam-se atualmente, em Angola, da escolha das substâncias indiciadas para o tratamento específico da tripanosomiase em cada um dos seus períodos, a fim de conhecerem os seus valores e a oportunidade de aplicação. (...) há muito a riparsamida, experimenta, na Guiné, os resultados da tipanarsyl. Experiências doutra natureza inclinam-se para o emprego da germanina na veterinária dos países tropicais contaminados pela doença dos sono” (BGC, nº 84, p. 163).
Apesar de já ter algumas substâncias para remediar os doentes, procurava-se
desenvolver novas substâncias. Alguns medicamentos usados no combate do
tripanossoma nos doentes eram vistos como inadequados, já que possuíam alguns
efeitos colaterais. Em referência às substâncias triparsamida e atoxil, havia dúvidas se
elas causavam perturbações na visão dos enfermos. Um médico4 que defendia o uso
dessas substâncias afirmava que a cegueira não era causada pelo uso dessas
substâncias, mas era um sintoma da doença:
“Se a cegueira, nos doentes do sono, fosse devida a acção directa dos compostos arsenicais, ou à libertação em massa dos tóxicos dos tripanosomas pela injecções dessas drogas, a injecção intracarotidiana de triparsamida só poderia agravá-la (...) Pois bem. Em uma dezena de casos, a cegueira total ou quási total desapareceu a seguir a uma, duas, ou três injecções intracarotidianas de triparsamida” (BGC, nº 98-99, p. 107)
Há também relatos de cientistas que estavam desenvolvendo novas substâncias para o
combate da doença de acordo com o período de desenvolvimento da doença (BGC, nº
84, p. 163).
Em uma tônica comum, criar conhecimentos sobre “distribuição geográfica da
moléstia do sono” (BGC, 1926, nº 5) permitiria a informação de locais a ser evitada, a
identificação de indivíduos que potencialmente possuíam a doença do sono e que
poderiam levar tal doença a outros locais.
Neste sentido, as técnicas de combate empregadas e os conhecimentos
produzidos sobre a doença do sono se vinculam muito à concepção de que o tsé-tsé e
o tripanomossona são os agentes da doença do sono. As descrições do fenômeno da
doença do sono, em geral, salientavam as dimensões do fenômeno tidas como
principais. É exemplo disto o mapa de Angola (figura 2) em que são feitas
representações das áreas de infecção da doença do sono: em vez de apresentar uma
série de símbolos do espaço geográfico, como as florestas e o relevo, há destaque aos
4Além de uma discussão sobre quais remédios utilizar, havia uma busca de compreender quais os
melhores métodos de aplicar tal remédio, se deveria ser por via intracarotidiana ou venal (BGC, nº 98-99, p. 107)
11
rios. Fleck, em estudo sobre a sífilis, já apresentava o quanto as imagens e a ciência
eram “fiéis à doutrina e não a natureza”. Sobre as representações dos órgãos genitais
no século XVI, este autor comenta o quanto os esquemas conceituais são importantes
para a produção de novos conhecimentos:
“A idéia da analogia fundamental entre os órgão genitais masculinos e femininos é concretizada de maneira maravilhosa numa reprodução, como se realmente existisse. Quem entende de anatomia logo percebe a modificação das proporções conforme essa teoria e uma correspondente localização dos órgãos. (FLECK, 2010, p. 76)
Portanto, a produção de conhecimento apresentada nos BGC estava vinculada
a um estilo de pensamento (FLECK, 2011), visto que os novos conhecimentos se
envolviam diretamente com os modos dominantes de compreensão da doença. Em
termos propostos por Thomas Kuhn, estas questões e os modos de formulá-las
refletem um paradigma, um padrão que possui força, sendo a produção de
conhecimento científico desdobramentos do paradigma. O estilo de pensamento tem
um papel importante na produção do novo conhecimento e nessas tecnologias. Antes
de buscar contradições no saber anterior, os cientistas e agentes coloniais tentavam
extrair desse esquema novos conhecimentos, novas técnicas e modos de controle
sobre a doença do sono.
Apesar de parte dos textos presentes no BGC mostrarem que há um
conhecimento a se desenvolver, há também textos que defendem os saberes sobre a
doença do sono como se estes fossem suficientes para o combate da doença do sono.
Tentando responder por que tais saberes não acabavam com a doença do sono, uma
das reportagens justificava os problemas das missões de combate a doença do sono
por questões financeiras e de pessoal, não pela ausência de um conhecimento da
natureza do fenômeno:
“Na opinião do eminente médico (dr. Broden), o tratamento da doença do sono reduz-se a uma questão de dinheiro e de pessoal. Esta última, sobretudo, é importante por causa da necessidade de ir à procura dos doentes, porque um dos obstáculos na luta contra este flagelo é a falta de confiança do indígena e da sua negligência em prosseguir um tratamento de forma regular” (BGC, nº 22, p. 148).
Tal tipo de argumento mostra como muitos dos problemas eram
argumentados como do mundo social, como a falta de dinheiro e o relacionamento
com os indígenas, não se tratando necessariamente de um problema da expertise
sobre a natureza do fenômeno.
12
5. As razões de produção de conhecimento sobre a doença do sono
Nessa segunda parte do texto, pretendo compreender, a partir dos textos
encontrados no Boletim Geral das Colónias, como esses conhecimentos sobre a
doença do sono se relacionavam ao projeto colonial português. Pretendo, com isso,
observar quais as motivações do estado português em desenvolver tal conhecimento.
Essa questão me faz tentar observar como o conhecimento científico e tecnológico era
importante para o projeto colonial português.
De certa maneira, pode-se pensar que produzir conhecimentos e tecnologias
reforçava a idéia de que estas ações de combate a doença como um dever cívico – “a
nossa acção em prol da civilização”(BGC, nº8). Em referência às missões de combate a
doença do sono, é demonstrado como os médicos estavam reforçando o processo
civilizatório ao desenvolver tais saberes:
“Há médicos em Angola que têm ultrapassado os seus deveres de humanidade, vão muito além: tornam-se super-homens, na exaltação do sacrifício; aparecem em toda a parte, onde há dor, ou onde o bem colectivo pareça ser formidável incógnita, no dia de amanha” (BGC, nº 8, p. 95).
Em outro texto, a expertise do combate à doença do sono é tratada como uma atitude
de um apóstolo5, dando sacralidade e engrandecendo tal desenvolvimento científico:
“A missão de Doença do Sono desapareceria à falta de gente idônea, ou passaria a viver a existência falsa dos organismos em que a dedicação e o apostolado são necessárias mas onde, à falta destes, vegeta apenas, a par da mentira, uma anêmica interpretação passiva do dever” (BGC, nº 15, p. 75)
Além de ser um “dever cívico”, a produção do conhecimento científico servia
para fins desenvolvimentistas e econômicos. Áreas territoriais das colônias deixavam
de ser exploradas por serem focos de tsé-tsé, de modo que era importante combatê-
las:
“(...) a infecção produzida pela mosca tsé-tsé impede quási completamente nos países tropicais o desenvolvimento das populações indígenas e européias e ainda a criação de gado. Daí a necessidade de obviar à acção letal deste terrível insecto” (BGC, nº 7, p. 206)
5 No mesmo sentido, outra citação: “missão que incumbe aos médicos coloniais: - a da assistência
médica aos indígenas, quer sob o aspecto de tratamento das suas doenças, que sobr o aspecto da profilaxia e da higiene até da educação moral. Se assimila o médico colonial capaz de bem compreender a sua missão a um verdadeiro apóstolo da civilização, colocando-o a par do missionário religioso moderno” (p. 206).
13
Além de ser importante o combate à doença do sono por permitir a ocupação de
terras, tais técnicas e saberes eram vistas como necessárias para que as populações
nativas mantivessem sua força de trabalho. O então alto comissário de Angola indicava
que as missões focavam muito mais na prevenção do que na cura porque somente
assim as pessoas não ficariam doentes. Ter doentes significaria perda de produção,
causando danos econômicos:
“Pelo lado do tratamento dos doentes do sono, processo mais importante ainda como preventivo da disseminação da doença, do que como curativo – visto que muito mais importante é para a Colónia conservar válida a sua população activa, do que curar umas dezenas de inválidos – esse tratamento tem resultado mais da dedicação pessoal de um ou outro médico, do que de um impulso metódico e tenaz para a imunização em massa do principal reservatório do vírus” (p. 204)
Propondo compreender as condições que possibilitaram a produção deste
conhecimento, conforme faz o trabalho de Merton (1978), é possível fazer
interrelações entre o projeto colonial português e a produção da expertise. Merton
afirma que existe, em certo sentido, uma “necessidade utilitária” (idem, p. 711) nas
produções das ciências, assim como toda a estrutura social reflete as condições de
produção de conhecimento. Ainda que seja dada esta razão econômica e utilitária ao
conhecimento da doença do sono, é interessante observar que havia diferentes
significados para tal expertise. No contexto da Inglaterra pré-Revolução Industrial,
Merton sugere que a ideologia puritana faz conexões com as condições de produção
de conhecimento científico (idem). Tentando observar os significados dados a esta
expertise, de cumprir um dever cívico para com as populações nativas, é possível
observar como o projeto colonial português (processo civilizatório e desenvolvimento
econômico) tem uma causalidade direta para justificar as razões da produção de
saberes para o combate da doença do sono.
As necessidades utilitárias coadunam com uma concepção de que esses
conhecimentos podem ser tidos como “técnopolíticas”. Os textos apresentados
sugerem que as técnicas de combate ao sono tinham como efeitos relações mais
amistosas com a população nativa. Ao combater um mal que afligia essas localidades,
os agentes coloniais se tornariam bem vistos pelas populações nativas:
A população de Angola já compreendeu que este momentoso assunto é um problema de vida ou de morte para ela, manifestando-o pelo interesse que toma pelos nossos trabalhos e pela simpatia com que em toda a parte são acolhidos aqueles que andam empenhados na debelação do terrível mal” (BGC, nº 18, p. 235).
14
Isso também se reflete na concepção que se tinha das políticas de saúde, em que a
construção de postos e hospitais era compreendida como meio de acentuação da
autoridade política dos agentes portugueses perante às populações locais:
“[as unidades](...) Constituem sem dúvida um sistema de profilaxia e inspeção sanitária, mas mais também: um processo de educação em que colabora activamente a autoridade administrativa, no departamento político que lhe é naturalmente reservado. A confiança na terapêutica europeia não faz senão acentuar-se”. (p. 217)
Nesse sentido, a articulação dos saberes tecno-científicos da doença do sono
é pensado para fins de dominação política. BIJKER (2005) sugere que toda a tecnologia
é política, mas que umas tomam deliberadamente tais feições e outras não. Isto
demonstra que o combate da doença do sono, naquele momento, foi compreendido
como política.6.
Além de um instrumento para a dominação, a ciência sobre a doença do sono
era compreendida como uma forma de produzir distinções políticas. Nas reportagens
que tratavam sobre conferências internacionais de combate à doença do sono, os
autores tentaram mostrar como a enfermidade, apesar de existente nas colônias, era
um problema pequeno comparativamente às outras. Ayres Kopke, autor de uma
reportagem, mostrou que outras nações tinham sérios problemas, diferentemente de
Portugal: “Congo Belga e Congo francês são aquelas em que o problema da luta contra
esta doença se apresenta mais grave (...) o presidente nada diz do nosso Congo (...)”
(BGC, nº 5, p. 69).
Em outro texto sobre a conferência do sono, um autor mostra certa
indignação com o presidente da conferência por este classificar o estado português
como negligente ao combate da doença do sono:
“(...) Há referências louváveis ao desaparecimento da letargia africana na Ilha do Príncipe (...) Mas, logo por contra-pancada a este dossiê fulgurante, somos emparceirados com os espanhóis” (BGC, nº 8, p. 87)
6 Uma análise diacrônica permitiria observar quais as diferentes compreensões que os saberes sobre a
doença do sono passaram a ter. Em outro trabalho (FERNANDES, 2009), sugeri que as narrativas do BGC sobre os nativos de Timor Leste foram modificadas depois da segunda guerra mundial diante de pressões da Organização das Nações Unidas e de um contexto de independência das colônias. Neste sentido, os timorenses deixaram de ser classificados como “indígenas” para transformá-los em “cidadãos”. Uma hipótese que necessita de uma observação dos arquivos é de que os saberes sobre a doença do sono deixaram de apresentar sua feição mais econômica e política, passando mesmo a ser negado interesses de dominação colonial.
15
Desse modo, sugere-se que as tecnologias e os saberes sobre a doença do
sono eram importantes para a discussão num contexto internacional. Há uma
apresentação de que Portugal possuía certo controle sobre a doença do sono,
diferentemente de outras nações. Não raro eram apresentadas reportagens de jornais
estrangeiros que mostrava como a situação de colônias inglesas como Nigéria (BGC, nº
27, p. 201 ) e Uganda (BGC, nº 28, 214 ) e colônias francesas como a Camarões (BGC,
nº 70, p. 189).
Os Boletins buscavam constituir, por meio de suas tecno-ciências, capital
simbólico (BOURDIEU, 1997) ao projeto colonial português. Por esse capital
“proporcionar reconhecimento de uma competência, (este) proporciona autoridade e
contribui para definir não somente as regras do jogo, mas também suas regularidades
(...)”(idem, p.27). Assim sugere-se que havia interesse em apresentar o projeto colonial
português como uma colonização distinta e própria.
6. Considerações Finais
O material empírico que fundamentou tal ensaio é relativamente pequeno
para criar grandes conclusões sobre a expertise criada no contexto colonial português.
O próprio BGC é uma fonte de dados que tem um espectro de atuação muito amplo,
trazendo relatos das diversas ações coloniais. Porém tal Boletim é relativamente
demonstrativo sobre o conhecimento sobre a doença do sono, ainda que fosse
exposto para leigos.
Releva-se que o BGC não pode ser visto como um todo coerente, havendo
variações e contradições sobre as compreensões que se tinham sobre a doença do
sono. Tais compreensões se modificaram no decurso do tempo, assim como pelos
autores de cada texto. Entretanto, existe uma unidade entre tais discursos pelo
próprio fato de que o período de análise desse ensaio corresponde ao primeiro
momento do estado salazarista, assim como os textos foram publicados em um
mesmo periódico.
Apesar de fazer distinções entre técnica e conhecimento, sugere-se que tais
conceitos se tratam de uma abstração, uma categoria mais analítica do que
propriamente nativa. O conhecimento sobre a doença do sono não apenas pode ser
percebido por meio de afirmações encontradas no BGC sobre as relações entre
16
fenômenos, como também todas as ações que se articulam à doença do sono. Logo,
podem-se extrair quais eram os conhecimentos sobre a doença do sono a partir da
observação das técnicas apresentadas nos textos do Boletim Geral.
“Paradigma” e “estilos de pensamento”, por sua vez, são outras abstrações
utilizadas por ser boas para pensar, porque permite observar as continuidades nos
saberes. A constituição de novas questões e os modos como elas vão ser respondidas,
em geral, já tem um conjunto de elementos pressupostos, de modo que observar que
há um paradigma ou estilo de pensamento promove ver a existência de uma ciência
normal. Uma questão que poderia ser feita posteriormente é tentar observando como
a expertise sobre a doença do sono foi se constituindo ao longo do tempo. Isto
permitiria observar as continuidades e rupturas do conhecimento, tornando os
conceitos kuhmianos potencialmente melhor utilizados.
Tentou-se fazer generalizações a partir do material etnográfico. Desse modo,
as conclusões aqui tratadas não se propõem a realizar grandes saltos teóricos, mas
apenas indicar quais são as razões dadas pelos próprios textos que motivam a
produção de conhecimento sobre a doença do sono. Desse modo, observei como a
ideologia civilizacionista, os interesses econômicos e os desejos de distinção do
colonialismo português foram motivadores da produção de saberes sobre a doença do
sono.
Além disso, é possível observar a importância dos não-humanos na produção
de saberes. Esse ensaio tentou, de maneira transversal, dar dignidade analítica ao
papel do que é tido como natureza, conforme sugerido por Latour (1997). No caso, é
sugerido que o tripanossoma e a mosca tsé-tsé são capazes de agenciar uma série de
ações, crenças, comportamentos dos humanos, ou seja, foi tentado observar como tais
textos eram produtos do coletivo de humanos e não-humanos.
Por fim, uma questão inicialmente pensada para esse ensaio era entender
como os encontros interétnicos no contexto colonial permitiriam as constituições de
saberes, inspirado na idéia de “arenas transepistêmicas” (KNORR-CETINA). Entretanto,
o BGC no período estudado não apresenta, por diversos motivos, contextos de trocas
de saberes entre nativos e colonizadores. Mesmo assim, é possível observar que a
produção de conhecimento envolvia uma série de atores, com diferentes modelos
epistêmicos. Em um dos textos, é apresentada a figura de “enfermeiro indígena”:
17
A missão, como já dissemos, tem a seguinte composição: Quatro sectores chefiados por médicos (...) há um veterinário, quatro médicos chefes de sector; um entomologista; dois polícias da veterinária; dois enfermeiros europeus; catorze enfermeiros indígenas e trinta e quatro polícias sanitários indígenas (...) Em cada um dos sectores existirão dois postos permanentes de observação, a cargo de enfermeiros indígenas, que terão a principal finalidade de impedir tanto quanto possível o trânsito de indivíduos atacados da doença do sono” (BGC, nº 181, p. 105).
Desse modo, uma questão que poderia motivar uma nova pesquisa é tentar
compreender como os saberes sobre a doença do sono tiveram influência pelas
populações locais, quais as interferências desses agentes de epistemes diversas nos
saberes coloniais.
18
7. Fontes Primárias (por ordem de publicação):
1925 BGC nº 5. A conferência internacional sobre a doença do sono BGC nº 5. A profilaxia da doença do sono na áfrica equatorial francesa 1926 BGC nº 7. Doença do sono e glossinas BGC nº 8. Nós e a última conferência internacional da doença do sono BGC nº 11. Doença do sono da Guiné Portuguesa BGC nº 13. A doença do sono BGC nº 15. Missão de Combate à doença do sono BGC nº 18. A campanha contra a doença do sono no distrito do Congo 1927 BGC nº 20. A ação colonizadora de Portugal - Combate a doença do sono em Angola BGC nº 22. A terapêutica da doença do sono BGC nº 23 A doença do sono na Rodésia BGC nº 23. A campanha portuguesa na doença do sono BGC nº 24. A nova ofensiva da sciência portuguesa contra a doença do sono BGC nº 25. Missão de combate da doença ado sono BGC nº 27. A doença do sono na Nigér BGC nº 28. O combate à doença do sono no Golungo Alto BGC nº 28. A doença do sono na Nigér 1928 BGC nº 32. A campanha contra a doença do sono em Angolaa BGC nº 33. A doença do sono na Uganda BGC nº 34. Uma proteção contra a môsca Tzé-Tzé BGC nº 36. A doença do sono na província de Moçambique BGC nº 37. Relatório sobre a doença do sono em Moçambique 1931 BGC nº 70. A doença do sono no Camarão 1932 BGC nº 84. Os cientistas portugueses e a doença do sono BGC nº 88. Missão de profilaxia contra a doença do sono 1933 BGC nº 98-99. Novo método de tratamento da doença do sono aplicado por um médico português 1938 BGC nº 151. Missão da doença do sono BGC nº 155. A luta contra a doença do sono na Nigéria 1940
19
BGC nº 181. Missão da doença do sono BGC nº 182-183. O combate à doença do sono em Moçambique 1941 BGC nº 196. O combate da doença do sono 1942 BGC nº 200. Conferências Internacionais da doença do sono
8. Referências Bibliográficas
THOMAZ, Omar Ribeiro. 2001. “O bom povo português”: Usos e costumes do aquém
e do além mar. Mana. Vol. 7, nº 1. Rio de Janeiro. EVANS-PRITCHARD, Edward. 2002. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Zahar Editores: Rio de Janeiro. FERNANDES, Alexandre. 2011. De indígena a cidadão: o nativo de Timor Leste nos
Boletins da Agência Geral das Colónias. Mimeo. KUHN, Thomas. 2007. As estruturas das revoluções científicas. Perspectiva: São Paulo. KNORR-CETINNA, K. 1982 Scientifique Communities or transepistemic arenas of
research? A critique of quasi economic models of science. Social Studies of Science, nº 12, 1982. FLECK, Ludwik.2010. Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Belo Horizonte, Fabrefactum Editora. MARRONI. Maria Luísa de Castro, 2009. Os outros e a construção da escola colonial
portuguesa no Boletim Geral das Colónias (1925-1951). Dissertação de Mestrado em História e Educação. Faculdade de Letras da Universidade de Porto. MERTON, Robert. 1978 Ciência e economia na Inglaterra do século XVII. IN: ____ Sociologia – teoria e estrutura. Mestre Jou, São Paulo. BIJKER, Wiebe E. 2011. “?Como y por qué es importante la tecnologia?”. 2005. Redes, Mayo, volumen 11, BOURDIEU, Pierre. 1997. Os usos sociais da ciência – Por uma sociologia clínica do
campo científico. UNESP, LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Editora 34: São Paulo, 1994.