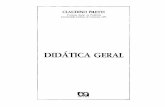“NOVAS TENDÊNCIAS” DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA E AS (IM)POSSIBILIDADES DE TRANSPOSIÇÃO...
Transcript of “NOVAS TENDÊNCIAS” DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA E AS (IM)POSSIBILIDADES DE TRANSPOSIÇÃO...
“NOVAS TENDÊNCIAS” DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA E AS
(IM)POSSIBILIDADES DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EM TERMOS DE
PRESCRIÇÃO CURRICULAR NO INÍCIO DO SÉCULO XXI1
Itamar Freitas (PPGED/UFS)
Jane Semeão
janesemeã[email protected]
Margarida Oliveira (PPGH/UFRN)
Este texto explora as relações entre a historiografia acadêmica e a historiografia
escolar, colhida esta última, nas prescrições elaboradas por pesquisadores, gestores e
professores sobre os conteúdos da disciplina história no Brasil. No seu título estão
implícitas, ao menos, uma hipótese e uma carência: (1) a ideia de que a historiografia
acadêmica sofreu modificações significativas nas últimas três décadas do século XX –
daí o emprego do adjetivo “novas” – e (2) a incerteza sobre a natureza e a intensidade
da transposição dessas modificações para as expectativas de aprendizagem que
constituem os currículos prescritos, predominantemente, pelo Estado, em suas
instâncias federal, estadual e municipal.
Tais carências e ideias são os objetos sobre os quais nos debruçamos de forma
sintética, mediante fontes que informam sobre os modos de produção histórica e as
propostas curriculares expedidas entre 1996 e 2012. Aqui, portanto, empregamos três
balanços historiográficos acerca de pesquisas desenvolvidas em programas de pós-
graduação, entre as décadas de 1970 e 2000 e duas investigações sobre os currículos de
história no Brasil recente. Sobre as propostas curriculares, trabalhamos com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), expedidos em 1998, e 18 propostas estaduais
destinadas ao nível correspondente e, hoje, atualizado como sexto ao nono ano do
ensino fundamental.
Seguindo esse esquema, o texto ganha a divisão bipartite, relativa ao exame da
(2) apropriação das “novas tendências” historiográficas nos anos finais do ensino
1 FREITAS, Itamar; SEMEÃO, Jane; OLIVEIRA, Margarida de. “Novas tendências” da historiografia brasileira e as (im)possibilidades de transposição didática em termos de prescrição curricular, no início do século XXI. In: TOLEDO, Maria Aparecida (org.). Didática no ensino de história. Maringá: Eduem, 2012. p. 37-50. ISBN – 978-85-7628-510-6.
fundamental antecedida por breve comentário sobre (1) a natureza e os problemas
enfrentados na coleta dos “novos” objetos da escrita da história brasileira, além das
conclusões apresentadas ao final.
1. Problematizando “novas tendências” historiográficas
A locução “novas tendências”, obviamente é instrumental. Aqui, ela é
empregada, apenas, como ponto de partida para o texto e objeto de problematização. O
vocábulo “historiografia”, ao contrário, é bem menos sujeito a polêmicas. Neste
trabalho, historiografia tem o sentido de escrita da história tornada pública, ou seja, o
resultado do esforço investigativo e retórico do historiador que é apresentado em forma
de livro-tese, dissertação acadêmica, artigo, e veiculado em suportes impressos ou
digitais. “Novas tendências”, por outro lado, é frequentemente empregado para anunciar
os objetos apresentados em primeira mão ou resignificados nos últimos 30 anos sob a
iniciativa dos historiadores [profissionais.]
Agrupando os termos – novas tendências e historiografia –, visualizamos
claramente as duas questões enfrentadas: (1) quais os elementos da experiência –
sobretudo, brasileira – que ganharam status de objeto histórico nas últimas três décadas?
(2) Em que medida tais objetos são incorporados às expectativas da aprendizagem
anunciadas pelas propostas curriculares federais e estaduais de História?
Ao pensar na miríade de objetos explorados pela historiografia brasileira,
entretanto, percebemos quão gigantesca é a tarefa de dar respostas às indagações acima.
Quem se habilita executar esse inventário, que deverá fornecer simétricos elementos de
comparação entre historiografia acadêmica e historiografia escolar?
A história da historiografia é a mais demandada para esse serviço.1 No entanto –
como “história do discurso escrito e que se afirma como verdadeiro e que os homens
têm sustentado sobre o seu passado” (CARBONELL, 1981, p. 6) – ela mesma é um
“campo” como outros tantos “canteiros”, “domínios”, “territórios” que produzem suas
próprias histórias da historiografia. Cada “domínio” ou cada “novo domínio” classifica
e até hierarquiza os seus objetos a partir de “escolas”, “olhares”, “perspectivas”,
“modelos”, “linhas de força” que são partilhadas e postas em circulação por grupos de
pesquisa, anais de congressos “de..”, e periódicos de história “de...” (Cf. FICO, 2000, p.
27; CARDOSO e VAINFAS, 1997, 2011; DIEHL, 2008; ARRUDA e
TENGARRINHA, 1999; FREITAS, 1998; BARROS, 2005).
A seleção é, então, o caminho para vencer a tarefa, uma vez que a proposta exige
a comparação2 e, a comparação, a criação de um modelo3 que a viabilize. Aqui,
portanto, comparamos conteúdos conceituais, procedimentais e valores. Esses três
elementos são objetos da historiografia acadêmica, ainda que o último somente o seja de
forma indireta4. Com isso queremos afirmar que a historiografia brasileira – “nova” ou
“velha” – produz e/ou veicula: (1) acontecimentos – macros ou micros, em longa ou
breve duração, isolados ou em cadeia; (2) procedimentos – empregados para construir
os acontecimentos ou atribuir-lhes um sentido; e (3) valores – que medeiam o
julgamento e a tomada de posição em relação ao mundo.
Da mesma forma, podemos afirmar que a historiografia escolar é estruturada por
acontecimentos – classificados como conteúdos substantivos (conceitos, generalizações,
datas tópica e cronológica, causas, desenvolvimento e consequências) e conteúdos
metahistóricos (atividades de conhecer ideias e funções da história, identificar e ler
fontes, comparar e sequenciar acontecimentos, relacionar passado e presente) –,
procedimentos e valores.
Como o rol de conteúdos conceituais, procedimentais e valorativos relacionados
ao espaço da experiência brasileira e explorados pela historiografia acadêmica é
bastante extenso, recortamos quatro temas de grande consumo nos níveis superior que
nos auxiliam a medir a incorporação do “novo” ao ensino de história.
Os dois primeiros se inserem no âmbito metahistórico, ou seja, estão
relacionados às mudanças de paradigma vivenciadas pela corporação de historiadores
profissionais no Brasil: definições e funções da ciência da história e história do tempo
presente. Os dois últimos são exemplos de conteúdo
conceitual/acontecimental/substantivo e expressa as mudanças de ênfase em termos de:
dimensão da experiência humana nos estudos sobre a história colonial ou do “Brasil
moderno” e abordagem dos indígenas como sujeitos históricos.
2. Ciência da história – do progresso à desrazão
Iniciemos, então, com a pergunta mais geral e abstrata que aborda os sentidos da
palavra história na historiografia acadêmica e na historiografia escolar. O que há de
novo na historiografia brasileira em termos de teoria do conhecimento e epistemologia?
A resposta é simples e foi anunciada de modo consensual entre diferentes balanços
historiográficos: “crise” de paradigmas (Cf. CARDOSO, 1997). Apesar das diferenças
teóricas entre Carlos Fico (1992, 2000) e Astor Antonio Dihel (2004, 2009), por
exemplo, ambos concordam no fato de que a década de 80 do século passado foi
marcada por uma crise, desdobrada no decênio seguinte, cujas principais características
podem ser sintetizados nesses dois excertos:
Até os anos da década de 1980, temos paradigmas teórico-metodológicos otimistas,
representados pelo positivismo, marxismo e em parte pela tradição de Max Weber com
seus respectivos desdobramentos.
Nesse sentido, produzia-se conhecimento numa visão de progresso material, quando o
sentido coletivo e o aspecto institucional foram orientações centrais: buscava-se
conquistar a modernidade e pautava-se pela história na perspectiva magistra vitae.5
Penso que, atualmente, as tendências historiográficas não buscam mais legitimar a
redenção do homem no futuro como um projeto para além de nossa época. Há, em vez disso, um retorno ao passado (das ilhas) e aos indivíduos, ressaltando-se os aspectos
etno-antropológicos de certa visão cultural. Há, por outro lado e tudo indica uma
carência de projetos estruturais subjacentes a que tenham implícita a perspectiva da
mudança social na perspectiva vinda do esclarecimento (DIEHL, 2008, p. 52).
O ceticismo quanto às teorizações totalizantes, a opção por objetos discretos,
particulares ou mesmo singulares, e a busca por equacionamento conceituais ad hoc
seriam os traços que definiriam a maioria dos trabalhos brasileiros recentes, traços estes
bastante correlacionados às críticas provenientes da filosofia e da teoria literária acerca
da impossibilidade gnoseológica de referência ao real (FICO, 2000).
Evidentemente, não há como verificar a presença desse debate – com tal nível de
sofisticação e detalhamento – nos enunciados das expectativas. Mas é possível colher
indícios a partir da apropriação dos nomes das “correntes” – Marxismo, Annales,
Hermenêutica – e dos autores que representam o “novo”: E. Hobsbawm, E. P.
Thompson, R. Chartier, R. Darton, W. Benjamin, N. Elias, P. Ricoeur, M. Foucault.
Eles estão, principalmente, nas introduções de cada proposta curricular.
Nas propostas nacionais, ou seja, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
de 1997 e 1997 é forte o alinhamento aos novos problemas, objetos e abordagens
anunciados na década de 1970 na França e difundidos fortemente no Brasil duas
décadas depois, como também a tentativa de manter a ênfase na experiência coletiva,
herdada do marxismo anterior, inclusive, aos anos 1980 no Brasil. Assim, a despeito de
demonstrar as singularidades entre “saber histórico” e “saber histórico escolar” – no
fundo, percebemos aí os influxos da categoria “cultura escolar” – a seleção de
conteúdos – conceituais, procedimentais e atitudinais – é permeada por proposições
marxistas (sujeito histórico), proposições debitarias da micro-história italiana (escalas),
como também da primeira, segunda e terceira gerações da escola dos Annales –
respectivamente A noção ampliada de fonte e interdisciplinaridade, os novos tempos
ritmos e durações, e a história do cotidiano.
Nas propostas estaduais, a tônica, diferentemente do que imaginávamos, é a
indefinição ou, pelo menos, a não explicitação desse ou daquele paradigma, corrente ou
escola. Dois terços das propostas não indicam orientação. Traçam panorama da
historiografia europeia do século XX, criticam a “história positivista”, mas, ao contrário
das propostas da década de 1980, não fundam as escolhas sobre um ou outro autor.
Mesmo entre os projetos que partem de uma definição de ciência histórica, as
afirmações são gerais. Há referências aos historiadores Eric Hobsbawm – a defesa do
exame da relação presente-passado-futuro –, March Bloch – a história como
fornecedora de prazer – e Jörn Rüsen – o estudo das formas de superação das carências
humanas. A história também é definida metaforicamente, a exemplo de termos como
“espelhos do tempo” e “expressão de humanidade”.
Apesar de anunciadas em algumas propostas, as definições não chegam
(solitariamente) a determinar a escolha de habilidades, a seleção e a distribuição dos
conhecimentos. Isso ocorre por um motivo óbvio, embora pouco compreendido:
nenhum historiador/corrente fornece o suporte necessário a todas as demandas do
ensino. Observemos, por exemplo, a proposta do estado do Paraná. Ela está centrada na
“perspectiva da formação da consciência histórica”, debitária da nova história social
alemã, que tem Rüsen como figura de proa. No entanto, para a eleição dos “conteúdos
estruturantes” (relações de trabalho, relações de poder e relações culturais), os autores
das expectativas reivindicam a contribuição de Eric Hobsbawm e Edward Thompson
(trabalho), Norberto Bobbio e Michel Foucault (poder), Raymond Williams, Roger
Chartier e Carlo Ginzburg (cultura). (Cf. Oliveira, Freitas, 2012).
3. Tempo presente x tempo vivido pelo aluno
Se em termos de ideias de história a tônica das propostas é a incorporação difusa
e não explícita de referenciais da nova história e do marxismo, que poderemos dizer
acerca de questões e conceitos tão recentes que ainda nem foram alvo de balanços
historiográficos, como a história do tempo presente?
Nas últimas décadas do século passado, assistimos ao crescente interesse dos
historiadores pela história do seu próprio tempo. A institucionalização de centros
dedicados à pesquisa e discussão de acontecimentos recentes – cujo mais renomado é o
Institut d’Histoire du Temps Présent, criado em Paris no final da década de 70 do século
passado –, publicação de livros, revistas, artigos e a realização de eventos acadêmicos
em torno da temática do tempo presente são indícios da gradual afirmação, no campo da
história, de uma preocupação em “historicizar” o tempo vivido (Cf. Aróstegui, 2004).
O “retorno” da história política e do acontecimento, a renovação historiográfica
e as transformações econômicas, tecnológicas, culturais, políticas e sociais que
marcaram o final do século passado explicam, em grande medida, a construção do
entendimento do presente como objeto da pesquisa histórica e, consequentemente, da
constituição da denominada história do tempo presente (Cf. Demoulin, 1993; Chauveau,
Tétard, 1997).
Por se tratar de uma tendência recente – as primeiras revistas do gênero datam
da primeira década deste século – não poderíamos encontrar referências nos PCN, que
foram elaborados 10 anos antes. No entanto, examinamos as propostas estaduais,
coetâneas à expansão da temática no Brasil (Cf. Semeão, Freitas, 2012). Os resultados
indicam que, majoritariamente, os currículos escolares para os anos finais do ensino
fundamental, produzidos entre 2007 e 2012, são estruturados de acordo com os quatro
períodos clássicos. Ainda que busquem incorporar a perspectiva da multiplicidade
temporal e espacial, cada ano de ensino corresponde a acontecimentos/temáticas de pelo
menos duas das divisões: Pré-história e Antiga para o sexto ano, Idade Média e
Moderna para o sétimo, Moderna e Contemporânea para o oitavo. A exceção está
presente no nono ano que, normalmente, concentra os eventos relacionados à transição
do século XIX para o XX, até princípios do século XXI.
É justamente nesse último período onde a história do presente está “diluída”.
Observamos que, apesar da preocupação em incorporar as experiências do presente,
demonstrada, por exemplo, em alguns dos objetivos do ensino de história – como o de
possibilitar aos escolares compreenderem a realidade do mundo em que vivem – e da
utilização, em alguns casos, da expressão “tempo presente dos alunos”, os currículos
não definem a história do presente nem a diferenciam do contemporâneo.
Embora alguns currículos empreguem os vocábulos “contemporâneo” e/ou
“atual” para nomear uma temporalidade (MS, MG, RJ e PB) – ou, pelo menos, a ideia
de um tempo próximo –, uma diferenciação temporal em relação ao último período da
história também não é discutida nesses documentos. Os conteúdos que constituem o
“Mundo contemporâneo” e o “Brasil atual” foram selecionados sem qualquer
informação que justificasse tal recorte, dando-nos a impressão de constituírem sub-
períodos do Contemporâneo.
Apesar de o tempo presente ocupar grande espaço nas propostas curriculares,
considerando tanto as balizas temporais do pós-guerra e da queda do muro de Berlim,
constatamos que as discussões da historiografia sobre esse campo de investigação não
são levadas para os currículos. O que prevalece é o entendimento do diálogo entre as
épocas, ou seja, a exigência historiográfica e pedagógica de partir do presente do aluno
para a compreensão do passado e historicização de sua realidade. Paradoxalmente, a
“época contemporânea”, que para nós já não é mais tão contemporânea, prolonga-se até
os “nossos dias”.
4. Experiência colonial brasileira: do socio-econômico ao socio-cultural
O cotejo das apropriações em termos metahistóricos, ou seja, em termos de
conceitos e procedimentos caros ao ofício do historiador – a exemplo da ideia de
história e de tempo presente – são importantes indicadoras da relação entre
historiografia e currículos de história. Mas é importante entender que a história
ensinada, dominantemente, mobiliza outro tipo de conteúdo, aqui chamado de
substantivo. Para a maioria dos professores, tal conteúdo é constituído por um conjunto
de acontecimentos. Na impossibilidade de examinar todos os conteúdos substantivos,
vejamos então, a título de exemplo, como foi narrada a experiência colonial brasileira
nos últimos 30 anos e quais os traços mais relevantes das mudanças ocorridas na
historiografia produzida no Brasil para, em seguida, verificar os níveis de apropriação
dessa historiografia nas expectativas de aprendizagem histórica nacionais e estaduais.
Para Stuart Schwartz, as décadas de 30 e 70 do século passado, o Brasil moderno
– anterior a 1808 – era explicado a partir de teses marxistas ou estruturalistas que
vinculavam a experiência local à expansão do capitalismo e aos seus desdobramentos,
sobretudo exportação de escravos. A disputa centrava-se em torno das potencialidades
dos conceitos de feudalismo, escravismo, patriarcalismo e capitalismo.
Nos anos 80, verificou-se, entretanto, uma “guinada para a História Social”,
perceptível a partir do aparecimento de novos temas como a “resistência, a rebeldia, a
família, a demografia e a alforria”. Nos anos noventa, temas como a “infância, corpo,
sexualidades, linguagem, representações e identidades” foram introduzidos no curso
dos problemas e abordagens da nova história que aportaram no Brasil, ao final dos anos
80.
Apesar das mudanças, ressalta o autor,
a História Cultural no estudo do Brasil dos primeiros tempos não foi, verdadeiramente,
objeto de uma “guinada cultural”: ela se manteve estreitamente ligada à História Social,
e ambas permaneceram na sombra, ou pelo menos sob a influência das visões
estruturalistas do passado brasileiro. Assim, mesmo quando se trata de derrubar
aspectos dessas interpretações, os termos e agendas dos debates continuam sendo
aqueles que foram desenvolvidos em meados do século XX, ou seja, o lugar da colônia
em um sistema global mercantil, o papel do Estado e sua relação com o poder local, a
assimetria das relações sociais, bem como a forma e a função da escravidão enquanto
sistema econômico, e um fator determinante das atitudes e dos relacionamentos
humanos. Entretanto, a preocupação com a esfera privada e a vida íntima se desenvolveu ao lado da preocupação mais tradicional com a esfera pública, e ambas
tenderam a se juntar analiticamente (SCHWARTZ, 2009, p. 183).
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a experiência do Brasil moderno é
abordada no terceiro ciclo – 5º e 6º anos do ensino fundamental (de oito anos) mediante
recortes por eixos temáticos. A novidade da organização curricular – os eixos temáticos
–, todavia, não faz desaparecer a clássica progressão, no caso da história do Brasil, em
pré-história/colônia/império/república. Tal disposição, inclusive, facilita a identificação
de questões e temas cultivados pela historiografia anterior aos anos 70, como também a
incorporação de algumas preocupações da historiografia dos anos 80 e 90.
A distribuição dos conteúdos por eixos já é indiciária, pois conserva os conceitos
estruturantes de relações sociais, natureza e trabalho. O corte marxista, porém, é
atenuado com breves inserções que estimulam a discussão sobre “corpo”,
“sexualidade”, “meio ambiente”, “mitos de origem”, “imaginário do mar” e o
protagonismo de negros, indígenas e agregados. Um exemplo dessa mescla entre o novo
e o mais novo na historiografia brasileira pode ser acompanhado neste conjunto temas
elencado pelos PCN.
escravização, trabalho e resistência indígena na sociedade colonial; tráfico de escravos e mercantilismo; escravidão africana na agricultura de
exportação, na mineração, produção de alimentos e nos espaços urbanos;
lutas e resistências de escravos africanos e o processo de emancipação;
trabalho livre no campo e na cidade após a abolição; o trabalhador negro no mercado de trabalho livre;
imigração e migrações internas em busca de trabalho;
grandes proprietários, administradores coloniais, clérigos, agregados e
trabalhadores livres (BRASIL, 1998, p. 60-61. Grifos nossos).
Nas propostas estaduais a contribuição difusa das três tendências apontadas por
Schwartz se repete e como um agravante: há expectativas de aprendizagem que
prescrevem temáticas anteriores à historiografia estrutural e/ou marxista:
bandeirantismo, contribuições do negro, do índio e do europeu para a formação cultural
brasileira, domínio da União Ibérica, invasões holandesas e sistema de capitanias
hereditárias.
Das matrizes dominantes até os anos 1970 são exemplos as proposições sobre os
modelos de colonização – povoamento e exploração –, implantação, características,
contradições e crise do sistema colonial, contradições de classe, causas, características e
consequências das economias do açúcar e do ouro, características da empresa colonial,
da escravidão e da monocultura do açúcar, características da administração portuguesa
colonial, consequências do escravismo para o sistema político nacional, contribuições
de negros, europeus e indígenas para a formação da identidade nacional, protagonismo
da Igreja Católica e do colonizador europeu.
Por fim, das temáticas aventadas pela historiografia recente, são discutidos os
processos de acumulação e de abastecimento interno, o sertão como região não
submetida ao domínio colonial, a relação entre economia aurífera e arquitetura e
urbanismo das cidades, as consequências da ocupação da terra para os domínios
indígenas e o meio ambiente, condições sociais dos afrodescendentes e indígenas,
modos de vida indígena, encontros entre portugueses e indígenas, plurietnicidade e
multiculturalismo dos grupos sociais, trocas culturais, resistências ao escravismo entre
indígenas, africanos e afrodescendentes.
É necessário destacar que tais apropriações renovadas raramente exploram o
local como produtor de experiências inauditas, sendo comum a sua interpretação como
caixa de ressonância da experiência, digamos, metropolitana. Por isso, recortamos um
sujeito histórico – povos indígenas – recentemente alçado à categoria de protagonista
para refinar o exame sobre a incorporação do novo, em termos historiográficos, nas
prescrições curriculares do novo milênio.
5. Indígenas - de vítimas a protagonistas
Durante séculos e até, aproximadamente, os anos 1970, predominou entre os
cronistas e historiadores a tese da extinção, ou seja, os povos indígenas tendiam ao
desaparecimento total (Cf. Monteiro, 1995). Indígenas também eram considerados
ingênuos, bestas, bárbaros (Cf. Bittencourt, 2005) e até incapazes de conviver com o
trabalho agrícola europeu (Cf. Coelho, 2009).
Todavia, entre meados da década de 1980 e os anos 1990 a escrita da história
sobre os indígenas modificou-se bastante. De homogêneos, exóticos, anônimos,
despersonalizados, vítimas e não evoluídos passaram, em muitos casos, a protagonistas,
ou seja, agentes históricos capazes de agir e de reagir com autonomia, capazes de
inventar e reinventar suas práticas sociais e culturais, suas identidades ao longo do
tempo, enfim, indígenas como seres que compreendem, acompanham e interagem com
as mudanças do seu entorno. No que diz respeito ao período colonial, por exemplo,
os estudos de tradição antiga, tiveram uma espécie de renascimento neste período, com
a exploração de arquivos antes inexplorados (como dos cartórios e das dioceses) e com
um novo aproveitamento dos ricos acervos portugueses, com certo destaque para os
processos do Santo Ofício. O resultado foi uma verdadeira explosão de estudos sobre os
escravos e a escravidão, sobre os cristãos novos e a Inquisição, sobre as mulheres, sobre
os pobres, sobre os “desclassificados”, enfim sobre um vasto elenco de novas
personagens que passaram a desfilar no palco da história brasileira, junto com novas
perspectivas sobre a história social, demográfica, econômica e cultural (Monteiro, 2001,
p. 7).
Os estudos recentes ampliaram o período de análise, incorporando a experiência
indígena do século XX. Hoje, denunciam o não cumprimento de direitos por parte do
Estado – que resultou em práticas de etnocídio, genocídio e expulsão da terra – e
exploram, sobretudo, a capacidade de os indígenas modificarem suas formas de
representar a si próprios e aos não indígenas, de transformarem e recriarem suas
identidades (Cf. Almeida, 2003).
Nos PCN, entretanto, tais perspectivas inovadoras parecem não ter se
concretizado como prescrição curricular, se considerarmos as críticas desferidas por
Aracy Lopes da Silva (2001). Para esta especialista, os Parâmetros contemplaram
perspectivas antropológicas e históricas não sem algum ruído. Além disso, incluíram
conceitos opostos, como sociedade indígena e comunidade indígena, mantiveram
expressões incompatíveis como “lendas” e “mitos” indígenas, estimularam o
conhecimento histórico sobre os indígenas a partir de fora, pela via do contato, e
legitimaram classificações evolucionistas (Cf. Silva, 2001, p. 122-127).
Nas expectativas de aprendizagem da última década, os estados incluem a
experiência indígena local, em contraposição à ideia de índio genérico, difundida pela
historiografia anterior aos anos 1970. Também exploram diferentes aspectos dos modos
de vida, a exemplo de ritos de passagem, práticas religiosas, econômicas e políticas,
funções sociais de homens, mulheres e crianças, representações de si e dos outros – em
alguns casos, postos em comparação com os modos de vida europeus e africanos e
outros sujeitos coloniais.
Os objetivos educacionais mantém o tom de denúncia aos direitos indígenas,
sobretudo em relação à terra e à diversidade cultural, associando condições indígenas,
quilombolas em alguns estados. São enfatizadas as marcas deixadas pelo trabalho
escravo na organização social e política brasileira.
Em paralelo, as expectativas informam sobre situações de protagonismo,
expresso pelo conceito de “resistência”, sobretudo, “cultural”. No entanto, o apelo ao
reconhecimento da “contribuição dos índios” para a “cultura brasileira” ou “formação
cultural e étnica brasileira” – dentro da tríade: africanos, indígenas e europeus – ainda
convive com objetivos academicamente aceitáveis, a exemplo da “importância indígena
na história nacional”.
Conclusões
Iniciamos este texto anunciando uma hipótese e uma carência que esperamos
tenham sido comprovadas no curso das nossas argumentações. Em primeiro lugar, é
fato que a historiografia acadêmica sofreu modificações significativas nas últimas três
décadas do século XX, justificando, em muitos casos, o emprego do qualificativo
“novas”. Com tempos e espaços diferenciados, evidentemente, a ideia de história –
ciência e processo – migrou do sentido de progresso para a desconfiança no mesmo
progresso ou até a perspectiva da desrazão, o tempo presente foi incorporado como
objeto de estudo dos historiadores, a colônia deixou de ser apenas o espaço da
experiência econômica estrutural e os indígenas, de vítimas, transformaram-se em
protagonistas.
Com relação à carência anunciada, espero que tenhamos demonstrado que nem
sempre a mudança na historiografia acadêmica significou mudança nas propostas
curriculares destinadas aos anos finais do ensino fundamental. Essa discrepância tem
suas razões. Uma delas é a constatação – tornada lugar comum entre os docentes – de
que nem toda a pesquisa acadêmica tem uma função, digamos, didática, isto é, serve
para fazer cumprir os objetivos educacionais prescritos numa cadeia de dispositivos
nacionais e locais.
Além disso, não há no Brasil uma política centralizadora de prescrição dos
conteúdos históricos, como costumamos, em alguns casos – irresponsavelmente –
afirmar. Consequentemente, as diferenças em termos de autoria das propostas –
efetuadas por professores do ensino básico, técnicos das secretarias, comissão de
especialistas historiadores, entre outras –, de maior ou menor proximidade entre os
cursos de licenciatura em história e os corpos docentes do ensino fundamental e médio,
força ou fragilidade das instâncias de organização desses mesmos docentes, e do espaço
ocupado no imaginário local pelos exames nacionais que definem o acesso ao ensino
superior, pautando, efetivamente, o que deve ser apresentado ao aluno como conteúdo,
entre outras nos aconselham a refletir sobre o que não migra, por que não migra, o que é
possível migrar e o que é relevante migrar da historiografia acadêmica para a
historiografia escolar. Tais diferenças nos estimulam, enfim, a pensar sobre as
limitações da historiografia acadêmica como determinadora da historiografia escolar e,
ainda mais importante, as limitações do discurso sobre a diversidade de conteúdos em
um país que almeja, ao mesmo tempo, igualdade de direitos e oportunidades e
manutenção do espaço conquistado nos últimos 10 anos de 6ª potência econômica no
mundo.
Pensemos sobre essas questões.
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino. Identidades étnicas e culturais: novas perspectivas
para a história indígena. In: ABREU, Marta e SOIHET, Rachel. Ensino de história:
conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. pp. 27-37.
ARÓSTEGUI, Julio. La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid: Alianza
Editorial, 2004.
ARRUDA, José Jobson e TENGARRINHA, José Manuel. Historiografia luso-
brasileira contemporânea. Bauru: EDUSC, 1999.
BARROS, José D’Assunção. O campo da História: especialidades e abordagens. 3 ed.
Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
BITTENCOURT, Lucia. Cartas brasileiras; visão e revisão dos índios. In: GRUPIONI,
Luís Donisete Benzi (org.). Índios do Brasil. 4 ed. São Paulo Gobal; MEC, 2005. pp.
37-46.
BLANKE, Horst Walter. Para uma nova história da historiografia. In: MALERBA,
Jurandir (org.). São Paulo: Contexto, 2006. pp. 26-64.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
história. Brasília: MEC / SEF, 1998.
____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta
Curricular para a educação de jovens e adultos: segundo segmento do ensino
fundamental: 5a a 8a série: introdução/Secretaria de Educação Fundamental, 2002.
BURKE, Peter. Modelos e métodos. In: História e teoria social. São Paulo: Editora da
UNESP, 2002. pp. 39-66.
CARBONELL, Charles-Olivier. Historiografia. Lisboa: Teorema, 1981.
CARDOSO, Ciro Flamarion. História e paradigmas rivais. In: CARDOSO, Ciro
Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: ensaios de teoria e
metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. pp. 1-23.
CHAUVEAU, A.; TÉTARD, Ph (org.). Questões para a história do presente. São
Paulo; EDUSC, 1999, pp.101-102.
COELHO, Mauro Cezar. A história, o índio e o livro didático: apontamentos para uma
reflexão sobre o saber histórico escolar. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos,
REZNIK, Luís, MAGALHÃES, Marcelo de Souza (org.). A história na escola:
autores, livros e leituras. Rio de Janeiro: FAPERJ/Editora da FGV, 2009. p. 663-280
DUMOULIN, O. Contemporânea (História). In: BURGUIÉRE, André
(org.). Dicionário das ciências históricas. Rio de Janeiro: Imago, 1993. pp. 173-175.
DIEHL, Astor Antônio. A cultura historiográfica brasileira nos anos 1980:
experiências e horizontes. 2ed. Passo Fundo: Editora da UPF, 2004. [Primeira edição
em 1993].
DIEHL, Astor Antônio. Ideias de futuro no passado e cultura historiográfica da
mudança. História da historiografia, [Ouro Preto], pp. 45-70, n. 1, ago, 2008.
FERREIRA, António Gomes. O sentido da educação comparada: uma compreensão
sobre a construção de uma identidade. In: SOUZA, Donaldo Belo, MARTÍNEZ, Silva
Alicia. Educação comparada: rotas de além-mar. São Paulo: Xamã, 2009. pp. 173-166.
FICO, Carlos e POLITO, Ronald. A história no Brasil (1980/1989): elementos para uma
avaliação historiográfica. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1992.
FICO, Carlos. Algumas anotações sobre historiografia, teoria e método no Brasil dos
anos 1990. In: GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos, PETERSEN, Sílvia Regina
Ferraz, SCHIMIDT, Benito Bisso, XAVIER, Regina Célia Lima (org.). Questões de
teoria e metodologia da história. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. pp. 27-58.
FREITAS, Itamar. A experiência indígena no ensino de história. In: OLIVEIRA,
Margarida Maria Dias de (coord.). História: ensino fundamental. Brasília: Ministério
da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. pp. 159-192 (Coleção Explorando o
Ensino; v. 21).
______. Representações sobre indígenas nos livros didáticos de história da América no
Brasil e na Argentina: as experiências comparáveis de Rocha Pombo e de Carlos
Navarro Y Lamarca (1900/1910). São Cristóvão, 2012. No prelo.
FREITAS, Marcos Cezar de. Para uma história da historiografia brasileira. In: ____
(org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto; Bragança
Paulista: Universidade São Francisco, 1998. pp. 7-13.
HOUAISS, Antônio. DICIONÁRIO ELETRÔNICO HAUAISS DA LÍNGUA
PORTUGUESA. [s.n]: Instituto Antônio HOUAISS/Objetiva, 2007.
MONTEIRO, John M. Tupis, Tapuias e historiadores: estudos de história indígena e do
indigenismo. Campinas, 2001. Tese. (Livre docência em Etnologia). Universidade
Estadual de Campinas, 2001.
MONTEIRO, John Manuel. O desafio da história indígena no Brasil. In: SILVA, Aracy
Lopes da e GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). A temática indígena na escola:
novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO,
1995. pp. 221-236.
NOVOA, Antônio. Modelos de análise de educação comparada. In: SOUZA, Donaldo
Belo, MARTÍNEZ, Silva Alicia. Educação comparada: rotas de além-mar. São Paulo:
Xamã, 2009.
OLIVEIRA, Margarida, FREITAS, Itamar. Currículos de História e expectativas de
aprendizagem para os anos finais do ensino fundamental no Brasil (2007-2012).
História Hoje, São Paulo, v. 1, n. 1, 2012. Disponível em: <
http://rhhj.anpuh.org/ojs/index.php/RHHJ/article/view/11>. Consultado em: 22 set.
2012.
SCHWARTZ, Stuart B. A historiografia dos primeiros tempos do Brasil moderno.
Tendências e desafios das duas últimas décadas. História: Questões & Debates,
Curitiba, n. 50, p. 175-216. jan./jun. 2009.
SEMEÃO, Jane, FREITAS, Itamar. Tempo presente nos currículos escolares de história
no Brasil para os anos finais do ensino fundamental. Cadernos do Tempo Presente, São
Cristõvão, n. 10, 2012. Disponível em: <
http://www.getempo.org/revistaget.asp?id_edicao=35&id_materia=0>.
SILVA, Aracy Lopes. Educação para a tolerância e povos indígenas no Brasil. In:
GRUPIONI, Luís Donizete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (org.).
Povos indígenas e tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São
Paulo: Editora da USP, 2001. pp. 99-131.
1 Ela se ocupa, entre outros objetos, dos modelos de interpretação, métodos, ideias, problemas, funções
(Cf. BLANKE, 2006). Isso quer dizer que a apresentação das mudanças poderia ganhar o corpo de uma
lista dos – novos ou resignificados – modelos, métodos, ideias problemas e funções da história-ciência. 2 Comparar é por em paralelo dois ou mais elementos (discursos, modelos, acontecimentos,
representações) com o objetivo de examinar semelhanças e diferenças, aproximações e distanciamentos
(Cf. HOUAISS, 2007). Esse sentido geral é empregado desde o século XIX, com a intenção de verificar
especificidades e regularidades que possibilitassem a previsão de problemas e até mesmo a criação de
modelos de excelência (Cf. NÓVOA, 2009), que não é o nosso intento. Aqui, a comparação entre objetos
da historiografia acadêmica e objetos da historiografia escolar tem a finalidade de examinar os sentidos
atribuídos por diferentes autores (Cf. FERREIRA, 2009) – no caso, os elaboradores das propostas
curriculares – às “novas tendências” historiográficas cultivadas no Brasil (Cf. FREITAS, 2012).
3 Modelo é “uma construção intelectual que simplifica a realidade com o objetivo de entendê-la”. Um
modelo omite elementos do real e transforma alguns outros (variáveis) “em um coerente sistema interno
de partes interdependentes” (BURKE, 2002, p. 47). Aqui, empregamos o tipo monotético, ou seja, o
modelo em que a presença de “um conjunto único de atributos é suficiente e necessária para configurar a
participação” (BURKE, 2002, p. 52). 4 Afinal, dificilmente o professor de história ou o autor de livro de história considera, por exemplo,
conceito de “solidariedade” como um “assunto” autônomo no currículo de história. 5 O fato de citarmos não significa que concordemos com tais balanços. Entretanto, não é a posição dos historiadores da historiografia aqui citados que está em questão e sim a relação entre o que eles apontam
como significativo e o que os elaboradores de currículos entendem como digno de frequentar as
expectativas de aprendizagem destinadas aos alunos da escolarização básica.