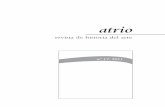Movimentos sociais: aspectos históricos e conceituais
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Movimentos sociais: aspectos históricos e conceituais
Educação e movimentos
sociais
BOLETIM 03
ABRIL 2005
Educação e movimentos
sociais
BOLETIM 03 ABRIL 2005
SUMÁRIOSUMÁRIO
PROPOSTA PEDAGÓGICA
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS .................................................................................................................... 03Paulo Afonso Barbosa de Brito
PGM 1
MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES ....................................................................................................................... 14Movimentos sociais: aspectos históricos e conceituaisPaulo Afonso Barbosa de Brito
PGM 2
ASSOCIATIVISMO COMUNITÁRIO E LUTAS URBANAS ...................................................................................... 22 Relação estado e sociedade civil na construção dos Direitos HumanosFrancisco Mesquita de Oliveira
PGM 3
IDENTIDADES E SOLIDARIEDADES ......................................................................................................................... 27 Educação popular e movimentos de mulheresCarmen Silvia Maria da Silva
PGM 4
CULTURAS JUVENIS .................................................................................................................................................... 33 Movimentos juvenis: mudanças e esperanças Nerize Laurentino Ramos Paulo Afondo Barbosa de Brito
PGM 5
REDES E FÓRUNS SOCIAIS ......................................................................................................................................... 40 O Movimento das Redes e as Redes de Movimentos Carmen Silvia Maria da Silva Luciene Mesquita (Mana)
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 2
PROPOSTA PEDAGÓGICAPROPOSTA PEDAGÓGICA
Educação e movimentos sociais
Paulo Afonso Barbosa de Brito 1
Os Movimentos Sociais Populares emergiram no contexto social e político brasileiro com uma
fantástica capacidade criativa, organizativa e mobilizadora, principalmente na década de 80, sendo
responsáveis por expressivas conquistas que garantem melhorias na qualidade de vida de amplos
setores sociais, afirmação de direitos e exercício da cidadania para um número cada vez maior de
agrupamentos humanos, construção de identidades coletivas e auto-estima pessoal e social de
setores e grupos historicamente discriminados ou oprimidos, intervenção nas políticas públicas,
modificando ou inibindo as seculares práticas assistencialistas e clientelistas, contribuindo assim
para mudanças em nível do poder local e da política tradicional. Tais conquistas são permeadas por
processos educativos, tanto dos participantes diretos de tais movimentos, quanto das pessoas e
grupos atingidos por sua ação e da sociedade envolvente.
Portanto, estamos considerando movimentos sociais os agrupamentos de pessoas, geralmente das
classes populares ou de grupos minoritários (no sentido de destituídos de poder) e discriminados,
que agem coletivamente, com algum método, realizam parcerias e alianças, abrem diálogos e
negociações com interlocutores, como processos articulados para conquistas de direitos e exercício
da cidadania. Os movimentos sociais multiplicaram-se no Brasil durante a década de 80 e,
principalmente, nos anos 90, percebendo-se, no país, progressiva ampliação e diversificação de
organizações populares, com diversos modelos organizativos, formas de mobilização, bandeiras de
luta, relações com mediadores e interlocutores, processos de formação das lideranças populares.
Neste período se consolidam muitos grupos e entidades locais, mas também expressões locais de
movimentos nacionais, principalmente aqueles que lutam mais diretamente em torno de questões
centrais da sobrevivência das pessoas, como: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST); o Associativismo Comunitário nas suas mais diversas formas de expressão; diversos
movimentos de luta por moradia popular e de defesa dos favelados; movimentos com forte caráter
identitário, como os de mulheres, de negros, de portadores de deficiência, de homossexuais;
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); vários movimentos de defesa e de organização de
crianças e adolescentes.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 3
Consolidaram-se também, neste período, vários movimentos e organismos de inspiração religiosa,
pastorais sociais, bem como os Centros de Educação Popular e as Organizações Não-
Governamentais (ONGs).
Esta rápida apresentação – quase em forma telegráfica – do que existe atualmente de movimentos
organizados no país quer valorizar o conjunto dos movimentos e organizações existentes e evitar os
riscos de separação entre os movimentos de reivindicação e os movimentos identitários, ou entre os
da sobrevivência e os da cidadania. Estamos optando por uma apresentação didática sucinta, uma
vez que não concordamos com a dicotomia criada entre identidade e estratégia, ou entre existência e
cidadania. Consideramos que há um continuum ou uma articulação entre estas dimensões. Neste
sentido, consideramos importante a ação de tais movimentos, que vai desde a indicação de
representantes para a participação nos Conselhos setoriais de proposição e gestão de políticas
públicas, nas Conferências de definição de políticas, nas passeatas e nas ocupações de terras rurais e
urbanas, até as campanhas de amamentação, de uso do “soro caseiro”, da fabricação comunitária de
complemento alimentar de alto teor nutricional, ou outras pequenas iniciativas populares capazes de
ter incidência na diminuição da mortalidade infantil. Ou seja, uma série de distintas iniciativas que
dialogam de forma diferenciada, mas complementar, com resultados para melhorar a qualidade de
vida das pessoas e o seu modo de vida.
O importante neste momento é registrar que estas expressões organizativas mobilizam grupos
específicos, levantam bandeiras bem definidas, apresentam formas diversas de mobilização,
conseguindo consistência cada vez maior, construindo teias de articulação às vezes invisíveis e
redes de comunicação e solidariedade responsáveis por importantes conquistas. Entre estas
podemos destacar:
- Melhorias nas condições de existência e mesmo garantia de sobrevivência de expressivos
grupos populares no país – muitas pessoas têm acesso à terra para trabalhar, à casa para morar, à
água para beber e para a higiene doméstica, a serviços públicos de saúde, de educação, de
atendimento à criança, ao adolescente, aos idosos, aos portadores de deficiência, porque elas se
mobilizaram através de seus movimentos organizados;
- Auto-estima pessoal e solidariedade social – muita gente confirma que passou a se valorizar
mais, a se amar mais, a defender sua dignidade humana, a partir de sua participação em alguma
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 4
forma de organização popular. Mulheres desrespeitadas ou violentadas, negros que eram
desprezados e desvalorizados, portadores de deficiência física que eram discriminados, todos
passam a intervir na cena pública e a experimentar novos valores humanos e solidários;
- Consciência de direitos e exercício da cidadania – vítimas de uma herança profundamente
paternalista e assistencialista, os setores populares no país experimentam diversas formas de
controle e dominação. A existência de diversos movimentos sociais tem conseguido romper este
círculo, contribuindo para que o atendimento de necessidades sociais básicas seja percebido como
direito antes negado e agora reconquistado pela própria luta popular;
- Mudanças no poder local e deslocamentos na política tradicional – o avanço na capacidade de
intervenção dos movimentos tem provocado importantes e visíveis mudanças locais, como a
participação em Conselhos de Gestão em políticas públicas, eleição de parlamentares oriundos de
processos reivindicatórios e que se formaram na luta popular e constituição de grupos de produção
ou grupos de “economia solidária”. Tais campos ou situações, historicamente, eram altamente
controlados pelas elites locais, e atualmente passam a incorporar novos atores e a abrir novos
campos de batalha.
2. Objetivos da série
• Discutir possibilidades e experiências educativas fora do sistema formal de ensino, sobretudo as
vivenciadas através dos movimentos sociais populares;
• Aprofundar o debate atualizado sobre o papel dos movimentos sociais, seus modelos
organizativos, suas bandeiras de luta, sua constituição enquanto sujeitos sociais, sua dimensão
educativa e emancipatória;
• Debater as diversas expressões dos movimentos sociais, destacando o que diferencia e o que
unifica esses movimentos;
• Relacionar a ação dos movimentos sociais e do conjunto da sociedade civil, com um projeto
político e pedagógico da educação brasileira;
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 5
• Destacar as experiências de constituição de Redes e Fóruns sociais e educativos, como
perspectivas de viabilizar projetos estratégicos para a sociedade brasileira contemporânea.
3. Fundamentação teórica
A prática e a temática dos movimentos sociais se incorporam como objetos de estudo das ciências
humanas e sociais, projetando-se, em seguida, como um novo paradigma, devido à grande
importância prática e analítica que tais objetos de estudo atingiram, tanto na sua concepção
empírico-analítica, quanto na sua dimensão de categoria teórica. Daí a grande atração que a
problemática provoca para as principais escolas teóricas das ciências humanas e sociais
contemporâneas.
Os principais estudiosos dos movimentos sociais no Brasil gravitam entre as correntes teóricas
neomarxistas e a corrente teórica culturalista-acionalista. Esta última foi gradativamente se
consolidando como teoria dos novos movimentos sociais 2 .
Nossa perspectiva teórica assume um distanciamento dos esquemas utilitaristas e das teorias
baseadas na lógica racional. E, ao fazer o diálogo com a teoria dos novos movimentos sociais,
assumimos esquemas interpretativos que enfatizam o cotidiano, a cultura, a ideologia, as lutas
sociais, a solidariedade entre pessoas e grupos, os processos de construção de identidades coletivas
e de vivências de subjetividades. Mas enfatizamos, sobretudo, a centralidade da ação social como
ação política, portanto, como construção de força social-política, que tem um valor em si mesma
através do vínculo social, e um valor universal, contribuindo para os processos de consolidação da
democracia participativa.
A experiência brasileira, tanto na peculiaridade dos movimentos sociais, que têm em seu interior
forte hegemonia da parcela conhecida como movimentos populares, quanto no “ineditismo” de
experiência da democracia participativa 3 , reforça tal opção teórica e metodológica.
Nesta opção interpretativa, consideramos importante retomar o conceito de movimentos sociais, tal
qual assumido por Eder Sader, um dos seus principais estudiosos no Brasil, herdeiro de certa
tradição emancipacionista marxista. Tal conceito inova ao romper com esquemas rigidamente
predeterminados, priorizando dimensões mais da ação que de estruturas, mais de movimento que de
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 6
classe estruturalmente dada, mais de simbólico-cotidiano que de racionalidade proletária. Eder
Sader enfatiza “(...) que não se pode deduzir orientações e comportamentos de ‘condições objetivas
dadas', tais deduções pressupõem uma noção de ‘necessidades objetivas' que moveriam os atores
sem as mediações simbólicas que as instituem enquanto necessidades sociais. Quem pretender
captar a dinâmica dos movimentos sociais, explicando-os pelas condições objetivas que os
envolvem e poupando-se de uma análise específica de seus imaginários próprios, irá perder aquilo
que os singulariza” 4 (Sader, 1988, p. 42).
Para uma teorização dos movimentos sociais, Alberto Melucci propõe um roteiro com cinco pontos
centrais:
1º) A construção da ação coletiva, em que enfatiza que o agir coletivo não é o resultado de forças
naturais ou de leis necessárias da História, nem simplesmente produto de crenças e de representação
de atores; é um objeto construído pela vontade consciente;
2º) Aponta cinco princípios de análise dos movimentos sociais: a) Um movimento social não é uma
resposta a uma crise, mas uma expressão de conflito; b) Um movimento social é uma ação coletiva
cuja orientação comporta solidariedade, manifesta um conflito e implica a ruptura dos limites de
compatibilidade do sistema ao qual a ação se refere; c) O campo analítico da ação de um
movimento social depende do sistema de relações no qual tal ação coletiva se situa e à qual ele se
refere; d) Todo movimento concreto contém sempre uma pluralidade de significados analíticos; e)
Cada movimento é um sistema de ação coletiva, com oportunidades e vínculos;
3º) Como nasce um conflito antagonista;
4º) Integração e mudança – o potencial de conflito e de antagonismos não elimina a construção de
diálogos e consensos;
5º) A ação invisível aqui aponta uma aproximação com a Teoria da Mobilização de recursos, mas
não se confunde com a mesma.
Este é um roteiro-proposta para teorizar os movimentos sociais numa sociedade complexa, ou, para
quem preferir outras adjetivações, pode ser sociedade pós-industrial, destacando os conflitos e os
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 7
movimentos contemporâneos, como os juvenis, ecológicos, feministas, pacifistas 5 (Melucci, 2001).
Embora o modelo analítico proposto por Melucci apresente um arcabouço teórico consistente, o
mesmo salienta que este modelo refere-se às sociedades complexas, na realidade de países como os
da América Latina, onde movimentos relevantes ainda se situam na reivindicação por terra,
moradia, saúde, direitos humanos fundamentais. Certamente que o diálogo com a teoria dos
movimentos sociais precisa ser relacionado com tudo o que se tem elaborado em torno da
construção de redes sociais.
No sentido das Redes sociais, Ilse Scherer-Warren define rede como “uma articulação de diversas
unidades que, através de certas ligações, trocam elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente,
e que podem se multiplicar em novas unidades, as quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto,
na medida em que são fortalecidas por ele” 6 (Scherer-Warren, 1999). Esta autora resgata ainda a
contribuição de Castells em torno das redes sociais e suas características de intensividade,
extensividade, diversidade, integralidade e realimentação. “Está aí embutida a idéia de que a rede
poderá assumir um caráter propositivo, tendo em vista o seu efeito multiplicador e conseqüente
mecanismo de difusão simbólica de novos valores e de empoderamento dos movimentos. Portanto,
a rede desempenha, segundo esta ótica, um papel estratégico, enquanto elemento organizador,
articulador, informativo e de empoderamento do movimento no seio da sociedade civil e para
relação com outros poderes instituídos” 9 (Scherer-Warren, 2001).
Outra referência mais tradicional, mas que certamente oferece uma grande contribuição ao debate
atual sobre as conseqüências da ação dos movimentos sociais e, portanto, também ao atual debate
sobre redes, pode ser encontrada nos estudos de Antonio Gramsci, através dos conceitos de luta
ideológica, hegemonia, bloco histórico, guerra de posição e guerra de movimento, vontade coletiva,
unidade intelectual e moral... Como tal referência enfatiza a ação política como ato criador, criativo,
inovador, provoca inovações, ou resgata primitivas elaborações no interior do marxismo,
fornecendo consistência para o debate que estamos travando. Pois, ao valorizar a ação, Gramsci não
menospreza o papel das estruturas, uma vez que “(...) a ação nasce no terreno permanente e
orgânico da vida econômica, mas supera-o, fazendo entrar em jogo sentimentos e aspirações em
cuja atmosfera incandescente o próprio cálculo da vida humana individual obedece a leis diversas
do proveito pessoal”. Nesta mesma linha, retoma o papel da identidade, mas articulando-a com o de
organização: “(...) uma multiplicidade de vontades desagregadas, com fins heterogêneos, se
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 8
solidificam na busca de um mesmo fim, sobre a base de uma idêntica e comum concepção de
mundo. (...) As idéias e as opiniões não nascem espontaneamente no cérebro de cada indivíduo;
tiveram um grupo de homens ou inclusive uma individualidade que as elaborou e apresentam sobre
forma política de atualidade” 8 (Gramsci, 1978, p. 14-34).
Tal perspectiva analítica parece muito importante para os debates dessa série, pois concentra a
reflexão em torno das disputas de hegemonia, através do processo de consolidação da práxis social.
Ainda no debate em torno da ação da sociedade civil, na relação com o trabalho das redes, podemos
destacar as contribuições de Jean Cohen e Andrew Arato, ao conceber a sociedade civil como rede
de associações autônomas, com interesses comuns, que deve exercer o controle sobre o Estado,
utilizando meios institucionais ou informais. Nesta perspectiva, apontam ainda como composição
da sociedade civil os seguintes elementos: a) Pluralidade – famílias, grupos informais, associações
voluntárias; b) Pluralidade – instituições de cultura e comunicação; c) Privacidade – domínio e
autodesenvolvimento de escolha moral; d) Legalidade – leis gerais e direitos básicos 8 (Oliveira,
2003).
Temas que serão abordados na série Educação e movimentos sociais , que será apresentada no
programa Salto para o Futuro/TV Escola de 10 a 15 de abril de 2005:
PGM 1 - Movimentos sociais populares
Este programa vai apresentar uma introdução inicial aos movimentos sociais populares, destacando
alguns conceitos fundamentais. Neste sentido, serão discutidos: a composição social dos
movimentos sociais populares, suas bandeiras de luta e reivindicações, suas estratégias e seus
objetivos, seus modelos organizativos, e ainda: os métodos de ação, os diversos tipos de
movimentos, as alianças e os interlocutores, a cultura política e as práticas educativas que os
movimentos sociais populares desenvolvem ou fortalecem.
PGM 2 - Associativismo comunitário e lutas urbanas
A conquista de direitos e o exercício da cidadania
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 9
Este programa tem como proposta apresentar experiências significativas de organizações e lutas
comunitárias, para conquista de direitos fundamentais dos menos favorecidos e dos trabalhadores,
destacando as ações de Associações de Moradores, de Movimentos de Luta por Moradia Popular, de
Defesa dos Favelados, de saúde para as classes populares, de mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação, de Mutirões Habitacionais. Neste sentido, deve ser destacada a passagem entre uma
situação de necessidade para uma situação de conquista de direitos, como a conquista de casa,
escola, transporte, coleta de lixo, energia elétrica, equipamentos de uso e consumo coletivo. Tudo
isto foi possível porque o povo se organizou e se mobilizou, portanto os direitos são conquistados
ou construídos a partir da mobilização popular, e este processo se converte num exercício
democrático da cidadania. Devem ser destacados, também, os processos de aprendizagem que vão
se tornando possíveis no processo de mobilização: como entusiasmar as bases para a participação,
como se formam as lideranças, como se cria uma nova prática educativa e política.
PGM 3 - Identidades e solidariedades
Gestos e impactos sociais
Este programa deverá discutir as questões dos movimentos que se formam a partir de identidades
coletivas, de enfrentamentos de discriminações e opressões específicas, ou a partir de valores éticos
de defesa da vida. Neste sentido, deverão ser destacados os movimentos de mulheres, de negros, de
portadores de necessidades especiais, de meninos e meninas de rua, de homossexuais, de ajuda
humanitária, de presença fraterna e solidária junto a grupos empobrecidos. Este programa deverá
destacar, portanto, as experiências organizativas em que as pessoas se sentem bem-vindas, amadas e
respeitadas nos grupos de que participam, condição para a elevação da auto-estima pessoal e
coletiva, experiências de solidariedade que estão ajudando as pessoas a viverem melhor, a se
libertarem dos preconceitos e das discriminações. Deverão ser evidenciadas as aprendizagens e
práticas educativas que conduzem à elevação da auto-estima, a novas relações de gênero e etnia,
bem como os impactos sociais advindos dessas práticas, como a diminuição da mortalidade infantil
e materna, os projetos de segurança alimentar.
PGM 4: Culturas juvenis
Valores sociais e novas expressões comunicativas
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 10
Este programa tem como objetivo discutir as expressões juvenis e culturais presentes nas periferias
urbanas, como elas se relacionam com a tradição das lutas juvenis do Brasil e o que trazem de
inovador e criativo para as juventudes contemporâneas, buscando destacar porque tais expressões
têm demonstrado capacidade de seduzir e entusiasmar os jovens, criando formas de comunicação
entre si e com o conjunto da sociedade. Deverá abordar, também, como estas expressões culturais e
comunicativas proporcionam uma dimensão educativa para os seus participantes, para os setores
sociais e políticos que se relacionam com as juventudes, portanto, que conseqüências podem
oferecer para a proposição e realização de políticas públicas de/com e para as juventudes.
PGM 5: Redes e fóruns sociais
Alternativas de sobrevivência e de projetos estratégicos para sociedade brasileira
Este programa vai discutir como os movimentos sociais e suas articulações em Fóruns e Redes
estão conseguindo construir estratégias de sobrevivência e de elevação da qualidade de vida para
amplos setores e grupos sociais, criando formas de relações horizontais que fortalecem os próprios
movimentos e a sociedade civil e, a partir daí, propondo novos processos democráticos e novos
modelos de desenvolvimento. Deverá debater, também, os processos educativos desenvolvidos a
partir das práticas sociais e econômicas, que tornam os participantes dos movimentos sociais, de
suas redes e fóruns mais capacitados para proposição de modelos organizativos e produtivos para
suas próprias organizações e para a sociedade brasileira.
Bibliografia
BRITO, Paulo A. B . Movimentos populares; possibilidades e limites de um novo sujeito histórico. Dissertação de Mestrado. Campina Grande, PB: 1990.
COSTA, Sérgio. As cores de Ercília: Esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.
DAGNINO, Evelina. Anos 90: política e sociedade no Brasil (Os Movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania). São Paulo: Brasiliense, 1994.
GENRO, Tasso Fernando. O futuro por armar: democracia e socialismo na era globalitária. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
GONH, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais – Paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 1997.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 11
GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre factividade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
JACOBI, Pedro. Movimentos sociais e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1993.
LYRA, Rubens Pinto. Textos de teoria política. João Pessoa, PB: UFPB/ FUNAPE, 1989.
MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: Movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis: Vozes, 2001.
OLIVEIRA, Francisco Mesquita. Cidadania e cultura política no poder local: o Conselho de Administração Participativa de Camaragibe – PE. Dissertação de Mestrado de Ciência Política na UFPE. Texto mimeografado. Recife, 2003.
SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena: falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970 – 1980. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
SCHERER-WARREN, Ilse. Cidadania sem fronteiras – ações coletivas na era da globalização. São Paulo: Hucitec, 1999.
SCHERER-WARREN, Ilse. Movimentos sociais: um ensaio de interpretação sociológica. Florianópolis, Editora da UFSC.
Notas
1 Sociólogo e educador da Escola de Formação Quilombo dos Palmares – EQUIP, Recife- PE. Consultor dessa série.
2 Maria Glória Gonh, embora reconheça que estes dois blocos não possam ser separados com uma delimitação muito precisa, nem que eles sejam homogêneos internamente, reconhece traços identificadores de um e outro bloco. Gonh cita como representantes da corrente neomarxista os historiadores Hobsbawm, Rude e Thompson; além dos teóricos ligados à corrente histórico-estrutural representada por Castells, Borja e Lojkine. E, na corrente dos novos movimentos sociais, destaca três linhas: a histórico-política, de Clauss Offe; a psicossocial de Alberto Melucci, Laclau e Mouffe; a acionalista de Alain Touraine (Gonh, 1997, p. 119).
3 Os argumentos em torno do “ineditismo da experiência brasileira” são apresentados por Rubens Pinto Lira, em: Textos de teoria política. João Pessoa, PB: UFPB/FUNAPE, 1989.
4 Eder Sader analisa quatro importantes movimentos sociais presentes na Região Metropolitana de São Paulo durante a década de 70: Movimento de Saúde da Zona Leste, Movimento sindical dos metalúrgicos do ABC, Movimento de creches da grande São Paulo. Sistematiza tais estudos no livro: Quando novos personagens entram em cena: falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970 – 1980 . Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1988.
5 Roteiro apresentado no livro: A invenção do presente: Movimentos sociais nas sociedades complexas . Petrópolis: Ed Vozes, 2001.
6 Ver Ilse Scherer-Warren, em Cidadania sem fronteiras – ações coletivas na era da globalização . São Paulo: Ed. Hucitec,1999.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 12
7 Ibidem.
8 Ver Antonio Gramsci, em Maquiavel, a política e o Estado Moderno . Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1978.
9 Síntese citada por Francisco Mesquita de Oliveira, em dissertação de mestrado em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, 2003 .
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 13
PROGRAMA 1PROGRAMA 1
MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES
Movimentos Sociais: aspectos históricos e conceituais
Paulo Afonso Barbosa de Brito1
1. Um rápido olhar sobre o passado
A história brasileira é profundamente marcada pela efervescência dos Movimentos Sociais, embora
só muito recentemente estes tenham aparecido com o lugar de destaque nas publicações e registros
da história oficial. Faz-se necessário resgatar a dívida social e histórica que a nação tem com os
empobrecidos e trabalhadores, enquanto se organizam e lutam por direitos, tanto para
reconhecimento de sua participação na constituição da própria nação, quanto para o reconhecimento
da pluralidade de sujeitos sociais presentes na dinâmica política nacional.
Só para partir de um marco de referência consistente, reconhecido por todos os estudiosos da
história brasileira, registremos a existência dos Quilombos, uma vez que eles enfrentaram uma das
dimensões mais perversas de nossa história, a existência de escravidão humana, de pessoas serem
tidas apenas como mercadoria e trabalho, mas também registraram, com suas experiências,
importantes lições de dedicação e luta pela emancipação social, política, econômica, cultural.
Os Quilombos foram, justamente expressões marcantes destas lutas, a organização de negros
escravizados, que criavam vários mecanismos para fugirem dos engenhos onde viviam e
trabalhavam, para construírem comunidades livres, atraindo também brancos pobres, indígenas,
caboclos, motivados pela perspectiva de uma vida livre. Nestas comunidades, experimentavam uma
organização da produção em certos casos muito desenvolvida, com técnicas agrícolas avançadas,
artesanato, metalurgia, uma nova organização política, qualitativamente diferente da Colônia de
Portugal, uma dinâmica social com princípios de liberdade e igualdade. Centenas de Quilombos se
espalharam por todo o país durante os anos de Colônia e Império. O mais importante deles foi o
Quilombo dos Palmares, situado em uma extensa faixa de terras entre os estados de Pernambuco e
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 14
Alagoas, uma experiência que durou quase um século, e que foi destruído pelos governos e
senhores de terras, através de uma das mais sangrentas guerras patrocinadas no período colonial
brasileiro.
Outro movimento social, inspirado em valores liberais (de forte influência na Europa naquele
período), mas formado, em grande parte, por setores minoritários das elites, como religiosos,
advogados, poetas, foi o abolicionismo, que também teve papel importante para que a nação
superasse esta terrível fase de sua história.
Entre o final do período Imperial e os primeiros anos da República, realizaram-se os chamados
“Movimentos Messiânicos”, que eram movimentos em geral conduzidos por líderes religiosos, mas
com forte apelo político, formados fundamentalmente por camponeses pobres, que tentaram as
primeiras experiências de reforma agrária no Brasil. Entre estes, podemos destacar a experiência do
Contestado no Paraná, de Canudos na Bahia, de Caldeirão no Ceará. Todas experiências
brutalmente destruídas pelo poder da República, através de guerras sangrentas com verdadeiros
genocídios tendo sido praticados.
Durante todo o século XX, possivelmente, o movimento sindical se expressou como a principal
forma de organização entre os movimentos sociais, tendo assumido diferentes influências, como a
dos anarquistas no início do século, dos trabalhistas e dos comunistas entre a década de 30 e o
Golpe Militar de 1964, do novo sindicalismo (que veio a se consolidar na construção de Central
Única dos Trabalhadores – CUT), a partir da década de 80.
Para esse texto, que visa oferecer subsídios para os debates do programa 1 desta série de programas,
concentraremos nossa análise nos chamados novos movimentos sociais, que tiveram os primeiros
ensaios nas décadas de 60 e 70, mas puderam se expressar com maior dinamicidade e mobilidade a
partir da década de 80.
2. A atualidade dos Movimentos Sociais Populares
Principalmente na década de 80, os Movimentos Sociais Populares emergiram no contexto social e
político brasileiro com uma fantástica capacidade criativa, organizativa e mobilizadora, sendo
responsáveis por expressivas conquistas que garantem melhorias na qualidade de vida de amplos
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 15
setores sociais, afirmação de direitos e exercício da cidadania para um número cada vez maior de
agrupamentos humanos, construção de identidades coletivas e auto-estima pessoal e social de
setores e grupos historicamente discriminados ou oprimidos, intervenção nas políticas públicas,
modificando ou inibindo as seculares práticas assistencialistas e clientelistas, contribuindo assim
para mudanças em nível do poder local e da política tradicional. Tais conquistas são permeadas por
processos educativos, tanto dos participantes diretos de tais movimentos, quanto das pessoas e
grupos atingidos por sua ação, e da sociedade envolvente.
Portanto, estamos considerando movimentos sociais os agrupamentos de pessoas, geralmente das
classes populares ou de grupos minoritários (no sentido de destituídos de poder) e discriminados,
que agem coletivamente, com algum método, realizam parcerias e alianças, abrem diálogos e
negociações com interlocutores, como processos articulados para conquistas de direitos e exercício
da cidadania. Multiplicaram-se no Brasil durante a década de 80 e principalmente nos anos 90,
percebendo-se, no país, progressiva ampliação e diversificação de organizações populares, com
diversos modelos organizativos, formas de mobilização, bandeiras de luta, relações com mediadores
e interlocutores, processos de formação das lideranças populares.
Apesar de reconhecermos os riscos de qualquer tipologia, para efeito didático, apresentaremos a
seguir alguns agrupamentos dos principais movimentos sociais em atividades no país, reconhecendo
que esta é apenas uma aproximação metodológica e organizativa, não uma delimitação de fronteiras
rígidas entre os diversos tipos de movimentos existentes. Assim podemos destacar:
• Associativismo Comunitário – várias redes de Associações Comunitárias ou de Moradores,
Conselhos Populares, Sociedades de Amigos de Bairro, Associações Beneficentes,
Comunidades de Base, espalhadas pela maioria dos municípios brasileiros;
• Movimentos Criados em torno de Necessidades Coletivas – os que têm demonstrado maior
capacidade mobilizadora e organizativa no país, destacando-se os Movimentos de Luta pela
Moradia, os Movimentos Populares de Saúde, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST), responsáveis por importantes conquistas para as classes populares;
• Movimentos Criados em torno de Identidades Coletivas, ou para o enfrentamento de
discriminações específicas – como os de mulheres, de negros, de portadores de necessidades
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 16
especiais, de orientação sexual diferenciada, de idosos, que têm sido responsáveis pela
mudança de valores e comportamentos na sociedade brasileira;
• Movimentos Indígenas – que têm garantido a sobrevivência e a cultura dos primeiros
habitantes das terras brasileiras;
• Movimentos nascidos em torno de valores humanos e solidários de seus membros – como a
Pastoral da Criança, a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida (que não se
reconhece como um movimento, mas como uma ação articulada), e que têm tido uma
incidência extraordinária para melhorar a vida das pessoas;
• Movimentos de Juventude e de Crianças e Adolescentes – desde os tradicionais, como o
Movimento Estudantil e as Pastorais Juvenis, até os novos movimentos e expressões juvenis
das periferias urbanas, fortemente marcados pelas iniciativas culturais e comunitárias;
• Movimentos ligados ao mundo do trabalho, à produção e distribuição de renda – diversos
grupos que se articulam em torno da chamada “Economia Popular e Solidária”.
Consolidaram-se também, neste período, vários movimentos e organismos de inspiração religiosa,
pastorais sociais, bem como os Centros de Educação Popular e as Organizações Não-
Governamentais (ONGs). Nos últimos anos, tem crescido a articulação destes Movimentos,
Entidades, Pastorais, ONGs em torno de Redes, Fóruns e outras expressões de comunicação
permanente, com destaque para o Fórum Social Mundial, e os diversos Fóruns Sociais nascidos em
sua conseqüência.
Esta rápida apresentação, quase em forma telegráfica, do que existe atualmente de movimentos
organizados no país, quer valorizar o conjunto dos movimentos e organizações existentes, e evitar o
risco de separação entre os movimentos de reivindicação e os movimentos identitários, ou entre os
da sobrevivência e os da cidadania. Estamos optando por uma apresentação didática sucinta, pois
não concordamos com a dicotomia criada entre identidade e estratégia, ou entre existência e
cidadania. Consideramos que há um continuum ou uma articulação entre estas dimensões. Neste
sentido, consideramos importante a ação de tais movimentos, que vai desde a indicação de
representantes para participação nos Conselhos setoriais de proposição e gestão de políticas
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 17
públicas, nas Conferências de definição de políticas, as passeatas e ocupações de terras rurais e
urbanas, até as campanhas de amamentação, de uso do “soro caseiro”, da fabricação comunitária de
complemento alimentar de alto teor nutricional, ou outras pequenas iniciativas populares capazes de
ter incidência na diminuição da mortalidade infantil, ou seja, uma série de distintas iniciativas que
dialogam de forma diferenciada, mas complementar, com resultados para melhorar a qualidade de
vida das pessoas e o seu modo de vida.
O importante neste momento é registrar que, embora estas expressões organizativas mobilizem, a
cada vez, grupos específicos, levantem, a cada vez, bandeiras bem definidas, apresentem, a cada
vez, formas diversas de mobilização, elas têm conseguido consistência cada vez maior, construindo
teias de articulação às vezes invisíveis e redes de comunicação e solidariedade responsáveis por
importantes conquistas. Entre estas podemos destacar:
• Melhorias nas condições de existência e mesmo garantia de sobrevivência de expressivos
grupos populares no país. Muita gente tem acesso à terra para trabalhar, à casa para morar, à
água para beber e para a higiene doméstica, a serviços públicos de saúde, de educação, de
atendimento à criança, aos adolescente, aos idosos, aos portadores de deficiência, porque o
povo se mobilizou através de seus movimentos organizados;
• Auto-estima pessoal e solidariedade social – pessoas que passaram a se valorizar mais, a se
amar mais, a defender sua dignidade humana, a partir de sua participação em alguma forma
de organização popular;
• Consciência de direitos e exercício da cidadania – as descobertas tratadas no item anterior
contribuem para muitos grupos populares romperem os círculos de dominação, em que os
direitos são recebidos como dádivas do político de plantão, para perceber que o atendimento
de necessidades sociais básicas é um direito antes negado e agora reconquistado pela própria
luta popular;
• Mudanças no poder local e deslocamentos na política tradicional, como sinal do avanço do
exercício da cidadania e a afirmação de novos instrumentos de ação pública, reconhecidos
como democracia participativa – a participação em Conselhos de Gestão em políticas
públicas, eleição de parlamentares oriundos de processos e formação na luta popular,
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 18
constituição de grupos de produção ou grupos de “economia solidária”, campos ou situações
historicamente altamente controlados pelas elites locais, que passam a incorporar novos
atores, e a abrir novos campos de batalha.
3. Conceitos e categorias analíticas dos Movimentos Sociais
Destacamos, neste texto, a experiência dos Movimentos Sociais Populares, com todos o
significados anteriormente explicitados, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E o Fórum Social
Mundial (que não é composto só por Movimentos Sociais, mas tem importante participação destes)
é a expressão mais visível deste significado, e se incorpora como objeto de estudo das ciências
humanas e sociais, projetando-se, em seguida, como um novo paradigma, devido à grande
importância prática e analítica que atingiu, tanto na sua concepção empírico-analítica, quanto na sua
dimensão de categoria teórica.
Pelas razões apresentadas até aqui, em torno da concepção e das práticas dos movimentos sociais,
nossa perspectiva teórica assume um distanciamento dos esquemas utilitaristas e das teorias
baseadas na lógica racional. E, ao fazer o diálogo com a teoria dos novos movimentos sociais,
assumimos esquemas interpretativos, que enfatizam o cotidiano, a cultura, a ideologia, as lutas
sociais, a solidariedade entre pessoas e grupos, os processos de construção de identidades coletivas
e de vivências de subjetividades.
Os conceitos que pretendam captar a dinamicidade dos novos movimentos sociais precisam inovar,
rompendo com esquemas rigidamente predeterminados, priorizando dimensões mais da ação que de
estruturas, mais de movimento que de classe estruturalmente dada, mais de simbólico-cotidiano que
de racionalidade proletária. Daí que se reforça a necessidade da análise a partir das subjetividades e
identidades, bem como dos imaginários e dos sistemas simbólicos que permeiam suas práticas e
dinâmica de funcionamento.
Mas, se faz necessário enfatizar, a centralidade da ação social como ação política, portanto como
construção de força social-política, tem um valor em si mesma através do vínculo social, e um valor
universal, contribuindo para os processos de consolidação da democracia participativa.
A experiência brasileira, tanto na peculiaridade dos movimentos sociais, que têm em seu interior
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 19
forte hegemonia da parcela conhecida como movimentos populares (aquelas organizações e lutas
mais diretamente vinculadas às classes populares, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
– MST, o Movimento Nacional de Luta por Moradia – MNLM, o Movimento Popular de Saúde –
MOPS, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – MMTR), quanto no “ineditismo” de
experiência da democracia participativa 2 , reforça tal opção teórica e metodológica. Esta opção
incorpora outros conceitos ou categorias de análise, dentre os quais podemos destacar:
• Movimentos Sociais como expressão dos Conflitos na Sociedade – a parte mais visível destes
conflitos está em torno dos direitos de propriedade, uma vez que as lutas por terra, por moradia, por
água, enfrentam-se com a tradição de concentração das terras e das riquezas, tão fortemente
presentes na história brasileira. Mas também os conflitos de valores, como os presentes nas relações
de gênero, de raça, de gerações.
• Movimentos Sociais implicam Ações Coletivas – Trata-se de ações de grupos, Associações,
Comunidades, motivados por demandas sociais, situações de carências, ou por valores humanitários
e libertários, articulados em torno de um discurso, uma linguagem comum. As ações coletivas
tornam mais provável o atendimento das reivindicações, ou a afirmação dos valores.
• Afirmação de Identidades e Solidariedades - As pessoas participam de aspirações e sonhos
comuns, às vezes em busca de bens materiais imediatos e necessários à sua sobrevivência, às vezes
de bens simbólicos, mas igualmente necessários à manutenção da vida, e em torno destes bens
constroem identidades e vivenciam solidariedades.
• Relação dialética permanente entre Integração, Inclusão e Mudança Social – Se a grande
maioria das demandas dos movimentos sociais diz respeito à inclusão e à integração das pessoas ao
sistema, uma vez que o sucesso do próprio sistema, que cria a exclusão, demonstra a capacidade de
também incluir, e o processo de tal conquista tem criado as condições para mudanças e
transformação da ordem social existente, o que já é percebido em várias situações.
• As ações coletivas articulam Pluralismo e hegemonia – Embora os espaços coletivos sejam
ocupados e valorizados como o ambiente de todos, portanto da pluralidade de idéias, de opções
políticas, de credos religiosos, a existência da organização se configura também como espaços onde
se consolidam direções, se constroem decisões majoritárias, o que necessariamente apresenta os
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 20
movimentos como ambientes de disputas. Mas, para além das disputas internas, os movimentos
expressam disputas gerais que existem na sociedade, num exercício muitas vezes difícil de construir
acordos entre os seus participantes, e entre os diversos movimentos, para os enfrentamentos
externos, os conflitos estruturais presentes na sociedade e nas relações de poder e de propriedade.
Notas
1 Sociólogo e educador da Escola de Formação Quilombo dos Palmares – EQUIP, Recife- PE. Consultor dessa série. Texto escrito para o programa “Salto para o Futuro”.
2 Os argumentos em torno do “ineditismo da experiência brasileira” são apresentados por Rubens Pinto Lira, em: Textos de teoria política . João Pessoa, PB: UFPB/FUNAPE, 1989.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 21
PROGRAMA 2PROGRAMA 2
ASSOCIATIVISMO COMUNITÁRIO E LUTAS URBANAS
Relação estado e sociedade civil na construção dos Direitos Humanos
Francisco Mesquita de Oliveira 1
1. Características da constituição política e econômica do Estado brasileiro
Por construção política do Estado, entende-se o processo de concepção do Estado, que lhe deu
forma, expressão, jeito de agir e de se relacionar, em suma, a forma como ele foi configurado.
Nesse sentido, o Estado brasileiro, grosso modo, passou por duas grandes fases: o Estado imperial,
que fundou as primeiras bases políticas, econômicas e sociais da nossa sociedade, e o Estado
republicano.
- O Estado republicano brasileiro, no processo de constituição e consolidação, não assumiu as
diferentes contribuições dos variados grupos populacionais da sociedade; apenas as elites foram
contempladas nesse processo.- Até o início dos anos 30, do século XX, o Estado foi crivado pelas
práticas políticas das elites agrárias brasileiras, gerando uma cultura política patrimonialista (em
que o privado sobrepõe-se ao público), clientelista (com uma concepção de cidadão cliente), a
cultura do “jeitinho” (que permite “se dar bem na vida” àqueles que têm quem lhes abra caminhos),
em resumo, a cultura do que “é dando que se recebe”. Nesse período os conchavos, acordos e troca
de favores deram o tom na formação do Estado. Portanto, as práticas políticas das elites nortearam a
relação do Estado com a sociedade civil. E o clientelismo foi a base de todas as relações do Estado.
- Dos anos 30 aos anos 50, o Estado se moderniza na lógica capitalista moderna. Nasce a elite
urbana, que assume o processo de consolidação do Estado, sem, contudo, incorporar novos valores
e práticas culturais, mas apenas reproduzindo novos padrões da velha cultura política.- Nos anos 60
e até meados dos anos 80, período dos governos militares, o Estado rompeu todas as possibilidades
de relação com a sociedade civil. Vivemos o “período de chumbo”. Ou seja, intensa perseguição às
liberdades, atitudes e práticas políticas. - Na era de Redemocratização, com a Constituição de 1988,
e até os dias atuais, surgem novos elementos que reconfiguram o Estado, como a doutrina
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 22
neoliberal, a mundialização econômica, os efeitos da terceira revolução industrial (expansão
microeletrônica, as novas mídias, a internet – que tornam a realidade virtual). Mas, também, pela
primeira vez, aparece no cenário político uma sociedade civil forte e atuante. Pois bem, este
processo produziu um misto de cultura política, que orienta a relação do Estado com a sociedade
civil e, até hoje, essa relação se estabelece com base nos princípios corporativistas e práticas
clientelistas e na pouca disposição do Estado para romper com estes vícios.
2. Sociedade civil pós-anos 80 e sua relação com o Estado
- A disputa entre o Estado e a sociedade civil, que se acirra no chamado período de
“redemocratização”, ou seja, a partir dos anos 80, produziu avanços significativos na construção das
relações sociais e políticas que apontam para o fortalecimento da sociedade e para a melhor
definição do papel do Estado. Nesse processo, o tecido social brasileiro ganhou consistência e
impulsionou a constituição de parâmetros políticos para as novas relações entre o Estado e a
sociedade. - Cada vez mais se busca compreender as relações de dependência, de autonomia, de
complementaridade e de exclusão que se estabelecem entre esses dois sujeitos. Essas relações
produzem comportamentos políticos que contribuem, efetivamente, na construção política social do
tipo: (a) uma sociedade civil mais forte; (b) existência de espaços de disputa e de negociação de
políticas públicas; e (c) introdução de um novo modelo de relação entre o Estado e a sociedade – a
relação política em que o Estado convive com o papel crítico da sociedade e esta, por sua vez,
coopera com o Estado naquilo que a fortalece, de forma autônoma e independente. - A sociedade
civil é uma composição de sujeitos sociais formais e informais, heterogêneos, com diferentes graus
de organização, de interesses políticos e objetivos; é diferente das organizações do mercado, dos
órgãos públicos de Estado e dos partidos políticos. Nessa concepção, a sociedade civil é bastante
abrangente. A sociedade civil se diferencia do mercado, pela lógica econômica, financeira e
lucrativa deste. Em relação ao Estado, a diferença está no poder que ele tem de estabelecer regras
legais, de coagir e de tutelar os indivíduos na sociedade. E, por fim, em relação aos partidos
políticos, diferencia-se pelo seu objetivo principal de chegar ao poder político para exercer o
controle do Estado. - A sociedade civil contemporânea inclui um grande número de sujeitos sociais,
com práticas, objetivos, modalidades de atuação e projetos diferentes. A sociedade civil, à qual nos
referimos, é aquela que se constitui por movimentos, cujo elemento característico aglutinador é
exatamente o caráter de intervenção no processo de aumento da democratização do Estado, de
conquista de direitos políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais – direitos humanos, numa
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 23
concepção abrangente – que passa pela capacidade de negociação, diálogo, intercessão, mas sem
perda da identidade, da autonomia, da capacidade de crítica – uma concepção de sociedade civil
forte, coesa na sua diversidade, e ativa. - A relação do Estado com a sociedade, do ponto de vista de
uma relação democrática, aberta, transparente, verdadeira ou, ao contrário, autoritária, casuística,
dissimulada, de certa forma, está relacionada com as características de construção do Estado,
anteriormente apresentadas, e a cultura política tradicional. 3. Estado e Sociedade civil na promoção
dos direitos humanos - A concepção de direitos humanos com a qual trabalhamos é aquela, já
anteriormente explicitada, dos direitos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais,
incluindo o direito a ter direito. Trocando em miúdo, estes direitos dizem respeito às liberdades
políticas; à eqüidade de condições econômicas; à garantia e universalidade das políticas sociais; ao
direito ao lazer, à cultura, ao meio ambiente saudável, renovável e sustentável estendidos a todos os
homens e a todas as mulheres, independente de raça, crédulo e etnia. E que cada ser humano
reconheça e assuma seu direito de ter direito à vida digna. - Ao Estado cabe o dever de assegurar os
direitos de forma universal. No entanto, não é bem isto que, historicamente, acontece aqui no
Brasil: é comum a transgressão aos direitos humanos: milhares de pessoas vivem sem moradia,
embaixo de pontes, nas ruas, em favelas, nos locais onde ninguém mais quer viver (só na RMR do
Recife existem mais de 600 favelas), sem serviços de educação, de saúde, de segurança adequados.
- Não é fácil estabelecer parceria com o Estado que, historicamente, tem se esquivado de suas
responsabilidades na promoção dos direitos humanos (nessa concepção) de forma universal. - Mas
não se pode negar que por meio de várias ONGs e movimentos populares, a partir do fim da década
de 90, com a reforma do Estado promovida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, têm
crescido as parcerias entre Estado e sociedade civil em vários serviços de saúde, educação,
agricultura familiar, proteção a testemunhas de casos de violência e outras área de políticas sociais...
- Algumas dessas parcerias têm resultado no fortalecimento da identidade e da missão da
organização parceira, resguardando sua autonomia, independência o jeito próprio de realizar as
atividades.
- Mas, no geral, tem-se observado que em grande parte as parcerias têm sido mais uma transferência
de responsabilidade do Estado para a sociedade civil. É o Estado assumindo a lógica neoliberal de
desresponsabilizar-se dos serviços sociais (que tem tudo a ver com os direitos humanos),
repassando-os para o mercado e para a sociedade executar. Nessa concepção de parceria, as
organizações da sociedade civil não passam de meras executoras de serviços públicos. É a inversão
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 24
das lógicas: o Estado passa a ser fiscalizador e a sociedade executora de políticas.- Este tipo de
parceria não é benéfica às organizações sociais, porque as fragiliza, as submete às regras do Estado
e impede seu poder de criticidade. Não é parceria, é cooptação. Creio que é necessário explicitar
qual parceria se quer estabelecer com o Estado, pois a parceria que leva à cooptação e não ao
fortalecimento da identidade e da autonomia das organizações não deve interessar à sociedade civil
organizada. Nesse sentido, retomo o início desse texto: as características do patrimonialismo, do
clientelismo, da subserviência e da lógica do privado, preponderando sobre o coletivo, também
estão presentes na sociedade civil; por isto, a parceria em prol da exigibilidade de direitos e da
efetivação dos direitos humanos é também uma possibilidade de se construir novos valores culturais
para a sociedade e para o Estado.
Bibliografia
AGUILAR, Maria José; ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de serviços e programas sociais. Tradução Jaime A. Clasen e Lúcia Mathilde E. Orth. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 15-58, 87-134.
ALVAREZ, Sonia E.; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo. O cultural e o político nos movimentos sociais latino-americanos. In: ALVAREZ, Sonia E.; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo (orgs.). Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: UFMG, 2000. Cap. 1, p. 15-57.
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 9-23.
ANTONIA, Maria A. de Andrade. Cultura política, identidade e representações sociais. Recife: Masangana, 1999. p. 17-69.
ARMANI, Domingos. A dinâmica dos atores sociais no Brasil. Porto Alegre: [s.n.], 2000. Mimeografado.
AVRITZER, Leonardo. O orçamento participativo: as experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte. In: DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaço público no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. Cap. 2, p. 17-45.
BARRETO, Maria Inês. As organizações sociais na reforma do Estado brasileiro. In: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunill (orgs.). O público não-estatal na reforma do Estado. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. Cap. 4, p. 107-150.
BATISTA, Maria da Conceição Araújo. A relação governo e sociedade na gestão da política pública de esporte e lazer no governo do Estado: gestão 1999-2001: analisando o projeto “Idosos em Movimento”. 2002. 182 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002.
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular. 3. ed. São Paulo: Ática, 2002. p. 24-48, 56-79, 193-199. (Ensaios, 136).
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 25
BORON, Atílio A. Os “novos leviatãs” e a polis democrática: neoliberalismo, decomposição estatal e decadência da democracia na América Latina. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-neoliberalismo II: que estado para que democracia? 2. ed. Petrópolis: Vozes: Clacso, 2000. p. 7-67.
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Apresenta dados sobre as eleições 2000. Disponível em: <http://www.tse.gov.br>.BUARQUE, Cristovam. A missão do PT e de seus governos. In: MAGALHÃES, Inês; BARRETO, Luiz; TREVAS, Vicente (orgs.). Governo e cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999. p. 46-50.
CARDOSO, Fernando Henrique. Consenso de Washington x Aparthaid social. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 jul. 1994. Caderno Mais, p. 3.
COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 108-136.COMBLIN, José. O neoliberalismo: ideologia dominante na virada do século. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 9-187. (Coleção Teologia e Libertação, Série VI - Desafios da Cultura).
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. In: DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: UNICAMP: Paz e Terra, 2002. cap. 1, p. 9-15.
______. Sociedade civil, espaços públicos e a construção. In: DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade Civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: UNICAMP: Paz e Terra, 2002. Cap. 8, p. 279-301.
______. et al. Sociedade civil e democracia: reflexos sobre a realidade brasileira. IDÉIAS-Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, ano 5(2) /6(1), p. 13-42, 1998/1999.
______. Cultura, cidadania e democracia: a transformação dos discursos e práticas na esquerda latino-americana. In: ALVAREZ, Sonia E.; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo (orgs.). Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: UFMG, 2000. cap. 2, p. 61-102.
Nota
1 - Francisco Mesquita de Oliveira - Licenciado em História, mestre em Ciência Política (UFPE), Professor da Faculdade de Pernambuco - FAPE e Educador na Federação de Órgãos Para Assistência Social e Educacional - FASE - Pernambuco.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 26
PROGRAMA 3PROGRAMA 3
IDENTIDADES E SOLIDARIEDADES
Educação popular e movimentos de mulheres
Carmen Silvia Maria da Silva 1
Tem muita gente espalhada por este Brasil afora fazendo coisas para mudar o mundo e uma boa
parte mantém a Educação Popular como fontes de inspiração e de aprendizagem contínuas. Mas
quem são estas pessoas? Por que insistem em desenvolver ações referidas à educação popular?
Onde trabalham? O que fazem? São homens e mulheres, educadores e educadoras populares, que
seguem acreditando numa perspectiva de transformação social a partir da luta dos empobrecidos,
discriminados, violentados, daqueles que são excluídos dos processos decisórios e do direito à
expressão. Educadores e educadoras populares, engajados em entidades de movimentos sociais,
organizações não-governamentais, pastorais e serviços eclesiais, universidades e sindicatos, que
continuam fazendo o mundo mudar, ajudando a desenvolver consciência crítica e solidária, a
organizar grupos que manifestam seus interesses e constroem direitos. Homens e mulheres que
trabalham acompanhando os esforços de atuação articulada dos movimentos em redes, as
intervenções junto aos poderes públicos, a organização de novas formas econômicas e a
participação política. São pessoas para as quais a democracia, a justiça e a ética são ideais de vida
manifestos na conflitiva experiência cotidiana.
Educação Popular é vista aqui como uma concepção pedagógica, mais precisamente um ideário
educacional que alimenta um conjunto de práticas sociais, marcadas fortemente pela dialogicidade e
pela perspectiva de formação de sujeitos autônomos, críticos e criativos, que se mobilizam pela
transformação social. Nascida das idéias de Paulo Freire, a educação popular inspirou-se nas
experiências revolucionárias latino-americanas e na experiência de formação dos novos
movimentos sociais no período da redemocratização, ao final da ditadura militar no Brasil. Neste
processo, constituiu-se como um ideário ético, político e educacional, que congrega valores e
problemas decorrentes deste processo histórico.
A redemocratização da sociedade brasileira foi alimentada, a partir de meados da década de 70, com
o aparecimento na cena política de manifestações públicas em torno de interesses comuns,
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 27
protagonizadas tanto por pequenos agrupamentos como por articulações de grupos que exigiam o
direito a ter direitos . No início daquele período, o Brasil vivia sob a ditadura militar, que bloqueava
qualquer processo reivindicatório ou de expressão de descontentamento. O fortalecimento desses
movimentos sociais colocou, na agenda política, novas temáticas, instituindo novos direitos e
impondo uma alteração na relação entre Estado e sociedade civil.
Manifestações contra a carestia; em defesa da anistia aos presos e exilados políticos; as greves
salariais; as passeatas por acesso à saúde, à educação, ao transporte coletivo; o movimento pela
cultura negra; os grupos de arte na rua; os grupos de mulheres se afirmando como cidadãs, donas do
seu próprio corpo – todos estes movimentos, entre outros, levaram às ruas milhares de pessoas que
se percebiam com força para alterar o rumo da história. Mas quem são essas pessoas? Por que, de
repente, foram às ruas? Eram, em grande número, componentes de uma rede invisível de pequenos
grupos de bairros periféricos, de escolas e universidades, de trabalho, teatros, igrejas e bares, que
faziam resistência cotidiana às formas de dominação e participavam de pequenas lutas por melhores
condições de vida, pelo direito à participação, por alterações culturais ou pela garantia da liberdade
de ter um estilo de vida particular.
As organizações criadas nesse contexto geraram novos espaços de manifestação de interesses e de
expressão de um discurso próprio, brotado das próprias lutas sociais nas quais os participantes
elaboraram suas representações dos acontecimentos e de si mesmos, mas também sob influência de
outras instituições. Ressignificaram antigas palavras; articularam-se em projetos, em cujo processo
passaram a construir suas identidades, com a afirmação como sujeitos políticos coletivos, “não
como atores desempenhando papéis prefixados, mas como sujeitos criando a própria cena através da
sua própria ação”, como afirmou Sader.
A Educação Popular, à época, foi uma presença forte nessas organizações de grupos, expressa nas
experiências de alfabetização de adultos, acompanhamento sistemático a grupos populares,
formação política e sindical, entre outras. As idéias de Paulo Freire, que articulavam ação cultural e
prática política, mesclaram-se a outros fundamentos destes novos movimentos sociais, para dar
vigor ao debate sobre autonomia dos sujeitos, processos de transformação, democracia e
organização de base, igualdade de direitos e construção de novos direitos.
Muitos grupos feministas que surgiram neste período conseguiram, na prática, articular elementos
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 28
da pedagogia freireana com dinâmicas de potencialização grupal originárias da psicologia e
desenvolveram técnicas e recursos próprios para fazer educação com grupos de mulheres. Esta
perspectiva pedagógica se fundamenta nos princípios feministas voltados para autonomia das
mulheres e para sua constituição enquanto sujeitos políticos, que falam por si mesmos no espaço
público e que lutam por seus direitos. Desta confluência surgiram vários elementos pedagógicos
próprios, que se baseiam na idéia da formação integral da pessoa, na dimensão da corporeidade, na
construção de identidade coletiva e com a necessária atuação política dos grupos de mulheres.
No processo de redemocratização, e identificadas com a defesa e construção de direitos, as
organizações de movimentos sociais foram capazes de fomentar um amplo processo mobilizatório
de participação popular na elaboração da Constituição Federal de 1988 – um marco à saída do
regime autoritário. A partir da nova Carta e de suas leis complementares, ampliou-se a possibilidade
de negociação de interesses entre os movimentos sociais e os governos, através dos conselhos de
gestão de políticas públicas, com todas as conquistas e os problemas daí decorrentes.
Articulações, formação política e intervenções sociais, vividas intensamente por esses movimentos,
geraram um conjunto de organizações com incidência política, que se expressa na presença pública
nacional, capacidade de formulação e atuação no espaço público, a partir de seus interesses
específicos, mas em alguns momentos em causas comuns, capazes de mobilizar todo o campo
político dos que lutam pela transformação da realidade. Esta nova teia organizativa colocou novos
desafios à Educação Popular como referencial do trabalho social. Por um lado, porque as
referências ao ‘popular' e à ‘base' não são mais suficientes como explicação do fenômeno em curso,
exigindo, portanto, uma profunda reflexão teórica fincada na prática social destes novos
movimentos. Por outro lado, frente a especificidades e diferenciações de intervenção, várias
organizações desenvolveram metodologias próprias, adequadas ao seu público e às suas proposições
teórico-práticas, a exemplo da pedagogia feminista, da educação social na rua, educação popular
junto ao público rural ou à juventude, ainda que, em grande parte, alicerçadas no ideário da
Educação Popular.
Mas, afinal, o que é Educação Popular? Na historiografia da educação, pouco é dito sobre este tema.
Ele está mais presente no universo da reflexão própria dos movimentos sociais, e para alguns
estudiosos isto seria mais um assunto de Sociologia dos Movimentos Populares do que
propriamente de Educação; para outros, seria fundamentalmente a produção de Paulo Freire e suas
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 29
derivações, que teriam demarcado uma curta experiência. Há quem a interprete como um fenômeno
situado no início da década de 60, com os círculos de cultura e alfabetização de adultos, e
ressurgido na década de 70, associado à ação comunitária e, ainda, estudiosos que, à luz da história
da educação, consideram-na o objeto da luta pela disseminação massiva da Educação.
Nesta última perspectiva, a Educação Popular teria sido forte com as escolas anarquistas, no início
do século passado, seguida da luta pela escola pública mobilizada pelos “pioneiros”, e teria tido
força associada à cultura popular na década de 60, expressando-se em seguida com a educação dos
movimentos populares, e hoje estaria dando base às propostas de políticas educacionais de alguns
governos democrático-populares, ou de iniciativas no interior de algumas escolas ou programas
como MOVA – Movimento de Alfabetização de Adultos e EJA – Educação de Jovens e Adultos.
No nosso entendimento, a Educação Popular pode ser tudo isso e um pouco mais. Muitas vezes, nos
relatórios de Congressos e Seminários, que reúnem quem faz educação popular, ela aparece como
um movimento de educadores/as, não como uma organização, mas como um pertencimento a uma
comunidade de sentido que tenta manter vivos um ideário construído e um jeito de fazer educação.
O fato é que nos processos de organização e luta dos movimentos sociais, assessorados ou não por
agentes externos, as pessoas compartilham saberes, enfrentam novos desafios de aprendizagem,
elaboram alternativas, isto é, se educam politicamente, o que expressa o caráter educativo dos
movimentos.
É um fato que a participação política, em si, é educativa, mas isso não nega os esforços de várias
organizações em ações pedagógicas específicas para formação das pessoas que as integram,
formuladas como “políticas de formação”, em cujo processo se estabelecem objetivos, linhas de
trabalho, estrutura própria, metodologia e um entendimento comum dos princípios que devem
nortear tais ações, programadas em cursos, seminários e/ou outros processos formativos no interior
destes movimentos, a exemplo da política de formação da CUT – Central Única dos Trabalhadores,
que possui um conjunto de escolas de formação sindical, e de outros movimentos nacionalmente
organizadas como o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MNMMR –
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.
Tais políticas, tomadas como objeto de pesquisa, ainda são pouco discutidas no campo teórico da
Educação Popular, assim como as experiências “de segunda ordem”, aquelas que são desenvolvidas
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 30
por entidades do estilo escolas/centros de formação de educadores/as populares e/ou de militantes
de movimentos sociais, para que estes trabalhem na organização e formação junto aos grupos
populares, a exemplo da experiência das ONGs, como a Escola de Formação Quilombo dos
Palmares. Há ainda aquelas experiências, das quais já falamos, que são desenvolvidas por
organizações da sociedade civil que se vinculam a movimentos sociais, como as ONGs feministas.
Estas organizações esboçaram uma metodologia própria, que articulou elementos da educação
popular com as ênfases específicas deste movimento relativas à formação da pessoa, ao
conhecimento do corpo, à fala pública, entre outras coisas, visando ao fortalecimento da mulher
como sujeito político.
Para algumas pessoas, a especificidade da Educação Popular se vincula apenas a interesses de
classe – no caso, a classe trabalhadora, entendida como o sujeito da transformação social. Para
outros, com os quais concordamos, a transformação social é toda uma construção de caráter
multifacetado, que incorpora a atuação de diversos sujeitos políticos coletivos explorados
economicamente e oprimidos política e culturalmente no atual estágio da sociedade. Portanto,
Educação Popular objetiva contribuir com a transformação, tanto no âmbito do sistema político-
econômico, como no âmbito da cultura e da política, no sentido da humanização e da construção de
relações democráticas entre os seres humanos e no interior das organizações. Isso implica que a
Educação Popular deveria constituir espaços de reflexão sobre as diversas faces da dominação,
incluindo fortemente a dominação de gênero, já que, historicamente, às mulheres é conferido menor
valor e menos poder que aos homens, no modo de organização social em que vivemos e que
queremos transformar.
A partir da matriz freireana, ramificaram-se diversos modos de fazer educação de movimentos
sociais, fincados na realidade e nas realizações de diversos educadores e educadoras, participantes
ativos dos movimentos sociais ou militantes de outros espaços educacionais, para quem a educação
popular não estava dando respostas, práticas e teóricas, suficientes. Assim é que vemos a concepção
metodológica dialética 2, metodologia feminista 3, a pedagogia social de rua 4, a formação em
direitos humanos 5, propostas de formação rural 6, metodologia do trabalho popular 7, metodologia
cutista 8, entre outras. Para algumas pessoas, todo este campo pedagógico poderia ser visto como o
campo da educação popular; para nós a educação popular foi a fonte, mas estas vertentes todas
tiveram desenvolvimento próprio, umas mais outras menos, a partir da perspectiva teórico-política
do movimento social ao qual cada uma delas se vincula.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 31
Beber na fonte da Educação Popular significa colocar-se na perspectiva da transformação social,
contribuir para a constituição de sujeitos políticos, posicionar-se na sociedade no pólo daqueles que
lutam contra toda forma de opressão e exploração, o que pode ser feito em qualquer espaço
educativo. Significa também reconhecer que esta transformação não será resultante apenas de um
processo específico ou da ação de um sujeito social, e sim, necessariamente, da ação estratégica de
uma multiplicidade de sujeitos políticos coletivos, que interagem uns com os outros a partir das
suas próprias identidades, gerando novos direitos 9 , mas também a partir de sua unidade identitária
construída, momentaneamente, com base no sentido de pertencimento ao campo político daqueles
que lutam.
Notas
1 Educadora do SOS – Corpo – Instituto Feminista pela Democracia (PE), e Mestre em Políticas Públicas.
2 Leis, Raul. O Arco e a Flecha. Anotações sobre a metodologia e prática da transformação . Trad.:Maria Viviana Resende. Recife, EQUIP, 1993.
3 Portella, Ana Paula e Gouveia, Taciana. Idéias e Dinâmicas para Trabalhar com Gênero . Metodologia SOS CORPO. Recife, 1995.
4 Graciani, Maria Stela Santos. Pedagogia Social de Rua . São Paulo, Editora Cortez e Instituto Paulo Freire, 1997. Ver também Paulo Freire e Educadores de Rua - uma abordagem crítica . Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua. UNICEF, SAS, FUNABEM, 1987.
5 Candau, Vera Maria et alli. Oficinas Pedagógicas de Direitos Humanos . Petrópolis, Vozes, 1995.
6 FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa. Coragem de Educar – uma proposta para educação no meio rural . Petrópolis, Vozes, 1994.
7 Peloso, Ranulfo et alli. Saberes e Olhares. A formação e a educação popular na comissão Pastoral da Terra . São Paulo, Loyola, 2002.
8 Revista Forma e Conteúdo nº 1. São Paulo, Secretaria Nacional de Formação da CUT, 1990.
9 Dagnino, Evelina. Anos 90: Política e Sociedade no Brasil . São Paulo, Brasiliense, 1994.
10 Freire, Paulo. Pedagogia da Indignação – Cartas Pedagógicas e Outros Escritos. São Paulo, Edições UNESP, 2000.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 32
PROGRAMA 4PROGRAMA 4
CULTURAS JUVENISCULTURAS JUVENIS
Movimentos juvenis: mudanças e esperanças
Nerize Laurentino Ramos 1 Paulo Afonso Barbosa de Brito 2
1. Apresentação
Na última década, as juventudes reconquistaram espetacular posição na agenda social e política do
Brasil. Entidades juvenis locais e nacionais, organizações não-governamentais, Governos
Municipais, Estaduais e Federal, parlamentares e igrejas, voltaram a pautar atenção e a estimular
iniciativas destinadas às juventudes.
Cotidianamente, jovens aparecem nas manchetes de quase todos os grandes jornais impressos do
país, nos noticiários radiofônicos e televisivos, normalmente vinculando-se a ações de rebeldia e
violência, à relação com galeras e com o narcotráfico, quase sempre como vítimas de tais ações e,
muitas vezes, como promotores.
Mas as juventudes voltaram para a agenda nacional também pela sua fantástica capacidade de
provocar mobilizações, de tomar iniciativas criativas e inovadoras, desde as tradicionais
movimentações estudantis, às novas formas de expressões culturais das juventudes das periferias
urbanas, das pastorais juvenis, das iniciativas no meio rural, tecendo uma articulação de ações, que
tem, na expressão do protagonismo juvenil, uma síntese tradutora e articuladora.
2. De quais juventudes estamos falando?
Desde o princípio, estamos falando de juventudes no plural, para deixar claro que existe uma a
diversidade em torno destes sujeitos sociais. Muitas vezes, as diferenças são grandes, entre as quais
podemos destacar:
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 33
• as idades, que vão de 14 ou 15 anos, até 25 ou 26 anos; embora não consideremos a faixa etária
como único critério definidor das juventudes, este é um importante elemento a ser considerado;
• as classes sociais de onde se originam e convivem, incluindo aí também os lugares onde moram,
trabalham, se divertem, estudam, como as periferias urbanas, o meio rural, as pequenas cidades do
interior, os bairros centrais das grandes cidades;
• as relações de gênero e de orientação sexual, bem como de raça ou etnia, que trazem cargas
culturais, marcas de preconceitos, discriminações, mas também de afirmações de identidades
importantíssimas.
Quando destacamos estas diferenças, não negamos que possam existir também semelhanças, como
as transformações experimentadas no próprio corpo, as novas sensações e emoções, os desejos
vivenciados, o crescimento dos seios e a menstruação, nas meninas, as carícias diversas, a
masturbação, os impulsos e desejos que afloram e que os jovens e as jovens sentem sem perceber
exatamente de onde vêm. Claro que tudo isso deve ser percebido dentro do contexto social e
cultural em que estão inseridos(as), pois, embora a sexualidade faça parte do desenvolvimento
individual da pessoa humana, quem dita a forma da sexualidade e dos comportamentos, em grande
medida, são os valores morais e culturais da sociedade. Nesse sentido, as juventudes também têm
dado grande contribuição para mudanças de tais valores e comportamentos.
Destacamos também, como elementos caracterizadores das juventudes, as diversas opções e estilos
de vida. Neste sentido, devem ser consideradas as multidões de jovens que, em nosso tempo, lotam
os estádios de futebol, se empolgam nos shows de rock, de hip-hop, de forró. Mas também devem
ser considerados os grupos, muitas vezes minoritários, que se entusiasmam pela participação em
entidades juvenis e/ou estudantis, os diversos grupos culturais, de dança, de capoeira, de teatro, de
música, de expressões religiosas, de projetos desenvolvidos por ONGs. E as juventudes que fazem
parte de diversos movimentos sociais populares, como a luta pela moradia, o Movimento dos Sem
Terra, de Meninos e Meninas de Rua, de Associações Comunitárias, de negros(as), de
homossexuais, de mulheres. E, ainda, as juventudes militantes dos partidos políticos. Diversas
juventudes que, a partir de sua participação social, religiosa, política, alimentam sonhos de mudar o
mundo, as relações, os valores.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 34
3. Uma herança histórica espetacular
A história brasileira e, especialmente, os movimentos sociais, são profundamente marcados pela
presença das juventudes. Durante todo o período colonial (Zumbi dos Palmares e Acotierene,
líderes do Quilombo dos Palmares, iniciaram sua atuação ainda na juventude), no Império e na
República, a presença de jovens nos grandes acontecimentos sociais e políticos se destaca como
uma marca significativa. Com isto, não estamos querendo afirmar que as juventudes são, pela
natureza de sua condição, contestatórias e mobilizadoras. Temos consciência de que todos os
valores, comportamentos e posições políticas e ideológicas, presentes no conjunto da sociedade, se
difundem também entre os jovens, mas a análise da realidade demonstra maior abertura, neste
período da vida, para o novo, para novas descobertas e experiências. Podemos, assim, recuperar
momentos significativos da história do país e das organizações juvenis.
A partir da segunda metade do século passado, setores das juventudes passam a intervir como
sujeitos sociais coletivos, com maior visibilidade na cena política e social nacional. No primeiro
período, entre os anos 50 e 70, a expressão mais forte desta intervenção foi o Movimento
Estudantil, sobretudo o Universitário. Na década de 50, tal movimento experimentava o embate
político entre grupos que controlavam a UNE (União Nacional dos Estudantes), os
udenistas/liberais e os grupos de esquerda, reunidos em torno do Partido Comunista. Este foi um
período de grandes campanhas nacionalistas, como “O Petróleo é Nosso”. Em seguida (anos 60), a
força maior da UNE passa para novos agrupamentos, reunidos em torno de lideranças vindas da
Juventude Universidade Católica (JUC), e sua expressão especificamente política, a Ação Popular
(AP). Neste período, houve um maior estreitamento da relação do Movimento Estudantil com os
setores, organizações e lutas populares.
Com menor visibilidade expandiram-se, também neste período, os Grêmios Estudantis e os Centros
Estudantis dos Secundaristas.
Nesta mesma época, desenvolvem-se as Juventudes Católicas, nas suas muitas ramificações: JAC
(Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude Estudantil Católica), JIC (Juventude Independente
Católica), JOC (Juventude Operária Católica), JUC (Juventude Universitária Católica). No
ambiente universitário, a militância Jucista caminharia em direção à radicalização da sua
participação, desembocando na Ação Popular.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 35
Animados pelo método Ver-Julgar-Agir, estas organizações eram reconhecidas pela leitura
qualificada da realidade sócio-política-econômica, pela capacidade de analisá-la e de realizar ações
concretas para transformá-la. Tal método valorizou a organicidade dos movimentos e as
mobilizações para mudar o meio. Os grupos que foram radicalizando tal opção passaram a diminuir
seu interesse pelas discussões recreativas e eclesiais e dedicaram-se mais às grandes temáticas
sociais. A forte presença da hierarquia da Igreja Católica sobre estes movimentos impôs vários
mecanismos disciplinares, reduzindo sua capacidade de intervenção e dissolvendo algumas de suas
organizações.
Os movimentos evangélicos e ecumênicos de juventude ganharam força e expressão também nos
anos 60. A partir de uma experiência de articulação e reflexão sócio-política, jovens evangélicos
enfrentaram com vigor o debate por uma América Latina livre, contribuição fundamental à
formulação de um pensamento teológico brasileiro e latino-americano.
O Movimento Estudantil (ME) assiste, a partir de 1964, suas organizações sendo perseguidas,
enfrenta a repressão e forçosamente envia muitos dos seus líderes para a clandestinidade. Em março
de 1968, os estudantes preparavam uma grande manifestação: armavam faixas e bandeiras. A
polícia chegou, invadiu o recinto atirando. O estudante Edson Luís de Lima e Souto foi atingido e
morreu. Sua morte marcou o reinício das manifestações estudantis, com ampla participação popular,
até o endurecimento maior da ditadura. O destaque deste período foi a realização da passeata dos
cem mil no Rio de Janeiro, e atividades semelhantes realizadas em várias cidades, como Natal,
Recife, Goiânia. O Ato Institucional n.º 5, de 13 de dezembro de 1968, retirou completamente dos
brasileiros todas as garantias individuais, públicas e privadas, o que representou um maior nível de
repressão do regime militar, empurrando muitos jovens para grupos guerrilheiros urbanos e rurais.
Mas muitos outros buscaram novas formas de ação política e social.
Na década de 70, multiplica-se a criação de grupos de jovens, em geral vinculados a comunidades e
paróquias. Fala-se que entre 10 e 30% de jovens de algumas cidades brasileiras foram alcançados
por estes grupos, seja participando diretamente de sua vida interna, seja freqüentando algumas de
suas atividades. São grupos com forte apelo emocional, intimista, e orientação voltada ao
tratamento de dimensões individuais: o egoísmo, as amizades, a conversão, a renúncia. As ações
estavam ligadas ora à vida eclesial, ora à ajuda mútua e à assistência aos mais pobres.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 36
É somente a partir de meados dos anos 70 que ressurgem, ainda discretamente, as primeiras
manifestações estudantis/juvenis e cidadãs. Mobilizações que vão ganhando vulto e tomando conta
do país – luta pela anistia e pela reconstrução da União Nacional dos Estudantes – UNE (1978-79),
campanha pelas Diretas (1984-85), processo de formação da Constituinte, que culminou com a
elaboração da nova Constituição (1988) e o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo.
4. Movimentos e expressões juvenis da atualidade
De maneira diferente das iniciativas que mobilizaram os jovens militantes da década de 60, os
jovens atuais buscam novas formas de aglutinação, participação e expressão. A nova geração não
parece concentrar suas preocupações em mudar o mundo, pelo menos nos moldes da geração
anterior; suas preocupações se dirigem para lutas imediatas, buscando sentir o prazer de cada
conquista. É a geração que alimenta suas expectativas no meio de sucessivas desilusões da
apregoada transição democrática, geração que desconhece o exílio, a perseguição, a participação
clandestina, a morte por motivos políticos.
Mesmo assim, neste período, percebe-se que, pelo menos em momentos, a rebeldia, a criatividade, a
espontaneidade voltam às ruas e expressam sua irreverência e combatividade. Foi assim em 1992,
com a experiência dos “Caras Pintadas”, atores centrais na campanha realizada contra o Governo de
Fernando Collor, que resultou no impeachment do presidente corrupto. Essa campanha levou para
as ruas das principais cidades brasileiras milhares de jovens esbanjando energias, alegres, eufóricos,
cheios de esperanças na força da sua geração. Iniciaram suas manifestações com cerca de 300 a 400
estudantes, foram crescendo, ganhando a adesão de outros segmentos sociais e políticos, até chegar
a mobilizações de dois milhões de pessoas em São Paulo, em agosto de 1992.
Depois disto, as principais expressões juvenis se deslocam para fora das universidades e o
Movimento Estudantil perde a centralidade das mobilizações juvenis.
Hoje, são redes de diferentes grupos, dispersos, esporádicos, permanentes ou transitórios que se
encontram em vários ambientes para resolver problemas específicos, que herdam o sentimento de
justiça das gerações anteriores: duvidam, buscam, questionam, afirmam, contestam.
Muitos grupos e/ou organizações se reúnem em torno das manifestações culturais: da música
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 37
popular, hip-hop, rock, reggae, folclore; das pastorais ou movimentos juvenis eclesiais; das
juventudes partidárias, das organizações de bairros e sindicais. Sentem-se convocados também
pelos temas: meio ambiente, ecologia, sexualidade, entre outros. É também freqüente a valorização
do lado gratuito das relações, das emoções, dos afetos.
O estilo hip-hop tem se revelado como uma das principais expressões organizativas, articuladoras e
mobilizadoras das juventudes da atualidade, através do encontro do break, rap, grafite, combinando
a dança de movimentos complicados, que exige muito treinamento e vitalidade (break), a dimensão
musical do rap, caracterizada pelo jeito falado de cantar, cujas letras são sempre carregadas de
denúncias das injustiças sociais, e o grafite, como um estilo de pinturas e desenhos em muros e
grandes paredes, utilizando latas de spray de tinta, resultando em belas obras artísticas.
Os grupos de teatro popular, de danças, de capoeira, os diversos projetos que agrupam jovens a
partir de iniciativas de ONGs, a diversidade de agrupamentos de jovens em torno da vivência
espiritual e religiosa, as várias iniciativas de ação coletiva de estudantes em escolas públicas e
privadas, as expressões específicas de jovens no interior das organizações e movimentos sociais,
como do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e de outras entidades de camponeses, das
mulheres, da moradia popular, dos negros, dos homossexuais, das organizações de bairros, das
entidades estudantis, dos Partidos Políticos, todos esses projetos, movimentos e ações demonstram
que uma nova esperança está se realizando.
Não se pode afirmar que as atuais formas de organização e mobilização são menos politizadas do
que as do passado, mas que a forma de fazer política atualmente, bem como o contexto sócio-
político, são bastante distintos. Neste sentido, as recentes articulações em torno da participação
juvenil nas políticas públicas, transformando situações de necessidades, iniciativas particulares e
localizadas, em políticas universais – inclusive criando instrumentos de ação política, para a
realização de tais ações, como as Conferências de políticas para as juventudes, e os Conselhos
Municipais e Estaduais com representação dos governos e dos vários segmentos sociais que
representam e/ou trabalham com jovens – são exemplos claros desta afirmação.
5. Novos desafios e esperanças
Sem uma pretensão conclusiva, destacamos como os batuques, sons, imagens, movimentos,
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 38
atitudes, mobilizações várias, que descem e sobem ladeiras de altos e morros de nossas cidades,
percorrem córregos e alagados, apertam-se nos ônibus suburbanos, acotovelam-se nas festas
populares, apresentam-se em praças públicas, são sinalizadores das novas formas de expressão das
juventudes.
Mas também o silêncio, a reflexão tranqüila, ou mesmo os debates acalorados nos congressos
estudantis, ou nos Festivais de Juventudes, tornam-se expressões das atuais formas de ação dos
movimentos juvenis, as disputas pela condução política das lutas, ou o empenho pela afirmação de
novos valores humanos, fraternos, solidários, são sinais de mudanças, mas também de esperanças,
para a continuidade e o avanço dos mais sinceros e comprometidos sonhos de justiça e liberdade de
nossas juventudes.
Bibliografia
ABRAMO, Helena Wendel. Cenas Juvenis – Punks e Darks no espetáculo urbano. Editora Página Aberta Ltda.
ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA PARAÍBA – Atas e Relatórios.
BORAN, Jorge. O futuro tem nome: Juventude. São Paulo, editora Paulinas.
NOVAES, Regina Célia Reis. Juventudes Cariocas: mediação, conflitos e encontros culturais. Texto mimeografado.
REVISTA TEMPO E PRESENÇA, nº 262. Publicação do Centro Ecumênico de Documentação e Informação.
SIRKIS, Alfredo. Os Carbonários. São Paulo, Global Editora.
SPOSITO, Marília. A sociabilidade juvenil e a rua: novos conflitos e ação coletiva juvenil na cidade. Revista Tempo Social nº 5 – Revista de Sociologia da USP.
Notas
1 Socióloga e professora da Universidade Estadual da Paraíba.
2 Sociólogo e educador da Escola de Formação Quilombo dos Palmares. Consultor dessa série.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 39
PROGRAMA 5PROGRAMA 5
REDES E FÓRUNS SOCIAISREDES E FÓRUNS SOCIAIS
O Movimento das Redes e as Redes de Movimentos
Carmen Silvia Maria da Silva 1 Luciene Mesquita (Mana) 2
Quem assistiu ao filme “A Rede”, com certeza, sofreu um impacto com aquela visão de futuro tão
tenebrosa. Uma pessoa tem toda a sua vida completamente atrapalhada porque, legalmente, ela
deixa de existir. Todas as informações sobre sua vida cidadã, que foram absorvidas pelos mais
diversos computadores, podem ser deletadas ou re-adicionadas com alguns poucos comandos. Tudo
está interligado na rede. Em conseqüência, tudo é muito frágil. Esta imagem é bastante catastrófica
sobre o que pode vir a ser o mundo do futuro, interconectado em rede eletrônica, embora já
tenhamos tido indícios de coisas semelhantes acontecendo no sistema bancário.
Ao contrário disso, durante a recente campanha eleitoral para a Presidência da República, quem
apoiava a candidatura do nosso atual presidente viveu uma situação bem prazerosa: a sensação de
pertencimento a um grande grupo, formado por pessoas conhecidas e desconhecidas, que tinham
um mesmo objetivo. Entrar no supermercado e cruzar com alguém que sorri para você com uma
estrela no peito, encostar-se ao balcão da padaria e ser cumprimentado(a) porque tem o adesivo
colado na roupa, participar de uma caminhada de 200 mil, como a que aconteceu em Recife, e sentir
toda a vibração de milhares de pessoas com as quais você se liga a partir da vontade de mudar o
Brasil. Esta é outra forma de entender Redes, como vínculos que se criam entre as pessoas a partir
de símbolos de identificação e de relações de sociabilidade bastante leves, sem estabilidade, mas
nas quais não se percebe uma hierarquia, e sim uma identidade predominante entre os membros.
A mídia nos traz, constantemente, informações acerca de outras formas de organização em rede no
mundo da violência, do crime organizado, do narcotráfico, do terrorismo, que invadem a nossa casa
todos os dias, nos afrontam, violam os nossos direitos de cidadania. Fontes diz que “podemos
pensar em redes a partir de indivíduos, as chamadas redes egocentradas; também podemos pensar
em redes a partir das instituições, as chamadas redes organizacionais, as redes dos movimentos, as
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 40
redes de ONGs, as redes do narcotráfico, as redes de terrorismos e assim por diante” 3 .
Ao falar em rede no Nordeste, outras imagens nos chegam, de imediato. A rede de pesca, um dos
símbolos da luta pela sobrevivência do povo nordestino na busca de garantir a alimentação que vem
de seu litoral, enaltecido por muitos e fonte de renda com o turismo, no atual modelo de
desenvolvimento regional. A rede de dormir, onde o povo descansa o corpo cansado do trabalho
diário. Essas redes são teias de fios, laços e nós: uma que agarra os peixes, a outra que balança, que
move as pessoas, que acalenta. Mas essas redes também se desgastam e precisam ser reforçadas,
renovadas, enfim, precisam ser “cultivadas”, como a própria idéia de rede.
A rede de vizinhança, a rede de fofoca, a rede de intrigas, a rede de solidariedade, a rede da
esperança. Estas várias imagens, formas de redes, nos falam de como a idéia de rede tem sido
utilizada para falar de diferentes coisas e de como ela serve para tentar entender vários processos
sociais. No Seminário “Atuação em Redes: Impactos na Realidade”, realizado pela EQUIP, Cáritas
e RIPP, em 2002, foi possível conhecer parte da diversidade de experiências de movimentos sociais
que estão utilizando a idéia de rede como elemento central nos seus processos organizativos.
As Redes de Movimentos Sociais, isto é, as redes que articulam diversas entidades identificadas
com uma certa causa, em geral em torno da luta por direitos, se expressam no espaço público como
articulações em torno de um tema ou de um tipo de ação coletiva, com momentos de maior aparição
e momentos de imersão, dependendo da conjuntura específica. Elas congregam pessoas ou
entidades, em maior ou menor número, que possuem em comum, um certo sentido de
pertencimento ao campo político dos Movimentos Sociais 4 e àquela causa específica, a exemplo de
proteção à criança e ao adolescente, saúde, direitos reprodutivos, fiscalização do orçamento público,
etc.
No Seminário, estiveram presentes 14 experiências que se identificaram como redes, mesmo que
tendo como nome oficial fórum ou articulação. Isto quer dizer que estas experiências se identificam
com o que vem sendo discutido como sendo rede, ou seja, articulação entre diferentes sujeitos,
baseada em relações horizontais, em que estes sujeitos não se subordinam, mas somam esforços
para potencializar objetivos comuns, que não negam seus objetivos específicos.
No Nordeste, temos visto experiências bem diversificadas, algumas que se articulam em âmbito
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 41
nacional como a ASA – Articulação do Semi-Árido, que ficou mais conhecida em função do projeto
de 1 milhão de cisternas, mas que é bem mais que isso, uma vez que realiza outras iniciativas
voltadas para a convivência com o semi-árido. Outras experiências se voltam para articulação de
projetos produtivos e comercialização, como a Rede Abelha da Paraíba, que congrega Apicultores, e
a Rede de Sócio-economia Solidária do Ceará, ambas fomentadas pela Cáritas.
Algumas experiências de rede se sobressaem por agregar entidades que lutam pela implementação e
fiscalização de políticas públicas, como é o caso da Rede de Conselheiros do Piauí, apoiada pelo
CEPAC, e da Rede de Intervenção em Políticas Públicas do Maranhão, que reúne diversas entidades
entre ONGs, movimentos, serviços eclesiais, gabinetes parlamentares, entre outras representações
sociais. Há também aquelas que agregam segmentos sociais como a Rede de Jovens ou a Rede de
Educadores Populares, estimuladas pela EQUIP. Há redes que reúnem grupos populares vinculados
ao trabalho de uma certa entidade, outras reúnem diversas entidades de movimentos sociais e
organizações não-governamentais, e existem ainda aquelas que reúnem movimentos sociais, ONGs
e órgãos governamentais vinculados ao enfrentamento do mesmo problema, como é o caso da Rede
Amiga da Criança do Maranhão, voltada para o atendimento de meninos e meninas de rua.
No citado Seminário, ficou claro que a organização em rede não é, em si, uma novidade, entretanto,
é nova a ênfase que está sendo dada a este debate. Vários estudiosos dos movimentos sociais têm
tentado interpretar este fenômeno e esta forma de organização está impondo uma reflexão também
entre os participantes de movimentos sociais, não para construir modelos, mas para aprofundar o
debate sobre seus elementos constitutivos e os efeitos deste trabalho na realidade dos setores
populares.
Alguns aspectos chamam a atenção nestas experiências que estiveram representadas no Seminário.
Todas se voltam para objetivos definidos e afirmam que estão potencializando seus resultados,
ainda que com algumas dificuldades. Todas se pretendem com um formato organizacional
efetivamente de rede, onde flui a comunicação, onde há objetivos consensuais, onde se aglutinam
forças sociais, onde se combate o velho "corporativismo" das práticas, onde se assume
coletivamente as responsabilidades, embora sejam reconhecidas as limitações no processo
organizativo real.
Scherer-Warren 5 concebe redes como "formas mais horizontalizadas de relacionamento, mais
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 42
abertas ao pluralismo, à diversidade e à complementaridade, portanto, correspondendo, como
formato organizacional e interativo, a uma nova utopia de democracia". Características semelhantes
a estas sempre estiveram presentes no debate sobre Movimentos Sociais, mesmo quando ainda não
se usava a noção de rede para estudá-los. No Seminário, a organização em rede foi vista como uma
das formas de potencializar o ser e o fazer dos movimentos sociais.
Há Movimentos Sociais que se organizam em forma de rede e há redes que promovem
movimentação social através da articulação de organizações diversificadas, que não se declaram
como Movimentos Sociais, a exemplo de pastorais populares, ONGs, entidades populares,
sindicatos, núcleos de estudos acadêmicos, etc. Entendemos que estas redes que articulam diversos
tipos de organizações e que se posicionam no espaço público garantindo direitos aos setores
explorados e oprimidos da população também são Redes de Movimentos Sociais.
As identidades são a mola propulsora que faz com que as pessoas se vinculem a um movimento
social. Mas elas parecem ter, na vida da maioria dos participantes, uma temporalidade curta, que os
mobiliza para grandes eventos, mas não para o cotidiano das entidades. Para outros, em número
menor, todavia, a participação é algo contínuo, em torno da qual eles organizam suas vidas. Em
geral, a força desta dedicação tem a ver menos com a capacidade organizativa da rede ou da
entidade de que a pessoa participa e mais com elementos de identificação que são predominantes
para cada uma, em um dado período, como ser mulher, a questão da negritude, a sensibilização com
a ausência de direitos de crianças e adolescentes, por exemplo. Estas pessoas constroem e mantêm a
vida interna das entidades de Movimentos Sociais , na maioria com trabalho voluntário e militante,
e também dão sustentação às redes que estas entidades criam. O que as mantém com permanência
pode ser a adesão à causa específica ou, o que é mais complexo, o sentido de ser militante, de atuar
intensamente em processos de mudança, o sentimento de fazer parte do Movimento.
No Seminário “Atuação em Redes” foi colocada em questão a situação organizativa das redes ali
representadas, discutindo as motivações, os sujeitos que agregam e a comunicação que estabelecem.
Sobre a organização, os participantes falaram que a maioria das redes agrega entidades ou grupos
que se reúnem em torno de potencializar seus objetivos; apenas uma das redes presentes congregava
indivíduos. Elas, em geral são sustentadas por projetos financeiros enviados para agências
internacionais, e a maioria conta com uma espécie de entidade-mãe, que funciona como
impulsionadora da articulação da rede. Apenas algumas redes são formadas por entidades do mesmo
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 43
porte, como é o caso das diversas experiências estaduais que se congregam na Articulação Regional
de Políticas Públicas.
Um dos problemas internos mais sentidos nas redes é exatamente a co-responsabilidade. Apesar de
intencionalmente desejarem relações horizontais, a dificuldade de compartilhar tarefas e recursos
igualitariamente acaba por colocar as redes, muitas vezes, dependendo de uma ou duas entidades.
Esta situação dificulta o dinamismo, a multiplicidade de lideranças e a comunicação
multidirecional, que são apresentados como elementos que caracterizam as redes.
Outro elemento chave neste debate é o papel que cumprem as entidades fomentadoras das redes. Há
duas situações relevantes para serem analisadas. A primeira é quando a rede é formada entre
entidades semelhantes em termos de recursos financeiros, técnicos, etc. como é o caso do Coletivo
de Políticas Públicas do Piauí, da RIPP-MA, da ASA, ou da Rede Amiga da Criança. Neste caso,
pode haver concentração em poucas entidades, mas é mais fácil pensar mecanismos de superação
disso, a exemplo do que vem sendo feito: rodízio de secretarias, coordenações colegiadas, rateio de
recursos para atividades, comunicação permanente entre os membros, planejamento com divisão
equilibrada de tarefas, reflexão sobre a importância, para o funcionamento em rede, da co-
responsabilidade, da solidariedade e do consenso.
A segunda situação é quando há, nas redes, uma entidade fomentadora, isto é, uma entidade que
detém maiores recursos financeiros e capacidade mobilizadora. Poderíamos citar como exemplos as
redes de grupos populares ligadas a projetos produtivos, que se articulam para ampliar as condições
de produção, comercialização e capacitação, como rede de Sócio-economia Solidária do Ceará,
estimulada pela Cáritas; ou a rede de conselheiros tutelares do Maranhão, fomentada pelo Centro de
Defesa da Criança e do Adolescente, ou a rede de conselheiros do Piauí, articulada pelo CEPAC.
Este caso exige uma reflexão que remonta aos princípios da metodologia de trabalho de base na
educação popular, ou seja, estas entidades, impulsionadoras da rede, procuram desenvolver um jeito
de trabalhar que impulsione a autonomia dos sujeitos envolvidos. A autonomia passa a ser uma
meta, incessantemente, buscada, e não se resume à autonomia financeira, mas também à política e à
metodológica.
A comunicação em rede, embora seja apontada como importante e necessária por todos os
participantes do Seminário, parece ser a maior dificuldade. Ainda não são suficientemente utilizados
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 44
os recursos da rede eletrônica. No caso das redes que reúnem grupos populares com condições
socioeconômicas precárias, o próprio acesso a computadores ainda não é possível. Naquelas das
quais participam entidades mais estruturadas, o problema identificado é mais de hábito cultural e de
priorização política estratégica.
Outro aspecto fundamental na comunicação é como as redes se organizam internamente, da forma
menos piramidal e mais dinâmica possível, de modo a facilitar as relações entre os seus membros, a
descentralização das decisões, a partilha do poder. Dessa forma, utilizam diferentes instrumentos
comunicativos para sensibilizar e dar visibilidade à sua ação na sociedade como um todo, a fim de
garantir a adesão necessária da população e reforçar a sua intervenção na realidade.
Todos os representantes de rede apontaram como maior problema organizativo algo que é comum
também no interior das entidades de movimentos populares: o fato de que algumas pessoas
assumem as responsabilidades cotidianas com mais afinco e outras só se fazem presentes nos
momentos decisivos. Apesar disso, elas reconhecem que nas redes que reúnem entidades do mesmo
porte, que possuem igualdade de condições, este problema é bem menor.
Algumas redes adotaram uma forma mais estruturada de organização, outras preferem a
informalidade. Algumas possuem mecanismos de entrada definidos, como é o caso da ‘carta de
princípios' e ‘carta de adesão' na RIPP, em outras a adesão é menos formalizada. Algumas têm
documentos que explicam o seu funcionamento interno, outras vão fazendo coisas em conjunto sem
definir, precisamente, como deve ser a sua forma de organização. Sem querer estabelecer regras
para o que poderiam ser as redes, a reflexão que se colocou no Seminário foi sobre os problemas
que a grande informalidade gera para a adesão de membros e o funcionamento interno democrático,
em especial naquelas redes que contam com ‘entidades-mãe'. O tom da maior ou menor formalidade
vai variar a depender de seus objetivos, interesses, da relação de forças existentes e/ou do desejo das
pessoas.
Mas, para entender a noção de rede e o uso que dela está sendo feito nos Movimentos Sociais é
preciso perceber a amplitude desta idéia. Rede é um termo utilizado em diversas ciências, como
sintetizou Tomasin, em uma Gaveta Aberta de 1994: na telemática, as redes de telefones e
computadores; na biologia, a rede neuronal; na matemática, o chamado network analysis , que
nasceu a partir da teoria dos grafos ; na economia e na administração, as empresas que assumem
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 45
formas de redes e/ou que se organizam com outras em redes de produção e distribuição de bens e
serviços, a partir das novas formas de organização do trabalho pós-fordista, etc. Nas ciências
sociais, destaca-se a antropologia, com o estudo das redes de sociabilidade, e com a idéia de
comunitas ; a psicologia, com as redes de interação; e a sociologia, com as redes de organizações, e
mais recentemente acoplando este conceito ao estudo dos Movimentos Sociais e/ou da mobilização
de recursos de poder para ação direta.
Segundo Tomasin, quando se fala em rede de Movimentos Sociais , estão implícitas as idéias que a
metáfora suscita, como horizontalidade, descentralização, desconcentração de poder, diversidade
interna de organizações, flexibilidade e agilidade para se moldar às novas situações,
interdependência e articulações, complexidade e abertura ao externo. Todos estes elementos, sem
dúvida, vêm à tona no debate sobre redes. Merece destaque para reflexão o problema da
interdependência. Acreditamos que esta característica está mais presente na idéia de sistema, onde
as partes constitutivas precisam (dependem) umas das outras para seu desenvolvimento. A noção de
rede, por sua vez, diz respeito muito mais à possibilidade de autonomia, de complementaridade para
potencializar objetivos específicos, a partir dos quais se dão as articulações, que não se sobrepõem
ao fazer parte individual de cada entidade, e sim os reforçam.
A questão ecológica e a questão econômica-produtiva têm sido duas importantes áreas de
articulação de redes de grupos populares. Mas elas também se verificam no esforço que as entidades
vêm fazendo para propor, negociar e fiscalizar as políticas públicas, em especial os programas
sociais e o orçamento público. No Seminário “Atuação em Redes” os participantes ressaltaram que
o fato de suas entidades trabalharem em conjunto tem facilitado muitas coisas na sua intervenção
social, possibilitando o uso de recursos comuns, a ampliação da capacidade mobilizadora, a
concentração de esforços, a possibilidade de construir agenda pública para seus temas prioritários, o
efeito multiplicador de suas ações formativas e a maior visibilidade social dos seus trabalhos.
Ana Maria Doimo 6 usou a noção de redes para estudar os Movimentos Populares na década de 70.
Ela considera possível estabelecer alguns cortes analíticos para tipificar as redes e estabelece dois
tipos: as redes territorializadas , nas quais se incluem desde as redes de organizações populares
locais até as de alcance nacional; as redes temáticas , que indica certa especialização de funções.
Cruzando estes dois tipos, encontram-se as redes de influência que, imprimem uma certa direção ao
movimento popular. As redes de influência conseguiriam, pela sua atuação, orientar práticas, através
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 46
dos cursos de formação, e canalizar politicamente recursos de poder no interior de tais práticas.
Um exemplo da mobilização de recursos de poder seria o que gerou o processo de participação
popular na Constituinte, que só foi possível através de uma rede de influência nacional,
entrecruzando-se com as redes locais e temáticas, para elaboração de emendas populares e coletas
de assinaturas, que propiciou a elaboração da Constituição de 1988, correspondendo às várias
proposições dos Movimentos Populares .
Outro elemento fundamental é a relação inter-redes que se desenha como uma perspectiva de
congregar esforços e potencializar os impactos na realidade local, as mobilizações gerais da
sociedade, em campos específicos de intervenção.
Hoje, o estudo, a partir da noção de redes, pode nos ajudar a compreender melhor o fenômeno dos
novos movimentos sociais, em especial seus diversos tipos de entidades e sua capacidade de obter
resultados, a partir da intervenção coletiva na realidade, alterando a situação de vida do povo. No
campo das práticas dos participantes de Movimentos Sociais, a intervenção em rede vem se
afirmando como mecanismo de exercício de democracia, da construção de relações de parceria e
co-responsabilidade, da arte de negociação, da partilha do poder, da cooperação mútua, da
solidariedade entre os seus membros.
A ação em rede é, assim, um campo de aprendizagem coletiva, onde se desconstroem e constroem
novas mentalidades, novos valores e modos de convivência e onde se busca contribuir na
consolidação da prática democrática no Nordeste e no Brasil. São grandes os desafios financeiros,
de autonomia, de visibilidade, de comunicação, mas sobrepõem-se a esses desafios a própria idéia
de trabalhar em rede, a superação do isolamento, a construção destas novas relações, o
reconhecimento do outro como sujeito legítimo, a efetivação de novas identidades, a congregação
de interesses diferentes, em um mesmo espaço e tempo. A rede é, também, um grande campo de
possibilidades, onde se destaca a importância do processo de sistematização das experiências –
identificado neste Seminário como um dos grandes limites – o que possibilita que as experiências
inovadoras sejam socializadas na sociedade como um todo.
Na perspectiva da reorientação dos recursos de investimento social advindo do mundo da
cooperação internacional para o Brasil, a ação em rede se coloca como uma possibilidade real, não
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 47
só de otimizar os recursos e potencializar os resultados, mas também de descobrir novas estratégias
de sustentabilidade que extrapolem a busca de recursos externos, em especial nesta nova conjuntura
que se abriu no Brasil, no atual cenário político. A história está nos mostrando que o movimento das
redes e as redes de movimentos contribuem na construção do presente e investem na consolidação
das práticas democráticas e solidárias do futuro.
Notas:
1 Mestre em História e Filosofia da Educação, pela PUC-SP, e mestre em Políticas Públicas, pela UFMA.
2 Mestre em Ciência Política, pela UFPE, membro da Rede de Educadores Populares do Nordeste e também educadora da EQUIP.
3 Fontes, 2002, p. 22.
4 Sobre a noção de campo político dos Movimentos Sociais ver Silva, 2001 e Doimo, 1995.
5 Scherer-Warren, 1999.
6 Doimo, 1995.
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS. 48