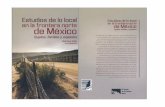Morfogénese Urbana em Maputo_Identidades Justapostas: Narração Para Uma Epistemologia Urbana
-
Upload
eduardo-mondlane -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Morfogénese Urbana em Maputo_Identidades Justapostas: Narração Para Uma Epistemologia Urbana
Morfogénese Urbana em Maputo
Identidades Justapostas: Narração Para Uma Epistemologia Urbana
Domingos A. Macucule
Arquitecto, Mestre em Gestão do Território, Doutorando em Geografia e Planeamento Territorial, Assistente estagiário, Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane, Investigador do Centro de Estudos de
Geografia e Planeamento Regional – eGeo – FCSH- UNL- Lisboa
1. Introdução
Morfogénese é uma palavra que vem da língua grega e significa desenvolvimento da forma. À
entrada do presente século muitos estudos são desenvolvidos em semiótica do espaço com
destaque para a escola francesa. Esta busca sistemática está a trazer avanços significativos na
compreensão da forma quer arquitectural (micro) quer urbana (macro) no que se refere aos
estímulos que ela emite ao sujeito que a percepciona bem como as reacções que daí se
promovem. O sujeito da forma no espaço finito é o individuo e o urbano surge como o elemento
de mediação entre a forma finita e aquele sujeito. O individuo é a dimensão mínima (micro) de
uma estrutura macro que é a sociedade e as instituições representam a dimensão meso, de
mediação entre as ambições do individuo e os propósitos da sociedade.
Da abordagem estritamente arquitectónica e urbanística surge que o espaço, entendido aqui
também como território, pressupõe uma estrutura e uma identidade (Licny, 1981). Estas duas
dimensões gravitam numa questão – a vivencia, e polarizam-se na funcionalidade e na forma,
respectivamente estrutura e identidade. Por outras palavras, a estrutura urbana resulta da
justaposição entre vivência e funcionalidade, enquanto que a identidade urbana é função da
vivência e da forma. Assim o urbanismo como disciplina científica e o planeamento urbano
como acção de política publica encontram os seus pressupostos e fundamentos na busca por
uma estrutura e reforço das identidades do território.
Na presente comunicação discutimos as rupturas e continuidades socio-espaciais em Maputo a
partir dos pressupostos acima referidos. O nosso discurso situa-se entre o epistémico e
ontológico. Falamos de epistemologia urbana para nos referirmos ao espaço de mediação entre
a acção de política publica e a teoria urbana, esta por sua vez vai se confundir deliberadamente
com o conhecimento1 empírico e sensitivo da cidade como artefacto sociocultural. Com a
abordagem ontológica queremos desconstruir o objecto á luz dos processos internos que nele
ocorrem e o estabilizam assim como os processos externos que o transformam. O método que
usamos é o que chamamos de arqueologia inversa, este método nos permite desconstruir o
nosso objecto, a cidade, a partir da sua essência actual para reconstrui-la num futuro que se
queira sustentável. A arqueologia inversa não deve ser confundida com futurismo mas ser vista
como um exercício de prospectiva territorial tendo como pano de fundo as identidades urbanas.
2. Uma Arqueologia Inversa da Forma
As identidades nos remetem a heranças ancestrais, sabendo de antemão que estas
ancestralidades não desempenham as mesmas funções de outrora, (Mbembe,2013). Do mesmo
modo que os tocadores de hoje em dia podem nos fazer dançar a um ritmo que se destina(va)
a acompanhar um condenado á morte antes da sua execução. Os urbanistas actuais nos
convencem cada vez mais que a alta densidade é o caminho para a sustentabilidade da cidade,
que os antigos cemitérios podem ser transformados em jardins públicos. Esta última preposição
sugere uma lógica transcendental, (Cante, 2010) do conceito da diversidade, onde se reinventa
uma dimensão sacra do espaço da morte, reapropriada pelos vivos conjecturando a morte dos
mortos ou na melhor das hipóteses a ressurreição.
1Emanuel Cante, Critica a Razão Pura.
Sugere-se uma arqueologia da forma urbana para recuperar ou perceber algumas manifestações
de identidade na cidade africana. Uma arqueologia da forma deverá ser inversa porque visa
desconstruir a significação das formas actuais da cidade em contexto africano. Poderíamos
procurar artefactos não contaminados para nos conferirem um enredo que nos ajude a
reconstruir o caminho que a espontaneidade na cidade popular seguiu para ser o que ela é
actualmente.
Mas tudo indica que a cidade popular, também rotulada como cidade informal, e em última
instância reduzida à dimensão de assentamento informal, é um espaço não menos contaminado
que á cidade cimento. A contaminação da "cidade cimento" amadureceu e se consolidou
constituindo agora um artefacto físico, na lógica da arqueologia clássica, o centro histórico
virou um produto turístico de contemplação e nostalgia de um passado colonial triunfante. A
cidade popular continua insubmissa, trava uma batalha oriunda do contexto segregacionista do
sistema colonial – que se fundava na classe dominante e dominada. Esta guerra se tornou
extemporânea e diacrónica nos tempos de hoje, mas ao mesmo tempo a luta se apresenta
sincrónica com um mercado predador e, sobretudo, perante á inércia burocrática de uma
administração pública corrompida e que teima em negligenciar uma crise sociourbanistica e
ambiental inequivocamente óbvia. Os artefactos da arqueologia inversa são a identidade
(vivencia + forma urbana) no seu contexto dinâmico – morfogénese.
Para uma arqueologia inversa da cidade africana é preciso reconhecer a priori a reciprocidade
entre a "cidade cimento" e a "cidade popular" ou, se quisermos, também a complementaridade
entre o formal e o informal. Não se trata de assumir o informal como uma fatalidade e o formal
como apanágio da modernidade, muito menos de advogar o direito á cidade negligenciando o
direito da cidade. Entendemos o direito á cidade como as possibilidades do individuo existir
na cidade respeitando as suas particularidades, portanto trata-se de direitos individuais. O
direito da cidade se consubstancia nas condições em que a vida colectiva se processa e se
transforma (dinâmica própria), isto é, a cidade como uma entidade social. As instituições e os
instrumentos surgem como o espaço de mediação entre o social e o individual. Assim o plano
(projecto urbano) como instrumento de política urbana assume o papel de mediador destas duas
dimensões. Seria absolutamente simplista e corporativista afirmar que a arquitectura lida com
o domínio individual e a urbanística com a dimensão colectiva, porém não pretendemos entrar
nesta discussão; trata-se apenas de uma chamada á atenção.
É um facto que - enquanto as forças do mercado agudizam a diferenciação social, a
desconfiança e o medo estão a cimentar a segregação espacial. Muros altos em condomínios
fechados são manifestações de uma arquitectura que abdica dos valores de estética e urbanismo
para reinventar espaços que confortam o individuo na sua relação com o colectivo – uma
convivência cada vez mais tímida. E esta desconfiança mútua já não se explica apenas pela
diferença de classes, pobre – rico, branco - preto, indígena – estrangeiro. É uma desconfiança
que compreende valores cada vez mais distantes que talvez se fundam no esbatimento dos
factores clássicos de diferenciação – em última análise estaremos perante uma diferenciação
dos poderes na cidade. Os muros altos dentro dos condomínios fechados explicam esta situação.
Uma questão banal: que formas, que vivências, e que identidades queremos construir? Estudos
já clássicos sobre a forma urbana informam que as formas influenciam as vivências (Lamas,
2007 Carmona, 2001, at all) e vice-versa. Partindo deste pressuposto, podemos afirmar que
identidade urbana é algo que se constrói ou em última instancia se influencia. E os agentes
deste processo são o individuo, as organizações, a sociedade e as instituições.
3. As tensões e alianças entre os actores
Com a reclassificação da economia informal, a acelerada expansão e mudanças na estrutura
sociodemográfica, o não acompanhamento destes fenómenos por um planeamento urbano
preventivo e prospectivo – uma manifesta impotência do Estado – adivinha-se o
recrudescimento dos assentamentos informais em áreas cada vez mais distantes e segregadas
da cidade, podendo se consolidar uma extraterritorialidade urbana problemática e sem
precedentes.
Se é verdade que a cidade popular africana nasce de uma rebelião e uma corrida entre o estado
colonial e o indígena, nos nossos dias assiste-se a uma conspiração entre o Estado e os seus
novos parceiros (o sector privado) contra os populares, e estes, por sua vez, se reorganizam e
se mobilizam dentro das suas relações simbólicas de poder e de solidariedade de grupo - o
informal. O Estado, pouco a pouco, vai se rendendo ao poder do sector privado, o que em parte
explica a razão das alianças que se criam, e se operacionalizam em diversos formatos de
parcerias público - privadas. Mas, por outro lado, a disputa do Estado com os poderes
simbólicos das práticas informais parece estar longe de se apaziguar. As acções informais
desautorizam o Estado, e este também não está disposto a aceitar o agente informal dentro das
suas práticas, não obstante o reconhecer como agente crucial do processo urbano.
A aparente supremacia de um desenvolvimento orientado para o mercado (Vainio, 2012), como
prática recorrente dos governos locais e nacionais pode ser entendida como o caminho para a
derrocada da luta pelo reconhecimento dos direitos simbólicos e de solidariedade no espaço
urbano. Porém, não é incoerente afirmar que a sobrevivência e uma eventual superação dos
direitos simbólicos dos populares sobre o mercado, encontra ou encontrará o seu fundamento
nos excessos de um mercado que se suporta em estruturas de regulação frágeis. É assim que se
alimenta um mercado formal predador, que precisa, para a sua própria sobrevivência, dos
mecanismos informais de produção reprodução e distribuição. Assim, a informalidade
continuará a se multiplicar e se generalizar no espaço urbano.
Ora bem, os moradores dos bairros populares já não são apenas o servente indígena, empregado
doméstico, desempregado, pequeno operário. Eventualmente pode ter sido esta a origem da
grande maioria dos actuais moradores. Actualmente nestes mesmos assentamentos vivem
também, professores, estudantes universitários, jovens recém casados, artistas, emigrantes
nacionais e estrangeiros, altos funcionários públicos, graduados na universidade, grandes
comerciantes, deputados etc. Neste quadro mudaram também as lideranças dos bairros, o
secretário do bairro, o chefe do quarteirão o chefe das 10 casas, e por ai fora, já não são só
militantes do partido da maioria, mudaram igualmente as referências espirituais e religiosas.
Esta miscigenação de culturas, identidades, extractos sociais e poderes, constituem um
acontecimento sociocultural da cidade africana e deve ser tido em conta nos estudos urbanos,
assim como nos programas de acção para a renovação ou requalificação dos bairros informais.
Apesar de a cidade popular travar um duelo secular com a cidade do mapa, parece ser ainda
possível reconhecer um substrato (artefacto) capaz de servir de base para uma invenção da
cidade africana a partir das suas próprias raízes ou que nos permita fazer uma hibridização a
partir dos seus fragmentos - achados na cidade actual. A nova agenda de investigação da
metrópole africana deverá, mediante aplicação do já anunciada método da arqueologia inversa,
é procurar dentro dos fragmentos (que constituem a cidade actual) achar e construir um
substrato.
4. Artefactos da Tradição e Factos da cidade Contemporânea: marcos de uma
identidade urbana.
A forma urbana, na perspectiva da morfologia urbana (Licny, 1981), desagrega-se nos
seguintes elementos; edifício, lote, rua e uso do solo. Estes elementos, quando agrupados, dão
lugar à malha urbana que pode ser regular ou irregular, o tecido urbano é uma perspectiva que
vê a malha urbana enquanto sistema dinâmico (vivo) onde os elementos são as células, e que
são mobilizados pelos processos sociais económicos e culturais. Assim a malha e o tecido
urbano, em função do contexto e ao longo do tempo, sofrem as modificações necessárias para
responderem ás exigências contextuais, é o que se subentende por transformações urbanas ou
metamorfoses urbanas se recorrermos a uma terminologia citológica. Foi assim que ao longo
da história (Benévolo, 2007), a malha clássica cuja forma era definida pelos edifícios, motivado
entre outros factores pelo carácter de proximidade das funções e de uma vida activa no espaço
publico - a civitas deu lugar á uma malha dos tempos modernos onde os edifícios são objectos
dispersos dentro de numa malha dominada pela rede de estradas hierarquizada como que a
anunciar a hegemonia do carro tal como vivemos nos dias actuais.
Aquela é a forma da cidade dos mapas, sobejamente conhecida e universalmente reconhecida.
Ao partirem dos seus pressupostos constitutivos, muitos estudiosos e fazedores de políticas
urbanas na cidade popular africana, alimentam equívocos eternos ancorados num passado que
não existiu. A cidade popular contém todos os elementos que constituem a cidade normal. Nos
assentamentos humanos da áfrica antiga (Brusch, Carrilho, Lage, 2001), á sua maneira, era
possível reconhecer os elementos morfológicos da cidade normal, mas essas evidências não
nos autorizam a forçar semelhanças e muito menos procurar diferenças entre a cidade do mapa
e a cidade popular. Porém, e no final das contas, a essência da cidade africana não está na sua
forma física, mas na forma como ela se produz se reproduz e se deixa apropriar.
O processo de produção da cidade africana confunde-se com a vivência dentro de si. Dai que
o processo da sua construção e produção reunir muitos aspectos da sua identidade, que por sua
vez se fundamentam no espírito de interajuda, solidariedade, rebelião aos cânones urbanísticos
e burocráticos de um poder hierárquico, numa acção que representa uma deliberada crítica ao
urbanismo do mapa celebrando a alegria das relações do quotidiano (Benjamin, 2001). Assim,
estudar o processo de construção da cidade deve implicar uma série de análises como, a
identificação e caracterização dos operários (pedreiros) os acordos que estes estabelecem com
os proprietários, a maneira como se constituem as equipes e se organiza o estaleiro, a maneira
como são distribuídas as tarefas, o cálculo e a maneira como são pagos os honorários.
A colonização constituiu um interregno no processo histórico de construção das identidades
africanas e o período pós-colonial surgiu como uma esperança para resgatar identidades
subjugadas ao longo dos séculos, relegadas a um plano marginal e em última instância
reduzidas ao obscurantismo. Os estudos sobre o período pós-colonial, demonstram que o
projecto político trazido pelas independências frustrou as novas existências, cheias de
possibilidades, que os africanos alimentavam inspirados no período traumático da escravatura
e colonização (Mbembe, 2013:82), este facto terá concorrido para a criação novas alianças com
os herdeiros do antigo sistema. Desde a sua génese a cidade popular foi construída à imagem
da cidade do mapa.
O contexto histórico em que se construiu grande parte da cidade popular é marcado pela
segregação. Em Maputo assume particular importância a cultura política autoritária da década
de 1930, o estatuto do indígena em 1954 e a consequente diferenciação espacial que marca o
surgimento das áreas peri-urbanas. O estado colonial adoptou uma unidade administrativa
dentro do município para controlar, exclusivamente, a cidade popular, e uma outra responsável
pela gestão da cidade cimento. Grest (1995), abordou estas questões no seu artigo sobre a
gestão urbana em Maputo com foco nas reformas dos governos locais e democracia em
Moçambique. Em relação ao período de transição, o pós-colonial, o autor chama a atenção para
um impasse não superado no que se refere á gestão dual da cidade, porque as autoridades
municipais acreditavam que com as mesmas posturas e regulamentos seria possível gerir as
duas realidades urbanas.
As actuais estratégias municipais apontam para a requalificação dos assentamentos informais.
O seu melhoramento e integração estão no centro das políticas urbanas. A integração, entendida
como uma atitude para o aperfeiçoamento da cidade como um todo, é algo indubitavelmente
correcto, mas parece pouco razoável a perspectiva etnocêntrica da integração – advoga-se que
a cidade popular deve se integrar, incondicionalmente, à cidade do mapa. Só há uma maneira
de fazer tal integração, o ajustamento da forma ou malha urbana aos cânones de um
racionalismo modernista, mediante, o ortogonalidade nos lotes, alinhamento das habitações
área mínima de afectação e ocupação do lote, dimensão mínima do lote, etc. Uma interrogação
pertinente sobre a atitude de integração: como a maioria se integra na minoria e porque não o
contrário? O que é que se pretende integrar, as pessoas ou o espaço? As pessoas parecem
naturalmente integradas e o espaço carece de uma integração ao nível da macro estrutura urbana
em busca da funcionalidade urbana, nomeadamente a mobilidade e acessibilidades às mais
diversas facilidades urbanas. Porque as atitudes na microescala têm contribuído para destruir
as relações simbólicas de identidades que se manifestam na vivência e não muito na forma, não
obstante as formas desempenharem um papel, conforme referimos acima, sobre a construção
das mesmas identidades.
O melhoramento é, também, irrecusavelmente fundamental, quando visto na perspectiva da
melhoria da qualidade de vida dos moradores, constantemente perigada e que se consubstancia
em um problema de saúde pública promovido por via de um urbanismo desinteressado. Mas
não é muito razoável a perspectiva do intelectual pequeno burguês que encara os bairros
populares como algo desprezível sem carácter nem identidade. É evidente que é preciso evitar
cair no altruísmo romântico que vê estas mesmas áreas como uma relíquia de um modos
vivendus primitivo, que devem ser preservadas como artefactos arqueológicos de contemplação
e admiração. Este dilema entre a modernidade e o popular constitui o ponto nevrálgico da
concepção das estratégias de intervenção nos bairros informais. As politicas urbanas devem
continuar a aprofundar as estratégias para resolver os problemas ligados à qualidade de vida,
enquanto que a teoria urbana se ocupa de perceber os modos de vida, cabendo à epistemologia
urbana fazer a mediação entre ambos.
Continuando nesta incursão ideológica, importa referir que as atitudes unilaterais do poder
público, que se propõe melhorar algo construído em anos de poupanças, solidariedades,
sacrifícios e disputas, fazem do estado uma orquestra sem plateia, porque os moradores não
actuam no mesmo palco, porque o timing da propaganda eleitoralista não coincide com os
timings da construção popular da cidade. O privado é dos actores que, recorrentemente, se junta
á orquestra, porém junta-se não para viver a festa mas sim impor o ritmo que lhe é favorável.
É assim que os planos de requalificação urbana vão representar os interesses do mercado,
apostando na maximização do uso do solo, densificação, indeminização, gentrificação e
reassentamento tudo em nome de uma modernidade inoportuna.
Perante esta atitude elitista do planeamento urbano, o desiderato da cidade popular só será
viabilizado quando os próprios moradores assumiram, decididamente e de forma ideológica, a
direcção do processo de afirmação da cidade. Trata-se da elevação da consciência cívica do
cidadão, de uma abertura consciente por parte do sector público, para que de forma articulada
possa orientar o processo de integração e melhoramento sustentável da cidade popular.
5. Epistemologia do Plano em Maputo
Os princípios institucionalizados: O processo de elaboração dos planos urbanos está mais ou
menos estabelecido, não obstante estar ainda pouco legislado. Nesta tentativa de definir o
âmbito e o processo de elaboração do plano, destacamos um documento ainda não oficial mas
muito difundido entre os fazedores de planos urbanísticos no pais: Guião Metodológico Para
a Elaboração dos Planos Parciais de Urbanização. Se os princípios gerais e universais já
definem o planeamento urbano como acção e prerrogativa do estado, o arcaboiço legal sobre o
planeamento e ordenamento do território em Moçambique, deixa claro que o Plano é
promovido, elaborado e monitorado igualmente pelo Estado, devendo, porém, envolver em
todo o ciclo todos os actores interessados e directa ou indiretamente abrangidos.
O processo de elaboração do plano começa com a decisão do município de o fazer, tendo em
conta o aperfeiçoamento do processo de gestão do território municipal bem como responder de
forma sustentável os aspetos das especificidades de uma dada unidade ou um conjunto de
unidades territoriais de um dado município. É no termo de referência que a autoridade
promotora do plano define todos os princípios e objetivos que pretende alcançar com a sua
realização. Tendo como ponto de partida os objetivos em conformidade com o estabelecido no
regulamento da lei de ordenamento do território, o termo de referência estabelece o rumo
específico que o plano deve seguir para salvaguardar aqueles objetivos no contexto territorial
em causa. Assim, a elaboração do termo de referência constitui um momento decisivo para o
plano, é aqui onde se expressa a ideologia ou em última instância a visão da autoridade em
relação ao território em causa, cabendo ao plano mediante os seus mecanismos participativos
aperfeiçoar esta ideologia acomodando nele os interesses de outros actores, sobretudo pelo
facto de serem estes os responsáveis incontornáveis da operacionalização e do usufruto das
orientações contidas no plano.
A equipe técnica que realiza os planos é constituída e dominada pelos quadros da autoridade
pública de modo que desde o princípio estes assumem o plano como seu instrumento de gestão
e administração do território. A contratação de um consultor independente, externo, visa
garantir a eficiência da execução material do plano, isto é, a elaboração dos desenhos, dos
documentos escritos, etc. e outros dentro dos timings, da qualidade e de inovação próprios do
sector privado, dado que o pessoal técnico administrativo, nomeadamente do município, em
simultâneo está envolvido nas actividades de rotina quotidiana da gestão urbanística.
A instituição da figura Comissão de Acompanhamento (CA), é para que o plano salvaguarde a
integridade política, entenda-se política no seu sentido latu. Isto é, para além dos partidos
políticos, política como a acção cívica, isto é uma prática intrínseca ao exercício pleno de
cidadania. Assim, a CA inclui desde os mais altos dirigentes municipais, (vereadores,
directores, etc.) aos dirigentes municipais de base local (vereador do distrito, secretários do
bairro) como forma de garantir a subsidiariedade, isto é, proximidade das decisões. O sector
privado interessado integra a CA, como forma de garantir os seus interesses a todos níveis, o
mesmo acontece com as organizações da sociedade civil que se fazem representar desde a base
para garantir e salvaguardar os interesses do cidadão comum. O envolvimento dos partidos
políticos visa garantir a pluralidade ideológica no plano. E por fim o envolvimento das
autoridades do poder central é de modo a se garantir a constitucionalidade do plano.
O Desencadeamento do Plano está estabelecido como o momento de legitimação, da
elaboração do plano, junto de toda a sociedade. É um acto público participado pelos mais
diversos sectores da sociedade e o cidadão individualmente. O desencadeamento constitui um
acto solene presidido pela mais alta liderança da autoridade administrativa responsável pelo
plano, nomeadamente o presidente do conselho municipal. Durante as distintas fases de
elaboração do plano, a saber, a inventariação da situação actual, o diagnóstico, a geração de
cenários e alternativas, até a proposta final do plano, são realizadas reuniões onde a equipa
técnica do plano apresenta e discute as propostas, primeiro com a comissão de
acompanhamento, podendo ser feita por grupos temáticos ou em conjunto, depois em audiência
publica onde podem participar todos os cidadãos organizados e de forma individual.
A prática de facto: Moçambique e a cidade de Maputo em particular, beneficiam de ajuda
externa e donativos, mobilizados por agências de cooperação uni e bilateral, doadores,
instituições de apoio ao desenvolvimento, numa acção de altruísmo ou de endividamento do
sistema financeiro local. Esta ajuda é crucial para o desenvolvimento do país e das autarquias
locais. Porém, os objectivos, os timings os propósitos e as motivações dos financiamentos
externos nem sempre estão em harmonia com as locais. Por isso deve constituir desafio da
gestão pública a maximização destes recursos para o desenvolvimento dos seus territórios. Não
seria pretensioso afirmar que os fundos globais visam ajustamentos estruturais, e que às vezes
estão desajustados com os Objectivos Locais Reais. Entendam-se os Objectivos Locais Reais
não como o que realmente se precisa, mas sim como aquilo que os gestores querem que
aconteça.
A grande maioria dos planos realizados na área de estudo, no período pós-colonial até á
actualidade, foram promovidos por entidades extra governamentais, e muitas das vezes
visavam justificar ou garantir o acesso a financiamentos posteriores. O Plano de Estrutura da
Área Metropolitana de Maputo, de 1999, foi promovido e financiado pela Agência Japonesa
de Cooperação Internacional (JICA). O Plano de Estrutura Urbana da Cidade de Maputo 2008
foi promovido e financiada pelo Banco Mundial no âmbito do PROMAPUTO I. O Plano de
Estrutura Urbana da Matola 2010, foi promovido e financiado pela Agencia de Cooperação
Espanhola. Em 2010 foi abortado um Plano Distrital de Uso da Terra de Maracuene, que tinha
promoção e financiamento estrangeiro. Para além destes planos de carácter estrutural municipal
e supramunicipal, grande parte dos planos Parciais de Urbanização sobretudo os realizados no
Município de Maputo, têm estado a ter financiamento e promovidos pelo Banco Mundial. Aliás,
este é um dos objectivos plasmados no PROMAPUTO I e II sobre a capacitação institucional
que passa pela dotação do município de instrumentos de gestão do território. O Plano Parcial
de Urbanização de Inhaka foi promovido e financiado por um grupo empresarial sul africano
com interesses na exploração das potencialidades turísticas da Ilha. Os Planos Parciais da Baixa,
da Costa do Sol, agora da Marginal e dos cinco bairros da periferia da cidade de Maputo se
enquadram no esforço que está a ser desenvolvido pelo Banco Mundial no sentido de
aperfeiçoar a gestão urbanística local. Existem, não muito frequentes, planos que são
financiados e promovidos por entidades externas (ONGs) elaborados sem o conhecimento do
município, mas depois são reconhecidos e legitimados.
Pela maneira como são promovidos os planos em Maputo, o fraco envolvimento do município
é sintomático. O não engajamento do município, pode nos sugerir alguns questionamentos:
Será que o plano (tal como é concebido) constitui prioridade para o município? Como é que é
feita a gestão urbanística quotidiana de facto?
Nas entrevistas semiestruturas que realizamos2 junto dos dirigentes municipais e dos técnicos
municipais, fizemos um conjunto de perguntas que nos permitem perceber que o Plano é visto
pelos dirigentes municipais como um instrumento que vale pela sua existência, ou seja,
encaram o processo de realização do plano como uma oportunidade para criar um entusiasmo
junto dos munícipes ou cidadãos no sentido de mostrar que algo está para ser feito. O momento
da elaboração do plano constitui um momento de propaganda político ideológico e de
mobilização e engajamento dos cidadãos. Assim para os dirigentes o Plano vale pela sua
realização. Uma vez terminado o entusiasmo desvanece e o plano é esquecido. Por outro lado,
os técnicos sentem a falta do plano para justificar as suas decisões do dia-a-dia; contudo, a
ausência do plano em certas circunstâncias abre espaço para uma indisciplina administrativa
colectiva e uma falta de responsabilização nas decisões individuais, e em última instância
alimenta a corrupção administrativa. No processo de elaboração do plano os técnicos não se
2 Entrevistas realizadas âmbito na investigação para a Tese de Doutoramento e Geografia e Planeamento Territorial, em curso desde 2011. A tese esta a ser desenvolvida no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova de Lisboa, e tem como Titulo: Processo Forma Urbana: Restruturação Urbana e Governança no Grande Maputo
engajam, nomeadamente no debate pluralista, porque estão ocupados com as suas tarefas do
dia-a-dia, mas sobretudo porque acham que os outros intervenientes pouco têm a contribuir no
processo; os técnicos, na sua perspectiva tecnocrática veem o plano como um instrumento
burocrático de imposição, ao qual os particulares devem se sujeitar incondicionalmente.
Na audiência pública, o discurso dos dirigentes é triunfalista, o plano é promovido como a
solução para os problemas do bairro, do distrito ou da cidade e os populares assim o assumem.
Dai a sua frustração posterior, dado que o tempo passa e não se vislumbra o momento para a
implementação das soluções propostas no plano.
Na melhor das hipóteses, os técnicos municipais querem um instrumento de apoio a gestão,
não lhes interessa o processo de elaboração do plano, basta-lhes um instrumento na mesa para
orientar as suas decisões do dia a dia da gestão urbana. No final de contas, os técnicos não se
guiam pela eficácia, leia-se coerência ou sustentabilidade das decisões emanadas dos
instrumentos de gestão do território, mas sim pela eficiência do seu trabalho diário na
perspectiva de fazer cumprir a lei. Assim, os consultores são abandonados à sua sorte para
realizarem o plano segundo as suas convicções mais ou menos bem intencionadas, se não
imbuídos por uma atitude elitista. Produzem-se mapas de uma cosmética arrojada e conteúdo
real, mas desprovidas de significado face aos objectivos e o âmbito de um plano territorial.
Numa clara atitude de intelectual pequeno burguês, empenha-se em mapear os gostos
gastronómicos dos funcionários públicos que residem no bairro do Chamanculo, por exemplo.
Que caminhos? O planeamento como um ciclo virtuoso parece constituir a palavra chave para
engajar todos os interessados num processo em que o Plano já não deve ser visto nem como
ponto de partida muito menos o fim do planeamento. Ao plano, como um momento
intermediário do processo de planeamento, se exige afirmação enquanto instrumento de
mediação das vontades, ambições e dos anseios, no tempo e no espaço, de todos os actores
envolvidos no fenómeno urbano. Assim, o plano deve se reforçar na sua flexibilidade e geração
de consensos, isto é, um plano que ao mesmo tempo que disciplina e limita os excessos deve
permitir as possibilidades que se criam na estratégia de actuação, nos objectivos dos actores e
nas reconfigurações que se queiram sustentáveis.
Ora bem, as lógicas do planeamento, nomeadamente o estratégico, dependendo de como são
encaradas, podem alimentar resultados perversos, por via da hesitação e indefinição que
promovem no processo de decisão. É verdade que o plano é um instrumento de apoio a decisão,
mas antes de ser um instrumento de apoio á decisão é em si só uma decisão.
Vezes sem conta nos deparamos com abordagens equivocadas, que confundem, cenários com
alternativas, opções com possibilidades. Os limites semânticos de significação destas palavras
são muito ténues; porém na sua operacionalização, em planeamento, ao se confundirem podem
inviabilizar todo um processo de elaboração de plano e doravante do planeamento. As
possibilidades são eventos (possíveis) que podem acontecer independentemente da nossa
vontade ou da nossa acção, são o resultado do entrelaçamento de eventos espontâneos oriundos
da acção de diferentes actores e fenómenos; por seu turno, as opções são acontecimentos
induzidos por um conjunto de actores conhecidos controlados e que actuam à luz de uma
concertação prévia. Assim, os cenários são possibilidades e as alternativas são opções. Por
outras palavras, a construção de cenários é uma acção anterior à geração de alternativas.
Voltemos ao plano.
Referimos acima que o plano antes de ser um instrumento de apoio a decisão é uma decisão.
Assim sendo, o plano é, á priori um conjunto de alternativas viáveis, ou seja, uma opção dentro
de várias possibilidades.
O Plano de Estrutura Urbana de Maputo, de 1985, tinha identificado um conjunto de cenários,
a saber: intensificação da guerra civil e o consequente incremento do êxodo rural que iria
estimular o aumento da população da cidade de Maputo, gerando uma demanda por espaços
urbanizados superior à capacidade de oferta instalada; outros cenários estavam ligados à
possibilidade de chegada a Maputo de um significativo volume de investimento estrangeiro
decorrente do programa de ajustamento económico, que já estava em curso, e do sector dos
transportes resultantes de reactivação do corredor de Maputo para escoamento de mercadorias
dos países do hinterland e vice-versa, através do porto de Maputo.
Tendo em conta aqueles e outros cenários, o PEUM 85, definiu duas alternativas de
estruturação do território (Modelo territorial) da cidade para os 10 anos subsequentes. A
primeira alternativa apregoava o desenvolvimento espontâneo da cidade para responder a
demanda induzida pelo êxodo rural, e a segunda alternativa defendia um planeamento
estruturado ancorado às grandes infraestruturas e centralidades que se iriam dinamizar fruto da
implantação de grandes equipamentos, serviços e centros produtivos que se previa construir. O
plano apesar de reconhecer que a primeira alternativa era a mais provável do ponto de vista dos
cenários e das possibilidades sócio politicas e económicas, apontava para a segunda alternativa
como a mais desejável. O plano não foi aprovado e o primeiro cenário vingou.
Contudo, o plano como instrumento de apoio à decisão deve dar várias possibilidades de
decisão, como uma decisão deve tomar uma decisão. O plano como instrumento de mediação
deve encontrar a decisão intermédia mas não menos estável que uma decisão.
6. Bibliografia
BENEVOLO, Leonardo, História da Cidade, São Paulo, 4ª edição, Perspectiva, 2007.
BENJAMIN, Solomon; Transformative Urbanisms – or on how Walter Benjamin, Strolling Through Occupant cities, disrupts imperial capital; acedido pela última ves em 20 de Outubro de 2014.
http://www.ciutatsocasionals.net/englishEXPOCOWEB/textos/textosprincipalcast/solomon.htm.
BRUSCH, S; CARRILHO, J; LUIS, L, Campo e Cidades da Africa Antiga, 1ª Edição; Faculdade de Arquitectura e Planeamento Fisico, UEM, Maputo, 2001.
CANTE, Emmanuel, Critica da Razão Pura; 2ª Edição, FCG, Lisboa, 2010.
CARMONA. M; HEATH. T; OC. T; TIESDELL. S; Public Place Urban Space: The dimenssion of urban design;N; Architectural Press, London, 3ª Edição, 2003.
GREST, Jeremy; Gestão Urbana, Reformas de Governo Local e Processo de Democratização em Moçambique: Cidade de Maputo, 1975-1990, Boletim do Arquivo Histórico de Moçambique, nº 17, Maputo, 1995.
LAMAS, J.M.R. Garcia, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 4ª edição Porto, FCG, 2007.
LYNCH, Kevin, A Boa Forma da Cidade, original Massachasets Institut of Tecnology 1981, tradução edições 70, Lisboa, 2007.
MBEMBE, Achile, Africa Insubmissa: cristianismo Poder e estado na sociedade pós-colonial, 1ª Edição; Ediçoes
Padago, Lisboa, 2013.
VAINIO, Antti; Market-Based and Rights-Based Approaches To The Informal Economy: A comparative analysis of the policy, Nordiska Afrikainstitutet, UK; 2012.