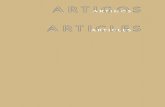Livro novo de Textos velhos - II - Teorização sociolinguística - 2 a - Introdução a Dimensões...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Livro novo de Textos velhos - II - Teorização sociolinguística - 2 a - Introdução a Dimensões...
Livro Novo de Textos Velhos
II.- Teorização sociolinguística
INTRODUÇÃO a
II 2 - Dimensões no processo normalizador de uma comunidade linguística: GALIZA
1 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
O artigo foi publicado nas pp. 247-283 de O Ensino. Revista galaico-portugue-sa de Sociopedagogia e Sociolinguística, núms. 6/10 (1986). O título completo é Epílogo para galegos, portugueses, brasileiros e africanos de expressão portu-guesa. Dimensões no processo normalizador de uma comunidade linguística: Ga-liza.
Dedicava-o a meus filhos, então de 9 e 7 anos, Roi e Saleta, “com esperança”.
3 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
Refletia nele sobre diferentes linhas no denominado processo normalizador da comunidade galegófona.
Por um lado, rendia-me à nomenclatura então (e hoje) dominante, referida à si-tuação da comunidade lusófona da Galiza, no Reino bourbónico de España distri-buída entre as comunidades autónomas de Galicia, Asturias e Castilla y León.
Também considerava aceite a oposição de estado e sociedade, em que locali-zava dous subprocessos normalizadores, diferentes, mas complementares.
Mas hoje corrigiria essas reflexões, ainda de jeito provisório. Se quiser reduzi-las a uma tríade dialética, esta poderá ficar assim:
Tese: Nação vs. Antítese: Estado
Síntese: Sociedade
4 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
Explico-me.
No Dicionário de Filosofia, online, de José Ferrater Mora (1971: 73) acho o conceito de dialética que, a meu ver, explica a sequência anteposta:
[…] esta dialéctica não se apresenta já como uma sucessão de momentos especulativos, mas como o resultado de uma descrição empírica do real. Portanto, a dialéctica marxista — que foi elaborada mais por Engels que por Marx — não se refere ao processo da ideia, mas à “própria realidade”.
O uso da dialéctica permite compreender o fenómeno das mudanças his-toricamente (materialismo histórico) e das mudanças naturais (materialismo dialéctico). Todas estas mudanças se regem pelas três grandes leis dialécti-cas. A lei da negação da negação, a lei da passagem da quantidade à quali-dade, e a lei da coincidência dos opostos.
As leis da dialéctica citadas representam uma verdadeira modificação das leis lógicas formais e, portanto, os princípios de identidade, de contradição e de terceiro excluído não regem na lógica dialéctica. Por isso a lógica formal (não dialéctica) foi inteiramente rejeitada ou considerada como uma lógica inferior, aponta só para descrever a realidade na sua fase estável.
Seja como for, é na história, no decorrer controlado do tempo que entendo a re-lação dialética citada.
Com efeito, em cada momento assinalável da história, sobre a NAÇÃO (tese) age o ESTADO (antítese) e dessa ação surge a SOCIEDADE (síntese), a qual, por sua vez, se constitui em tese de um novo processo dialético, porquanto nem a antítese [ESTADO] nem a síntese [SOCIEDADE], subsequentes possam nem devam ser identificáveis com momentos precedentes, inamovíveis. Deveras essas suces-sivas correlações ou sequências triádicas complicam-se em realidades, como a galega.
Em tempos recuados a Galiza podia ser imaginada como nação ou, antes, como conjunto humano caracterizado por participar de traços nacionais, eviden-tes numas determinadas organizações grupais, diferentes, mas solidárias, sobre as quais exercia o poder de coesão um estado (reino) próprio.
Passado o tempo e desaparecido esse estado (reino), subsumido noutro, diver-so e mesmo divergente, persistem alguns dos traços nacionais, sobre os quais se impõe o novo estado (reino) exterior, que recusa como próprios os traços referi-dos e mesmo a organização dos grupos, presumivelmente nacional.
Talvez concretize de mais ou simplesmente confunda aspetos da realidade (percebida), mas acho que as mudanças sucessivas entre as gentes e institui-ções galegas se regem pelas três grandes leis dialécticas:
1.ª A lei da negação da negação, que entendo praticada de jeito curioso na Ga-liza, enquanto as pessoas galegas negavam, dolorosamente, o estado negador, o reino bourbónico de España quer mercê da emigração ou fugida do estado, quer
5 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
mercê da contenção da fertilidade. São processos que afinal tendem a deixar va-zio o conjunto das pessoas sobre que o estado pode e deve exercer o seu poder, nomeadamente negador da nação galega. Cabe transferir esses processos à nar-ratividade sob a figura da ironia: que grande ironia deixar sem “súbditos” os exe-cutores do poder?
2.ª A lei da passagem da quantidade à qualidade fica manifesta segundo for exercida, mais do que cumprida, a lei precedente: a redução quantitativa da sub-ditagem faz com que qualitativamente fique demudado o poder real.
3.ª Quanto à lei da coincidência dos opostos, igualmente fica cumprida por-quanto um determinado exercício do poder (estadual) acaba coincidindo com o esvaziamento (ou quase) de sujeitos sobre que o estado deveria dominar...
Poderia acrescentar outras curiosas explicações em que agora recuso deter-me...
Seja como for, hoje pode comprovar-se que a Galiza / Galícia, administrativa-mente espanhola, sob a denominação Comunidad Autónoma de Galicia, aparece como sociedade híbrida, principalmente perceptível na dimensão linguístico-cultu-ral, mas não só.
Ao caso, acho pertinente alguma reflexão de Leila Lima de Sousa sobre o lábil conceito de hibridismo e hibridação, que, a meu ver, hoje preside a realidade polí-tico-administrativa e, como disse, sobretudo a linguístico-cultural da Galiza / Gali-cia:
[…] o hibridismo não é um processo que traz ao sujeito a sensação de com-pletude ao dialogar com outras culturas, pelo contrário, seria o momento onde o sujeito percebe que sua identidade está sempre sendo reformulada, ressignificada e reconstruída, num jogo constante de assimilação e diferenci-ação para com o outro, permanecendo sua indecisão sobre qual matriz cultu-ral o mais representa. (“O processo de hibridação cultural: prós e contras”, Revista Temática 1, ano IX, núm. 03, março de 2012: www.insite.pro.br )
Nas “Considerações finais” conclui não sem ambiguidade:
Depois de tudo o que foi levantado, considera-se que o hibridismo cultural possui aspectos positivos e negativos e nenhum destes pode ser tomado em sua totalidade como definidor do conceito. Ao tempo em que faz-se repensar na validade de perpetuação de antigas matrizes culturais correndo o risco de apagar determinadas tradições e que pode impulsionar um mascaramento do poder das culturas dominantes sobre culturas dominadas, ele traz de po-sitivo o fato de possibilitar novos sentidos e significados para os discursos identitários, possibilitando uma abertura tolerância às diferenças culturais, como por exemplo, uma visão mais tolerante da cultura ocidental, antes vista com superioridade em relação à cultura oriental. Ambas as faces do hibridis-mo cultural fazem-se importantes, necessárias e válidas no processo de liga-ção e compreensão das relações sociais entre diferentes culturas.
6 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
Por outro lado, conhecemos que os elaboradores das NOMIGa 1982 / 1983 / 1995 / 2003 (simples variações sobre o mesmo tema), pretendem alicerçar a for-malização do seu (novo) idioma galego numa presumível teoria que denominam lingua por elaboración.
A meu ver, erram nessa pretensão de nos oferecerem tal bondade científica, porquanto nem língua por elaboración constitui algum jeito de teorização científi-ca, nem os textos dos hoje saudosos professores Heinz Kloss e Žarko Muljačić o pretendiam.
Com efeito, a formalização, cristalizada nas NOMIGa, apenas executa uma particular interpretação do art. 5.º 1 do Estatuto de Autonomía para Galicia que or-dena: “La lengua propia de Galicia es el gallego”.
Para efetivarem essa interpretação, os elaboradores das NOMIGa hibridizam o idioma galego, segundo o entendem realizado em diversas falas da Galiza, que apresentam seletivamente como tradicional, com a formalização da lengua caste-lhana, nacional do Reino bourbónico de España.
Ponho de parte aqui uma demorada comprovação deste facto, que, aliás, pode facilmente rastejar-se com apenas rever as soluções arbitradas nos níveis tanto grafo-fónico (seleção de letras e das correlativas realizações fónica), quanto mor-fológico (mormente caracterização de sufixos) e léxico-semântico (preferências na seleção de aceções para determinados cultismos).
Para além, acontece que os fautores das NOMIGa e normações derivadas não parecem ter entendido que os professores Kloss e sobretudo Muljačić, citados, não propõem uma teoria científica para elaborar (novos) idiomas, mas apenas procedimentos classificadores das línguas mormente românicas, seja qual for o seu grau de formalização e, correlativamente, de usos nos respetivos territórios.
Dito por outras palavras, se os autores das NOMIGa formalizam a “lingua gale-ga” ao seu jeito para a destinar a usos precisos quer nas instituições do Reino bourbónico de España (Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia...), quer nos âm-bitos sócio-económicos privados e semipúblicos e também nos culturais da Co-munidad Autónoma de Galicia (e não fora dela), o Prof. Žarko Muljačić, em textos sucessivos, apenas recolhe e constata esses facto e procedimentos, ao tempo que procura sistematizá-los em coerência com as propostas do Prof. Kloss.
O Professor conclui e resume “L'enseignement de Heinz Kloss (modifications, implications, perspectives)” (in Langages, núm. 83, 1986. pp. 53-63):
5.1.- L'enseignement de H. Kloss possède sans doute, outre son noyau sociolinguistique, un fort composant glottopolitique et éthique que son auteur a récemment réaf firmé. Il a parlé (Kloss. 1978a) de cinq émancipations dé-mocratiques (des classes, des races, des hétéropensants. des femmes et des communautés linguistiques décolonisées, pas seulement outre-mer I. Il a proposé (Kloss. 19821 la création d'un observatoire linguistique en Europe qui devrait empêcher que les grandes questions glottopolitiques. la glotturgie
7 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
incluse, soient étudiées seulement par les grands: il a parlé de nouveau de la mort des langues (Kloss. 1984a. 19851 en proposant des mesures qui de-vraient épargner à leurs ressortissants les traumatismes qu'un changement de langue cause. Avec H. Haarmann. il est retourné à la démolinguistique en ébauchant un tableau des langues européennes et en Europe (66 langues reconnues et 56 langues controversées) (Kloss-McConnell. V. 1984).
5.2.- Les petites communautés linguistiques possèdent, grâce à H. Kloss et à son école, une arme théorique précieuse dans leur lutte pour l'émancipa -tion et contre les stratégies assimilistes. Nul ne pourra plus s'appuyer sur des arguments scientifiques pour convaincre les usagers de leurs idiomes que leurs patois, dialectes, baragouins etc. sont laids, ridicules, sans grammaire, dégénérés etc. si même les profanes sont aujourd'hui à même d'intérioriser des faits concernant le chemin épineux des LE les plus respectables, les plus anciennes et le mieux standardisées qui toutes ont eu des débuts bien mo-destes.
5.3.- Après Kloss. on ne peut ignorer quelques faits simples:
a.- II est possible que plus d'une LE se base sur la substance et la forme d'une LD. Le rapport entre les LE et les LD est bilatéral. À ce qu'il semble, les LE agissent plus fortement sur les LD que vice versa.
b.- Des rapports biunivoques (one-to-one-relations) n'existent pas obliga-toirement comme les profanes pourraient penser- entre le nombre des LD. LE. états et nations. Ceux qui exigent que le rapport : une LD-une LE-un Etat-une Nation soit le seul possible (en Europe c'est parfait seulement dans un cas: en Islande) sont potentiellement dangereux pour la paix intra- et inte-rétatique. L'existence d'une LD n'exige pas nécessairement que tous ses su-jets parlants soient citoyens d'un Etat ni membres d'une nation. Malheureu-sement quelques slogans romantiques n'ont pas encore fait leur temps.
c.- Tout glottocide est un acte de lèse-humanité.
Sea como for, a teorização klossiano-muljačićana nem justifica nem deixa de justificar a opção isoladora relativa à formalização gráfica que se corresponder com as falas galegas, todas. Na realidade, respeitoso com a neutralidade ideoló-gica da teorização, o Prof. Muljačić alude, em diferentes artigos, às duas propos-tas possíveis, à isoladora e à reintegracionista, como a seguir lembro:
1.- No artigo acima citado há duas referências ao galego:
a.- “3. idiomes qui sont seulement des LE [línguas por elaboração] (par ex. le galicien)” (p. 56).
b.- “4.4. Si plus d'un dialecte d'une LD [língua distanciada] a été élaboré avec succès, je parle des langues bi- ou polyélaborées, cfr. le galaïcoportugais > le por-tugais + le galicien.” (p. 57).
2.- (1981) “Il termine Lingue distanziate apparentemente dialettalizzate e la sua
8 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
rilevanza perla Sociolinguistica romanza” in Studia Romanicae et Anglica Zagrabi-ensia XXVI, 1-2, pp. 85-101:
a.- “Soltanto AUS (Nur-Ausbausprachen) sarebbero, secondo il Kloss, il galizia-no (gallego) e, forse, da qualche anno appena, il corso. (p. 87)
b.- “Le simpatie del Kloss e, ancora più, quelle dei sociolinguisti romanzi vanno soprattutto a quelle ABS le quali, nel tentativo di diventare o di ridiventare lingue elaborate nel senso pieno del termine, incontrano delle difficoltà oggettive e sog-gettive. I casi più noti nella Romània sono, occorre dirlo, il catalano, I'occitanico e il sardo (il caso del gallego è un po' diverso, visto che tale idioma, che può sfoggi-are anche dei testi di alto livello, concernenti scienze naturali, non si sarebbe an-cora staccato linguisticamente dal portoghese in modo di diventare una nova ABS). Tutte queste lingue però e alcune altre ancora sono state (e in parte lo sono ancora) vittime di glottofagia cosciente e/o incosciente plurisecolare dovuta alla rispettiva lingua di stato (o a più lingue di stato, nel caso che i loro parlanti vivano in più di uno stato)”. (p. 88; o itálico é meu)
c.- “Egli [Kloss] descrive qui le condizioni in cui comunità linguistiche rinunciano alla loro lingua e si trasformano in partl di altre comunità linguistiche e di altri po-poli. In un capitolo a parte tratta anche del gallego; però non prende in considera-zione il suo rapporto con lo spagnolo." (p. 92)
Em nota de rodapé explica:
Kloss, 1969: 150 [Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert. Die Sprachgemeins-chften zwischen Recht und Gewalt, Wien-Stuttgart, W. Braunmuller, “Ethnosr, 7: “Damit eine Sprachform als Ausbausprache gelten kann, muss es in ihr Bucher uber sachliche Themen geben. Es gibt z. B. In Gallego (Galicisch) Bucher uber Demographie, Fische-reirwirtschaft, Literaturwissenschaft, Landesgeschichte u.s.f. Das ist wichtiger fur Geltung des Galicischen als die schönste Dichtung. Naturlich gilt diese Rangordnung, dieser Vor-rang des informativen Schriftums vor dem imaginativen, nur fur unsere derzeitige Kulture-poche, sicher nicht fur die Vergangenheit wahrscheinlich nicht fur die Zukunft”. Sui progres-si recenti di questa lingua, nel territorio della quale è.nato a El Ferrol uno dei suoi più feroci oppositori (cfr. Solarac, 1975 [“Galice: où en est la patrrie de Franco?”, Occitània nòva, 18, pp.7-9], cfr. Ninvoles. 1977; H. J. Draws, Die Galicier, in Blaschke, 1980: 132-137, e Diaz López, 1980 [“Diglossia and social cleavage: the case of Galicia” in P. H. Nelde (Hrsg.), (Sprachkontakt und Sprachkonflikt, ZDL Beihefte, N. F., 32, Wiesbaden, Franz Steiner Ver-lag)], pp. 225-231. Quest'ultimo sostiene: “Schooling Galicianspeaking children in Castilian produces an infravaluation of their own language, finally believing, because of constant cor-rection at school, that in order to speak well one must speak Castilian not Galician, and being incapable of distinguishing them as two different languages they tend to consider Castilian as the educated variant. This also generates a feeling of rejection of one's langua-ge as being uncultured and useless for one's incorporation in society or for use outside of the familv circle . . .
Cuja tradução, da mão de Carlos Durão, é respetivamente:
Para que uma forma linguística seja válida como língua de elaboração, deve tratar nos seus livros de temas factuais. Há p.ex. em galego livros sobre demografia, economia pes-queira, ciência literária, história do país etc. Isso é mais importante que a mais bela poesia para a validez do galego. Naturalmente esta categoria, esta prioridade da escrita informati-
9 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
va sobre a imaginativa, só é válida para a nossa época cultural contemporânea, de nenhu-ma maneira para o passado e provavelmente tampouco para o futuro.
Educar os meninos galegos em castelhano produz uma infravaloração da sua própria língua, acreditando afinal, devido à constante correção na escola, que para falar bem é preciso falar castelhano, não galego, e sendo incapazes de distingui-las como duas lín-guas diferentes, tendem a considerar o castelhano como a variante culta. Isto gera ade-mais uma sensação de rejeição da língua própria por inculta e inútil para a própria incorpo-ração na sociedade ou para uso fora do círculo familiar...
Ainda, citando o Kloss, há mais uma alusão ao galego na nota de rodapé núm. 37, p. 95, entre outros idiomas, como o arménio, o crioulo haitiano, o gascão, o corso, o ladino sudtirolês, o moldavo, o papiamento, o sardo, o ladino sefardita, o valão...
*******
Antes de continuar, permito-me salientar dous (para mim) factos ínsitos nos textos dos Professores Kloss e Muljačić:
1.º É o primeiro o tratamento das línguas em causa como entes pessoais e não como produzidas e utilizadas por pessoas humanas (estas sim), aliás, submetidas a diferentes circunstâncias culturais, sociais e políticas, que fazem com que os produtos sejam os que são, mormente idiomas menorizados jurídica, académica e institucionalmente.
2.º É o segundo, consequência do primeiro, a confusão, não esclarecida, de formalização “filológica” do idioma e usos nos diversos âmbitos, tomados ambos, formalização e usos, de jeito abstrato de mais, deficientemente conscretizados ou circunstanciados.
*******
3.- (1982) “Le lingue per elaborazione (LE) base italiana o italo-romanza in un modello socio-linguistico” in Quaderno d'italianistica, Vol. III, núm. 2, pp. 165-174.
No início do artigo o Prof. Muljačić define a expressão lingue per elaborazione:
Con il termine lingue per elaborazione traduco il termine tedesco Ausbaus-prachen e sottintendo idiomi che si trovano nelle varie fasi di elaborazione (codificazione, standardizzazione), da quella più bassa (LE incipienti, come per es. il corso degli ultimi decenni) fino a quella più alta (a cui appartengono LE pienamente sviluppate, come le cinque grandi lingue romanze: il france-se, l'italiano, il portoghese, il rumeno e lo spagnolo). Le varie traduzioni pos-sibili del termine tedesco, contenenti il participio passato (per es. langues élaborées, langues codifiées e simili) non sono del tutto adeguate perchè si riferiscono a lingue che hanno raggiunto il massimo grado di elaborazione. Per questa ragione avevo in un primo tempo proposto, per la terminologia italiana rispettiva, il sintagma un po' goffo lingue elaborate o in via di elabora-zione. Ora, essendo venuto a conoscenza di uno scritto bilingue di H. Kloss e Grant D. McConnell, considero la traduzione esatta di langue par élaboration molto migliore. Forse non piacerà a tutti i lettori (sit venia verbo!). Per tale ra-
10 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
gione e anche per ragioni di brevità userò la sigla LE.
Com'è risaputo, non ogni Ausbausprache (LE) deve essere nel contempo anche una Abstandsprache, una langue per distanciation ovvero una lingua per distanziazione (LD). Le cinque grandi lingue romanze menzionate (e così pure molte altre lingue appartenenti ad altre famiglie) sono nel contempo LE e LD, ossia elaborate e distanti da tutte le altre lingue in misura sufficiente. Sono delle entità di grado autonomo sia in chiave sociolinguistica sia in chia-ve linguistica pura (sistemo-linguistica). Le possiamo notare con la sigla LED che riunisce le sigle LE e LD.
Soltanto una LD era invece il defunto dalmatico e, fino a pochi decenni fa, il sardo.
Soltanto LE (di grado incipiente) sarebbero il corso, il piemontese illustre e simili giovani LE.
Transcrevo a nota 1 em que explica:
Cfr. H. Kloss-G. D. McConnell, Linguistic Composition of the Nations of the World — Composition linguistique des nations du monde, vol. I (Québec, 1974), p. 32: "The term ausbau language may be defined as language by elaboration." Languages belonging to this category are recognized as such because of having been shaped or reshaped, molded or remolded, as the case may be, in order to become a standardized tool of literary expressi-on. We might say that an ausbau language is called a language by virtue of its having been reshaped, i.e. By virtue of its reshapedness if there were such a word. Terms such as reshaping or remolding or elaboration, by focusing on deliberate language planning, help us to avoid a misunderstanding that the term 'development' might lead to, namely that 'ausbau' might come about by that slow, almost imperceptible and quite uncontrolled growth which we are wont to call natural." Cfr. ib., p. 33 ss.
No fim do artigo apresenta nove grupos de LE românicas, num diagrama, que não reproduzo; na destra do grupo 3. “idiomi coperti” ▬ “idiomi scoperti” coloca o Galiziano, entre o Friulano, Sardo, Occitanico, Martinicano, Aragonese, Creolo portoghese.
O par coperti vs. scoperti corresponde, na terminologia klossiana, a dialetos “con tetto” e dialeto “senza tetto”.
Poderia acrescentar mais citações deste artigo, aliás, interessantes, mas ape-nas comprovaria, mais uma vez, que os Professores Kloss e Muljačić nos colo-cam numa precisa atmosfera “sociolinguística”, à procura de classificações, mais ou menos adequadas, dos diversos idiomas, sejam estes línguas (nacionais ou oficiais) ou dialetos (ou não línguas propriamente ditas). Mais nada, embora não seja pouco.
4.- (1983): “Tipi di lingue in elaborazione romanze” in Incontri linguistici, vol. 7, pp. 69-79.
a.- Ogni Ausbaudialekt sarebbe allora una lingua in via di elaborazione incipien-te ( per es. il friulano); il gallego sarebbe una lingua di elaborazione media e il francese una lingua di elaborazione (molto) sviluppata o, più brevemente, una lin-
11 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
gua elaborata. A chi dà fastidio la coppia: dialetto-lingua, potrebbe usare il termine idioma (o. con M. Alinei, linguema) che neutralizza I'opposizione citata. (p. 71)
b.- [Nota de rodapé] 18. Graficamente sarebbe possibile che una stessa LE appaia sullo specchietto due volte se una parte dei parlanti la considera dialetto di una e l'altra parte di un'al-tra lingua. È il caso del gallego. Cfr. C. Díaz López. Diglossia and social clearage: The Case of Galicia, in: P. H. NELDE {ed.), Sprachkontakt und Sprachkonflikt. ZDL. Beihefte. Neue Folge 32 Wiesbaden 1980, pp. 225-231, passim. (p. 72)
c.- [Nota de rodapé] 21. H. Kloss. Die Entwicklung, op. cit. alla nota 1, pp. 28-29: "Diese These vom Vonang der Sachprosa erscheint zunächst befremdlich, denn in den meisten Fällen werden ja die größten schöpferischen Einzelleistungen in einer Sprache von den Dichtern voll-bracht und nicht von Gelehrten. Technikern und Journalisten. Aber gerade die Dichter können sich eine fur niemanden sonst verbindliche Sprache zum eigenen Gebrauch schaffen. ohne daß die breite Masse der Sprecher davon beruhrt wird. In einer literaristh völlig vernarlässigten Spra-che kann fast uber Nacht ein großer Dichter erstehen, der in ihr Werke von Weltruf schafft, wie dies Mistral in okzitanischer Sprache tat. Aber damit einer ein okzitanisches Werk zur Maschinen-baukunde oder zur Botanik schreiben (und veröffentlichen) könnte, mußte er eine feste Fachter-minologie oder mindestens Ansätze dazu vorfinden und ferner eine Leserschaft, die derartige Werke in ihrer Muttersprache zu lesen gewohnt oder mindestens bereit ist. Daß der Nobelpreis-träger Mistral auf Okzitanisch schrieb, bewies und bewirkte fur den Reifegrad des Okzitanischen als moderne Kultursprache weniger als es die Schrilien einiger Naturwissenschaftler oder Tech-niker täten. ... Damit eine Sprachfom als Ausbausprache gelten kann. muß es in ihr Bucher uber sachliche Themen geben. Es gibt z. B. Im Gallego (Galicisch) Bucher uber Demographie. Fische-reiwirtschaft, Literaturwissenschaft, Landesgeschichte u. s. f. Das ist wichtiger fur die Geltung des Galicischen als die schönste Dichtung. Naturlich gilt diese Rangordnung, dieser Vorrang des infomativen Schriftums vor dem imaginativen, nur fur unsere derzeitige Kulturepoche. sicher nicht fur die Vergangenheit, wahrscheinlich nicht fur die Zukunft". (p. 73)
Em tradução de Carlos Durão:
De primeiras, esta tese sobre a prosa fáctica parece desconcertante, pois na maioria dos casos os logros singulares criativos numa língua são conseguidos pelos poetas e não pelos eruditos, técnicos e jornalistas. Mas justo os poetas não podem forjar uma língua para uso próprio outramente obrigatória para ninguém sem que afete a grande massa de falantes. Numa língua totalmente neglicenciada literariamente pode quase da noite para a manhã surgir um grande poeta que nas suas obras cria fama mundial, como fez Mistral na língua occitana. Mas para poder escrever (e publicar) uma obra occitana de engenharia mecânica ou de botânica, havia que encontrar uma terminologia especializada, ou pelo menos os seus começos, e depois um público leitor, que costume ler tais obras na sua lín-gua materna ou pelo menos esteja disposto ao fazer. Que Mistral escrevesse em occitano significou e conseguiu para o grau de madureza do occitano como moderna língua de cul-tura menos do que fizeram os escritos dalguns cientistas naturais ou técnicos.
Para que uma forma linguística seja válida como língua de elaboração, deve tratar nos seus livros de temas factuais. Há p.ex. em galego livros sobre demografia, economia pes-queira, ciência literária, história do país etc. Isso é mais importante que a mais bela poesia para a validez do galego. Naturalmente esta categoria, esta prioridade da escrita informati-va sobre a imaginativa, só é válida para a nossa época cultural contemporânea, de nenhu-ma maneira para o passado e provavelmente tampouco para o futuro.
d.- Parecchi idiomi romanzi non hanno la fortuna di potersi appoggiare a una lingua che viene parlata oltre frontiera. È il caso del friulano, del sardo, del gallego (se teniarno conto della maggioranza dei suoi parlanti che lo considerano ― falsa-
12 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
mente ― come un dialetto “verticale” spagnolo) ecc. Invece di creare nuovi criteri che dovrebbero distinguere, fra i dialetti con tetto, quelli il cui tetto appartiene a un idioma pro-tett-ore vero o fittizio (cfr. la coppia: aragonese-gallego) e, fra quelli senza tetto, quelli unici nella loro specie (il sardo) da quelli relativamente non del tutto scoperti, ci è sembrato più utile di allargare un poco il concetto klossiano die überdachte lnnenmundart, e di riconoscere all'italiano lo status di tetto per il friula-no, il ladino dolomitico e il sardo, e al francese lo stesso status per l'occitanico. Nel senso Iargo della parola ogni língua che è pronta a ricevere soccorsi può tro-varli: anche le piccole LE romance devono parecchio non soltanto al francese e all'italiano ma soprattutto al tedesco. (pp. 76-77)
Em nota de rodapé 32 acrescenta: Cfr. C. Díaz López,.op cit., alla nota 18: Schooling Galician speaking children in Castillian produces an infravaluation of their own ianguage. finally believing, because of constant conection at school, that in order to speak well one must speak Castillian nor Galician, and being incapable of distinguishing them as two diflerent languages they tend to consider Castillian as the educated variant...
Por fim, na p. 79 o Prof. Muljačić propõe a seguinte árvore de Lingue in elabo-razione (LE) romanze:
13 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
5.- (1984): “Romània, Germania e Slavia: Parallelismi e differenze nella forma-zione delle lingue standard” in La formazione delle lingue letterarie. Atti del Con-vegno della Società Italiana di Glottologia. Testi raccolti a cura di Adriana Quattor-dio Moreschini, Siena, 16-18 aprile, pp. 39-53.
a.- È il merito di H. Kloss di aver cercato di dimostrare, dal lontano 1929 in poi, che ad ogni LE (lingua per elaborazione) non corrisponde necessariamente una Abstandsprache, ossia una lingua per distanziazione (LD) (sit venia verbis!).
Prendiamo alcuni esempi nel campo romanzo.
Le grandi lingue romanze: il francese, l'italiano, il portoghese, il rumeno e lo spagnolo.e cosi pure rnolte altre lingue, membri di altre famiglie, sono nel contem-po LE e LD. Come LD sono infatti distanti da tutte le altre lingue in misura suffici-ente sebbene il grado di distanza non sia sempre uguale: tutti sappiamo che la distanza fra lo spagnolo e il portoghese è molto minore di quella tra l'italiano e il francese.
Vi sono poi delle lingue che sono soltanto delle L D (lo era, per es., I'antico dal-matico). Altre lingue possiedono soltanto la dimensione sociolinguistica, per es. il gallego che è soltanto una LE e che dal punto di vista della linguistica sistematica spetta al diasistema portoghese. I parlanti galleghi vivono da sette secoli fuori del Portogallo e poichè non vi sono isoglosse non antiche, comuni al terrritorio del gallego e a una parte dei dialetti portoghesi del Portogallo, vi sono dei linguisti che pensano che il gallego sia anche una LD. (p. 42)
b.- Vale a pena considerar os critérios de classificação dos idiomas (línguas e dialetos) (p. 52):.
LINGUE PER ELALABORAZIONE
ted. Ausbausprachen
franc. langues par élaboration
ingl. ausbau languages
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE:
PRIMO CRITERIO
(+) 1: idiomi soppiantatori. ted. Verdrängesprachen, franc. langues refouleuses, ingl. replacement languages.
(±) 1: idiomi né [+ 1] né [- l ].
(-) 1: idiomi non-soppiantatori (ecc.)
SECONDO CRITERIO
(+) 2: idiomi (per distanziazione) apparentemente dialettalizzati, ted. Scheindia-lektisierte Abstandsprachen, franc. langues par distanciation apparemment dialec-talisées, ingl. near-dialectized abstand languages.
14 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
(±) 2: idiomi plurielaborati.
(-) 2: idiomi non apparentemente dialettalizzati (cioè effettivamente dialettalizza-ti o veri dialetti)
TERZO CRITERIO
(+) 3: idiomi coperti da un ldioma-parente (relativamente vicino) (detti anche idi-omi con tetto, ted. überdachte (lnnen)mundarten).
(±) 3: idiomi coperti da due o più idiomi (di cui almeno uno appartiene allo stes-so diasistema di cui al nr . [+ 3].
(-) 3: idiomi coperti da un idioma relativamente lontano parente o non apparen-tato (detti anche idiomi senza tetto (diretto), ted. Dachlose Außendialekte. franc. Dialectes exposés, ingl. Roofless dialects).
Insisto: o Prof. Muljačić apenas oferece critérios de classificação e classifica-ções arvóreas, mas não os procedimentos conducentes a constituir um idioma (língua ou dialeto) em língua por elaboração [LE] e/ou língua por distanciamento [LD], que parecem dar antender os partidários do isolacionismo em diversos es-critos.
Reproduzo as distribuições arvóreas com que o Professor encerra o artigo (pp. 52-55):
1.ª - Na p. 52:
15 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
4.ª – p. 55:
6.- (1991.1999): “Estandardización de linguas románicas baixo presión: unha proposta tipolóxica”. Traducción realizada por Flancisco Fernández Rei da confe-rencia Standardization of Romance languages under pressure: a tentative tipo-logy, de Ž. Muljačić, lida no I Seminario Internacional sobre Planificación Lingüísti-ca / I International Seminary of Language Planning (Santiago de Compostela 24-28 de setembro de 1991) organizada polo Consello da Cultura Galega, publicada em Estudios de sociolingüística rornánica: Linguas e variedades minorizadas, edi-ción a cargo de Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina Fernández, Santia-go de Compostela, Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científi-co,1999, 512 pp. O texto do Professor compreende as pp. 11-26.
Particular interesse tem, a meu ver, este artigo do Professor por vários motivos:
1.º Por ser conferência central do Seminario acima citado, à partida aberto à participação de autores interessados em la questione della língua galega. Contu-do, a prometida publicação das Actas nunca foi dada a lume, a meu ver, por abundar mais as comunicações de pessoas não ligadas à ideologia oficial ou ofi-cialóide do que as representativas das instituições espanholas.
2.º Por nesta conferência o Prof. Muljačić resumir as suas investigações e pro-postas sobre LE e LD.
3.º Principalmente por o Professor nesta conferência (não) responder as espe-tativas dos sustentadores do isolacionismo. Com efeito, os isolacionistas, coloca-dos arredor do ILG que fundara o Prof. García González, procuraram sucessiva-mente diversas argumentações que justificassem ou, ao menos, explicassem a sua opção ideológico-nacional. Foi primeiro a que diziam fidelidade à fala, assim enunciada, ao tempo que preteriam o facto múltiplo da oralidade. Seguiu a pre-tensa fundamentação nas conceções klossiano-muljačićanas, quando na realida-de não são teorias para conformar línguas por elaboração, mas apenas (e não
17 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
só) classificações dos processos elaboradores a que os idiomas (línguas ou diale-tos) foram e são submetidos. Ao caso, como já apontei, se a elaboração procura que o galego (LE) divirja a respeito do português, o galego será LD; em caso con-trário, o galego apenas será LE.
4.º Mas acontece que os isoladores perceberam a inconsistência teórica da proposta que procura tornar o galego em LE-LD. Daí que provassem outra via não menos ousada … e inconsistente. Estabelecido que o galego já não era por-tuguês no séc. XII, acharam um prova experimental no galego estremeño, segun-do eles, trazido em séculos recuados (XII, XIII?) por uns colonos galegos (e não portugueses) aos tres lugaris, cujos habitantes conservam aquele idioma medie-val quase sem mudanças até aos nossos dias. Mas esta é questão que merece tratamento mais demorado.
*************
Do artigo do Prof. Muljačić saliento e cito os parágrafos, a meu ver, pertinentes:
a.- 2. O meu modelo de lingüística relativista aséntase, polo menos, nestes tres planos: a estandardoloxía comparativa alemana (alemán Ausbaukomparatistik) de H. Kloss, H. Haarmann e U. Ammon; a dialectoxía tridimensional do linguista co-lombiano José Joaqín Montes Giraldo (cf. ld. 1984, 1986.1987) coa súa conexión romanesa (A. Graur: cf. algunhas ideas do seu precursor B. P. Hasdeu e do seu neto C. Poghirc. Ignorado por Montes); e a doutrina sobre macrodiglosia de J. Trumper e A . Mioni.
[…]
[…] Como os fonemas, os dialectos non existen independentemente senón como compoñentes dun campo de forza, que ten como núcleo e motor unha lin-gua ausbau. É ela quen crea a súa paisaxe dialectal (e non ó contrario). Unha lin-gua ausbau con éxito pode construír unha nova lingua abstand ó atraer partes doutra ou dalgunha outra língua ausbau. Cf. Muljačić. 1989a, 1989d, 1989e,199l, no prelo c). Unha lingua ausbau atrae e integra no seu próprio campo de forza ou-tras línguas (ou parte delas) e transfórmaas, despois dunha fase transitoria (que J. J. Montes Giraldo denomina dialectos heteroxéneos por subordinación) en ver-dadeiros dialectos (dialectos histórico-estructurais). No canto destes terrnos lon-gos ernprego “dialectos”, entre aspas, para os dialectos heteroxéneos ou subordi-nados e simplemente dialectos para os do segundo tipo. Ademais, é posible am-plia-la tan coñecida oposición fergusoniana: L(ingua) A (lta) – L(ingua) B(aixa) cun membro transitorio L(ingua) M(edia). Podemos chamarlle macrodiglosia a esta trí-ada e reserva-lo antigo termo diglosia (ou o novo microdiglosia) para as díadas organizadas hexemonicamente. (p. 14)
ldiomas dialectalizados podem (re)adquirir unha forma elaborada, os que foron só dialectalizados podem deixar de ser cooficiais e chegaren a ser (de novo) total-mente independentes, isto é, a única língua oflcial na totalidade do seu territorio (ou de partes del). Deste xeito o feito de ter sido un dialecto (ou un “dialecto”) non pode impedir que un idioma se converta nunha LM (ou nunha LA), que mellore a
18 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
súa posición xerárquica e hexemónica. (p. 15)
b.- 3. Hai dous requisitos previos nunha tipoloxía da estandardizació:
1.- Concordancia entre teoría e práctica.
2.- Unha terminoloxía clara e non ambigua.
A primeira condición refírese principalmente ó número de línguas abarcadas. No inventario relativo ós países do Consello de Europa, Verdoodt (1989: 23-30) incluíu vinte idiomas escritos ausentes do inventario de Kloss-Haarmann (1984) e eliminou algúns idiornas […]. Deberiamos ter en conta este crlterlo: o que nos im-portaé que unha comunidade de falantes se recoñeza como diferente dunha co-munidade veciña e que non acepte como súas as formas escritas das línguas coas que está estreitamente relacionada [...].
O segundo criterio fai referencia a termos polisémicos, como lingua nacional, onde o valeur desta depende de dúas interpretacións antagónicas de nación. Cf. Kloss 1968, 1987a, Smith 1986, Arbós 1990. Algúns linguistas consideran unha língua como nacional só cando é a Iingua materna da maioría dos habitantes dun estado e o medio de comunicación oficial. Outros linguistas consideran tamén lín-guas nacionais as línguas de pobos sem estado. Poden vivir nun ou en mais esta-dos, con outras línguas nacionais. O estatus legal de tales liinguas non é impor-tante (oficial nunha parte dun estado plurinacional, cooficial nunha parte do esta-do, favorecida, tolerada ou reprimida). Pode ser un "dialecto" dunha lingua aus-bau "estranxeira" e asemade unha lingua. Cf. o discurso hegeliano (swohl … als aush) “tanto língua como dialecto". (p. 15-16)
Condensei 40 preguntas e 34 subpreguntas da Folla de datos sobre línguas re-xionais e minoritarias (Verdoodt 1989: 69-74) en cinco dimensións hexemónicas formuladas como oposicións binarias (que permiten igualmente respostas ternari-as), Fan referencia principalmente ás relacións de estatus e de prestigio, indirec-tamente (núm. 3-5) tamén á planiflcación do corpus, de xeito especial ó enrique-cementto ou ó ernpobrecemento do subsistema léxico. Estas son as miñas di-mensións:
1.- Estatus oficial fronte a estatus non oficial.
2.- Singularidade da língua fronte á súa cooficialidade.
3.- Cubrición única (ou teitume) fronte a cubrición dobre.
4.- Cubrición románica fronte a cubrición non románica.
5.- Subfamilia homoétnica fronte a subfamilia heteroétnica. (p. 16)
c.- 4. Unha olladaó diagrama indica que cómpre formularmos algunhas pregun-tas.
O rneu diagrama tolera caixas baldeiras que permiten a inserción de novas en-tradas [...].
19 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
Os desprazamentos in melius van cara à esquerda. Moitas línguas non oficiais loitan por se converteren em cooficiais, dado o caso em oficiais. […] (p. 17)
Desgraciadamente é posible que algunhas línguas se despracen in peius, cara á dereita. Todo rematou para o romanés que antes da primeira guerra mundial tiña posibilidades abondas de supervivencia. Por iso o seu nome vai precedido dunha cruz. (p. 19)
20 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
c.- 5. O diagrama non contén información sobre o estado do desenvolvemento e sobre a forza demográfica das respectivas linguas. Falta unha ponte co antigo tipo de clasificación (cf. Muljačić 1972, 1980, 1985). Por desgracia é moi dificulto-so presentarmos graficamente tódolos datos pubiicados por Verdoodt (1989), que nada di sobre o emprego das línguas rexionais na igrexa, no exército e na diplo-macia.
[…]
[…] Sería moi interesante unha comparación do comportamento de determina-das línguas rornánicas verbo dalgunha língua dorninante, por exemplo o antago-nismo corso e occitano contra os galicismos e as actitudes en Cataluña e Galicia respecto dos castelanismos e mesmo dos internaicionalismos importados a través do español. (p. 19)
Agardo que a pesar das súas carencias e das posibles omisións, a miña tipolo-gía suscite un debate da maior importância com marco para vindeiros traballos sobre a planificación do corpus, do estatus e do prestixio dentro e fóra do ámbito rornánico. Moitas preguntas, algunhas delas de natureza non linguísticas, seguen pendentes: por exemplo:
1.- ¿Hai afinidades entre diferentes línguas dominadas pola mesma língua he-xemónica?
2.- ¿Ata que punto o enriquecemento com elementos exteriores pode afectar e modifica-la estructura e o desenvolvemento da língua receptora? […]
3.- ¿Que repercusións estructurais podem derivar da ausencia de intervencións puristas?
4.- ¿A fase de desenvolvemento acadado por unha lingua estándar determina o subtipo concreto de purismo? Por exemplo, ¿os préstamos intervariedades e os neoloxismos nativos, isto é, o enriquecemento por recursos internos […] son máis frecuentes nas línguas estandardizadas de vello ca nas de novo.
5.- ¿A oposición intervencionismo in rebus linguisticis / inercia reflicte etiquetas políticas (digamos: totalitarismo / liberalismo) ou depende principalmente de con-dicións específicas dunha situación linguística concreta?
6.- ¿As linguas recentemente elaboradas son em realidade os mais poderosos integradores etnoculturais das respectivas nacións e sociedades ou son, polo contrario, soamente un factor de ben pouca importância integradora (que mesmo pode faltar, cf. Haarmann 1986: denominei este autor anti-Herder).
7.- ¿É o nacionalismo dun pobo dominado o mesmo có dun pobo dominante?
Investigacións nestas e en direccións semellantes podem contribuir á constitu-ción dunha teoría xeral da estandardización, tanto sincrónica como diacrónica, e mais ó desenvolvemento da sociolinguística histórica. (p. 20)
***********
21 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
Permito-me fazer os seguintes breves comentários:
1.º Não sei se os organizadores do Simpósio ficariam (algo) desiludidos peran-te a conferência do Professor, dado que nela só se cita o idioma galego uma vez, na p. 17 junto das referências a Úrsula Esser, 1990, Die Entwicklung des Galicis-chen zur modernen Kultursprache: Eine Fallstudie zur aktuellen Sprachplanning, Bonn, Romanischen Verlag; Michael Metzetin, 1991, “Normierungsschwierigkeiten schwach divergierender Sprachen: ein Beispiel aus dem Galegischen” in Wolfgan Dahmen, Otto Gsell, Gunter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Otto Winkelmann (hrsg.), 1991, Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinspra-chen (Romanistisches Kolloquium, V, Tubinger Beiträge zur Linguistik, 348), Tu-bingen, Narr, pp. 259-266; Michaela Luyken 1991, "Probleme bei der Orthographi-enormierung des Galizischen” in Wolfgan Dahmen, Otto Gsell, Gunter Holtus, Jo-hannes Kramer, Michael Metzeltin, Otto Winkelmann (hrsg.), 1991, citado, pp. 237-257.
2.º Por outro lado, o Professor aponta para as diferentes possíveis atitudes na Galiza e em Catalunha face aos castelhanismos, implicadamente nos usos de ga-lego e de catalão, mas não cita os nomes de ambos os idiomas.
3.º Mais uma vez comprovo que o Prof. Muljačić, como bom praticante da filolo-gia românica clássica, submete os idiomas à figura retórica da prosopopeia; po-deria mesmo admitir-se essa licença, se ao mesmo tempo ficasse expressamente estabelecido que os idiomas sem os seus utentes não são nada.
4.º Ainda mais: esses utentes acham-se em situações ou circunstâncias que condicionam radicalmente os processos comunicacionais em que os idiomas se realizam e reformulam.
5.º Portanto, os idiomas devem ser considerados e tratados como produtos, re-sultado de procesos de produção complexos, a abrangerem não só a dimensão estritamente linguística (ou filológica), mas sobretudo a dimensão social e política.
6.º É certo que o Prof. Muljačić alude a todos eles (processos e produtos) nas questões com que finaliza o seu artigo; mas, a meu ver, deixa-os sem especificar, sem lhes reconhecer o carácter decisivo, definitório das línguas, quer por elabora-ção, quer por afastamento. A inconcreção que saliento deveras mascara a reali-dade em que se acha o idioma da Galiza no relativo tanto à formalização, quanto aos usos.
7.- (1996-2004): “Ex compluribus paucae. Fenomeni di accorpamento e di scor-poro nella storia delle piccole lingue romanze” in AA.VV. A língua galega. Historia e actualidade. Actas do I Congreso Intenacional, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela, CCG-ILG, 2004, pp. 39-56.
Acabo este breve percurso pela conceção (klossiano-)muljaciciana sobre a classificação dos processos filológicos e glotopolíticos que conduziram à atual
22 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
distribuição de idiomas, quer línguas que dialetos, nos territórios que integraram o império romanoantiga de raiz românica. E faço-o citando apenas a secção 4. IL CASO GALIZIANO. Marco em itálico palavras e expressões que me parecem salien-táveis; para alé corrijo castelhanismos desnecessários, como Alfonso, Miño...:
Non essendo un galizianista devo limitarmi ad alcune [tre] osservazioni o pro-poste. Ma prima di farlo devo riconoscere un errore proprio. Dieci anni fa (Mul-jačić, 1986, 56-57), quando non avevo ancora scoperto certe debolezze del mo-dello di H. Kloss, avevo sostenuto la tesi che la lingua per distanziazione portog-hese fosse una lingua bielaborata il che venne frainteso in Monteagudo-Santama-rina (1993, 157). Oggi non ci credo più perché sostengo che gli elementi cratici sono più forti di quelli tectici (cfr. la trasformazione dei dialetti una volta danesi nella Scania in svedesi dopo il passaggio di quei territori alla Svezia).
a.- La materia galiziana è complessa per il fatto che due coronimi (Galizia, Por-togallo), oggi monosemici, erano nel medioevo bisemici: ognuno di essi poteva essere inteso sensu stricto e sensu lato e il guaio fu che queste accezioni non si riferivano a quattro ma a tre territori. La Galizia meridionale era diventata nel 1093 nucleo della contea di Portogallo con capitale a Oporto, governata da Enrico di Borgogna (che era genero di Alfonso VI, re di Castiglia-León [da Galiza!]). Suo fi-glio Afonso divenne un mezzo secolo dopo re di Portogallo (1143) e così i territori galiziani furono divisi fra due Stati con la frontiera tuttora attuale sul Minho. La ri-conquista delle terre abitate da mozarabi atlantici terminò un po’ più di un secolo dopo la liberazione di Lisbona (1147), con quella di Faro (1249). Qui bisogna ag-giungere che la Contea abbracciava anche territori mozarabi perché una fascia di territorio al Nord del Mondego, inclusa Coimbra liberata già nel 1064, non era gali-zianofona (cfr. Teyssier, 1995, 679). Il nucleo del futuro Regno di Portogallo non era dunque monolingue secondo l’ottica tradizionale riformata che considera il ga-liziano e il portoghese come due lingue, di cui la più antica si dovrebbe, secondo la mia opinione, chiamare galaico-oportese e non galaico-portoghese. Mi interes-sa piuttosto un altro gruppo di problemi. Quali LB romanze di Galizia e di Lusitania o, se è impossibile saperlo per la data tarda dei testi scritti romanzi in quantità considerevole, quali LM romanze si trovano riunite sotto i due glottonimi? Qui va menzionato che R. Lorenzo parla per l’intera Galizia storica (che arriva un po’ più a Sud del Douro ma non arriva al Mondego) di una koinè galiziana (1995, 1996) e che Monteagudo e Santamarina (1993, 119-121) deplorano l’imperfetta omoge-neizzazione della sua forma scritta e la non avvenuta costituzione di una rispettiva common spoken variety which could be recognized as standard. Ció sembra indi-care che la koineizzazione (pan?)-galiziana non poté esser portata a termine non solo a causa dell’espansione linguistica castigliana ma anche, e ció mi interessa di più in questa sede, per l’espansione della LM di Lisbona e delle altre LM da essa egemonizzate in direzione Nord, fino al Douro e più tardi fino al Minho. Due conclusioni sono teoricamente possibili:
1.ª la koinè di Porto, in precedenza egemonizzata da quella di Santiago di Com-postella (per abbrev. dalla lingua elaborata compostellana), è stata transsatellizza-ta ad opera della lingua elaborata coimbrese e/o lisbonese; in questo caso sareb-
23 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
be avvenuto uno scorporo del galiziano tout court;
2.ª la koinè di Porto (o forse anche altre koinè indipendenti dal compostellano; si può pensare a quelle di Braga e di Guimarães) sarebbe stata attratta nell’orbita di una koinè portoghese centrale; in tal caso ciò non costituerebbe uno scorporo del galiziano (il quale, essendo soltanto settentrionale, non ha bisogno di tale attri-buto) ma un linguicidio, una fusione che contribuì all’accorpamento del portoghe-se.
b.- Mancano, come mi pare, studi sul possibile influsso medievale dell’asturo-leonese (più corretto sarebbe dire: delle varie LM romanze dell’ex Regno delle As-turie e del Regno di León [da Galiza]) sul galiziano.
c.- Non è noto se durante la decadenza del galiziano (o delle varie LM di Gali-zia nel caso che il tetto compostellano non fosse stato unico nella Galizia gover-nata da Toledo e poi da Madrid) vi si possa trovare qualche centro di resistenza costituitosi provvisoriamente, dopo lo smembramento di quello compostellano e la trasformazione della rispettiva LM (che, forse, per un breve tempo era avanzata allo status di lingua alta seconda) in una serie di lingue basse impotenti, parago-nabile a quello funzionante ancora intorno al 1600 nel Béarn, sotto la protezione della corte di Pau (tale LM sarebbe stata tenuta insieme sotto la guida dell’ultima lingua elaborata occitana di quella fase; per chi non crede all’occitanità del guas-cone, bisogna parlare dell’ultima lingua elaborata guascona, in assoluto). (pp.51-52)
O Professor, para além de seguir a historiografia oficial no Reino da Espanha relativa aos velhos reinos das Astúrias, de León e de Castilla, remete (baseia-se?) aos seguintes textos de isolacionistas confessos (e suspeitos de parcialidade):
Ramón Lorenzo (1995), “Galegische Koine. La koiné gallega”, in Gunter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt (edd.), Lexikon der Romanistischen Linguistik [LRL], Tubingen. II, 2, 649-679.
Ramón Lorenzo 1996), “Der Tag der galicischen Sprache und Literatur” in Gali-cien-Magazin, Galicien-Zentrum der Universität Trier – Deutsch-Galicischen Ge-sellschaft [Asociación gallego-alemana] 1, 6-14.
Henrique Monteagudo-Antón Santamarina (1993), “Galician and Castilian in contact: historical, social and linguistic aspects”, in Rebecca Posner, John N. Green (edd.), Trends in Romance Linguistics and Philology, vol. 5. Bilingualism and Linguistic Conflict in Romance, Berlin-New York, 117-173.
Paul Teyssier (1995), “Portugiesische Koine. La koinè portugaise”, in Lexikon der Romanistischen Linguistik [LRL], Tubingen. II, 2, 679-692.
O artigo que o Professor se cita é Žarko Muljačić (1986), “L’enseignement de Heinz Kloss (modifications, implications, perspectives)” in Langages, 83, pp. 53-63, em particular, pp. 56-57
*************
24 - Livro novo de textos velhos - Apresentação
Compreendo o afã dos filólogos por reconstruir as fases (perdidas) dos idio-mas. Porém, não compreendo o seu afã por imaginar e mesmo inventar estádios derivados em geral de posicionamentos radicalmente ideológico-nacionais ou, an-tes, assentes nas narrativas “nacionistas” promovidas pelos estados-nação para legitimarem a sua existência atual no concerto dos estados.
Tristemente é o que percebo nos excertos dos artigos muljacicianos e, em par-ticular, no último transcrito, que alicerça na “autoridade” dos acima citados.
******
Convido a ler o meu artigo “Temas sobre teimas (Comentários sobre um texto do Prof. José Enrique Gargallo Gil)”, datado em 22 de março de 2002, revisto em 1.º de abril de 2015 e publicado no sítio www.lusografia.org, hoje inativo.
25 - Livro novo de textos velhos - Apresentação