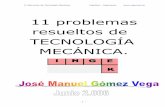Introdução à Criminologia Índice
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Introdução à Criminologia Índice
1/59
Introdução à Criminologia
Índice
Apresentação 02 Contextualização 02 Relevância 02 Bibliografia 03 Avaliação 05 Aula 1 – Introdução ao estudo da criminologia 06 Aula 2 – História da Criminologia 12 Aula 3 - Teorias sociológicas do crime 19 Aula 4 - Teorias sociológicas do crime II 27 Aula 5 - Movimentos contemporâneos de política penal 36 Aula 6 - Introdução ao estudo da Vitimologia 52 Trabalho final 58
2/59
Apresentação:
Você esta iniciando a disciplina Introdução à Criminologia. Esperamos que esse estudo possa contribuir para sua formação como profissional da área de Segurança Pública ou como estudioso do assunto. A proposta dessa disciplina é apresentar as principais correntes do pensamento criminológico. Inicialmente serão trabalhados os conceitos principais da criminologia clássica de Beccaria no século XVIII, logo após destaca-se o início dos estudos científicos sobre o perfil do criminoso de Lombroso e a sociologia criminal americana que inovou na metodologia utilizada, como também nas diferentes abordagens propostas. Em seguida serão analisadas as tendências que hoje permeiam os debates na criminologia contemporânea: a contração do direito penal e redução ou abolição das penas e em sentido oposto, a maximização do direito penal e das formas punitivas do Estado. Por fim a vitimologia será estudada como um novo caminho de redução dos processos de vitimização, como também prevenção do crime, a partir das pesquisas que hoje revelam o perfil e as formas de vitimização mais comuns na sociedade brasileira. Esperamos que esses estudos e pesquisas que você passa a conhecer, possam contribuir de fato para sua melhor compreensão dos problemas relacionados à violência, à criminalização e à criminalidade na sociedade brasileira, e mais ainda, que estimule a produção acadêmica e cientifica em diferentes regiões do país, permitindo assim maior troca entre os pesquisadores brasileiros.
Contextualização:
A disciplina Criminologia será neste curso estudada em diferentes contextos históricos. Sua origem tem início com os pensadores Iluministas (Ocidentais) do século XVIII e até os dias de hoje produz diferentes interpretações e possibilidades de discutir os fatores e atores envolvidos com os conflitos sociais.
Relevância:
A disciplina Criminologia é de fundamental importância para a formação do profissional e estudioso da área de Segurança Pública, pois permite uma análise das diferentes variáveis envolvidas com o fenômeno da criminalidade, além de permitir uma compreensão maior das questões sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade brasileira que estão associadas às diferentes formas de violência e manifestação do conflito.
3/59
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANITUA, Gabriel Ignácio. História dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan / ICC, 2008.
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito penal: introdução à Sociologia do direito. Rio de Janeiro: Revan, 1997
BECCARIA. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Claret, 2003.
BELLI, Benoni. Tolerância Zero e a democracia no Brasil: visões da segurança pública na década de 90. São Paulo: Perspectiva, 2004.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004.
DORNELLES, João Ricardo W. Conflito e Segurança. Entre pombos e falcões. Rio de Janeiro: Lumen Júris. 2003
DOTTI. René Ariel. Bases e Alternativas para o Sistema de Penas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
GARCIA -PABLOS Molina. Antonio e Gomes. Luis Flavio. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. SHECAIRA, Sergio Salomão. Criminologia. São Paulo: revista dos Tribunais, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, Salo. Pena e Garantias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.
COELHO, Edmundo Campos. A Oficina do Diabo e outros estudos sobre criminalidade. Rio de Janeiro: Record, 2005. HOLLANDA, Cristina Buarque de, Polícia e Direitos Humanos. Política de Segurança Pública no primeiro governo Brizola (Rio de Janeiro: 1983-1986). Rio de Janeiro: Revan , 2005. MISSE, Michel. Crime e Violência no Brasil Contemporâneo. Estudos de sociologia do crime e da violência urbana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. PINTO, Nalayne Mendonça. Penas e Alternativas: Um estudo sociológico dos processos de agravamento das penas e de despenalização no sistema de criminalização brasileiro (1984-2004).Rio de Janeiro: UFRJ, PPGSA, IFCS, 2006. PASSETTI, Edson. Curso Livre de Abolicionismo Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. Rio de Janeiro: Forense, 2002. ___________________. Quem são os criminosos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998.
4/59
WACQUANT, Loic. As prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. WACQUANT, Loic. Punir os Pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2001. WAISELFISZ, Jacobo Julio - Mapa da violência IV: os jovens do Brasil. Disponível
em: http://www.brasilia.unesco.org/publicacoes/livros/mapaiv. Acesso em 4 de
novembro de 2008.
5/59
Avaliação
Em todas as disciplinas da pós-graduação online existem:
Avaliação formativa
Não valem ponto, mas são importantes para o aprofundamento e fixação do conteúdo:
Atividades de fixação: são atividades de passagem, presentes
dentro das aulas; são testes contextualizados ao conteúdo
explorado.
Exercícios de autocorreção: questões para verificação da
aprendizagem; são essenciais, pois marcam a sua presença em
cada aula;
Avaliação somativa
Formam a sua nota final nesta disciplina:
Temas para discussão em fórum: aprofundam e atualizam os temas
estudados em aula, além de ser um espaço para tirar suas dúvidas. Sua
participação vale ponto;
Prova em data especificada no calendário acadêmico do curso, que será
realizada no seu Pólo;
Trabalho final da disciplina: O texto deve ser digitado em folha A4, letra arial ou times new 12, entre linhas 1,5. Desenvolver o tema em até 2 laudas. Ao utilizar as citações diretas dos autores, não esquecer de colocar a referência, ex (SOUZA, 2008, p. 67). De mesma forma ao fazer paráfrase do autor coloque seu nome seguido do ano. Ex: Segundo Souza (2008) a criminologia...
Colocar ao final do trabalho as referências consultadas conforme o modelo de bibliografia que consta da bibliografia geral do curso. Tema: No que consiste a Vitimologia (seu objeto e suas finalidades)? Podemos falar de vitimização de “grupos sociais” no Brasil? (Dê exemplos e analise casos de vitimização no Brasil)
Orientações sobre a realização do trabalho podem ser obtidas com o professor on-line no
Fórum de Discussão , no tópico Orientações do Trabalho.
6/59
Aula 1: Introdução ao estudo da criminologia
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1) Explicar os fundamentos da disciplina criminologia;
2) Compreender os objetos de pesquisa da criminologia;
3) Iniciar o estudo da Teoria do controle social e da Teoria Utilitarista.
Estudo dirigido da aula:
1. Leia o texto condutor da aula.
2. Participe do fórum de discussão desta aula.
3. Realize a atividade proposta.
4. Leia a síntese da sua aula.
5. Leia a chamada para a aula seguinte.
6. Realize os exercícios de autocorreção.
Olá! Seja bem-vindo à primeira aula da disciplina Introdução à Criminologia.
É importante começar nosso curso esclarecendo quais os campos de estudo da
criminologia. O delito, o delinqüente, a vítima e as formas de controle social são objetos
de pesquisa que tradicionalmente pertencem aos estudos criminológicos, entretanto
outras áreas de conhecimento também se direcionam para esse campo e dialogam com a
Criminologia, a Sociologia, a Psicologia, a Psiquiatria, o Direito, o Serviço Social, e com
os estudos sobre Segurança Pública.
Dessa forma, a pesquisa e as trocas interdisciplinares sempre fizeram parte da
criminologia e são muito valiosas, pois permitem compreender os acontecimentos e
agentes sociais de forma mais integrada e dinâmica. Isso significa dizer que não
podemos abrir mão dos estudos de outras áreas do conhecimento para ampliar nossas
pesquisas e permitir um melhor entendimento dos fatos sociais que nos cercam.
Alguns estudiosos ressaltam que o crime não é uma entidade em si, ele não existe antes
da sua rotulação. Nesse sentido, sem a existência do objeto em si não existe a ciência, a
7/59
pesquisa. No entanto, sabemos que para existir crime é necessário que o grupo social
defina algum, ou alguns comportamentos como ilícitos, e então passaríamos a ter o
objeto. Pois é aí que entra nossa disciplina. Só estudamos o crime, o criminoso, a vítima
e o controle social porque há uma prévia definição social do que seja o crime, não precisa
nem mesmo ser uma definição legal/ jurídica, basta que os grupos sociais definam que
determinado ato não será tolerado que já temos assim um comportamento ilícito e,
portanto, passível de ser estudado.
Bom estudo!
DELITO
No direito penal, o crime é um conceito formal e normativo, ou jurídico-
formal, portanto estático.
Já para a Criminologia, representa um conceito social, moral, valorativo,
empírico (real e dinâmico). O delito é uma construção social dos grupos e
sociedades e por isso é relativo, ou seja, variável de cultura para cultura.
Interessa à Criminologia não apenas o conceito formal como também a
imagem global do fato e de seu autor: a etiologia do fato real, sua
estrutura, formas de manifestação, técnicas de prevenção, etc.
DELINQUENTE
O delinqüente é examinado em suas interdependências sociais, como unidade
biopsicossocial e não de uma perspectiva biopsicopatológica. Assim não se
pretende analisar o criminoso como um portador de uma doença, nem por outro
lado como fruto dos problemas sociais. Mas compreender que há fatores
biológicos, psicológicos e sociais que interferem nas decisões e no comportamento
do ator delinqüente.
Segundo a teoria clássica da Criminologia, que veremos mais adiante, os
indivíduos escolhem suas ações, racionalizam e decidem, isso é chamado de
8/59
escolha racional. Por essa perspectiva não há diferença entre delinqüente e não
delinqüente, pois sendo todos os indivíduos considerados iguais, qualquer um
pode escolher como agir e sabe as conseqüências dos seus atos.
Mas para o positivismo criminológico, o infrator é um prisioneiro da sua própria
patologia (determinismo biológico) ou de processos causais alheios ao mesmo
(determinismo social). Veremos pesquisas onde os estudos dos criminosos se
direcionaram para o diagnóstico dos fatores biológicos que definem seu
comportamento, como também estudos que analisam os fatores sociais que
direcionam as escolhas pessoais.
Na criminologia contemporânea se discute a normalidade do delito e do
delinqüente. Normalidade no sentido de compreender que em qualquer sociedade há
rotulação de comportamentos como ilícitos e que também, em todas elas, haverá quem
infrinja essas regras de proibição, pois, segundo Durkheim, o rompimento dessas regras
é útil e necessário a qualquer grupo social, pois serve para reforçar as regras e lembrar
da importância de cumpri-las. O que significa dizer que só lembramos o valor das regras
sociais quando alguém as quebra e por isso ele afirma que o crime é normal em qualquer
sociedade (não em taxas exageradas).
VÍTIMA
A Criminologia chama atenção para a necessidade de estudar o processo de vitimização
que ocorre quando um crime é cometido. Durante muito tempo a vítima sofreu com o
descaso e a desconsideração do seu sofrimento.
No processo penal há um abandono da vítima devido à sua neutralização e
distanciamento.
A Vitimologia propõe uma interação entre autor e vítima, e seus estudos
abarcam: os processos de vitimização; a propensão de determinados grupos ou sujeitos
de se tornarem vítimas; as variáveis que interferem no processo (sexo, idade, gênero,
classe); os danos que sofrem as vítimas; o comportamento das vítimas; os riscos de
vitimização; a reparação de danos e a assistência a vítimas.
9/59
CONTROLE SOCIAL
O controle social é entendido como um conjunto de instituições, estratégias e sanções
sociais que pretendem promover e garantir o submetimento dos indivíduos aos modelos
e normas comunitários. Para alcançar a conformidade ou a adaptação do indivíduo aos
seus postulados normativos, serve-se a comunidade de duas instâncias de controle
social: instâncias formais e informais.
Duas instâncias de controle social:
Agentes informais: família, escola, profissão, opinião publica etc..
Agentes formais: polícias, sistema judiciário, administração penitenciária etc.
Segundo o Ian Taylor (1990), a teoria clássica da criminologia, que teve seus primeiros
princípios pensados por Cesare Beccaria, é a teoria do controle social, que se caracteriza
por fixar em primeiro lugar a forma como o Estado deve se posicionar frente ao
delinqüente, para depois pensar nas atitudes que caracterizam a delinqüência e a base
social do direito penal. Essa teoria, como já foi dito, tem suas bases na teoria do contrato
social (também chamada de utilitarista) que se alicerça (segundo algumas interpretações
muito criticadas por filósofos e cientistas políticos) em três hipóteses principais: a)
postula o consenso entre homens racionais acerca da moralidade e da imutabilidade da
distribuição dos bens; b) entende que todo comportamento ilegal, produzido em uma
sociedade onde foi celebrado um contrato social, é essencialmente patológico ou
irracional e característico de homens que, pelos seus defeitos pessoais, não podem
celebrar contratos; c) tem como conseqüência das suposições anteriores o fato de que os
teóricos do contrato social teriam um conhecimento especial dos critérios, para
determinar o nível de racionalidade de um ato, esses seriam os de utilidade para
sociedade, e é dessa idéia que surge a nome de teoria utilitarista ou utilitarismo.
O utilitarismo, segundo Taylor (1990), não é uma teoria que pressupõe a igualdade dos
indivíduos em todos os sentidos, e sim, que os homens são iguais na sua capacidade de
raciocínio, já que essas idéias foram elaboradas numa sociedade fundada na propriedade
privada, não poderia a igualdade ser considerada de forma total. Entende o autor que a
teoria utilitarista foi baseada numa contradição entre a defesa da igualdade e a ênfase na
propriedade, pois não presta atenção ao fato de que a carência de bens pode aumentar a
10/59
probabilidade de um homem cometer delitos, e as recompensas por não cometê-los
podem estar apenas à disposição de quem já possui fortuna.
Nesse sentindo, os teóricos utilitaristas nunca investiram no debate sobre a supremacia
moral e racional da burguesia, e sim, concentraram-se nas questões atinentes à
legislação e ao destino que deveria ser dado aos delinqüentes, ou seja, nos problemas
relacionados à administração do controle por parte do Estado (TAYLOR, 1990, p.23).
A aplicação efetiva das premissas – contrato social e controle social – da escola clássica
da criminologia tiveram dificuldades em adequar-se na realidade dos fatos da Europa do
século XIX. As contradições se manifestaram quando tentaram implementar medidas
penais universais, foi impossível omitir-se frente aos determinantes da ação humana e
atuar como se o castigo e o encarceramento pudessem ser medidos de forma idênticas.
Então, em razão da limitação dos princípios clássicos, no que diz respeito à concentração
do foco no ato delitivo e o desdém pelas diferenças individuais entre os atores tidos como
delinqüentes, advogados e penalistas da época imprimiram esforços e modificaram os
princípios clássicos da época criando a escola neoclássica, que foi a base da maioria dos
regimes jurídicos do Ocidente.
Depois de termos conhecido o objeto da criminologia, na próxima aula, continuaremos
trabalhando seus aspectos teóricos e históricos.
Assista o vídeo proposto no ambiente on line e debata no Fórum de Discussão sobre o tema “Psicopatia e sua relação com a violência nas cidades”.
A partir do estudo da aula, reflita como devem ser tratados, tanto pela ciência, quanto
pelo Estado, os casos em que sociopatas cometem crimes?
11/59
Assista aos filmes O Iluminado, de Stanley Kubrick, e As duas faces de um crime, de
Gregory Hoblit.
Esta primeira aula procurou apresentar para você as possibilidades de pesquisa e compreensão da criminologia, analisando cada conceito-objeto de estudo. A partir desse primeiro momento, iremos fazer um percorrido histórico-teórico da Sociologia Criminal e da Sociologia.
Depois de termos conhecido o objeto da criminologia, na próxima aula, continuaremos
trabalhando seus aspectos teóricos e históricos.
TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La nueva criminología: contribución a una teoría social de la conducta desviada. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1990.
PABLOS DE MOLINA, Antonio Garcia e GOMES, Antonio Flavio. Criminologia. São Paulo : RT. 2002.
12/59
Aula 2: História da Criminologia
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. Descrever as principais teorias sociológicas que estudam o fenômeno criminal, desde as formas de punição da Idade Média até a Biologia criminal e Psicologia criminal contemporânea.
Estudo dirigido da aula
1. Leia o texto condutor da aula.
2. Participe do fórum de discussão desta aula.
3. Realize a atividade proposta.
4. Leia a síntese da sua aula.
5. Leia a chamada para a aula seguinte.
6. Realize os exercícios de autocorreção.
Olá! Seja bem-vindo à aula História da Criminologia.
Na aula anterior, fizemos uma introdução ao objeto de estudo da criminologia e conhecemos os principais conceitos dessa matéria. A partir daí, iniciamos a abordagem histórico-teórica da Criminologia, que daremos continuidade nesta aula, onde estudaremos as Teorias: Escola Clássica, Escola Positiva – Etapa Cientifica da Criminologia, Positivismo Biológico (Determinismo biológico ).
Bom estudo!
Um pouco de História
George Rushe e Otto Kirchheimer (2004) estudaram as formas de punição na estrutura
social da Idade Média européia e perceberam que as penas e o sistema punitivo
estiveram relacionados às demandas econômicas e sociais de ampliação ou redução da
força de trabalho.
Os autores ressaltam que até século XV as penas previstas na Europa ocidental eram a
fiança, a indenização e os castigos físicos: mas, no século XVI, a escassez de mão-de-
obra tornou a exploração do trabalho necessária e por isso em 1596 foram criadas as
casas de correção em Amsterdã, como o objetivo de disciplinar a força de trabalho e
13/59
limpar a cidade dos vagabundos. Outras penas úteis eram as Galés (remadores dos
navios mercantis); Deportação e Banimento para as colônias recém descobertas.
Durante o século XVIII o aumento populacional e da pobreza teve como conseqüência a
luta por direito ao trabalho dos homens livres, o que acarretou o retorno de métodos
mais duros de punição: açoite, mutilações e pena de morte. O sistema inquisitorial
utilizando-se da tortura e da confissão forçada foi amplamente utilizado e a busca pelos
“hereges”, revelou-se uma forma cruel de punição e eliminação dos indesejáveis. Vale
lembrar que a Igreja Católica detinha o poder de julgar e condenar em nome do Rei não
apenas de crimes de heresia (judeus, bruxos, islâmicos, deficientes etc), como também
crimes comuns.
Para conhecer um pouco mais do que foi a Inquisição na Europa Medieval, faça uma
pesquisa sobre o tema na Internet.
Escola Clássica
Cesare Beccaria (1738-1794), em sua obra Dos Delitos e das Penas, de 1764, se insurgiu
contra as formas cruéis de punição, escreveu um livro em forma de protesto e acabou se
tornando um dos maiores críticos da Inquisição, defendendo a abolição da pena de
morte, da tortura e de outras penas desumanas. Observou que a prevenção do crime é
mais importante do que a própria punição.
Sob influência do Iluminismo e do Contratualismo francês (liberdade, Igualdade e
Fraternidade) sua obra preconizou um novo Direito Penal em que todos os seres
humanos sendo livres e iguais no Estado contratual devem ter direito a uma punição
justa e proporcional ao delito cometido, porém, nunca ser privado de sua vida, o bem
maior que o contrato social visa preservar.
A discussão do Utilitarismo de Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-
1873) tambem marcou sua obra. Segundo o utilitarismo, os homens “agem sempre de
forma a produzir a maior quantidade de bem-estar” (princípio do bem-estar máximo).
Assim, entende-se ser o princípio da utilidade, aquele segundo o qual toda ação,
qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função de sua tendência de
aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação...” (Jeremy Bentham).
14/59
Nesse sentido, se os homens calculam suas ações visando bem estar e redução dos
prejuízos, a pena deve ser uma forma de coibir o bem estar e o prazer. Mas para tanto, é
necessario que as formas punitivas sejam claras e públicas, ou seja, é necessário que
todos conheçam os delitos e as penas previstas na forma de lei, a fim de calcular se
vale ou não incorrer no ato delituoso.
Beccaria se rebelou contra as arbitrariedades da Justiça Criminal da sua época e
proclamou:
A atrocidade da pena opõe-se ao bem público
Os crimes e as penas devem ser previstas em lei
As penas devem ser proporcionais aos delitos
As penas devem ser moderadas
As acusações não podem ser secretas
Não se pode admitir a tortura por ocasião do processo
O objetivo da pena não é atormentar o acusado e sim impedir que ele reincida e
servir de exemplo para outros
O réu jamais poderá ser considerado culpado antes da sentença condenatória
(Devido Processo Legal)
Somente os magistrados podem julgar acusados
Aos juízes não deve ser dado interpretar as leis penais
Mais útil do que a repressão é a prevenção dos delitos
Não tem a sociedade o direito de aplicar a pena de morte nem de banimento
“ É que para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de modo
essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias
dadas, proporcional ao delito e determinada pela lei” (Beccaria)
Escola Positiva – Etapa (supostamente) Científica da Criminologia
Durante o século XIX as pesquisas cientificas ganharam grande impulso devido à
expansão do Estado laico e dos projetos relacionados à Revolução Industrial e Científica.
O movimento Positivismo proclamava a Razão e Ciência como fontes do conhecimento e
do progresso social. Através da observação dos fatos e da busca pelas leis naturais,
diferentes áreas do conhecimento foram se desenvolvendo e divulgando seus resultados.
15/59
Positivismo Biológico (Determinismo biológico )
Um famoso médico psiquiatra chamado Cesare Lombroso (1835- 1909) propôs-se a
estudar o criminoso pela perspectiva biológica e comprovar a sua hipótese de que
determinados indivíduos nascem com uma degenerescência genética que o direciona
para um comportamento criminoso. Seu livro O Homem Delinqüente foi publicado em
1876, tornando suas pesquisas mundialmente famosas.
Seu grande valor foi inaugurar o método empírico de estudo do crime e do criminoso.
Sua teoria do delinqüente nato foi formulada com base em 400 autópsias e 6.000
análises de delinqüentes vivos.
Segundo Lombroso, o delinqüente padece de uma série de estigmas degenerativos
comportamentais, psicológicos e sociais. Usa a frenologia para suas análises: fronte
esquiva e baixa, grande desenvolvimento dos arcos supraciliais, assimetria craniana,
grande desenvolvimento das maças do rosto, orelhas em forma de asa, uso freqüente de
tatuagens, insensibilidade à dor, instabilidade afetiva, alta reincidência etc...
Classificação Lombrosiana
Criminoso Nato: portador de patrimônio genético, degenerescência genética –
atavismo
Criminoso louco: portador de perturbação mental – louco moral
Criminoso Profissional: Força do meio, não há patrimônio genético
Criminoso Primário: Fatores circunstanciais, a ocasião
Criminoso Passional: vitima do humor, nervosismo, paixão.
As pesquisas contemporâneas discordam dos estudos de Lombroso que afirmaram o
determinismo biológico do criminoso. Entretanto, o que seu trabalho revelou foi a
necessidade de iniciar uma pesquisa empírica sobre quem eram os criminosos, seus
hábitos, costumes, estilos de vida, meio social, problemas psicológicos e biológicos entre
outros. Como falamos no início não há estudo hoje que defenda o determinismo, que
afirme o determinismo biológico, ou psicológico, ou social, mas grande parte dos
estudiosos concordam que é necessário estudar os fatores bio- psico- sociais que
envolvem o fenômeno da criminalidade.
16/59
Só para ilustrar um pouco a moderna criminologia que se pretende científica (mas que é
questionada com severidade pelos que consideram as pesquisas sobre o ser criminoso
uma reificação grosseira, preconceituosa e contrária ao próprio reconhecimento de que o
crime é uma construção sócio-cultural e histórica, portanto variável e relativa, sendo,
portanto, ele, o crime, o objeto legítimo de estudo, e não “o criminoso”, porque não
existe “o ser-criminoso” correspondente a uma essência natural e invariável): vale
conhecer aspectos estudados pela Biologia criminal e a Psicologia criminal
contemporânea.
Modelos de Análise de cunho biológico
Neurofisiologia: busca as anomalias cerebrais a partir da descoberta do eletro
encefalograma e ressonância magnética.
Endocrinologia: Busca as disfunções hormonais em homens e mulheres.
Sociobiologia (Bioquímica): busca as influências externas: déficit de minerais e
vitaminas; hipoglicemia; contaminação ambiental por chumbo, mercúrio; fatores
térmicos, espaciais, urbanísticos e acústicos.
Genética Criminal: análise de famílias criminais, gêmeos; e malformação
cromossômica.
Modelos de cunho Psicológico
Psicanálise: estuda os conflitos psíquicos através da análise do inconsciente.
Freud – os conflitos da infância reaparecem na fase adulta através de neuroses.
Psiquiatria: Catálogo das patologias CID 10 e DSM IV.
Sociopatia ou psicopatia - Personalidade anti-social.
Oligofrenia ; retardamento mental.
Personalidade Esquizotípica: Esquizofrenia - incapacidade de valorar a
realidade.
Transtorno Bipolar - Psicose Maníaco-Depressiva.
Demência por deteriorização orgânico-cerebral (velhice).
Depressão.
17/59
Transtorno por:
Dependência de álcool e drogas (síndrome de abstinência)
Transtorno por ansiedade
Transtorno sexual: exibicionismo, fetichismo, pedofilia, sadismo, masoquismo,
voyeurismo
Transtorno de controle dos impulsos: cleptomania, piromania, ludopatia
Você pode conhecer mais sobre essas patologias consultando na WEB o Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders - DSM IV e também o CID 10. São catálogos
médicos que classificam as características das doenças psiquiátricas e psicológicas.
Finalizando, é preciso ter muito cuidado para não estigmatizar pessoas com alguma
patologia ou mesmo com alguma característica física, como fez o estudo de Lombroso,
porque o portador de alguma patologia não é um criminoso. Há exemplos de pessoas que
viveram toda uma vida com problemas psiquiátricos e nunca infringiram nenhuma regra
social, assim como muita gente sã perpetrou vários crimes. Por isso, caso se insista em
estudar o criminoso ao invés do crime, é necessário um trabalho interdisciplinar, com
diferentes profissionais, para identificar os fatores que contribuem para determinado
comportamento.
Leia o texto A tortura no Brasil e debata no Fórum de Discussão sobre a permanência da tortura no Brasil. Relembre casos que ocorreram e analise o porquê da tortura ainda ser um instrumento de revelação da “verdade” presente nas práticas policiais brasileiras.
18/59
Identifique argumentos Lombrosianos que ainda persistem no nosso senso comum. Pense em situações onde eles aparecem.
Procure um caso recente de uso da tortura no Brasil e identifique na obra de Beccaria as críticas a esta forma punitiva e seus argumentos.
Assista aos filmes:
Joana D'Arc, de Luc Besson. Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme. Os Miseráveis, de Billie August.
Esta aula buscou recuperar um pouco da história da construção do direito penal moderno, identificando transição entre o modelo inquisitorial de punição e a expansão da ideologia iluminista das garantias individuais.
Também é importante reconhecer que os trabalhos de Lombroso ampliaram a possibilidade da pesquisa empírica sobre o fenômeno criminal, contudo, hoje são duramente criticados pelo seu caráter essencialmente estigmatizante.
Na próxima aula, estudaremos as principais teorias da Sociologia criminal. Conheceremos as Teorias de Enrico Ferri, de Durkheim e Robert Merton
PABLOS DE MOLINA, Antonio Garcia e GOMES, Antonio Flavio. Criminologia. São Paulo: RT. 2002
19/59
Aula 3: Teorias Sociológicas do Crime
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. Conhecer as teorias sociológicas que estudam o fenômeno criminal;
2. Identificar as características da violência e da criminalidade na sociedade brasileira;
1. Avaliar as possibilidades de intervenção social e política a fim de reduzir determinados crimes recorrentes relacionados a questões urbanas, econômicas e sociais.
Estudo dirigido da aula:
1. Leia o texto condutor da aula.
2. Participe do fórum de discussão desta aula.
3. Realize a atividade proposta.
4. Leia a síntese da sua aula.
5. Leia a chamada para a aula seguinte.
6. Realize os exercícios de autocorreção.
Olá! Seja bem-vindo à aula Teorias sociológicas do crime.
Nossa terceira aula tem como proposta analisar as teorias sociológicas que estudaram o crime e o comportamento criminoso. Importante lembrar que as pesquisas sociológicas iniciaram no final do século XIX junto com as pesquisas de abordagem biológica. Em verdade, a pesquisa sociológica também é fruto do Positivismo, grande incentivador do desenvolvimento científico na Europa. Então podemos dizer que no campo da criminologia temos agora uma abordagem positivista multifatorial onde o criminoso e seu meio serão analisados.
Bom estudo!
TEORIAS SOCIOLÓGICAS QUE ESTUDARAM A CRIMINALIDADE
Enrico Ferri
O Professor universitário Enrico Ferri (1865-1929) foi considerado o pai da moderna
sociologia criminal. Tornou-se conhecido principalmente por sua teoria da criminalidade,
20/59
por seu programa político-criminal e sua tipologia criminal. Segundo Ferri o delito não é
produto de uma patologia individual, mas como qualquer outro acontecimento natural,
produto de diversos fatores: individuais, físicos e sociais.
Sua tese é que o delito é um fenômeno social, com uma dinâmica própria e etiologia
específica, na qual predominam fatores sociais. Em conseqüência, a luta contra o delito e
sua prevenção devem ser concretizadas por meio de uma ação realista e científica de
poderes públicos que se antecipe a ele e que incida com eficácia nos fatores
criminógenos que o produzem, nas mais diversas esferas (econômica, política,
legislativa, familiar, educativa, administrativa etc.), neutralizando-os. Ferri considerava
serem três as causas do delito: biológicas (herança, constituição, etc); físicas (o
ambiente, compreendendo as condições climáticas, como a umidade, o calor, etc);
sociais (referente às condições ambientais ou mesológicas).
O estudo da criminalidade como um fenômeno social como os outros permitiria aos
cientistas antecipar o número de delitos em uma determinada sociedade, se contasse
com os fatores antes citados. Em sua teoria dos substitutivos penais, sugeriu um
programa político-criminal de luta e prevenção ao delito, dispensando o direito penal. A
pena, conforme Ferri, seria ineficaz se não viesse precedida ou acompanhada das
oportunas reformas econômicas, sociais, etc., orientadas por uma análise científica e
etiológica do delito.
Emile Durkheim
A teoria formulada por Emile Durkheim (1858-1917), considerada uma explicação
funcionalista da sociedade, foi formulada em um contexto de profundas mudanças
sociais, com o enfraquecimento dos modelos tradicionais de sociedade e o fortalecimento
das economias industrializadas no final do século XIX. Neste sentido, privilegia uma
compreensão orgânica e sistêmica da sociedade, para a manutenção da ordem e da
funcionalidade.
Em relação ao fenômeno da criminalidade, Durkheim se posiciona contra as concepções
naturalistas e positivistas que identificavam as causas da criminalidade nas forças
naturais (clima, raça), nas condições econômicas e na densidade populacional de certas
21/59
regiões. Dessa forma, discorda dos criminologistas que estudam o crime como resultado
da atuação de um fator de caráter patológico incontestável.
Estudando os fenômenos normais e patológicos de uma sociedade, chega à conclusão da
normalidade e utilidade do crime para a sociedade. Pois, segundo Durkheim, o crime não
se observa só na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as
sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma em que não haja criminalidade. Mudam
de forma, os atos assim qualificados, não são os mesmos em todos os lados; mas
sempre, e em toda parte, existiram homens que se conduziram de modo a transgredir
normas comunitárias ou a incorrer na repressão penal.
Não há, portanto, fenômeno que apresente de maneira mais irrefutável todos os
sintomas da normalidade, dado que aparece como estreitamente ligado às condições de
qualquer vida coletiva. Transformar o crime numa doença social seria admitir que a
doença não é uma coisa acidental mas que, ao contrário, deriva, em certos casos, da
constituição fundamental do ser vivo. Isto seria eliminar qualquer distinção entre o
fisiológico e o patológico. Pode, sem dúvida, acontecer que até o crime tome formas
anormais; é o que acontece quando, por exemplo, atinge uma taxa exagerada.
Efetivamente, não há dúvida de que este excesso é mórbido. O que é normal é
simplesmente que exista uma criminalidade, contanto que atinja e não ultrapasse, para
cada tipo social, um certo nível que talvez não seja impossível fixar de acordo com as
regras precedentes. (DURKHEIM 2002, p. 82)
O crime está presente em todas as sociedades, por isso não é algo patológico. O delito
faz parte da vida coletiva, enquanto elemento funcional da fisiologia, e não da patologia
da vida social. Somente em suas formas anormais, em caso de crescimento excessivo,
pode ser considerado patológico. Então, classificar o crime entre os fenômenos de
sociologia normal é afirmar que é um fator da saúde pública, uma parte integrante de
qualquer sociedade sã.
Nesse sentido, podemos resumir os postulados da teoria funcionalista em:
1) As causas do desvio não devem ser pesquisadas nem em fatores
bioantropológicos e naturais (clima, raça), nem em uma situação patológica da
estrutura social.
22/59
2) O desvio é um fenômeno normal de toda a estrutura social.
3) Somente quando são ultrapassados determinados limites, o fenômeno do desvio é
negativo para a existência e o desenvolvimento da estrutura social, seguindo-se
de um estado de desorganização, no qual todo um sistema de regras de conduta
perde valor (situação de anomia). Dentro dos seus limites funcionais, o
comportamento desviante é um fator necessário e útil para o equilíbrio e o
desenvolvimento sócio-cultural.
O delito cumpre uma função na estrutura social, ele provoca e estimula a reação social,
estabiliza e mantém vivo o sentimento coletivo que sustenta a conformidade às normas.
“O Crime é necessário e está ligado às condições fundamentais de qualquer vida social,
mas, precisamente por isso, é útil; porque estas condições de que é solidário são elas
mesmas indispensáveis à evolução normal da moral e do direito”. (DURKHEIM 2002, p.
86)
Conclui, então, que o crime cumpre a função integradora e inovadora, e deve ser
analisado como um fenômeno normal para o funcionamento da sociedade. Sendo a pena
uma reação social e necessária, que atualiza os sentimentos coletivos que correm o risco
de fragilização, recorda a vigência de certos valores e normas, e reforça a convicção
coletiva sobre o significado dos mesmos.
Além disso, o desvio individual torna possível a transformação e a renovação social, ou
mesmo prepara o caminho para essas transformações. Ou seja, o criminoso não só
permite a manutenção do sentimento coletivo em uma situação suscetível de mudança,
mas antecipa o conteúdo mesmo da futura transformação.
A análise funcionalista representa um marco na idéia de legitimação do castigo. A pena
não é analisada sob o enfoque valorativo (seus fins), senão funcional (funções reais que
a pena desempenha no sistema). A pena cumpre funções integradoras, é uma reação
que reforça os sentimentos coletivos lesionados pelo crime, impedindo que se
enfraqueçam, fortalece a consciência coletiva e a solidariedade social e devolve, ao
cidadão honesto, sua confiança nos sistema.
23/59
Robert Merton (Teoria da Anomia)
O método funcionalista que Merton (1910-2003) aplica ao estudo da anomia permite
interpretar o desvio como um produto da estrutura social, absolutamente normal como o
comportamento conforme as regras. Os mecanismos de transmissão de estrutura social
que produzem as motivações do comportamento conforme as regras e do
comportamento desviante são da mesma natureza.
Segundo Merton, em todo contexto sociocultural desenvolvem-se metas culturais. Estas
expressam os valores que orientam a vida dos indivíduos em sociedade, representam
motivações para o seu comportamento e são alcançadas através de meios socialmente
estabelecidos. Trata-se de recursos institucionalizados ou legítimos que são socialmente
prescritos. Existem também outros meios que permitem atingir estas metas, os quais são
rejeitados pelo grupo social. A utilização destes últimos é considerada violação das regras
em vigor.
Merton observou, estudando a sociedade norte-americana, que a meta cultural mais
importante é o sucesso na vida, abarcando riqueza e prestígio (american dream). Porém,
apesar dessa meta cultural ser compartilhada por todos, existe uma impossibilidade
desta ser atingida por uma grande parcela da população. A sociedade é estruturada de
tal forma que os meios socialmente admitidos não permitem a todos os indivíduos
alcançar a meta cultural. Disto resulta um desajuste entre os fins e os meios. Este
desajuste propicia o aparecimento de condutas desviantes. O insucesso em atingir as
metas culturais devido à insuficiência dos meios institucionalizados pode produzir o que
Merton denomina anomia: manifestação de um comportamento no qual as regras do jogo
social são abandonada ou contornadas. O indivíduo não respeita as regras de
comportamento que indicam os meios de ação socialmente aceitos. Surge então o
desvio, o comportamento desviante.
Examinando a situação conflitiva que pode ser estabelecida entre as aspirações
culturalmente prescritas (metas culturais) e o caminho socialmente indicado para atingi-
las (meios institucionalizados), Merton fez uma classificação dos tipos de
comportamento. Trata-se do que o autor chamou de modos de adaptação, que exprimem
o comportamento de indivíduos em face das regras sociais. Nesta classificação os
24/59
símbolos positivo e negativo são utilizados para indicar se os indivíduos aceitam ou não
as metas e os meio socialmente estabelecidos.
Modos de
Adaptação
Metas Culturais Meios
Institucionalizados
Conformidade + +
Inovação + -
Ritualismo - +
Evasão - -
Rebelião ± ±
Conformidade: corresponde a resposta positiva, tanto aos fins quanto aos meios
institucionais e, portanto, ao típico comportamento conformista.
Inovação: corresponde à adesão aos fins culturais, sem o respeito aos meios
institucionais.
Ritualismo: corresponde ao respeito somente formal aos meios institucionais, sem
persecução dos fins culturais.
Evasão: corresponde a negação tanto dos fins culturais quanto dos meios institucionais;
Rebelião: corresponde não a simples negação dos fins e dos meios institucionais, mas a
afirmação substitutiva de fins alternativos, mediante meios alternativos.
O comportamento criminoso típico corresponde ao segundo modelo, o da inovação.
Partindo do principio segundo o qual o impulso para um comportamento desviante deriva
da discrepância entre fins culturais e meios institucionais, Merton mostra como os
estratos sociais inferiores estão submetidos, na sociedade norte-americana analisa por
ele, à máxima pressão neste sentido.
25/59
Leia o texto do Professor Michel Miss, acesse o Fórum de Discussão e debata sobre como no senso comum estamos acostumados a relacionar violência com pobreza, o que a caba por gerar uma constante criminalização dos pobres.
Assista ao vídeo no ambiente on line de Loïc Wacquan. A partir do estudo desta aula, faça uma análise crítica de como se dá a relação entre pobreza e violência no Brasil.
Assista ao filme Zona do Crime, de Rodrigo Plá e Crash - No Limite, de Paul Haggis. Sugestões de boas leituras: MISSE, Michel. Crime e Pobreza: velhos enfoques, novos problemas. Disponível em: http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/arquivos/CRIME%20e%20pobreza.pdf ZALUAR, Alba. Oito temas para debate. Violência e segurança pública. Disponível em: http://loki.iscte.pt:8080/dspace/bitstream/10071/378/1/38.02.pdf
A terceira aula apresentou parte das teorias sociológicas que em muito contribuem para os estudos da criminologia. Perceba que temos muitas variáveis que estão presentes no fenômeno criminal, que influenciam diretamente na sua incidência, esses fenômenos devem ser estudados em diferentes contextos sociais. Entenda que uma teoria não exclui a outra, podemos realizar trabalhos de pesquisa e estudos que correlacionem diferentes variáveis e abordagens.
Nesta aula, estudamos as teorias de Enrico Ferri, do sociólogo Emile Durkheim e de Robert Merton (Teoria da Anomia). Na próxima aula, continuaremos estudando as teorias criminológicas, são elas: da Escola de Chicago, Teoria Ecológica, Teorias subculturais,
26/59
Teoria da aprendizagem social ou da Associação Diferencial, Teoria do etiquetamento - Labeling Approach e a Teoria do Conflito.
BARATTA. Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica ao direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2002. DURKHEIM. Émile. As regras do método sociológico. São Paulo. Martins Claret, 2002. MOLINA. Antonio Garcia-Pablos e GOMES, Luz Flavio. Criminologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. Pg. 194-196 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: RT, 2004.
27/59
Aula 4: Teorias Sociológicas do Crime II
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. Conhecer as teorias sociológicas que estudam o fenômeno criminal;
2. Identificar as características da violência e da criminalidade na sociedade brasileira;
1. Avaliar as possibilidades de intervenção social e política a fim de reduzir determinados crimes recorrentes relacionados a questões urbanas, econômicas e sociais.
Estudo dirigido da aula
1. Leia o texto condutor da aula.
2. Participe do fórum de discussão desta aula.
3. Realize a atividade proposta.
4. Leia a síntese da sua aula.
5. Leia a chamada para a aula seguinte.
6. Realize os exercícios de autocorreção.
Olá! Seja bem-vindo à aula Teorias sociológicas do crime II.
Nesta aula, continuaremos estudando as teorias sociológicas relacionadas ao crime e ao
comportamento criminoso. São elas: da Escola de Chicago, Teoria Ecológica, Teorias
subculturais, Teoria da aprendizagem social ou da Associação Diferencial, Teoria do
etiquetamento - Labeling Approach e a Teoria do Conflito.
Escola de Chicago
Berço da moderna sociologia americana, a Escola de Chicago se destacou pela inovação
na metodologia de pesquisa social, caracterizando-se por seu empirismo e por sua
finalidade pragmática, isto é, pelo emprego da observação direta em todas as
investigações e pela finalidade prática a que se orientavam, partindo de um diagnóstico
confiável sobre os urgentes problemas sociais da realidade norte-americana de seu
tempo.
28/59
A temática principal era uma sociologia da grande cidade, analisando o impacto das
mudanças sociais das grandes cidades (industrialização, (i)migração, conflitos) e
interessada nos grupos e culturas minoritários, como o mundo dos desviantes e a
morfologia da criminalidade. O crescimento populacional de Chicago explica o interesse
da Escola. Em 1860 a cidade tinha 110 mil habitantes, e apenas cinqüenta anos depois,
em 1910, cerca de dois milhões. Esta explosão demográfica implicava vários problemas
familiares, morais, urbanos, etc.
Teoria Ecológica
O ponto de atenção das teorias ecológicas estudadas por autores como Park, Burgess,
Mckenzie, Shaw, Mckay, etc, é a cidade como uma unidade ecológica. Suas teses fazem
uma relação entre o processo de criação de novos centros urbanos e a criminalidade. A
cidade produz delinqüência, concentrada em áreas específicas (delinquency areas).
O efeito criminógeno dos aglomerados urbanos é explicado pelos conceitos de
desorganização e contágio, bem como pelo debilitamento do controle social nesses
centros. A deteriorização dos “grupos primários” (família), a superficialidade das relações
interpessoais, a alta mobilidade, a perda das raízes, a crise dos valores tradicionais e
familiares, a superpopulação, a tentadora proximidade às áreas comerciais e industriais
onde se acumula riqueza e o enfraquecimento do controle social criam um meio
desorganizado e criminógeno.
O mérito das teorias ecológicas foi chamar atenção sobre o impacto criminógeno do
desenvolvimento urbano, na forma como se deu nas cidades norte-americanas no
princípio do século XX.
Teorias subculturais
As teorias subculturais surgiram na década de 1950 em reposta aos problemas da
sociedade americana com minorias étnicas, políticas, raciais, culturais etc. Elas
sustentam três idéias fundamentais: o caráter pluralista e atomizado da ordem social; a
rotulação normativa da conduta desviada; e a semelhança estrutural, em sua gênese, do
comportamento regular e irregular.
29/59
A ordem social neste modelo é um mosaico de grupos e subgrupos, fragmentados,
conflitivos; onde cada grupo ou subgrupo possui o seu código de valores, que nem
sempre coincidem com os valores majoritários e oficiais. A conduta delitiva para as
teorias subculturais não seria produto da desorganização ou ausência de valores, mas o
reflexo e expressão de outros sistemas de normas e de valores distintos: os subculturais.
A teoria das subculturas criminais nega que o delito possa ser considerado como
expressão de uma atitude contrária aos valores e às normas sociais gerais, e afirma que
existem valores e normas específicos dos diversos grupos sociais. Estes valores são
interiorizados pelos indivíduos através de mecanismos de interação e de aprendizagem
no interior dos grupos e determinam o comportamento em concurso com os valores e as
normas institucionalizadas pelo direito ou pela moral “oficial”. Não existindo, assim, um
único sistema de valores.
Dessa forma, não só a estratificação social e o pluralismo de grupos sociais, mas também
as reações típicas de grupos socialmente impedidos do pleno acesso aos meios legítimos
para a obtenção de fins institucionais dão lugar a um pluralismo de subgrupos culturais,
caracterizados por valores, normas e modelos de comportamento alternativos aos
predominantes.
O estudo de Cohen sobre a delinqüência juvenil nas classes baixas concluiu que as áreas
de delinqüência não são desorganizadas e carentes de controle social, mas terrenos nos
quais vigoram normas distintas das oficiais. O conflito, segundo Cohen, é produzido
quando os jovens de classes inferiores se identificam com as classes médias e
interiorizam seus valores. Vinculados a uma posição social inferior, e em desvantagem,
não poderão superar as demandas do grupo a que aspiram pertencer sem sofrer graves
problemas de adaptação. O conflito, assim, admite três alternativas: a adaptação, a
transação e a rebelião.
Nesse sentido, a subcultura opera como evasão da cultura geral ou como reação negativa
frente a ela. É uma espécie de cultura de recâmbio, que certas minorias marginalizadas,
pertencentes às classes menos favorecidas, criam dentro da cultura oficial para dar vazão
à ansiedade e à frustração que sentem ao não poderem participar, por meios legítimos,
das expectativas que teoricamente são oferecidas a todos pela sociedade. A via criminal
30/59
é considerada um mecanismo substituto ante a ausência real de vias legítimas para fazer
valer as metas culturais cujo alcance a sociedade nega às classes menos privilegiadas.
A teoria das subculturas criminais demonstrou que os mecanismos de aprendizagem e de
interiorização de regras e modelos de comportamento, que estão na base da
delinqüência, não diferem dos mecanismos de socialização através dos quais se explica o
comportamento normal. Essa investigação sociológica, com uma visão relativizante,
permitiu mostrar que no interior da sociedade moderna existe uma estrutura pluralista
com valores e regras produzidos por grupos diversos e antagônicos.
Teoria da aprendizagem social ou da Associação Diferencial
A década de 1960 viu surgir um grupo de teorias sociais sobre o crime, para as quais
este é uma função das interações psicossociais do indivíduo e apenas um dos diversos
processos de relacionamento vigentes na sociedade. Segundo Molina, podemos
identificar orientação conceitual e analítica distinta das tradicionais no interior das teorias
do processo social.
Para a teria da aprendizagem social, o comportamento delituoso é aprendido do mesmo
modo que o indivíduo aprende outras condutas ou atividades lícitas, em sua interação
com pessoas e grupos, e mediante a um complexo processo de comunicação. O indivíduo
aprende, assim, não só a conduta delitiva, mas também os próprios valores criminais, as
técnicas comissivas e os mecanismos subjetivos de racionalização (justificação) do
comportamento desviante.
Edwin H. Sutherland contribuiu, nesse sentido, com a análise das formas de
aprendizagem do comportamento criminoso, e da dependência desta aprendizagem face
às várias associações diferenciais que o indivíduo tem com outros indivíduos do grupo.
Desenvolveu uma crítica radical às teorias do comportamento criminoso baseadas em
condições econômicas (pobreza), psicopatológicas e sociopatológicas. Essas teorias,
segundo ele, são errôneas porque se baseiam em uma falsa amostra da criminalidade, a
criminalidade oficial e tradicional, da qual estão excluídas algumas formas de
criminalidade, como a do “colarinho branco”, cujos autores, salvo raras exceções, não
são pobres.
31/59
Sutherland chegou à conclusão de que a conduta desviante não pode ser imputada a
disfunções ou inadaptação do individuo das classes pobres, senão à aprendizagem efetiva
dos valores criminais. A capacidade ou destreza e a motivação necessária(s) para o delito
aprendem-se mediante o contato com valores, atitudes, definições e pautas de condutas
criminais no curso dos processos de comunicação e interação dos indivíduos.
O pressuposto da teoria da aprendizagem consiste na idéia de organização social
diferencial, que se conecta com as concepções de conflito social. A associação diferencial
é uma conseqüência lógica do principio de aprendizagem mediante associações ou
contatos em uma sociedade pluralista e conflitiva.
Teoria do etiquetamento - Labeling Approach
Por volta dos anos 1970, ganhou destaque uma explicação interacionista do fato delitivo,
cujo ponto de partida são conceitos de conduta desviante e reação social. Seus principais
representantes são Garfinkel, Goffman, Eriksan, Becker, Shur e Sack. De acordo com a
perspectiva interacionista, não se pode compreender o crime prescindindo da própria
reação social, isto é, do processo social de definição ou seleção de certas pessoas e
condutas, etiquetadas como delitivas. Delito e reação social são expressões
interdependentes, recíprocas e inseparáveis. O desvio não é uma propriedade imanente à
conduta, mas uma qualidade que lhe é atribuída por meio de complexos processos de
interação social --processos esses seletivos e discriminatórios.
A etiqueta colada ao delinqüente manifesta-se como um fator negativo que os
mecanismos de controle social repartem com o mesmo critério de distribuição de bens
positivos, levando em conta o status e o papel das pessoas. Portanto, as chances, ou os
riscos, de ser etiquetado como delinqüente não dependem tanto da conduta, mas da
posição do indivíduo na pirâmide social.
Essa teoria parte da consideração de que não se pode compreender a criminalidade se
não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage contra ela --começando
pelas normas abstratas e seguindo até a ação das instâncias oficiais. Por isso, o status
social de delinqüente pressupõe o efeito da atividade das instâncias oficiais de controle
social da delinqüência. Nesse sentido, o “Labeling Approach” tem se ocupado
principalmente com as reações das instâncias oficiais de controle social, e sob este ponto
32/59
de vista tem estudado o efeito estigmatizante da atividade da polícia, dos órgãos de
acusação pública e dos juízes.
O horizonte dentro do qual o “Labeling Approach” se situa é, em grande medida,
dominado por duas correntes da sociologia americana: o interacionismo simbólico, de
George Mead, e a etnometodologia, de Harold Garfinkel e outros, inspirada no filósofo
fenomenólogo Alfred Schutz. Segundo o interacionismo simbólico, a sociedade é
constituída por uma infinidade de interações concretas entre indivíduos, aos quais um
processo de tipificação confere um significado independente, relativamente, de situações
concretas, o qual se mantém e estende através da linguagem. Também segundo a
etnometodologia, a sociedade não é uma realidade que se possa conhecer sobre o plano
objetivo, mas produto de uma construção social, obtida através de um processo de
definição e de tipificação por parte de indivíduos e de grupos diversos.
Um importante estudo das identidades e das carreiras desviantes foi realizado por
Howard Becker. Analisando a carreira dos usuários de maconha, nos EUA, Becker
mostrou que a mais importante conseqüência da aplicação de sanções consiste numa
decisiva mudança de identidade social do indivíduo, mudança que ocorre logo no
momento em que é introduzido no status de desviante.
Edwin Lemert prossegue ressaltando que a reação social ou a punição de um primeiro
comportamento desviante acaba por gerar, através de uma mudança na identidade social
do indivíduo assim estigmatizado, uma tendência a permanecer no papel social no qual a
estigmatização o introduziu. Nesse sentido, a intervenção do sistema penal, antes de ter
um efeito reeducativo sobre o delinqüente, determina uma consolidação da identidade
desviante do condenado e seu ingresso em uma verdadeira e própria carreira criminosa.
Corresponde ao “Labeling Approach” o mérito de ter ressaltado a importância da ação
seletiva e discriminatória realizada pelas instâncias e mecanismos de seleção do controle
social. Compreendendo o problema criminal como um processo social de definição e de
seleção de certas pessoas e condutas etiquetadas como delitivas.
Teoria do Conflito
33/59
Segundo Marx e Engels, o processo de brutalização das relações sociais, intensificado
pelo capitalismo industrial, atuou de forma negativa sobre a própria fibra moral da classe
operária. Esse processo teria degradado tanto os homens que o crime passou a ser um
índice de tal processo. Várias vezes os autores fizeram correlações diretas entre o
capitalismo, a miséria social e o aumento das taxas de crimes. Uma idéia formulada por
Engels poderia ser assim sintetizada: a propriedade privada aumentaria o grau de
competição entre os indivíduos dentro do mercado de trabalho ou mesmo dentro da
própria fábrica, o que contribuiria para degenerar a solidariedade entre eles e,
conseqüentemente, aumentaria as tensões que resultariam em crimes. Por isso,
afirmava, não deveriam ser os indivíduos a sofrer sanções e punições por isso. As
condições sociais, por darem origem ao crime, é que deveriam ser responsabilizadas.
De acordo com a análise marxista, o delito é sempre um produto histórico e contingente
da sociedade capitalista. Essa concepção teórica contempla a ordem social como
confrontação de classes antagônicas (burguesia X proletariado), por meio da qual uma
delas se sobrepõe e explora a outra, servindo-se do direito e da justiça penal. O conflito
inerente à sociedade capitalista é um conflito de classes, enraizado no modo de produção
e na infra-estrutura econômica.
As teorias marxistas do conflito apelam para a estrutura classista da sociedade capitalista
e concebem o sistema legal como um mero instrumento a serviço da classe dominante
para oprimir a classe trabalhadora. Os integrantes e agentes da justiça penal não
estariam organizados para lutar contra o delito, mas para identificar e punir o segmento
desviante dentre as componentes das classes trabalhadoras que constituem o objeto por
excelência de seu controle.
Seus principais postulados são:
1) A ordem social da moderna sociedade industrializada não tem por base o
consenso, mas o dissenso.
2) O conflito não expressa uma realidade patológica, senão a própria estrutura e
dinâmica do processo social.
3) O Direito representa os valores e interesse das classes ou setores sociais
dominantes. Não corresponde –como idealmente seria definido-- aos valores e à
visão consensual gerada em harmonia pela sociedade.
4) O comportamento delitivo é uma reação à desigual e injusta distribuição de poder
e riqueza na sociedade.
34/59
As diferentes interpretações sociológicas sobre a definição e a “produção” do crime
abriram um campo fértil de análises no campo jurídico para os estudos do crime, a
criminologia. A sociologia criminal demonstrou que o crime e a pena estão relacionados
aos fenômenos sociais e, ainda, que é a própria sociedade que cria o crime ao determinar
as regras –as quais são escritas (segundo certa tradição sociológica, de corte marxiano)
para a proteção das classes mais favorecidas e de seu patrimônio, sendo, dessa forma,
direcionadas para criminalizar os comportamentos das classes baixas, rotuladas e
etiquetadas como “perigosas”.
Essas contribuições da sociologia para os estudos do crime permitiram que, a partir da
segunda metade do século XX, duras e profundas criticas fossem dirigidas ao sistema
penal das sociedades industriais. A crise das propostas de ressocialização dos criminosos
e os infinitos problemas dos sistemas penais deram lugar a múltiplos e profundos
debates acerca da inutilidade da pena e da forma seletiva e estigmatizante que
caracterizaria, para as visões críticas, boa parte da atuação o sistema penal.
http://novo.vivafavela.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=46306&sid=87 http://www.funkderaiz.com.br/2009_08_01_archive.html
A partir das notícias nos links acima, o que você entende por criminalização de uma
cultura do funk? Sabe-se que as letras das músicas se referem a temas como a
violência, a criminalidade, as práticas sexuais e drogas. Mas essa não é a realidade
vivida pelas pessoas que criam e gostam do funk? A música não é a expressão de
nossa realidade? Poderá ser entendido como crime alguém falar da realidade que vive?
Vamos dialogar! Acesse o Fórum de Discussão e opine.
35/59
Identifique uma situação onde ocorreu a incriminação do individuo baseado na etiquetamento, ou seja, fatores como cor da pele, roupa, classe social foram determinantes para suspeição e incriminação.
Leia: A Máquina e a Revolta, de Alba Zaluar Assista ao documentário Raízes da Violência (Behind the Hatred - The Root of Conflict).
Esta aula deu seguimento à apresentação das teorias sociológicas que em muito contribuem para os estudos da criminologia. A proposta foi compreender qual a importâncias dessas teorias para entendermos o papel do crime na sociedade. Como já foi dito, uma teoria não exclui a outra, podemos realizar trabalhos de pesquisa e estudos que correlacionem diferentes variáveis e abordagens.
Na próxima aula veremos os movimentos de política penal criminal contemporâneos. Conheceremos a proposta das Teorias do Garantismo e do Abolicionismo Penal representando uma perspectiva da garantia dos direitos fundamentais e a aplicação do direitos penal como ultima ratio. Eem outra perspectiva o recrusdecimento penal presentes nos movimentos de Lei e Ordem e Tolerância Zero.
BARATTA. Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica ao direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2002. DURKHEIM. Émile. As regras do método sociológico. São Paulo. Martins Claret, 2002. MOLINA. Antonio Garcia-Pablos e GOMES, Luz Flavio. Criminologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. Pg. 194-196 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: RT, 2004.
36/59
Aula 5: Movimentos contemporâneos de política penal
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. Compreender as tendências contemporâneas que norteiam as políticas penais;
2. Identificar como essas tendências tem produzido em nossa legislação penal alterações significativas;
3. Analisar em que medida o discurso dos aparelhos repressivos do estado e o controle social realizado pelas instituições policiais são influenciados pelos argumentos punitivos ou garantistas na atualidade.
Estudo dirigido da aula
1. Leia o texto condutor da aula.
2. Participe do fórum de discussão desta aula.
3. Realize a atividade proposta.
4. Leia a síntese da sua aula.
5. Leia a chamada para a aula seguinte.
6. Realize os exercícios de autocorreção.
Olá! Seja bem-vindo à aula Movimentos contemporâneos de política penal.
A proposta dessa quinta aula da disciplina de Introdução à Criminologia é analisar as principais tendências da política criminal contemporânea. Agora que você já conhece as principais teorias que analisam o fenômeno criminal, vamos conhecer os movimentos atuais de controle social da criminalidade através de duas corretes opostas: direito penal mínimo e direito penal máximo.
Esses movimentos têm produzido impactos efetivos nas políticas penais, tanto na esfera legislativa como nas políticas de segurança pública. Importante ressaltar que sob orientações teóricas bastante distintas essas tendências estão sendo elaboradas em diferentes contextos sociais, políticos e econômicos. O movimento conhecido como Lei e Ordem é de orientação norte-americana, a abordagem crítica encontra seus principais adeptos na América Latina e tendência Abolicionista e Garantista na Europa Ocidental.
Boa aula!
37/59
DIREITO PENAL MÍNIMO
Criminologia Crítica, Garantismo Penal e Abolicionismo
A teoria crítica do direito penal teve sua origem nos anos 70 e surgiu na mesma época
nos Estados Unidos e na Inglaterra, os dois primeiros movimentos que nasceram foram o
da Universidade de Berkeley que se denominou Union of Radical Criminologists e o
movimento inglês organizado em torno da National Deviance Conference.
Segundo a perspectiva crítica, a criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de
determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se revela,
principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma
dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos penalmente e dos
comportamentos ofensivos destes bens descritos nos tipos penais; em segundo lugar a
seleção de indivíduos estigmatizados entre todos os que realizam infrações a normas
penalmente sancionadas. Neste sentido, as classes subalternas são aquelas selecionadas
negativamente pelos mecanismos de criminalização e as estatísticas indicam que a
grande maioria da população carcerária é de extração proletária, de setores do
subproletariado e, portanto, das zonas sociais marginalizadas.
Uma das principais críticas ao direito penal burguês se refere ao mito da igualdade social,
o mito liberal de que o direito penal protege a todos igualmente e de que a lei penal é
igual para todos. Opostas a estas proposições, a abordagem crítica afirma que o direito
penal não defende a todos e somente os bens essenciais, a lei penal não é igual para
todos e o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos. Dessa
forma, o sistema penal de controle do desvio, revela assim, como todo direito burguês, a
contradição fundamental entre igualdade formal dos sujeitos de direito e desigualdade
substancial dos indivíduos.
De acordo com a criminologia crítica, o direito penal tende a privilegiar os interesses das
classes dominantes e a imunizar do processo de criminalização, comportamentos
socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas pertencentes, e ligados funcionalmente
à existência da acumulação capitalista, e tende a dirigir o processo de criminalização,
principalmente para formas de desvio típicas das classes subalternas.
38/59
Segundo Alessandro Baratta, as estratégias para uma política criminal das classes
subalternas deve ser:
* inserção do problema do desvio e da criminalidade na análise da estrutura geral
da sociedade capitalista;
* ampliação e reforço da tutela penal em áreas de interesse essencial para a vida
dos indivíduos e da comunidade: saúde, segurança no trabalho, integridade ecológica,
criminalidade econômica;
* radical e corajosa despenalização, de contração ao máximo do sistema punitivo,
com a exclusão, total ou parcial, de inumeráveis delitos de costumes, de moral, etc;
aliviando a pressão negativa do sistema punitivo sobre as classes subalternas
(despenalização significa também a substituição de sanções penais por formas de
controle legal não estigmatizantes - sanções administrativas ou civis); derrubada dos
muros dos cárceres e abolição da instituição carcerária. As etapas de aproximação desse
objetivo podem ser constituídas pelo alargamento do sistema de medidas alternativas,
pela ampliação da suspensão condicional da pena, pela introdução de formas de
execução da pena detentiva em regime de semi-liberdade, assim como abertura do
cárcere para a sociedade através de parcerias e associações com organizações civis.
* Avaliação do papel da mídia e sua influência no senso comum no reforço aos
estereótipos, que legitimam a ideologia das classes dominantes. Discussão ampla sobre o
efeito da mass-media na indução do alarme social (Campanhas de lei e ordem).
Estas propostas defendem um “direito penal mínimo”, negando a legitimidade do sistema
penal, mas propondo uma alternativa mínima “que considera como mal menor
necessário”. De acordo com Zaffaroni esta proposta deve basear-se na maximização do
sistema de garantias legais, colocando os direitos humanos como objeto e limite da
intervenção penal. O propósito é diminuir a quantidade de condutas típicas procurando
penalizar somente as mais danosas, prescindindo bagatelas e fazendo cumprir
rigorosamente as garantias legais. Segundo ele “o direito penal mínimo, é, de maneira
inquestionável, uma proposta a ser apoiada por todos os que deslegitimam o sistema
penal, não como meta insuperável e, sim, como passagem ou trânsito para o
abolicionismo, por mais inalcançável que este hoje pareça” (ZAFFARONI, Eugenio Raul.
Em busca das penas perdidas. Ob.Cit.. Pg. 106)
Sobre a defesa do direito penal mínimo também escreve Ferrajoli, que defende o que
ficou conhecido como Garantismo. Segundo ele a mínima intervenção significa que o
39/59
Estado deve intervir unicamente nos casos mais graves, protegendo os bens jurídicos
mais importantes, sendo o direito penal o último recurso quando já cessaram as
alternativas restantes.
Concebe-se o programa político-criminal minimalista como estratégia para maximizar os
direitos e reduzir o impacto penal na sociedade, diminuindo o volume de pessoas nos
cárceres através de processos de descriminalização e despenalização. Trata-se de um
critério de economia que procura obstaculizar a expansão penal, legitimando proibições
somente quando absolutamente necessárias. Os direitos fundamentais, neste caso,
corresponderiam aos limites do direito penal.
Ferrajoli indica três classes de delitos que deveriam ser amplamente descriminalizadas
sob o amparo constitucional. Em termos quantitativos, deveriam ser excluídos os delitos
de bagatela (contravenções, delitos punidos com penas pecuniárias ou restritivas de
direitos) que não justificariam o processo penal e muito menos a pena. Ao versar sobre
as tipificações de condutas que não afetam bens jurídicos, como por exemplo, o consumo
de drogas, o incesto, a sodomia e/ ou homossexualismo, Zaffaroni afirma que estas
normas penais tutelam pautas éticas, normas morais, e não bens jurídicos. Confrontando
com o pressuposto da laicização do direito penal, o autor se opõe a junção da moral com
direito, e ainda a imposição de uma moral determinada.
Para Ferrajoli, a deslegitimação do sistema penal não corresponde à idéia de
irracionalidade de nossos sistemas penais vigentes e operantes, e a impossibilidade
radical de legitimar qualquer sistema penal. Ele recusa essa radicalização afirmando que
mesmo em uma sociedade mais democratizada e igualitária seria necessário um direito
penal mínimo como meio de serem evitados danos maiores. O direito penal mínimo
legitima-se unicamente através de razões utilitárias, ou seja, pela prevenção de uma
reação formal ou informal mais violenta contra o delito, funcionando esse direito penal
como um instrumento impeditivo de vingança.
Esse pensamento se opõe à corrente de pensamento orientada para abolição das penas e
dos sistemas penais. O grupo de pensadores que pode ser adstrito a essa orientação não
se interessa por uma política criminal alternativa, mas sim, por uma alternativa à política
criminal. O abolicionismo nega a legitimidade do sistema penal tal como atua na
realidade social contemporânea e, como princípio geral, nega a legitimação de qualquer
40/59
outro sistema penal que se possa imaginar no futuro como alternativa a modelos formais
e abstratos de solução de conflitos, postulando a abolição radical dos sistemas penais e a
solução dos conflitos por instâncias ou mecanismos informais.
Os chamados “abolicionistas” afirmam que o sistema penal só tem servido para legitimar
e reproduzir as desigualdades e injustiças sociais, e o direito penal é considerado uma
instância seletiva e elitista. São muitas as suas razões para abolir o sistema penal Aqui
são listadas algumas delas: - vivemos numa sociedade sem direito penal, porque a cifra
negra é altíssima; - o sistema é anômico, e o direito penal não protege a vida, a
propriedade e nem as relações sociais, não atingindo seu intento; - o sistema é seletivo e
estigmatizante, e visivelmente cria e reforça as desigualdades, é discriminatório; - o
sistema penal é uma máquina para produzir dor inutilmente, a execução da pena é um
meio de sofrimento e dor moral e física; - a pena de prisão é ilegítima, só se pode falar
em pena quando há “acordo entre as partes”. Ela não reabilita o preso, ao contrário,
causa efeitos devastadores sobre sua personalidade.
Hulsman conclui ser o sistema penal um problema em si mesmo e, diante de sua
crescente inutilidade na solução de conflitos, torna-se preferível aboli-lo totalmente como
sistema repressivo. Sua proposta é substituição direta do sistema penal não por um
macro-nível estatal, mas sim por instâncias intermediárias ou individualizadas de solução
de conflitos que atendam às necessidades reais das pessoas envolvidas. Para ele os
conflitos podem encontrar soluções efetivas entre as partes envolvidas através de
modelos de solução de conflitos (mediação, conciliação) e propõe uma reconstrução de
vínculos solidários de simpatias horizontais ou comunitárias, que permitam a resolução
dos conflitos sem a necessidade de apelar para o modelo punitivo formalizado
abstratamente.
Importante citar ainda outros autores desta tendência: Mathiesen e Nils Christie. O
primeiro vincula a existência do sistema penal à estrutura produtiva capitalista, sua
proposta parece aspirar não apenas a abolição do sistema penal, como também a
abolição de todas as estruturas repressivas da sociedade. Já Nils Christie acredita que a
possibilidade de substituição dos indivíduos/papéis no sistema “orgânico”, torna os
excluídos do mercado os candidatos ideais para o sistema punitivo, deste modo,
centraliza sua argumentação em fundamentos éticos orientados a reduzir o sistema penal
como sofrimento imposto às pessoas de modo intencional.
41/59
Essas teorias críticas surgidas no campo da criminologia, ainda que tenham representado
importante avanço na discussão acerca dos sistemas penais, estiveram nos últimos anos
circunscritas ao campo acadêmico e pouco poder de influência tiveram na alteração ou
reformulação de leis penais nos últimos anos no Brasil. O único movimento que no Brasil
ganhou notoriedade nos anos 90 por propor reavaliar a atuação do sistema jurídico foi o
Movimento do Direito Alternativo. Este movimento propõe uma ruptura com o direito
liberal/positivista que estrutura o “direito burguês” e mantém o esquema de dominação
na sociedade capitalista.
O que se pode notar no caso brasileiro, é que os argumentos na defesa de ideais de
despenalização ou deslegitimação do direito penal assumidos por pesquisadores, juristas
ou intelectuais são desconstruídos sob a tese da alta criminalidade brasileira. Frases do
tipo “quem defende isso, nunca passou por um assalto!” ou “depois que você passar por
isso você vai defender a pena de morte!” pode ser facilmente ouvida; pois esse é o tipo
de discurso que constrói o medo e se confronta com todas as propostas
descriminalizadoras e despenalizadoras que nos últimos anos foram produzidas, mas que
surtiram pouco efeito na discussão e na produção da legislação penal brasileira.
A importante contribuição das pesquisas nas ciências sociais de Cohen, Sutherland e
Becker se reproduziram no Brasil em muitas outras pesquisas e trabalhos reveladores
das formas criminalizadoras e seletivas que opera o sistema penal brasileiro (polícia,
tribunais e cárceres), que atua na verdade sob a forma de um filtro. A seletividade do
sistema se direciona para àqueles indivíduos que se acham em estado de vulnerabilidade
ao poder punitivo, e esta seletividade se corresponde com esteriótipos criminais
construídos socialmente, colocando alguns indivíduos e comportamentos em situações de
risco criminalizante.
Malaguti em sua pesquisa sobre as drogas e a juventude pobre do Rio de Janeiro
observou a visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a diferenciação
no tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos. Segundo ela, esta forma
seletiva, “aponta para uma política de permanente genocídio e violação dos direitos
humanos contra as classes sociais vulneráveis: sejam eles jovens negros e pobres das
favelas do Rio de Janeiro, sejam camponeses colombianos, sejam imigrantes
indesejáveis do Hemisfério Norte”. A vulnerabilidade de jovens pobres também é
analisada por Zaluar, que chama atenção para o recrutamento de jovens pelo mercado
42/59
de drogas nas favelas e bairros pobres, onde é comum o uso de armas de fogo, e as
oportunidades educacionais e econômicas são inadequadas ou inexistentes.
Os dados da pesquisa de Musumeci e Ramos sobre quem é o elemento suspeito escolhido
pela policia para ser abordado no Rio de Janeiro revelam que ser parado(a) andando a pé
na rua ou em transporte coletivo é uma experiência que de fato incide
desproporcionalmente sobre negros e, no caso da abordagem de pedestres, também
sobre os jovens e pessoas de baixa escolaridade. A questão racial também é estudada
por Silva. Segundo ele, no Brasil, um dos componentes mais importantes do preconceito
social é o preconceito racial (de cor).
A expansão do sistema penal como uma nova ideologia de controle: Movimento
Lei e Ordem e Tolerância Zero
Se contrapondo ao programa de direito penal mínimo, do direito penal constitucional,
que se baseia na proteção integral dos direitos fundamentais, tem-se o eficientismo
penal, um direito penal de emergência que se expressa através de políticas criminais
repressivas e criminalizantes, baseando-se no discurso da “lei e da ordem”; um
fundamentalismo penal criminalizador dos conflitos sociais.
Sob o discurso de “guerra à criminalidade”, de combate a violência, o eficientismo vai na
contra mão das convenções internacionais de proteção aos direitos humanos e dos
princípios constitucionais modernos e institui um sistema penal repressivo e simbólico de
Tolerância Zero. Essa é a tendência ideológica que passou a imperar nos Estados Unidos
e que se espalhou pela Europa e América Latina.
A fim de garantir a segurança urbana, surgiu nos anos 80, no panorama político criminal,
o Movimento “Lei e Ordem”. O discurso jurídico-penal de “lei e ordem” concebe a pena
como um castigo e propõe, além da supressão de direitos e garantias individuais,
punições cada vez mais severas para combater o aumento da criminalidade, incluindo a
aplicação da pena de morte e prisão perpétua para crimes graves, construção de
penitenciárias de segurança máxima e imposição de severos regimes prisionais,
diminuição dos poderes do juiz de execução penal e a atribuição destes à autoridade
penitenciária.
43/59
Atrelado ao discurso da Lei e Ordem, a política de Tolerância Zero da prefeitura de Nova
York no mandato de Rudolph Giuliani foi bastante difundida como um novo modelo de
combate ao crime. A proposta da “Tolerância Zero” propõe uma repressão intensa e
intolerante com relação a pequenos delitos como forma de reforço da segurança pública.
Neste caminho, nos anos 90, Nova York expandiu seus recursos destinados à
manutenção da ordem e em 5 anos aumentou seu orçamento para a policia em 40%,
quatro vezes mais do que as verbas dos hospitais públicos.
O programa Tolerância Zero se baseia, em grande medida, na chamada teoria das
janelas quebradas (broken windows). Essa teoria foi divulgada pelo famoso artigo do
mesmo nome de autoria de James Q. Wilson em parceria com George Kelling e publicado
em 1982, na revista norte-americana Atlantic Montly. O argumento principal da teoria é o
de que uma pequena infração, quando tolerada, pode levar a um clima de anomia que
gerará as condições propícias para que crimes mais graves aconteçam. Segundo a
metáfora das janelas quebradas, se alguém quebra uma janela de uma casa ou edifício e
esta não é concertada, outros virão também quebrar, e todos que por ali circulam
admitirão que ninguém se importa com os atos de incivilidade e o abandono local,
gerando um sentimento de decadência de desordem social. De acordo com a teoria, a
desordem vai tomando conta daquela região, o que demonstra aos cidadãos que aquela
zona é insegura e pronta a se converter em território do crime.
Quanto à violência, os autores afirmam que os crimes mais graves são frutos de uma
série de pequenos delitos não punidos e que levam a formas mais graves de
delinqüência. Nas palavras de Wilson e Kelling “os crimes graves florescem em áreas em
que os comportamentos desordeiros permanecem sem respostas. O pedinte que age
livremente é, com efeito, a primeira janela quebrada”.
A teoria das janelas quebradas passou a ser objeto de discussões em vários institutos de
pesquisa e centros voltados para reflexão e sobre políticas de segurança pública nos
Estados Unidos. Um dos institutos que popularizaram as idéias de Wilson e Kelling foi o
Manhattan Institute, cujos seminários contavam com a freqüente presença de Rudolph
Giuliani, antes de ser prefeito de Nova York. As palestras e debates tinham o objetivo de
buscar alternativas de políticas de segurança pública que levassem em conta as
preocupações da teoria das janelas quebradas.
44/59
Após assumir a prefeitura de Nova York Rudolph Giuliani, em 1994, colocou o chefe da
policia de trânsito William Bratton no posto de Comissário de Policia da cidade. Bratton
foi o principal responsável pela aplicação da teoria das janelas quebradas, que forneceu
um verniz de respeitabilidade pretensamente científica às políticas que foram colocadas
em prática. Embora jamais tenha sido validada empiricamente, a teoria das janelas
quebradas alcançou status de verdadeira formula contra o crime.
Belli ressalta que alguns dados básicos sobre os índices de criminalidade devem ser
considerados nos Estados Unidos, segundo ele: a) os índices de criminalidade de Nova
York já estavam em queda havia três anos quando Giuliani iniciou seu mandato, não
sendo portanto um fato totalmente novo; b) a baixa dos índices de criminalidade foi um
fenômeno observado no pais inteiro , e não privilegio de Nova York; c) os índices
semelhantes aos alcançados em Nova York foram obtidos em varias cidades sem que se
tenha feito uso de táticas do tipo Tolerância Zero. De acordo com dados coletados pelo
criminologista Alfred Blumstain, da Universidade de Carnegie Mellon de Pittsburgh de
1991 a 1998, a taxa de homicídios caiu 76,4% em San Diego, 70,6% em Nova York e
69, 3% em Boston. E as três cidades empregaram estratégias diferentes, enquanto Nova
York enfatizou as políticas de Tolerância Zero, San Diego foi pioneira no policiamento
comunitário e Boston procurou envolver os lideres religiosos na prevenção do crime.
Outras cidades também tiveram redução nas taxas de homicídios sem que qualquer
estratégia coerente tenha sido implementada, como Houston 61,3% e Los Angeles
59,3%.
Segundo pesquisas de Wacquant, a doutrina da Tolerância Zero, instrumento de
legitimação da gestão policial e judiciária da pobreza que incomoda, propagou-se através
do globo a uma velocidade alucinante, e com a retórica militar da guerra ao crime e da
reconquista do espaço publico, que assimila os delinqüentes, sem-teto, mendigos, e
outros marginais. Charles Murray, do Manhattan Institute, apoiado em estatísticas do
Ministério da Justiça, concluiu que a triplicação da população carcerária nos EUA entre
1975 e 1989 teria, por seu efeito neutralizante, evitado 390.000 assassinatos, estupros e
roubos com violência; e lança a idéia de que na ausência da pena de morte, a reclusão é
o meio mais eficaz de impedir os criminosos comprovados e notórios de matar, estuprar,
roubar e furtar. Segundo a nova teoria, o Estado não deve se preocupar com as causas
da criminalidade das classes pobres, à margem de sua “pobreza moral”, mas apenas com
suas conseqüências, que ele deve punir com eficácia e intransigência.
45/59
Wacquant chama atenção para a propagação também na Europa de um novo senso
comum penal neoliberal, articulado em torno da maior repressão aos delitos menores e
às das simples infrações, o agravamento das penas, a erosão da especificidade do
tratamento da delinqüência juvenil, a vigilância em cima das populações e dos territórios
considerados de “risco”, a desregulamentação da administração penitenciária e a
redefinição da divisão do trabalho entre público e privado. Segundo ele, esse novo
modelo penal se apresenta em perfeita harmonia com o senso comum neoliberal em
matéria econômica e social, que ele completa e conforta “desdenhando qualquer
consideração de ordem política e cívica para estender a linha de raciocínio economicista,
o imperativo da responsabilidade individual – cujo avesso é a irresponsabilidade coletiva
– e o dogma da eficiência do mercado ao domínio do crime e do castigo”.
Suas pesquisas revelam que vem se observando nos Estados Unidos e na Europa uma
redefinição das missões do Estado, que, em toda parte, se retira da arena econômica e
afirma a necessidade de reduzir seu papel social, ampliando e endurecendo sua
intervenção penal. Representa assim, um enfraquecimento do Estado social e o
fortalecimento e glorificação do Estado penal. Os resultados demonstram, ainda, que não
obstante as desigualdades sociais e a insegurança econômica terem se agravado
profundamente no curso dos dois últimos decênios, o Estado caritativo americano não
parou de diminuir seu campo de intervenção e de comprimir seus modestos orçamentos,
a fim de satisfazer a duplicação das despesas militares e a redistribuição das riquezas em
direção às classes mais abastadas. A tal ponto que a guerra contra a pobreza foi
substituída por uma guerra contra os pobres.
Para sustentar a redução dos gastos sociais os ideólogos americanos conservadores
afirmaram que a dependência patológica dos pobres resultaria de seu desamparo moral e
ameaçaria a civilização ocidental. Sob esse argumento a reforma dos serviços sociais foi
votada pelo Congresso Americano em 1996, no governo Clinton. Esta reforma consistiu
em abolir o direito à assistência social para as crianças mais desfavorecidas e substituí-lo
pela obrigatoriedade do salário desqualificado e subpago para seus pais. A nova
legislação revogou o direito à assistência de que as crianças desfrutavam em
conseqüência do Social Security Act de 1935, em seu lugar ela instaurou a obrigação
para os pais assistidos de trabalhar ao cabo de dois anos, assim como a duração
acumulada máxima de cinco anos de assistência por uma vida.
46/59
Wacquant afirma que sob o manto da “reforma” a lei sobre responsabilidade individual do
trabalho de 1996, confirma a substituição de um (semi) estado – providência por um
estado carcerário e policial no seio do qual a criminalização da marginalidade e a
contenção punitiva das categorias deserdadas fazem às vezes de política social. A nova
ideologia difundida afirma que a assistência aos pobres só serve para manter na
ociosidade e no vício os habitantes do gueto, nos quais encorajaria os comportamentos
anti-sociais.
E continua:
A utopia neoliberal carrega em seu bojo, para os mais pobres,
mas também para todos aqueles que cedo ou tarde são forçados a
deixar o setor do emprego protegido, não um acréscimo de
liberdade, como chamam seus arautos, mas a redução e até a
supressão dessa liberdade, ao cabo de um retrocesso para um
paternalismo repressivo de outra época, a do capitalismo
selvagem, mas acrescido dessa vez de um Estado punitivo
onisciente e onipotente. A “mão invisível” tão cara a Adam Smith
certamente voltou, mas dessa vez vestida com uma “luva de
ferro”(WACQUANT, 2001, p. 151).
A destruição deliberada do Estado social e a hipertrofia súbita do estado penal no ultimo
quarto de século são dois desenvolvimentos concomitantes e complementares. Eles
representam o abandono do contrato social fordista e do compromisso keynesiano em
meados dos anos 70 e também a crise do gueto como instrumento de confinamento dos
negros. Juntos, eles participam do novo governo da miséria, no seio do qual a prisão
ocupa uma posição central.
O que as pesquisas recentes de Wacquant vêm demonstrando é que na ausência das
políticas sociais, a tendência verificada nos Estados Unidos nas últimas décadas é de uma
contínua expansão do sistema carcerário. Com um crescimento fulgurante das
populações aprisionadas nos três escalões do aparelho carcerário. Em 1975 eram
380.000 presos que saltou em 1998 para 2 milhões. O assombroso crescimento do
numero de presos explica-se pelo encarceramento dos pequenos delinqüentes e,
particularmente, dos toxicômanos. Pois, contrariamente ao discurso político e midiático
dominante, as prisões americanas estão repletas não de criminosos perigosos e
47/59
violentos, mas de vulgares condenados pelo direito comum por negócios com drogas,
furto, roubo, ou simples atentado à ordem pública, em geral oriundos das parcelas
precarizadas das classes trabalhadoras e, sobretudo das famílias do subproletariado de
cor nas cidades atingidas pela transformação conjunta do trabalho assalariado e proteção
social.
O autor destaca as funções da prisão no novo governo da miséria; em primeiro lugar o
sistema penal contribui diretamente para regular os segmentos inferiores do mercado de
trabalho. Ele comprime o nível de desemprego ao subtrair à força de milhões de homens
da população em busca de um emprego e secundariamente, produz um aumento do
emprego no setor de bens e serviços carcerários. Estima-se que durante a década de 90
as prisões tiraram 2 pontos do índice de desemprego americano. A segunda função do
sistema carcerário é substituir o gueto como instrumento de encarceramento de uma
população considerada tanto desviante e perigosa como supérflua, no plano econômico e
político. Por fim, além de substituir o direito à assistência das crianças indigentes pela
obrigação imposta a seus pais de trabalhar ao cabo de dois anos, a reforma de welfare
avalizada por Clinton em 1996 submeteu os beneficiários da ajuda pública a um
fichamento intrusivo, instaurando uma rígida supervisão das suas condutas, em matéria
de educação, trabalho, drogas e sexualidade.
Todavia, com relação aos índices de criminalidade violenta nos EUA, a taxa nacional de
homicídios estacionou entre 8 e 10 para cada 100 mil habitantes de 1975 a 1995 e a
freqüência de roubos qualificado oscilava entre 200 e 250 para 100 mil. A taxa de
vítimas de agressões e lesões corporais permaneceu estável por todo o período, cerca de
30 por 100 mil, a freqüência de violências caracterizadas contra a pessoa baixava de 12
para 9 em cada 100 mil. Quanto aos crimes contra os bens, eles diminuíram nitidamente,
pois o índice acumulado de vitimização por roubos e arrombamentos caiu de 550
incidentes para 100, mil habitantes em 1975 para menos de 300, 20 anos mais tarde.
O que se observou nos Estados Unidos é que, a quadruplicação em duas décadas da
população encarcerada se explica não pelo aumento da criminalidade violenta, mas pela
extensão do recurso à prisão para uma gama de crimes e delitos que até então não
incorriam em condenação e reclusão, a começar pelas infrações menores à legislação
sobre os estupefacientes e os atentados à ordem pública. A causa-mestra deste
crescimento astronômico da população carcerária é a política de guerra à droga, política
48/59
que desmerece o próprio nome, pois designa na verdade uma guerrilha de perseguição
penal aos vendedores de rua, dirigida contra a juventude dos guetos para quem o
comércio do varejo é a fonte de emprego mais acessível. Foi esta política que entupiu as
celas e escureceu seus ocupantes.
As medidas penais adotadas contribuíram ainda mais para o alongamento das penas, que
revela o endurecimento da política judiciária no EUA, são alguns exemplos: o aumento do
quantum imposto tanto aos delitos sem gravidade quanto aos crimes violentos, a
multiplicação das infrações motivando encarceramento fechado, e perpetuidade no
terceiro crime (three strikes you’ re out), aplicação da legislação adulta aos menores de
16 anos. Assim, na medida em que se desfaz a rede de segurança do Estado caritativo
(safety net), vai se tecendo a malha do Estado disciplinar (dragnet) chamado a substituí-
lo nas regiões inferiores do espaço social americano.
Se forem contabilizados os indivíduos colocados em liberdade vigiada (probation) e soltos
em liberdade condicional (parole) por falta de lugar nas penitenciárias, são cerca de 5
milhões de americanos, ou seja, 2,5 da população adulta do país que caem sob jurisdição
penal. A tradução financeira desse grande encarceramento da marginalidade não é difícil
de imaginar. Enquanto a parte dos recursos nacionais destinada à assistência social
diminuía, o orçamento da justiça criminal do governo federal foi multiplicado por 5, 4
entre 1972 e 1990.
A extensão do sistema penal se exerce prioritariamente sobre as famílias e os bairros
deserdados, particularmente os enclaves negros das metrópoles. Os afro-americanos são
maioria nas prisões embora representem apenas 12% da população do país. Um homem
negro tem mais de uma chance sobre quatro de purgar pelo menos um ano de prisão e
um latino uma chance sobre seis contra uma chance sobre 23 de um branco. Isso mostra
o caráter discriminatório das práticas policiais e judiciais implementadas na política “lei e
ordem” das duas últimas décadas.
Os EUA recorreram no curso de sua história, não a uma, mas a muitas instituições
peculiares para definir, confinar e controlar os afro-americanos. A primeira foi a
escravidão, a segunda, o chamado sistema Jim Crow (sistema legal de discriminação e
segregação), o terceiro dispositivo especial graças ao qual a América conteve os
descendentes de escravos nas metrópoles do norte industrial é o gueto. Para o Wacquant
49/59
a quarta instituição peculiar da América é o novo complexo institucional composto por
vestígios do gueto negro e pelo aparato carcerário - a prisão se tornou o substituto do
gueto.
A conclusão de Wacquant é que a clientela das prisões norte americanas é recrutada
prioritariamente nos setores mais deserdados da classe operária, e notadamente entre
famílias do subproletariado de cor nas cidades profundamente abaladas pela
transformação conjunta do trabalho assalariado e da proteção social; o encarceramento
serve bem antes à regulação da miséria, quiçá à sua perpetuação, e ao armazenamento
daqueles que estão fora do jogo do mercado. Os indivíduos que enchem os cárceres
municipais são essencialmente os membros da rabble class, isto é, pessoas debilmente
integradas à sociedade e percebidas como de má reputação: gatunos e vagabundos,
marginalizados, toxicômanos e psicopatas, estrangeiros. São para estes indivíduos que
se direcionam as políticas da Tolerância Zero, o discurso da Lei e a Ordem serve para
garantir o controle sobre aqueles que não estão integrados à um determinado “modelo
de sistema social”.
No caso brasileiro, contra todas as propostas produzidas no âmbito acadêmico de
redução do direito penal e todas as críticas que o deslegitimam, como descrito na sessão
anterior, assiste-se no Brasil uma crescente expansão da esfera penal, que se apresenta
como uma (aparente) solução fácil aos problemas sociais, atuando no plano simbólico,
para tranqüilizar a opinião pública e produzindo um aumento vertiginoso na população
carcerária brasileira, sem, no entanto, se discutir os reais problemas sociais que assolam
a sociedade brasileira.
Vale destacar brevemente o impacto desse movimento de Recrudescimento Penal na
Legislação Brasileira:
Crimes Hediondos - Constituição de 1988 (Inafiançáveis e Insuscetíveis de graça e
anistia: Tortura, Tráfico de drogas e Terrorismo e os definidos como Crimes
Hediondos).
Onda de seqüestro em São Paulo e Rio de Janeiro produziu a Lei de Crimes
Hediondos 8.072 de 1990
50/59
Modificação na LCH Lei 8.930/94. Morte da atriz Daniela Peres e as Chacinas da
Candelária e Vigário Geral. Inclusão do Homicídio ( por grupos de extermínio ) e
Homicídio qualificado.
Onda de Falsificação de Remédios em 1998. Lei 9695/1998. Falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produtos terapêuticos e medicinais.
Lei contra o Crime Organizado 9.034/ 1995
O Regime Disciplinar Diferenciado RDD. Rebeliões em Presídios organizadas por
facções criminosas - Lei 10.792/2003
Resultado: aumento vertiginoso no sistema penitenciário 1990 havia 90 mil
presos no país, número que saltou para cerca de 442,5 mil em 2007,
representando um aumento de 468% no período.
Leia o texto disponível no ambiente on-line, acesse o Fórum de Discussão e discuta
em que medida o recrudescimento penal contribui para a redução da criminalidade. Será
que endurecer as leis penais produzirá efeitos na redução dos crimes no Brasil?
Textos para pesquisa:
FOLHA DE SÃO PAULO. A política de "tolerância zero" para crimes, que foi adotada com sucesso em Nova. York, é aplicável ao Brasil? http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=29 TORRES, Douglas Dias. O Direito Penal na Atualidade. http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/333/O-Direito-Penal-na-Atualidade DICIONÁRIO DE DIREITOS HUMANOS. Garantismo Penal. Disponível em:
http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Garantismo
51/59
Na aula de hoje vimos como o debate atual das políticas penais tem seguido em caminhos opostos. De um lado temos a defesa dos direitos individuais e a perspectiva que defende que a redução da criminalidade não virá com endurecimento penal, mas ao contrário, somente com políticas que garantam os direitos humanos e realizem a prevenção da criminalidade. Entretanto, seguindo um discurso repressivo americano, temo aqueles que defendem um recrudescimento penal, tanto da legislação penal como das políticas de controle social, como por exemplo, Tolerância Zero. É preciso lembrar que no Brasil sempre tivemos políticas repressivas e violentas de controle social, viemos de uma ditadura militar onde as constantes violações de direitos humanos eram freqüentes, e esse discurso repressivo só faz aumentar e legitimar práticas antigas que ainda persistem no Brasil.
Na próxima aula você conhecerá os estudos da vitimologia. A proposta é reconhecer os processos de vitimização que ocorrem com diferentes grupos sociais e que seja possível pensar políticas publicas que possam reduzir a vitimização conhecendo os perfis das vítimas.
BARATA. Alessandro. Criminologia Critica e Critica ao Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan. 2002.
BATISTA, Vera MAlaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2 ª. 2003.
BELLI. Benoni . Tolerância Zero e a democracia no Brasil: visões da segurança pública na década de 90. São Paulo: Perspectiva, 2004. Pg. 64.
CARVALHO . Salo de. Pena e Garantias. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 2003. Pg. 92.
CARVALHO, Amilton Bueno e CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e Garantismo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2004.
HULSMAN. Louk. Penas Perdidas; o sistema penal em questão. Niterói: Luam. 2ª ed. 1997.
MUSUMECI. Leonarda e RAMOS. Silvia. Elemento Suspeito.: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005.
PINTO, Nalayne Mendonça. Entrevista. “Tolerância Zero” e Estado Mínimo Geram Inflação Carcerária. Punição. Com Ciência. Revista Eletrônica De Jornalismo Científico.
52/59
Aula 6: Introdução ao Estudo da Vitimologia
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. Conhecer os estudos da Vitimologia;
2. Analisar estudos de vitimização e pensar políticas direcionadas para redução da vulnerabilidade de determinados grupos;
1. Discutir quais grupos no cenário nacional estão em situação de risco e vulneráveis a vitimização.
Estudo dirigido da aula
1. Leia o texto condutor da aula.
2. Participe do fórum de discussão desta aula.
3. Realize a atividade proposta.
4. Realize o trabalho final
5. Leia a síntese da sua aula.
6. Realize os exercícios de autocorreção.
Antes de começarmos o estudo desta aula, assista no ambiente on-line ao vídeo com a professora convidada Miriam Guindani.
Olá! Seja bem-vindo à aula Introdução ao estudo da Vitimologia.
O último tema a ser analisado nesta disciplina será a Vitimologia. Estes estudos são importantes para sua formação, pois através das pesquisas de vitimização podemos conhecer dados recolhidos sobre grupos e tipos de vítimas mais recorrentes. Isto implica dizer que as pesquisas de vitimização fornecem subsídios para a formulação de políticas e estratégias que possam ser direcionadas a redução dos riscos em determinados casos freqüentes.
Importa ressaltar que as pesquisas estatísticas e qualitativas para o mapeamento dos índices de criminalidade e violência são fundamentais para a formulação das políticas publicas de segurança.
Esteja onde você estiver nesse imenso Brasil, valorize e estimule a pesquisa e o levantamento dos dados em sua região, pois a partir deles poderemos pensar quais são as melhores estratégias de ação e conhecer melhor quem são os grupos mais atingidos pelas diferentes formas de violência.
Boa aula!
53/59
O holocausto ocorrido durante a II Guerra Mundial chamou a atenção para o processo
brutal de vitimização coletiva sofrida por judeus, ciganos, deficientes entre outros. Em
1947 Benjamim Mendelsohn, sobrevivente do Holocausto, propõe a vitimologia para
compreensão dos processos de vitimização. Sua questão inicial foi: Por que algumas
pessoas ou grupos tem tendências maiores de se tornarem vítimas?
Dessa forma Mendelsohn inaugurou a preocupação de prevenir processos vitimizantes,
pesquisando personalidades, comportamentos, ocasião e formas de reparação.
Revendo um pouco o papel da vitima na história do Ocidente destaca-se que em algumas
sociedades houve o protagonismo da vítima, ocorrendo a justiça privada. Mas a partir do
Final da Idade Média, no Ocidente inicia-se uma neutralização da vítima, pois ocorre a
transferência para a Igreja e para o Rei da punição. De igual modo a formação do Estado
Moderno representou o afastamento da vítima do processo penal. O Estado chamou par
si a administração da justiça, e a vítima passou a ter um papel subalterno.
O termo vítima do latim Victima, que significa pessoa ou animal sacrificado, talvez seja
por isso que a coletividade enxerga a vítima como perdedora, sofredora e co-responsável
pelos danos.
Entretanto a vítima é a aquela pessoa que sofre danos de ordem física, mental e
econômica, bem como a que perde direitos fundamentais, seja em relação à violações de
direitos humanos ou em razão de atos criminosos.
Benjamim Mendelsohn criou uma Tipologia da Vítima que sofreu duras criticas porém é
utilizada por estudiosos e advogados de defesa, são elas:
1- Vítima completamente inocente ou vítima ideal = nada fez ou nada provocou (ex:
incêndio)
2- Vítima de culpabilidade ou por ignorância = impulso involuntário (ex: aborto)
3- Vítima tão culpável como o infrator ou voluntária = consciência do ato (ex: suicídio,
pacto de morte, eutanásia)
4- Vítima mais culpável que o infrator
Vítima provocadora = incitou o infrator (ex: adultério explícito)
54/59
Vítima por imprudência = acidente por falta de cuidados (ex: álcool e direção)
5- Vítima unicamente culpável
Vítima infratora = comete a infração por legítima defesa (ex: assassinato do seu
estuprador)
Vítima simuladora = premeditou o ato e colocou a culpa no acusado ( ex: planeja
homicídio do marido com amante e simula um roubo)
As críticas à Tipologia da Vítima referem-se a forma estigmatizante que a rotulação
produz, tais como:
“Culpa é da vítima!”
“Pediu para ser vitimizada!”
“Alguma coisa ela fez para merecer isso!”
“Onde há fumaça a fogo!”
Há uma subjetividade dos conceitos de provocadora, colaboradora, voluntária e a
transferência da responsabilidade ou a co-responsabilidade para a vítima é geradora de
discriminação. O correto seria analisar suas características para diminuir a
vulnerabilidade; essa tipologia é utilizada por advogados para amenizar a punição dos
réus.
Conceito de Vítima (Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas
da Criminalidade e de Abusos de Poder da ONU).
“Entende-se por vítima as pessoas que individual ou coletivamente, tenham
sofrido danos, inclusive lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, perda
financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais, como
conseqüência de ações ou omissões que violem a legislação penal vigente nos
Estados-membros, incluída a que prescreve o abuso criminal de poder”.
(...)
“Na expressão vítima estão incluídos também, quando apropriado, os familiares
ou pessoas dependentes que tenham relação imediata com a vítima e as pessoas
que tenham sofrido danos ao intervir para dar assistência à vítima em perigo ou
para prevenir a ação danificadora” (ONU, 1985)
55/59
Lembrando que há crimes sem vitimas aparentes: ambientas e econômicos por
exemplo.
VITIMIZAÇÃO
A vitimização pode ocorrer devido às características das pessoas (sexo, cor, idade, local
de moradia, etc). Mas também por acidentes, exclusão social, guerras. No Brasil é
preciso destacar que há uma grande vitimização até/ e principalmente no seio familiar.
As vítimas sofrem não apenas fisicamente, mas também, psicologicamente e
moralmente, e somam-se ainda os estigmas impostos pelo grupo. Alem disso, no sistema
de justiça criminal são meros objetos de investigação.
Contribuindo para essa estigmatização a mídia, por exemplo, em determinados casos
invade a privacidade e produz uma repercussão social da violência sofrida o que reforça
ainda mais a vitimização.
Nos casos de crianças ou mulheres que sofreram abusos sexuais ou estupro há ainda a
revitimização, pois a cada vez que a vítima tem que contar, e recontar inúmeras vezes a
violência que sofreu, ela sofre relembrando o ocorrido.
Há também uma vitimização anterior, que muitos criminosos carregam em suas vidas,
como por exemplo, casos de adultos pedófilos que sofreram abusos sexuais na infância,
delinqüentes que tiveram uma infância marcada pela violência e pelo abandono
(exemplo: vitimização anterior dos infratores: nos lares, na trajetória de vida – veja o
documentário Ônibus 174)
Finalidades da Vitimologia
Proteção da vítima
Reconhecimento do seu papel como sujeito de direitos
Agregar a vítima o atributo da dignidade humana a colocá-la como partícipe da
justiça criminal
Estudo dos processos de vitimização
Estudo das agressões aos direitos fundamentais
Criação de políticas públicas para assistência as vítimas
Reformulação na legislação para atender as vítimas
56/59
Vitimização de Jovens no Brasil
Importante chamar a atenção para a vitimização de jovens no Brasil. Dados
preocupantes revelam que o grupo social que mais sofre hoje com a violência é o de
jovens homens na faixa etária de 15 a 24 anos. A maior parte desse processo de
vitimização está relacionado ao uso de drogas, aos acidentes de trânsito, e ao
envolvimento com grupos criminosos. É preciso que políticas públicas estejam
direcionadas para esse grupo que hoje possui uma taxa de mortalidade altíssima.
Como é possível verificar na tabela abaixo, segundo dados do Mapa da Violência IV
(UNESCO), a taxa de mortalidade de jovens é bem maior do que a taxa de mortalidade
nacional; e se compararmos a taxa nacional em 2002 com o Estado do Rio de Janeiro o
número torna-se alarmante.
Vitimização de Jovens no Brasil
Mapa da Violência IV (UNESCO)
1993* 2002*
Taxa de óbitos da
população (todas
as faixas) - Brasil
20,3 28,4
Taxa de óbitos da
população juvenil
(15 a 24 anos) -
Brasil
34,5 54,7
Taxa de óbitos da
população (todas
as faixas) – Rio de
Janeiro)
41,2 56,5
Taxa de óbitos
da população
juvenil (15 a 24
anos) – Rio de
Janeiro
73,2 118,9
(Fonte: JACOBO, 2007)
*Taxa calculada por cem mil habitantes.
57/59
Algumas experiências têm sido realizadas com a finalidade de promover políticas públicas
direcionadas para a juventude vulnerável, vale destacar algumas.
Caso Belo Horizonte
A referência teórica que o projeto “Fica Vivo” utiliza é a Teoria da desorganização social
ou Ecológica (ambiente desordenado e falta de vínculos primários de socialização e
instituições formais/ Escola de Chicago). Nesse sentido a proposta é interferir nos
processos de socialização das comunidades violentas = prevenção social.
Projetos de redução de vulnerabilidade
“Fica vivo” = projeto de prevenção social redução da mortalidade de jovens em
aglomerados de BH. Em áreas onde há maior concentração de crimes juvenis e
homicídios foram desenvolvidos projetos de inserção através de esportes, oficinas
e inserção no mercado de trabalho.
Conheça os dados do Mapa da Violência nos municípios brasileiros e identifique que políticas seriam mais eficazes para redução da vitimização juvenil. WAISELFISZ. .Julio Jacobo. Mapa da violência dos municípios brasileiros Fevereiro de 2007. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mapa_da_violencia_baixa1.pdf
WAISELFISZ. .Julio Jacobo. Mapa da Violência IV. Os jovens do Brasil. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135104porb.pdf
58/59
O texto deve ser digitado em folha A4, letra arial ou times new 12, entre linhas 1,5. Desenvolver o tema em até 2 laudas. Ao utilizar as citações diretas dos autores, não esquecer de colocar a referência, ex (SOUZA, 2008, p. 67). De mesma forma ao fazer paráfrase do autor coloque seu nome seguido do ano. Ex: Segundo Souza (2008) a criminologia... Colocar ao final do trabalho as referências consultadas conforme o modelo de bibliografia que consta da bibliografia geral do curso.
Tema: No que consiste a Vitimologia (seu objeto e suas finalidades)? Podemos falar de vitimização de “grupos sociais” no Brasil? (Dê exemplos e analise casos de vitimização no Brasil)
Orientações sobre a realização do trabalho podem ser obtidas com o professor on-line
no Fórum de Discussão , no tópico Orientações do Trabalho.
Conheça programas direcionados a jovens com a intenção de proporcionar uma redução vulnerabilidade, oferecendo programas educativos e de acompanhamento social.
FICA VIVO: http://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=117 LUTA PELA PAZ: http://www.fightforpeace.net/home_pt.php AFROREGGAE: http://www.afroreggae.org.br/
A proposta da aula foi apresentar a Vitimologia a fim de discutir a necessidade de estimular cada vez mais estudos de vitimização no Brasil. Precisamos conhecer quais as violências mais presentes em nossa realidade e quem são aqueles vitimizados. Assim, a aula levantou a discussão sobre a vitimização de jovens, pois dentre os grupos de risco, são aqueles já identificados em pesquisas que mais facilmente se envolvem com o crime e também os que mais morrem devido a esse envolvimento.
59/59
REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS DE VITIMIZAÇÃO DE JOVENS: CESEC. Formando uma Tropa de Elite na Polícia para Trabalhar com Jovens: Projeto Juventude e Polícia - Capacitação 2007. Disponível em : http://www.ucamcesec.com.br/pb_txt_dwn.php CESEC. Perfil dos Jovens em Conflito com a Lei no Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.ucamcesec.com.br/pb_txt_dwn.php COMUNIDADE SEGURA. Crianças e jovens em violência armada organizada. Disponível em: http://www.comunidadesegura.org/?q=pt/taxonomy_menu/15/157/218 DECLARAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE JUSTIÇA RELATIVOS ÀS VÍTIMAS DA CRIMINALIDADE E DE ABUSOS DE PODER DA ONU. http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/fpena/pbasic2.htm DOWDNEY, Luke . Nem guerra nem paz: Comparações internacionais de Crianças e Jovens em Violência Armada Organizada. Disponível em: http://www.comunidadesegura.org/?q=pt/taxonomy_menu/15/157/218 DOWDNEY, Luke. Crianças do tráfico. http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/arquivos/livrolukecriancas_do_trafico.pdf FEFFERMANN, Marisa. Vidas Arriscadas. O cotidiano de jovens trabalhadores do tráfico. Petrópolis: Vozes, 2006. ZALUAR, Alba. A máquina e a Revolta. São Paulo: Brasiliense, 1985. ZALUAR, Alba. Drogas e Cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1999. ZALUAR, Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: FGV, 2004.