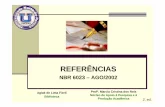Videogames, leitura e literatura: aproximações bibliográficas multi e transdisciplinares
3. INTRODUÇÃO - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Transcript of 3. INTRODUÇÃO - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
10
1 INTRODUÇÃO
A preocupação com a população nordestina, mais
precisamente, a que vive em regiões onde frequentemente o
fornecimento de água potável sofre racionamento, vem
crescendo a cada ano, pois grande parte da população vive de
alguma atividade relacionada ao meio rural onde as condições
climáticas interferem na produção, chegando, em casos mais
extremos, a interferir também na própria sobrevivência dos
produtores e de suas famílias.
O Semiárido brasileiro é um dos maiores, mais populosos
e também mais úmidos do mundo. Abrangendo os estados do
Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí, Alagoas, Rio
Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais, vivem nessa região
mais de 22 milhões de pessoas, sendo 8 milhões na área
rural. (IBGE,2000).
Em relação as precipitações, dados dos órgãos de
controle climático, mostram que, no nordeste, chove
normalmente cerca de 800 mm anuais, em média. Em épocas de
seca, chega a chover próximo aos 200 mm por ano, quantidade
suficiente para garantir o abastecimento de uma família de 5
pessoas pelos meses de estiagem. (FEBRABAN, 2003).
Porém, essas chuvas variam muito no tempo e no espaço
nordestino e, devido as características climáticas, o
nordeste tem um dos maiores índices de evaporação de água,
tornando os reservatórios rasos pouco eficientes em épocas
de seca.
11
A possibilidade de reservar um volume necessário para a
época da estiagem anual, com boas condições potabilidade
fizeram da construçãos das cisternas de placas, equipamento
criado e desenvolvido por Nel, pedreiro de Simão Dias, em
Sergipe, em 1968, uma das alternativas de abastecimento de
água para a população rural.
Nesse contexto, uma série de intervenções
governamentais surgiram para financiar a construção de
milhares dessas cisternas em todo o Brasil. O Programa Um
Milhão de Cisternas (P1MC) que faz parte desta definição
construiu até fevereiro de 2012 pouco mais de 376 mil
cisternas de placas em todo o semiárido brasileiro, segundo
a Articulação do Semiárido (ASA, 2012).
No estado do Ceará, o programa, até outubro de 2011,
tinha quase 100 mil cisternas construídas ou em construção,
como diz a coordenadora executiva do ASA-Ceará ao Jornal O Povo
no dia 19/10/2011: “Desde que começou, em 2003, 48.308 cisternas foram
construídas no Ceará pelas organizações integrantes da ASA dentro do P1MC. Em
todo o semiárido brasileiro, são mais de 300 mil cisternas. Atualmente, está em
execução um contrato com o Governo do Estado para execução de 26.500
cisternas. Já estamos com quase 100 mil cisternas no Ceará, comemora a
coordenadora.
Porém, parte das cisternas construídas chegam a
apresentar problemas com vazamentos e perdem parte da água
reservada. Alguns dos proprietários podem recuperá-las, mas
outros não possuem recursos financeiros suficientes e não
utilizam a água reservada na sua totalidade. Assim, surge os
12
carros-pipa, como um meio de abastecimento dessas cisternas
quando a água reservada não atende a demanda solicitada.
Deste modo, o presente estudo trata de uma avaliação
detalhada da construção das cisternas no semiárido
brasileiro, por meio da análise de dados provenientes da
aplicação de um questionário às famílias usuárias das
cisterna, relacionando o desenvolvimento social com a
segurança abastecimento contínuo, o qual as cisternas tendem
a garantir.
13
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Estudar os benefícios da construção das cisternas para
o semiárido brasileiro;
1.1.2 Objetivos Específicos
Elaborar estudo com levantamento censitário das
cisternas de placas executadas no município de
Milhã/Ce;
Avaliar os dados fornecidos pela aplicação do
questionário em campo;
Estudar os métodos de captação e conservação da água;
Analisar a utilização da água reservada nas cisternas e
suas condições.
14
1.2 Justificativa
A questão da água no semiárido sempre foi tratada com
muito cuidado, pois a região depende diretamente desse bem
para o desenvolvimento de suas atividades e ele é tão
escasso nessas regiões.
As precipitações variam no tempo e no espaço, sendo que
normalmente não chegam a abastecer a todos e, no período de
estiagem, a necessidade de um reservatório para água potável
se torna essencial a vida.
Para tanto, surgem as cisternas de placas capazes de
reservar água suficientes para o período de estiagem, ou
pelo menos, para maior parte dela. Porém, o uso dessas
cisternas e a água reservada devem ser objeto de estudo para
sabermos sua qualidade e seus impactos na realidade da
população.
15
Para a realização desses estudos, o município de Milhã,
no estado do Ceará foi o escolhido por suas características,
bem como a necessidade dessas cisternas.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O Princípio de Captação e Manejo de Água da Chuva
A definição do termo captação e manejo de água de chuva
baseia-se no seguinte conceito: A água de chuva faz parte do
16
ciclo hidrológico e é um bem a ser captado de telhados, do
chão e do solo, armazenado e/ou infiltrado de forma segura,
tratado conforme requerido pelo uso final, e utilizado seu
pleno potencial, substituindo ou suplementando outras fontes
atualmente usadas, antes de ser finalmente descartado
(GNADLINGER,2005; BRASIL, 2006).
De maneira geral, as tecnologias de captação e manejo
de água de chuva são técnicas que permitam: interceptar e
utilizar a água de chuva no local onde ela cai no chão; que
facilite a água de chuva a se infiltrar no solo; ou que
captam a água de escoamento de uma área específica
(telhados, pátio, chão, ruas e estradas) para depois ser
armazenada em um reservatório (cisterna ou solo) para uso
futuro, seja doméstico, agrícola, dessedentação de animais
ou ambiental, tanto em áreas rurais como urbanas
(GNADLINGER,2005).
A água de chuva até hoje é considerada uma fonte de
água subutilizada, pois, muitas vezes, não é considerada
como um insumo, mas como um problema, pois é considerada
como esgoto. A água da chuva ao escoar pelos telhados e
pisos ficam cheias de impurezas, são drenadas até rios ou
riachos e de lá, seguem para estações de tratamento de água
para, assim serem verdadeiramente aproveitadas. Assim, são
relacionadas como esgoto, pois são confundidas com água
superficial, a mais problemática das águas do ponto de vista
da qualidade. Porém, nos últimos anos, o conceito sobre a
utilização da água da chuva vem mudando e deve adquirir mais
17
importância com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que
indica que a água da chuva é um bem que deve ser utilizado
em todo o seu potencial (BRASIL;2006)
2.2 A Situação da Captação e Manejo de Água da Chuva no
Semiárido Brasileiro (SAB)
O semiárido brasileiro (Figura 1) abrange uma área de
cerca de 969.584 km² e contém 1.133 municípios de nove
estados brasileiros, segundo o Ministério da Integração,
sendo eles: Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais (ASA,
2010), seguindo a nova delimitação do Semiárido que tem por
base três critérios técnicos básicos (BRASIL,2005):
- Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800
mm;
- Índice de aridez menor que 0,5, calculado pelo
balanço hídrico que relaciona as precipitações e a
evaporação potencial (I=P/ETP), no período entre 1961 e
1990;
- Risco de seca maior que 60%, tomando por base o
período entre 1970 e 1990.
18
Nessa região, existem mais de 22 milhões de habitantes
que representa 11,8% da população brasileira, segundo o
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE, 2000)
tornando assim o semiárido brasileiro o mais populoso do
mundo.
Figura 1 – Mapa do Semiárido Brasileiro – Nova
Delimitação.
FONTE: ANA/MI (2010)
Uma das características marcantes do semiárido é o
bioma caatinga, esse exclusivamente brasileiro e que possui
alto poder de adaptação, ajudando assim a sobrevivência da
população agricultora da região.
Outra característica marcante do semiárido é o déficit
hídrico, que ao contrário do que muitos pensam, não
significa falta de água. O nosso semiárido é o mais
19
chuvoso, com médias de precipitações entre 200 e 800 mm
anuais porém essas chuvas são muito mal distribuidas no
tempo e no espaço afetando o abastecimento dos reservatórios
para o período, conhecido como estiagem, tão temido pela
população rural. Além disso, a taxa de evaporação em algumas
regiões são muito altas chegando até a 3.000 mm/ano, três
vezes maior que as precipitações, tornando assim a maioria
dos pequenos e rasos açudes inúteis ao período da estiagem.
Então, para o período de estiagem, a população da
região semiárida deve se preparar para reservar água,
principalmente para consumo humano.
2.3 Indicadores sociais
A região do semiárido também tem sido marcada pelas
contradições e injustiças sociais. Os indicadores sociais
nas áreas de saúde, educação e renda são os piores em
relação à média nacional.(ADENE,2003)
Apesar do seu potencial natural e do trabalho do povo,
a região nordeste tem 58% da população pobre do país,
segundo estudo do Ministério da Integração Nacional. Também,
segundo estudos do Fundo das Nações Unidas para Infância
(Unicef), 67% das crianças e adolescentes do semiárido estão
na faixa de pobreza do país, muitas vezes, sem ter acesso a
necessidades básicas como saúde, educação, direitos humanos,
20
entre outros, que são essenciais para o desenvolvimento de
qualquer população. (ASA, 2010)
Segundo o Atlas Brasileiro de Desenvolvimento Humano,
em 2000, mostrou que 81,1% dos municípios pertencentes ao
semiárido brasileiro, com 61,7% da população tem baixo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e nenhum deles
alcançou as faixas mais altas que vão de 0,800 a 1,000,
conforme consta nas Tabelas 1 e 2. (PNUD Brasil, 2000).
Tabela 1 – Os 20 Melhores IDH’s do Brasil
FONTE: Atlas Brasileiro de Desenvolvimento Humano (2000)
Tabela 2 – Os 20 piores IDH’s do Brasil
21
Fonte: Atlas Brasileiro de Desenvolvimento Humano (2000)
O Semiário brasileiro é uma região muito complexa, com
suas irregularidades de chuvas, seus aspectos físicos,
limitações hídricas, e somando-se a tudo isso a falta de
conhecimento de sua potencialidade natural, o preconceito a
essa região e muitas vezes a própria desinformação da vida
sertaneja fazem com que a opnião pública e até mesmo os
habitantes locais tenham a falsa impressão da inviabilização
socio-econômica da região, causando parte desses problemas
sociais. (ADENE, 2003)
2.3.1 Renda
Segundo os dados da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste (ADENE), de 1970 a 1990, o Produto Interno Bruto
(PIB) da região nordeste praticamente triplicou ao passo que
22
a o PIB per capita não acompanhou o mesmo rítmo, dobrando de
US$ 740 para US$ 1.481, sendo assim o mais baixo do Brasil.
Convém lembrar que o PIB da região do semiárido a
situação é inversa. No mesmo período, houve uma queda do
produto interno per capita de 74,4% para 53,3% em relação ao
PIB da região nordeste.
2.3.2 A Nova Abordagem de Manejo das Águas de Chuva
Apesar dos problemas de distribuição irregular das
chuvas e das altas taxas de evaporação, é sempre possível
captar água quando chove e armazená-la garantindo assim, uma
fonte segura de abastecimento no período de estiagem, não
somente como água potável, mas para outros usos. Esse
pensamento de manejo integrado das águas de chuva nos leva a
uma nova abordagem de manejo em que cinco linhas de política
de água são essenciais (GNADLINGER,2001):
Água de beber para as famílias: a água potável para
cada família deve ser fornecida por meio de cisternas ou
eventualmente por meio de poços rasos próximos as
residências. A água deve ser usada para beber, cozinhar e
para a higiene básica, devendo ser usadas fontes menos
nobres para outros usos. A água para dessedentação humana
deve ser prioridade em caso de escassez, segundo a lei
brasileira (LEI DAS ÁGUAS, 1997).
23
Água para comunidade: a água utilizada pela comunidade
dever ser proveniente de açudes, caçimbas, poços rasos e
profundos, pois, para lavagem de roupa, banho, limpeza e
dessedentação de animais, a água não necessita de um grau de
qualidade elevado. Lembra-se que o envolvimento da
comunidade na construção, operação e manutenção desses meios
de reservação é muito importante para o pleno uso da água.
Água para agricultura: para períodos de estiagem, faz-
se necessário o uso de tecnologias como cisternas de
produção, barragens subterrâneas e captação em estradas,
visando a irrigação e produção de alimentos. Isso
caracteriza uma incrível economia no período de seca, pois
em comparação com a irrigação tradicional de fluxo estável,
a irrigação complementar usa água somente nos períodos sem
chuva.
Água para o futuro: assegurar água para o futuro com
possíveis secas severas é uma estratégia fundamental.
Existem no SAB, barragens com grande capacidade de
reservação e poços profundos que podem assegurar o
abastecimento nesses períodos, porém, esses recursos ainda
estão sem o acesso da grande maioria da população. Nesse
contexto, estratégias que visam uma reservação mais
distribuída na área do semiárido de água proveniente das
chuvas são de grande importância para a população rural. Mas
algumas dessas ações ainda não garantem abastecimento em
estados mais críticos, como em secas prolongadas, sendo
24
necessário o uso dos carros-pipa, uma alternativa ainda
muito cara, porém a única encontrada em alguns municípios.
Água para o meio ambiente: sabe-se que o ciclo
hidrológico e o balanço hídrico fornecem água suficiente
para as populações do meio ambiente, porém o uso desta água
tem que ser dimensionado e mantido para uma completa
harmonia entre o clima e o meio ambiente. Para isto, uma
série de atividades devem ser garantidas como o manejo de
bacias, proteção e revitalização de fontes de água,
recomposição de mata ciliar e, ainda, ações como tratamento
de esgotos, reúso de água e reciclagem.
Com essas políticas, surgiu uma nova concepção para as
comunidades rurais do SAB, em que tinham por base a
descentralização de ações para passarem a conviver do
semiárido e não saírem dele. Para a população do SAB essas
ações trouxeram uma identidade e uma autoestima que eles não
tinham, pois passaram a produzir seus próprios projetos e
não importá-los das regiões mais ao sul do Brasil.
Dessas novas concepções surgiram, junto com a sociedade
civil em apoio do Governo, os programas Um Milhão de
Cisternas (P1MC) e Uma Terra e Duas Águas (P1+2).
2.4 Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC)
25
O programa é destinado às famílias com renda até meio
salário mínimo por membro da família, incluídas no Cadastro
Único do governo federal, e que residam permanentemente na
área rural e não tenham acesso ao sistema público de
abastecimento de água. Tem por objetivo beneficiar com água
potável para beber e cozinhar cerca de cinco milhões de
pessoas em todo o SAB com cisternas de placas, com
capacidade total ao fim do programa de 16 bilhões de litros
de água. (ASA, 2012).
Esse programa gera uma descentralização de água potável
que garante abastecimento da população rural por todo o
período sem chuva no SAB (ASA, 2012).
O projeto (Figura 2) é muito simples e tem como o
apoio a população beneficiada na construção, assim como, a
parceria de pessoas físicas, empresas privadas, agências de
cooperação e do governo federal, gerando um produto simples:
Figura 2 – Comunidade Ajudando na Construção e Cisterna
Pronta.
26
FONTE: Próprio Autor (2012).
A cisterna é uma tecnologia simples, de baixo custo e
adaptável a qualquer região. A água é captada das chuvas,
através de calhas instaladas nos telhados das casas. De
formato cilíndrico, coberta e semienterrada, o reservatório
tem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água,
quantidade suficiente para uma família de 5 pessoas beber e
cozinhar, por um período de 6 a 8 meses – época da estiagem
na região. As placas da cisterna são construídas de cimento
pré-moldadas feitas pela própria comunidade. A construção é
feita por pedreiros das próprias localidades, formados e
capacitados pelo P1MC. Já a contribuição das famílias no
processo de construção se caracteriza com a contrapartida.
(ASA, 2012).
2.5 Operação Pipa
A Operação Pipa, até 2006, era executada pela Defesa
Civil, passando porteriormente à responsabilidade do
Ministério da Defesa (MD) e Ministério da Integração
Nacional (MI), atribuíndo ao Exército Brasileiro a
responsabilidade do planejamento, operação, manutenção e
controle da distribuição de água emergencial nas comunidades
do SAB (CEARÁ,2010).
27
O sistema de distribuição funciona como um roteiro bem
definido de ações em que a prefeitura do município
beneficiado, a Defesa Civil e o Exército têm que cumprir
atividades de cooperação, que integradas, tem por objetivo
amenizar a situação de calamidade em que os municípios
atingidos estão passando, tendo que esses serem reconhecidos
pelo governo federal. Esse roteiro possui as seguintes
atividades (CEARÁ, 2010):
A demanda por água dos carros-pipa partem das
perfeituras municipais que juntamente com o COMDEC
(Conselho Municipal de Defesa Civil) analisam a
situação das áreas atingidas e solicitam a
decretação de calamidade pública do município;
O CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil)
envia uma equipe ao local para averiguação das
informações e passa o material o Ministério da
Integração Nacional;
Com a aprovação do Conselho Nacional de Defesa
Civil, o Exército passa a operar as atividades.
O Exército é o responsável pelo cadastramento das
famílias (Figura 3). É de sua responsabilidade também a
determinação da periodicidade de distribuição, a quantidade
de litros por mês para a comunidade, o local de
armazenamento (Cisternas quase na totalidade dos casos, pois
não é permitido o abastecimento em tanques abertos), o
responsável em cada comunidade e, a partir daí, os
28
proprietários de caminhões (pipeiros) com suas respectivas
rotas e fontes hídricas. É também do Exercito a
responsabilidade de administração e fiscalização da
distribuição de água potável (Ceará,2010).
Figura 3 – Oficiais do Exército Atuando na Operação
Pipa.
FONTE: Próprio Autor (2012).
Para controle da distribuição da água, cada agrupamento
de família recebe uma senha que fica por conta do
responsável da comunidade, que é escolhido pelo Exército.
Essas senhas devem ser entregues aos pipeiros no momento do
abastecimento (Figura 4).
29
Figura 4 – Abastecimento com Carro- Pipa em Cisterna.
FONTE: Próprio Autor (2012).
2.6 Área de Estudo – Milhã/Ce
O município de Milhã está localizado no estado do Ceará
(Figura 5), na Mesoregião Sertões Cearenses e na Microregião
Sertão de Senador Pompeu, tendo como limitante ao norte:
Quixeramobim e Banabuiú; ao leste: Solonópole; ao sul: Dep.
Irapuan Pinheiro; e ao Oeste: Senador Pompeu.
Figura 5 – Localização do Município de Milhã/Ce.
30
FONTE: Wikipédia (2012).
Milhã possui atualmente, segundo o censo do IBGE/2010,
com 13.078 habitantes, com uma economia voltada para
pequenos agricultores, comércio e produção leiteira que,
devido a essa o município recebeu o título de “Terra do
Leite”. O município está localizada no Semiárido Brasileiro,
que em 2012, passou por um situação de calamidade pública
(Figura 6) por conta da seca que assolou, não só Milhã, mas
vários outros municípios do semiárido brasileiro.
Figura 6 – Açude que Abastece Parte da Localidade de
Massapê em Milhã/Ce.
31
FONTE: Próprio Autor (2012).
Por não ter obras de grande porte que abasteça com
qualidade o município, Milhã passa sérias necessidades
atualmente. Grande parte da população rural do município
consegue passar por esse período utilizando-se da água
armazenada nas cisternas. Com o prolongamento da seca, os
açudes e algumas das cisternas secaram levando a população a
utilizar como única fonte os carros-pipa.
O município também conta ainda com três
dessalinizadores (Figura 7) que estão nas localidades de
Segurança, Amanajú e Novo Destino, porém o de Amanajú
permanece sem funcionar desde de sua aquisição e os de
Segurança e Novo Destino abastecem uma minoria que ainda
consegue se deslocar até a localidade.
32
Figura 7 – Dessalinizador Instalado na Localidade de
Amanajú (Sem Funcionamento) .
FONTE: Próprio Autor (2012).
33
3 METODOLOGIA
Nosso estudo de caso foi realizado com pesquisas de
campo onde o fenômeno estudado acontecia, ou seja, no
município de Milhã. Conta ainda com a produção de um
questionário (Figura 8) que visa obter uma descrição do
fenômeno, porém, não se limita só a descrição, pois busca
uma análise e uma interpretação dos dados obtidos no
questionário de maneira qualitativa e quantitativa. A
pesquisa a campo se realizou em um período de 21 dias,
chegando abranger 235 cisternas em residências diferentes.
Primeiramente, na etapa de planejamento do trabalho de
pesquisa, tivemos o apoio de uma Socióloga que indicou
alguns pontos a serem perguntados à população local de
grande importância a parte qualitativa do nosso trabalho.
Posteriormente, a pesquisa foi realizada no município
de Milhã, dentro do período de 04 de julho de 2012 à 24 de
julho de 2012 em diversas localidades do município. O
produto final desse período de pesquisas foram diversas
fotos, coordenadas geométricas obtidas por GPS (Global
Positioning System), o questionário em si e anotações de algumas
informações que a população nos passava e que não estavam
contidas no questionário.
34
Por fim, foram realizadas as tabulações do material
obtido, onde podemos obter diversas informações sobre dados
dos usuários das cisternas, das cisternas, da captação das
águas de chuva para as cisternas, de uso da água, de
tratamento e dados de manutenção/proteção das cisternas.
Como produto dessas tabulações e dessas informações obtidas,
teremos uma série de gráficos e tabelas que com o uso de
estudos estatísticos, podemos obter uma situação mais real
possível de como estão sendo utilizadas as cisternas, de
como são abastecidas, se os usuários possuem informações
suficientes para utilizarem a água da chuva em sua plena
forma e se o uso da tecnologia da cisterna na vida rural
realmente mudou satisfatoriamente a vida no Semiárido
Brasileiro, ou seja, se o crescimento socioambiental com as
cisternas foi satisfatório.
3.1 O Questionário
Figura 8 – Modelo de Questionário Aplicado.
36
O campo tem por objetivo indicar a localidade onde a
cisterna pesquisada está localizada dentro do município.
3.1.2 Município
O campo indica o município no qual a cisterna
pesquisada é pertencente.
3.1.3 Responsável
O campo indica o nome do usuário beneficiado pela
cisterna.
3.1.4 Nº de moradores
O campo tem por objetivo indicar o número de moradores
na residência, consequentemente o número de pessoas
beneficiadas pela água de chuva reservada na cisterna.
3.1.5 Nº da cisterna
O campo é preenchido com o número da placa de
identificação existente na cisterna. Quando não é possível
obtê-lo, esse campo não é preenchido.
3.1.6 Foto nº
37
Cada cisterna pesquisada era fotografada e esse campo
possui a identificação das fotos para relacioná-las com as
cisternas.
3.1.7 Idade da Cisterna
Esse campo é preenchido com o número de anos os quais a
cisterna possui. É um campo muito importante, pois dele será
retirado um gráfico que relacionará a frequência das
cisternas com as idades encontradas.
3.1.8 Coordenadas
O campo é preenchido com coordenadas UTM (Universal
Transversa de Mercator) provenientes da localização das cisternas
com uso do equipamento GPS (Global Positioning System).
3.1.9 Captação
Esse campo é preenchido com duas formas de dados:
Número de quedas do telhado e área de telhado. O número de
quedas fornecerá informações como se está sendo usada a área
de captação (telhado) no seu uso pleno para captar o máximo
possível de água de chuva. Já a área de telhado (área de
captação) fornecerá informações que serão mostradas em
gráficos relacionando frequência com as áreas encontradas.
38
3.1.10 “A construção da cisterna teve participação da população? E foi utilizado
algum material do dono?”
O campo foi preenchido com as respostas “sim” e “não”
para as perguntas. O intuito do questionamento era saber se
a população estava ajudando na mão-de-obra e/ou se forneceu
algum material para a construção das cisternas.
3.1.11 “A cisterna precisou ser recuperada em algum momento (rachaduras)? Se
sim, que intervenção foi realizada?”
O campo foi preenchido com as respostas “sim” e “não”
para a primeira pergunta e, se sim, indicar o material
utilizado para recuperação da cisterna ou se não utilizou
nenhum material. Esse campo fornece uma tabela em que
constam a porcentagem de cisternas que não precisaram de
recuperação, as que precisaram e o usuário utilizou material
para recuperá-la e, por fim, as que precisaram de
recuperação, porém o usuário não utilizou nenhum recurso
para recuperá-la.
3.1.12 “A cisterna é utilizada por mais alguém da comunidade? Se sim, quantas
pessoas e se a cisterna é suficiente no período de estiagem?”
O campo foi preenchido com as respostas “sim” e “não”
para a primeira pergunta e, se sim, indicamos quantas
39
famílias a mais utilizavam a água da cisterna e se essa água
era suficiente para todos pelo período da estiagem. Com
isso, obtemos um gráfico que relaciona a frequência de uso
da cisterna com o número de famílias a mais utilizando-a e,
também, obtemos uma tabela com o percentual de respostas em
relação ao questionamento se a cisterna suporta o
abastecimento no perído de estiagem.
3.1.13 “A cisterna já precisou ser preenchida com água de outra fonte (Carro-pipa,
outras)? Se sim, quantas vezes e se perceberam alguma diferença (odor,
qualidade, sabor)?”
O campo foi preenchido com as respostas “sim” e “não”
para a primeira pergunta e, se sim, indicamos a outra fonte
utilizada, quantas vezes fez-se necessário o uso e se os
usuários perceberam alguma diferença na água em relação a
água da chuva. Com essas informações, obtemos gráficos que
relacionam porcentagens de cisternas que utilizaram os
carros-pipa e um gráfico com dados das vezes que os carros-
pipa foram utilizados.
3.1.14 “Como o senhor(a) classifica a água da cisterna? (Boa, Regular ou Ruim)?”
O campo foi preenchido com uma das três opções : Boa,
Regular ou Ruim. Esse campo tem por objetivo obter a
classificação das águas de chuva das cisternas pelos
usuários.
40
3.1.15 “Algum tipo de tratamento é dado para o uso da água da cisterna? Qual?”
Nesse campo, os usuários falam sobre como tratam as
águas das cisternas. Tem por objetivo indicar quais os
tratamentos mais usados pela população do SAB. Dessas
informações podemos produzir gráficos em que relacionem as
porcentagens de tratamentos mais utilizadas nas cisternas
pesquisadas.
3.1.16 “Quais medidas de manutenção das cisternas são utilizadas?”
O campo é formado por perguntas pré-definidas que devem
ser respondidas pelos usuários em “sim” e “não” e, também,
existe um espaço para citarem outras medidas de manutenção e
protenção que venham a ter em suas cisternas. O objetivo
desse campo é verificar se as medidas básicas de manutenção
e proteção das cisternas estão sendo utilizadas e observar
as práticas que os usuários adicionam as cisternas para
terem sempre a água com seu grau máximo de potabilidade
possível. Como produto desse campo, podemos ter tabelas com
as porcentagens de cisternas que utilizam as medidas de
manutenção e operação das cisternas.
3.2 Informações adicionais.
41
O questionário foi produzido e levado a campo com
perguntas bem definidas e objetivas, porém, com a exposição
dessas peguntas aos usuários das cisternas, passamos a
adicionar algumas perguntas e observações relevantes ao
objetivo final do trabalho.
Em contato com os usuários, passamos a perceber a
importância do agente de saúde na proteção e tratamento das
citernas. Então, passamos a perguntar se o agente de saúde
era importante na qualidade da água da cisterna.
Outro ponto que observamos foram nas medidas de
manutenção e proteção das cisternas, em que os usuários
passaram a cercar as cisternas contra o contato com animais
e passaram também a vedar os tubos de ventilação com
garrafas, panos, entre outros, para evitar a entrada de
insetos e animais pequenos que pudessem vir a contaminar a
água.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados serão divididos em sete áreas de análise
para uma melhor observação dos resultados.
4.1 Construção das Cisternas.
42
O processo de construção das cisterna tem parte sua
mão-de-obra cedida pelo beneficiários das cisternas e/ou
pessoas da própria comunidade dispostas a ajudá-los. Já o
material é exclusivamente fornecido com verba proveniente de
uma integração da sociedade civil e do governo federal. Como
já dito anteriormente, na pesquisa de campo, podemos
comprovar esse processo por meio dos questionamentos sobre o
assunto, onde todos os usuários foram unânimes em afirmar
que o processo é executado dessa maneira.
No que diz respeito a chegada da cisterna nas
comunidades para seus beneficiários, temos os dados da idade
da construção das cisternas no Gráfico 1:
Gráfico 1 – Gráfico com Porcentagens do Anos de
Construção das Cisternas.
FONTE: Próprio Autor (2012).
43
O gráfico mostra a tendência, principalmente, do P1MC
no município de Milhã que começou a se estabelecer a cerca
de cinco anos com poucas cisternas construídas e que vem, a
cada ano, aumentando o número de beneficiários. As cisternas
com seis ou mais anos de construídas estavam em uma época de
aceitação do programa e por isso, seus poucos números de
beneficiados.
4.2 Captação das Cisternas.
A captação das águas de chuvas são, geralmente, feitas
nos telhados das casas, seguindo para serem captadas em
calhas e levadas por tubulações até as cisternas. A análise
dos dados coletados da área de captação pode ser demonstrada
no Gráfico 2:
Gráfico 2 – Gráfico com Distribuição das Áreas de
Captação dos Telhados.
44
FONTE: Próprio Autor (2012).
A análise do gráfico indica que cerca de 80% das
cisternas tem até setenta metros quadrados de área de
captação. Considerando uma média de precipitação anual entre
800mm e 200mm, como dito anteriormente, teremos 500mm. Sendo
assim, telhados de no mínimo 32 metros quadrados já
abasteceriam a cisterna na sua totalidade, lembrando esse
cálculo considera a captação de 100% da precipitação pelo
telhado, sem perdas. Do gráfico, temos apenas cerca de 10%
das residências com menos que os 32 metros quadrados de área
de captação, sendo assim satisfatórios os resultados obtidos
com a área de captação das residências dos usuários.
Outro ponto de importante destaque é o fato de o
telhado ser dividido em mais de uma queda de água, ou seja,
com somente uma queda, na maioria das vezes, a água da chuva
cai nos pontos mais altos do telhado chegam as calhas com
uma velocidade relativamente alta, podendo ter perda de
45
parte da água da chuva por não escoar na calha. Com telhado
com mais de uma queda, esses pontos mais altos terão cotas
menores e tornarão, na maioria das vezes, o telhado um pouco
menos inclinado, garantindo que a água chegue com uma
velocidade menor à calha e que esta conduza a água até a
cisterna com o mínimo de perdas. Lembrando que ter mais de
uma queda no telhado da residência mais não aproveitá-las
com calhas em todas é desperdiçar água que poderia está
enchedo a cisterna e ajudar a passar o período de estiagem
sem maiores complicações, mas ainda assim, vemos muitas das
casas rurais sem a aplicação desta tática, tendo assim mais
um detalhe a ser observado e ser modificado pelos
responsáveis do programa. A maioria desses usuários nessas
condições alegam não terem recursos financeiros para
instalarem outras calhas, pois o P1MC só atende a um lado da
queda dos telhados.
4.3 Operação das Cisternas.
No que diz respeito a operação das cisternas, obtivemos
informações em relação a recuperação que as cisternas do
município precisaram, essas apresentadas na Tabela 3:
Tabela 3 – Necessidade de Recuperação das Cisternas.
46
FONTE: Próprio Autor (2012).
O sistema construtivo dessas cisternas ainda apresenta
alto índice de ineficiência, pois, como dado da Tabela 3
demonstra, ainda 37,45% das cisternas construídas
necessitaram ser recuperadas, impossibilitando o usuário de
utilizar toda a água que foi reservada. Esse dado agrava
ainda mais a situação quando relacionamos esse ao Gráfico 1
que mostra que a grande maioria das cisternas construídas em
Milhã possuem até cinco anos de uso.
Outro produto importante gerado pela aplicação do
questionário nesta área de análise foi Gráfico 3:
Gráfico 3 – Gráfico com Percentuais de Medidas de
Recuperação.
47
FONTE: Próprio Autor (2012).
O gráfico mostra que grande parte dos usuários das
cisternas que necessitam ser recuperadas procuram medidas de
recuperação com o uso de produtos impermeabilizantes, porém
uma parcela considerável ainda não recupera sua cisterna, ou
seja, essas famílias não contam com a água ou contam somente
com parte deste volume reservado. Parte das fissuras
apresentadas no período pós-construção aparecem na parte
lateral da cisterna, onde podem perder parcialmente a água
reservada, pois o remanescente fica abaixo da fissuração
ocorrida. Porém, fissuras ocorridas na parte inferior ou na
base chegam a perder 100% do volume reservado. Nessas duas
últimas situações, os proprietários que não recuperam suas
cisternas indicam falta de recurso financeiro para aplicarem
medidas de recuperação.
4.4 Distribuição da Água da Cisterna na Comunidade.
Essa área de análise observa, fora a importância dos
quesitos técnicos, a importância dos quesitos sociológicos,
pois a distribuição da água é uma ação que parte dos
usuários das cisternas que deve suprir muitas vezes as
necessidades das pessoas da família do proprietário, também
como a de pessoas que não possuem outra fonte de água
potável próxima a sua residência.
Os produtos dessa análise são o Gráfico 4 e a Tabela 4:
48
Gráfico 4 – Gráfico com Percentuais de Cisternas
Utilizadas por Mais de Uma família.
FONTE: Próprio Autor (2012).
O gráfico, que relaciona as porcentagens de cisternas
com o número de famílias que as utilizam fora a família do
usuário, nos leva a perceber que grande parte das cisternas
são utilizadas por até mais quatro famílias. Esse fato pode
vir a ser fruto do crescimento acelerado da construção de
cisternas nas comunidades do município.
A Tabela 4 abaixo confirma as informações do gráfico do
Gráfico 4 e, mais ainda, com 55,74% das famílias ainda
cedendo parte da água reservada, demonstra o quanto a
solidariedade ainda faz parte do cotidiano da população do
SAB, pois a água é escassa e sem essa distribuição teríamos
grandes dificuldades com água potável para as famílias.
49
Tabela 4 – Número de Cisternas Utilizadas por Mais de
Uma Família .
FONTE: Próprio Autor (2012).
Outro ponto importantíssimo dessa análise é o fato de
saber se a água reservada na cisterna consegue abastecer as
famílias usuárias pelo período da estiagem e chegar ao
próximo período chuvoso, onde será reabastecida. Esse fator
também é importante na visão geral de que a cisterna, as
vezes, abasteça bem uma família, no caso sua proprietária,
mas quando é distribuída passa a não suprir as necessidades
de todos. Para obtermos informações sobre o assunto a Tabela
5 traz esses dados:
Tabela 5 – Situação de Famílias que Distribuem Água das
Cisternas com a Comunidade .
FONTE: Próprio Autor (2012).
Dos dados apresentados podemos verificar que, das
famílias que cedem parte da água de sua cisterna, 76,34%
50
conseguem suprir suas necessidades e a dos favorecidos com a
distribuição da água no período de estiagem, tornando assim
de grande valia a cisterna em poder da população do SAB.
4.5 Alternativas para o Abastecimento das Cisternas.
O abastecimento da cisterna deve ser, principalmente,
feito pela água de chuva, porém, como já foi dito antes,
algumas das cisternas passam por problemas ou o uso
acentuado faz com que a cisterna seque, parte das vezes no
período de estiagem, em que ela não irá demorar ser
abastecida com água de chuva. Para isso algumas ações são
tomadas visando o abastecimento emergencial dessas cisternas
com água potável para consumo humano. É nesse contexto que
se insere o carro-pipa. Com dados sobre o uso do carro-pipa
pelas comunidades chegamos a produzir os Gráfico 5 e Gráfico
6:
Gráfico 5 – Gráfico com Percentuais de Cisternas que
Necessitaram de Carros-pipa.
51
FONTE: Próprio Autor (2012).
O gráfico mostra que a necessidade do carro-pipa ainda
é muito grande com 41,28% de cisternas que necessitaram de
seu uso, pois se torna, na maioria das vezes, uma das únicas
alternativas de água potável à população.
Outro gráfico gerado pelas informações adquiridas é o
Gráfico 6, que indica o número de vezes por ano que as
cisternas que necessitaram de carros-pipa foram abastecidas.
Gráfico 6 – Gráfico com Frequência Anual de Cisternas
Abastecidas por Carros-pipa.
52
FONTE: Próprio Autor (2012).
As informações pertinentes retiradas desse gráfico é
que até 70% das cisternas foram abastecidas uma vez por ano
ou menos e conseguiram suprir suas necessidades. Nota-se
também que esse alto índice de cisternas abastecidas somente
uma vez por ano por carros-pipa, pode vir do grande número
de cisternas com cerca de até dois anos de construídas como
em dados apresentados anteriormente.
4.6 Tratamentos das Águas da Cisterna.
Os tratamentos utilizados são muitos, porém os mais
comuns e citados pelos usuários das cisternas foram a
cloração e filtração, até por serem mais baratos e os mais
53
disseminados pela atuação dos agentes de saúde do município,
figuras importantes no controle de doenças e tratamento das
águas nas cisternas. Como produtos das informações
coletadas, temos o Gráfico 7:
Gráfico 7 – Gráfico com Percentuais de Tratamentos
Utilizados nas Cisternas.
FONTE: Próprio Autor (2012).
O gráfico mostra como são largas as utilizações da
cloração e filtração no tratamento da água das cisternas,
totalizando mais de 80% das cisternas recebendo tratamento,
mas o que mais chama a atenção é o fato de 17,45% da
população rural ainda utilizar a água sem nenhum tratamento
prévio, trazendo riscos a saíude com uma possível água
contaminada.
54
4.7 Manutenção e Proteção das Cisternas.
A manutenção e proteção das cisternas são o que vão
garantir a qualidade da água consumida e evitar as possíveis
doenças que os tratamentos com a cloração e a filtração não
poderão evitar. Nesse atividade a figura do agente de saúde
também atua, informando o básico que os usuários devem
garantir para a boa qualidade da água reservada.
Com base nisso e nas informações coletadas em pesquisa,
temos como produto o Gráfico 8:
Gráfico 8 – Gráfico com Percentuais das Ações de
Manutenção e Proteção das Cisternas.
FONTE: Próprio Autor (2012).
55
O gráfico mostra seis das ações de manutenção e
proteção mais utilizadas no município, porém delas podemos
destacar quatro que merecem mais atenção: manter fechada com
cadeado, limpeza da calha, telas de proteção e proteção das
tubulações contra insetos.
Os resultados mostram que justamente essas ações são as
mais praticadas pela população, onde todas estão em mais de
80% das cisternas, ajudando assim a garantir a potabilidade
da água reservada.
A pintura com tinta a base de cal pelo menos uma vez ao
ano serve para manter o aspecto de limpeza da cisterna e,
também, ajuda, com a cor branca, a resfriar a água, tendo
sim sua importância, mas não no nível das outras quatro
ações. Mas mesmo assim, ainda aparece no gráfico com um
valor representativo de 70% das cisternas pesquisadas.
Já a cerca é mais uma ação dos mais cuidadosos para
evitar a chegada de animais de grande porte próximo a tampa
da cisterna. Sendo um meio de proteção não tão necessário ao
bom funcionamento da cisterna.
5 CONCLUSÕES
Nas condições em que foram realizados os estudos e com
base na análise de todos os dados obtidas nos resultados,
podemos listar as seguintes coclusões nos parágrafos abaixo.
56
Em relação a análise dos dados da construção das
cisternas, observamos que o processo para a aquisição da
cisterna com o fornecimento do profissinal da construção
civil e do material cedido pelas entidades públicas e parte
da mão-de-obra cedida em mutirão pela população é
satisfatório, pois na totalidade de residências pesquisadas,
os proprietários se mostraram satisfeitos e aprovam a ação.
A análise dos dados sobre a área de captação da água da
chuvas nos telhados pode concluir que a maioria das
residências pesquisadas captam água para as cisternas da
melhor maneira possível, ou seja, com uma área de telhado
suficiente para encher a cisternas e garantir o
abastecimento. Porém, como foi visto em muitas das casas
visitadas, o número de residências que não aproveitam todas
as quedas de água é enorme e o motivo alegado pelos
responsáveis é a falta de dinheiro para completarem o
sistema de captação, pois o P1MC só fornece material para
captação em uma queda, independente do número que venham a
ter nas residências.
Em relação a recuperação que algumas cisternas vieram a
necessitar, o número de cisternas que tiveram problemas com
vazamentos foi alto, obrigando a população a entrar com
recursos para recuperá-la. Agravando ainda mais essa
situação, cerca de 90% das cisternas tinham até cinco anos
de construída, fato que não deveria ocorrer. Outro ponto que
deve ser lembrado é que 1/5 das cisternas que necessitaram
57
de recuperação, não foram recuperadas e os usuários não
utilizaram a água reservada na sua totalidade.
As cisternas trouxeram a descentralização de parte da
água das chuvas no SAB, porém essa descentralização também
precisa ocorrer dentro das comunidades que recebem as
cisternas. Os números de usuários que dividem a água com
mais algumas famílias é animador, pois cerca da metade das
cisternas tem água utilizada não só pela família do
proprietário, mas também por pelo menos uma família a mais
da comunidade. De acordo com relatos dos pesquisados esses
números eram maiores, porém o números de cisternas
construídas cresce a cada ano e beneficia famílias que antes
não tinham acesso a essa água. Tão importante quanto saber
que as famílias fornecem água a mais pessoas da comunidade,
é saber se a água das cisternas é suficiente para passar o
período da estiagem abastecendo os usuários e assim
analisando os dados obtidos concluímos que grande parte
consegue sim suprir suas necessidades e ainda fornecer água
a outras pessoas.
Em relação as alternativas de abastecimento das
cisternas quando a água da chuva não consegue suprir a
demanda, temos os carros-pipa como o recurso mais utilizado.
Porém, o grande número de utilizações dos carros-pipa, com
quase metade das cisternas já necessitando dos seus
serviços, traz preocupação, pois as cisternas devem
conseguir suprir a demanda de abastecimento e, além disso,
esse meio deve ser encarado como emergecial e não utilizado
58
quase que constantemente, por ser de alto custo. A tendência
do uso dos carros-pipa é diminuir, pois como vimos
anteriormente, a construção de cisternas nas comunidades
aumenta a cada ano e a idéia é ter quase todas as casas com
seus próprios reservatórios.
Em relação aos tratamentos dados as águas, se
sobressaem a filtração e a cloração, realmente, os mais
disseminados pela região pesquisada. Os resultados foram
animadores pois concluímos que a maioria das residências
estão dando o devido valor aos meios de tratamento e
cuidando de suas famílias. Porém, não podemos deixar de
perceber que cerca de 1/5 das cisternas ainda não tratam
suas águas, trazendo riscos à saúde de suas famílias.
Na área de manutenção e proteção das cisternas, as
cisternas pesquisadas estão com todas as exigências
supridas, pois, dos seis itens pesquisados, os quatro mais
importantes foram verificados em mais de 80% das cisternas,
garantindo assim a potabilidade adequada da água a ser
consumida. Os outros dois itens tem sua importância, porém
não afetariam tanto as qualidades da água reservada na
cisterna.
Por fim, grande parte desses bons resultados devem ter
sido conseguidos com a atuação da figura do agente de saúde.
Muitas das cisternas pesquisadas, quando perguntadas sobre
tratamento, manutenção e proteção indicavam que o que sabiam
e usavam tinha sido ensinado pelo agente de saúde da região.
59
Esse profissional pode vir a ser um dos grandes fatores da
boa qualidade da água consumida pelas cisternas no SAB.
REFERÊNCIAS
ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC). Disponível em <http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=1150> Acesso em 26 de novembro de 2012.
BRASIL, Presidência da República: Lei das águas, Lei Nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, Art. I,3.
BRASIL, Ministério da Integração Nacional. Nova delimitação do semiárido brasileiro, Brasília, 2005.
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria dos Recursos Hídricos. Plano Nacional dos Recursos Hídricos, v.I e IV, Brasília, DF, 2006.
BRASIL, Agência Nacional das Águas: Atlas nordeste, abastecimento urbano de água, Brasília, 2007.
BRASIL. Agência de Desenvolvimento do Nordeste, Indicadores Socioeconômicos e Ambientais, Disponível em <http://desenvolvimentonordestino.wordpress.com /2007/10/07/participacao-das-unidades-federais-no-pib-em-2003/.> Acesso em 17 de dezembro de 2012.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divulgação dos Resultados. Censo 2000. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/censo/divulgacao_digital.shtm.> Acesso em 11 de novembro de 2012.
CEARÁ, Governo do Estado do. O Caminho das Águas nas Rotas dos Carros-Pipa, Fortaleza, 2010.
FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. O semiárido. Disponível em
60
<http://www.febraban.org.br/arquivo/destaques/destaque-fomezero_semiarido.asp> Acesso em 12 de dezembro de 2012.
GNADLINGER, J. Apresentação técnica de vários tipos de cisternas para comunidade rurais no semiárido brasileiro. Conferência Internacional de Sistemas de Captação de Água de Chuva, 9, Petrolina, 1999.
GNADLINGER, J. Colheita de água de chuva em áreas rurais. Fórum Mundial da Água, 2, Haia, 2000.
GNADLINGER, J. A busca de água no sertão, Juazeiro, 2001.
GNADLINGER, J. Estratégias para uma legalização favorável à captação e ao manejo de água de chuva no Brasil. Anais Sipósio de Captação e Manejo de Água de Chuva, 5, Teresina, 2005.
GNADLINGER, J. Rumo a um padrão elevado de qualidade de água de chuva coletada em cisternas no semiárido brasileiro. AnaisSimpósio de Captação e Manejo de Água de Chuva, 6, Belo Horizonte, 2007.
PNUD Brasil – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil: Atlas Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Brasília, 2000.