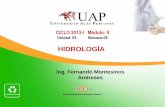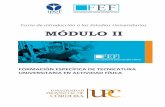Livro - CPHI - Módulo II
Transcript of Livro - CPHI - Módulo II
ESP
EC
IALIZ
AÇ
ÃO
CULTURAS E HISTÓRIADOS POVOS INDÍGENAS
2° MÓDULO
ANTROPOLOGIA INDÍGENA
Antônio Hilário Aguilera Urquiza
Levi Marques Pereira
José Henrique Prado
Campo Grande, MS - 2014
SUMÁRIO
Apresentação 4
CAPITULO IAntropologia, Diversidade e Alteridade 7
1.1 Antropologia e Diversidade 91.2 Antropologia e Alteridade 111.3 Antropologia, Ciência da Diversidade 12
CAPITULO IIAs Origens Da Antropologia 17
2.1 Os Pais da Antropologia Moderna 222.2 Etnografia: Perspectivas do Trabalho de Campo: Boas e Malinowski 242.3 Estruturalismo e a Antropologia Interpretativa 28
CAPÍTULO IIIAntropologia no Brasil e os Povos Indígenas 33
3.1 Pré Antropologia ou período dos Cronistas. 353.2 A Antropologia entre os séculos XIX e XX. 363.3 A Antropologia no Brasil dos anos trinta aos sessenta 383.4 A Antropologia Contemporânea no Brasil. 39
CAPÍTULO IVAntropologia e Parentesco 45
Considerações Finais 59
Bibliografia 61
APRESENTAÇÃO
O curso de Especialização, Culturas e História dos Povos Indígenas insere-se no processo de criação da Rede de Educação para a Diversidade (REDE), uma iniciativa de várias instituições do Governo Federal: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI/MEC), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). O objetivo da Rede de Educação para a Diversidade (REDE) é estabelecer um grupo permanente de formação inicial e continuada a distância para a disseminação e desenvolvimento de metodologias educacionais de inserção dos temas das áreas da diversidade.
Culturas e História dos Povos Indígenas é um curso de formação em nível de Pós-graduação de professores, com carga horária de 360h distribuído em 10 módulos (24 créditos), o qual se insere na Rede de Educação para a Diversidade (REDE). Ofertado na modalidade semipresencial, por meio do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o curso visa formar professores e profissionais da educação capazes de compreender os temas da diversidade cultural e histórica dos povos indígenas e introduzi-los na prática pedagógica e no cotidiano da escola.
A proposta deste curso é a formação de professores, na temática: culturas e história dos povos indígenas, com o objetivo de promover o debate sobre a educação como um direito fundamental, que precisa ser garantido a todos e todas sem qualquer distinção, promovendo a cidadania, a igualdade de direitos e o respeito à diversidade sociocultural, étnico-racial, etária e geracional, de gênero e orientação afetivo-sexual e às pessoas com necessidades especiais.
Este curso de especialização propõe módulos temáticos que abrangem um largo espectro dos temas: Culturas e História dos Povos Indígenas, visando formar professores e outros profissionais da educação da rede de ensino de educação básica para a promoção e compreensão da realidade indígena, para a inclusão de saberes diversos e enfrentamento de todo o tipo de discriminação e preconceito. O curso visa também proporcionar o estabelecimento de uma rede de colaboração virtual para a discussão e compartilhamento de informações e aprendizagem sobre práticas pedagógicas inclusivas na escola.
Outro aspecto de especial relevância é a emergência de uma nova legislação que insere nos currículos da Educação Básica a proposta de temas referentes à história e cultura afro-brasileira e, ultimamente (Lei 11.645/2008), à história e cultura indígena. Trata-se de elementos constitutivos de nosso substrato cultural, mas, que por motivos históricos, foi ideologicamente relegado ao quase esquecimento e, quando trazido à tona, foi feito com um viés etnocêntrico e repleto de preconceitos.
Educar hoje, para a temática indígena, é tratar desta histórica dívida para com os grupos historicamente desfavorecidos, proporcionando o debate construtivo através do acesso às informações relegadas às novas gerações. Quanto à nossa realidade regional específica, podemos dizer que Mato Grosso do Sul caracteriza-se por ser uma região de fronteiras, de acolhida e, ao mesmo tempo de trânsito. É, na atualidade, o segundo Estado brasileiro em população indígena. Todos estes povos com suas particularidades históricas e as problemáticas atuais de conflitos agrários, subsistência, preconceitos de todos os tipos, violências, etc.
A partir deste conjunto de elementos que conformam nosso contexto regional serão conjugados, de forma dialógica, os conteúdos teórico-práticos propostos pelo curso. Quanto ao presente texto, referente ao 2º Módulo – Antropologia Indígena é composto pelos seguintes temas, desenvolvidos na sequência:
1. Antropologia, diversidade e alteridade2. Origens da Antropologia3. Antropologia no Brasil e os povos indígenas4. Antropologia e parentesco
Diante de uma sociedade cada vez mais caracterizada pela diversidade e seus imensos desafios lançados cotidianamente aos educadores, desejamos a todos/as que estes conteúdos sejam úteis para embasar reflexões e práticas criativas sobre os aspectos da diversidade e a necessidade da construção de uma sociedade cada vez mais plural e participativa, a partir dos conhecimentos específicos acerca das Culturas e História dos Povos Indígenas.
ANTROPOLOGIA, DIVERSIDADE E ALTERIDADE
CAPÍTULO I
Após breve introdução às noções básicas do sistema operacional Moodle, neste segundo módulo entraremos diretamente no conteúdo antropológico do curso de Especialização na temática: Culturas e História dos Povos Indígenas. Esta ciência humana é uma importante chave para a compreensão das sociedades tradicionais, sua dinâmica cultural, organização social, mitos, aspecto religioso e práticas rituais, dentre outros. Começamos com algumas considerações a respeito da Antropologia a partir da alteridade e diversidade, em seguida, elementos da história da Antropologia, a Antropologia no Brasil e na quarta parte, um texto antropológico acerca da organização social (parentesco) de uma sociedade indígena concreta: o povo Kaiowá de Mato Grosso do Sul.Dessa forma, este segundo módulo pretende, concretamente, apresentar elementos teóricos que auxiliem na fundamentação conceitual da Antropologia Indígena, para, dessa forma, subsidiar as discussões posteriores sobre os temas específicos e as populações indígenas.Antes de adentrar ao título desta primeira unidade é necessário uma breve apresentação e discussão dos conceitos de diversidade e alteridade, especialmente em suas interfaces com a Antropologia.
1.1 ANTROPOLOGIA E DIVERSIDADE1
A palavra diversidade tem adquirido uma gama imensa de significados nas últimas décadas, pois tem a ver, em especial, com a emergência significativa dos pluralismos étnicos, comportamentais, artigos de consumo, nacionalismos, comportamentos, dentre outros. Para nós, a ênfase deste conceito recai sobre seu complemento, ou seja, diversidade cultural, aquela que diz respeito às manifestações plurais de grupos e sociedades, em suas práticas culturais.
Uma primeira definição de Diversidade Cultural é a proposta por François de Bernard (2005) que a define em cinco palavras. Diverso, e não simplesmente múltiplo, diferente, plural ou variado. Cultural, para não ser confundido com a biodiversidade, que trata da dimensão da natureza. Dinâmica, as culturas não podem ser consideradas estáticas, rígidas ou contábeis.1 Este item está baseado em AGUILERA URQUIZA, A. H. e MUSSI, V. P. L. 2009.
EaD•UFMS10 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Ao consultarmos o dicionário à procura da definição da palavra diversidade vamos encontrar vários conceitos: diferença, dessemelhança, diverso, distinção, variação, mudado, alterado, discordante, divergente. Isso pode nos levar a pensar que a diversidade diz respeito somente aos sinais externos, que podem ser vistos a olho nu, nos encontros e relações que estabelecemos no nosso cotidiano. Porém, se ampliarmos a nossa visão sobre as diferenças e dermos a elas um trato cultural e político, poderemos entendê-las de duas formas:
a) As diferenças são construídas culturalmente tornando-se, então, empiricamente observáveis;b) As diferenças também são construídas ao longo do processo histórico, nas relações sociais e nas relações de poder. Muitas vezes, os grupos humanos tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo, para melhor dominá-lo.
Por isso, segundo Gomes (2003, p. 72), falar sobre a diversidade cultural não diz respeito apenas ao reconhecimento do outro. Significa pensar a relação entre o eu e o outro. Aí está o centro da discussão sobre a diversidade. Ao considerarmos o outro, aquele que é diferente, não deixamos de focar a atenção sobre o nosso grupo, a nossa história, o nosso povo. Ou seja, falamos o tempo todo inteiro em semelhanças e diferenças.
Isso nos leva a pensar que, ao considerarmos alguém ou alguma coisa diferente, estamos sempre partindo de uma comparação. E não é qualquer comparação. Geralmente, comparamos esse outro com algum tipo de padrão ou de norma vigente no nosso grupo cultural, ou que esteja próximo da nossa visão de mundo. Esse padrão pode ser de comportamento, de inteligência, de esperteza, de beleza, de cultura, de linguagem, de classe social, de raça, de gênero, de idade, entre outros (cf. GOMES, 2003, p. 72).
Nesse sentido, a discussão a respeito da diversidade cultural não pode ficar restrita à análise de um determinado comportamento ou de uma resposta individual. Ela precisa incluir e abranger uma discussão política. Por quê? Porque ela diz respeito às relações de poder presentes no nosso cotidiano. Ela diz respeito aos padrões e valores que regulam essas relações (cf. GOMES, 2003, p. 72).
EaD•UFMS 11Antropologia, Diversidade e Alteridade
1.2 ANTROPOLOGIA E A ALTERIDADE
Podemos, ainda, acrescentar um novo elemento a esta exposição: a relação de confronto que a diferença estabelece é uma relação de alteridade, ou seja, leva ao confronto com o “outro”. Relação de alteridade é, portanto, a relação entre Ego (eu) e alter (outro). Essa relação tem se mostrado amplamente problemática, uma vez que é fonte de julgamento, de decisões sobre o outro. O diferente existe, mesmo sem a autorização, permissão ou tolerância. O diferente é zona de tensão, campo político repleto de contradições e conflitos. Dessa forma, podemos inferir que o outro, o externo a mim, ao ser diferente, torna-se um problema, pois leva a confrontar a própria identidade do “eu”.
Numa relação de alteridade, temos grande dificuldade em pensar que os outros são, para si próprios em eu, um nós em relação a nós outros. Essa dificuldade tem que ver com o fato de nos pensamos como centralidade. O outro tem modos de ser, de pensar de fazer e de sentir que contrariam, confundem nossas referências. Resolvemos a dificuldade de lidar com a diferença, atribuindo-a ao outro. Ele é o diferente, o estranho.
O problema que a diferença expõe é imediatamente reduzido a uma questão de pertencimento e, como o outro não pertence ao nosso grupo, à nossa cultura, o problema é ele – o outro. Temos dificuldade em pensar o contrário. Quando chegamos a esse nível de prática dizemos que ela caracteriza-se como um comportamento etnocêntrico.
Etnocentrismo é uma visão de mundo onde nosso próprio grupo é tomado com centro de tudo, e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimento de estranheza, medo, hostilidade etc. Pode-se afirmar, também, que no etnocentrismo existe a busca da compreensão do sentido positivo da diferença com o grupo do “eu” e o grupo do “outro”, onde o “eu” é visto como uma visão única e o “outro” é o engraçado, anormal, ridículo.
O etnocentrismo, principalmente em duas de suas expressões mais hostis: o racismo e a intolerância religiosa têm dado suporte a muitas guerras e ações de terrorismo, de grupos e de Estado. O racismo é, talvez, a mais insidiosa e resistente forma de etnocentrismo, prática comum no Brasil e, ao mesmo, tempo velada e relegada como inexistente.
Por outro lado, a diversidade traz em si, também, um potencial de humanização. A compreensão da diversidade abre possibilidade
EaD•UFMS12 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
de novos conhecimentos, de aprendizados, de construção de formas pacíficas e colaborativas de viver. A diversidade cultural, em nível do vivido e do pensado, promove a experiência de pluralidade, de convivência, de diálogo, de tolerância. Neste sentido, a perda da diversidade, seja ela biológica ou cultural, é uma perda irrecuperável de potencial de expressão humana e da vida em sentido mais amplo.
Reforçando esta dimensão positiva, acreditamos que a pluralidade cultural é afirmação da diversidade, ou melhor, agrupa as diferenças e diversidades. Por isso podemos dizer que o Brasil é um país pluricultural, onde sua maior riqueza é justamente a imensa diversidade: histórica, regional, linguística, musical, ecossistemas, entre outras.
Por outro lado, é necessário fazer certa distinção: a diversidade é uma dinâmica cultural e não deveria ser usada como sinônimo de diferença, que é um conceito que existe na natureza das coisas vivas, existe em qualquer forma viva, mas não contempla valores e definições nas relações. Dessa forma, a diversidade não está relacionada somente a sinais aparentes, características físicas; de fato a diversidade cultural tem uma conotação cultural e política, isto é, tem um caráter relacional. Pode ter características observáveis, mas é, sobretudo, fruto de uma construção social e de poder que nos diferencia por razões históricas. Muitas vezes os grupos humanos tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo, para dominá-lo.
Por isso, falar sobre a diversidade cultural não diz respeito apenas ao reconhecimento do outro. Significa pensar a relação entre o eu e o outro. Não é só olhar para o reconhecimento do outro, mas pensar como eu, ao longo da minha história, me reconheço em relação aos outros.
1.3 ANTROPOLOGIA, A CIêNCIA DA DIVERSIDADE
A partir do referencial da Antropologia, podemos inferir alguns elementos relacionados ao conceito de diversidade. Em seus inícios a Antropologia, através de Tylor (apud. LARAIA, 2008) e de outros “evolucionistas”, buscou explicar a diversidade com base nos postulados darwinistas:
É o resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da Antropologia seria a de “estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização”, simplesmente colocando as nações européias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre dois limites.
EaD•UFMS 13Antropologia, Diversidade e Alteridade
De lá para cá, muita coisa mudou: a Antropologia deixou para trás a perspectiva evolucionista, ou seja, um ponto de vista tradicional e fechado ao diferente, e passou por uma fase marcada pela pesquisa de campo, reveladora da diversidade, onde elaborou outros conceitos e paradigmas, abriu novas áreas de investigação. Nunca abandonou, porém, a preocupação inicial, fundante, a respeito da diversidade cultural. Só que, deixando de associar o diferente com o atrasado, desvinculou-se da idéia de que seu objeto era constituído pelos povos considerados “primitivos”.
Esta mudança chega a seu termo induzida pela aguda consciência do processo de extinção de nações indígenas e também pela recusa de antigos povos colonizados, agora independentes, a serem considerados objetos de estudos antropológicos. Esses foram os fatores que levaram Claude Lévi-Strauss a se perguntar, na década de sessenta, se “a Antropologia não corre o risco de tornar-se uma ciência sem objeto” (LÉVI-STRAUSS, 1962: 21).
O próprio autor dá a resposta ao dizer que o objeto da disciplina não é propriamente o estudo de um determinado tipo de sociedades, mas que (...) “enquanto as maneiras de ser ou agir de certos homens forem problemas para outros homens, haverá lugar para uma reflexão sobre essas diferenças que, de forma sempre renovada, continuará a ser o domínio da Antropologia” (ibidem, 26). Em outras palavras, a diversidade é condição permanente de desenvolvimento da humanidade e por isso, as dessemelhanças entre sociedades e grupos não desaparecerão (cf. MAGNANI, 1996).
Por outro lado, na Antropologia, podemos distinguir entre os conceitos de diversidade e diferença, importantes para o entendimento dos jogos de sujeição e dominação histórica de sociedades e grupos de indivíduos. Diversidade pode-se dizer que se refere ao reconhecimento da pluralidade de culturas presentes nas sociedades, com sua multiplicidade de significados, exigindo postura ética e política de respeito, em vista de convivência democrática. Diferença, por seu turno, é apresentada como processo de constituição e hierarquização desses significados múltiplos.
A Antropologia, como sabemos, procura responder à questão central do significado da diferença. Segundo Laraia (2008) o ponto de partida é, por um lado, a constatação da unidade genética (biológica) dos seres humanos e, por outro lado, a imensa diversidade cultural produzida por estes mesmos seres humanos, os quais possuem algumas características comuns aos demais seres vivos: seres diversificados, seres de incompletude, seres em aberto, seres em relação, ação e interação com seu meio. Todos os seres da mesma espécie tendem, ao mesmo tempo, à agregação e à dispersão. Se por um lado produzimos representações de agregação, às quais
EaD•UFMS14 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
chamamos de identidade, por outro, produzimos representações de dispersão e diferenciação entre pessoas e grupos sociais.
Em 1994, Lucas Cavalli-Sforza (Em língua portuguesa a edição é de 2002) publicou, em colaboração com outros cientistas, importante livro sobre a raça humana (Quem somos?).Com base num rastreamento da espécie humana em todo planeta. Cavalli-Sforza e seus colaboradores, a partir dos dados obtidos em dezesseis anos de pesquisa, comprovam a tese da unidade da espécie humana. Colheram dados genéticos de mais de dois mil grupos étnicos.Demonstraram ao examinar o conteúdo genético dos indivíduos, que os conteúdos são idênticos, logo existe uma única raça humana.
AS ORIGENS DA ANTROPOLOGIA2
CAPÍTULO II
2A Antropologia é um dos mais recentes ramos do conhecimento sobre a humanidade na história da ciência. Suas bases de pensamento e de método só têm início na segunda metade do século XIX, durante a qual a Antropologia atribui para si um objeto empírico, o qual a tornava um campo de conhecimento autônomo: as sociedades ditas “primitivas”. Dessa forma, a Antropologia volta os seus estudos, o seu foco, para “fora” do seu local de nascimento, ou seja, exteriores à Europa e aos Estados Unidos da América.
As sociedades estudadas pelos primeiros antropólogos são sociedades longínquas, caracterizadas pelos pesquisadores, à época, como sociedades simples3 e restritas, com poucos contatos com os demais povos do mundo e com uma tecnologia pouco desenvolvida em relação a do pesquisador, havendo ainda um número muito menor de especializações e divisões das atividades e funções sociais.
SOCIEDADES SIMPLES X SOCIEDADES COMPLEXAS
Simples: chamadas de primitivas, arcaicas ou “frias”; são pouco desenvolvidas tecnologicamente (agricultura rudimentar), afastadas da sociedade ocidental, de dimensões populacionais restritas, divisão social do trabalho simplificada entre seus membros, menor tendência às mudanças (estáticas), etc.
Complexas: chamadas de civilizadas, modernas ou “quentes”; seriam as sociedades ocidentais contemporâneas: desenvolvidas, industrializadas, interligadas pela comunicação, em transformação.
2 Este item teve como base o texto Aprender Antropologia, de François Laplantine. Ed. Brasiliense: SP, 2003.3 É óbvio que este e outros conceitos antigos da antropologia (como o do quadro acima), não são mais aceitos na atualidade, pois eles demonstram uma atitude, no mínimo et-nocêntrica (eurocêntrica) e colonialista, ao propor características negativas para a sociedade do “outro” (frias, pouco desenvolvidas, primitivas, etc.), em comparação com a “nossa sociedade”, dita civilizada, quente, complexa, etc.
EaD•UFMS20 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Desse modo, no seu surgimento, a Antropologia supõe uma dualidade e uma separação radical entre observador e observado, que, inicialmente, se constituí em um distanciamento geográfico se tornando mais radicalizado pelas grandes diferenças de perspectivas de mundo entre o observador (europeu ou norte-americano) e o observado, normalmente um povo nativo de uma ilha ou continente distante da do observador, tratado como alguém exótico e, em muitos casos, atrasado (selvagem, sem civilização). No momento de seu surgimento Antropologia tinha como finalidade responder à indagação referente à aparente contradição, entre a unidade genética (biológica) dos seres humanos e sua imensa diversidade (cultural). A solução proposta é que a diversidade entre os povos advém das diferentes etapas evolutivas das culturas. Daí, a imensa tentativa dos primeiros antropólogos em compreender a evolução das sociedades humanas com o objetivo de compreender e reconstituir a história do desenvolvimento da humanidade, e particularmente, da própria civilização europeia.
Neste início (segunda metade do século XIX), a Antropologia desenvolve, assim, sua primeira grande matriz teórica, conhecida como Evolucionismo, tendo seus principais representantes na Inglaterra (Spencer, E. Taylor, James Frazer, Henry Maine) e Estados Unidos (Henry Morgan). Se por um lado esta teoria representou uma tentativa de superação do racismo (todas as pessoas são iguais), por outro lado, permanece a tendência etnocêntrica (as culturas é que são diferentes, sendo algumas mais evoluídas que outras).
Um dos primeiros antropólogos, Spencer (1820-1903), alguns anos antes de Charles Darwin (1809-1882), já defendia a ideia de que a cultura evolui. Certamente que após a publicação da obra A Origens das Espécies (DARWIN, 1859), a teoria evolucionista da biologia exerce enorme influência em todas as ciências naturais e também sociais, como a Antropologia.
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=charles+darwin+a+origem+das+espe
cies
ESPECIALIZAÇÃO: CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS 12
2º MÓDULO ANTROPOLOGIA INDÍGENA
perspectivas de mundo entre o observador (europeu ou norte-americano) e o observado,
normalmente um povo nativo de uma ilha ou continente distante da do observador, tratado
como alguém exótico e, em muitos casos, atrasado (selvagem, sem civilização). No
momento de seu surgimento Antropologia tinha como finalidade responder à indagação
referente à aparente contradição, entre a unidade genética (biológica) dos seres humanos e sua imensa
diversidade (cultural). A solução proposta é que a diversidade entre os povos advém das
diferentes etapas evolutivas das culturas. Daí, a imensa tentativa dos primeiros
antropólogos em compreender a evolução das sociedades humanas com o objetivo de
compreender e reconstituir a história do desenvolvimento da humanidade, e
particularmente, da própria civilização europeia.
Neste início (segunda metade do século XIX), a Antropologia desenvolve, assim,
sua primeira grande matriz teórica, conhecida como Evolucionismo, tendo seus principais
representantes na Inglaterra (Spencer, E. Taylor, James Frazer, Henry Maine) e Estados
Unidos (Henry Morgan). Se por um lado esta teoria representou uma tentativa de
superação do racismo (todas as pessoas são iguais), por outro lado, permanece a tendência
etnocêntrica (as culturas é que são diferentes, sendo algumas mais evoluídas que outras).
Um dos primeiros antropólogos, Spencer (1820-1903), alguns anos antes de
Charles Darwin (1809-1882), já defendia a ideia de que a cultura evolui. Certamente que
após a publicação da obra A Origens das Espécies (DARWIN, 1859), a teoria evolucionista da
biologia exerce enorme influência em todas as ciências naturais e também sociais, como a
Antropologia.
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=charles+darwin+a+origem+das+especies
EaD•UFMS 21As Origens da Antropologia
No campo da Antropologia, a corrente do evolucionismo, através dos autores já citados, desenvolve a noção do evolucionismo unilinear, ou seja, todas as culturas evoluem seguindo a mesma trajetória, do simples ao mais complexo, a partir basicamente de alguns elementos chave, como por exemplo, a tecnologia, a religião e a organização social e política. A análise das sociedades e culturas a partir destes critérios daria como resultados a classificação de sociedades selvagens, bárbaras e as civilizadas.
As sociedades mais distantes, exóticas e menos conhecidas (os grupos tribais do continente Africano, os povos indígenas da América do Sul, Austrália e Oceania, principalmente) eram as classificadas como sendo as selvagens. Não é difícil de constatar que as sociedades civilizadas eram as européias, onde se originou esta teoria.
Contemporâneo a esta corrente, surge uma pequena variação teórica, mais conhecida como Difusionismo, que sem romper com o evolucionismo, critica a concepção de que todas as culturas evoluem de forma linear, e defendem a ideia de que cada cultura faz seu próprio processo de evolução, através do intercâmbio e empréstimos culturais. Na difusão e trocas culturais, algumas culturas acumulam conhecimentos e dão saltos no processo de evolução.
Como afirmado acima, esta primeira corrente da Antropologia significou, à época, um grande avanço teórico, no entanto, a partir do início do século XX, logo vieram as críticas e oposições. A primeira delas, a tendência etnocêntrica e preconceituosa como foram tratadas as sociedades ditas primitivas (não seriam mais selvagens, e sim os primevos, nossas origens no passado remoto). A segunda crítica diz respeito à forma de pesquisar destes primeiros autores, também chamados antropólogos de gabinete. Ainda que um ou outro tenha ido rapidamente a campo, a tendência, neste período, era a separação entre aqueles que entravam em contato com as sociedades distantes (viajantes, administradores, missionários, dentre outros) e os eruditos que formulavam suas teorias a partir de seus escritórios na Europa e Estados Unidos. Prática que sofrerá grande mudança a partir do século XX, como se segue.
EaD•UFMS22 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=charles+darwin+a+origem+das+espe
cies
2.1 OS PAIS DA ANTROPOLOGIA MODERNA
No entanto, essa visão sobre as sociedades humanas (de evolução) sofrerá mudanças radicais com o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa de dois expoentes na formulação de um método de pesquisa Franz Boas, de origem alemã radicado nos EUA e Bronislaw Malinowski, polonês e radicado na Inglaterra. Este método de pesquisa é até hoje considerado parte integrante e fundamental do trabalho do antropólogo e jamais abandonado: o trabalho de campo.
Foi necessário o início do séc. XX para que a Antropologia conseguisse elaborar suas ferramentas de investigação das sociedades humanas através do trabalho de campo. Constituindo-se assim uma abordagem epistemológica própria para a investigação antropológica, que, com o tempo, abandona a perspectiva de haver um espaço geográfico ideal para os estudos antropológicos ou mesmo uma cultura ou história particular que seja própria para a sua investigação.
Neste sentido, já nos anos trinta do século XX, a Antropologia chega à grande crise quanto ao seu objeto de pesquisa – inicialmente os nativos das regiões distantes e sem contato com a chamada sociedade ocidental. Rapidamente os antropólogos se dão conta de que este tipo de personagem estava “fadado à desaparição”. O próprio Malinowski, na primeira frase que abre a introdução da sua principal obra (Argonautas do Pacífico Ocidental – 1922) fala de forma pessimista que no momento em que a Antropologia define e aperfeiçoa seus métodos de pesquisa, o objeto (os nativos) está com os dias contados. Esta crise faz a Antropologia repensar seu objeto enquanto ciência e chega à conclusão de que aquilo que define a
ESPECIALIZAÇÃO: CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS 14
2º MÓDULO ANTROPOLOGIA INDÍGENA
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=charles+darwin+a+origem+das+especies
2.1. Os pais da Antropologia moderna
No entanto, essa visão sobre as sociedades humanas (de evolução) sofrerá
mudanças radicais com o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa de dois expoentes na
formulação de um método de pesquisa Franz Boas, de origem alemã radicado nos EUA e
Bronislaw Malinowski, polonês e radicado na Inglaterra. Este método de pesquisa é até
hoje considerado parte integrante e fundamental do trabalho do antropólogo e jamais
abandonado: o trabalho de campo.
Foi necessário o início do séc. XX para que a Antropologia conseguisse elaborar
suas ferramentas de investigação das sociedades humanas através do trabalho de campo.
Constituindo-se assim uma abordagem epistemológica própria para a investigação
antropológica, que, com o tempo, abandona a perspectiva de haver um espaço geográfico
ideal para os estudos antropológicos ou mesmo uma cultura ou história particular que seja
própria para a sua investigação.
Neste sentido, já nos anos trinta do século XX, a Antropologia chega à grande
crise quanto ao seu objeto de pesquisa – inicialmente os nativos das regiões distantes e sem
contato com a chamada sociedade ocidental. Rapidamente os antropólogos se dão conta de
que este tipo de personagem estava “fadado à desaparição”. O próprio Malinowski, na
primeira frase que abre a introdução da sua principal obra (Argonautas do Pacífico
Ocidental – 1922) fala de forma pessimista que no momento em que a Antropologia define
e aperfeiçoa seus métodos de pesquisa, o objeto (os nativos) está com os dias contados.
Esta crise faz a Antropologia repensar seu objeto enquanto ciência e chega à conclusão de
que aquilo que define a Antropologia como ciência não é o que ela pesquisa, mas o como
pesquisa (metodologia).
EaD•UFMS 23As Origens da Antropologia
Antropologia como ciência não é o que ela pesquisa, mas o como pesquisa (metodologia).
Portanto, a Antropologia passa a ser, na realidade, um exercício de pesquisa que pressupõe um certo olhar (relativizado) e uma certa postura e enfoques que consistem no: estudo dos seres humanos em qualquer sociedade (inclusive na do próprio pesquisador), em todos os lugares do planeta, em todos as suas formas de organização e em qualquer época.
No entanto, o intuito deste texto é demonstrar a grande importância e contribuição dos estudos sobre as sociedades ditas “primitivas”, para a compreensão atual das sociedades indígenas contemporâneas. Lembrando que nos dias atuais a ideia de primitivo não faz mais sentido, hoje utilizamos para definir esses outros grupos (não ocidentais, ou não advindos da tradição eurocêntrica) como povos tradicionais (com conhecimentos fundados em uma tradição de pensamento própria), sociedades indígenas, povos ameríndios, etc.
Com estes dois grandes pesquisadores, surge, no início do século XX, a prática da etnografia, ou seja, a produção de trabalhos científicos que têm por finalidade registrar, descrever e formular analise compreensivas sobre alguma sociedade ou grupo. Isso só foi possível quando percebeu-se que o pesquisador deve ele mesmo efetuar no campo a sua própria pesquisa, tornando assim o trabalho de observação direta como parte integrante da pesquisa antropológica.
Durante o primeiro terço do século XX ocorre uma revolução considerável da disciplina. Nesse período é estabelecido o fim da repartição das tarefas (como era costume no período evolucionista), habitualmente divididas entre o observador (administrador, missionário, viajante) que cumpria um papel considerado de subalternidade, de apenas prover informações e o do pesquisador que permanecia na metrópole desempenhando a “nobre” função de receber as informações para analisar, interpretar e produzir teorias.
O pesquisador compreende, nesse novo momento, que ele deve deixar o gabinete de trabalho na universidade para ir compartilhar com aqueles que não mais devem ser interpretados como simples informantes, e sim como mestres que abrirão as portas de sua cultura, que ensinarão todas as coisas sobre as suas próprias vidas. Desse modo, o pesquisador deixa a sua posição de autoridade incontestável que advinha das torres da universidade e se coloca na posição de um aprendiz, junto ao povo ao qual quer estudar. Inicialmente essa busca de aprendizado por parte do pesquisador tinha como finalidade não apenas viver entre o grupo pesquisado, mas viver como eles, pensar e falar como eles chegando até mesmo
EaD•UFMS24 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
ao extremo, como bem tentou Malinowski, de pretender sentir as próprias emoções do grupo dentro de si.
Esta perspectiva, baseada no trabalho de campo, orientou a abordagem metodológica da nova geração de etnólogos (não-evolucionistas) que, desde os primeiros anos do século XX, realizou estadias (viagens) prolongadas entre as populações do mundo inteiro.
• Franz Boas – 1886 a 1910 – Canadá/EUA e Esquimós/INUIT no Alaska;
• Radcliffe-Brown – 1906 e 1908 – Ilhas Andaman;• Seligman – 1909 e 1910 – Sudão;• Malinowski – 1915-16 e 1917-18 – arquipélago Melanésio;• Rivers – 1901 – povo Toda na Índia;• Evans-Pritchard – 1926 Azande – 1930 Nuer.
É inegável a grande contribuição que todos esses pesquisadores na elaboração da etnografia e da etnologia contemporânea, no entanto deteremos nossa atenção para dois entre eles, considerados como os mais importantes: Franz Boas, nascido na Alemanha e migrado para os Estados Unidos onde desenvolveu sua carreira como antropólogo pioneiro no país; Bronislaw Malinowski, polonês naturalizado inglês e responsável por grande parte das mudanças metodológicas da Antropologia moderna.
2.2. ETNOGRAFIA: PERSPECTIVAS DO TRAbALHO DE CAMPO - bOAS E MALINOwSkI
a) Franz BoasFranz Boas (1858 – 1942) realizou uma verdadeira guinada
epistemológica da prática antropológica. Realizou pesquisas pioneiras a partir dos últimos anos do século XIX entre os Esquimós e os Kwakiutl no Canadá e os Chinook de Colúmbia Britânica, Boas pode ser considerado como um “homem de campo” e suas análises podem ser pensada na perspectiva da microssociologia. No trabalho de campo, tudo deve ser anotado minuciosamente, os materiais das casas, as notas e a melodia tocadas pelos nativos, tudo em seu mais profundo detalhe.
Antes de sua atuação, dificilmente, as sociedades eram consideradas em si e para si mesmas, elas sempre eram pensadas como parte de uma grande história do desenvolvimento da cultura humana, e com Boas elas passam a ser consideradas com o estatuto de totalidades autônomas. Desse modo, foi a partir da sua atuação (com diversos colaboradores) que foi formulada a crítica mais
EaD•UFMS 25As Origens da Antropologia
elaborada e radical das noções de origem e de reconstituição de estágios evolutivos. O principal argumento que fundou essa crítica é a de que um costume só tem significação se relacionado ao contexto particular em que foi produzido, assim, não podendo ser julgado e, menos ainda, comparado com outro costume ou através de valores culturais externos aos da cultura estudada.
Este argumento é importante para todos e todas, em especial para quem está no contexto da educação: significa que por mais exótico que possa parecer determinado costume ou prática cultural que tenhamos tido notícia (p.ex. o costume de comer carne de cachorro em alguns países asiáticos, ou não comer carne de vaca em algumas regiões da Índia, ou comer insetos grelhados em restaurantes cinco estrelas da Europa na atualidade), sempre terá um significado para aquele povo/sociedade que o pratica. Este princípio nos ajuda a relativizar e evitar preconceitos etnocêntricos.
Outro ponto interessante do caminho apontado por Franz Boas durante sua vida é a de que não existem objetos mais ou menos nobres para a ciência. Durante o trabalho de campo, o pesquisador deve dar atenção a tudo, em especial a maneira pela qual as sociedades tradicionais interpretam e classificam as suas atividades mentais e sociais. Boas anuncia assim a constituição do que hoje é conhecida na Antropologia de “etnociências”, ou seja, a importância da valorização dos conhecimentos acumulados sobre o mundo pelos povos tradicionais.
Neste ponto podemos comentar, novamente, sobre os povos tradicionais, ou as sociedades indígenas e seus saberes tradicionais. Muito daquilo que temos hoje em termos de medicina/remédios, é a partir de princípios ativos de plantas medicinais, utilizadas secularmente pelos povos indígenas e, na atualidade, industrializados pelos laboratórios internacionais. Isso sem falar no conhecimento tradicional acerca do meio ambiente, da agricultura, entre outros.
Entretanto, apesar de toda sua importância para a Antropologia, Franz Boas acabou não ficando muito conhecido para além da academia, sobretudo por dois motivos principais:
• Produziu apenas livros e comunicações, nunca escreveu nenhum livro ou obra completa;
• Nunca sistematizou uma verdadeira teoria, pois para Boas a ideia de sistema fechado parecia bastante complicada, principalmente pela aversão à generalização apressada, podendo esta tornar-se mais distante do espírito científico.
Para finalizarmos o percurso sobre as contribuições de Boas para a Antropologia e para os povos pesquisados por esta disciplina,
EaD•UFMS26 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
devemos considerar que para além do pioneirismo de Franz Boas – sendo um dos primeiros etnógrafos no Ocidente – sua importância foi muito grande para a conservação de patrimônio recolhido, já que atuou como curador do Museu de Nova Iorque e também por ser um dos precursores do relativismo cultural ao afirmar que cada ser humano vê o mundo pela perspectiva da sua própria cultura. Como professor foi o responsável pela formação da primeira geração de antropólogos americanos, sendo imortalizado como o maior mestre da Antropologia americana na primeira metade do século XX.
b) B. MalinowskiMalinowski (1884 – 1942) incontestavelmente dominou a cena
da Antropologia na primeira metade do século XX. Após publicar a sua primeira e mais importante obra em 1922, Argonautas do Pacífico Ocidental, imortalizou-se na história da disciplina pela grande inovação que propõe ao método de desenvolvimento da pesquisa e a perspectiva de análise do antropólogo.
Está entre as primeiras levas de pesquisadores a realizar pesquisa de campo com populações humanas, radicalizando essa noção com a busca de maior rompimento possível de contatos com o mundo europeu (sociedade Ocidental) durante o trabalho de campo.
Malinowski pensava a pesquisa antropológica como um trabalho em profundidade, com um único povo, sem correlações ou analogias com outros povos. Para Malinowski seria possível a partir de um único costume e da sua significação para o grupo, compreender o conjunto de uma sociedade. Uma sociedade deve ser considerada enquanto totalidade e estudada no momento mesmo onde a observamos, ou seja, a partir de uma perspectiva diacrônica (os elementos da história do grupo não são relevantes).
Assim como Boas, Malinowski também rompe por completo com a ideia da existência de uma história conjectural que busca a reconstrução especulativa de estágios de evolução em uma única escala de desenvolvimento para todas as sociedades humanas. Refuta também as ideias, em voga no momento de sua atuação, que pensavam as sociedades humanas através do Difusionismo cultural ou da geografia especulativa, que partia da perspectiva da existência de centros de difusão da cultura, difundidas, apenas e simplesmente, por empréstimos.
Desse modo a partir de Malinowski a Antropologia passa a ser uma ciência da alteridade que se dedica ao estudo das lógicas particulares de cada cultura, abandonando o empreendimento de reconstruir as origens da civilização humana (Teoria Evolucionista). Em Os Argonautas do Pacífico Ocidental é possível apreender a imensa diferença cultural dos Trobriandeses para os outros povos do
EaD•UFMS 27As Origens da Antropologia
mundo, no entanto é possível também perceber que seus costumes e tradições têm significado e coerência quando são pensados a partir das práticas do grupo.
A teoria desenvolvida por Malinowski para pensar a coerência interna do grupo que estudou ficou conhecida como funcionalista. A partir de empréstimos de modelos das ciências da natureza, o indivíduo é pensado como dotado de um certo número de necessidades, sendo a cultura a encarregada em satisfazer essas necessidades. Portanto, a cada nova necessidade que surge, é função da cultura se encarregar da resolução através da criação de instituições (educativas, jurídicas, políticas, econômicas, religiosas, etc.), desse modo fornecendo respostas que são organizadas coletivamente que surgem como soluções originais para atender essas necessidades.
As Ilhas Trobriand – Pacífico Sul
Outra característica do pensamento de Malinowski é a sua preocupação no estudo da cultura através da articulação do social, do psicológico e do biológico. No método funcionalista o social e o biológico apresentam uma estreita relação, pois a sociedade é vista como um organismo em funcionamento. Em relação ao psicológico deve ser dada atenção aos comportamentos dos indivíduos, seus sonhos e desejos são essenciais para a compreensão do funcionamento da cultura.
No entanto, a rigidez com que o funcionalismo elaborado por Malinowski se pauta demonstra problemas, pois dessa maneira as sociedades tradicionais são apresentadas como estáveis e sem conflitos, visando sempre um equilíbrio natural através das instituições que seriam capazes de satisfazer às necessidades humanas. Como bem sabemos a transformação e o dissenso é teor comum a todos os grupos humanos. Essa visão otimista da cultura como totalidade integrada é bastante naturalista, postulando o acabamento e a polidez das sociedades humanas. Assim, o
ESPECIALIZAÇÃO: CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS 19
2º MÓDULO ANTROPOLOGIA INDÍGENA
Assim como Boas, Malinowski também rompe por completo com a ideia da
existência de uma história conjectural que busca a reconstrução especulativa de estágios de
evolução em uma única escala de desenvolvimento para todas as sociedades humanas.
Refuta também as ideias, em voga no momento de sua atuação, que pensavam as
sociedades humanas através do Difusionismo cultural ou da geografia especulativa, que
partia da perspectiva da existência de centros de difusão da cultura, difundidas, apenas e
simplesmente, por empréstimos.
Desse modo a partir de Malinowski a Antropologia passa a ser uma ciência da
alteridade que se dedica ao estudo das lógicas particulares de cada cultura, abandonando o
empreendimento de reconstruir as origens da civilização humana (Teoria Evolucionista).
Em Os Argonautas do Pacífico Ocidental é possível apreender a imensa diferença cultural dos
Trobriandeses para os outros povos do mundo, no entanto é possível também perceber
que seus costumes e tradições têm significado e coerência quando são pensados a partir das
práticas do grupo.
A teoria desenvolvida por Malinowski para pensar a coerência interna do grupo
que estudou ficou conhecida como funcionalista. A partir de empréstimos de modelos das
ciências da natureza, o indivíduo é pensado como dotado de um certo número de
necessidades, sendo a cultura a encarregada em satisfazer essas necessidades. Portanto, a
cada nova necessidade que surge, é função da cultura se encarregar da resolução através da
criação de instituições (educativas, jurídicas, políticas, econômicas, religiosas, etc.), desse
modo fornecendo respostas que
são organizadas coletivamente que
surgem como soluções originais
para atender essas necessidades.
Outra característica do
pensamento de Malinowski é a sua
preocupação no estudo da cultura
através da articulação do social, do
psicológico e do biológico. No
método funcionalista o social e o
biológico apresentam uma estreita
relação, pois a sociedade é vista
como um organismo em funcionamento. Em relação ao psicológico deve ser dada atenção
As Ilhas Trobriand – Pacífico Sul
EaD•UFMS28 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
método funcionalista recebe posteriormente uma série de críticas principalmente por seu caráter a-histórico que não compreendia a sociedade estudada em um contexto mais amplo de relações e de contatos que extrapolam a cultura em si.
Finalizamos as apreciações sobre a importância desse método observando o papel fundamental de Malinowski no desenvolvimento da técnica do trabalho de campo através da observação participante, ou seja, do estudo intensivo e presencial de uma sociedade que nos é estranha. Desse modo, com essa nova perspectiva nos foi ensinado a olhar, onde o nativo deixa de “servir” apenas como um informante e passa a colaborar efetivamente para a construção das análises e do entendimento sobre a sociedade e a cultura que nos propomos a estudar. Deixamos, então, de observar o social de forma simplesmente exótica ou como “o outro” distante do qual devemos ver apenas com o intuito de elaborar descrições moralizantes.
2.3. ESTRUTURALISMO E A ANTROPOLOGIA INTERPRETATIVA
Lévi-Strauss (1908-2009), antropólogo francês é considerado fundador da Antropologia Estruturalista. Nos anos de 1930 esteve no Brasil como professor na recém fundada USP. Aproveitava o período de férias para fazer pesquisa de campo, na região do então sul de Mato Grosso, com os Kadiwéu e depois no atual Mato Grosso, com o povo Bororo e Nambiquara. Sua primeira grande obra foi o livro “Tristes Trópicos”, no qual descreve justamente, anos depois, esta experiência de trabalho de campo no Brasil.
Defendeu sua tese de doutorado em 1948 com o livro “Estruturas Elementares do parentesco”, uma alusão a Émile Durkheim de quem se diz ser “um discípulo inconstante”.
Lévi-Strauss recebeu influências teóricas de Freud, Karl Marx, Escola Francesa (Durkheim e Marcel Mauss) e, sobretudo da linguística estrutural de Ferdinand de Saussre. Teoricamente, o estruturalismo concebe a cultura como sistema simbólico ou como uma configuração de sistemas simbólicos. A passagem da ordem vivida (estrutura social como realidade empírica) para a ordem concebida (estrutura social como modelo abstrato) se faz pela investigação dos modelos inconscientes. Modelo é uma formulação analógica, uma aproximação.
A noção de estrutura, segundo Lévi-Strauss, não se relaciona com a realidade empírica, mas, sim, com modelos construídos de acordo com esta realidade. O objetivo é explicar a racionalidade básica subjacente ao mundo da experiência, ao mundo dos fenômenos.
EaD•UFMS 29As Origens da Antropologia
Por sua vez, o conceito de cultura como linguagem, em sentido amplo, é a base do estruturalismo antropológico. A abordagem estruturalista focaliza os códigos culturais, os princípios conceituais, os sistemas simbólicos; procura entender as regras. Quer buscar nos processos mentais a fonte de seus códigos, a lógica da mente humana. Em outras palavras, o estruturalismo pretende explicar como a mente opera, ou seja, o modo como a mente trabalha. Isso só é possível a partir da análise dos sistemas por ela criados: de parentesco, alimentar, pintura corporal, entre outros.
Críticas ao estruturalismo:Não é possível ter acesso à estrutura inconsciente da cultura;Caráter sincrônico das análises, não valorizando a história;Perigosa proximidade com a tecnocracia (simulação do real).
O Interpretativismo, ou Antropologia Hermenêutica tem como seu expoente o antropólogo Clifford Geertz (1926-2006), americano e que realizou pesquisas de campo na Ilha de Bali, e especialmente no Marrocos. É contemporâneo de Lévi-Strauss e sua teoria tem pontos de conexão e de críticas ao francês.
Enquanto o Estruturalismo prioriza as formas elementares, a estrutura inconsciente subjacente às regras, às instituições e aos costumes, e em sua teoria, Geertz prioriza o simbólico, o significado, o sentido que as ações humanas transmitem.
Podemos dizer que a concepção interpretativista de cultura se aproxima da fenomenologia das relações sociais, da sociologia compreensiva de Weber e da hermenêutica de Paul Ricoeur.
O interpretativismo antropológico aborda a “cultura como sistema ordenado de significados e símbolos nos termos dos quais os indivíduos definem seu mundo, expressam seus sentimentos e fazem seus julgamentos (GEERTZ, 1978).
Geertz desenvolveu um importante conceito de cultura, coerente com sua teoria, o qual aparece em sua obra mais conhecida “A interpretação das culturas” (1973):
Conceito semiótico de cultura:Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal
amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1978).
EaD•UFMS30 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Para Geertz, o criador do interpretativismo antropológico, a cultura expressa um sistema simbólico. O estudo da cultura é ler, traduzir e interpretar os processos culturais. O objeto da análise cultural é a lógica informa da vida comum, pois é aí que os elementos simbólicos se articulam às formas culturais. Os símbolos expressam concepções sociais, públicas de uma coletividade, englobando noções, idéias e sintetizando atitudes, valores, crenças.
Geertz distingue o social e o cultural ao conceber a cultura como tecido do significado “em cujos termos os seres humanos interpretam sua experiência e orientam sua ação”. A cultura abordada como texto se define como comunicação simbólica. Compreender uma cultura requer a interpretação de seus símbolos.
Cada sociedade particular se movimenta dentro de um campo semântico, que vai sendo apreendido pelos membros da sociedade, um a um, no processo de aquisição da cultura. A cultura, pela mediação do simbólico, permite a comunicação humana. Criada pelo ser humano, a cultura segue criando-os generativamente.
Críticas ao Interpretativismo:Não faz a discussão dos critérios para o julgamento das interpretações, nem especifica com clareza e precisão os procedimentos hermenêuticos de desvendamento das metáforas e dos símbolos dos textos culturais.A visão de cultura de GEERTZ seria idealista, e nela, parte do mundo desaparece, pois reduz a cultura ao sujeito conhecedor.
ANTROPOLOGIA NO bRASIL E OS POVOS INDÍGENAS4
CAPÍTULO III
4
A Antropologia no Brasil, desde suas origens manteve uma forte relação com os povos indígenas, desde o período em que chamamos de pré-antropologia, ou dos cronistas, quando o centro dos relatos era exatamente acerca destes povos ameríndios. Podemos afirmar que apenas nas últimas décadas a Antropologia Indígena deixou de ser hegemônica no Brasil, diversificando-se, na atualidade em várias áreas temáticas.
Outra importante característica da Antropologia no Brasil e que a distingue de tantas outras é seu caráter de engajamento a favor dos povos com os quais está em contato nos estudos e pesquisas, neste caso, especialmente os povos indígenas. Em outras palavras, alguns afirmam ser uma Antropologia engajada.
Dessa forma, no item abaixo faremos rápido percurso por esta breve história da Antropologia no Brasil, sés principais períodos e expoentes, a partir do referencial dos povos indígenas.
3.1 PRé ANTROPOLOGIA OU PERÍODO DOS CRONISTAS
Trata-se das atividades registradas desde os primeiros contatos dos europeus com as populações ameríndias. Foram autores que deixaram relatos em que registram suas experiências com a população de determinados locais ou regiões do Brasil e suas observações a respeito dela. A conhecida carta de Pero Vaz de Caminha teria sido a primeira dessas “crônicas”.
Em seus escritos, os cronistas nos deixaram registros de observações diretas, espontâneas, ainda não controladas, pois não tinham a intenção de se fazer ciência. Florestan Fernandes (1949) demonstra como é rica a informação que os cronistas nos deixaram. Thekla Hartmann (1975) escreveu a respeito dos desenhos feitos por cronistas ou por desenhistas, em que representam indivíduos ou cenas indígenas; p.ex. Hércules Florence.
4 Este item tem por base o texto: A Antropologia no Brasil: um roteiro. Júlio C. Melatti. 1983.
EaD•UFMS36 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Nesse período, a partir da chegada da Família Real (1808) aumenta o número de cronistas, certamente devido à abertura dos portos e a vinda de muitas expedições científicas, sobretudo de europeus para pesquisar o Brasil.
3.2 A ANTROPOLOGIA ENTRE OS SéCULOS XIX E XX
No final do século XIX intensificam-se as expedições científicas ao Brasil, com destaque para os Alemães e Franceses, para quem esta ciência ainda hoje chama-se etnologia.
Etnologia (ou Antropologia)Parte da Antropologia Cultural ou social que abrange os estudos em que o pesquisador entra em contato direto, face-a-face, com os membros da sociedade ou segmento social estudado, constratando-a com a Arqueologia, que abarca as pesquisas apoiadas em vestígios deixados por sociedades desaparecidas ou por períodos passados de sociedades que continuam a existir.
Mas das características deste período é o fato de não existir a formação acadêmica de etnólogo no Brasil, pois a Antropologia era um ramo novo das ciências humanas, mesmo na Europa. Tanto os brasileiros como os estrangeiros desse período nem sempre eram puramente etnólogos, mas sim antropólogos gerais, lidando indistintamente com problemas etnológicos, arqueológicos, lingüísticos ou de Antropologia Física. Ainda mais, quase todos eram oriundos de outras áreas do conhecimento: biologia, exatas, medicina, psicanálise, dentre outras.
Ainda no final do século XIX, devido à orientação teórica da época, vários autores vivem um conflito entre a simpatia que devotavam às minorias que estudavam e a situação de inferioridade em que as colocavam. Antônio Gonçalves Dias, famoso poeta indianista, participou da “Comissão das Borboletas” (1859) como etnógrafo. José Vieira Couto de Magalhães – presidente das províncias de Goiás e de Mato Grosso defende a idéia de assimilar os índios, aprendendo-lhes a língua para se poder ensinar-lhes o português, de modo a evitar seu extermínio futuro. Visconde de Taunay na região Centro-Oeste.
Um dos precursores dos etnólogos brasileiros foi Câmara Cascudo, famoso folclorista e Silvio Romero. Euclides da Cunha descreve os sertanejos de Canudos (Os Sertões), e o médico
EaD•UFMS 37Antropologia no brasil e os Povos Indígenas
Raimundo Nina Rodrigues é um dos iniciadores dos estudos sobre o negro no Brasil. Neste período de transição, iniciam seus trabalhos dois autores que teriam grande influência nos meios intelectuais brasileiros: Roquete Pinto e Oliveira Viana.
O que mais é marcante, no entanto, na transição do século XIX para o século XX, para a Antropologia no Brasil, é a predominância Alemã na Etnologia Indígena; Nesse primeiro período, os etnólogos estrangeiros que procuravam o Brasil eram principalmente alemães e estavam mais voltados para as culturas indígenas. Havia os que organizaram grandes expedições de pesquisa (O mais famoso deles foi Karl von den Steinen, que fez sua primeira expedição ao Brasil em 1884 descobrindo os grupos indígenas do atual Parque Nacional do Xingu). Com formação evolucionista, Steinen procurava desvendar no estudo dos xinguanos a origem de uma série de técnicas e costumes dos povos indígenas do Brasil Central.
Evolucionismo: Aplicação da teoria geral da evolução ao fenômeno cultural. “Os fenômenos culturais são sistematicamente organizados sofrendo mudanças, uma forma ou estágio sucedendo o outro”. Principais representantes: Spencer (1820-1903), Tylor (1832-1917), Frazer (1854-1941), Morgan (1818-1881).
Difusionismo: Corrente da antropologia que procurava explicar o desenvolvimento cultural através do processo de difusão de elementos culturais de uma cultura para outra, enfatizando a relativa raridade de novas invenções e a importância dos constantes empréstimos culturais na história da humanidade. (Franz Boas e L. Kroeber).
Nas décadas de 1920 e 1930, as pesquisas mudam pouco a pouco o foco teórico: as preocupações evolucionistas e difusionistas vão sendo abandonadas aos poucos, para darem vez a outras atrizes teóricas. Talvez o mais notável pesquisador das sociedades indígenas, neste período, tenha sido Curt Nimuendajú. Além de suas obras mais extensas sobre o povo Guarani (de quem recebeu o nome), os Xerente, os Canela, os Apinayé e os Tukúna, ele deixou inúmeros trabalhos menores sobre língua, mitologia, história, de diversos grupos indígenas, e ainda um mapa etno-histórico dos índios do Brasil acompanhado de uma enorme bibliografia.
Nesse período ainda pode ser incluído o valioso trabalho etnográfico dos missionários salesianos, que teve início com Antonio Colbacchini e depois César Albiseti e Ângelo Venturelli
EaD•UFMS38 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
junto ao povo Bororo, com destaque para a Enciclopédia Bororo, em vários volumes, caracterizando uma das maiores etnografias da América do Sul. O trabalho desses salesianos tem alguns pontos em comum com o de Nimuendajú: descrição cuidadosa; atenção para a organização social. Destaca-se, também, entre eles, a ausência de orientação teórica definida, embora o evitar os antigos esquemas evolucionistas e difusionistas já constitua uma orientação. Mas, diferem em outros aspectos: Nimuendajú estudou vários grupos indígenas, enquanto os salesianos se concentraram no estudo dos Bororo.
3.3 A ANTROPOLOGIA NO bRASIL DOS ANOS TRINTA AOS SESSENTA
A década de 1930 é significativa para o Brasil em relação às ciências humanas, particularmente quanto à Antropologia e os estudos das culturas do povo brasileiro. Surgem novos elementos no cenário político e cultural do país, como a criação em 1934 da primeira Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Brasil (USP) e a Escola de Sociologia e Política, com a contratação de vários mestres estrangeiros (Roger Bastide, Claude Lévi-Strauss, Herbert Baldus, Donald Pierson, etc.).
Após publicar seu clássico, Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire, ex-aluno de Franz Boas, vem para o Rio de Janeiro, e assume em 1935 a cátedra, como primeiro professor, de Antropologia Social e Cultural. É nessa época que os primeiros estudantes brasileiros, interessados em Ciências Sociais, fazem seus cursos de pós-graduação. Podemos dizer que é deste momento as principais tentativas de Interpretações Gerais do Brasil, sendo a mais famosa obra de interpretação do Brasil, sem dúvida, a de Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala; Sobrados & Mocambos). Outro texto importante é o livro de Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil).
Influenciados pela Antropologia norte americana de Boas, nos anos de 1930 têm início os estudos de mudança social, mudança cultural ou aculturação, termos usados segundo as preferências de cada autor e não exatamente intercambiáveis. Herbert Baldus talvez tenha sido o primeiro a tratar dos estudos de contato interétnico, e que iriam gerar mais tarde os estudos de etnicidade.
Aculturação: Estudo das mudanças culturais com ênfase na adaptação entre culturas, prevalecendo a cultura dominante.
EaD•UFMS 39Antropologia no brasil e os Povos Indígenas
Esta influência do conceito de aculturação persiste até os anos 1950, quando alguns pesquisadores brasileiros, como Eduardo Galvão, Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira começam a repensar a orientação que vinha sendo tomada nos estudos de aculturação, sem, porém, abandonar o uso desse termo.
A matriz teórica predominante neste período é a do Funcionalismo no Estudo das Culturas e Sociedades Indígenas. Dentre os trabalhos desse período destacam-se os de Florestan Fernandes sobre “A Organização Social dos Tupinambá”. Darcy Ribeiro indica explicitamente sua reflexão como uma abordagem funcionalista. Apesar da hegemonia da abordagem funcionalista neste período, demorou-se a se estabelecer nas pesquisas com povos indígenas do Brasil o longo e intensivo trabalho de campo proposto pela tradição clássica da disciplina. Vários pesquisadores (Baldus, Galvão, Egon Schaden) preferem viagens curtas.
Funcionalismo:Predomina no Brasil a partir da década de 1930. Ao estudar a cultura, a preocupação não era mais com as origens ou história, mas com a lógica do sistema focalizado, ou seja, a visão sincrônica (um momento dado – fotografia) e a visão sistêmica, que é a relação da sociedade com um organismo, um todo organizado. Qualquer traço cultural tem funções específicas e mantém relações com cada um dos outros aspectos da cultura para a manutenção do seu modo de vida total.Representantes: B. Malinowski (1884-1942), Radcliffe-Brown (1881-1955).
3.4 A ANTROPOLOGIA CONTEMPORâNEA NO bRASIL
Nos anos de 1960, a Antropologia começa a passar, no Brasil, sob vários aspectos, por significativas modificações. Iniciam-se vários cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação, com professores de renome (Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira, etc.), os quais formaram vários dos antropólogos brasileiros atuais. As orientações teóricas se modificam. Os estudos de contato interétnico, antes voltados para as modificações culturais, atentam agora mais para o conflito entre interesses, regras e valores das sociedades em confronto. Preocupações de caráter estruturalista e etnocientífico substituem as interpretações funcionalistas.
EaD•UFMS40 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Estruturalismo: Desenvolveu-se paralelamente ao funcionalismo e teve seu apogeu nas décadas de 40 e 50. Tem pontos em comum com o “funcionalismo”: visão sincrônica da cultura; visão sistêmica e globalizante do fenômeno cultural; adoção do termo estrutura; influências da escola francesa. Claude Lévi-Strauss (1908-2009) é considerado o mentor da teoria estruturalista. Sua preocupação básica consiste em estabelecer fatos que sejam verdadeiros a respeito da “mente humana”.
É neste período que entra em cena Roberto Cardoso de Oliveira, talvez o maior antropólogo brasileiro. Quando ainda jovem, recém formado, funcionário do SPI (Serviço d Proteção ao Índio), faz seu primeiro trabalho de campo entre o povo Terena de Mato Grosso do Sul,em meados dos anos de 1950, fixando-se especialmente em Cachoeirinha. Não contente com as interpretações funcionalistas acerca do contato interétnico, propõe uma nova leitura da realidade, teoria que será conhecida a partir dos anos de 1970, como Fricção Interétnica.
A partir do projeto “Estudo de Áreas de Fricção Interétnica no Brasil”, Roberto Cardoso de Oliveira, inicia uma nova maneira de abordar, no Brasil, as relações entre as sociedades indígenas e os chamados “civilizados”. Esse projeto nasce de um crescente descontentamento com a noção de aculturação, sobretudo por não levar em conta as posições de dominação e de subordinação que tomam os membros das sociedades em contato, nem o conflito entre as técnicas, regras, valores, das mesmas sociedades.
Os estudos de fricção também se voltaram para o exame do conflito de interesses entre determinadas populações indígenas e certas “frentes” não propriamente de caráter econômico, como missões e escolas. Se os estudos de fricção interétnica focalizam, sobretudo os aspectos econômicos, sociais e políticos do contato, a face ideológica do mesmo passou a ser examinada segundo as noções de identidade étnica.
Os anos de 1970 foram marcados pelo esforço, que continua a vigorar, de alguns etnólogos em colaborarem com os povos indígenas pelos quais se interessam academicamente na obtenção de soluções para seus problemas mais urgentes, como demarcação de terras, assistência médica, instrução, administração direta pelos índios de sua produção, etc.
EaD•UFMS 41Antropologia no brasil e os Povos Indígenas
Questões de etnicidade: Os membros de um grupo étnico compartem certas crenças, valores, hábitos, costumes e normas, devido a seu substrato comum. Se definem a si mesmos como diferentes e especiais devido às características culturais. Etnicidade significa identificar-se com, e sentir-se parte de um grupo étnico e exclusão de outros devido a esta filiação. Normalmente os indivíduos costumam ter mais de uma identidade grupal.
Conceito de FRICÇÃO INTERÉTNICA
SILVA, Benedicto. (org.) Dicionário de Ciências Sociais. RJ: FGV, 1986. FRICÇÃO INTERÉTNICA
A. A expressão fricção interétnica indica uma das linhas primordiais de investigação existentes na etnologia brasileira. Os pesquisadores enfatizam a necessidade de se entender os grupos indígenas em sua relação de incorporação à sociedade brasileira. Esta conceituação surge como uma abordagem alternativa aos estudos de aculturação, na tentativa de um modelo analítico mais adequado ao estudo da realidade indígena brasileira.
B. Dois aspectos são enfatizados por Roberto Cardoso de Oliveira como cruciais na definição de fricção interétnica, permitindo contrastar essa análise com a abordagem em termos de aculturação. 1. A própria palavra fricção sugere que as relações entre os grupos étnicos não podem ser pensadas unicamente como uma transmissão consensual de elementos de cultura, mas como um processo primordialmente conflitivo, que envolve muitas vezes interesses e valores contraditórios; 2. Substitui a ênfase excessiva na cultura por uma visão mais sociológica e observa que em sua perspectiva “o fulcro da análise não deve ser o aludido patrimônio cultural, mas relações que tem lugar entre as populações ou sociedades em causa” (Cardoso de Oliveira, 1972).
C. Da noção de fricção interétnica o autor passa à definição do sistema interétnico como formado pelas relações entre “duas populações dialeticamente ´unificadas´através de interesses diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal que pareça” (Cardoso de Oliveira, 1962:84-5).
EaD•UFMS42 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
D. Mais recentemente, Cardoso de Oliveira (1976) procura associar à noção de fricção interétnica uma problemática nova, derivada principalmente de pesquisas atuais sobre o fenômeno de construção das identidades étnicas, como um capítulo do estabelecimento de identidades sociais em geral. Para isso utiliza-se das contribuições de autores como F. BARTH.
E. Surgiram sobre este conceito algumas avaliações críticas, como a de J. Pacheco de Oliveira, que procura explicitar as diferentes posturas teóricas que sustentam as teorias de Darcy Ribeiro e R. Cardoso de Oliveira sobre o contato interétnico, adotando uma posição metodológica processualista, pondo em destaque o conceito de “situação histórica”. Concluindo: mais do que um conjunto de conceitos e teorias, a fricção interétnica e constituiu em uma das linhas fundamentais de pesquisa na etnologia brasileira, aquela que orientou de forma integrada um vasto conjunto de pesquisas sobre grupos tribais brasileiros.
Neste período, contemporâneo às pesquisas de Roberto Cardoso de Oliveira, surge uma tendência nos estudos da Antropologia no Brasil, de buscar a compreensão das Sociedades Indígenas como Totalidades Sócio-Culturais. Neste período ganharam impulso os estudos sobre a estrutura social das sociedades indígenas: Maybury-Lewis (Xavante), Crocker (Bororo), Roberto da Matta (Apinayé), Melatti (Krahó), etc. Os estudos de totalidades sócio-culturais indígenas mostram, neste período, uma tendência a passar do funcionalismo ou do estrutural-funcionalismo para uma abordagem mais estruturalista dando importância às classificações mantidas, conscientemente ou não, pelos próprios índios.
É nesta época, que surgem os primeiros estudos de Antropologia Urbana, ou seja, durante a década de 1960 as pesquisas sobre cidade se concentravam sobre as migrações da área rural para a urbana e sobre diversos problemas referentes às favelas. A partir de então, estes estudos começam a diversificarem-se, passando de um estudo da realidade urbana, para um estudo na realidade urbana.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (3 capítulos)
AGUILERA URQUIZA, A. H. e MUSSI, V. P. L. Introdução conceitual para a educação na diversidade e cidadania. Ed. UFMS: Campo Grande. 2009.
EaD•UFMS 43Antropologia no brasil e os Povos Indígenas
CONVENÇÃO nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais. Genebra, 1989. (Convenção assinada pelo Brasil através do Decreto Legislativo no 143, de 20 de junho de 2002). http://www.institutoamp.com.br/oit169.htm
COSTA, Marisa Vorraber. Currículo e pedagogia em tempo de proliferação da diferença: In Trajetórias e processos de ensinar e aprender: sujeitos, currículos e culturas – XIV ENDIPE; Porto Alegre – RS: Edipucrs, 2008.
GOMES, Nilma Lino. Educação e Diversidade Étnico-cultural. In. MEC. Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília: MEC, 2003.
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. Ed. Brasiliense: SP, 2003.
LARAIA, Roque de B. Cultura, um conceito antropológico. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2008.
LÉVI-STRAUSS, C. A crise moderna da Antropologia. Revista de Antropologia, vol. 10, nº 1 e 2, São Paulo: EDUSP, 1962.
MAGNANI, José G. C. Quando o campo é a cidade: fazendo antropologia na metrópole. In. MAGNANI, José G. C. & TORRES, Lilian de L. (Orgs.). Na Metrópole - Textos de Antropologia Urbana. São Paulo: EDUSP, 1996.
MELATTI, Júlio Cezar. A Antropologia no Brasil – um roteiro. Série Antropologia: Brasília. 1983.
ANTROPOLOGIA E PARENTESCO
CAPÍTULO IV
O território e a organização social kaiowá: inter-relações entre séries sociológicas e séries cosmológicas
Levi Marques Pereira5
Resumo
O artigo aborda a maneira como as categorias de tempo e espaço delineiam os módulos organizacionais que compõem a estrutura social kaiowá. Os dados etnográficos foram levantados durante pesquisas de campo desenvolvidas desde a década de 1980 em diversas comunidades kaiowá de MS. A hipótese básica é que as categorias que compõem a estrutura social apresentam íntima relação de interdependência e complementariedade, sendo ordenadas a partir de dois princípios metafísicos identificados pelos termos ore –fechamento e exclusão, e pavêm –abertura e inclusão. O desafio enfrentado no texto é pensar as categorias kaiowá compondo um conjunto e apreendê-las em sua operacionalidade, o que só pode ser realizado através de uma abordagem sistêmica. Desafio semelhante tem sido enfrentado pela etnografia sul-americana em estudos sobre diversas sociedades, principalmente a partir dos trabalhos pioneiros ligados ao Projeto Harvard Brasil Central. Dessa forma, o presente trabalho, embora restrito aos dados kaiowá tem como inspiração a produção etnográfica recente sobre diversos povos do continente, num esforço de diálogo entre o material kaiowá e as formulações que emergem em estudos realizados em outros contextos etnográficos. Os módulos organizacionais também estão intimamente referidos à formas de territorialização e a produção da cultura material.
Palavras chave: Território kaiowá, organização social kaiowá.
5 Antropólogo - Professor na UFGD.
EaD•UFMS48 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Os KaiowáAs populações conhecidas no Brasil como Kaiowá ocupam,
atualmente, pequenas áreas situadas em uma faixa de terra de cerca de 150 quilômetros de cada lado da região de fronteira do Brasil com o Paraguai, onde são denominados Pãi Tavyterã. Tradicionalmente são agricultores de floresta tropical, praticando a caça como principal fonte de proteína, e a pesca e a coleta como atividades subsidiárias. Segundo Brand (1997, p. 01), a população guarani (Kaiowá e Ñandeva) em MS, “está distribuída em 22 áreas indígenas e é estimada em 25 mil pessoas”. O número de áreas vem se ampliando a partir de tentativas de reocupação de terras tradicionais das quais algumas comunidades foram expulsas em décadas passadas.
Os Kaiowá passaram no último século por visíveis transformações em seu sistema social, como resultado da imposição de novas formas de produção econômica, perda do território, alterações nos padrões demográficos e de residência, ocorrendo também modificações na relação entre os sexos e nos modelos de casamento. Estes problemas resultam da interação necessária e compulsória com a sociedade nacional.
Foge aos objetivos do presente texto discutir a violência do processo de ocupação do território kaiowá pelas frentes agro-pastoris ocorrida nas últimas décadas do século passado. Ademais, este processo é detalhadamente discutido em Brand (1993 e 1997) e em Pereira (2002a e 2002b). Chamo atenção apenas para o fato de que estas transformações impõem a redefinição da própria noção de território. Este fenômeno também foi reconhecido por Meliá que afirma que nas circunstâncias atuais “o território não é mais indígena e são as comunidades indígenas que se encontram ilhadas nesse novo domínio” [t. do a .]( MELIÁ, 1990, p. 5). Brand afirma que “Não são mais os limites naturais a indicar os limites do tekoha6, mas são as outras propriedades” (BRAND, 1993, p.212). A área ocupada por um conjunto de parentelas torna-se uma ilha num mar de fazendas e os Kaiowá mobilizam suas categorias de pensamento para compreender esta situação, que, a despeito da profundidade com que alterou o ambiente físico e social, remonta a apenas poucas décadas.
Os módulos organizacionaisA descrição e análise dos módulos organizacionais ligados às
noções de tempo e espaço social kaiowá tem como objetivo principal demonstrar como os grupos locais de parentesco, aqui denominados
6 Tekoha é a forma como os Guarani denominam o lugar em que vivem segundo seus costumes. Grosseiramente pode se traduzido por aldeia.
EaD•UFMS 49Antropologia e Parentesco
de parentela, se distribuem no espaço e se reproduzem no tempo. Isto permitirá ir delineando os princípios que compõem a estrutura social. Como recurso metodológico, inicio a descrição pelos módulos de menor abrangência, passando para os mais gerais, fazendo a opção por um modelo que poderia ser identificado como concêntrico, onde alguns módulos são englobados por outros de maior amplitude. É a articulação entre estes módulos que se reveste de verdadeira importância explicativa, pois permite apreender a lógica que ordena o sistema a partir de princípios que asseguram sua coerência e funcionalidade.
A diferenciação interna das diversas instâncias da organização social constitui um mecanismo que permite que as pessoas sejam diferentemente dispostas umas em relação às outras, de acordo com graus variados de importância política, cerimonial ou econômica. Estas distinções assumem grande destaque no texto, embora escritores modernos, como Clastres (1979), enfatizem um certo igualitarismo interno aos Guarani, é possível que isto reflita mais a inspiração filosófica do autor que características da morfologia social destes povos. Mauss já notava em Relações Jocosas de Parentesco (1926) que: “mesmo as sociedades supostamente desprovidas do sentimento dos direitos e deveres do indivíduo, lhe dão um lugar bem definido: à direita ou à esquerda na aldeia; primeiro ou segundo nas cerimônias, nas refeições, etc. Isso prova a importância do indivíduo, mas prova também que ele tem importância só porque é um ser socialmente determinado” (MAUSS, 1979, p. 165).
Assim, a descrição dos módulos ligados ao parentesco e outros campos da vida social, não serve apenas para identificar as características de um modelo ideal, lógico ou estrutural. Permite também construir uma compreensão razoável dos mecanismos institucionais através dos quais as pessoas ocupam posições distintas no interior da sociedade.
O fogo doméstico -che ypyky kueraChe ypyky kuera7 é como o Kaiowá se refere ao grupo de parentes
próximos, reunidos em torno de um fogo doméstico, onde são preparadas as refeições consumidas pelos seus integrantes. Numa primeira acepção, ypy significa “proximidade”, “estar ao lado”, ressaltando o fato da convivência íntima e continuada. O termo pode significar ainda “princípio” ou “origem”. Assim, a expressão che ypyky kuera retém os dois sentidos do termo ypy, referindo-se aos meus ascendentes diretos, com os quais compartilho os alimentos, a residência e os afazeres do dia-a-dia; enfim,
7 A língua kaiowá nos obriga a colocar um pronome como che (meu, minha) ou nde (teu, tua) antes da expressão, quando se quer referir ao fogo doméstico.
EaD•UFMS50 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
denota proximidade, intimidade e fraternidade, ponto focal da descendência e da ascendência. É uma instituição próxima daquela descrita pelos antropólogos como família nuclear, mas é necessário que ela seja apreendida dentro do contexto das instituições sociais kaiowá, motivo pelo qual é preferível utilizar o termo na língua guarani ou traduzi-lo como “fogo doméstico”, já que enfoca a comensalidade e a força atrativa do calor do fogo que aquece as pessoas em sua convivência íntima e contínua. O fogo constitui-se como unidade sociológica no interior do grupo familiar extenso ou parentela, composta por vários fogos, interligados por relações de consangüinidade, afinidade ou aliança política. O pertencimento a um fogo é pré-condição para a existência humana na sociedade kaiowá. O fogo prepara os alimentos, protege contra o frio e em torno dele as pessoas se reúnem para tomar mate ao amanhecer e ao anoitecer.
O fogo doméstico reúne idealmente um homem, seus filhos e filhas solteiros e sua esposa. Empiricamente, este modelo complexifica-se através da existência de significativas variações. É comum encontrar parentes consangüíneos do esposo ou da esposa agregados ao fogo, ou ainda guachos (filhos adotivos), que podem ou não ser parentes (consangüíneo ou afim). O guacho8 é sempre um solteiro, órfão ou filho de casais separados. Quando o genro vem residir com o sogro pela aplicação da regra de uxorilocalidade temporária, é comum que a mãe e a filha dividam um único fogo e, nesse caso, o fogo passa a reunir então mais de uma relação de conjugalidade. Acontece também, de casais de velhos cujos filhos estão todos casados, adotarem netos ou sobrinhos como co-residentes: “é para ajudar os velhos”, justificam os Kaiowá. Assim, o fogo doméstico pode reunir pessoas ligadas por três tipos de relações: descendência, aliança, e uma relação de pseudo-parentesco, através da instituição da adoção de crianças.
Os Kaiowá parecem não ter uma visão substancialista do fogo doméstico. A circulação das pessoas entre fogos imprime grande dinamismo a esta unidade, que está sempre passando por transformação na sua forma e composição. Sua importância está ligada diretamente à existência de procedimentos de cooperação mútua, que devem existir entre pessoas que se consideram consangüíneos próximos. A definição de quem serão estas pessoas passa por arranjos políticos entre um conjunto de fogos, e, em nível mais geral, articula-se com os princípios que formam a parentela. A dinâmica de composição do fogo segue o ritmo das alterações nas redes de alianças que vinculam o fogo em questão, com determinados
8 Desenvolvo a instituição da adoção em artigo publicado na coletânea “A Antropo-logia da Criança” (2002);
EaD•UFMS 51Antropologia e Parentesco
fogos pertencentes a parentela do marido e da esposa. Por outro lado, a instabilidade nas uniões conjugais contribui também para o grande dinamismo na composição dos fogos domésticos.
A solidez dos laços que unem as pessoas que vivem num fogo varia consideravelmente, dependendo principalmente da estabilidade que caracteriza a união conjugal. O tipo de inserção e adesão da pessoa ao fogo varia também de acordo com o estágio de seu desenvolvimento enquanto pessoa. A fase que antecede o casamento é um período em que o homem e a mulher adquirem um certo distanciamento em relação aos membros de seu fogo, como prenúncio de um rompimento próximo, quando passarão a compor um novo fogo.
De fundamental importância para o equilíbrio psicológico das pessoas e para manutenção das regras de convivência social, o fogo é a unidade mínima fundamental, pois ordena as relações sociais no nível microssociológico, tecendo as malhas do tecido social. Qualquer pessoa tem que estar ligada a um fogo para que sua existência social se torne viável, quando a pessoa rompe com um fogo por casamento ou dissensão, imediatamente se insere numa nova unidade. O mesmo acontece com o visitante que reside por algum tempo em uma aldeia que mesmo não Kaiowá, deve estar ligado a um fogo, pois é só a partir daí que o indivíduo adquire a condição de ator social. O fogo é o ponto focal de qualquer relação social.
O fogo doméstico normalmente goza de bastante autonomia em termos produtivos, mas é comum se associarem, formando uma unidade de produção e consumo mais ampla. Estes núcleos, denominados de jehuvy, são articulados por princípios ideológicos, que regem a economia de reciprocidade e normalmente são compostos por sogro e genro, pai e filho, grupo de irmãos, etc. Costumam juntos cultivar uma área contínua, repartindo a lavoura por talhões na ocasião da colheita, quando cada um pode dar o destino que quiser a sua produção. Muitos fogos preferem cultivar suas roças isoladamente, mas a opção implica em restrições do ponto de vista do número de relações políticas. Estas associações dão origem a módulos organizacionais intermediárias entre o fogo e a parentela. A dinâmica desses módulos não será descrita aqui por falta de espaço, mas suas principais características aparecem na tabela que aparece ao final do texto.
É importante porém registrar que muitas vezes esses módulos dão origem a facções políticas no interior da parentela que podem evoluir para a ruptura e a constituição de uma nova parentela.
EaD•UFMS52 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
A parentela-te’yiChe ñemoñá, che jehuvy ou che re’yi kuera é como um determinado
ego denomina sua parentela, ou grupo familiar extenso9. Os Kaiowá utilizam alternativamente qualquer uma das três expressões. Em conjunto, elas expressam aspectos de uma mesma instituição: che ñemoñá expressa o fato natural da consangüinidade (fecundidade, procriação, descendência), podendo, em certos contextos, ser entendida como fogo doméstico (acepção mínima); che jehuvy expressa a idéia da convivência e auto-ajuda (jehu=ajuda), ressaltando os laços de solidariedade presentes no interior dessa instituição; che re’yi kuera, além da parentela bilateral, designa também uma das formas de autodenominação kaiowá, o que demonstra que a parentela constitui-se como um núcleo de identidade social. Che re’yi remete à idéia de companheirismo e compromisso no trato das questões consideradas de interesse coletivo da parentela. Por cobrir um leque semântico mais amplo, a expressão te’yi (forma não flexionada de re’yi), será utilizada como categoria kaiowá para a parentela10.
A parentela -te’yi tem como núcleo central um grupo de parentes cognáticos. Watson (1952, p. 33) afirma que “a família extensa estava intimamente relacionada com outros aspectos da cultura kaiowá, notadamente com o sistema de parentesco, a organização econômica e a arquitetura indígena e a típica unidade de residência, o tapyi”. [t. do .a]. Constitui-se como um grupo não linear organizado em torno de um líder de expressão que, como cabeça de parentela, reúne em torno de si seus parentes próximos e aliados. A parentela tem um caráter de grupo relativamente estável no tempo, muito atuante na vida política, o que se torna visível nos momentos de crise (conflitos, ameaças sobrenaturais), quando se mobiliza para a defesa de seus membros.
Os te’yi são módulos de residência que reúnem um número variável de fogos domésticos. Sua configuração e distribuição atual são imperceptíveis ao observador apressado, inclusive a certos agentes indigenistas que visitam com freqüência as áreas kaiowá. Hoje em dia, a disposição dos fogos domésticos em casas separadas é, aparentemente, aleatória. Entretanto a observação mais atenta revela uma série de liames a cimentar um leque variável de relações entre um conjunto de casas formando uma espécie de aglomerado em torno de um centro político, ocupando uma determinada porção
9 Na literatura antropológica, instituições semelhantes ao te’yi são descritas como o grupo local, a extended family (formada a partir de kinship e alliance), o kinship group, a extended consanguine family e o grupo doméstico (household ou domestic group). Utilizo parentela para facilitar a leitura, entretanto é importante delimitar as características desta instituição dentro do sistema social kaiowá.10 Watson (1952), Schaden (1974) e Brand (1993, 1997), utilizam o termo “família extensa” para o que denomino parentela.
EaD•UFMS 53Antropologia e Parentesco
do território de uma área indígena. O agrupamento dos fogos em um espaço contíguo é pautado por laços de consangüinidade e afinidade, e por relações de alianças políticas e religiosas, que mantêm certa regularidade no tempo. O centro político - não necessariamente geográfico - do nucleamento compreendido pelos fogos que compõem um te’yi é a residência do cabeça de parentela -hi’u. O hi’u é geralmente um homem de idade avançada que gerou muitos filhos. Os Kaiowá explicam que ele é a “raiz”, o “esteio” ou o “tronco da casa”, rememorando os tempos em que a parentela ocupava uma única casa grande comunal (óg puhu, ogajekutu ou agapysy). “É no hi’i que nos encostamos”, afirmam os Kaiowá, enfatizando sua capacidade de reunir pessoas. É uma instituição semelhante aos grupos fluídos centrados no poder político do líder e na sua capacidade de manter unidos os consangüíneos, afins e aliados, tal como foi descrito para as sociedades da Guiana (RIVIÈRE, 1984). Nesse sentido estaríamos em uma paisagem etnográfica tipicamente amazônica.
A parentela -te’yi pode ser descrita como: a) um grupo de residência, já que ocupa um local definido e detém uma noção clara deste território; b) um grupo de atuação econômica, pois no seu interior desenvolve-se intenso intercâmbio de bens e serviços, dentro dos princípios que regem a economia de reciprocidade kaiowá; c) um grupo de atuação política, pois é a base do sistema de representação por intermédio do hi’u, que reúne seus descendentes e aliados através do carisma, os representa e por eles fala nas reuniões gerais (aty), que congrega os representantes de todos os te’yi que dividem um mesmo tekoha (ou na situação atual uma reserva), devendo defender os interesses do seu grupo doméstico acima de qualquer outro interesse.
O modelo ideológico estabelece o ideal de correspondência entre as categorias de parentela -te’yi, de grupo de co-residência -hogaypype, e de mutualidade e cooperação -che jehuvy. O ideal é que os parentes morem juntos, e entre eles prevaleça a reciprocidade em nível econômico, político e religioso. Entretanto, os Kaiowá reconhecem que por inúmeros motivos isto nem sempre acontece.
A compreensão dos mecanismos de constituição e dinâmica de atuação da parentela exige que se extrapole os limites tradicionalmente definidos como domínios típicos do parentesco, embora as relações situadas neste âmbito sejam os ingredientes básicos de sua constituição e base de formação. Fatores políticos interferem o tempo todo, pois o deslocamento de fogos domésticos altera constantemente a composição das parentelas. Ao longo de sua existência, uma pessoa pode nascer em uma parentela e vir a pertencer a outras, mobilidade permitida pela existência
EaD•UFMS54 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
de mecanismos como a adoção, o casamento fora da parentela e alianças políticas. As separações com freqüência também implicam em mudança de um dos cônjuges (o que veio de outra parentela) e na distribuição dos filhos por outros fogos. Nestes deslocamentos, é comum que solteiros ou fogos domésticos atualizem relações de parentesco distantes, havendo a clara interferência de escolhas políticas e estratégias individuais.
Em suma, a parentela se constitui como núcleo de adensamento de relações de parentesco, com a clara interferência de fatores relativos ao contexto político e local de residência. Dessa forma, expressa um sentimento de identificação e solidariedade com o grupo de pessoas e, especialmente, com o seu cabeça -hi’u.
O te’yi e o tekohaA noção de tekoha é adotada pela maioria dos trabalhos recentes
sobre os Kaiowá. Para B. Meliá, tekoha “é a comunidade semi-autônoma dos Pãi”[t. do a .] (MELIÁ, GRÜNBERG & GRÜNBERG, 1976, p. 218). Etimologicamente, a palavra é composta pela fusão de teko -sistema de valores éticos e morais que orientam a conduta social, ou seja, tudo o que se refere a natureza, condição, temperamento e caráter do ser e proceder kaiowá -, e ha, que, como sufixo nominador, indica local ou a ação que se realiza. Assim, tekoha, numa acepção mais dura, pode ser entendido como o lugar (território), no qual uma comunidade kaiowá (grupo social composto por diversas parentelas) vive de acordo com sua organização social e seu sistema cultural (cultura). A universalidade desse modelo, que vê a sociedade como unidade de equivalência entre território, grupo social e cultura, é veementemente criticado por etnografias como a de Leach, Sistemas Políticos da Alta Birmânia (LEACH, [1954] 1996).
O tekoha é reconhecido na etnografia kaiowá como a unidade básica da organização social. A freqüente associação entre fogos domésticos pertencentes a distintas parentelas faz surgir redes de relações (net-work) baseadas no parentesco cognático e em alianças circunstanciais. Essas redes perpassam as parentelas e mesmo os tekoha, imprimindo uma complexidade estonteante às relações políticas e dando a sensação de um quase desordenamento e caos na vida social. A impressão é de que os vínculos entre as pessoas não seguem nenhuma lógica identificável, pois visam apenas atingir objetivos imediatos e que esses vínculos estabelecidos são logo substituídos por outros mais convenientes.
A ênfase discursiva na coesão social no interior de um conjunto de parentelas relacionadas -tekoha, expressa na fórmula “aqui somos todos parentes”, parece camuflar (ideologizar) as relações reais entre grupos menores de pessoas aparentadas, onde de fato
EaD•UFMS 55Antropologia e Parentesco
tende a prevalecer a solidariedade e a cooperação. No tekoha as relações entre parentelas são marcadas por dilemas irreconciliáveis entre exclusividade x mutualidade, entendimento x hostilidade, aproximação x repulsa. Fica evidente as constantes querelas e falatórios, com raros momentos de concórdia (rituais religiosos e festas). A discórdia parece voltar sempre reciclada, trazendo novo combustível à máquina política, que nunca pára de funcionar. Este dinamismo não é apenas uma fonte inesgotável de problemas, desencadeia processos e atualiza procedimentos fundamentais para a continuidade da vida social. A constante instabilidade política aparece como uma exigência para a própria existência e reprodução da sociedade, sendo um ingrediente básico, inerente à própria dinâmica social.
A variabilidade em termos de conformação social e política da parentela e do tekoha permite pensar estes módulos compondo um sistema concêntrico de socialidade, no qual a cooperação perde força à medida que o círculo se amplia, além de mudar sua natureza: no centro é nitidamente marcada pelo parentesco e pela economia, reunindo um número restrito de fogos no interior da parentela; nas esferas intermediárias são fortemente influenciadas pela política; enquanto, no círculo mais amplo, ganha destaque as atividades religiosas. Para tornar claro este modelo, procuro identificar alguns princípios metafísicos que tornam mais compreensíveis a articulação entre estes dois módulos (te’yi e tekoha), fundamentais para a compreensão da operacionalidade do sistema.
O princípio ore e o princípio pavêmAnalisando dados dos Kaiowá do Paraguai, Grünberg (1975,
p. 36) identificou a existência de dois sistemas de cooperação. Um sistema corresponde à solidariedade mais geral, que acontece entre as parentelas que formam um tekoha, o outro à reciprocidade mais restrita que acontece no interior da parentela. Os argumentos do autor foram resumidos por Brand da seguinte forma: “um corresponde ao tekoha, base social, política e religiosa dos Pãi atuais, que se manifesta nas festas religiosas, nas decisões políticas formais e em caso de conflitos externos ou ameaças vindas do sobrenatural; e outro, corresponde à família extensa (e seus núcleos locais), que se manifesta especialmente nas atividades econômicas, na colaboração nos trabalhos das roças comuns e construção de casas” (BRAND, 1993, p. 113-114). É entre os fogos que compõem a parentela que “continua se dando a estrita reciprocidade (oreva)” (BRAND, 1993, p. 84).
Oreva é o termo usado pelos Kaiowá para a primeira pessoa do plural e significa ‘nós exclusivo’, diferente de ñandeva, ‘nós inclusivo’,
EaD•UFMS56 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
que também significa gente, como categoria genérica que inclui todos os interlocutores. Oreva e ñandeva são categorias relacionais que delimitam fronteiras entre grupos sociais, aplicando a lógica segmentária. Por exemplo: os membros de uma parentela podem dizer oreva se referindo aos seus integrantes em contraposição (excluindo) outras parentelas do mesmo tekoha, mas num conflito de terra que ameaça o tekoha, podem dizer oreva incluindo as outras parentelas que aí residem e que formam um grupo unitário em relação ao fazendeiro. Pode-se ouvir também a expressão oreva - ‘os nossos’ ou ore reko - ‘o nosso sistema’, para se referir ao conjunto da população guarani em oposição aos valores da sociedade nacional (karai reko).
A formulação que proponho dos princípios ore e pavêm se inspiram na descrição dos dois tipos de cooperação, realizada por Grünberg (1975). O princípio ore está voltado para o interior da parentela e o pavêm voltado para o estabelecimento das relações entre as parentelas que formam um tekoha. O princípio ore se refere a uma força centrífuga que intensifica as relações próximas em detrimento das relações mais distantes. O princípio ore teria como característica principal a forte ênfase na exclusividade das relações entre pessoas que se consideram parentes próximas e compõem módulos com profunda identidade social, cuja expressão máxima seria o fogo doméstico. A sobrevalorização das relações sociais próximas tem como implicação direta o afrouxamento das relações mais distantes.
O princípio ore atua como uma força centrífuga que em seu movimento exclui a exterioridade, ou seja, enfatiza ou condensa a interioridade que se expressa nas formas de convivência livre das disputas e tensões sociais que caracterizam a vida social fora do círculo de mutualidade cuja forma mais pura é representada pelo fogo. Entretanto, é impossível viver exclusivamente no fogo e sua abertura para a exterioridade é forçada pela ação de uma força centrípeta, que aqui se denomina princípio pavêm.
O princípio pavêm busca quebrar a hegemonia da exclusividade das formas de mutualidade restrita a um pequeno número de pessoas ou fogos. Para isto cria mecanismos que permitem reunir um número maior de fogos e parentelas relacionadas como parceiras políticas e cerimoniais. A despeito do empenho no estabelecimento dessa associação ampla, ela parece ter sempre um caráter instável, sempre à mercê de situações conjunturais que envolvem as estratégias de confronto ou alianças entre lideranças políticas e religiosas potencialmente rivais. De qualquer forma, o princípio pavêm aciona valores religiosos que procuram romper com os interesses exclusivistas que prevalecem nos módulos
EaD•UFMS 57Antropologia e Parentesco
organizacionais menores, procurando ampliar os horizontes da convivência social.
A emergência do tekoha depende diretamente da proeminência do princípio pavêm e da existência de líderes religiosos e políticos com reconhecida habilidade e carisma para convencer as pessoas das vantagens da abertura para a relação com outros fogos muitas vezes em detrimento de seus sentimentos exclusivistas. Se os Kaiowá reconhecem a dificuldade em constituir um cabeça de parentela - hi’u, que tenha prestígio suficiente para, como dizem, “levantar um grupo (parentela)”, é de se supor a dificuldade em ‘levantar’ um tekoha.
A fala de um xamã foi o que me sugeriu a identificação de pavêm como compondo um princípio estrutural relacionado ao ideal de ampliação do horizonte de convivência social. O xamã tentava me explicar que a vida nos tekoha atuais é imperfeita, mas que antigamente as pessoas viviam nos tekoha pavêm, que é a forma ideal de se viver.
Para explicar o significado do adjetivo pavêm o xamã aproveitou que no dia anterior havíamos postulado uma situação fictícia, mas perfeitamente realizável de acordo com os padrões de organização social kaiowá. A situação postulada procurava esclarecer problemas colocados pela terminologia de parentesco. A questão terminológica era a seguinte: os Kaiowá englobam em uma única categoria terminológica irmão e primos parelelos, mas aplicam termos distintos para identificar a senerioridade entre eles, ou seja, ryke’y para mais velho e ryvy para mais moço11. Questionei o xamã sobre a possibilidade de irmãos (filhos de mães diferentes já que praticam a poliginia) ou primos paralelos (já que são designados pelo mesmo termo), nascerem ao mesmo tempo, situação em que seria impossível aplicar a distinção de senioridade entre eles. O xamã então explicou que nesse caso não se aplicaria entre eles os termos distintos ryke’y e ryvy, já que como possuem a mesma idade seriam pavêm um em relação ao outro. Usando os dedos indicadores das duas mãos justapostos, mostrou que são indistintos, já que possuem o mesmo formato, comprimento e espessura, e que portanto, da mesma forma que pessoas englobadas na categorias de irmãos e que tenham a mesma idade, devem receber um tratamento de igualdade, daí a aplicação do termo pavêm. Em outros contextos, o termo pavêm tem também o sentido de algo geral, indistinto ou universal. A sociedade organizada a partir do princípio pavêm seria, metaforicamente, um grande fogo doméstico, já que combinaria a seguridade que o caracteriza com a efervescência da vida religiosa.
11 Estes são os termos vocativos para os gêmeos mitológicos e heróis civilizadores, sol e lua. A distinção terminológica está assim profundamente radicada na cosmologia do grupo.
EaD•UFMS58 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
Maybury-Lewis (1984, p. 365), no final de seu livro sobre a sociedade xavante, afirma “que pode-se esperar que a maior parte das sociedades humanas dêem expressão conceitual ou institucional a algum tipo de princípio diádico”. Parece que a sociedade kaiowá trabalha este princípio diádico na relação ore - pavêm. Um dos argumentos do presente texto é que a identificação destes princípios e a descrição da maneira como eles operam no interior do modelo de estrutura social pode ajudar a ampliar a compreensão das regras, idéias e ações que norteiam a convivência social entre os Kaiowá.
O modelo de estrutura socialEmbora não haja correspondência direta entre o modelo de
estrutura social proposto pelo pesquisador e a realidade social, sua composição procura se guiar pelas categorias que os membros da sociedade empregam para ordenar e significar as relações sociais que estabelecem. É inevitável que a composição do modelo isole e até exagere deliberadamente determinados aspectos da vida social como forma de captar seu sentido que nunca é auto-evidente. O desafio final é ordenar estes dados “sob a forma de um modelo capaz de demonstrar certas relações cruciais à sociedade” (MAYBURY-LEWIS, 1984, p. 359), e que possa explicitar a estrutura social da sociedade kaiowá. Estrutura social, um termo reconhecidamente extemporâneo, é aqui entendida como uma construção lógica (LEACH [1954] 1996, p. 68-69) e não como um dado empírico. Neste sentido, a tabela que apresento constitui-se apenas como uma hipótese explanatória, no sentido atribuído por Maybury-Lewis (1984, p. 351).
As categorias kaiowá ligadas ao ambiente da organização social são relacionais e polissêmicas, expressando conteúdos diversos, dependendo do contexto ao qual se referem. Apresentam níveis concêntricos de significação, permitindo o surgimento de um campo de contato, comunicação e permeabilidade, onde ocorrem espaços de coincidência do leque semântico entre certas categorias. Mesmo assim, é possível agrupar as categorias em três domínios principais, que seriam: 1) o das relações típicas de parentesco próximo, que os Kaiowá concebem como compondo um grupo de consangüíneos (domínio microssociológico da residência, produção e comensalidade), composto por categorias como ypykykuera, ñemoñá e te’yi; 2) o domínio das relações político-religiosas, composto pelo tekoha e pelo tekoha pavêm, e, por fim; 3) a categoria tetã, que expressa a noção de território e o limite extremo da fronteira étnica do grupo, que no limite confronta com as pessoas com as quais os Kaiowá não têm nenhuma relação de reciprocidade estabelecida, sendo em princípio seus inimigos - winkuera. A gradação vai assim do campo
EaD•UFMS 59Antropologia e Parentesco
de predomínio da consangüinidade (ascendência-descendência) para a afinidade ou aliança, e do político para o religioso, em direção à fronteira étnica.
A seguir é apresentada uma tabela com um quadro comparativo dos módulos organizacionais que estruturam a vida social kaiowá e cujas características foram descritas ao longo do texto. A idéia é que a tabele sintetize e ajude a visualizar o modelo.
CONSIDERAÇõES FINAIS
Foi possível demonstrar que módulos organizacionais kaiowá combinam elementos de distintos campos da vida social, que vão desde os laços de parentesco, alianças políticas e intercâmbio religioso. Estes módulos estão enraizados em categorias de pensamento próprias a essa sociedade, compondo um conjunto que apresenta considerável coerência lógica quando considerado em seus próprios termos.
A dialética entre os princípios ore e pavêm modela os módulos organizacionais, fazendo com que tendam para a conjunção ou para a disjunção, conforme o contexto remeta a acepção máxima ou mínima do leque semântico coberto por cada um desses módulos. O tekoha deve ser entendido como um processo onde ocorre o contínuo fluxo e refluxo desses dois princípios, sendo isto impõe uma dinâmica e introduz a política e a história na ordem social.
A estrutura social compõe um padrão, cujos princípios remetem ao sistema de valores ideológicos e cosmológicos que conformam o pensamento social. Esta padronização adquire contornos institucionais, configurando o sistema social como um todo organizado e estruturado, mesmo que isso não seja facilmente perceptível ao nível das relações diádicas. Assim, como princípios metafísicos instituintes vida social, ore e pavêm subjazem tanto a ordem morfológica como a cosmológica. Nesse enfoque escaparíamos da visão funcionalista clássica de que a escatologia seria um reflexo da morfologia, mas ao mesmo tempo não poderíamos nos contentar com análises que pressupõem que a sociedade seria fundada unicamente a partir de princípios cosmológicos, já que a escatologia seria resultado da tensão entre princípios opostos que perpassam toda a vida social. Ao que parece é a partir da oposição entre estes dois princípios que a sociedade kaiowá organiza e estrutura a relação entre a parte e o todo, entre os interesses do indivíduo e as determinações da sociedade.
Os princípios da organização social, pensados em sua totalidade sistêmica, evidenciam a existência de um conjunto de módulos
EaD•UFMS60 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
organizacionais em integração dinâmica, com significativa correspondência lógica entre si. Isto autoriza o observador a pensar a sociedade kaiowá como um conjunto relativamente arbitrário de opções sociológicas, ao mesmo tempo em que, do ponto-de-vista nativo, permite aos indivíduos pensar-se em sociedade. Ao final predomina uma espécie de “lógica de conjunto” (AUGÉ, 1975, p. 96). Esta ‘lógica de conjunto’ dá coerência ao sistema, como um todo estruturado e interdependente. A organização social aparece ao final como parte de um dialeto social, uma linguagem que no seu conjunto expressa um determinado modo de ser, uma maneira de viver e falar da vida como Kaiowá, de viver como parente entre parentes. Mas o idioma em que se expressa a organização social deve ser visto como uma linguagem intrinsecamente relacionada a outras linguagens sociais, como a economia, a política e a religião. A estrutura social kaiowá não é a totalidade do social, nem o parentesco um espaço privilegiado para pensar a sua totalização: talvez por este motivo ele tenha ficado fora da maioria das etnografias. É justamente saindo do campo do parentesco stricto sensu - mas sem perdê-lo de vista, e detendo-se nas conexões que ele estabelece com outros sistemas de significação -, que é possível uma melhor aproximação da sociedade e de seus mecanismos de produção e reprodução. Afinal, foi na terminologia de parentesco que o xamã encontrou o argumento para explicar em que se constituía o princípio pavêm.
EaD•UFMS 61Antropologia e Parentesco
bIbLIOGRAFIA
AUGÉ, Marc (Org.) 1975. Os Domínios do Parentesco (filiação, aliança matrimonial, residência). Lisboa. Perspectiva do Homem, Edições 70.
BRAND, A. J. 1993. O confinamento e seu impacto sobre os paì-Kaiowá. Dissertação de mestrado apresentada ao curso de Pós-Graduação em história na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Porto Alegre.
BRAND, A. J. 1997. O impacto da perda da terra sobre a tradição kaiowá/guarani: os difícies caminhos da palavra. Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História - PUC/RS. Porto Alegre.
CLASTRES, Pierre. 1978. A Sociedade contra o Estado, Livraria Francisco Alves. Editora S.A. Rio de Janeiro.
CLASTRES, Pierre. 1981. Investigaciones en antropologia politica. Barcelona: Gedisa.
CLASTRES, Hèléne. 1978. Terra sem Mal. Trad. Renato Jonine Ribeiro. São Paulo: Brasiliense.
GRÜNBERG, Georg. 1975. Dos modelos de economia rural em el Paraguay: Pãi-Tavyterã y Koygua. Estudios Paraguayos, Asunción: Universidade Catolica, v. 1, n. III, p. 31-39.
HUGH-JONES, Christine. 1979. From the Milk River: Spatial and temporal processes in Northwest Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press.
LEACH, Edmund Ronald. [1954] 1996. Sistemas Políticos da Alta Birmânia. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
MAUSS, Marcel.1974. Uma Categoria do Espírito Humano: a noção de pessoa, a noção do ‘eu’. IN: Sociologia e Antropologia. São Paulo, EPU.
MAYBURY-LEWIS, [1974] 1984. A sociedade Xavante. Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves Editora S/A .
MAYBURY-LEWIS, 1979. Dialetical Societies. The Gê and Bororo of Central Brazil. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
EaD•UFMS62 CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS - 2° MÓDULO
MELIÁ, B., GRÜNBERG, G., GRÜNBERG, F. 1976. Etnografia Guaraní del Paraguay Contemporâneo: Los Pai-Tavyterã. Seplemento Antropológico. Assunción: Centro de Estudos Antropológicos de La Univerdad Católica.
MELIÁ, Bartomeu.1988b. El Guarani conquistado y reducido. Biblioteca Paraguaya de Antropologia, Assunção: CEADUC- Centro de Estudios Antropologicos de la Universidad Catolica “N. S. de la Asunción”.
MELIÁ, Bartomeu.1990. Los Pãi-Tavyterã del Amambay 15 años despues. 500 años del Encuentro de dos Mundos. Barcelona, p. 1-12.
MELIÁ, Bartomeu.1991. Rostros indios de Dios-los amerindios cristianos. Quito: Abya-Yala.
RIVIÈRE, Peter. 1984. Individual and Society in Guiana: a comporative study of Amerindian social organization. Cambridge, Cambridge, Un. Press.
SCHADEN, E. 1974. Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani. (10 Ed. 1954) 30 Ed. São Paulo: EPU/EDUSP.
SUSNIK, Branislava. Los aborigenes del Paraguay II. Etnohistoria de los Guaranies. Epoca colonial. Assunção: Museu Etnográfico “Andres Barbero”, 1979-1980.
TOMAZ DE ALMEIDA, R. F. 1991. O Projeto Kaiowá-Nandeva: uma experiência de etnodesenvolvimento junto aos Kaiowá-Nandeva contemporâneos de Mato Grosso do Sul. Dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - Museu Nacional, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
WATSON, J. B. 1952 Cayuá Culture Change; A study in acculturation and methodology. American Anthropological Association, v. 54, n1 2, part 2, p. 1-144.