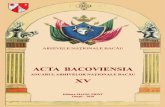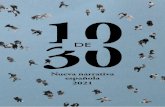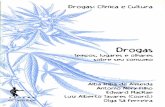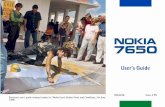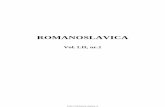Desviando Olhares: estéticas-políticas dos relatos de viagem
Inquietos Olhares - FILOSÓFICA BIBLIOTECA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Inquietos Olhares - FILOSÓFICA BIBLIOTECA
A construção do processo de identidade nacional nasobras de Lídia Jorge e Orlanda Amarílis
InquietoslharesO
InquietoslharesO
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
J A N E T U T I K I A N
S ã o P a u l o
1 9 9 9
A construção do processo de identidade nacional nasobras de Lídia Jorge e Orlanda Amarílis
InquietoslharesO
InquietoslharesO
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
1999, by autora
Tutikian, Jane
Inquietos olhares: a construção do processo de identidade na-cional nas obras de Lídia Jorge e Orlanda Amarílis / Jane Tutikian.� São Paulo: Arte & Ciência, 1999.
p. 186; 21 cm
ISBN: 85-86127-90-6
1. Amarílis, Orlanda, 1923 � e interpretação. 2. Jorge, Lídia �Crítica e interpretação. 3. Literatura africana de expressão por-tuguesa � História e crítica. 4. Literatura comparada luso-africa-na. 5. Nacionalismo na literatura. I. Título. II. 2º título: Identida-de nacional nas obras de Lídia Jorge e Orlanda Amarílis.
CDD - 809.000869.090869.309
Coordenação EditorialHenrique Villibor Flory
Editor e capaAroldo José Abreu Pinto
Editoração Eletrônica e Projeto GráficoRejane Rosa
Ilustração de CapaXxxxxx xxxx
RevisãoLetizia Zini Antunes
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)(Biblioteca de F.C.L. - Assis - UNESP)
Editora Arte & CiênciaRua dos Franceses, 91 – Bela VistaSão Paulo – SP - CEP 01329-010
Tel/fax: (011) 253-0746 - (011) 288-2676Na internet: http://www.arteciencia.com.br
Índice para catálogo sistemático:
1. Literatura comparada: Estudo crítico 809.0002. Literatura portuguesa: Século 20: História e crítica 869.0903. Literatura portuguesa: Ficção: Crítica e interpretação 869.309
T966i
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
8
Sumário
INTRODUÇÃO ................................................................................ 9
1- VISÕES CONSTRUÍDAS .........................................................251.1 A revolução e a terra trazidas...........................................251.2 O texto, o mito e o mito produzido...................................421.3 A sacralização e a dessacralização de visões................56
2- IMAGENS INSULARES .............................................................672.1 O passe e a senha...............................................................692.2 O riso e o espelho...............................................................802.3 As imagens cruzadas...................................................... 103
3- DEVORAÇÃO DA CIDADE ................................................. 107
4- ÁFRICA AMARELA: O EXERCÍCIO DO PODER ........... 149
CONSIDERAÇÕES FINAIS:REPRESENTAÇÃO E TRANSGRESSÃO.............................. 165
BIBLIOGRAFIA .......................................................................... 183
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
1 0
Introdução
Dentre os problemas que mais terão marcado nossacontemporaneidade estão as questões de identidade e de nacio-nalidade e isso pelos acontecimentos das últimas décadas, tantodo ponto de vista político quanto econômico e social: da quedadas barreiras econômicas no Ocidente capitalista do Leste Euro-peu à abertura chinesa ao capital estrangeiro; da queda das bar-reiras político-ideológicas tipificadas pelo muro de Berlim e daarticulação da Glasnost, exterminando o império soviético, à “fa-lência das utopias”, à mundialização do capitalismo, acentuandodesigualdades, inferiorizações e exclusões. Além disso, o pró-prio interesse despertado pelas literaturas terceiro-mundistas noprimeiro mundo; as rupturas com os totalitarismos; os separa-tismos; os racismos; as minorias étnicas; a liderança americanana “nova ordem mundial”; as composições supranacionais comoo mercado comum; tudo converge para um novo perfil de fron-teiras geográficas, econômicas e ideológicas.
Diante desse quadro, de transformação e complexidadeda ordem mundial, de que, evidentemente, não passa à margemPortugal, com a Revolução de 25 de Abril e a queda doSalazarismo, com a descolonização e com o ingresso no Merca-do Comum Europeu; e de que não passam à margem as naçõesemergentes
1, frutos da descolonização
2, questões como nacio-
1 Ainda que a definição países emergentes venha sendo usada, desde o início dadécada de 90, para designar nações que mais atraem investimentos estrangei-ros, e ao mesmo tempo aceleram a modernização da economia e melhoram
1 1
nalismo3, identidade e alteridade, na medida em que o Outro é
também produtor da imagem do Mesmo, terminam ocupandoespaço em textos nacionais dos mais diversos estatutos, ficcionaisou não.
Se a linha mestra da literatura portuguesa, já estudada porCleonice Berardinelli (1994), não é outra senão o nacionalismo,o discurso laudatório de outros tempos substitui-se,contemporaneamente, pelo discurso crítico, antiépico. “Cum-priu-se o mar e o Império se desfez. Senhor, falta cumprir-sePortugal”, afirmara Fernando Pessoa, na Mensagem (1972:57),o que, hoje, se reatualiza.
Da mesma forma, o nacionalismo está presente, e tantomais nítido pela condição histórica nas literaturas emergentes
4,
as africanas, a partir de suas premissas sócio-históricas, comuma reflexão própria, que busca soluções particulares, inclusivenas abordagens estéticas e históricas, no posicionamento contraa política assimilacionista da metrópole, voltando-se para adesalienação e a conscientização, por meio de seus temas deresistência.
Temas esses que, antes de serem unicamente de reaçãoao imperialismo, voltam-se para a emigração, a antievasão, a ter-ra..., uma vez que “De cada peito contrito,/ De cada lágrima ougrito,/ De cada gesto de dor,/ De todo o sangue ou suor/ Discre-tamente nascia/ Uma nova Poesia”, como cantou Aguinaldo Fon-seca em “ Nova Poesia”, de 1951, (1986: 16). No período pós-
os indicadores sociais, optamos por manter a definição literal para os paísesfrutos da descolonização e que buscam sua identidade cultural.2 Refere-se ao processo pelo qual passa a ex-colônia, quando conquista suaindependência política.3 Tomamos, aqui, como o define Edward W. Said (1995: 276): “restauração dacomunidade, afirmação da identidade, surgimento de novas práticas culturais”,ou seja, dentro do pressuposto mesmo da Literatura Comparada que entende anação como não concluída, onde os mecanismos de inclusão e exclusãoaparecem como movimentos dialéticos, quer dizer, não mais como uma enti-dade plenamente formada.4 À formação de nacionalidades corresponde a formação de literaturas nacio-nais.
1 2
colonial5, por sua vez, os temas deslocam-se para busca e pre-
servação das fontes da cultura popular e raízes nacionais autên-ticas.
Complexos, entretanto, evidenciam-se num “olhar parasi” e são produtores de determinados discursos na ordem darelação com o Outro, e isso é traço marcante na literatura portu-guesa quando surge a relação com o estrangeiro, apesar de umdiscurso de poder em relação às colônias/ ex-colônias e, nessas,o complexo de colonizado. Negar a força da Europa, não hácomo, por tudo o que o eurocentrismo representou na ordemmundial para as mais diferentes culturas e não é essa a questãoque se impõe. A questão é ser Europa à margem da Europa.Negar a força da metrópole, como metrópole, também não hácomo. É negar-se como povo, como sujeito-histórico para as-sumir-se apenas como paciente de um processo. Por outro lado,essas negações se contradizem na produção de uma memóriahistórica pela literatura. Mesmo na imposição do discurso auto-ritário, a literatura se propõe com alternativas opostas: contra ofixo e o codificado, com as plurissignificações e o dialogismo;memória, história e ficção se permeiam.
Não obstante sua importância para o sistema literário deseus países de origem, pouco se conhece, no Brasil, sobre LídiaJorge, que ocupa lugar de destaque entre a geração pós-74, eOrlanda Amarílis, primeira escritora caboverdiana publicada emlivro. A importância histórica de ambas as autoras é fato inegá-vel. Enquanto a primeira faz de seu texto um agente revelador daterra, com suas idiossincrasias, sua cultura, seus mitos, suastradições motivadas pelas fontes nacionais, a segunda procurarecriar metafórica e metonimicamente a pátria e sua gente, numaespécie de “espelho contra a vida”
6para, mediante uma postura
crítica, desvendar valores da identidade nacional.5 Segundo E. Said (1995:63), existe todo um movimento, uma literatura e umateoria de resistência e de reação ao império, um esforço para se iniciar umdebate com o mundo metropolitano em pé de igualdade, mostrando a diversi-dade e a diferença do mundo não europeu, suas prioridades e história.6 Expressão usada por Lídia Jorge.
1 3
Orlanda Amarílis nasceu em Santa Catarina, na ilha deSantiago, Cabo Verde, viveu seis anos na Índia e dois em Angolae fixou-se em Lisboa, adquirindo a condição diaspórica. Autorade Cais-do-Sodré té Salamansa (1974), Ilhéu dos pássaros (1983)e A casa dos mastros (1989), iniciou sua carreira literária na re-vista Certeza (1944), publicação de grande importância na ativi-dade cultural da época e na literatura caboverdiana; viveu o im-perialismo
7 e vive a descolonização
8, mas, em especial, vive a
condição de caboverdianidade, a ligação íntima com a terra, suagente, seus valores culturais. Sua grande personagem é ocaboverdiano, no arquipélago e em Lisboa sobretudo, raramenteaparecendo em lugares outros, a revelar o que Maria LúciaLepecki define como um “deitar raízes em duas memórias literá-rias e em duas vivências da linguagem” (1989).
Se os seus contos são caboverdianos, a sua sensibilidade,ou melhor, a sua arte é universal e nada fica a dever às escrito-ras que, no continente, vão escrevendo o que de melhor a litera-tura portuguesa tem apresentado nos últimos vinte anos. (Men-donça, Fernando. Apud Cardoso, 1988)
Lídia Jorge nasceu em Boliqueime, Algarve, pertencendoà geração literária da “repensagem portuguesa”
9, da reflexão do
percurso revolucionário que culminou com o 25 de Abril, daresistência ao fascismo e às perversões de seus resquícios nademocracia, do alerta da necessidade da memória, dos valores edas tradições. É o que deixa entrever em O dia dos prodígios
7 O imperialismo, comenta Said (1995: 40,42), designa a prática, a teoria e asatitudes de um centro metropolitano dominante governando um territóriodistante, mas alerta para o fato de que nem o imperialismo nem o colonialismosão é um simples ato de acumulação e aquisição. “Ambos são sustentados etalvez impelidos por potentes formações ideológicas que incluem a noção deque certos territórios e povos precisam e imploram pela dominação.”8 O que Edward Said coloca como uma “complexíssima batalha sobre o rumo dediferentes destinos políticos, diferentes histórias e geografias.”(1995:277).9 Expressão usada por Maria de Lourdes Simões.
1 4
(1980), O cais das merendas (1982), Notícia da cidade silvestre(1984), A costa dos murmúrios (1988) e O Jardim sem limites(1995). A última dona, obra de 1992, bem como o conto Ainstrumentalina, do mesmo ano, abrigam uma outra vertente naobra de Lídia Jorge, vinculada, prioritariamente, à interioridade,motivo pelo qual não constituem nosso corpus.
Considerada pela crítica em geral como uma das maisimportantes revelações da ficção portuguesa das últimas déca-das, no dizer de João Gaspar Simões “o maior prodígio das le-tras pátrias neste último quartel de século” (apud Silva, 1995),sua grande personagem é o homem português com suas raízes eseu ser na vida, numa narrativa marcada pela universalidade.
O conjunto de obras de ambas as autoras revela o textoque, resguardado o poder encantatório, se inscreve no real pro-jetando-se na direção do documento e da reflexão. Esse é o nos-so corpus.
Inquietos olhares pretende desvendar a forma de olhar deLídia Jorge e de Orlanda Amarílis voltada para a sua terra, res-pectivamente Portugal e Cabo Verde, no momento em que ambasas nações procuram a identidade. A primeira, pela crise instaura-da no período pós-revolucionário e na descolonização; a segun-da, pela destruição da identidade que o colonialismo trouxe con-sigo e a tentativa de resgate no tempo pós-colonial, a partida aque o arquipélago obriga e o querer saber-se quem em terrasoutras.
É a questão da identidade que norteia a obra das duasautoras, entendida em seus códigos fundamentais, da etnicidadee razão de ser à nacionalidade: uma língua, um território, umaarte, uma literatura, uma independência política e seus sistemaspolítico-econômicos, uma tradição com seu folclore e seus mi-tos, em duas realidades culturais distintas, a mítica e a racional.
Em ambos os casos, recusa-se o sentimento nacionalista,gerado para servir às formas totalitárias, e busca-se a consciên-cia nacionalista, com a liberdade que lhe é própria; recusa-se o
1 5
estereótipo da unidade autoritariamente construído, para o des-vendar das diferenças na busca de uma pretendida identidade,seja resgatando-se uma suposta tradição, seja construindo-se umanova.
Tanto Lídia Jorge quanto Orlanda Amarílis tomam-na, namontagem literária de um discurso nacionalista próprio, com suasparticularidades, em dupla face: a identidade para o Outro, esta-belecendo determinadas relações culturais, e a identidade para oPróprio, produtora da auto-interpretação e do autoconhecimen-to, através de olhares observadores, analíticos e atuantes, capa-zes de adentrar no viver individual e coletivo. Nos dois casos,desaparece o componente demagógico dos nacionalismos pro-duzidos pelo Estado Novo e pelo Colonialismo, gerador de ummarco de unidade na diversidade, para uma concepção inversa: adiversidade na unidade, o que, então, se examina. A transforma-ção das ideologias e a queda de modelos, tanto quanto ainsularidade, explicam a necessidade dessa definição cultural.
Os procedimentos metodológicos utilizados são os da Li-teratura Comparada, entendida não como mera comparação en-tre textos, mas como campo de estudo dos processos de relaçãoentre textos, literaturas e culturas, criando-se no decorrer dotrabalho um sistema relacional para, por meio dele, proceder àleitura de fatos histórico-culturais determinantes da busca da iden-tidade. Ocupa-nos, também, como essa busca se manifesta nacomposição do discurso literário, na medida em que entendemoso contexto como categoria essencial e determinante da existên-cia do texto. Temos uma história temporalmente comum em re-alidades sócio-culturais diferenciadas; temos culturas originári-as diversas: a racional e a mítica; temos um momento comum,de ruptura: a Revolução e a descolonização que a segue; e te-mos, em conseqüência, uma mesma busca, a da identidade, porcaminhos dessemelhantes: de operações cognitivas, sociais e his-tóricas próprias. E esses são os elementos que enformam nossosistema relacional, possibilitando re-leituras nacionais: históriasmuitas vezes obscurecidas pelos debates políticos e ideológicos
1 6
na reafirmação da consciência nacional. É quando o presenteretoma um passado, próximo ou distante, real e mítico, buscan-do recuperar certos valores autóctones de raízes específicas,capazes de clarificar a consciência ou identidade nacional, iden-tidades distintas, com particularidades diferenciadoras e especí-ficas, mas não fechadas em si. Em outras palavras, o Outrocomo partícipe da reflexão sobre a questão nacional, tanto doponto de vista interno quanto externo.
Ao historiarem a Literatura Comparada, em Que é Litera-tura Comparada?, Brunel, Pichois e Rousseau apontam a traje-tória de 150 anos que, iniciada de uma feição francesa (Villemain,1838), adquire uma fisionomia universal, creditando sua popula-ridade ao fato de que não constitui “uma técnica aplicada a umdomínio preciso e restrito. Ampla e variada, reflete um estado deespírito feito de curiosidade, de gosto pela síntese, de abertura atodo o fenômeno literário, quaisquer que sejam seu tempo e seulugar”(1990: 16). Em tese, a definição da literatura comparadanão tem sido problema, o problema se instaura com relação aométodo e mesmo ao campo de investigação. A bipartição: escolafrancesa, berço da Literatura Comparada como disciplina, e ame-ricana, que questiona o outro modelo procurando ampliar obje-to, princípios e aproximações metodológicas, pode ser paradigmadessa afirmação.
Leyla Perrone-Moisés avança nessa retomada do percur-so de 150 anos, em Flores na escrivaninha, identificando certosranços do séc. XIX, quando a prática da disciplina adquiriu ofeitio que tem hoje, no que diz respeito à sua abrangência, àindefinição do seu campo e do próprio ecletismo metodológico.Aí, a autora examina as propostas teóricas que, em nosso sécu-lo, modificam os pressupostos e os objetivos comparatistas eenfatiza que, ao estudar as relações entre diferentes literaturasnacionais, autores e obras, a literatura comparada vem mostran-do que a literatura se produz num constante diálogo de textospor retomada, empréstimos e trocas. Para isso contribuem MikhailBakhtin que, na análise do romance do séc. XIX, detectou um
1 7
novo traço discursivo, o dialogismo, um diálogo interno à obra edesta com outras obras; Julia Kristeva que, ao retomar Bakhtin,concebeu a intertextualidade, cujo objeto está na investigaçãodo processo de produção do texto por apropriação, absorção eintegração de outros textos; Iuri Tynianov, que propõe uma revi-são no conceito de tradição ao acrescentar à noção de influênciaa de convergência pela existência de certas condições literáriasem determinado momento histórico; e mesmo Jorge Luís Borgesque, por sua vez, subverte o conceito de tradição a partir de umateoria da leitura, condicionando aquela a esta como uma questãode recepção e iluminando como essa recepção se transforma acada momento histórico. A tradição sujeita-se à revisão, colo-cando-se, assim, em permanente mutação. Perrone trabalha, ain-da, com Oswald de Andrade e a antropofagia cultural, coinci-dente, em alguns aspectos, com as teorias de I. Tynianov e J.L.Borges, e aponta para o desejo do Outro, a abertura e areceptividade para o alheio, desembocando na devoração críticaou na absorção da alteridade.
Assim, segundo a autora, se a literatura comparada buscadetectar analogias, parentescos e influências, as teorias de Bakhtin,Kristeva, Tynianov, Borges e Oswald levam a privilegiar a buscadas diferenças sobre as analogias, o estudo das transformaçõessobre o dos parentescos, a análise das absorções e das integraçõescomo uma superação de influências.
E este é o ponto que nos interessa, uma vez que o caráterrelacional sob essas perspectivas é que vai amparar a observa-ção dos mecanismos por meio dos quais um discurso literário seconstrói em torno da busca de uma consciência identitária sem apreocupação de estabelecer reflexos/espelhos. O objetivo é a cons-tituição de problemas reais, particulares, com características po-líticas, históricas, sociais e culturais próprias em que, entretan-to, não se anula a presença do Outro.
Assim, com premissas desse comparatismo renovado, es-tudamos a obra de Lídia Jorge e de Orlanda Amarílis, não com ointuito de valoração de uma cultura sobre a outra ou de uma
1 8
autora sobre a outra, mas utilizando como estratégia de compa-ração a articulação do discurso histórico com o discurso literá-rio no agenciamento de uma consciência identitária, sem, entre-tanto, convertê-la em um propósito temático, estilístico e ideo-lógico privilegiado pela história imediata.
Tomamos como conceitos direcionadores desse processode desvendamento: intertextualidade, dialogismo, polifonia, carna-val, mito, fantástico, imagem. Busquemos articulá-los entre si.
Quanto ao primeiro conceito, não inovamos ao aproximaras concepções de Bakhtin e Kristeva, até porque é na esteiradaquele e de Tynianov que Kristeva chega à noção deintertextualidade, termo cunhado por ela em 1969, para designaro processo de produção do texto literário, dentro da concepçãobakhtiniana do texto como um “mosaico”, uma construçãocaleidoscópica e polifônica. Assim, se para Kristeva todo o textotermina sendo resultado da absorção e transformação de outrotexto, Bakhtin, ao relacionar o texto literário à sociedade e à his-tória como dois percursos que se cruzam na narrativa, conside-ra-os também como textos no processo dialógico. A concepçãode intertextualidade (versão do dialogismo, segundo J. Kristeva)nos permite ver todo o texto como em diálogo com outro texto ecom o leitor, e é nessa perspectiva, também, que visualizamos aintertextualidade na análise da obra de Lídia Jorge e de OrlandaAmarílis.
É por esse caminho que o método dialógico – o dialogismo– oportuniza a discussão do texto em múltiplas possibilidades deleitura, na medida em que o texto acolhe pólos antitéticos, textu-ais e extratextuais, em estruturas ambivalentes, pela inserção dotexto na história e vice-versa.
Segundo a concepção bakhtiniana, o dialogismo é instau-rado pela carnavalização, por meio do tom, a menipéia, por meiodos contrastes, e a polifonia, por meio da voz, revelando-se, portais processos, como discurso intertextual. Desses processos,trabalhamos com dois, a polifonia e o carnaval.
1 9
A construção polifônica caracteriza-se peloentrecruzamento de vozes diversas e plenivalentes que se neu-tralizam dentro do jogo dialógico. E esse entrecruzamento é tam-bém um cruzamento discursivo e, por isso mesmo, ideológicopor meio de pontos de vista diferenciados. “O texto escuta as‘vozes’ da história e não mais as re-presenta como uma unidade,mas como jogo de confrontações”, afirma Tania Carvalhal (1986:48). Daí por que o discurso, segundo a visão polifônica de M.Bakhtin, deixa de ser um discurso voltado para si mesmo e suarealidade imediata para ser um discurso mais amplo: sobre omundo.
É, entretanto, no carnaval que a ideologia e a contra-ide-ologia se entrecruzam quando a realidade ou infra-estrutura de-termina o signo que reflete e refrata a verdade oficial, estabelecidapela ideologia dominante, deformando-a pela ambigüidade, pelacombinação da negação e da afirmação, pela ironia, pela paródia,pelo “riso sério” a que alude Kristeva. (1974: 79). É pela refra-ção que se promove o olhar distanciado, uma vez que as normasque determinam a vida extracarnavalesca ficam revogadas du-rante o carnaval e no mundo paralelo crítico, desmitificador,dessacralizador, que aí se cria.
Ambos os aspectos do dialogismo, a polifonia e o carna-val, convergem para a verdade, que, segundo o pensamentobakhtiniano, não nasce nem se encontra na cabeça de um únicohomem, mas nasce entre os homens, que juntos a procuram noprocesso de sua comunicação dialógica, é o que chama de “ver-dade materializada”.
Ora, quanto mais suscetível ao processo decomplexificação for determinada sociedade, maior será a buscada verdade, seja a verdade existencial, vinculada à polifonia, sejaa verdade crua, vinculada ao carnaval. E, nesse sentido, o carna-val propõe sua simplificação na leitura que dela faz. Desapare-cem as relações estáveis, são rompidos os conceitos vinculadosà tradição, o sagrado se profaniza, instaura-se a atomização doreal e a dialética entre a interioridade e a exterioridade, a
2 0
racionalidade se fragiliza na sustentação das ideologias10
, o ceti-cismo e a iconoclastia se alojam destruindo mitos, dessacralizandoespaços e idéias e incorporando, pelo carnaval, a“remitologização” que tem marcado a literatura do século. E esteé o caminho a ser investigado em Lídia Jorge.
Um caminho contrário àquele é o da sociedade arcaica,presa à tradição, em que subsistem massas de população numestado primitivo, capazes de garantir a permanência dos mitosde seus antepassados, conservando seus rituais religiosos ondepredomina o animismo: o da cultura mítica, representada no“olhar” de Orlanda Amarílis.
Em ambas as sociedades, a necessidade do mito, associadaà busca da verdade, se faz presente. Seja ligado à busca de conhe-cimento e da explicação do não racionalmente explicável, trans-cendendo qualquer real ou qualquer humano e surgindo na almacoletiva de forma espontânea e primitiva; seja pela “remitologização”,que assume caráter particular quando, segundo Mielietinski (1987),alguns escritores o transformam numa espécie de organização ar-tística da matéria e meio de expressão de certos princípios psico-lógicos imutáveis e de modelos nacionais estáveis de cultura. Há,aí, a mitologização da prosa do quotidiano.
Na mitologia compreendida tradicionalmente, trabalhamoscom Bronislaw Malinowski e Ernest Cassirer, na adoção de umaposição ritualística em que a religião primitiva parte de uma intui-ção que não se consegue distanciar do mágico, atribuindo aomito uma natureza simbólico-metafórica, e sua função pragmá-tica está voltada para a afirmação da solidariedade natural e soci-al. Essa concepção da unidade interior mito/rito, da relação e dafunção prática comum é apontada por B. Malinowski. ErnestCassirer, assumindo-a, aponta como particularidade do pensa-mento mitológico a impossibilidade de distinguir o real do ideal,em que, particularizadas ainda mais, vida e morte não se10 Entendendo a ideologia como Althusser (1980) a define: uma representaçãoda relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência,cujos sentidos são fixados historicamente em uma direção determinada.
2 1
antagonizam, o nascimento é retorno, e a existência e ainexistência não são mais do que duas partes homogêneas daprópria existência. Nega-se, portanto, a análise lógica do pensa-mento mitológico, até porque a fantasia mítica resulta da combi-nação da espiritualização do cosmo com a materialização dosconteúdos espirituais. A alma, com as mesmas característicasque o corpo, faz-se sujeito da consciência ética. Para Malinowski,o mito codifica o pensamento, reforça a moral, propõe certasregras de comportamento, ao mesmo tempo em que sanciona osritos, justificando as instituições sociais.
Com relação ao mito, recorremos, ainda, a Claude Lévi-Strauss, cujo enfoque estrutural dos mitos já se intuía nas con-cepções simbólicas de E. Cassirer. Para Lévi-Strauss, a mitolo-gia é antes de tudo o campo de operações lógicas, mas lógicasinconscientes. Vista essencialmente em sua forma metafórica e,portanto, simbólica, a mitologia lança mão de um conjunto finitode meios disponíveis que exercem a função ora de material orade instrumento e são submetidos a uma reorganização periódica.
Por outro lado, Lévi-Strauss considera que o mito semanifesta na História e, mais do que isso, que o fato históricoparticipa da natureza do mito.
Os povos primitivos (...) consagram portanto suas especu-lações míticas explicando a ordem do mundo. Nós explicamos aordem do mundo pela ciência. Mas, para explicar a nós mes-mos nossa história, para fabricá-la, procedemos como os gran-des mitos. (1970:142)
É a perspectiva adotada, principalmente, para a obra deOrlanda Amarílis.
Na “remitologização”, trabalhamos com E. M. Mielietinski,que se baseia no enfoque proclamado pela “filosofia da vida”, comNietzsche e Bergson; na visão anti-historicista, com R. Wagner;na psicanálise, com Freud e Jung e as novas teorias etnológicas.
2 2
O conhecimento íntimo das modernas teorias etnológicas(nos limites da aproximação entre etnologia e literatura, ca-racterística do século XX) pelos escritores não podia impedirque as suas concepções artísticas, mesmo experimentandonítida influência das teorias científicas, refletissem a situaçãohistórico-cultural de crise da sociedade ocidental dos primei-ros decênios do nosso século em proporções bem maiores queas características da própria mitologia primitiva. (Mielietinski,1987: 03)
Esse quadro, evidentemente, não se esgota no início doséculo, mas perdura em autores como Lídia Jorge, quando omito se apresenta como uma certa oposição à história. Entretan-to, reconhece Mielietinski (op. cit.), a ênfase do mitologismo doséc. XX não está apenas no desnudamento da degeneração e dadeformidade do real, está também na revelação de certos princí-pios imutáveis e eternos, suscitados pelas mudanças históricas.Aí, sua concepção não prescinde do humor e da ironia, do car-naval bakhtiniano.
Em qualquer dos dois enfoques, o mito torna-se, portan-to, elemento de composição e revelação do caráter, do pensa-mento, do temperamento, da identidade, enfim, do povo que oproduziu. Da mesma forma, em qualquer dos dois enfoques, suaprodução se dará, na literatura, pelo fantástico, seja por perten-cer a uma realidade fantástica – então referimos o realismo má-gico, a cultura mítica – seja por pertencer a uma realidade raci-onal, que adquire a força da representação do conjunto pelo indi-vidual, pelo onirismo – então referimos o realismo fantástico, acultura racional.
Convém salientar, aqui, que o conceito de realismo mági-co, tal como o entendemos, está intimamente vinculado ao con-ceito de real maravilhoso, empregado por Alejo Carpentier, em-bora em A literatura do maravilhoso o escritor rejeite essa apro-ximação ao resgatar a figura de Franz Roth, crítico de arte ale-mão que criou a expressão por volta de 1924 ou 1925.
2 3
Na verdade o que Franz Roth chama de realismo é simples-mente uma pintura expressionista, mas apenas aquelas mani-festações da pintura expressionista alheias a uma intenção po-lítica concreta(...) uma pintura onde formas reais combina-vam-se de maneira não condizente com a realidade cotidiana.(1987: 123).
Em contrapartida, o real maravilhoso, que eu defendo e queé o nosso real maravilhoso, é aquele que encontramos em estadobruto, latente, onipresente em tudo o que é latino-americano.Aqui o insólito é cotidiano, sempre foi cotidiano. (Idem: 125).
Assim, trabalhamos com o insólito apresentado pela his-tória caboverdiana dentro da própria concepção de A. Carpentier:
(...) o maravilhoso começa a sê-lo de maneira inequívocaquando surge de uma inesperada alteração da realidade (omilagre), de uma revelação privilegiada da realidade, de umailuminação não habitual ou particularmente favorecedora dasdesconhecidas riquezas da realidade, de uma ampliação dasescalas e categorias da realidade, percebidas com especial in-tensidade em virtude de uma exaltação do espírito que o conduza um modo de “estado-limite”. (1987: 140)
Tomado dessa forma, o realismo mágico, a exemplo domaravilhoso, “pressupõe uma fé”.
Por outro lado, recorremos, para a definição de realismofantástico, àquela que Carpentier adota para realismo mágico,ou seja: “onde as formas reais combinavam-se de maneira nãocondizente com a realidade cotidiana”.
Associa-se a esses conceitos, ao tratarmos da identidade,o de imagem, em que trabalhamos, sobretudo, com Daniel-HenryPageaux e a concepção de que, “(...) l’image ‘littéraire’ estenvisagée comme un ensemble d’idées sur l’étranger prises dansun processus de littérarisation mais aussi de socialisation”, en-
2 4
tendendo que seu estudo leva à determinação das linhas de forçaque regem a cultura e que “l’imaginaire social (...) est marquépar une profonde bipolarité: identité vs altérité, l’altérité étantenvisagée comme terme opposé et complémentaire par rapport àl’identité” (1989: 135), na medida em que “Je ‘regarde’ l’Autre;mais l’image de l’Autre véhicule aussi une certaine image demoi-même” (1989: 137).
Expostas as justificativas, identificado o corpus, elucidadosconceitos e posições, torna-se necessário apontar para as ques-tões/hipóteses que norteiam o trabalho e que poderiam ser assimsintetizadas:
a. o discurso literário estabelece um tipo específico derelação com o discurso histórico e social em culturas de nature-za diversa;
b. o colonialismo representou a destruição da identidadeou transformou-se, contrariando a si próprio, em elemento pro-dutor da consciência nacional;
c. os elementos que propiciam o resgate ou a reconstru-ção da identidade no discurso literário trazem marcas dos regi-mes totalitários e coloniais responsáveis pelo emperramento daconsciência nacional;
d. o mito desempenha importante papel na preservação deuma tradição mutável, no reforço e resgate da consciênciaidentitária ou nacional;
e. a imagem do Outro e do Mesmo produz significação noconstructo/revisão do processo identitário;
f. a transgressão dos códigos produz a negação daaculturação e a representação carnavalesca do adentramento aomulticulturalismo.
Considerando essas questões, pretendemos chegar, pormediante a análise da obra de Lídia Jorge e de Orlanda Amarílis,à construção do texto literário, em sua diversidade, a partir dequem se representa. E nelas se representa é o português e ocaboverdiano.
2 6
VISÕES CONSTRUÍDAS1.1- A revolução e a terra trazidas
O panorama mais geral da história portuguesa destasegunda metade do século aponta, com a “Geração de 50”, paraa transgressão dos cânones da narrativa. Rompe-se com a litera-tura de cunho notadamente regionalista e evolui-se da crônicasocial para o enfoque individual e particularizante, em que sedenuncia a estagnação do cotidiano e se busca desvendar aestratificação do espaço sócio-político-econômico. É, então, aefetiva consciência da crise que a arte portuguesa, com caracte-rísticas próprias, busca expressar, abrindo novas perspectivasem outros campos temáticos e possibilitando ao romance adqui-rir dimensões que perpassam a valorização do institucionalizado.
Deixa de existir o domínio absoluto do enredo e insinua-se, já na década de 60, a grande tendência do romance portugu-ês contemporâneo: a narrativa, como obra, torna-se seu próprioobjeto, a história passa a ser a história do romance, quando aban-dona o narrador tradicional, e o dota de nova identidade, quandoconfere à personagem outra definição de seu estatuto, quandoredimensiona o jogo espaço-temporal, quando enfim desmitifica,remitificando a própria escrita.
Mas esse mesmo panorama revela uma ruptura profunda
O
1
2 7
em 1974. Inaugura-se, em Portugal, um tempo marcado porprofundas transformações histórico-político-sociais que se re-fletem em todas as manifestações artísticas e, de forma muitoparticular, na literatura.
É a instauração de um novo valor trazido pelo 25 de Abril,o qual precisa ser redimensionado, na medida em que traz consi-go a desmitificação do poder salazarista e de suas imagensidealizantes, cujo pressuposto doutrinário ficara claro no discur-so do autoritarismo:
Não se discute Deus. Não se discute a família. Não se discu-te a Pátria. Não se discute a Autoridade. [...] É Deus quem nosmanda respeitar os superiores e obedecer às Autoridades.(Salazar. Apud Rosado, 1994: 3)
O aprendizado do elevado valor da obediência, marcadopelo direcionamento ideológico e pelo cerceamento das liberda-des, durou 48 anos, de 1926 a 1974, quando à euforia imediataao desmoronamento do fascismo sucede a perplexidade de umarevolução trazida, parafraseando Manuel Ferreira, feita apenaspelos militares, sem a participação popular. Em 1978, comenta-va Eduardo Lourenço :
A contra-imagem... que a revolução de Abril e suas seqüelasentronizaram, ainda não possui um grau de assentimento coleti-vo e um perfil que permitam considerá-los como estáveis. (1978:61)
Foi “sem transição” que “o povo português passou daconsciência de um sistema semitotalitário ou mesmo totalitário,para a boa consciência revolucionária”, afirma quatro anos maistarde (1982: 63), “sem mesmo se interrogar”. Daí a necessidadede revisão do exercício e da marcha democrática, até porque,ainda segundo Lourenço (1984), as revoluções são, via de regra,
2 8
grandes consumidoras do imaginário ativo e, nesse sentido, arevolução portuguesa foi muito mais uma revolução sonhada doque vivida.
Se houve ou não o que se pode chamar, no sentido literal,de revolução, como sublevação, utilização da força, se MarceloCaetano foi derrubado no 25 de Abril ou se o salazarismo caiupor haver se esgotado em si mesmo, certo é que a descontinuidadee a mudança da tradição cultural e, ainda, a recomposição dascamadas sociais, e assim é em qualquer processo histórico, sãoforças geradoras de contrastes sócio-políticos que encerram sen-timentos igualmente contraditórios, sobretudo a insegurança re-presentada pela crise de parâmetros. Assim:
Buscando encontrar-se, a geração dessa época vive essemomento histórico e posteriormente faz do mesmo a sua leitu-ra. Procura entender o sentido da liberdade anunciada, definirseus caminhos, refletir sobre o acontecido. Então, mitos sãoderrubados, segredos desvendados, alertando, assim, a suaidéia sobre a pátria e sobre si mesma. (Simões, 1992: 659)
A mudança provoca a derrocada de antigos referenciais jáincorporados a conceitos direcionadores no sentido existencial.Há, então, o desamparo diante da queda das hierarquias.
A produção literária, então, se faz reflexão na tentativa deapreender a transformação das instituições fundamentais do Es-tado, a ruptura com a tradição cultural e a própria recomposiçãodas camadas sociais. É, como entende Maria de Lourdes NettoSimões, um modo de repensagem da história portuguesa em re-visão de sua existência (1992: 660). E aí se inclui não apenas oprocesso revolucionário como um todo, como mudança, mastambém a experiência portuguesa de colonização na África.
Estamos, portanto, diante do estabelecimento do diálogocrítico, pela permeação intertextual, entre o texto histórico e otexto ficcional, onde o segundo termina analisando o primeiro e,
2 9
mais do que isso, propondo a revisão da História, sob novosolhos.
Em seu artigo “Literatura comparada, intertexto e antro-pofagia” (1990: 91-99), Leyla Perrone-Moisés destaca, com muitapropriedade, Bakhtin com o novo traço discursivo detectado emromances como o de Dostoiévski, o dialogismo, a presença deuma pluralidade de vozes, o diálogo interno na obra e um diálogoda obra com outras obras e o fato de, a partir da propostabakhtiniana, Júlia Kristeva conceber a intertextualidade.
Importam tais colocações porque, retomando a concep-ção de Bakhtin, a sociedade e a história também constituem tex-tos na medida em que, ao relacionar o texto ficcional aos doisúltimos, temos “caminhos” que se agregam na narrativa. E se,como observa Tatiana Bubnova (1987), a obra de Bakthin trazconsigo o que poderia ser classificado como dificuldade: a nãoapresentação de uma metodologia fixa e fechada, também é ver-dade que, como método, oportuniza a discussão do texto eminfinitas leituras.
As estruturas ambivalentes das narrativas terminam abar-cando pólos antitéticos. O discurso é tipificado pelo estatuto dapalavra. Dessa forma, rompe com a cultura oficial e se instaurapela presença metonímica ou pela associação metafórica. Aí, aambivalência se realiza pela inserção da história no texto ao mes-mo tempo em que o texto se insere na história numa intersecçãoe permutação permanentes de tal forma que a palavra adquire, nanarrativa, uma tripla funcionalidade: emissão, recepção e con-texto, em diálogo permanente.
É, justamente, na linhagem dos temas pós-revolucionári-os que Lídia Jorge estréia na ficção, em 1979. Em seus quatroprimeiros romances publicados O dia dos prodígios, (1979); Ocais das merendas, (1982); Notícias da Cidade Silvestre, (1984)e A costa dos murmúrios (1988), o tema central está ligado àRevolução de Abril, seja na face demonstrada na guerra colonial(A costa dos murmúrios), seja na busca da identidade culturalportuguesa (O cais das merendas).
3 0
“Nós todos estávamos convencidos de que havia um pen-samento filosófico e político tolhido pelo fascismo antes da Re-volução. E o drama é que, quando se tirou o telhado à casa, viu-se que estava vazia”, afirma a autora em entrevista a CremildaMedina (1983: 487). E esse vazio a que alude situa-se na regiãofronteiriça entre o sonho e a ação, uma vez que, comenta, ainda,“temos, por um lado, a total força para sonhar (somos verdadei-ros megalômanos da aventura) e, por outro lado, a debilidadepara agir” (Idem: 489).
Esse vazio a que se refere Lídia Jorge é aquele de todauma geração que viveu a “revolução mítica” e aí construiu suaobra. Se alguns já haviam “separado de seu mito, como VergílioFerreira, ou haviam glosado até a vertigem, como AugustoAbelaira, limitando-se outros, como Fernando Namora, a cami-nhar, calmamente ao lado”, (Lourenço,1984: 8), certo é que, nomomento imediato, a Revolução significou, para eles, silêncio.O mesmo silêncio que Maria Alzira Seixo (1984) atribui, tam-bém, não apenas ao impedimento da publicação, por meio dacensura, mas ao condicionamento e à sensação da inutilidade deproduzir, como fatores inibidores da criação.
Assim, colocando em primeiro plano as figuras que a cer-cam, os portugueses, Lídia Jorge busca, pela ficção, rompercom essa fronteira, preencher o vazio pela possibilidade deautodescoberta de uma nação capaz de revisar ficcionalmentesua história, desmitificar a própria esperança messiânica, tãopeculiar ao caráter português, tanto mais por fazer parte, dife-rentemente dos autores citados, da própria geração literária daRevolução:
Aquela que polariza o élan vital e imaginante do seu tempopróprio, aquela para quem esse tempo é história aberta, luzindecisa na rua, ocasião de descoberta ou reajustamento doseu ser, do seu viver, escolher, amar e morrer (ao menosficcionalmente). (Lourenço,1984:13).
3 1
Em O dia dos prodígios, seu livro de estréia, Lídia Jorge,ainda que situada à margem do exercício da metaliguagem ou dometarromance, recusa o confinamento às velhas formas literári-as.
Entendendo que os “temas eternos” entram em seus li-vros como flashes e não como obras inteiras, liberta-se paraassumir uma posição, diante da história e da literatura, geradorade uma imagem que reproduz o mundo submetendo-o à organi-zação própria, onde a avaliação do real se faz por sua ruptura, àluz do próprio processo ficcional.
Seu estilo evoca o estilo cinematográfico: as personagensfalam – embora não predomine o diálogo tradicional – e produ-zem imagens de uma história portuguesa revolvida por mitos. E,como quer Albérès,
La signification de cette ‘séquence’, le jugement moral quel’on peut porter sur elle, les réfléxions qu’elle suscite sont remisesau lecteur. (1962: 343 (B)
De imediato a autora esboça a sua teoria da transfiguração:
Uma personagem levantou-se e disse: Isto é uma história.Por isso podem ficar tranqüilos nos seus postos. A todos atri-buirei os eventos previstos sem que sobrevenha nada de grave.Outro ainda disse. E falamos todos ao mesmo tempo. E eudisse. Seria bom para que ficasse bem claro o desentendimento.Mas será mais eloqüente. Para os que crêem nas palavras.Que se entenda o que cada um diz. Entrem devagar. Enquantoum pensa, fala e se move, aguardem os outros a sua vez. Obreve tempo de uma demonstração. (Jorge, 1990: 9)
A autonomia das personagens está posta desde o princí-pio, elas assumem o papel primordial. É por elas que a história
3 2
se cria, não mais pelo autor ou narrador que passa a ser, unica-mente, uma espécie de ordenador dos acontecimentos e das fa-las.
Se na escritura tradicional a literatura tem por intento con-fundir-se com a vida ou mesmo substituí-la, aqui fica claro quea história é apenas isto: uma história. Uma invenção que se cons-trói pela construção de seres ficcionais sem que se perca a rela-ção com que ensina Vargas Llosa: dizer que
la novela es una representación verbal de la realidad esuna definición muy vasta (...) porque la realidad podemosabordala de muchas maneras, desde puntos de vista absoluta-mente antagónicos. (1968: 3)
Assim, a personagem escapa ao controle do criador, esta-belecendo-se entre eles uma outra dimensão de diálogo, em queo equilíbrio da técnica expressiva se dá no plano da inventividade.Como ela desconhece o seu destino, desfaz-se a ilusão de queesse destino pertença ao autor ou narrador; afinal, tudo se passa“no breve tempo de uma demonstração” (Jorge, op.cit.: 9), emque a personagem apenas reveste-se de ator.
A liberdade concedida ao ser ficcional é, portanto, anteri-or à história; e porque a história é apenas uma demonstração,sobretudo para os que crêem nas palavras, abre-se a possibilida-de da representação, não da síntese humana, mas de determina-dos tipos conformados, que terminam mascarando as forças so-ciais.
Desaparece a noção tradicional da personagem, o “roundcharacter” de Forster. É quando se instaura a ruptura com alógica literária, para que, daí, emerja um cosmos próprio, noqual as pessoas de ficção constituem a energia imaginativa. Ain-da assim, “remetem sempre, antes de qualquer evento, para umdeterminado horizonte de valores, para uma determinada ideolo-gia” (Aguiar e Silva, 1969: 662).
3 3
Agora, a personagem, papel a ser desempenhado pela per-sonagem, toma a palavra, tornando-se porta-voz de idéias sócio-culturais de um mundo fechado. Deixa de existir a intervenção,a explicação ou a análise da autora, uma vez que o pressupostoteórico a lhe guiar a criação já foi colocado. A romancista cala.A personagem fala. E, ao utilizar a fórmula “e disse”, a autorapermite que a personagem se revele de modo completo. É atransparência do disfarce a que alude Antonio Candido. A histó-ria então se faz. Ela é fictícia. Ela é a representação de uma outrahistória: a história de uma revolução trazida.
A Revolução aqui assim como a cobra que vem “revolver avida” do livro-chave do novo olhar romanesco post-Abril, exi-gência de fala contraposta a um silêncio que era menos o deuma determinada situação histórica castradora que oimemorial, de todos e de ninguém. (Lourenço, 1984:14, 15)
Lídia Jorge cria o fantástico para revelar o real. Ou, emoutras palavras, alegoriza o próprio imaginário nacional, recons-truindo a tensão e a perplexidade históricas pelo volume alegóri-co de sua representação.
A história de Cabo Verde, por sua vez, nos remete, em suaorigem, a uma variedade étnica e a uma sociedade multirracialrelacionada por uma mistura lingüística de que se tomou o crioulocomo língua oficial e que nos remete, no presente, à estagnaçãoimposta pela insularidade e por características geofísicas, expres-sa na sobrevivência de uma sociedade regida por valores arcaicos.
Veja-se que, quando os portugueses chegaram ao arqui-pélago, em 1456, as ilhas não eram habitadas, e, por elas esta-rem situadas entre a metrópole e as colônias do continente, osnavios negreiros aí deixavam contingentes de negros insubmissosou doentes, do que resultou a variedade étnica e o caldeamentolingüístico. Aí a origem da noção bem definida por ManuelFerreira de “terra trazida”.
3 4
Por outro lado, a grande característica climática do arqui-pélago é a irregularidade da chuva. Em período de seca, a popu-lação é dizimada e os sobreviventes emigram para fugir da fomee da sede, numa grande semelhança com o circunstancialismohumano do Nordeste brasileiro, onde a temporalidade se assentana mesma base: seca, ilhamento, força opressiva da tradição.Essa soma de fatores formadores de Cabo Verde, resultando namestiçagem em que o mulato tem ênfase especial, provoca acondição apontada pelos sociólogos como inferiorizante. Gilber-to Freyre, ao comentar esse fenômeno, equivocadamente defi-niu os envolvidos como uma gente que querendo ser européia seexclui da África. Ou seja, uma gente situada entre um regionalis-mo europeu ou africano.
Afirma Pierre Rivas que:
La miscégénation fait du Cap-Vert, au sein des societés créoles,un cas d’acculturation exceptionnelle “un décentrement initial etfondateur” (Jean Benoist), décentrement entre créole et portugais,entre deux registres de l’être, du monde et des pratiquesdiscursives, deux pôles (métaphorique et métonymique). (1985:294)
Se a terra trazida não é terra de origem, não é terra herda-da nem tampouco conquistada, seu povo termina assumindo ca-racterísticas bem distintas daquelas das demais ex-colônias deexpressão portuguesa na África: é a terra do temperamento daamorabilidade
1, de um outro tipo de escravidão que ultrapassa a
relação colonizador/colonizado para sucumbir à forçaescravizadora da própria terra. É onde o sonho passa a forçarevitalizadora, dentro do princípio de Manuel Lopes de que ohomem está ligado a fatores exteriores, os sonhos, às razõespráticas. É onde se instaura o grande dilema caboverdiano: o ter
1 O temperamento amorável, pacífico e solidário que caracteriza o ilhéu.Salvato Trigo definiu assim o caboverdiano: o grogue, a morna e a cabra.
3 5
de partir querendo ficar e o querer partir tendo de ficar, porquese estabelece entre a terra e o homem uma perfeita simbiose,sem possibilidade de cisão.
Esse dilema faz parte da estrutura mental do arquipélago.Como quer Pierre Rivas (1985), a insularidade e odesenraizamento constituem duas estruturas antagônicas da iden-tidade caboverdiana, “l’île, elle-même apparaît comme un abandonphysique du continent maternel”, (Idem: 292), daí a transforma-ção desta insularidade geográfica em insularidade existencial. Éa geografia da ansiedade, como refere Natália Correia, (apudRivas, 1985: 292), é exílio e é prisão e constrói no mar um cami-nho mítico de uma vida idealizada. É a ilha, circunstância imedi-ata, e uma pátria “située dans un ailleurs mythique”, na definiçãode Yannick Tarrieu (apud Rivas, idem, ibidem):
Les littératures aliénées trouvent leurs paradigmes culturelsailleurs qu’en elles-mêmes. L’identification au Père, dans ceslittératures ex-colonisées, est celle du Père colonisateur Blanc;c’est pourquoi, souligne R. Bastide, ces littératures sontmarquées au départ du stigmate de l’imitation. (Idem, ibidem)
O estigma da imitação, numa trajetória que aproxima daidentificação com o Brasil, sobretudo o Nordeste e seucircunstancialismo promovida pela Claridade, ou o próprioenraizamento voluntário ao Continente Africano, por meio daproposta da Certeza e da visão que enceta por influência do Neo-Realismo português, não anula, entretanto, da evolução da expe-riência estética caboverdiana, aquelas mesmas experiências, apon-tadas por Pires Laranjeira (1992). São as marcas decontemporaneidade e mesmo de vanguarda da literatura desteséculo: o materialismo dialético e histórico, aliado à busca deuniversalidade do Neo-Realismo da Certeza, fundamental na re-velação da alienação histórica imposta pela própria situação colo-nial; a questão lingüística, onde se rejeita o cânone centralizador
3 6
e descaracterizador da cultura padrão, possibilitando-se a convi-vência de línguas e falares, “l’intimité d’une langue maternellequ’ils habitent et l’extériorité d’une langue étrangère qu’ilsutilisent”, segundo J. Haowelett (apud Rivas, 1985: 294), e, porúltimo, a psicanálise, quando tipos conformados são surpreen-didos por uma vontade de realização pessoal, buscando rompercom a hierarquização histórico-cultural mediante oaprofundamento do drama social e psicológico. Na narrativacaboverdiana, predominantemente, é um drama ligado à terra.
É a partir de 1936 que a literatura realizada em Cabo Verdecomeça a caminhar em direção a uma organização sistêmica, como movimento decisivo que foi a Claridade, a partir da revista ho-mônima criada por Jorge Barbosa, Baltasar Lopes e Manuel Lopes.O movimento propunha o deslocamento de uma visão européiapara o passado do arquipélago, ao mesmo tempo em que recusavaa tradição portuguesa para assumir a modernidade, sobretudo arealista, a busca das raízes antropológicas e culturais, manifestadano gosto pela etnografia e filologia do crioulo e, ainda, pela valori-zação da criatividade popular, apontando a descoberta de um es-paço marcado pela insularidade, pela fome, pela seca, pelo marfeito prisão e caminho mítico de uma cultura essencialmente mítica.Guiados pelo Modernismo brasileiro, baseados na semelhança como Nordeste, “encararam a independência política brasileira comofactor de relevo para a assunção de uma literatura própria, nacio-nal, e reconheceram a necessidade do regionalismo como primei-ra condição para fugir à ditadura literária da metrópole européia”(Pires Laranjeira, 1992: 23).
Entretanto, “os homens que ousaram contrariar a tradi-ção clássica, escolástica e colonial da cultura caboverdiana eramintelectuais puros, no sentido de que não intentavam qualquermovimentação política, pois não se lhes conheciam filiações prag-máticas ou sectárias”, comenta Pires Laranjeira (1992: 22).
O conceito regional da Claridade é substituído pelo con-ceito nacional da geração que a seguiu: a da Certeza, de 1944,que, sob a influência do Neo-Realismo português, do romance
3 7
regionalista nordestino brasileiro e da introdução de uma visãodialética marxista, adentra por uma concepção nova do coletivo.Nela, a Segunda Grande Guerra tem papel de grande importân-cia, não mais o restrito, não mais o tribal, mas a inserção deCabo Verde, como nacionalidade, dentro do contexto africano.Há a percepção de que o destino histórico e político do arquipé-lago está intimamente vinculado ao contexto africano.
Orlanda Amarílis pertenceu à Certeza e, trazendo consigoaquele ideário, vem-se inserir, em 1974, com Cais- do- Sodré téSalamansa, entre os escritores da diáspora caboverdiana.
Entenda-se, aqui, por diáspora, não unicamente um senti-mento obsessivo de “terralongismo” – a expressão é usada porManuel Ferreira, (1977: 110) e retomada por Pires Laranjeira,(1992: 15) – ou de retorno, com um cunho fortementemessiânico, mas também uma literatura de diferentes recursosestilísticos, inclusive pela aproximação dos modelos europeus, oque, em Orlanda Amarílis, transforma-se em marca de originali-dade, sem anular seu valor social.
A par dos modelos euro-ocidentais, Orlanda Amarílis pro-cede à reconstrução da linguagem, num processo de reatualização,pesquisa e invenção permanente, estabelecendo a ligação entre oque Manuel Ferreira define como uma “linguagemcaboverdianizada das mais bem conseguidas” (1977: 69), e acultura local, entre o aprofundamento psicológico e o meio soci-al em que as personagens se inserem. Assim, a linguagem utili-zada por Orlanda está intimamente vinculada a um olhar perma-nentemente voltado para o arquipélago.
Se a recriação de forças espontâneas, coletivas e incons-cientes só se pode expressar por uma linguagem própria, paraque deixe transparecer o temperamento e o caráter de um povo,em Orlanda Amarílis, essa linguagem é a da especificidadecaboverdiana, marcada pelo uso simultâneo do português e docrioulo. É um crioulo próprio, para o qual contribuíram o portu-guês e várias línguas africanas, aquelas “rudimentares, julgadas,
3 8
pelos colonizadores, uma sucessão de grunhidos, não verdadei-ras línguas, denominadas, pejorativamente, de ‘dialetos’, meiosinadequados para a expressão dos mais simples pensamentos”(Petter, 1993: 3).
Hoje, o crioulo pode ser considerado uma língua novilatina,a língua caboverdiana, e possui um 97% (Ferreira, 1977: 62) doseu léxico proveniente do português,
e naturalmente a reapropriação (com tudo quanto a pala-vra implica: reelaboração fonética, morfológica, sintática e se-mântica) continuada de palavras (sintagmas) portuguesas porparte do dialeto crioulo que são depois devolvidas, já modifica-das, à escrita em português. Eis assim o portuguêscaboverdianizado onde, inclusive, por vezes, o eixo sintagmáticoé alterado.
Esclareça-se, aqui, que as línguas européias têm, hoje, naÁfrica, uso restrito a certos domínios como a educação, a polí-tica e a área comercial.
Por outro lado, a associação à língua importada, obilingüismo é revelador da ambigüidade cultural gerada por umprocesso histórico que deixou suas marcas, além do não reco-nhecimento do estatuto literário da língua da terra, justificadotanto pela fragilidade da organização teórica das línguasvernáculas quanto pela própria tradição da oralidade africana. Apalavra falada, essencialmente dialógica, é reveladora daessencialidade comunitária. Assim, o intercâmbio direto da pala-vra serve de garantia à manutenção dos valores civilizatórios, osmesmos valores civilizatórios que Orlanda Amarílis busca trans-por para a literatura com a inserção do crioulo e de uma lingua-gem caboverdianizada, isto é, um português alimentado pela in-terferência permanente do crioulo falado, da quotidianeidade doviver íntimo.
Na verdade, como bem observa Pierre Rivas em seu es-
3 9
tudo “Insularité et déracinement dans la poésie capverdienne”(1985), a passagem da sociedade comunitária, da estrutura oralà escrita, significa o primeiro grande desenraizamento, até por-que norteia o princípio de que o idioma do colonizador é identi-ficado com o poder, ao passo que a língua do colonizado nãotem prestígio nem eficácia.
Le déracinement symbolique- viol et violence - estarrachement à l’Imaginaire Maternel; il est, pour parler commeDerrida, passage de la phone à la graphe, de la fusion telluriqueet maternelle, l’imaginaire lacanien, à la Règle, la Loi, leSymbolique, l’Instance de la Lettre, le Nom du Père;déracinement de la phusis Mère et Nature et irruption du discourset de l’insularité. [...] L’identification au Père, dans ceslittératures ex-colonisées, est celle du Père colonisateur Blanc...(1985: 292)
Isso explica por que, com exceção de alguns casos rarosde uso literário do crioulo, notadamente em escritores de CaboVerde, entre os quais, por exemplo, Luís Romano se salientacom a experiência de Lzimparim-negrume, de 1973, que reúnepoesias e contos em crioulo de Santo Antão acompanhados datradução livre em português, no esforço de transformação docrioulo, efetivamente, em língua literária, as literaturas emergen-tes das ex-colônias portuguesas da África são, predominante-mente, escritas em português. Mantém-se, portanto, o paradigmacultural externo, no colonizador branco.
Mesmo em Cabo Verde, há a preferência pela utilizaçãodo português. Entretanto nos diálogos que envolvem persona-gens populares, a interferência do crioulo é inegável e constante.“A literatura será, durante a vigência cruel do colonialismo mo-derno”, afirma Pires Laranjeira (1985:125), “ o único lugar dereunião da oralidade e da escrita...” Muito contribui para isso aprópria produção popular, sobretudo a morna, grande expressãoartística do homem crioulo, além das finançons ou canções de
4 0
batuque e dos curcutiçans, as canções de desafios. Tudo issorepresenta um verdadeiro substrato dialetal popular que estimu-laria a produção literária.
Aí se favorece a convivência de falares, o hibridismo, osneologismos, a invenção permanente que, em Orlanda Amarílis,constitui um traço de singularidade, ainda que não dentro da rup-tura e da invenção que marcou, por exemplo, Guimarães Rosaou Luandino Vieira. A construção do seu texto, embora integra-do à Certeza, que praticamente desconhece o dialeto na sua bus-ca de universalidade, é voltada para a fonte inesgotável de recur-sos estilísticos em que se configura o próprio crioulo. Há, porisso, uma espécie de reapropriação do lastro dialetal de granderigor e efeito sugestivo imagético, em que o real, os gestos, asfalas, o quotidiano, a análise social e psicológica emergem nodesvendamento do espaço e das sensibilidades das gentes de CaboVerde de que, entre outras, a narrativa “Luísa, filha de Nica”, deCais-do-Sodré té Salamansa, pode bem ser paradigma.
Do ponto de vista ideológico, a produção literária em cri-oulo ou, melhor dizendo, com o uso do crioulo, passa pela faselírica, às vezes portadora de uma conotação social, e pela fasemarcadamente ideológica, de protesto e de invenção política. Otexto amariliano medeia as duas fases ao trazer consigo aessencialidade, o temperamento e o caráter de um povo marca-do pela “amoralibilidade” e pela nostalgia, a nostalgia de quemparte, a tristeza de quem fica.
O espaço literário que ocupa a obra de Orlanda Amarílis éum espaço repartido entre São Vicente e Lisboa e surge como eixofundamental na medida em que, também “escrava da terra”, nosentido anteriormente referido, transita entre um certo desencantoou nostalgia do exílio, entre a sensação de estranhamento e o olharvoltado para a terra natal, com seu sofrimento, sua fome, seuilhamento e seus mitos. E aí, ao enveredar pela relação com CaboVerde e suas raízes, penetra, não raro, no realismo mágico. É poronde nos coloca diante de “comportamentos nos quais se verificao surto original de uma atitude espiritual”, como sugere Gerd
4 1
Bornheim (1961: 47). “Integrado o homem inicialmente no seioque o gerou, suas potencialidades espirituais desabrocham”, de-sabrocham sua caboverdianidade, sua africanidade, a naturezatribal, a associação ao cosmos. É o que nos mostram os contosde Cais- do- Sodré té Salamansa (1974), Ilhéu dos pássaros (1982)e A casa dos mastros (1989), que fazem, hoje, de Orlanda Amarílisuma das mais importantes escritoras dos cinco países africanosde língua portuguesa.
Assim, a revolução e a terra trazidas são dessemelhançasque terminam em confluência através de visões que precisamser redefinidas a partir do seu próprio processo histórico. É oque fazem os textos ficcionais de Lídia Jorge e Orlanda Amaríliscom sua construção voltada para a redescoberta das fontes domito, onde o regional se projeta no fantástico.
Esclareça-se, aqui, que o fantástico traz consigo duas pos-sibilidades de visão: ou ele é tido como categoria estética quedefine a relação da obra com a realidade representada ou é tidocomo uma tendência do ponto de vista da história literária.
Importam essas ponderações porque, na verdade, diantede Orlanda Amarílis, e uma cultura mítica, e de Lídia Jorge, e acultura racional miticamente representada, situamo-nos em ambasas possibilidades.
No primeiro caso, a literatura fantástica, que tem comovertentes o realismo mágico e o realismo fantástico, em geralrepresenta a realidade por meio de elementos fictícios que nãorepresentam o comum da experiência cotidiana, mas que podemser tomados simbólica ou alegoricamente. E é aqui que se colocaLídia Jorge, com o seu O dia dos prodígios.
No segundo, por sua vez, estamos falando do realismomágico como uma tendência literária que apareceu nas literatu-ras latino-americanas na segunda metade do séc. XX, sobretudona ficção do meio rural, como uma expressão da vitalidade dacultura popular, que é aproveitada na criação literária com a fina-lidade de definir a identidade nacional contra as influências euro-
4 2
péias e norte-americanas. Os elementos fantásticos utilizados,aqui, procedem de mitos, fábulas, lendas, entre outros, de ori-gem índigena, africana ou popular, em geral. É comum que oseu aspecto sobrenatural seja tomado como natural, porque, paraos habitantes indígenas da América e para os africanos, toda arealidade circundante é preenchida por qualidades mágicas, emque se estabelece a unidade entre o real e o fantástico. O realis-mo mágico, então, termina expressando a relação de toda a cul-tura com a sociedade. Aqui se insere, obviamente, a obra deOrlanda Amarílis e, aqui, a fonte de Lídia Jorge, na literatura sul-americana, notadamente, no tratamento que dispensa ao tempo,na atmosfera fabular, na pluralização dos lugares do discurso, oque permite a ocorrência paralela de temas e intrigas, na recusaao diálogo direto e, fundamentalmente, na dimensão fantásticaligada ao tratamento dispensado aos mitos.
Aí que, segundo a escritora, o continente sul-americano dábanho e mostra que o grande romance de fabulação não mor-reu. Houve já quem comentasse que Lídia Jorge lhe segue orastro. “Fico contente com a semelhança, porque no final dascontas isso reforça minhas posições quanto ao romance. Pro-va-me a evidência de que o gênero está vivo. E tenho a certezade que, se não tivesse lido Garcia Marques ou Vargas Llosa,escreveria da mesma maneira.”(Medina, 1983: 486)
Assim, a exageração da experiência cotidiana, provocadapela imaginação mítica, ou o mito como forma superior da nar-ração fantástica, tomada em suas duas vertentes, funcionamcomo revelador de verdades essenciais onde se reconhecem, deum lado os conflitos reais e naturais e, de outro, a crença emforças que ultrapassam as possibilidades racionais humanas. Sãoas forças sociais e as forças cósmicas.
Nesse sentido, em ambas as escritoras, há o revolver deraízes, o registro lingüístico popular, o neologismo e o hibridismopara expressar um velho universo ficcionalmente novo e único,
4 3
de leis próprias.
Orlanda Amarílis parte de uma cultura essencialmentemítica sufocada pela questão histórica do colonialismo e da opres-são civilizatória aliada ao drama da terra; Lídia Jorge, ao contrá-rio, parte de uma cultura européia, racional, para recriar a cultu-ra local. Apesar da diferença de caminhos, em ambas se lê umprojeto de reafirmação de identidade.
1.2- O texto, o mito e o mito produzidoSe o mito e o fato estabelecem entre si uma correspon-
dência, na medida em que se expressam mutuamente, tambémse pode afirmar que tanto o pensamento cria o mito, quanto omito representa noções mentais, quando anima, define ou defor-ma objetos reais. É onde se instaura, na literatura, o corte naliteratura realista, permitindo a entrada do elemento fantásticodefinido pela ruptura com as ligações convencionais e lógicasque regem o real ou pela representação da realidade por meio deelementos fictícios que não correspondem à experiência comum.
Lídia Jorge mitologiza a prosa quotidiana.
Como quer Forster em Aspects of novel, O dia dos prodí-gios conta uma história composta pelos valores da vida: umavida simples. Incorpora a poética do cotidiano de uma vila doAlgarve, sendo, também, uma história de amor de um Macário“aluado” à espera de Carminha, filha de “pai incógnito”, geradano batistério, que, por sua vez, espera por um forasteiro quevenha buscá-la.
Vêm dois, o soldado, que morre de acidente de arma, e osargento, que traz consigo os requintes de crueldade da guerracolonial. Mas só Macário promete fazê-la rainha.
Tudo se passa em Vilamaninhos, aldeia simples e isolada,com seus habitantes tipicamente interioranos.
Entretanto, O dia dos prodígios é mais do que isso. Os
4 4
acontecimentos, as histórias individuais são pretextos para re-flexões outras que serão dadas por situações insólitas.
O cenário abarca o comportamento mítico de uma socie-dade velha, “onde a povoação vai ficando um ovo emurchecido,que fede, gorado, e não gera”(Jorge,1990: 18), tornando-se umespaço fechado:
Que o círculo é sempre um círculo de terra e ar. Como oredondel dum copo virado, atrás do ser da pessoa. Por cima osastros, por baixo o pó e as pedras, e o mesmo redondo atrás,ele no meio. Ah prisioneiro. Quem uma vez não saiu deVilamaninhos não conheceu nem conhecerá a realidade da ter-ra. (Idem: 35)
Desaparece a noção de cronologia porque o tempo tam-bém se recompõe num círculo fechado, num direcionamentosempre inverso – “ o futuro é o presente a andar lentamente paratrás ” (Idem: 188) –, adquirindo caráter ritualístico, de onde,pelas falas coletivas, emerge a tradição. É a simultaneidade, des-tacada por Lévi-Strauss, de diacronia e sincronia.
Coincidindo com a Revolução dos Cravos e marcandoum corte vertical no equilíbrio da vida amorfa, uma cobra fogevoando, como uma luz que transforma temores em imagens ra-cionalmente pouco nítidas:
A cobra fez duas roscas à volta da cana, saiu dela, e voan-do por cima dos nossos chapéus e dos nossos lenços, desapa-receu no ar. Voou no ar. No ar como se fosse uma avezinha depena. Oh família. Digam a verdade. Como se fosse uma avezinhade pena. Ninguém me deixe mentir. Digam se não viram a cobraalevantar-se no céu, abrir umas asas de escamas, espelhadas efurtacores. Digam a verdade. Abriu as asas, e as escamas dabarriga pareciam um fole de navalhas. (Idem: 23)
4 5
Alguma coisa muda. Todos ficam diferentes. Estabelece-se a cisão entre o antes e o agora, e o agora não é melhor porquerevolvem-se culpas e comportamentos ancestrais, e tudo torna-se aviso e pressentimento. Enquanto o presente se esvazia, jáninguém trabalha à espera de um futuro carregado de significa-ção.
Acredita-se que os soldados da Revolução, verdadeirosoperadores de milagres, possam explicar o fenômeno da cobra,decifrar os sinais, mas eles não têm a resposta. Essesinauguradores de futuro, os salvadores, portadores da liberdade,da justiça e de uma consciência que os habitantes de Vilamaninhosnão possuem, apenas contentam-se porque “nessa terra ainda segosta de milagres. Já começa a ser raro...”(Idem: 185).
Se os soldados vieram “ensinar” os novos valores, nãoforam compreendidos, até porque a compreensão do presentesó se faz como parte de um processo cujas raízes estão na expe-riência humana vivida coletivamente, verdadeira matriz potencialde futuro.
Quer dizer, em O dia dos prodígios, a autora liberta-seda racionalidade européia e portuguesa para criar uma realida-de insólita e ambígua, numa aldeia simples e isolada. Evoca, naprópria reconstrução lingüística e na vivência cultural, as raízesportuguesas, revolvendo seus mitos, adensando-os pelo fan-tástico.
Lídia Jorge recria a cultura local tendo como elementohistórico a ligar os referenciais espaço-temporais a Revoluçãodos Cravos, até porque o mito, como representação do imaginá-rio coletivo, e o fato são uma e a mesma coisa vista de maneiradiversa, já que o primeiro corporifica o segundo.
Justamente esse revolver de raízes, por meio da constru-ção ficcional voltada para as fontes do mito, em que o regionalse projeta, mais o registro popular, com a presença do neologis-mo, do arcaico e do moderno, expressam um universo novo, deleis próprias.
4 6
A história centrada à volta de um núcleo fantástico, ale-górico e simbólico propõe a dissociação do real com base naassociação de idéias. O contorno das coisas termina adquirindodimensões irreais – como a vassalidade e a libertação para omundo premonitório, de Branca; como a ausência das fronteirasde vida e morte de José Jorge; como a composição de Esperançacomo matriz geradora; como a personificação da força domatriarcado em Jesuína Palha, etc. –, mas são essas dimensõesque guardam as significações ocultas e fundamentais para o seuentendimento.
Coletivo e primitivo, o mito, que traz consigo o valor deuma realidade intrínseca, deixa transparecer o temperamento e ocaráter do povo de Vilamaninhos. Ele reflete, como um espelho,o pensamento espontâneo.
Porque aqui se uma cobra salta dizem todos que voa. Eficam embasbacados de queixo levantado, olhando a pontinhadas chaminés. Mas se um carro aparece cheio de soldados,falando da mudança das coisas, olham para o chão desiludi-dos. E dizem. Mudança? Só porque os indivíduos, apesar defardados, têm boca e cu como os demais. E Jesuína Palha disse.A gente? E o cantoneiro disse. Sim vocês. Vocês queriam asas,mantos, luzes, chuvas de maravilhas e outras coisas semelhan-tes. (Idem: 205)
Nesse sentido, a cobra é, ao mesmo tempo, fruto da ad-miração e do medo gerados pelo instinto do conhecimento e,também, a representação da imaginação e das impressões dossentidos e, ainda, o pressentimento correspondente a um deter-minado período da história política e social portuguesa. A Revo-lução em Lisboa é o que dá sentido a todos os sinais vindos “docéu”.
A presença metafórica da cobra assegura-se no dragãovermelho que Branca borda interminavelmente.
4 7
Essa mutação, como bem observa Mongelli (1991: 133),remonta à Bíblia, onde a serpente, que leva Eva à desobediência,pertence ao mesmo espírito do dragão apocalíptico, identificadoa Satanás e às forças do mal. Mongelli traça o esboço quecorresponde a uma visão arquetípica da cobra-dragão: o forma-to de estrela, de Vilamaninhos, semelhante à que guiou os pasto-res a Cristo e em cujo centro está a casa de José Jorge Júnior,último descendente do fundador da vila que, encontrado numcesto e alimentado por leite de cabra há cem anos, enfrentou osoldado emissário de um rei espoliador, o mesmo Jorge cujosfilhos partiram e o décimo-segundo nasceu morto; a libertaçãode Branca do jugo do marido, com a conclusão do bordado e aaquisição da característica premonitória; a obsessão por limpezada Carminha Rosa e sua filha Carminha Parda, como busca deresgate da culpa original; o papel de Jesuína Palha, líder, embusca de indícios e sinais e de explicações para o ocorrido; aação de Macário, terceiro noivo da Carminha, poeta e cantador,capaz de ter um sentimento transcendente, superior ao estigmado pecado.
Lídia Jorge recorre em O dia dos prodígios aos mitoscosmogônicos e às lendas cavaleirescas. É possível reconhecer, jáapontados por Mongelli, Ulisses, Moisés, Rômulo e Remo, Tristãoe Isolda, Galaaz, Cristo e seus apóstolos, Sibilas, além dos “ moti-vos lendários como o rio que seca, as pragas que assolam a cidade,o ‘bode expiatório’, as cores (branco, vermelho, dourado), o dosnúmeros (são 4 os avisos, 3 os noivos), etc.” (Idem: 134).
Assim, a cobra-dragão sintetiza a bipolaridade bem/mal,cujas origens remontam às mais arcaicas civilizações, embora,como bem observa Lênia Márcia de Medeiros Mongelli, o livrodo Gênesis, os Salmos, o Livro de Job e principalmente oApocalipse de São João lhes tenham revelado a forma mais co-nhecida desde a Alta Idade Média. Há que se acrescer, ainda, asua presença na tradição folclórico-popular.
Se a força do dragão vem dos elementos primitivos – ter-
4 8
ra, ar, fogo e água – como se apresenta no Bestiário medieval(Apud Mongelli, 1991: 135), “O dragão é a maior de todas asserpentes e, na verdade, de todos os seres vivos (...) Quando odragão sai da cova, freqüentemente se eleva aos céus e o ar aoseu redor torna-se ardente”- então, está estreitamente vinculadoaos ritos de fertilidade, de acordo com o simbolismo da águaque fecunda a terra e é responsável pela evolução cíclica da vida.
Assim, seu sentido de Bem ou de Mal marca-senotadamente pela cultura e momento histórico em que se insere.Prioritariamente assinala a vitória do herói sobre o monstro, des-de, por exemplo, as novelas de cavalaria dos séculos XII e XIII,ou as hagiografias que mostram os santos em vitória sobre asserpentes. Entretanto, em Vilamaninhos, predomina a ambigüi-dade, até porque, conforme E. M. Mielietinski (1987: 75), dra-gões e serpentes referem a ameaça de conquista total da consci-ência pelas forças do instinto, e tal ambigüidade é alimentadapela inércia.
Mudou a vi da. Dizem que quem vai lá, e vê o que lá vai e sepassa, não só acredita que uma cobra possa voar, como já nemligará a esse feito relacionado com a minha vida passada.[...]Os bons andam a procurar os maus. Não para lhes fazeremmal, mas. Como se o céu tivesse descido à terra. Apenas paralhes mostrarem com o dedo, o número dos seus crimes. (Jorge,1990: 168)
Como diria Albérès, em O dia dos prodígios as ima-gens míticas são propostas como equações, na tentativa de re-cuperação de certas experiências em que se renova um senti-mento de estaticidade social, sim, mas em períodos, talvez porisso e paradoxalmente, mais confiantes.
No nível da história, o presente fictício e o presen-te real são absolutamente contrastantes.
Afirma-se a existência do passado como presenteporque o passado é guardador de determinados valores em
4 9
Vilamaninhos e para Vilamaninhos, como o bem, a força moral, aausteridade, último resquício, enfim, de uma tradição prestes aser engolida pelas transformações, em que o coletivo é devoradopela solidão das forças sociais. Daí a afirmação de que:
Esses que aí vieram mostrar-se nem chegaram a ouvir avoz da gente.[...] A gente só devia ouvir a gente. Não acreditarem nada além da gente. Sempre que damos ouvidos a outros,ou matam cães ou levam a esperança que a gente tem. ManuelGertrudes repreendeu. Cala-te, Macário. Não vá essa gentearrepender-se do pouco que nos deu. Porque o pouco é sempremelhor do que nada. (Idem: 187)
Ora, o mito, como explicação alegórica ou simbólica pri-mitiva, não aparece, na obra jorgiana, com seu caráter primeirode satisfazer a curiosidade, mas como tendência da própria lite-ratura do século, ao voltar-se para a remitologização.
Esse renascimento do mito, no século XX, termina en-globando a “Filosofia da vida”, tal qual concebida por Nietzche eBergson; a psicanálise freudiana e, particularmente, os arquéti-pos de Jung; as novas teorias etnológicas, em que se destacam,entre outros, Ernest Cassirer e Boris Malinowski. É quando omito é apreendido em uma função pragmática, regulando e apoi-ando a ordem natural e social, por meio de um sistema simbólicopré-lógico, resultante da capacidade imaginativa e criativamentefantasiosa do homem.
Se o mito relaciona-se, no Modernismo, à consciência dacrise da cultura burguesa e à crise da civilização, em O dia dosprodígios, tal qual prevê P.H. Rahv (apud Mielietinski, 1987: 03),o significado alegórico que abriga, vinculando-se à história naci-onal e aos costumes do seu tempo, expressa o medo e a descon-fiança por ela produzidos. É também por onde se dá sua identifi-cação com a ideologia e a psicologia. Longe de um caráterapologético, o mito é fator de desmascaramento, sim, da dege-
5 0
neração e da deformidade, mas também fator de desvendamentode princípios imutáveis, localizados entre o cotidiano empírico eas mutações históricas. É o que Mielietinski chama demitologização franca da história: o humor, a ironia e acarnavalização como liberdade ilimitada do criador revisam, cri-ticamente, o sistema como um todo.
Já nos contos de Orlanda Amarílis, a ruptura com o realnão é criada, mas trazida à ficção na transposição da própria cul-tura africana. Essa ruptura reside no cerne da identidade de CaboVerde e da África, uma vez que a integração com o cosmo, oanimismo e o fetichismo religioso apontam para a identidade deuma cultura mergulhada no mito e na tradição oral, uma espéciede linguagem adequada à descrição de modelos eternos de com-portamento, de certas leis essenciais do cosmo social e natural.Assim, aqui, o mito não é uma narrativa alegórica ou simbólica.Ele é a vivência de uma realidade relacionada ao destino humano eao destino do mundo, embora se mantenha sua definição comorepresentação por meio de imagens fantásticas do mundo, de deu-ses e espíritos que regem o mundo. Aqui, a realidade mágica é aapreensão mesma da realidade africana, onde é típico que seuaspecto sobrenatural seja considerado real, natural, numa ligaçãoentre cultura e realidade regida por qualidades mágicas. O mitoremonta a tempos pré-racionais, mas permanece na sua reprodu-ção por meio dos ritos e de suas significações mágicas. O mito,como quer Mielietinski (1987: 40), “codifica o pensamento, re-força a moral, propõe certas regras de comportamento e sancionaos ritos, racionaliza e justifica as instituições sociais”.
Como um ser eminentemente religioso, o africano sem-pre procurou, em sua história, um alimento espiritual mais sóli-do do que o que o seu primitivismo lhe pudesse proporcionar,por meio de uma filosofia e uma metafísica muito mais intuitivasdo que refletidas.
A superstição ou a magia incidem sobre objetos bem de-terminados que materializam, de uma forma mais genericamenteacessível, a noção de divindade ou, pelo menos, de força divina.
5 1
A força do espírito é uma constante de considerável energia.
São esses elementos que Orlanda Amarílis vai buscar nacultura popular e que constituem a própria ritualização da vidacomo formas construídas para viver dentro de determinada rea-lidade, como força de permanência do olhar voltado para a suaterra.
“É devera, ela deitou-lhe sorte e deu um rei de copas nomeio de Piedade e de Teodoro. Depois, deu três de paus e qua-tro de paus e ainda dois de espadas. Quer dizer, dentro de trêsmeses, por caminho de mar, numa noite que é duque de espa-das, havia de sair para longe desta terra. E foi assim, não foi?”
Nh’Ana estava de boca aberta quase a tremer e a comadresentia-se feliz. Feliz por sujeitar Nh’Ana a uma evidência tãoclara como a das sortes com cartas. Apenas não lhe contousobre as cartas pretas à volta da Piedade. (Amarílis, 1982:17).
Ou, mais adiante, no mesmo conto, “Thonon-Les-Bains”:
Quebranto podia apanhar qualquer pessoa em qualqueridéia. Por isso gente põe os fios de conta, pretas e brancas, devolta das barrigas de menino-novo, por baixo do umbigo. Gen-te-grande não precisa de um fio de conta de quebranto, masquando desconfia de quebranto vindo por um elogio quase sem-pre (inveja), e de um olhar intenso (mau olhado), é fazer figascom a mão esquerda escondida por entre as saias, debaixo deuma prega ou mesmo a mão atrás das costas. Figa canhota,bardolega, mar de Espanha. E assim a força malfazeja de olharou das palavras é afastada. (Idem: 19,20)
Apesar da magia colocada sobre os objetos, as cartas e ascontas, numa comunicação com uma outra esfera de realidade,é, sobretudo, “na conversa de espíritos, na conversa de morto-
5 2
vivo, de avassalamento, de coisas de intentação” (Idem: 43) queo realismo mágico aflora nos textos de Orlanda Amarílis. Taisquebrantos possuem uma função social específica como meca-nismos de anulação da competição na medida em que a própriasociedade é, naturalmente, produtora de diferenças.
É assim com Simão, em “Cais do Sodré”, que, “por artesde maçonaria”, costuma fazer aparecer um vapor de guerra àmeia-noite e “é um arrastar de ferros e nhô Simão a gritar a noiteinteira para a marinhagem” (Amarílis, 1974: 16).
É assim com Rolando, de “Rolando de nha Concha”, sur-preendido com seu próprio enterro, transformando a morte narepresentação final da vida, sem que haja, necessariamente, rup-tura entre vida e morte. É que a iniciação compreende uma espé-cie de morte provisória, simbólica, abrindo caminho para arevivificação, para um novo nascimento e para o contato com osespíritos.
Nhô Totone e nhô Jom Santos, abafados pelos gritos de nhaConcha, deixaram cair as abas do caixão sobre o corpo hirtode Rolando, sobre o seu próprio corpo, Senhores!
E a surpresa má refeita de Rolando aderiu ao desespero denha Concha e ambos gritavam: “Não, não, não!” (Idem: 37)
É assim com Rodrigo que “cheira à morte”, em “A casados mastros”, a casa que surge como “cenário de uma trans-gressão no quotidiano de uma pacata cidade” (Amarílis,1989:39), ou “Laura”, que veio buscar a amiga e terminou morrendopela segunda vez, porque a possibilidade de reencarnação se mul-tiplica, mas é principalmente assim, num conto impressionantechamado “Luísa filha de Nica”, de Ilhéu dos pássaros.
Evocando a unidade entre o real e o seu elemento mágico,Amarílis recria a apreensão do mágico em três planos que seinterpenetram: o real objetivo, o real imaginário e a fusão dosdois.
5 3
O espaço, que é um espaço fechado, marcado pela opres-são da miséria, do insulamento e dos conceitos tradicionais, evolui,gradativamente, do quintal à cidade e desta a um outro plano quese pode caracterizar como espaço do transe, o “espaço deventona” – de um mesmo vento que, no real objetivo, age comoelemento de desorganização, no fim de tarde – para “fora de seuchão”, para retornar, depois, à casa do início, mas já então uma“casa avassalada”.
Um vento empurra-a para fora do chão, para um espaçode ventona, de calhaus, de vulcões mortos, de poeiraredemoinhada. Tapou o nariz com as duas mãos e caminhou decabeça inclinada, corpo em arco, contra a tempestade sem chu-va, sem trovões ou relâmpagos. E este desfragar de rochasdesfeitas em pedregulhos sempre atrás dela. E sempre a fugir eas pedras aos saltos, em passadas certas e fragorosas. Sãopassos de canelinha. Canelinha é tão leve e tão corpo uno depernas, braços, cabelos, um todo canelinha (...)
Luísa dava passadas no ar (...) Cada passada tinha o ta-manho de um dia.
A ventona aqueceu, era um bafo de caldeirão, bafo de óleode purgueira.(...)
Ia iluminando a superfície e escorregava em bicos de pés.
Ensaiou um bailado e gargalhou. Andou, escorregou, des-lizou de gatas. Atravessando colinas de espuma,(...) como ara-nhas cinzentas entre a coisificação da vida sem vida.
Nunca mais chegava ao termo da jornada e nem já tinhaconta do tempo.(...)
Voava, Luísa de cabelos soltos, seios virgens expostos, paraamamentar quantos mil filhos viessem. (...)
Os portões fecharam-se sem pressa. Luísa gritou (uivou?)e foi de encontro aos batentes onde socou cem vezes(...) Escor-regou, as mãos desceram pela superfície (...) e deixou-se entãoembalar no mar de espuma de purgueira quente. (Amarílis,1983:
5 4
39,40)
No espaço mítico, a conexidade é, portanto, neutra. Asrelações se estabelecem sem lógica, sobre uma identidade pri-mária não identificável, e o cosmo é constituído, por sua vez,sem um modelo determinado. Segundo Cassirer, o sistema derelações remonta, até certo ponto, à intuição humana relaciona-da ao próprio corpo, ligando-se a ele o sentimento primário mi-tológico-religioso.
O tempo é também um tempo fechado, circular: “dez anos,vinte anos, cem anos?”, um tempo que anda sem sair do lugar, olugar do transe, formando um eterno ciclo. O tempo mítico con-figura-se como um supratempo de tempos primeiros, anterio-res, portanto, à contagem empírica, que, no entanto, é assimila-do por ela.
É aí que são trazidos à ficção os elementos míticos dacultura, a questão da mediunidade, da limpeza psíquica, dos es-píritos zombeteiros, marcando sua presença não mais por meiodo transe de Luísa ou do retorno de Anton, o tio que ela acom-panha e que morrera antes mesmo de ela nascer, mas por meiode “bolinhas atiradas contra a parede, que desfaziam-se espalha-das pela casa. A colcha estava toda pintalgada. Pareciam espir-ros de lama”(Amarílis, 1982: 44).
É quando a forma de pensamento mitológico transformatoda a realidade em metáfora.
Se a questão da transmigração das almas aparece já naantigüidade – Anaxágoras, pensador grego, herdeiro da tradiçãocientífica e racionalista de Jônia, quem primeiro admitiu o espí-rito (nous) como força explicadora das coisas, presente na dife-renciação entre “vivos” e “não-vivos” –, é no século XIX quesua releitura é feita e, então, à luz do positivismo.
Coube a Allan Kardec sistematizar o Espiritismo numadoutrina que se encontra exposta em suas obras: O livro dos
5 5
espíritos, O evangelho segundo o espiritismo, O livro dosmediuns, O gênesis, Os milagres, As predições segundo o espiri-tismo.
Tal filosofia entende o Universo como resultante dos se-guintes elementos: Deus (inteligência suprema, causa primeira),espírito, matéria e o fluido (intermediário entre o espírito e amatéria). Distingue os espíritos em perfeitos e imperfeitos e ad-mite o princípio da reencarnação.
Surgindo contra a propagação das idéias materialistas, oEspiritismo enfrentou, a um só tempo, duas correntes opostas: ados cientistas materialistas e a dos defensores da religião cristã,tanto evangélicos quanto católicos.
De qualquer forma, o espiritismo passa a ser uma filoso-fia que se complementa e se compromete com o socialismo,embora tenha divergências internas. Há, por exemplo, uma ver-tente espiritualista inglesa que nega o reencarnacionismo, comohá a discussão entre o espiritismo marxista e o liberiano.
Embora o fenômeno na religião negro-africana, o banto,onde se sobressai, como entidade, Calunga, com seu culto aosmortos, tenha a mesma natureza, isto é, o princípio da reencar-nação e a manifestação do espírito dos mortos entre os vivos, aínão se passa pela sistematização de idéias que trouxe o séculoXIX. Há, isso sim, uma mentalidade religiosa que envolve a questãoda permanência, portanto, do culto afro, mas, ainda, na fasepré-racional.
A natureza extravagantemente fantástica da mitologia pri-mitiva e o seu idealismo espontâneo não excluem, entretanto, osignificado cognitivo das classificações mitológicas e o papelordenador dos mitos na vida social da tribo. Na própria gera-ção e no funcionamento dos mitos, as necessidades e fins práti-cos predominam incontestavelmente sobre os especulativos, en-quanto a mitologia consolida a unidade sincrética ainda poucodiferençada da criação poético-inconsciente, da religião primi-
5 6
tiva e das concepções pré-científicas embrionárias do mundocircundante. (Mielietinski, 1987: 189)
Por outro lado, sua representação apresenta-se comofenomênica e não ilusória. Isso faz com que o pensamento míticodistinga apenas precariamente a realidade imediata e o significa-do mediatizador. Vida e morte não se delimitam entre si. Nasci-mento é retorno da morte. Assim, o pensamento mítico conside-ra-as, a vida e a morte, partes homogêneas da existência.
Para Cassirer, por exemplo, não existe possibilidade deanálise lógica do pensamento mitológico, ressaltando a particu-laridade da fantasia mítica de combinar a espiritualização do cos-mo com a materialização dos conteúdos espirituais.
Mas há, ainda, em Amarílis, a possibilidade de revisão darealidade externa pelo fantástico, levando à descoberta de verda-des fundamentais através de experiências cotidianas. É o casode “Maira da Luz”, de A casa dos mastros, kafkaniamenteesmagada, feito inseto, pelo meio sócio-histórico.
Dessa forma, corrobora-se a idéia de que o pensamentomitológico é, por princípio, metafórico. O conteúdo dos mitosnão é religioso, apenas se torna, em “Luísa, filha de Nica”, porexemplo, quando o mito serve para explicar e demonstrar o rito– estamos, aqui, falando em mitos culturais, mas também deuma sociedade arcaica onde o mito é a alma da culturahomogeneamente representada, pela magia e pelo rito, como for-ma de manter a ordem natural e o controle social. Ou seja: amitologia é também social e ideológica, e “Maira da Luz” podebem ser paradigma dessa afirmação.
É por esse caminho que Orlanda Amarílis encontra naprosa de ficção um território fecundo para revalorizar o cau-dal mítico simultaneamente caboverdiano e africano, onde osmitos são traduzidos por um ideário comum e lentamente ela-borados pela própria evolução das sociedades em que surgi-ram. A isso se acrescentou uma identidade na utilização de
5 7
recursos imagéticos voltados para o local, uma história emcurso, mergulhada nas crenças de uma religiosidade peculiarao comportamento arcaico, na medida mesmo em que o pen-samento folclórico-mitológico é, no arquipélago, sua própriarealidade histórica.
Em Lídia Jorge, ao contrário, aflora um realismo fantásti-co, alegórico. Daí seu encaminhamento para uma espécie derealismo simbólico, evidenciando a invenção e um perfil popularem que a dialética estabelecida entre o racional e o mítico instau-ra um mundo novo, dirigido para a re-avaliação do real em deter-minado momento histórico-social para, a partir dele, resgatar aidentidade nacional.
O texto de Lídia Jorge ultrapassa os seus limites ficcionaispara a colocação de teses históricas, dialeticamente pensadas.
A autora procura, a partir da verdade histórica, elaborar,na ficção, o mito que sintetize o período pós-revolucionário por-tuguês, enquanto Cabo Verde e seus mitos se pertencem e secaracterizam mutuamente.
1.3- A sacralização e a dessacralização de visões
Nos sistemas totalitários, o indivíduo é reduzido à impo-tência diante do aparelho do poder, e este é o retrato de umPortugal salazarista; o Estado se aliena do cidadão, girando emtorno de imagens idealizantes de si mesmo, e a exclusão torna-se norma de comportamento social.
Essa alienação realiza-se pela bipolaridade: concentraçãode poder para poucos e perda de democracia e liberdade paramuitos.
No momento, entretanto, em que é oferecido às minoriaso espaço da cidadania, em que renasce a importância da socieda-de civil e do pluralismo democrático, os mitos da época sãoderrubados, inclusive porque a cisão com o passado representa
5 8
a dessacralização de certas visões.
É onde se situa Lídia Jorge. Diante de uma sociedadecomplexa, marcada por contradições sociais fortemente eviden-tes, busca simplificar essa realidade complexa reduzindo-a aoessencial, levando-a à procura de seus próprios mitos, os quetêm valor de realidade intrínseca.
É esse, também, o valor do mito em Orlanda Amarílis.Observe-se que, aliado a toda a singularidade da formação dopovo caboverdiano, o colonialismo teve como procedimento asuperposição de uma cultura sobre a outra, a exportada (me-trópole) sobre a local (colônia), e isso por meio da violência ouda catequese (forma sutil de violência), utilizando como instru-mento de conversão ideológica a língua em sua forma oral e nãoescrita. Isso impediu, como quer E. Said (1995:13), que se for-massem ou surgissem outras narrativas, o que, para o mesmoautor, “é muito importante para a cultura e o imperialismo, econstitui uma das principais conexões entre ambos. Maisimportante,as grandiosas narrativas de emancipação e esclareci-mento mobilizaram povos do mundo colonial para que se er-guessem e acabassem com a sujeição nacional”. Portugal impôs,artificialmente, uma história sobre a outra.
Ainda assim, no conjunto, a colonização caboverdiana temfeição própria e particular em relação às demais colônias. A pos-se de terra e os postos de administração foram, gradativamente,para as mãos de uma burguesia caboverdiana. A própria socie-dade encarregou-se de produzir, naturalmente, a cultura e as di-ferenças e, em contrapartida, procura apagá-las por meio de vá-rios mecanismos, entre eles a crença nos quebrantos e aritualização da vida. De qualquer forma, isso altera, como bemobserva Manuel Ferreira (1977: 23), também de forma gradual,a própria natureza da oposição, que deixa de ter sua ênfase sobrea relação estabelecida entre o colonizado e o colonizador para,como acontece nas sociedades capitalistas, transformar-se numaoposição gerada pela exploração, resguardada a característica
5 9
colonial, sobretudo no que diz respeito ao poder político.
Há que se dizer, ainda, que aí se estrutura toda uma cultu-ra baseada na fusão de valores africanos e europeus, em umaespécie de harmonia racial onde a negritude, por exemplo, nãotem eco de expressão, pelo menos dentro do conceito cunhadopor Aimé Césaire, em 39, ou como movimento desencadeadopelo martinicano e pelo senegalês L. S. Senghor, dentro da pers-pectiva de movimento agregacionista e nacionalista originário doPan-Negrismo do século XIX.
Trata-se, portanto, de uma realidade particular dentro docontexto luso-africano. De qualquer forma, a tradição oral afri-cana persiste, inclusive no preenchimento de lacunas imaginári-as com suas significações transitórias. Daí a necessidade de cons-truir um começo.
Afirma Hermann Broch a respeito do mito:
É a “naïveté” do começo, é a linguagem das primeiraspalavras, dos símbolos originais, que cada época precisaredescobrir por si mesma. É o irracional, a visão direta domundo; é a imagem súbita que se vê pela primeira vez e jamaisse esquece... (Apud Fischer, 1963: 112)
Aplicando-se tal definição a Orlanda Amarílis, é atravésdo mito assim concebido que a escritora caboverdiana vai aoencontro da essencialidade caboverdiana. Com isso, propõe aruptura com a alienação de colonizado, a aculturação e a condi-ção inferiorizante para desencadear a valorização da cultura locale, com ela, o despertar da consciência nacional.
É Cabo Verde, hoje, uma república independente desde 5de julho de 1975. Tem uma outra realidade política e históricadiferente do período de colonização, uma realidade que traz noseu bojo todo um longo trajeto, a partir da própria origem, pas-sando pelas questões étnicas e geográficas, pela Claridade (1936),pela Certeza (1944), pelo P.A.I.G.C. (1956), Partido Africano da
6 0
Independência da Guiné e Cabo Verde, pelas teses do pensadormembro da minoria caboverdiana na Guiné, Amílcar Cabral –“Cultura sinal de libertação? Libertação é sinal de cultura”. Tudoisso representa um sofrido processo de conscientização culturale nacional, até porque as independências políticas e econômicasnormalmente precedem à independência cultural que instaura,em última análise, a própria busca da identidade nacional.
É importante assinalar, aqui, que a história da libertaçãoda Guiné-Bissau e de Cabo Verde se confunde porque ospovoadores iniciais do arquipélago eram oriundos daquela ex-colônia e a transformação da luta anti-colonialista em luta oficiale armada, em 1956, através do P.A.I.G.C., estreitou ainda maisesses laços, a ponto de Luís Cabral comentar que:
A República de Cabo Verde e a República da Guiné-Bissausão duas flores nascidas do esforço e de sacrifícios comuns nosfilhos da Guiné e Cabo Verde, unidos num mesmo combate. Odia não vem longe em que as duas nações irmãs, associadasnuma união fraterna – dois corpos e um só coração – construi-rão a bela realidade que o melhor filho do nosso povo, AmílcarCabral, sonhou e fez consagrar. (Apud Fonseca, 1986: 4)
Cabe aqui o dado histórico-cultural. A década de 30 éuma determinante dentro de todo esse processo. Há uma forteinfluência da literatura brasileira: José Lins do Rego, Jorge Ama-do, Armando Fontes, Marques Rebelo, Manuel Bandeira, ÉricoVeríssimo e, sobretudo, Gilberto Freyre – até pela proximidadecom o drama do Nordeste brasileiro –, e também da Presençaportuguesa, notadamente no que propunha em termos de liberta-ção da linguagem, de busca de uma tomada de consciência defi-nitiva para o arquipélago, considerando-se as questões políticas,sociais, históricas e literárias.
Rompe-se com as raízes européias e passa-se a valorizaros elementos de raiz caboverdiana. Não é, ainda, nesse momen-
6 1
to, uma proposta anticolonial ou uma luta pela independêncianacional. A proposta, entretanto, está implícita numa outra maisampla: a de descoberta do que é efetivamente Cabo Verde na suainsularidade, na sua fome, na sua miséria, na sua evasão, no seumar visto como caminho mítico. Estamos, portanto, no ideáriode Claridade.
A ela sucede Certeza, que traz consigo a visão neo-realista e marxista, abandonando as ligações com o passado,para assumir, no arquipélago, o drama coletivo da SegundaGrande Guerra. Há, sem deixar de lado o conhecimento daterra pelo prisma da Claridade, o alargamento da visãocaboverdiana e a posição de resignação, apesar da“amorabilidade”, substituída pela posição de luta, de trans-formação da realidade. O conceito regional amplia-se paranacional e Cabo Verde passa a ter um destino histórico forte-mente ligado ao contexto africano. Pode-se, ainda, falar doSuplemento Cultural (1958), do Cabo Oficial (1949), do Seló(1962), do Raízes (1977) e, mais atual, do Ponto e Vírgula(1983), no processo de desenvolvimento cultural, mas elesvêm, ainda, no ideário daqueles dois movimentos. O que, se-gundo Manuel Ferreira, “não invalida que, para além das even-tuais ou possíveis subdivisões, não venha a considerar-se aliteratura caboverdiana em duas grandes fases: antes e depoisda Claridade” (1977: 28).
Orlanda Amarílis pertenceu à geração da Certeza. Aíestão suas histórias tecidas com a experiência caboverdiana,de carências, de encontro com as raízes míticas a revelar aprópria essencialidade do arquipélago. Por outro lado, perten-cendo também à diáspora ou à dispersão, ainda que presa àreiteração da temática social da terra, consegue contrastá-lacom a cultura portuguesa, sob a forma de um olhar distante ede um olhar estranho, respectivamente. Cria uma narrativaque medeia ambos os espaços, buscando relacionar a psico-logia e o meio social em que suas pessoas de ficção se inse-rem, sem deixar de abrir-se para a originalidade de diferentes
6 2
recursos estilísticos.
Em O dia dos prodígios, Vilamaninhos corresponde a umestado social puro, em que permanecem intactas as lendas, assuperstições populares, os fragmentos de passado. E que me-lhor ambiente do que esse para a restauração, a destruição e acriação de mitos?
O cotidiano da aldeia, com seus costumes, suas leis pró-prias, suas verdades vitais, é um cotidiano lírico, carregado dedramas de seres primitivos,
[...] pessoas, certas de terem assistido ao grande prodígiodos tempos modernos.Porque um bicho réptil voar de vícerasde fora, só deveria ter acontecido nos tempos bíblicos, muito emuito antigos. No princípio do mundo. (Jorge,1990: 28)
A realidade rústica em que se configura a vida é invocadapara que se coloque à mostra o exercício da paixão, da solidão,da luta entre valores: tudo o que é a vida com suas raízes firma-das na cultura, na tradição, num realismo regional e nacional.
O corte dessa realidade banal se dá com a introdução domágico, no plano ficcional, que só se explica pela leitura que elefaz da realidade histórica.
A serpente marca o obscurecimento daquela racionalidadee, subindo aos céus, o fim de um momento histórico compostopor um sistema centrado, ameaçador, instaurando uma lacunano cotidiano por onde penetra o imaginário, mas, também, acrise de paradigmas e referenciais.
Quiseram ensinar. En si nar. Mas ninguém compreendeu aspalavras tio José Jorge. Também ninguém reconheceu o estan-darte. Eles vinham de repelão. Nem prantaram seu pezinho naterra. Foi só de vivas [...] No fim eu disse. Isto foi mangação queaqui vieram fazer[...] Mangação? Chamas mangação a quemarrisca os cabelos da cabeça, os canos do cu e a barba da cara,
6 3
para assim andar a falar às pessoas. Bruta é que tu és. Aí. TioJosé Jorge. O que havera eu de dizer e imaginar? (Idem: 191).
É quando Lídia Jorge entremostra o ceticismo apreendi-do na História, e o faz trabalhando, lado a lado, a ironia e opessimismo.
Quando Jesuína Palha disse. O que vejo, meu Deus? Vemaí um carro. Um carro celestial. Celestial. Olhem todos. Trazos anjos e os arcanjos. Oh gente. E São Vicente por piloto.Disse Jesuína Palha que voltava da ceifa, ainda com o aventale o lenço repletos de praganas. Todos olharam. Na verdadesurgia na curva da estrada, pelo lado poente, qualquer coisa detão extravagante que todos os que conseguiam enxergar a man-cha de cores, virando as cabeças, julgaram ir cair de borcosobre o chão da rua. Embora a mancha já volumosa, avanças-se lentamente. Ocupando no espaço as três dimensões dumacoisa visível, sólida e palpável. Mas os homens, pondo a mão,e fazendo muito esforço para verem claro o que avançava comtanta majestade, disseram. Menos rápidos e mais lúcidos. Va-mos. Vamos ser visitados por seres saídos dos céus e vindos deoutras esferas. Onde os séculos têm outra idade. Afastem-se,vizinhos, que esta visão costuma fulminar. As crianças corre-ram estrada fora, comandados pela coragem. Sentiam que omar ia chegar atrás dum barco de velas alvadias e soltas,desfraldadas à levíssima brisa da tarde. E também começarama esbracejar, esboçando gestos de natação. Mas Macário. Ten-do sido o último a enxergar, teve a visão exacta. No momentoda surpresa ainda tinha os olhos fechados de repetir pela últi-ma vez. A espera de ocasião.
- Isto é um carro de combate. Oh vizinhos. (Idem: 179)
É a total subversão dos códigos. Lídia Jorge nos insereno processo bakhtiniano de carnavalização. O método dialógicose estabelece pelas estruturas ambivalentes evidenciadas. O dis-curso tipifica-se a partir do próprio estatuto da palavra. Rom-
6 4
pe-se com o texto tradicional e a ambigüidade se instaura pelaassociação metafórica. A carnavalização instala o dialogismocom aquele texto – a passagem bíblica de Ezequiel – comomarca de um discurso intertextual, quer pelo tom, quer peloscontrastes.
A carnavalização traz consigo o riso reduzido da ironia,da paródia, por meio da refração crítica que nega e afirma, revo-gando todas as formas de reverência e devoção, deformando averdade tradicional, provocando, assim, a desmitificação.
Afirma Julia Kristeva que:
O riso do carnaval não é simplesmente parodístico; não émais cômico do que trágico; é os dois ao mesmo tempo; é, sequisermos, sério, e é só assim que a cena não é nem da lei, nema da paródia, mas sua “outra” perante a qual o riso se cala,pois ela não é paródia, mas morte e revolução. (1974: 79)
A visão dos moradores de Vilamaninhos remete, por as-sociação, à visão de Ezequiel do resplendor do carro divino car-regado por querubins, a nuvem, o fogo, o electro, o aspecto dasrodas que era também como uma vista do mar.
Os habitantes da aldeia têm a mesma sensação de caircom o rosto na terra, como aconteceu ao profeta, diante de talvisão.
Como o povo de Vilamaninhos, assistente do “grande pro-dígio dos tempos modernos” (Jorge,1990: 28), Ezequiel é o es-colhido por Deus para a sustentação da fé. É aquele cuja doutri-na fundamenta-se na importância colocada sobre a responsabili-dade individual em oposição à coletiva e cuja profecia terminacom a predição da restauração de Israel, por meio de um povoque tornou mística a mitologia da vontade criadora.
Mas não há Ezequiel, há a gente de Vilamaninhos. E nãohá o carro celestial com São Vicente, filho de camponeses, como
6 5
piloto; há o carro de combate dos soldados que fizeram a revo-lução.
É, portanto, a dessacralização de valores religiosos e daesperança messiânica de que a salvação, que aqui se confundecom decifração dos sinais, virá dos céus. Revolvendo as visõesmíticas, imagens espontâneas portadoras de um caráter reflexo,Lídia Jorge cria sua própria mitologia a partir de materiais histó-ricos.
Aí, todo um quadro caricatural na forma de um ritocontemplativo traz à tona os signos criadores e a revitalizaçãoda memória coletiva sob o encantamento e o medo, mas, so-bretudo, coloca à mostra a impotência dos significados exter-nos: a esperança no carro de combate, nos soldados, não é amesma da visão primeira. Não encontra eco. É apenas um car-ro de combate e, como tal, traz a certeza de que é incerteza, oentendimento do desentendimento e a dessacralização, repor-tando-nos à afirmação de Eduardo Lourenço em “Literatura eRevolução” (1984: 7):
Durante um ano – pois mais não durou o período revoluci-onário –, o País viveu em estado onírico. Importam pouco asleituras opostas dessa vivência coletiva, ao lado da sua intensa“irrealidade”. Surgida como um milagre, como um milagre seprolongou, até passar, quase sem transição, à palinódia inter-minável do seu êxtase, deplorável para uns, exaltante e exalta-do por outros.
Ora, se até a Idade Média e o Renascimento a cultura docarnaval, segundo Mikhail Bakhtin, opõe-se, por formas humo-rísticas, à cultura oficial do domínio eclesiástico e feudal, certoé que tais manifestações vinculam-se aos momentos históricosde crise, caracterizando-se pela revelação de um mundo inclusoem outro, onde, de acordo com Tatiana Bubnova, “la lógica quedomina las conductas y actos (...) es la del mundo al revés”
6 6
(1987: 4-5). Se a cultura do carnaval deixa de existir na IdadeMédia, permanece como uma atitude frente à realidade, e, aí, aideologia e a contra-ideologia entrecruzam-se em estruturas nasquais o signo reflete e refrata a realidade em transformação.
A refração, nesse sentido, é a própria visão crítica em quea ambigüidade intersecciona a negação e a afirmação, como ob-serva Bakhtin. As leis, as proibições e restrições da vida comum,o sistema hierárquico, o medo, a reverência e a devoção ficam,então, revogados, deformando a verdade oficial estabelecida pelaideologia dominante.
O espírito do carnaval (...) permite olhar o universo comnovos olhos, compreender até que ponto é relativo tudo o queexiste, e portanto permite compreender a possibilidade de or-dem totalmente diferente do mundo. (BAKHTIN,1993: 30)
Nos contos de Orlanda Amarílis, o caminho é inverso,não é o da dessacralização, mas o da sacralização que serve desusbstrato ao próprio dilema caboverdiano: o ter de ficar, que-rendo partir, ou o ter de partir, querendo ficar. É a sensação deexílio e de estranhamento na outra terra, acentuando o dramaque Gilberto Freyre caracterizou como o de um arquipélagopirandellianamente em busca de seu sentido e seu destino, ouonde Yannick Tarrieu apontou “une tension extrême entre deuxpôles d’acttraction de même parenté, l’île, petite mais immédiateet précise, et la patrie, située dans un ailleurs mythique” (apudRivas, 1985: 292), o que, em última análise, envolve a própriaquestão da identidade.
Se o retorno é portador da memória do exílio, o exíliofracassa como desenraizamento, porque ele é o arraigamento daconsciência identitária que se busca a si mesma.
As personagens que perambulam por Lisboa não sedesvinculam da terra natal. Ilhéu dos pássaros é todo eleuma tentativa de retorno. É o caso de “Luna Cohen”, que se
6 7
diz “judia, mas mentalmente caboverdiana.” É o caso de“Xanda” ou de quaisquer das personagens simples que povo-am suas histórias curtas, seja pelo reconhecimento de que“emigrante é l ixo [...] , emigrante não é mais nada”(Amarílis, 1983: 25), seja pela consciência de que “Euro-pa e o imperialismo ficavam além daquela porta. Deste ladoera a exploração” (Idem: 62), mas sobretudo porque, apesardos “nove ano sem chuva e comida? Deixa-me rir. Pão comrebuçado, um caneca de qualquer chá, aperta cinto, carinhacontente” (Idem: 83), “estrangeiro é estrangeiro, e Soncenteé Soncente” (Idem: 10). É a nostalgia que se apossa de suaspersonagens:
Abriu a porta e pôs-se num rufo na rua. Queria estar sozi-nho. Não falar com ninguém até esquecer a conversa destatarde. Oh gente, se eu pudesse estar entre a terra e o mar e sósentir o céu por cima de mim! Se eu pudesse estar agora noIlhéu dos Pássaros! (Idem: 119)
E no meio desse sentimento, cujas raízes passam por umconceito e um sentimento de identidade nacional, a aculturaçãoadquire uma conotação ilusória, sem deixar de ser, entretanto,uma escolha:
Encruzilhada pela qual se tem de escolher. Sempre a fugirde andar com os patrícios de cor para não a confundirem eafinal é um branco que lhe vem lembrar a sua condição demestiça. (Amarílis, 1974: 45)
Trata-se, em última análise, de uma escolha de transfor-mar seus adeptos em ciganos errantes, “sem amigos, sem afei-ções, desgarrados entre tanta cara conhecida” (Idem:45). Nadaalém de um outro entre mesmos e um estranho de si. Ainsularidade geográfica assume-se como insularidade existenciale idiossincrasia caboverdiana.
6 8
IMAGENS INSULARES
Ao definir a imagem, Daniel-Henri Pageaux e Álva-ro Manuel Machado apontam-na como resultado de uma distân-cia significativa entre duas realidades culturais. “A imagem é arepresentação de uma realidade cultural estrangeira através daqual o indivíduo ou o grupo que a elaboraram (ou que a parti-lham ou que a propagam) revelam e traduzem o espaço ideológi-co no qual se situam” (1981: 43).
Assim, a alteridade e a identidade cultural estão, entre si,associadas, da mesma forma que se vinculam, intimamente, às trans-formações sócio-políticas que carregam no seu bojo. Quer dizer, arelação entre culturas expõe a binaridade superior/inferior, condu-zindo à reflexão acerca da própria identidade, na medida mesmo emque atua como detectora dos problemas inerentes à cultura receptoraou importadora, de um lado, e, de outro, “nenhum estrangeiro vêjamais um país como os autóctones gostariam que fosse visto”(Brunel et alii, 1990: 53). A imagem da alteridade, no interior dedeterminada sociedade ou grupo social, ao interferir na cultura,modifica o seu tecido, investindo-se de uma função de representa-ção simbólica contínua, de caráter crítico-revelador.
Pode-se distinguir, segundo Daniel-Henri Pageaux e Ál-varo Manuel Machado, diferentes atitudes em relação à apreen-são do Outro, o que, evidentemente, vai assumir significaçõessociais e culturais também diferenciadas:
A
2
6 9
a. a realidade cultural estrangeira é tida como superior àcultura nacional de origem;
b. a realidade cultural estrangeira é tida por inferior ounegativa em relação à cultura nacional de origem;
c.a realidade cultural estrangeira é tida por positiva nointerior de uma cultura positiva;
d. há a abstenção, pelo menos de forma imediata, de umjuízo de valor sobre essa relação.
No primeiro caso, o Outro surge para suprir, através deum processo crítico, as lacunas da cultura de origem. Comocomenta Maria Monsueto Campos (1993:47), ao retomar Ma-chado e Pageaux, “elabora-se, para tanto, freqüentemente, umamiragem que corporifique/consubstancie a mania nacional pelaoutra cultura”, em última análise, seu culto excessivo. O segun-do, por sua vez, traz consigo o procedimento inverso. À culturanacional de origem, a supervalorização, à cultura estrangeira, afobia, ou seja, o desprezo pelo Outro em nome da superioridadedo Eu que olha. O terceiro representa a conciliação e a coopera-ção baseadas na admiração mútua. É o que Machado e Pageauxdenominam philia, onde se reconhece a alteridade apenas comodiferença. A quarta possibilidade, entretanto, é aquela dos extre-mos, na medida em que “esta ausência proclamada de juízo rela-tivamente ao estrangeiro em si, como personalidade concreta, écompensada noutro plano por uma hierarquia ativa” (MACHA-DO & PAGEAUX, 1981: 55). Pode levar à extrema fobia ou àextrema mania.
Examinemos essa relação, esse estabelecimento de con-tato, a presença do estrangeiro enfim, ou “a dimensão estrangei-ra” na composição do texto de Orlanda Amarílis e de Lídia Jor-ge, considerando, sempre, o texto literário como manifestaçãode determinado momento histórico-cultural e realização concre-ta do imaginário social. Ou, como quer Pageaux, (1993: 21),“como uma expressão simbólica, produto da cultura e da histó-ria, mas também reinterveniente na história e na cultura(...)”
7 0
2.1- O passe e a senha
Proveniente da Certeza, como já referido, sob a influênciadireta do Neo-Realismo português e do Marxismo, e pertencenteà “diáspora”, Orlanda Amarílis não transige em questões da iden-tidade nacional e de orientações culturais próprias, o que se acen-tua nas imagens estabelecidas no espaço estrangeiro e do estran-geiro no arquipélago.
Evoquemos o conceito de imagem aludido por Machadoe Pageaux em Literatura Portuguesa Literatura Comparada Te-oria da Literatura:
Incontestavelmente a imagem é, até certo ponto, linguagem,linguagem sobre o Outro; neste sentido ela retoma necessaria-mente uma realidade que designa e significa. (1981: 43)
Essa designação e essa significação, delineadas por meioda representação composta de elementos objetivos e subjetivosque se inter-relacionam, complementam e amalgamam, termi-nam inscrevendo-se na cultura, na História e na própria evolu-ção de determinada sociedade.
Com relação a Cabo Verde, na obra de Orlanda Amarílispublicada no pós-independência, Ilhéu dos Pássaros (1983) e Acasa dos mastros (1989), podemos formular algumas questõeshipotéticas:
a. O deslocamento do indivíduo no espaço geográfico sig-nifica deslocamento da ordem social e cultural efetivos. Mas taisdeslocamentos refratam a cultura nacional de origem?
b. A transformação do desconhecido em conhecidocorresponde à adequação?
c. A tendência ao fechamento como forma de preserva-ção da identidade cultural e do sentimento nacionalista revela asupremacia da alteridade?
7 1
d. Em que medida a soma das tradições estrangeiras coma tradição nacional implica perda para a cultura receptora?
Passemos a examiná-las sem abdicarmos das noções deque o discurso sobre o estrangeiro, ainda que crítico, traz con-sigo um caráter marcadamente simbólico, e de que “o estudo daimagem leva à determinação das linhas de força que regem acultura”( Machado & Pageaux, 1981:43).
Complementando o ideário do Movimento Claridoso, devalorização da cultura nacional, a Certeza propõe, apontando parao Realismo Socialista, o anti-evasionismo como forma de solu-ção para o dilema caboverdiano diante do drama da fome e daseca e as ofertas do mar como caminho mítico. Paradigma de talafirmação é o poema de Ovídio Martins (Anti-Evasão, Cami-nhada, 1962) a recusar Pasárgada, numa alusão ao poemaevasionista do brasileiro Manuel Bandeira, “Vou-me embora praPasárgada:” Pedirei/ Suplicarei/ Chorarei/ Não vou paraPasárgada/ Atirar-me-ei ao chão/ e prenderei nas mãos convul-sas/ ervas e pedras de sangue/ Não vou para Pasárgada/ Grita-rei/ Berrarei/ Matarei/ Não vou para Pasárgada (1977:48), afir-ma o poeta da Certeza.
Importa que Pasárgada, universo utópico, também canta-do por Baltasar Lopes – Em Pasárgada eu saberia/ Onde Deustinha depositado/ o meu destino – está incorporada ao nível mentaldo arquipélago e que, no dilema, Pasárgada configura-se como oestrangeiro.
A imagem do arquipélago, visto de si, nos contos deOrlanda Amarílis, é a mesma denunciada pelo MovimentoClaridoso, quando se desloca, na literatura, a visão do continen-te europeu para as ilhas: marcada pelo drama da chuva, tão bemretratado na poesia barbosiana. É como aparece em “Thonon-les-Bains”: “Sabe comadre, a vida aqui já não podia continuarcomo era. Sete anos sem chuva é muito. Eu não tenho nem umamigalha de reforma de Deus-Haja.” (1983: 14). Ou, ainda, em“Prima Bibinha”:
7 2
Papiar de nada papiar na vida de gente na novidade de djide Sal, naqueles avião na camim de Angola, na camim de terrasdeste mundo. Nunca falavam da falta de chuva. Pâ quê? Noveano sem chuva pâ quê falar mais em chuva? Comida? Deixa-me rir. Pão com rebuçado, um caneca de qualquer chá, apertao cinto, carinha contente. Carinha contente ou então ir pâ cria-da pâ casa de gente-branco.
1 (Idem: 83)
E a evasão, em busca de algo melhor, da Pasárgada, comosolução de vida retrata-se, ainda, em “Thonon-les-Bains” : “Comocomadre, medo de quê? Medo de nada. Gabriel explicou tudomuito bem explicado. Piedade vai agora, depois, daqui a unsdois anos vai o Juquinha, depois Maria Antonieta e depois voueu mais o Chiquinho” (Idem:13).
A imagem original, entretanto, tende a ser substituída poruma outra, em que predomina a subjetividade e a afetividade,quando há o deslocamento para o espaço geográfico exterior,onde a Pasárgada sofre o processo de apagamento, adquirindosua real dimensão: a do imaginário.
Qual o estrangeiro registrado na obra de Orlanda Amarílis?Thonon-les-Bains, na França, Londres e Lisboa.
Aqui, na definição essencial do espaço exterior, instaura-se o problema da hierarquia cultural, estabelecendo-se as dife-renças entre o Eu (caboverdiano) e o Outro. É o registro de queo parecer à alteridade, por meio do processo de assimilação,adquire a conotação de ascensão e prestígio, tal como apareceem “Thonon-les-Bains ”:
A sua filha ia casar com um francês, assim iam ter os seusfilhos de cabelo fino e olho azul ou verde. Teodoro, quem eraTeodoro, para pensar em casar com a sua fidja-fêmea? Sober-
1 A expressão gente-branco não se liga à raça, mas ao fato de o indivíduo serbem sucedido economica e socialmente.
7 3
ba de fora, (batia palmadinhas de cada lado da cara) soberbade fora mas nha fidja-fêmea vai casar e bem. (Idem: 18)
Logo, no espaço estrangeiro, por meio de um realismosocial que fotografa a realidade, apontando a visão crítica con-tundente de uma sociedade que discrimina, exclui e marginaliza,a utopia se desfaz. Há, em Thonon, a possibilidade de trabalho:
O seu trabalho no torno numa fábrica de esquis agradava-lhe sobremaneira. Descrevia em pormenor como apertava osparafusos, dava a volta aqueles paus informes, aparava-os,alindava-os à força de máquinas, desapertava os parafusos denovo e lá iam eles para outras mãos fortes para polirem, depoisoutras para lhes colocarem os ferros e assim por diante. Airmã estava no serviço de colar as etiquetas e dar uma limpezafinal a cada esqui.
Não fiques apoquentada com esta conversa sobre o frio deThonon, mamãe, porque mana também faz limpeza no hotel demanhãzinha muito cedo e o patrão deixa-nos dormir no caveauda escada no corredor onde tem um calorzinho sabe dia e noite.(Idem: 19)
Não há, porém, a possibilidade de ser um igual ao Outro,até porque faz-se a descoberta de ser emigrante, o que significa,naquele contexto cultural, a descoberta de que: “Emigrante élixo (...) emigrante não é mais nada” (Idem: 25).
Em Londres, no conto “Requiem”, por sua vez, o proble-ma que emerge é a questão do racismo, trazendo à tona a já tãodiscutida questão da mestiçagem caboverdiana, apontada pelossociólogos como fator que contribui para o sentimento deestranhamento e inferioridade. O preconceito traçado em ambi-ente londrino, onde se cria a atmosfera africana, é provenientedo elemento negro:
7 4
Por falar em Londres, ali aprendeu a viver. Metia o narizem tudo ia a todo o lado. De uma vez os da Nigéria, dosBarbados, da Jamaica, quiseram o espaço debaixo da pontepara mercado. Foi quando se viu envolvida num comício decerca de três mil pessoas. Três mil negros desfilando, dançan-do desde Nottingham Hill Gate passando por Porto Bello Roadaté a ponte. Na camioneta os líderes tocavam com ferrinhos emgarrafas e em grandes bidons pintados de branco. Os políciasde azul escuro fizeram uma corrente atrás e à frente do cortejo.Houve uma paragem debaixo da ponte. Houve comício e houvedança. Dança até a noite, Bina a rebolar-se a rebolar-se. Emdado momento teve de se safar. “Get out of here. Tu não és danossa raça, tu és cruzada, és da raça dos traidores. Get out ofhere.” (Idem: 130)
Lisboa é o mar (Amarílis, 1989: 18) e, nesse mar de Lis-boa, a tentativa de reterritorialização se faz em Campo de Ouriquee na Calçada da Estrela:
Campo de Ourique deve ser bom. É campo. Leiras defavonas a trepar milheral acima. Mangueiras de sombra den-gosa a tapar nossos beijos de fugida no pescoço das cretcheu,canas chupadas perto do trapiche, grogue escarrapichado decanecas de folha. E vai daí, caíram todos em Campo de Ourique.Era campo. O nome dizia-o. E sobre a Calçada da Estrela foiuma coisa semelhante. É calçada, divagavam. Utopias de quemvai para longe. Calçada como as nossas da Morada. Polir acalçada à procura de descobrir um overtime qualquer, dar como pé na calçada à caçada de noitadas em casa de nhâ Camila denhô Manê Cantante, que Deus-haja os dois, desafronta comestrangeiros de bordo-de-vapor por causa das nossastchutchinhas, brigas com garrafas de gargalo partido quandoqualquer um nos tira em despique. Calçada de Estrela deve serisso mesmo.
Mornar, brigar, apanhar uma fusquinha para esquecer estavida triste de emigrante. Ao menos é calçada, calçada como na
7 5
Morada. (...) como toda a gente da Morada lá de Soncente. Epronto, concluía ele, vieram todos cá parar. (Idem: 31)
Apesar do esforço da relocação espacial e dos conseqüen-tes sentidos produzidos como forma de preservação da culturade origem com seus mitos, lembranças, expectativas e interes-ses comuns, o Eu termina por descobrir as diferenças na relaçãocom o Outro. E, aí, por meio de experiências únicas e intensas,é que se agudizam a visão e o espírito críticos e se agranda osentimento de saudade.
A transformação do desconhecido em conhecido não sig-nifica a possibilidade de domínio, de liberdade, de plenitude deser. O Eu torna-se paciente e testemunho histórico e “a imagemé, portanto, o resultado de uma distância significativa entre duasrealidades culturais” (Machado & Pageaux, 1981: 36), ou, emoutras palavras, a representação de um espaço ideológico con-frontado com o espaço de origem e, porque se reconhece ahegemonia do Outro, a cultura de origem é sempre receptora.
Assim, o estrangeiro torna-se expositor dos problemasinerentes àquela e à sua condição perante o Outro.
Na inscrição histórica, o conto “Luna Cohen”, de Ilhéudos Pássaros (Amarílis: 1983), alude à Revolução Portuguesa,ao 11 de Março, ao 25 de Novembro:
Arrependeu-se de não se ter referido à reforma agrária ouàs nacionalizações. Sobretudo às nacionalizações porque vive-ra esses dias em Lisboa. Os cartazes, os panos atravessadosno alto das ruas e casas da Baixa, o apoio da cidade, do povoquando se soltavam slogans alegres e livres durante os desfi-les, as canções a transbordarem das bocas das mulheres, estassegurando estandartes de esperança. (Idem: 59)
Mas, a despeito das nacionalizações, constata-se que “ A
7 6
Europa e o imperialismo ficavam para além daquela porta. Destelado era a exploração” (Idem: 62).
Se a afirmação da identidade está incorporada ao territó-rio, à imagem primeira do arquipélago sobrepõe-se uma outra,traçada apenas pela geografia humana onde, mais alto, fala aamorabilidade caboverdiana. Ilhéu dos Pássaros é todo um can-to de saudade e A casa dos mastros, no conto de mesmo título,define: “ Caminho de emigrantes, caminho da procura, caminhode ir e voltar” (1989: 48).
Agora, não há Pasárgada. Pasárgada revela-se comoexílio, no seu sentido mais amplo. Há, agora, o arquipélago ehá o estrangeiro e a noção – descendente do ideário da Certe-za – de que “estrangeiro é estrangeiro e Soncente é Soncente”(Amarílis, 1983: 111). Ou o estrangeiro é estrangeiro e CaboVerde é Cabo Verde. E, então, estabelece-se a cisão e a tenta-tiva de fechamento:
“E nós”, riu com sabura e as mãos falavam por ela,“nósestamos aqui em Soncente. Nós não precisamos de nenhumamoda de estrangeiro li na Soncente. Já sei, vais dizer-me nos-sos patrícios mandam dinheiro de estrangeiro. Já sei tudo isso.Mas dinheiro de estrangeiro é uma coisa e modas de estrangei-ro é outra, bô ouvi? ” (Idem: 111)
No fechamento em torno de si, há o enraizamento na pró-pria insularidade, que se assume como insularidade existencial eidiossincrasia caboverdiana, numa espécie de fusão telúrica ematernal, num revolver de raízes e mitos que, por meio do Rea-lismo Mágico, como expressão da relação de uma cultura míticacom a sociedade que a produz, trazem consigo a revelação daprópria essencialidade do arquipélago.
A prática discursiva de Orlanda Amarílis rompe com opacto realista desdobrando-se na tradição mítica, onde as parti-cularidades configuram um caráter coletivo.
7 7
Chamamos mito, como o concebem Brunel, Pichois eRousseau, “a um conjunto narrativo consagrado pela tradição eque manifestou, pelo menos na origem, a irrupção do sagrado,ou do sobrenatural no mundo” (1990: 115).
Esse é o espaço que sobressai em A casa dos mastros, oespaço mítico, fechado em si mesmo, circular, como circular éo seu próprio tempo, o espaço da ventona, do transe, que desor-ganiza a realidade e o espaço externos por ter uma organizaçãoprópria, na esfera dos espíritos do culto afro, da fase pré-racio-nal. Os limites entre o real objetivo e o real imaginário são tênu-es, porque é na impossibilidade de estabelecê-los que se insere atradição, e a tradição é o empenho na busca da identidade.
Este é o espaço não maculado pelo estrangeiro. É, ainda,puro. Daí a sua descrição em “Luísa filha de Nica”, de Ilhéu dosPássaros, como diferente do já invadido:
Já não era Mindelo a sua terra. Já não eram as ruas damorada, de meninas a saracotearem com samatá de pele decobra da Guiné e vestidos de cetim da casa dos indianos. Dondêmocinhos a venderem contrabando, cigarros de Gold Flake,bandejas de alumínio, chocolates de bordo de vapor, margari-na da Argentina, carne do Norte tão sabe e também colchõesfurtados a bordo dum noruega, dum sueca. Dondê latas de jame queijos da Holanda? (1983: 38)
É quando texto e contexto cultural se fundem na constru-ção da identidade.
O estrangeiro sempre deixa marcas no arquipélago, sejapelo processo de aculturação que instaura, renovando, na cultu-ra receptora, as questões da hegemonia da alteridade, seja pelopapel histórico representado. Nos dois casos, termina pondo àmostra os pontos frágeis da cultura original. Veja-se a estada dosalemães:
7 8
Praia falsa, muito poucas pessoas gostavam de ir à praiade João d’Évora. Haveria ainda nos penedos sobre o marsinais das marcas deixadas pelos alemães antes da última guer-ra?
Os alemães tinham chegado num grande vapor de guerra emarcharam para João d’Évora. Voltaram à tarde, encheramas ruas com os seus passos de ganso e o povo foi atrás delesaos pulos. Nos outros dias espalharam-se pela cidade e visita-ram as famílias da morada na companhia dos alunos do liceu.Tocaram marchas no piano da Mamá e prometeram chocolatespara o dia seguinte.
Quando correu a nova das marcas de tinta branca nospenedos da praia de João Évora, gente de Soncente estremeceu,Povo receou. Aqueles riscos todos ainda podiam trazer azar.Foram falar com o administrador, mas ele encolheu os om-bros, meteu as mãos nos bolsos das calças e entrou no seugabinete. “Cambada de ignorantes”. Raios!”
Raios?! Mas alemão tinha marcado os montes de alto abaixo com esmalte branco. Para quê então aqueles riscos eletras? Para quê? Administrador não queria ralar-se, queriaera boa vida, vida de Grêmio, Whisky à tardinha, gin e tonicantes do almoço, farras.
Povo a passar fome, meninas a dar seu corpo ao manifesto,marinheiros e alemães a emporcalharem com tinta suas ro-chas, seus morros de ourela de mar. Era demais! Raios, senhoradministrador, raios porquê? (Amarílis, 1983: 112)
Quer dizer, não é a questão ideológica da guerra e da ocu-pação o que efetivamente preocupa os caboverdianos, o que pre-ocupa é, sim, a interferência na cultura.
Também os ingleses, por meio do Senhor William, “ por-que já não havia minas, a guerra tinha acabado, a tropa começa-ra a desertar e Soncente já não era Soncente” (Amarílis, 1989:60).
7 9
Que São Vicente era esse? O da memória que, por defini-ção, organiza o passado para fazê-lo agente de valoração e cons-trutor da consciência cultural.
(...) antigo Mindelo a desvanecer-se com a revoada dostempos.(...) Do Mindelo onde houve o Itacable, o WesternTelegraph, a exportadora de laranjas do senhor branco.
Quem em toda a cidade não teria trauteado ou assobiado“Quem tem sê fidja descascal na laranja”? Já todos a teriamesquecido, a morna das menininhas de fora da Morada a irempara a fábrica, como iria ser esquecido o entreposto de carvãoe óleo para paquetes ancorados ao largo do Porto Grande.Ah!, os paquetes a demandarem outros portos outras gentesoutros mundos, em devaneios alcançados no folhear de revis-tas americanas e da Argentina.
Comparsita em requebros, rumba negra coleante, charu-tos de Havana e fio de ouro a prender o relógio no colete dosbig bosses.
De Mindelo recebendo de braços abertos judeus germânicosem plena guerra de trinta e nove/quarenta e cinco. Esquecidosglaucomas, diarréias e astenias dos soldados, pondo um poucode lado a febre tifóide endémica da terra, começou-se a falar doTarrafal, sempre se falou, mas acarinhando presos e deporta-dos políticos, casando-os com as suas menininhas e enterran-do-os com o mesmo coração partido como faria a um patrício.Mindelo de bailes de “mocratas”, de meninas lançadas no meiodo mundo. (Idem: 60,61)
A presença portuguesa, por sua vez, como colonização,se faz presente pela nominação: “ Administração: Respeito, fun-cionários, prisão, juízo, lógica, ordem, pátria, Portugal conti-nental, Portugal ultramarino, cadeia, cadeia, cadeia”(Amarílis,1983: 113), para, no pós-independência, colocar-seapenas que: “Independentes, o povo parecia estar contente(...)”(Amarílis, 1989: 62).
8 0
Na verdade, a história caboverdiana é peculiar desde a suamais remota essência, da mesma forma que o foi o processo decolonização, que Manuel Ferreira sintetiza da seguinte forma:
A colonização, a partir da segunda metade do século XIX,havia já adquirido no Arquipélago uma feição própria. Pelovisto, a posse da terra e postos da Administração, a pouco epouco transitavam para as mãos de uma burguesiacaboverdiana, mestiça, branca ou negra.Isto, que nãocondiciona a exploração, pode condicionar as relações daexploração e alterar assim a natureza da oposição: em vez decolonizado/colonizador, flectiria, em grande parte, para ex-plorador/explorado, tal como sucede nas sociedades de tipocapitalista, salvaguardando, claro, e sempre, os aspectos deuma situação especificamente colonial, notadamente nas rela-ções entre o poder político e as populações. (Ferreira,1977:23)
Assim, pela própria especificidade local, a independênciaprecisa ser, ela mesma, aprendida:
Camarada Barreto varreu o grupo com os olhos e esperou.
Viu-se na obrigação de avançar com algumas considera-ções. Falou da independência, da luta do dia-a-dia. Era precisolevar o barco a bom porto, mas com a ajuda de todos. Falou dacalma do mar quando os navios não conseguem ir nem paradiante nem para trás e toda a gente fica enjoada a bordo. Ou dequando sopra a brisa de madrugada e os mastros se partemmesmo em mãos de muito bons marinheiros. (Amarílis, 1989:64)
Ora, é sabido que, historicamente, as independências po-lítica e econômica antecedem a independência cultural que ins-taura, em última análise, a busca da identidade cultural. Estamos,
8 1
portanto, diante de uma independência em curso, e OrlandaAmarílis, por meio da imagem, em seus contos publicados após1975, traz à narrativa os fatores formadores da consciência na-cional: o conhecimento da realidade da cultura local, a valoriza-ção desta cultura, o sentimento de caboverdianidade e, também,a incorporação dos padrões europeus, onde o bilingüismo é umarealidade. O reconhecimento nacional se dá pela redescobertaespaço-temporal. Perde-se a identidade que só é recuperada naterra de origem. É como sua produção literária se inscreve nacultura, na História e na evolução social de um Arquipélago queescraviza e de um estrangeiro que interfere e marginaliza. Entreos dois, caboverdianamente, se prioriza o Arquipélago, até por-que, pensa Luna Cohen, em Ilhéu dos Pássaros:
Rodeada pelo mar de pedras de S. Pedro haveria dedescortinar lá longe o ilhéu dos Pássaros. Ou não? Não impor-ta. O ilhéu era a sentinela entre S. Vicente e Santo Antão. Masela nada receava.Tinha o passe e a senha. ( Amarílis, 1983: 64)
2.2- O riso e o espelho
Retomemos Bakhtin e a perspectiva de situar a obra nointerior de uma tipologia dos sistemas significantes na história.
O que faz Bakhtin, analisando a poética de Dostoievski,por exemplo, é resgatar a perspectiva diacrônica – e Tania Fran-co Carvalhal é aguda nessa análise em Literatura Comparada(1986:48) – relevada pelos formalistas, anti-historicistas, pararestabelecer os laços entre o texto ficcional e a história, cujasvozes, agora, confrontam-se.
Daí a importância da contribuição bakhtiniana:
A compreensão de Bakhtin do texto literário como um “mo-saico”, construção caleidoscópica e polifônica, estimulou a re-
8 2
flexão sobre a produção do texto, como ele se constrói, comoabsorve o que escuta.
Levou-nos, enfim, a novas maneiras de ler o texto literário.(Idem: 48,49)
É através de Tynianov e de Bakhtin que Kristeva laborasobre a intertextualidade: a linguagem poética assume-se, em suastrês dimensões, emissão/ recepção/contexto, como conjuntodialógico; e o texto, a dialética entre estruturas textuais eextratextuais. Como salienta Carvalhal, é o “espaço de conflito”,o que equivale a dizer, um evidenciador, em si, múltiplo de umamesma realidade.
A carnavalização, pelo tom, a menipéia, com seus con-trastes, e a polifonia, por meio da voz, são responsáveis pelainstauração do discurso intertextual e dialógico.
Interessa-nos, neste momento, a carnavalização e oentrecruzamento que aí se dá entre a ideologia e a contra-ideolo-gia promovendo-se, por conseqüência, a refração, a revisão crí-tica, na combinação entre o que se nega e o que se afirma, adesmitificação e a dessacralização. É o que Kristeva afirma como“cômico e trágico”, “morte e revolução” (1974: 79).
Ao tratar da cultura popular na Idade Média e noRenascimento (1993(B)), Mikhail Bakhtin apresenta, entre asfontes essenciais do carnaval, o folclore local com suas imagense com o ritual cômico e popular da festa.
É onde, também, Lídia Jorge tem as fontes do seu O caisdas merendas, quando, por meio dos elementos tradicionais dafesta, e resguardando-os na própria subversão: riso, brincadei-ras, vida material e corporal, revisa valores, conceitos e mitosrelativos à própria identidade nacional.
Na verdade, Lídia Jorge subverte a tradição, embora man-tendo os elementos da festa. Subverte a cultura popular, trans-formando a merenda em party. Possibilita a visão do alheio no
8 3
próprio e do próprio de si, quando a identidade se coloca comocrise e como riso ou como o “ trágico e o cômico”, segundoKristeva. É a instauração da cultura carnavalesca, quando, se-guindo o raciocínio bakhtiniano, constrói-se, ao lado do mundooficial, um segundo mundo e uma segunda vida, onde a vida serepresenta num tempo e num espaço próprios.
“As festividades”, comenta Bakhtin, “em todas as suasfases históricas, ligaram-se a períodos de crise, de transtorno,na vida da natureza, da sociedade e do homem” (Bakhtin, 1993:8 (B)), trazendo, portanto, em sua segunda vida, temporaria-mente, na utopia da universalidade, os princípios fundamentaisde liberdade, igualdade e abundância.
Por outro lado, se como quer Bakhtin, o tema do nasci-mento, do novo, da renovação está associado ao da morte doantigo, em Lídia Jorge o riso está profundamente arraigado àidéia de renascimento que, por sua vez, vincula-se intimamenteà questão da busca de uma identidade.
Aconteceu quando se chegou à conclusão de que aqueleencontro não poderia continuar a ser merenda. Porque meren-da, como se disse, sempre lembraria o tempo das ceifas, porexemplo, quando a dor de macaco tanto apertava o rim, queapetecia uma pessoa morder as espigas que segava (...) Lem-brava a era do trabalho sem hora, de sol a sol, o calor a darnas abas do chapéu de uma pessoa como uma bofetada de luz.Praganas, carrapichos, sementes traiçoeiras, munidas de umbico de agulha ou de patinhas mordentes que se enfiavam nasroupas à procura da pele, para aí depositarem seu veneno eraivinha de erva. Quem não guardava a memória viva dessacomichão (...)? Cinco horas vamos à merenda. Então o corpoatirava-se por terra como para cima de colchão de pena fofa,chão duro e restolho espetado, o assento aí posto como tomba-do, e começava-se um remordo de figuinho limpo, seco e duro,às voltas com a língua, um grande calor de sede na paisagem,e a bola mal salivada a conversar lá dentro com as mucosas
8 4
que tínhamos como se quisesse regressar fora, num desprendi-mento de sabor a grainha, até o pôr do sol. (...) Era isso amerenda. (...) No meio desses despojos de colheita, as meren-das eram tão parcas, tão frugaizinhas, como se se estivessepermanentemente em tempo de guerra, acontecendo longe, masimpedindo a fartura. Era preciso esquecer tudo isso. (Jorge,1989: 17)
Se o esquecimento inaugura a morte de um tempo a quese refere Bakhtin, a fartura surge como essencial na utopia deum tempo novo, o “princípio de uma nova era” (Idem:187).
Os parties? Eram festas que todos sabiam acontecer àsvezes no meio dos bosques por onde passassem rios. Os inven-tores desse tipo de funções escolhiam os locais com o rigor dosestrategos de combate, e procuravam sítios onde as árvoresfossem tamanhas que escondessem cervos. Que cervos? Porisso os bosques deviam ser tão frondosos que lembrassem oscontos do toiro azul, para que as folhas ora virassem prata,ora virassem oiro, conforme se batia com um jarro numa pare-de ou numa rocha. (Idem:18)
Daí o fato de a décima nona não ter sido anunciada comomerenda, “coisa que lembraria figos, mas já como party, ajunta-mento que falava festa, doces gestos...” (Idem: 15).
As festas “chamadas desse modo não deveriam começarpelo comer, mas pelos jogos e pelos risos, brinquezas que entre-tinham o convívio, provocavam a alegria e chamavam o apetite(...)” (Idem:19). “(...) os parties deviam começar mas era portoda a gente sentar e falar de vizinho para vizinho, conforme ogozo e a vontade (...)” (Idem: 20), desfrutando da condição, queo carnaval propicia, de ser um igual, do contato livre e familiarentre os indivíduos.
8 5
Contra o colo uns dos outros, e os outros sobre almofadasde sumaúma, formando um grande círculo, um anel de muitainocência e fraternidade.(Jorge, 1989: 171)
Era isso, meus amigos. Se todos quisessem colocar testacom coxa e cabeça com braço, como salvaríamos o mundo datristeza, do ódio, da guerra, e da inveja. Do remorso também.Tudo bichinhos roedores da vida humana.(Idem: 172)
Há a absorção do individual pelo coletivo, do alheio pelopróprio e a merenda, cerceadora do gesto livre, transforma-seem party como libertação dos condicionamentos culturais.
A narrativa de Lídia Jorge é, ainda, um problema de artena busca de representar a totalidade.
O foco narrativo é múltiplo, transita entre personagens,sem que haja marcas definidas de caracterização, e confere aotexto o tom da oralidade como se os diferentes indivíduos vives-sem e escrevessem simultaneamente recorrendo à memória ounão, dando vasão à expressão coletiva. E as personagens adqui-rem a transindividualidade na medida mesmo em que suas aspi-rações são as mesmas.
Lídia Jorge preocupa-se com o nível morfológico da lin-guagem, buscando expressões mais dinâmicas. É a linguagempopular, viva, liberta, plena de frases insignificantes, de repeti-ções e de vocábulos e expressões grotescas, e às vezes permeadapelo lirismo. É um suporte de imagens literárias e visuais nacriação de realidades, criaturas e sociedade, objetivando aevidenciação de seus traços significativos.
O princípio do carnaval pertence “à esfera particular davida cotidiana”, afirma Bakhtin (1993: 6(B)). O que aí se repre-senta, com os elementos próprios da representação, é a vida, ea representação se dá como espetáculo teatral, num estilo emque só falam imagens e diálogos. No entanto, ignora-se a dife-rença entre atores e espectadores, estes, avocados a todo omomento, porque também vivem o carnaval. “ Tudo aquilo
8 6
vivido por dentro como artistas da nossa própria cena (...)”(Jorge,1989: 40).
Ignora-se, do mesmo modo, o palco. Apenas se deslocao espaço da tradicional Redonda para o Alguergue. “Foi escolhi-do Alguergue porque o som do corpo da palavra era capaz delembrar a um rei vizir de lábio muito grosso e virilidade muitotesa” (Idem: 49).
Durante certo tempo – o da transformação da merendaem party –, a representação transforma-se em vida real e, narepresentação, há a apropriação do discurso do Outro, da línguado Outro, principalmente o inglês, onde o filme constitui o prin-cipal fator a ditar comportamentos, deteriorando o processoidentitário. Vem do filme a inspiração para o party, para obarbecue. Da mesma forma, vêm do filme as normas de ação eo previsível final feliz. Daí a pergunta, quando Simão Rosendoperde o anel e fica desolado: “Era caso para perguntar. Alguémtinha notícia de um party terminar assim?” (...) “As amigas olha-ram umas para as outras e realmente ninguém tinha idéia, pormais que puxasse pela memória dos filmes, os olhos perdidos nofim do mar”(Idem: 41).
Ocorre que o estrangeiro, ou a cultura do Outro, terminasendo, ela própria, envolvida num processo de mitificação, pormeio do qual se delega a função, pela da representação, de ser oeixo irradiador da vida “cotidiana” e coletiva do Alguergue.
Essa imagem cultural, trazida à narrativa por um discursosimbólico e mitificante, ao irradiar a “nova vida” modifica a pró-pria organização grupal.
À afirmativa de que “a consciência dos débitos começapelo uso das palavras” (Idem: 16), o que caracteriza, no texto,uma autovisão de inferioridade diante do Outro, sucede a certe-za de que “bastaria o novo nome dado à coisa para a coisa setransformar” (Idem: 55). E a transformação significa a tentativade aproximação, pela imitação, do alheio, como se aquele mundose pudesse transformar no mundo do Outro.
8 7
O peixe que aqui servíamos era tão feio às postas e aspostas tão perfeitas, partidas com ferramentas tão adagas, quenão provinham de certo nem daquela costa nem de nenhuma dePortugal. Os peixes corvina postos ao lume eram tão cheiro-sos, que também não poderiam nascer nem crescer nas redon-dezas daquele mar. E se assim não fosse, ninguém nos disse ocontrário, porque gostávamos de manter essa agradável sen-sação de estarmos rodeados de coisas de viajantes.(Idem: 44)
Ocorre que Lídia Jorge retoma o movimento quetem marcado a história e a literatura portuguesa, na alternânciaentre os sentimentos de decadência, a decadência latente, desdeos “fumos da Índia” e das pessimistas lamentações de Sá deMiranda e da “apagada e vil tristeza” de Camões, e de regenera-ção, como o Vintista, o Cartista, o Setembrista, o Positivista, oRenascentista, o Searista, o Estadonovista. Há, em O cais dasmerendas, uma tentativa de apagamento daquele para a instaura-ção do novo: “Já não falando do império que tínhamos perdidoalém-mar?” (Idem: 142). “Estamos circunscritos pelo desejo devir a ser.” (Idem: 143). E a regeneração está intimamente vincu-lada à festa.
Afinal valia a pena ter esperança na regeneração de todosnós que somos capazes de acompanhar em pé os bufetes. Ía-mos pensando cheios de palavras nesse idioma, e o vinho saíapelos gargalos fazendo espuma aos olhos, e produzindo do altoo verdadeiro som das cascatas de frescura.(Idem: 167)
Somos felizes, amigos, tão felizes que ainda nos parecementira. Ah sim. Parecia mentira terem vivido num tempo emque era impossível fazer parties, evenings, barbecues. Um tem-po em que os morgados se cobriam de simples açúcar, my god,e diziam.( Idem: 170)
O presente traz, ainda, as marcas de um povo habituado a
8 8
“desconfiar da esperança” (Idem: 95), mas é, também, o marcoda ruptura: “E aí se pressentiu que a saga do tempo velho ia terum fim tão próximo, tão próximo, que estava já a acontecerdiante de todos” (Idem: 104). Importa o futuro e a sua utopia,“uma grande casa de janelas transparentes, toda iluminada” (Idem:186), reforçada nos ritos e imagens do riso popular que integra afesta.
É no ápice do banquete, o barbecue, que o realismo gro-tesco se instaura de forma aberta.
Segundo Bakhtin (1993: 30 (B)), o grotesco carnavalescopermite a ousadia no ato criador tanto pela associação entre ele-mentos diversos entre si quanto pela aproximação do que estádistante; libera, portanto, do convencional, do comumente acei-to, do consenso, inaugurando uma nova realidade, instaurandoum novo olhar sobre o mundo, permitindo a compreensão dapossibilidade de uma nova ordem.
No realismo grotesco (isto é, no sistema de imagens dacultura cômica popular), o princípio material e corporal apa-rece sob a forma universal, festiva e utópica. O cósmico, osocial e o corporal estão ligados indissoluvelmente numa tota-lidade viva e indivisível. É um conjunto alegre ebenfazejo.(Bakhtin, 1993: 17(B))
O mundo grotesco está impregnado da alegria e das trans-formações.
De acordo com Bakhtin:
No século XX, assistimos a um novo e poderosorenascimento do grotesco, se bem que o termo de“renascimento” seja dificilmente aplicável a certas formas dogrotesco ultramoderno.
A linha de sua evolução é bastante complicada e contradi-
8 9
tória. No entanto, em geral, podem-se distinguir duas linhasprincipais. A primeira é o grotesco modernista.(...) Esse gro-tesco retoma (em graus diferentes) as tradições do grotescoromântico; atualmente se desenvolve sob a influência das di-versas correntes existencialistas. A segunda linha é o grotescorealista (...) que retoma as tradições do realismo grotesco e dacultura popular e às vezes reflete também a influência diretadas formas carnavalescas. (Bakhtin, 1993: 40(B))
É nessa última que se alinha Lídia Jorge em O cais dasmerendas. E o grotesco se faz presente no vocabulário popu-lar baixo; nas expressões populares, “Apetecia cair de cu coma singeleza” (Idem: 218); no riso, “Na praia a claridade eratão intensa e tudo tão despido que qualquer santo quereria serviolado depois da canonização” (Idem: 147); nas metáforas ecomparações que instrumentalizam as descrições de partesdo corpo:
Que reparassem como a testa era alta, como o rosto lem-brava um equídeo pela lonjura do cabelo e pela argola leve daventa, fina e móvel como se estivesse sempre em véspera dedisparar um espirro. Equídeo? Os dentes tão afinadinhos, tãoregulares, o riso tão polpudo como de mulher sensitiva, masrodeado de penugem cor de mel, o lábio vermelho sem serpintado. E porque a barba parecia espontânea e clara, (...)havia no seu semblante um ar de doçura adolescente que lem-brava um artista pronto a desempenhar o papel de jovem condeenamorado.(...) Também deixava a descoberto o peito, essenão penujado sequer, antes brilhante como de cetáceo recém-nascido. Cetáceo? Parece que se untou com margarina, meusamigos.(...) Que tara, my goodness. (Idem:150)
Nas cenas do Folhas, homossexual, na praia, com os seusamigos:
Venham, venham ver que vale a pena. (...) Attention.(...)
9 0
Tout le monde par terre. Os espreitadores de barriga parabaixo assestavam o olho e o ouvido. Ai nunca, nunca nos rimostanto como nesse mês de abril. O jovem loiro despia-se, vestia-se, caía e andava a passo. Galgava, saltava, dava voltas como pé, gastando horas a fazer de jogador atrás de uma pélainvisível. Modelo de nu e estátua pedestre, às vezes como seeqüestre, e segurasse entre as mãos as rédeas de um gineteveloz. (...) Porra que vimos muita coisa nas casernas e nosporões dos barcos, mas tudo tinha um fim que naturalmenteera um acto. (...) Só que também era interessante assistir àdespedida dos gajos. (Idem: 153)
Na presença das vomitadoras, diante do exagero e da far-tura:
Cada um manifestava a alegria e a felicidade como sa-bia.(...) As vomitadoras não vinham como se estivessem a com-binar qualquer revolta encabeçada pelo mar, adiante, os olhospostos nele. Não gostávamos. (...) Só que começavam a regres-sar as mulheres amarelecidas dos arrancos feitos para aságuas, as mãos nos estômagos, como ulceradas por coisassalmoiras e crustáceos.(...) E atentou bem na palidez dos seusrostos. Ah porra. Voilà les enceintes, meninas, verdadeirasparidas. Zulmira Santos, a primeira a ter dado sinal de náusea,indo fazer o seu ruidoso vómito sobre as escarpas, respondeu.(...) Limpem as bocas, meninas, do azedo desse vomitado. (...)Não se façam esquivas, ovelhas. Suínos. Disseram elas. (...)Emcima de mim ninguém pula e ninguém pulará. (Idem: 185,186)
No próprio fato de o anel perdido por Simão Rosendo,cuja perda simbolizara uma espécie de tragédia, peloenvolvimento com a própria identidade, um “sinal de viagem ede estadia” (Idem: 43), com o pressentir do azar, ter sido, afinal,engolido por Valentina Palas:
9 1
Porque não contaste que eu teria ido procurar com umpauzinho até encontrar, se eu tivesse sabido disso? Aposto quefoi metido na mousse, caiu-te do dedo, homem, e eu não dei pornada. (...) Lembra-se, senhora Valentina, onde deu de corpo nodia seguinte? Não, não se lembrava, ninguém apontava coisasdessas no calendário. (...) Simão não tinha nem um bocadinhode esperança, e sentia-se duplamente frustrado ao pensar notrajecto da sua jóia, possivelmente desde a boca da senhoraValentina até ao esgoto do mar. (Idem: 236,237);
E, ainda, em uma das versões sobre a morte/ suicídio deRosária, a de Rui Seladinha, a melhor testemunha do acontecido,quando a morte se confunde com o banquete:
Não se lhe via a cara, mas saía-lha por aquela pedra afora,feita almofada, um vinho tinto como poort wine. Verdadeiro evelho, do que não escuma de doce, tem fundalho e enche a vistade idéias rubras. Já perto do xarope. A escorrer dos ouvidospelas risquinhas da pedra abaixo. Ou melhor. Da cor da ferru-gem feita licor. Eram então como minhocas vivas a caminho daterra que procuravam o mesmo lugar da inclinação. O cami-nho escoante, escoante. E das fracturas da cabeça, aberta comouma romã escarchada de madura, uns spaghettis brancos ecinzentos como prurido do pensamento, pá. Isso lhe saía doque tinha sido cabeça, pá, e o Folhas a olhar e a querer enxotaros nacionais que vinham ver como a moça se fizera salada deuma fruta só, pá. Não é verdade, ó Sebastianito? E afinal, pá,debaixo do molho de roupas, via-se-lhe uma anca bem feita quenunca ninguém lhe vira, embora em ponto ainda miúdo. Nuncaninguém lhe vira, pá, mas naquele momento todos compreen-demos que era um verdadeiro osso buco à italiana que se ofere-cia de graça aos olhos da tarde, mas também sabíamos queninguém a tinha mandado atirar-se, e quando o Folhas lhevirou a cabeça, pá, portanto, eu fugi, pá. Aqui d’el-rei. Aquid’el-rei, disse eu, pá, porque tive o pressentimento de ir veruma pizza ensopada de molho e de recheio primavera de flores.
9 2
Tomate, talvez.Um ketchup de fresco, amigos,feito com a carnee o sangue vermelho de Rosária. Pá. O cheiro que se despren-deu era doce, de carne passada, pá,pedindo alho e cominhopara ser temperada e servida, pá. Tive tanta sorte, pá, que nãosó fiquei dispensado da guerra por um triz,como vi um mortodesde o princípio até o fim. Fiquem todos calados, que não seise ainda estamos bêbados. Ou será da digestão? (Idem:182,183)
Evidentemente que o realismo grotesco é marcado porimagens hipertrofiadas, exageradas. Isso porque também o é oprincípio da vida material e corporal em suas imagens do corpo,da bebida, da comida, da satisfação de necessidades naturais. Ea lógica interna a nortear esses exageros não é outra senão, ain-da, a da superabundância. Não há, portanto, o intento do ridícu-lo pelo ridículo, mas o da apreensão da totalidade do processovital, em que a festa, a fartura, a utopia, o riso, enfim, adquiremum caráter de confronto de tempos e ideologias e, do confronto,a ruptura. Entra-se na organização de um mundo não-oficial quepossibilita a avaliação daquele, no qual por exemplo, a Igreja ter-mina sendo criticada pela interminável repetição dos ritos, peloanacronismo e pela estagnação.
O mundo comunica-se nas línguas da revelação. O hebraico,o aramaico e o latim.Verás,minha filha, que em breve vãoaportar às praias gentes vindas do país do lácio. Por isso secanta com tanto fervor. Adeste fidelis. Venham todos depressa,fiéis. (...) Contra a soberba? Humildade, meu padrinho. E con-tra a luxúria? Castidade. Está bem dito. E contra aira?Paciência. Contra a gula?Temperança. Contra a avareza?Liberalidade, meu padrinho. Contra a inveja? Caridade. Estábem dito. E contra a preguiça, contra a preguiça, minha afilha-da? Contra a preguiça, diligência, senhor padre. Diligência,sim senhor. Vai-te embora, rapariga. A torre da igrejinha comoum mostrador de lentidão parado. (Idem: 148)
9 3
O universalismo e a liberdade do riso vinculam-se com averdade popular não-oficial, diferentemente da posição da igreja.Daí a afirmação bakhtiniana de que o riso não impõe nenhumainterdição, nenhuma restrição.
Ele é a revelação nova de um mundo novo, mais lúcido namedida em que marca o reconhecimento externo de direitos in-teriores anteriormente massacrados pelas convenções e dogmasoficiais. Ainda que, em O cais das merendas, se mantenha oreceio do vício, como condiz a uma festa, ele não elimina a pre-sença do jogo. E a festa “É mas é comer e beber” (Idem:165). Éo banquete, a fartura.
(...) todo o pessoal tinha estado em volta de um grande novilhoa assar-se sobre uma chama de lenha ateada por aquele ventinho.Todos sabiam como era. Costumavam erguer um espeto suspenso,gente, dando à manivela, para o bicho se tostar daqui e dali. Ahcaramba,(...) o milagre do calor sobre a gordura de um bicho mor-to. (Idem: 164)
Convém abrir ao meio (a sardinha), amigos, puxando estaripinha como a da fava e do feijão verde. Basta apanhar aqui ofiozinho no sítio exacto. Que assim se podia comer doze e maisdoze e mais doze, se houvesse desejo de tanto. Todos em voltade naco de pão verdadeiro como no tempo em que se cozia nonosso forno da Redonda. Podem comê-las, que nem ao fígado,nem ao baço, nem ao intestino, essa carne de peixe assim trata-da poderia fazer mal a alguém. (Idem: 165)
Havia ainda um segundo cesto. Aí eram os frangos. Aber-tas ao meio as aves, estavam esventradas de qualquer conteú-do, as coxas afastadas como para uma última oferta do corpo.Os pescoços decepados e rentes que a imagem das cabeçaspara nada servia senão para lembrar a degola. Antigamenteaté a crista, meus amigos, até a crista se comia com arroz.Dizia Leonardo. Só se deitava fora o bico e era com pena, asunhas recurvadas e o fel azul. De resto era tudo. Além dabuchada. Credo, não me lembre coisas tristes. (Idem: 166)
9 4
É a abundância que determina o caráter festivo. “Era comose fôssemos aniversariantes de dezoito anos, meus amigos, epor conjugação do calendário, todos estivéssemos a festejar omesmo dia”(Idem: 164). E, na festa, é a igualdade, o caráterfamiliar entre indivíduos normalmente separados no “outro mun-do” por barreiras da sua própria condição, do interesse à idadeou, ainda, à situação financeira ou ideológica.
Passa ao Quinas, passa ao Rui, passa ao Edmundo, passaà Catrinita Mendes que me fez de noiva no party passado,passa ao Bengango, passa ao Sebastião Guerreiro, thank you,vai passando, vai passando. Os garrafões sobre a pedra.(Idem:167)
E porque todos são iguais, “num dia de inauguração paraquê manter ressentimentos com as crianças?” (Idem: 169), osJoanos.
Por que o ressentimento? Porque João e Joana represen-tam a fissura nessa segunda vida. Trazem consigo as marcas daoutra, a que se antagoniza com esta. Netos de Cipriano, mendi-gos, são a antítese da fartura e, mais do que isso, são seresestigmatizados.
Mesmo que a merenda se tenha transformado em party, aquestão da moral persiste tanto quanto o receio do vício. E osJoanos, no party, onde ainda “procuram sempre enterrar a repu-tação das mães” (Idem: 67), são filhos de uma da categoria aque, ali, se conhece, como na França, como “les putains” (Idem:69). A filha de Cipriano havia deixado o marido, um pescador debacalhau, para fugir com um algeriano e aquele se suicidara.
Assim, as crianças são o oposto da fartura e da festa.
Apenas Rosária, a grande presença ausente de O cais dasmerendas, que fazia parte “dos que iam e vinham, e por isso sechamavam eventuais”, apenas Rosária os aceitava:
9 5
Rosária gostava agora de tudo,mas queria voltar a venderbolas na praia para poder pisar na areia e falar à vontade comos Joanos, dar-lhes as duas últimas do cesto, ver os peixes deescama cor de rosa que o Cipriano trazia às vezes no fundo dobarco(...) Os Joanos eram tão amigos, e tinham tanta vontadede rir desmanchando-se todos, mas na areia é que era bom,perdidinhos na festa. (Idem: 201)
Entretanto, porque é tempo de festa, a que marca a se-gunda vida, o mundo não-oficial, Sebastião pensa sobre a possi-bilidade do fim dos ressentimentos, e o fim dos ressentimentossignifica a aproximação, mas não a igualdade, essa é irrecuperável,como o próprio estatuto de gente:
O Cipriano descia ao barco com os Joanos. Tinham crescidoe vinham quase nus, as cabeleiras eram tão eriçadas e frondosasque pareciam floridos chapéus de palha a sair da testa.Ainda umdia Sebastianito haveria de trazer duas bolas embrulhadas empapel vegetal, coalhadas de línguas amarelas, doces e deslizantes,polvilhadas de açúcar granulado e branco,e se deitaria na areiapara dizer como a gatos tresmonteados. Bichaninhos,bichaninhos. Desembrulhando. A princípio fugiriam, mas de-pois, quem sabe. (Idem: 250)
Se aqui a forma de vida – fartura, festa, carnaval, futuro– configura-se como ideal, é na concepção do espaço que a uto-pia se realiza em plenitude:
Apesar do vento e da paisagem deste mar bravinho,estamos, olhem que estamos no útero do mundo. Assim se cha-ma a parte da barriga da mulher que incuba os filhos. Vamosmas é adormecer, moças e moços, reis e rainhas (...) Parece-mos o rei francês que disse lá em marselha. Nous sommes lesrois des rois. Nós.(Idem: 122)
9 6
Essa imagem do “útero do mundo” é a própria imagem dorenascimento. Nesse renascimento, “o ar, o mar e o sol consti-tuem um todo mas de partes bem distintas, e por isso não hámatéria para crenças nem para mitos, idéias estúpidas” (Idem:113). Isso porque a segunda vida é, em si, a vida sob a formaideal ressuscitada, onde, inclusive, se reconhece a integraçãocom o cosmo.
Tudo isto anda unido e não damos um pontapezinho numapedra que os astros no céu não a sintam, assim somos impor-tantes neste mundo.
Realmente. Realmente as conjunções são tão perfeitas quevendo bem as coisas,se a gente estivesse atento dispensava acompra da folhinha borda-d’água. A ligação entre tudo é tãoperfeita, tão perfeita. (Idem: 89)
Ora, a festa pressupõe um tempo determinado que é aquelede ruptura com o velho, com o cotidiano oficial, para a instaura-ção do segundo mundo, da segunda vida, do riso e do futuroutópico, mas que, por sua vez, ainda que traga consigo orenascimento, não se converte, por ser um tempo determinado,ele mesmo, em cotidiano.
O elemento gerador da ruptura com a utopia, em O caisdas merendas, é o Outro, o mesmo Outro de quem os partici-pantes do party se apropriam da língua, do discurso e do com-portamento por meio, principalmente, dos filmes, mas tambémdas revistas. É, em última análise, o estrangeiro, aqui represen-tado pelo holandês, o empregador do Alguergue, mas poderiaser qualquer outro. E o motivo para o desentendimento é o sui-cídio de Rosária. Quem haveria de querer vir para um lugar emque alguém se tivesse suicidado? E a falta de turistas no locallevaria ao fechamento do Alguergue, ao desemprego e, portanto,à volta à realidade primeira.
9 7
Este fato, o desentendimento, coloca os participantes doparty diante do espelho, ou seja, diante de si mesmos. Há o res-gate da língua:
Ó seu sacana, escute aí. Tudo em português que de ora emdiante quem tinha de fazer o esforço era ele, não éramos nós.Acabou-se esta história de se dizer thank you em vez de bemhaja, ou até o contrário dessa idéia que muitas vezes se queriadizer. Ó seu sacana. Escute aí, temos cá umas contas a ajustar.(Idem: 221)
Há, também, a redescoberta do espaço:
Nada temos mas é a ver com esses areais do fim do mundo.No nosso, banhado por esse mar rasinho e atravessado depegadas humanas, mesmo que eles não venham, se deita umhomem e é cama. Come um homem e é mesa, corre um homeme é estádio. Neste areal. Joga um homem e é bilhar, espreita umhomem e é cinema. Além disso, também é bom não esquecer.Conquista-se uma mulher e faz-se filme, no nosso areal. (...)Por que não virão? (Idem: 227,228)
E há uma outra visão do espaço do Outro:
Dizem que os mares deles são cinzenta água das lavadu-ras. Pá. E que as areias, se as têm, quando as têm, são cor decaca desfalecida. Não me canso de repetir isso porque é a nos-sa maior garantia. E o sol, o sol nem se vê, sempre escondidoatrás das nuvens. Que lá. Dizem. São mais escuras que aquiquando chove e troveja. Em alguns sítios os fumos e os nevoei-ros fazem uma bruma tão espessa que se corta à faca e fica emduas metades. (Idem: 229)
9 8
Mas há, sobretudo, a presença do mágico, do fantástico,do sinal que, a exemplo de O dia dos prodígios, não se sabe,ainda, desvendar. É no dia da “sanha”, quando houve um plano,coletivo, de colocar alguém, um alguém que representasse to-dos, no lugar do holandês. Como ele não tivesse aparecido, sur-giu a idéia de uma emboscada, e as armas, para intimidar, seriamdois pedaços de paus já secos: “(...) Ó seu sacana, temos contasa ajustar. Tínhamos as palavras engatilhadas.(...) É assim mes-mo que a gente anuncia a porrada e não está mais paraconversas”(Idem: 221).
Entretanto, naquele espaço pequeno de tempo, na noite de15 de agosto, os varapaus já não eram os mesmos:
O que é isto? Puxaram a lanterna e apontaram a luz. Istocontaram eles depois de conseguirem falar, Rosária. Não é queos paus secos tinham rebentado em renovos e guias às suascostas? Desabrochando folhas e flores? Puro pessegueiro flo-rido, com pétalas brancas e rosadas de primavera? (...) Aindaas luzes não tinham sido apagadas pelas nove horas da manhã,e todos no átrio, sentados no chão como num acampamentoreligioso à espera da revelação. (...) Ficou então combinadoque aquele não seria 16 mas 15, que ninguém voltaria a falardos varapaus, nem se pensaria no sinal. Ou queremos dar emdoidos? E daqui para a frente, tudo bem, tudo bem. Isto só parademonstração. (Idem: 221,222)
Ora, não há a revelação, há o intocável, o maravilhoso dopovo que emerge no momento de reação, de não aceitação pas-siva, porque tal processo é parte intrínseca da necessidade hu-mana de reconstruir-se, miticamente, em sua história para quepossa suportá-la. Como quer Malinowski, o mito preenche umafunção indispensável: expressa, valoriza e codifica a crença; sal-vaguarda e reforça a própria moralidade. E, ainda que não seexplique, ainda que só sinal, ainda que não se fale, recria a vida
9 9
do grupo projetando, simbolicamente os seus sentimentos fun-damentais, dando-lhe coerência, trazendo consigo a noção deque tudo vai mudar, até porque o passado das merendas, e tudoo que ele significa, já é, por si só, irrecuperável, apesar da ambi-güidade do presente. Quando Valentina Palas diz que ele é queera tempo, todos riem. E já não pode voltar porque a marca doOutro está para sempre posta. Cabe a Sebastião Guerreiro aintermediação entre os dois tempos.
E não é gratuito que seja um Sebastião, como o do mitodo sebastianismo. Ele é o “cagaça” e deixa de sê-lo. Ele é o“diferente”. Ele “foi pensado por deus para um fim que está(estava) por descobrir” (Idem: 47). Ele é o portador do Outroque conhece por revistas e fotografias. Ele é o agente do “peaceand love”. Ele é o conhecedor do amor por miss Laura. Ele é um“epaminondas”, numa referência ao militar tebano, grandeestratego e estadista. Ele é o “herói da estância”. Ele é, enfim, o“escolhido”. Um escolhido em crise, é verdade, em crise de amor,de solidão e, sobretudo, de identidade. Há, na crise, o processode remitificação e de desmitificação daquele outro Sebastião,dentro do próprio projeto literário de Lídia Jorge, no sentido dedespertar a consciência nacional para um outro tempo.
É ainda ele o portador da consciência de que:
Com este espírito é que a gente fazia os parties. Agora osbocejos eram uma verdadeira respiração da noite. Aquela idéiasimultaneamente vaga e precisa de que queríamos passar damiséria à fartura sem sermos assaltados pela dor do conheci-mento. Talvez a maior verdade de todos. Devíamos escrevê-lana testa. (Idem: 233,234)
O retorno fica descartado, fica descartado o não ter horapara comer ou descansar ou ficar sem banho, o semear milho eo ordenhar gado, o lavrar e o jungir bestas. Ocorre que o passa-do é um tempo em decomposição.
1 0 0
O presente, entretanto, mostra-se como um mundo in-completo, em transformação pela presença e a absorção do Ou-tro, e o futuro, por sua vez, está ainda em formação.
...já não se usa. In Portugal. I’m sorry. Já não? Ai quepena. Já não, lady, é a vida. Põem túmulos diante de túmulosmas ninguém ressuscita,até a terra tem os bilhões de anos con-tados para morrer, quanto mais os que já lá têm a sua carcaça.(Idem: 250)
Agora, também se perdeu a primitiva pureza, e é Sebasti-ão quem configura a perda pela frustração do amor dedicado amiss Laura:
Pois muitas haveriam de trazer casacos de peles polpudascomo de urso polar (...) E com elas haveriam de cobrir osombros de mister Sebastian. É você o dos posters? Sou, simsenhor. Crawl borboleta, borboleta crowl. Tudo sobre a areia.Oh poor. Compensando-o de tudo com palavrinhas de mãe emy son. Depois seria só dobrar as notas na algibeirinha detrás, e não haveria de importar essa impressão de ser judas,ficando o resto das noites à espera que os judeus fizessem suaarruaça, pilatos descesse à rua, os galos cantassem, pedrorenegasse a cristo, e uma figueira descesse os braços com acorda preparada. Enforca a traição à beleza. (Idem: 251)
Estamos, portanto, diante do processo de desmitificação,de um mundo incompleto, em que o passado se decompõe, opresente se transforma e o futuro é, ainda, projeção, uma incóg-nita a ser desvendada como a charada proposta no último pará-grafo do livro:
Depois chegamos nós por ouvir falar do caso e procurámos
1 0 1
alguém que ainda não tivesse perdido a memória. Encontra-mos as testemunhas, mas Aldegundes, por exemplo, já não sa-bia como voava um pássaro. (Idem: 251)
Quer dizer, O cais das merendas ou os parties - onde ocomer é coletivo e social - opõem-se a um mundo organizado econsolidado, orientado por regras convencionais e discursos imu-táveis na tentativa de formar um outro universo. Esse, por suavez, busca ser uno e coeso para, na apropriação do comporta-mento, do discurso e da língua do Outro, respaldar-se num ca-ráter eminentemente utópico. Morre o primeiro, nasce o segun-do.
Quem morre? Um Portugal antigo, pré-revolucionário,fechado em si mesmo e nas suas tradições, ilhado da Europa eda modernidade da América.
Quem nasce? Quem ainda não se sabe: um povo aindamergulhado nas utopias.
Ora, os sonhos de bem-aventurança são tão antigos quantoa própria humanidade e a literatura bem o demonstra. Hérculesbusca as Ilhas felizes, Ulisses quer reencontrar Ítaca, Enéias querconstruir uma nova Tróia, Vasco e os nautas portugueses en-contram a recompensa na Ilha dos Amores. Por outro lado, es-ses mesmos sonhos terminam sendo reforçados pela proclama-ção profética da vinda de um Messias. “A esperança messiânica,popularizada pelo cristianismo, alimentou sonhos milenaristas aolongo dos séculos, desde a Idade Média”, afirma Donaldo Schülerem seu artigo “Visão do Messianismo no Brasil” (1995:03).
Ainda que sejam raros os povos que não têm a crençafundada no regresso de uma figura imortal para conduzi-los àglória, em Portugal, que ergueu e deu ao mundo um Império eque se viu ultrapassado por esse mesmo mundo, o messianismoadquire uma dimensão própria.
É no séc. XVI que Portugal levanta o messianismo mili-tar, com o saque de Roma pelo exército francês, o que vinha
1 0 2
contra a formação do império político-espiritual proposto pelacúria romana. O ano de 1580, entretanto, é trágico para as ambi-ções messiânicas e imperialistas portuguesas. Perde, inopinada-mente, a esperança de recuperar, por meio das armas, as rique-zas que permitira a Portugal desbravar mares nunca antes nave-gados; a esperança de sanar as finanças detendo o declínio; aesperança da monarquia. Dom Sebastião morto, no Marrocos,em Alcácer Quibir, batalha travada contra os espanhóis, em cir-cunstâncias misteriosas, gerou frustração nacional. Acrescente-se a isso o pavor do povo de cair sob domínio espanhol.
Considerando-se as circunstâncias sócio-econômico-re-ligiosas, o desejo de tê-lo vivo transformou-se, pela projeção,em mito, passando a traduzir a esperança no aparecimento deum salvador qualquer. Isso terminou levando à própria explora-ção política do mito, de que, por exemplo, se valeram os jesuítase Dom João IV, o “encoberto”. “Nasce o sebastianismo”, afirmaDonaldo Schüler, “ variante portuguesa do messianismo. Se arestauração do trono não fosse obra dele, outro devolveria a so-berania aos portugueses” (1995: 03). Quer dizer, ele apareceucomo garantia sobrenatural de independência e, portanto, de res-tauração do reino. Vivo ou morto haveria de cumprir seu destinoprovidencial. Aqui, afirma José Antonio Saraiva (1981: 09), “háuma reminiscência da lenda do rei Artur, conhecida em Portugalna Idade Média”.
Ora, a projeção do desejo está subjacente à criação detodas as utopias, como descrição de um mundo maravilhoso – oque Lídia Jorge reproduz pelo carnaval, por um segundo mun-do, o da representação, paralelo ao primeiro, e por um segundoSebastião, o Guerreiro.
Se sebastianismo é um sentimento que encarna o pensa-mento coletivo na busca de superação a tudo o que de trágicoapresenta o cotidiano e se, mais ainda, quase que corporifica aesperança na redenção pela presença miraculosa de uma forçanacional, pode-se afirmar, conforme Antonio Saraiva (Idem: 09),que os mitos históricos são uma espécie de consciência
1 0 3
“fantasmagórica” com que um povo define a sua posição e a suavontade na história do mundo.
Também isso acontece em O cais das merendas na traje-tória da superação e substituição da merenda pelo party. Onde,então a desmitificação?
Na capacidade de Lídia Jorge de apreensão crítica do tem-po e do espaço históricos, que são os seus. No próprio tom docarnaval, na própria configuração do carnaval, na negação e afir-mação do carnaval, no riso sério do carnaval e, se a questão daidentidade passa pela reflexão sobre a presença e o estatuto doOutro, na compreensão, enfim, de que não há passagem possí-vel, da miséria à fartura, sem a dor do conhecimento.
Quem nasce? Um povo perdido da memória e distancia-do da identidade, uma vez que se circunscreve uma nova de-pendência cultural, dicotomizando auto-afirmação e autonomia,voltada, essencialmente, para a valorização do consumo ilimi-tado.
Morte e nascimento marcados pelo exagero, pelohiperbolismo que trazem consigo uma outra forma de revelação.É um novo ver-se no mundo e um ver o mundo com outrosolhos: os críticos. Ocorre que o carnaval não é reprodutor puroe simples de arquétipos dos mitos e rituais da sociedade primiti-va. Bakhtin esclarece que a perda da função mágica – elementodo rito agrário antigo – contribuiu para o aprofundamento doaspecto ideológico na cultura carnavalesca.
A afirmativa anterior de que Lídia Jorge está inserida noseu tempo, na ficção pós-74 e na temática da Revolução, não seinvalida por essa outra revolução instaurada no cais, num outronível da história, o que a ficção permite.
É Eduardo Lourenço quem faz a síntese:
Fracassadas ou vitoriosas, as revoluções são grandes con-sumidoras de imaginário activo.(...) Surge assim uma espécie
1 0 4
de contradição entre a vertigem secreta do imaginário e o ful-gor da sua urgência histórica. O nosso momento revolucioná-rio teve, contudo, uma singularidade: a de ter convocado, aomesmo tempo, as duas formas do imaginário. Mais que revolu-ção vivida, a nossa foi logo, desde o início, revolução sonhada.Durante um ano – pois mais não durou o momento revolucio-nário –, o País viveu em estado onírico.(...) Surgida como ummilagre, como um milagre se prolongou (...) (1984: 7)
Pois a Revolução – vivida e sonhada – portuguesa foi,apenas no desejo e na imaginação, uma transformação mais fun-da; na prática, precipitou a metamorfose de um povo saindo darealidade regional e provinciana para a descoberta de uma civili-zação voltada para o consumo e o multiculturalismo, na tentativade superação das dualidades: cultura superior/inferior, centro/periferia. “Na consciência profunda do povo português”, co-menta Antonio Saraiva, “o progresso foi visto como uma reali-dade própria dos países adiantados (...) mas não como coisaprópria sua”. (1981:10). É o que O cais das merendas vem dizer,garantindo, inclusive, sua atualidade no panorama portuguêscontemporâneo. Por trás das mais fantásticas imagens de LídiaJorge – do material fotográfico, pois que ele compõe seu texto,e do material verbal –, alimentadas pelo tom do carnaval e daironia e pelas imagens compradas dos mitos de Hollywood, háapenas o mundo real a demandar novas mitologias. Rompe comas que considera estéreis em favor das que possam carregarconsigo a instabilidade e a crise dos tempos, recusando as utopi-as, voltadas para a construção de uma identidade portuguesa.
2.3- As imagens cruzadas
Ainda que se detecte sua necessidade como forma de su-peração da insularidade, o Outro, para a cultura caboverdiana,essencialmente mítica, significa risco e isso se coloca acima do
1 0 5
plano ideológico, tal como se demonstra nos contos de OrlandaAmarílis; para a cultura portuguesa, simbolicamente representa-da em O cais das merendas, o processo é inverso.
O caboverdiano, na obra de Orlanda Amarílis, teme aaculturação, sob pena de tornar-se um estranho para si mesmo,o “cigano errante”. O português jorgiano, ao contrário, envolve-se, na obra em estudo, num processo em que se apropria simbo-licamente da identidade do estrangeiro na tentativa, inclusive,pelo grau de apropriação – língua, discurso, comportamento –,de fazer com que desapareça a diferença, voltando-se, assim,para o estereótipo. Pelo carnaval, há a cenarização do espaço e,nesse espaço, a representação. Há, aqui, uma indicação muitoclara de que a diferença corresponde a distintos estágios de con-solidação (construção) e de afirmação identitárias. Na primeira,recusa-se o estrangeiro, na segunda, nutre-se dele.
Em ambos os casos, tanto na obra de Orlanda Amarílisquanto na de Lídia Jorge, o estrangeiro figura como superior àcultura nacional e sua importação significa, em última análise,esse reconhecimento, uma vez que tal processo configura o pró-prio espelhamento: olhar o Outro e construir sua imagem signifi-ca revelar a imagem que o Mesmo tem de si.
Ora, não há, portanto, como desvincular a presença e oestatuto do Outro em um espaço heterogêneo da questão da iden-tidade.
Na literatura caboverdiana, há a luta pela sua preservaçãoe isso se explica pela própria história de ex-colônia que teve umaoutra história e um outro passado superpostos à sua própria his-tória e ao seu próprio passado mediante o procedimentocolonialista – tirânico, racista, desumano e absolutamentepaternalista, no sentido de obstruir a autogestão – de sobreposiçãocultural, tomando como instrumento de conversão ideológica alíngua.
2 Expressão usada por Benjamin Abdala Júnior
1 0 6
Como as independências política e econômica, via de re-gra, antecedem a independência cultural, intimamente vinculadaà questão da identidade, e como, em termos históricos, duasdécadas é um espaço de tempo pequeno, as ex-colônias defron-tam-se com a contestação da cultura colonizadora, de um lado,e, de outro, com a auto-afirmação, o que significa autonomia eidentidade.
O que Lídia Jorge nos traz, entretanto, dentro daquelemesmo período de tempo, é a ruptura de um Portugal regional:
Sabemos que esse país sempre se voltou para o mar, paraas ex-colônias. Mais para atividades fora do continente euro-peu do que para as relações internas com os demais países daEuropa, onde aparecia em situação de inferioridade. (Abdala,1993: 40)
O que, então, se busca é a ruptura com essa potência desegunda ordem
2, com o Portugal provinciano, com seus próprios
mitos, para abrir-se ao multiculturalismo, provocando, uma crisede identidade. Aí, a língua, a exemplo da tensão da literaturacaboverdiana e africana enfim, diante do bilingüismo, adquire amesma dimensão, apontada por Manuel Ferreira em No reino deCaliban. A apropriação da língua do Outro, que traz consigo aprópria ambigüidade cultural, representa a possibilidade de umahistória futura.
Há, assim, nas duas autoras, a proposta de superação deum passado – o do colonialismo e o do totalitarismo –, em CaboVerde, pelo resgate e preservação, em Portugal, pela reconstru-ção da identidade dentro de um novo tempo, evocando a cons-trução de novos mitos e marcando os comportamentos, respec-tivamente, de uma cultura mítica e de uma cultura racional.
1 0 8
DEVORAÇÃO DA CIDADE
Ao iniciar Notícia da cidade silvestre, Lídia Jorgedestaca a escolha do nome da personagem: Júlia, porque é onome da paixão, Grei, porque significa gente e povo. Pois é jus-tamente nessa nomeação que Lídia Jorge desvenda o romance,revelando seus eixos: paixão e povo. E, em seguida, propõe aprópria obra como testemunho, onde nada é “majestoso e nemsimbólico”.
De fato, diferentemente de O dia dos prodígios e de Ocais das merendas, Lídia Jorge abandona o elemento fantástico,na dimensão antes conferida, ao deslocar o espaço do meio ruralpara a cidade, por meio de um romance que traz consigo oengajamento realista. Afirma a autora: “ As páginas que se se-guem são assim a reprodução livre de uma espécie de intimidadefalada ... ”(Jorge,1987: 11).
Cabem, portanto, duas observações preliminares. Vale, paraesta afirmativa, a colocação de Ernst Fischer, em A necessidadeda arte:
Se considerarmos o reconhecimento de uma dada realida-de objetiva como a natureza do realismo na arte, precisamosnão reduzir tal realidade ao mundo puramente exterior, exis-tente independentemente de nossa consciência. O que existe in-dependentemente de nossa consciência é matéria. A realidade,
A
3
1 0 9
porém, abrange toda a imensa variedade de interações nasquais o homem, com sua capacidade de experimentar e com-preender, pode ser envolvido. (123)
Ao trabalhar a realidade social circundante – onde a naçãonão se imagina, apenas é –, Fischer aponta para o realismo críti-co, trazendo consigo a questão da existência nessa mesma reali-dade, até porque, como afirma Bakhtin, a vida está na arte, “ emtoda a sua plenitude do seu peso axiológico: social, político,cognitivo ou outro que seja” (1993: 33).
Por outro lado, a observação de reprodução livre de umaespécie de intimidade falada liga-se à estrutura utilizada no ro-mance, enquadrada naquele grupo especial de gêneros apontadopor Bakhtin (1993) como determinante estrutural, criando umaespécie de variante particular do gênero romanesco: como con-fissão ou diário. O caderno amarelo estrutura a obra, tendo comoelemento de elo de um segundo plano os recados que não dei-xam de ser, também, confissões, o que resguarda a intimidade aque se refere a autora. E tal desvendamento da intimidade, em-bora sem romper com o encantamento do texto, na medida mes-mo em que possui, por essa estrutura, um encantamento pró-prio, rouba-lhe a possibilidade da catarse. É um texto que de-nuncia e inquieta na revelação de um tempo histórico concreto elocalizado, dentro de uma literatura que, como bem observa MariaAlzira Seixo,
(...) encara com extrema atenção o espaço romanesco en-quanto escrita de uma terra cujo sentido se busca, entre a mar-ca que a história lhe imprimiu e o curso humano que a transfor-ma, entre a extensão determinada e a característica que a for-ma e o tempo que lhe ritma a sucessão e a vida. (1986: 72)
Em outras palavras, volta-se para o desvendamento deum espaço que termina por sair de um longo ciclo histórico, o
1 1 0
do fascismo, para mergulhar em problemas imediatos, inespera-dos e aparentemente insolúveis. É o retrato de Notícia da Cida-de Silvestre, onde o contexto sócio-cultural do fim da década de70 é marcado por todo um questionamento existencial na buscade redefinição do próprio espaço, o que equivale dizer a vida;pelo fim das utopias e dos mitos; pela crise geral de valores; peladistância do homem novo e harmonioso que a Revolução deve-ria, pelo menos teoricamente, produzir. O momento conseqüen-te da passagem do fascismo à Revolução revela-se pela degrada-ção em todos os níveis: político, social, interpessoal. A insignifi-cância, das mudanças no plano da existência imediata, traz con-sigo o equívoco da própria concepção revolucionária:
O Sr. Assumpção resumiu alguma coisa insuperavelmente– “Meus amigos, não há diferença nenhuma – só a ditaduraera um tempo demasiado lento, e a democracia um tempo de-masiado rápido.” ( Jorge, 1987:251)
Entenda-se por demasiado rápido um espaço existencialatomizado, preenchido por contrastes e justaposições incompa-tíveis, uma sintaxe histórico-social portadora da reificação doindivíduo.
Em que pese a alienação, no homem da terra, até pelocaráter muito mais voltado para o coletivo, esse processo - veja-se O dia dos prodígios e O cais das merendas - é mais diluído eencontra outras formas de compensação na fantasia e nos mi-tos. Na cidade, não. Na cidade, decreta-se: “Abaixo a fantasia”,diante da necessidade de “criar novas bases” (Idem: 22) ou ain-da “ Fuja da magia, olhe que o século está a chegar ao fim eninguém lhe acode” (Idem: 32) e a devoração é clara: fortalece-se o individualismo, a experiência da solidão, da personalidadeferida, rejeitada, condenada ao anonimato.
Estamos, portanto, diante de uma escrita do espaço cal-cada no dialogismo bakhtiniano, relacionando o texto literário à
1 1 1
sociedade e à história. Nela, a ambivalência revela-se na suaintersecção e permutação, instaurando as confrontações entreestruturas originariamente dialéticas: as textuais e as extratextuais.
O princípio da polifonia é o diálogo. A criação polifônicade Notícia da cidade silvestre constitui o aspecto do dialogismodo discurso jorgiano. A polifonia corresponde às diferentes idéi-as oriundas de diferentes vozes, denunciando a inquietação dosseres ficcionais, em suas ideologias distintas, na busca do seuespaço e da sua definição existencial. Assim, a personagem nãoé uma entidade fechada, pronta. A exemplo da teoria da transfi-guração que abre O dia dos prodígios, quando a autonomia estáposta anteriormente à história contada, aqui, também, a perso-nagem tem essa autonomia e é dona de seu discurso. São váriasas vozes que se cruzam, se opõem ou se complementam, sãovários os discursos que dialogam entre si.
Entenda-se por discurso a concepção que lhe dá Bakhtin:é o resultado do meio social que produz uma consciência sócio-ideológica que, por sua vez, produz o diálogo social, réplica dasociedade. Assim, enquanto ideologema – portador de uma ide-ologia – o discurso é objeto de representação verbal dentro doromance, nunca, portanto, um jogo verbal abstrato. “Tudo oque é ideológico possui um significado e remete a algo situadofora de si mesmo”, afirma Mikhail Bakhtin (1992: 31).
Assim, o sujeito que fala é sempre, em certo grau, umideólogo, com um ponto de vista particular sobre o mundo, aspi-rando a uma significação social. O mesmo ocorre com a ação.“É sempre sublinhada pela sua ideologia: ele vive e age em seupróprio mundo ideológico (...) tem sua própria concepção domundo personificada em sua ação e em sua palavra”(Bakhtin,1993: 137 (A)). Entenda-se, entretanto, que o discursopolifônico “não é apenas um discurso sobre si e sobre seu ambi-ente imediato, mas também um discurso sobre o mundo”(Idem,1981: 36).
Em Notícia da cidade silvestre, o dialogismo se instaura
1 1 2
em vários níveis: entre a personagem que escreve e o leitor vir-tual; entre a personagem que escreve e o leitor que deixa de servirtual para transformar-se em ficcionalmente real, o proprietá-rio do caderno amarelo; entre o leitor virtual com quem nós,leitores reais, também nos confundimos; entre a personagem eaquele que recebe os recados escritos, enxertados, que é aqueleque tem o caderno amarelo, tornando-se personagem-leitor; en-tre as diferentes personagens, no que se conta, por reproduçãolivre, no caderno amarelo, e na reorganização do que se conta,sendo, tais personagens, portadoras de discursos e problemáti-cas diferentes entre si, portanto vozes peculiares.
A introdução da confissão, determinando a estrutura ge-ral do romance, torna-se ainda mais atraente pela presença doleitor virtual, imaginariamente exterior ao autor do caderno ama-relo, que é a personagem Júlia Grei. Tal texto, o do caderno, nãoé remetido a uma segunda pessoa externa, mas a uma segundapessoa personificada em autor. É para si que Júlia escreve ocaderno, transformando-se de mesmo em outro, antes de vendê-lo e antes de conhecer o comprador:
Depois, Júlia Grei fez o percurso a pé com os sapatos namão, e quando a vi, precisamente da janela do Bar Together/Tonight, antigo Bar Aviador, ela quis fazer venda dum cadernoamarelo. (Jorge,1987: 16)
Esse, entretanto, não é o texto que nos chega, o que noschega é outro, já possuindo um leitor ficcionalmente real:
Foi esse insólito numa terra destas que me fez voltar aprocurá-la, achando que bem podia Júlia Grei alinhavar alembrança com alguma ordem e mais algum proveito. Depoishaveria de vir a admirar-se que o caderno de capa amarelativesse tido tão pouco destaque e que, pelo contrário, os papéisque me ia mandando pelo correio, ou por quem calhava, apare-
1 1 3
cessem com tanta importância. Mas acrescentou que se revia eachava, por inteiro. (Idem: 17)
Logo, já não lemos o caderno amarelo, mas sua reorgani-zação e, em sendo reorganizado, deixa de ser a reprodução livre,colocando-se diante da presença de um leitor-personagem, V.,para quem Júlia não apenas conta uma história, mas presta con-tas dos seus sentimentos e atitudes – “não, não pense o contrá-rio, eu estava contente (...)” (Idem: 29), ou “digo-lhe a verdadepara que V. conheça” (Idem: 34), ou, ainda, “talvez V. ache inde-cente essa espionagem miúda (...) (Idem: 98) –,o que faz comque a narrativa se desenrole no tempo da memória, freqüentementereforçada pelo verbo lembrar.
E, então, entramos nós, como leitores reais, a fazer partedo diálogo. Durante muito tempo, caracterizou-se o leitor comoum sujeito universal: todos os homens. Fica, entretanto, eviden-te, na realização desse nível do dialogismo, como um espaçovazio a ser preenchido por múltiplas circunstâncias sociais, ide-ológicas, históricas. Esse mesmo leitor, seja ele virtual,ficcionalmente real ou real, termina sendo um participante ativodo próprio constructo literário: um outro do outro que, na assi-milação do discurso, transforma-se num outro/mesmo. Seu olhardeixa de ser o do privilégio para ser o de quem passa pelo esfor-ço da acomodação, desacomodação, identificação e libertação narecuperação da história. Essa libertação, apesar de intimamentevinculada à classe ou sistema social, adquire um caráter geralpossibilitando a identificação com o outro e a incorporação doque o mesmo não é, até porque, como afirma Orlandi, “o ho-mem faz a história, mas a história não lhe é transparente” (1988:102). Daí a afirmação do proprietário do caderno de que, depoisde sua reorganização, Júlia Grei “acrescentou que se revia e seachava, por inteiro” (Jorge, 1987: 17).
Na verdade, Júlia é simultaneamente representado e re-presentante (responsável pela representação) da realidadeficcional por meio da apropriação social da linguagem, instru-
1 1 4
mento de representação e “lugar de conflito social” (Orlandi,1987: 40), que jamais se esgota em si.
“O romance é uma diversidade social de linguagens orga-nizadas artisticamente, às vezes de línguas e de vozes individu-ais”, comenta Bakhtin, de onde vem a noção de que os discursosdo autor – em Notícia da cidade silvestre tem dupla autoria:Lídia Jorge no plano real e no ficcional, Júlia Grei –, do narradore da personagem são unidades básicas de composição na própriaintrodução do plurilingüismo e de um discurso que representa eenquadra o discurso de outrem.
A diversidade das linguagens sociais, reveladoras de con-tradições sócio-ideológicas, num mecanismo político-social deaprisionamento, de relações incompletas e imperfeitas, de fa-lhas, de injustiças, necessidades e aspirações de uma situaçãohistórica particular, de contrastes sociais múltiplos numa cidadeque concretiza a devoração, sustenta a obra de Lídia Jorge.
Nessa altura tinha conhecido Lisboa duma forma diferente,e assim, os mesmos becos tortuosos e velhos que sempre metinham evocado uma história poética e antiga pareciam-meagora cárceres com malvas à janela, onde se poderia ficarpreso para sempre ao bafio do chão, um só pé assente como oscogumelos no estrume. (Jorge,1987: 35)
E esta cidade não oferece saída:
Afinal o que era preciso era sair daquele rio e esquecer acidade, que por dentro, nesse Inverno, começava a ter o arentristecido duma caserna usada. Têm visto as ruas? O mundovai estar de novo para quem abrir um balcão e puser duasmercearias atrás. Previam-se tuberculose em barda, os médi-cos nos consultórios andavam a fazer gráficos agudos comopicos de Evereste sobre o assunto. Os bairros de lata cresciamcomo crostas agarradas às periferias, o metro tinha cada vez
1 1 5
menos pedintes, os bancos dos hospitais cada vez mais cheiosde gente e menos desprovidos de recursos. Por tudo isso e pormuito mais que não diziam, esticados sobre a minha cama,apetecia-lhes desesperar. (Idem: 71)
“Por favor, metade da cidade está a viver à custa da outrametade, atrás de expedientes estranhos, negócios cinza,intermediarite.(...) ”(Idem: 96)
É nesse espaço que as personagens se deslocam carre-gando consigo os seus problemas existenciais. A cidade é umaforma de prisão.
Como podia ele viver muito tempo longe das nossas pare-des furadas de buracos? Longe do estrume das nossas ruas?Do manso caos social fazendo-se como sombras nas poças?Onde? Onde encontraria Artur Salema um sítio tão propício aodesespero e à ternura como ali, à Beira do Tejo, tudo a desagüarpara armazéns e docas? (Idem:142)
Ora, “a consciência individual é um fato sócio-ideológi-co” (Bakhtin,1992: 35). Quer dizer, ela não pode explicar, deveser explicada a partir do meio ideológico e social, o mesmo emque as personagens de Notícia da cidade silvestre buscam a re-alização existencial, a segurança, o sentido da vida, cada um aseu modo.
Júlia é a personagem que mais se modifica na aquisiçãoda consciência dessa realidade, aquisição que se dá pelo conví-vio com as demais personagens, onde, não raras vezes, as rela-ções se mascaram e o silêncio e a linguagem pervertida assu-mem lugar de destaque. Esse processo de mutação provocadopela situação político-social marcada pela injustiça, que se confi-gura em vida, é muito evidente.
Júlia, mãe do Jóia, viúva do escultor Grei, emerge da pas-sividade, da “tanta normalidade plenamente aceite”, que sequer
1 1 6
se “assistia o direito de gritar por socorro fosse onde fosse,estivesse onde estivesse” (Jorge,1987: 146). Impede a si mesmaa busca de uma plenitude de vida que lhe é negada pelo individu-alismo, caracterizador do funcionamento social e impositor delimitações.
Fazendo de Anabela Cravo seu modelo, idealizando-a por-tanto, inicia a busca de si mesma. Ao ver Anabela, seucontraponto, admira o que não consegue ser:
Depois Anabela Cravo possuía a coragem e a sabedorianecessária para enfrentar a vida, eu desfrutava disso e rendia-lhe toda a admiração por esse e por outros tantos motivos,incluindo uma ternura de que às vezes dava mostras, tocando-me nos ombros com solenidade. Seria que num outro mundonão teríamos sido irmãs? (Idem:54)
Essa coragem e essa sabedoria para enfrentar a vida nãosão mais do que um poder de manipulação das pessoas que fazparte do processo de adaptação às situações e, em última análise,ao jogo social. Porque adaptada ao jogo, seria, sim, no final,uma vencedora.
Eis os eixos centrais das idéias de Anabela:
Se ainda ninguém tivesse dito, dizia-o ela- que a política eraum complexo de Freud, a maternidade um erro de contas, oamor uma troca de hálitos e a pesquisa como o saber, apenasum latejo de têmporas. Tudo afinal mesquinhos sopros semaltura, ainda que se alcançasse através deles o bem-estar e aglória pública. (Idem: 58)
Para Anabela, não existe o amor, sua interioridade estáesvaziada porque a adaptação assim o exige:
“Está velho o que pensas e o que eu penso está novo. É
1 1 7
precisamente a falta do desejo, a impossibilidade de identifica-ção e a ausência de amor que faz com que ele me chame. Bemvês! No futuro todas as pessoas hão-de ser assim, como noprincípio. Eu, eu. Quero ser a primeira a passear pela rua umrebento desses pela mão, para poder escrever-lhe nas costas -Nascido sem amor e sem perdão. Como Cristo. Quero ver comoum gajo assim nascido se comporta neste mundo. Será oapocalipse?” (Idem: 126)
Em nome deste viver, Anabela separara as pessoas portipologia:
Dizia também que o ajuntamento humano tal como se con-cebia no cartório e nas instituições familiares era uma farsa deaparências, que as pessoas deviam juntar-se aos grupos con-forme o saber que era uma coisa e o conhecer que era outrabem distinta. (Idem: 54)
Anabela pertencia ao saber, Júlia ao conhecer. Entenda-sepor saber o ter capacidade para, o conseguir. Entenda-se porconhecer a informação e a vivência.
Na verdade, o saber tirar proveito das situações e a mani-pulação das pessoas inicia, em Anabela, muito cedo, aos trezeanos, quando cede sexualmente ao Padrinho e chantageia: “voucontar”, como forma de conseguir o que quer. E, por esse saber,o sucesso estaria garantido, o que, para Júlia, se explicava porestar “relacionado com o charme interior, a electricidade dinâ-mica que fazia mover a pessoa” (Idem: 277).
Em nome dessa crença no charme interior e de um senti-mento mesmo puro de amizade, Júlia custa a perceber, a não serpela experiência traumática da própria descoberta, quem de fatoé Anabela, na luta sem qualquer limite moral pela superação damiséria e do anonimato.
Anabela luta – com a mentira, a linguagem pervertida, o
1 1 8
jogo, a chantagem, a manipulação e o domínio das pessoas –,Júlia dilui-se na realidade.
O espaço de Anabela é o do desapego, sem fantasias, semmagia, sem ligação interior nenhuma, uma vez que é o espaçoem que, prioritariamente, reconhece que “a injustiça continuavasendo injustiça. Alguém tinha tido a coragem de expropriar al-guém? Repartir os bens? Criar um imposto supérfulo? Ninguém!”(Idem: 45). “Neste país os tribunais sempre gostaram de guar-dar os detritos para provocarem o estrume, tanto mais agora queanda tudo virado de pernas para o ar” (Idem: 53).
A vida, para Anabela, nesse espaço, resume-se em umaúnica frase: “Talvez o bem e o mal se misturem em frascoscomunicantes e quanto mais uns descem mais outros têm desubir para a coisa se equilibrar” (Idem: 315).
O espaço de Júlia é reaprendido no contato com Anabelae os demais seres ficcionais, com suas crenças, esperanças edesesperanças, suas posições ideológicas; e na tentativa de sui-cídio do filho, criança de 13 anos, por envenenamento.
É por meio de Júlia e, principalmente, em sua relação comAssumpção, dono da livraria em que trabalha, que aintertextualidade percorre o texto de Lídia Jorge e o mote paraisso é assim colocado:
Para ser franca, tinha mesmo a impressão de que esseslivros possuíam uma sabedoria imanente, porque os dedos cor-riam as lombadas e encontravam como por azar ou coincidên-cia as páginas que procurava. Vinha-me então a convicção deque alguém as havia escrito para mim como remetente certo. (Idem: 63)
E esses livros compreendem poesias de que não se iden-tifica o autor e outros textos de William C. William, António Nobre,Marcuse, Schopenhauer, Catulo, Esopo. A intertextualidade é abase do processo de composição do texto. Há, sobretudo em
1 1 9
Catulo, a visita à tradição que é traduzida, como criação, paradeterminada situação de amor de Assumpção por Júlia. Querdizer, o clássico deixa de ser um modelo incorruptível para abrir-se em diálogo com outra possibilidade de leitura.
Mas o texto de Lídia Jorge também é atravessado porcanções, sobretudo pela presença do anarquista Artur Salema,canções de cunho ideológico fortemente marcado, como a queMilena Josenská cantava num campo de concentração dos S.S.;como a de Nana, que carrega consigo o existencialismo sartreano,como as populares de Leoncarlo Settimelli – “Adoro il popolo,/lamia patria è il mondo/ il pensier libero/ è la mia fè...”(Idem: 185)– e Luigi Molinari.
Observa-se também que muda a relação de Júlia com oslivros, pelo reconhecimento do espaço: a devoração da cidade.
É, sobretudo, do convívio com os artistas que vem a cons-ciência do momento histórico.
Como não podia deixar de ser na época que corria, a dadomomento começaram a retratar-se. Todos afinal tinham amadoum partido secreto, mas todos também já o tinham abandona-do. Pela conversa percebia-se que não tinham amado o mesmopartido e isso parecia aproximá-los, embora só o Mestre semostrasse perito no passado e coxeasse nervoso com o rumoda conversa. (...) Então Anabela aproveitou para dizer. “Viva opartido da Arte!” (Idem: 27)
Mas o “partido da arte”, que também é formado por umadiversidade de linguagens, Salema, Martinho, Rita, tem, na cida-de e no país, no momento histórico, um espaço restrito.
Por imbecilidade, por estreiteza de alma,havia negociantesde toda a mixórdia, vendedores ambulantes de toda a natureza,traficantes de toda a espécie, tudo promovido pelos poderespúblicos, e não havia canteiros.(...)“E se tu precisares de fazer
1 2 0
fundir uma peça é o mesmo. Fica a saber que hoje em Portugalse funde pior do que há mil anos.” (Idem: 26)
Nessa cidade em que a miséria prolifera, em que as pró-prias crianças podem ser portadoras dos “parasitas damarginalidade e da pobreza absoluta” (Idem: 143); em que a eco-nomia se torna agente de repressão, ocupando de maneira exclu-siva todas as manifestações da vida humana, pelo esmagamentode uma grande maioria; em que se provoca uma crise geral devalores, fica excluída a possibilidade de transformação, até por-que nessa tirania do poderio econômico, adquire uma outra fei-ção:
“Agora é que vai ser subtil, porque a tirania já não andaalojada numa pessoa com dois olhos. Quatro membro. Umsexo embaixo do fato. Uma amante à vista. Um guarda secreto,os velhos ouvidores. De quem se diga – este que ali vai é otirano. Pelo contrário”, disse ele. “Hoje o tirano atomizou-se.Diluiu-se, está aqui à nossa volta. Agarrado à nossa pele. Eleconfunde-se com a roupa que vestimos. Com os sapatos quecalçamos. A cerveja que bebemos. E quem pode atirar contra amarca do café, o coiro dos sapatos? As roupas, os bens que sãoa nossa necessidade? Quem?De que modo?” (Idem: 77)
À consciência de que: “Ainda na noite anterior, se ArturSalema e os outros ali tivessem encontrado um tirano, todosteriam consumado um acto histórico, e só não tinham consuma-do porque a ocasião faltava” (Idem: 83), segue-se o ceticismo:“Para mim todas as teses conhecidas morreram. As ideologiassão baleias desorientadas que estão dando à costa. Ninguém mevira”(Idem: 77).
E porque é assim, ao longo do caminho, todos vão aban-donando, um a um, as convicções iniciais.
Artur Salema tem um projeto consistente. O espaço que
1 2 1
busca construir, depois de sua estada na Itália, é o da resistênciapsicossocial, dentro de um país com fortes carências, de que acidade é uma parte de representação. O passado é visto pelamemória crítica, o presente pela experiência utópica na busca derevolucionar primeiramente a vida e secundariamente o conceitode arte.
Ele embarcou numa experiência singular, altruísta, única.
No quintal da serralheria onde o viste, depois das horas deserviço, ele e os outros serralheiros, quase analfabetos, estão acriar em conjunto, a arrancar do fundo da psique, idéias primi-tivas e materializá-las em associações, sem nome, sendo ArturSalema o traço de união. (Idem: 193,194)
Em outras palavras, como artista, julgava-se livre e queriaajudar os outros a encontrarem, pelo exercício ideológico, a pró-pria liberdade:
Mal se sentaram os companheiros da serralharia começa-ram a falar do percurso e do dinheiro gasto para chegarem atéS. Mamede. Em seguida das horas do sono. Em seguida aindados barulhos que ouviam de noite, alguns inocentes, nas casasonde viviam. Como eu andava cá e lá oferecendo uns copos,não pareciam completamente desinibidos. Simplesmente a horaia adiantada e Artur Salema começou por lhes falar que naAlemanha tinha existido em tempo um homem chamado ArturSchopenhauer que havia escrito uma interessante história, queele se dispunha a contar, desde que cada um fosse dando opi-nião sobre o decorrer do episódio. Muito compenetrado.
“Toda a gente sabe que os porcos-espins são animais dasregiões temperadas e que não suportam temperaturas baixas.Ora imaginem que certa vez, sobre um bando deles, começou acair um frio horrível e que se não se acoitassem uns contra osoutros, podiam morrer. Como deviam fazer os porcos-espins?”(Idem: 203,204)
1 2 2
Houve várias opiniões, podiam morrer, indiferentemente,talvez o melhor fosse se virassem carnívoros e se devorassemuns aos outros, numa aceitação passiva a exemplo daquelaexercida diante da ação das leis sociais que lhe são inteiramenteexteriores, mas Salema insiste na convicção de que um pensa-mento claro pode criar as condições necessárias para uma açãoeficaz na transformação social:
“Podiam não morrer, amigos”. (...) “Logicamente que seiam aproximando cada vez com mais cuidado, até ficarem auma distância tal que nem se picassem nem morressem de frio,aquecendo-se uns com o bafo dos outros.” (Idem: 204)
E, então, pela representação metafórica chegou onde que-ria, quando um dos serralheiros exclamou: “Os porcos-espinssomos nós, carago” (Idem: 204).
Evidentemente que as transformações são lentas, mas,mais evidentemente ainda, a cidade não lhe permite muito: a ofi-cina foi fechada.
Queriam transformar a oficina numa metalomecânica qual-quer, uma daquelas chungarias que faziam caixilhos prateadosa metro. O mesmo espírito que transformava as docesmerceariazinhas dos cantos em dependências bancárias, ricascomo de faraó. Era preciso eu compreender o fenômeno naglobalidade das coisas. E quem iria resistir? Perdia-se o ínti-mo, o humano, o amorável, o boca-a-boca, o gosto do fogo, aarte de soldar e derreter, o primeiro ofício do homem, sem queninguém acudisse. Impávidos, perdíamos o rosto cantando.Por isso ele estava a ser o grande incômodo. Dentro de dezanos, por exemplo, ninguém mais saberia soldar um fundo, pôrum pingo, curvar uma asa... (Idem: 218)
Com isso e com a féria atrasada e com todas as resolu-
1 2 3
ções adiadas por tempo ilimitado, Artur Salema perde não ape-nas o espaço de trabalho junto aos serralheiros, como tambémos perde, inclusive o Tunhas, que havia reconhecido ser o povoos “porcos-espins” da história.
Ainda que, aparentemente, mandar um relatório paraBaltimore pudesse dar ao insucesso um certo grau de normalida-de, para Artur Salema, que antes se identificava física e ideologi-camente com Bakunine – anarquista russo, criador do Pan-Eslavismo, que preconizava a união de todos os povos eslavossob o domínio de uma Rússia regenerada e livre, capaz de reno-var o Ocidente decadente, cujo “Apelo” ligava-se ao messinismorusso –, significa a derrota. Há, primeiro, a fuga para o exterior,a desistência da luta: “Já não quero parecer com Bakunine. Ago-ra já o acho velho e ultrapassado” (Idem: 87), mas há, depois, oenquadramento no funcionamento social ao casar com outra,que não Júlia, e voltar a ser membro da família.
Daí a afirmação de Mão Dianjo, o grande protetor dosperseguidos e o grande revoltado, o que permanecia solitáriocom a revolta, de que o “artista, mesmo o medíocre, sempreconstituía um perigo iminente para qualquer movimento ordena-do” (Idem: 156). Na verdade, o artista, marginalizado, é, ele pró-prio, a sensibilidade e personificação das contradições e injusti-ças sociais.
A visão de Mão Dianjo do funcionamento social se colocaem sua reflexão sobre a idéia de Júlia abrigar Selim e desistir:
“Fizeste bem porque isso seria a última loucura da tuavida, ficarias lixada para todo o sempre. Se pensas que é assimque se transforma a sociedade, enganas-te. Esse é o recado dasrevistas asquerosas que deixam na mesinha dos ortopedistas.Pelo contrário, é preciso que esse Selim cresça trabalhe naestiva, roube, assalte, mate se necessário. Ele e mais cem domesmo bairro, todos cheios de razão. Para que se organizem.Só assim a sociedade se transforma. De que serve uma pessoapor pomadinhas na ferida se não vai à causa? Não, o caminho
1 2 4
é diferente, e é dos livros mais primários sobre o assunto. Abreos olhos, esclarece a cabecinha.” (Idem: 174)
Ainda assim, apesar da história de revolta e de proteçãoaos perseguidos pelo sistema, Mão Dianjo, que também se en-volve sexualmente com Júlia, assume o mesmo relacionamen-to interpessoal, com suas máscaras, com suas mentiras, pró-prio do funcionamento social, trazendo consigo a ambigüidadecentrada na linguagem: tudo o que mostra também esconde.
Vem de Mão Dianjo a ideologia do ódio, a começar pelacriança: toda a criança precisa que lhe ensinem a odiar.
“(...) Só o ódio é capaz de dar à pessoa o limite da suadimensão de gente. Só ele é capaz de defender, de preservar,robustecer a pessoa. Na arquitectura, que é o jogo das formase das forças em equilíbrio, uma pessoa aprende esse jogo comodado essencial. O que é uma parede mais do que uma agressãocontra a gravidade da terra? Vencida a força que se opõe ecria, a parede é chão e cai. A construção é um jogo de oposição,de ódio.” (...)
“Oh filha! Eu estou farto de poses beatíficas. Farto dessascoisas chochas. Tudo espaço para que os outros odeiem semprecisarem de o declarar. Tu sabes como é. Tu já te lixaste! Vai-te matar!” (Idem: 264)
Para Mão Dianjo, Júlia era o exemplo vivo de se pertencera uma classe social e não se ter consciência dela, isto é, nãopertencer, efetivamente, não participar, efetivamente. “Vivia numatelier que fedia como qualquer barraca imunda da Curraleira oudo Casal Ventoso, explorada de todos os modos e feitios(...)”(Idem: 153), portanto, e diante da ausência da ideologia do ódio,a previsão de seu futuro era evidente: “angústia, frustração, sui-cídio”.
1 2 5
Mas Júlia é a personagem que, em contato com as diver-sas situações existenciais e com as diferentes vozes, mais setransforma. Anseia por absorver o mundo circundante, mas, dasmais diversas formas, ele termina sendo refratário a ela e provo-ca o seu esmagamento. Ela é dos que descem para que os outrossubam, conforme Anabela Cravo. Ela é a perdedora, a que dáazar. A que perdeu o marido, Grei; a que quase perdeu o filhopor suicídio, Jóia; a que perdeu o grande amor, Artur Salema; aque faz aborto do filho do seu grande amor, para salvaguardar osentimento; a que perdeu a que julgava amiga, Anabela Cravo; aque na primavera tinha dois amantes e um noivo; a que redescobrea cidade sem poesia, mas de uma forma brutalmente realista; aque entrou na prostituição de rua e quase foi morta por alguémque a confundiu com alguém; a que fez a festa para reconhecernaqueles que a rodeiam aqueles que lhe tiraram e devem algumacoisa; a que, enfim, pelo aprendizado do desencanto e dadesmistificação assume a ideologia do ódio e a filosofia do medocom uma faca dentro da bolsa, com o que rompe os laços, comMão Dianjo e Anabela e supera a si mesma: “Meto medo, logoexisto, logo existo. Jóia existe, o Fernando existe” (Idem: 321).
Ora! Nisto tudo o que é Lisboa, no pós-Revolução?
O que mais poderia acrescentar? Que entre setenta e cincoe setenta e nove por aqui ninguém se lembra de ter passadonenhuma guerra, nenhuma fome, nem sequer nenhuma epide-mia, antes a democracia consolidava a sua franjinha radiculardentro de água, as lojas até se encheram de roupas caras eperfumes fatais. (Idem:16)
Nessa Lisboa da devoração comandada pela injustiça so-cial conseqüente do poderio econômico, da “ganância dos ci-frões” (Idem: 44), da morosidade da Justiça, das falsas relaçõesinterpessoais, das máscaras, da linguagem pervertida, que diz o
1 2 6
contrário do que quer dizer, dos mexericos, da miséria, damarginalidade, da proliferação dos “bairros de lata”, das paredesesburacadas, do estrume das ruas, dos pedintes, da prostituição,da tuberculose, da crise da saúde pública, do aborto, da tentativade suicídio de uma criança de treze anos, do “manso caos socialfazendo-se como sombras nas poças” (Idem: 142), da falênciadas teses e ideologias, da inutilidade do ato heróico e histórico,dos “expedientes estranhos, negócios cinza, intermediarite” (Idem:96), do saudosismo do “ Império havido” (Idem: 188), da “de-pendência dum umbigo longínquo” (Idem: 114), do “complexode inferioridade” (Idem: 144), da expropriação do “íntimo, ohumano, o amorável, o boca-a-boca (...)”, da perda “do rostocantando”, da identidade (Idem: 218), num “tempo demasiadorápido” (Idem: 251), de mudanças bruscas, nessa Lisboa, omágico se faz presente como única saída na garantia do huma-no.
O mágico se dá pelo aparecimento da campânula, o peri-go amorável diante de Artur Salema, capaz de espremer duaspessoas que se amam até que possam “ser gente” (Idem: 193).
Foi nesse momento que eu tive a certeza, e por umbrevíssimo instante, inexplicável instante, qualquer coisa mepareceu descer do teto e poisar sobre a mesa como uma som-bra fosforescente. (...)objeto que fosforescia em forma decampânula, e que abafava por completo todas as outras vo-zes(...) (Idem: 28)
Ora, diferentemente do que ocorre em O dia dos prodígi-os e em O cais das merendas, o mágico, aqui, não tem carátercoletivo, mas individual, embora transcenda o real e embora tra-ga consigo uma característica eminentemente simbólica.
Terminada a história com Artur Salema, cobrados os de-vedores, rompidos os laços pela ideologia do ódio e a filosofia domedo, quando a solidão e o desencanto vital são evidentes, “
1 2 7
uma campânula duma outra fosforescência desceu sobre a ruainteira” e Júlia achou que “era um bom dia para recomeçar” (Idem:322), desta vez com Fernando Rita, o único a manter-se fiel àsua arte e à sua ideologia.
“ (...) Talvez fosse a arte mais perdurável de todas. Talveza última a resistir ao tempo, a aguentar convulsões, uma espé-cie de eternidade. “Para ser franco” – disse ele. “A última arteque atesta que por aqui passámos. É assim. Aquilo que o Arturdiz a Portugal é o que nós dizemos ao mundo, geração atrás degeração – non ritornerò più.
Temos de criar ilusões.”( Idem: 170)
Um olhar outro sobre a terra e seus velhos mitos, comoas éguas de Lisboa que de tão velozes engravidavam pelo ventoe cujos filhotes eram recrutados pelos heróis épicos que os tor-navam os mais poderosos corcéis. Portanto, esperança de diálo-go, num “dia longínquo, se alguma vez houver tempo para umpensamento sereno como o que cria os mitos e a magia” (Idem:307).
O anúncio deste tempo se dá com a campânulafosforescente porque, como escreve Júlia, “agora um mundonovo acontecia, porque se a campânula de vidro era pura ima-ginação da linguagem, significava contudo uma chamada ar-dente” (Idem: 47).
Assim, o caderno amarelo é o resgate de quase dez anosvividos, em que a experiência se faz memória e a memória ex-pressão de si, de um momento histórico e um espaço vorazesrefletidos na leitura desencantada da situação sócio-cultural. Issopossibilita a manifestação das diferentes vozes tomadas em dis-tinção, negando-se e afirmando-se de acordo com padrões éti-cos e papéis sociais que representam, num processo estruturalque desvenda a ideologia e a devoração que envolve a todos.
Ele não termina. Como a história não termina. Júlia reto-
1 2 8
ma “a prática do caderno amarelo”, “como se a partir dessafrágil matéria, sentisse e pudesse dar notícia da outra realidade”(Idem: 322).
Caboverdianos circulam por essa Lisboa de Lídia Jorge,em Notícia da cidade silvestre, seja “rindo em crioulo”, dividin-do “entre si pães e cerveja com uma alegria infante” (Idem: 65),seja à frente de uma morada cheia de “manchas e buracos comose tivesse sido bombardeada” (Idem: 223), seja no encontro coma morte, quando “embaixo ouviu-se um grito e eram duas nava-lhadas num caboverdiano que guardava obras, inocente, a dor-mir à porta da casota de madeira. O navalhador, bêbado ou estú-pido (...) (Idem: 286). Na verdade, eles também são vítimas dadevoração, tanto maior por serem, aí, o Outro, corroborando aimagem produzida na obra de Orlanda Amarílis.
A devoração é retomada em O jardim sem limites, obra deLídia Jorge, de 1995. Uma devoração do espaço, marcada porum tempo igualmente devorador, que aponta para a denúnciasocial.
A Lisboa de O jardim sem limites diferencia-se da Lisboade Notícias da cidade silvestre.
Estamos, agora, no final da década de 80, mais precisa-mente no verão de 1988, e Lisboa é outra: perdeu a primitivapureza, perdeu a inocência, alterou as relações ao abrir-se aomulticulturalismo e à globalização, tornando-se colonizada porpadrões importados massivamente.
Aqui, como em Notícia da cidade silvestre, as persona-gens se automarginalizam, mas por diferentes razões.
Em Notícia da cidade silvestre, há vencedor, Anabela, evencido, Júlia. Em O jardim sem limite, não. O que efetivamentehá é a crise, marcada pela decomposição de valores humanos,sobretudo para os jovens. A tal ponto que Falcão chega a des-prezar a cidade por não proporcionar violência suficiente, tendocomo parâmetro a imagem do mundo que lhe chega de fora. “Éque Lisboa, mesmo a horas mortas, mesmo junto aos lugares
1 2 9
maus, mesmo rente às pessoas de hábitos vis, raramente ofere-cia um bom objecto de reportagem” (Jorge, 1995: 34).
O que efetivamente se expressa é o isolamentotranscendental de todos e de cada um.
Esta humanidade jovem está cheia de um desejo deespiritualização, mas não sabe como vivê-la, onde colocá-la ea que oferecê-la. Estão cheios de fraternidade, sem irmãos.Estão cheios de necessidades de uma experiência mística, masnão sabem para onde ir. A única coisa que tem é o sentido doindivíduo. ( Jorge. Apud: Martins, 1995: 16)
Aponta-se, então, para o caráter problemático das estru-turas do homem da década de 80 – geração já nascida depois daRevolução dos Cravos – em relação à medida de valores dasgerações precedentes e, ao mesmo tempo, esvaziada de valorespara as subseqüentes.
Há, nesse livro de Lídia Jorge, a descoberta de ummicrocosmo humano, no centro de Lisboa, em que aautomarginalização afeta a classe média e a alta burguesia ur-bana.
O passado não lhes serve, sequer ajudaram a construí-lo.O passado, como passado, não lhes diz respeito.
A inscrição VIRTUTIBUS MAIORUM, talhada na pedrado Arco, que a princípio ela mesma julgava tratar-se dumaepígrafe digna, dirigida pelos antigos aos mais corajosos dofuturo, tinha-se-lhes revelado de sentido oposto. Visava princi-palmente honrar mortos e antepassados. (...) “ Talvez a gentenão seja de cá, seja doutro lugar.” (Jorge, 1995: 33)
Há o deslocamento no tempo e no espaço. O presente éuma busca jogada no vazio. É a busca de superação de si. Ofuturo é rejeitado.
1 3 0
Afinal, éramos jovens, não nos lembrávamos de nenhumatragédia, não a víamos no horizonte, nem tínhamos nada alamentar que não fosse recuperável. (Idem: 31)
Aí, tinham prometido uns aos outros que nunca mais fa-lariam do passado, tornando-se reciprocamente desconhecidos.As personagens que compõem O jardim sem limites, sobretudoos jovens, sequer têm rosto próprio, tratam-se uns aos outrospor nomes de artistas de cinema, o que compromete definitiva-mente a identidade:
De resto, ali estavam os cabelos revoltos de Gamito a quemchamavam Burt Lancaster, além a cara alongada de Osvaldo aquem chamava Al Pacino. Junto da maviola encontrava-se Fal-cão de quem não conhecia a alcunha, e encostado à porta,estava César, de nariz em forma de faca, também chamado porisso de Dustin Hoffman. (Jorge, 1996: 13)
Leonardo, o Static Man, é Robert de Niro e Falcão, afi-lhado mental de Orson Welles:
Ao contrário do que se pensava, ele não queria transfor-mar-se num cineasta como Orson Welles, ele queria ser paracinema o que Orson Welles fora no seu tempo. Isto é, ambicio-nava ser um revolucionário. E porque só acreditava no filmeao vivo, um novo cinema directo capaz de colher a Arte dabruteza real da vida, queria antes de mais, e em primeiro lugar,transformar-se num verdadeiro repórter. Se Welles estivessenaquele instante a nascer, pensaria como ele, saberia que agrande mudança iria estar na colheita bruta da realidade, semidéia prévia, sem scriptum, sem representação. Pois o que é arepresentação? Perguntava ele, enquanto se ia esfregando com
1 3 1
fúria. Um acto postiço próprio do tempo em que era precisoinventar. Mas agora, não era mais preciso inventar. Seria umaindecência. A vida estava inventada. Ele não iria pertencer aessa velha escola em que a fantasia fora feita contra a reporta-gem, dizia. Agora, tratava-se duma questão bem mais comple-xa e importante, porque se tratava de colher a acção sobre aacção, a vida apanhada no fulgor do seu movimento brutal,sem o experimentalismo dos idiotas dos anos 60. (Jorge, op.cit.:59,60)
Inicialmente, esse fato do ser semelhante ao outro e que-rer ser como o outro aparece como que diluído na aspiração evaga idéia de construção familiar e de exercício de comunidadeentre os hóspedes do primeiro andar da Casa da Arara, uma“hospedaria que verdadeiramente não passava de uma casadevoluta, várias vezes à beira de ser demolida, entalada entredois prédios recuperados, à Rua da Tabaqueira... ” (Jorge, 1995:8). Entretanto, os contatos no interior da “família” não se reali-zam na intimidade, apesar de viverem a sensualidade e a amizadeem grupo, e o único ato completo é o da solidão. Desaparece atotalidade espontânea, daí o ter que superar-se a cada passo.
Nesse sentido, a tentativa de romper com a dialética entreinterior e exterior, pela busca de modificação do segundo, já queo primeiro permanece intacto, e a revelação, que então se faz, deque a exterioridade é imutável, porque múltipla em si, traduzema solidão dos jovens e dos velhos, o esvaziamento de significa-ção do presente e do futuro já que, como quer Kennet Burke,“essa solidão não é de natureza, mas de forças sociais” (Burke,1974:110).
Suas personagens buscam chegar a alguma coisa, mas háo impedimento exterior, há o limite. Há todo um jogo de imagemem que ser é ser semelhante a, portanto sem rosto próprio, epara isso, Lídia Jorge recorre ao cinema, recurso utilizado já emO cais das merendas e em seu conto A instrumentalina.
1 3 2
Segundo a autora, “é como se cada homem nascesse como destino de procurar uma imagem que não a sua. (...) Estesjovens são gente que quer ser herói, mas não tem pátria. Queremser santos, mas não têm Deus. Querem ser corajosos, mas nãosabem onde aplicar a coragem” ( Apud: Martins, 1995: 15).
Na verdade, esses mesmos jovens procuram construiruma identidade conforme os modelos inspirados por essa cultu-ra mosaico que os cerca, mas falta-lhes espaço para agirem efaltam-lhes valores a invocar, as referências são apenas másca-ras.
“ Às vezes acho-vos interessantes e penso que vocês da-vam um belo bando, se fossem corajosos e praticassem o quelhes passa pela cabeça. Mas não são, não. São uma treta depessoas. Ela, aqui, a girl, seria a mulher do bando, Gamito, oartista do bando, César, o cozinheiro, e Osvaldo, na posiçãoem que se encontra, posto entre a espada e a parede, sem con-seguir dar um passo sozinho na rua, seria o delator do bando...Ah! Mas vocês não são gente de coragem, são gente miserável,gente de sonho pequeno...” (...) “ E tu? Tu o que eras no meiodo bando? Aposto que serias o superior impassível, aquele quevia e filmava, mais nada...” (Jorge, 1995: 50, 51)
Ocorre que o quotidiano emerge do texto de Lídia Jorgecom seu peso máximo, num mundo herdado, em que gestos epalavras aparecem esvaziados de sentido. Um mundo pronto. “Avida estava inventada” (Idem: 60). E, nesse mundo, os atos secondenam, inevitavelmente, à frustração ou à morte.
Provoca-se, assim, a sensação de que o mundo e a vidasão absurdos, os “grandes princípios” substituem-se por outrosque apenas subjetiva e individualmente são grandes e, então, seperde o sentido do destino, instaurando a devoração de uns so-bre os outros sem que se dêem conta, tão centrados estão em simesmos. Negam-se as convenções herdadas e a repetição, recu-
1 3 3
sa-se um tempo histórico vazio de criação, mas não há qualquerorientação sólida senão experimentar as possibilidades com quea realidade se apresenta porque essa geração, depois do 25 deAbril, depara-se com um não saber-se, com a falta de referênci-as e de um rosto próprio, até porque a memória já não importa.Cada um constitui uma individualidade manipulada pela socieda-de de consumo que recusa e, ao recusá-la, deixa que se percamos parâmetros.
Subjetivamente, a possibilidade é mais rica do que a reali-dade efetiva, uma realidade que sequer oferece matéria violentapara a reportagem. Entretanto, de uma gama de possibilidadesque, ilusoriamente, se oferece ao homem, apenas uma percenta-gem ínfima se pode realizar. Acolhe-se, então, retomando o pen-samento de Lukács (1966: 35), uma realidade que impede que serealize todo esse possível com uma espécie de desprezo tambémmelancólico. Há que superar-se para deixar sua marca na reali-dade apreendida como tal. Seja pela imobilidade, seja pelo filmeque elimina a fantasia, seja engolindo a tênia, a “Refeição da Diva”.
Compreender qual o sentido do homem neste específicotempo histórico num país que não é, evidentemente, uma socie-dade de consumo tecnicologicamente avançada, quando emergea idéia pragmática de economia a determinar o mundo, adquirin-do aspectos particulares, quando, de fato, já não existem siste-mas isolados, mas receptores de acontecimentos e posições ide-ológicas provenientes de vários centros de irradiação, eis o queaí se propõe. E, sob esse aspecto, as personagens de Lídia Jorgesão porta-vozes da atualidade. O documento está lá, na escrita.
O mundo também não faz sentido para quem já fez. Tam-bém para os Lanuit e Juju o mundo faz pouco sentido. Tambémeles são devorados e devoradores neste espaço e neste tempo. Aimagem e os valores que trazem consigo não encontram resso-nância na atualidade, seja na roupa, quando Juju “dava a idéia dealguém que se houvesse vestido vinte anos antes e continuamen-te se tivesse metido no tanque e enxugado, sem nunca mudar deroupa”( Jorge, op. cit: 19), “tudo o que provinha da mulher deLanuit estava desactualizado como continha uma pevide de de-
1 3 4
mência” (Idem: 54); seja na memória, que, por questões de so-brevivência, precisa ser esquecida:
“Porque lhe fizeram muito mal, durante várias noites evários dias. Ah! Sim, de dia abandonavam-no na cela, mas denoite voltavam à carga, sacrificavam-no, sacrificavam-no sem-pre de noite! Durante trinta noites o sacrificaram...” (...) “Ah!Mas tudo isso aconteceu há muitos anos, há tantos anos quelembrá-lo nem faz bem, só vem atrapalhar a memória da pes-soa. Naturalmente, que tudo isso morreu, não concorda? Mor-reu, o tempo levou essas noites em que sacrificaram Lanuit.Deve-se pedir às pessoas que ainda se lembram, precisamente,que não se lembrem mais, para não nos atrapalharem a vida.(...) Uma memória que não lhe serve para nada. Lanuit conti-nua a ser um sonhador do passado. Quem me dera que hou-vesse comprimidos favor do esquecimento como existem paraavivar a memória. (...) (Idem: 55)
Não existe possibilidade de esta memória se apagar, estáinteira na casota dos fundos, lugar de trabalho/ memória de Lanuit,nas paredes, “aquela multidão de fantasmas oriundos do seu país,datada dos idos do anos 70”, mapeada e dividida em “Estes sãoos que não devemos esquecer”, “Os que não podemos perdoar”,“Os verdadeiros traidores” e, finalmente, “Aqueles que não nostraíram mas nos deixaram”.
A diferença que se impõe entre as duas gerações, emboraa comparação de Juju entre o Static Man e Lanuit, no que dizrespeito a ser um resistente, ao anseio de mudar o rumo dosoutros, a fazer parar e refletir, a dar a vida por uma causa, seja aque se coloca entre a causa individual e a coletiva.
Sim, o palhaço tinha-se imobilizado sobre o poleiro. E nãoestava ali de braços estendidos, apenas por estar. Ninguémagüentaria um sacrifício desses. Pelo contrário - Aquela pessoa
1 3 5
a quem por acaso sua mulher dava guarida encontrava-se afazer troça de si e de todos aqueles que uns anos atrás tinhamfeito Estátua nas enxovias da polícia por protegerem vidas,defenderem ideais, arvorarem no alto as sagradas bandeirasda utopia. Eles tinham ficado horas e horas sofrendo, em pé,afastados das paredes e de braços estendidos como cristosagonizando pelos objectos altos da humanidade. Agora era ooposto. Ali estava aquele palhaço treinando-se para nada, ab-solutamente para nada, que no dizer do seu cartaz era tudo!(Jorge, 1995: 243)
Quer dizer, Lanuit vem de um mundo racional, o que “nãoconta com a coincidência”. Antigo resistente e desempregado,queria salvar e purificar a sociedade. Agora, entretanto, não sabemais com o que sonhar:
Tudo faz parte do mesmo pesadelo. Aliás, o problema é quepertencíamos a um mundo em que dois pesadelos se ameniza-vam um ao outro. Tu estavas num lado e imaginavas a salva-ção do outro, e vice-versa. A imaginação andava sempre aviajar. Pelo menos tinhas uma estrada a percorrer. Agora, nãotens para onde espairecer a imaginação nem a revolta. Tudoparte do mesmo ponto como se fosse o centro dum único big-bang. (...)“Ambos pertencemos ao grupo dos irrecuperáveis.”(Idem: 236)
O que muda explicitamente é o fato de não haver grandediferença entre o sonho e a vida, “apenas da vida se demoravamais a acordar. E sobre ele mesmo, sobre a sua vida e dos seus,tinha descido uma noite sem fim” (Idem: 291).
E, no desfazer-se do seu projeto, por coisas pelo menosaparentemente inexplicáveis e irracionais, como receber em pa-gamento por um trabalho um cheque sem banco de origem, oucomo assistir à mulher a deitar-se, como morta, em cima da
1 3 6
grande mesa, no meio da louça, ou, ainda, o roubo do incêndiode 25 de agosto de 1988, do Chiado, estava a impossibilidade decompreensão do momento: “Curioso, muito curioso. Ou perdicompletamente o controlo da minha vida, ou alguém a está so-nhando por mim” (Idem: 333). O que efetivamente se desfaz é amola propulsora do sonho. No passado, resistia “pela justiça epela liberdade de um povo” (Idem: 244). Agora, resiste como ohomem estátua, por um nada, um tudo individual. Rompe-secom o passado e tira-se-lhe a possibilidade de presente.
Há, sim, a tentativa de transformar o feito do Static Manem coletivo, pela representação de Portugal nos rankings inter-nacionais, no record, batendo, ocidentalmente, o record mundi-al, no Guiness Book.
Isto é, o rapaz de branco, de longos cabelos empastados emcolor cream, não era um palhaço, era um atleta a treinar-separa o Guiness Book.
“Ah! Assim, sim! Já teremos alguma vez batido um recordmundial?”
Não, ninguém se lembrava. E se não se lembravam eraporque não havia. “Deus te ajude!” – disse uma velhinha.“Coragem, muita coragem!” - incitava um rapaz que deveriaser desportista, e passava com um grande saco como se ládentro levasse uns remos. Uma grávida ficou a olhar. “Fazesbem olhar. As mulheres grávidas devem fixar os exemplos dosvoluntariosos para influenciarem os filhos. Olha, olha bem queeste tem pinta de entrar nos tops do mundo. Já viste o autodo-mínio, a fina compleição? É pena ter a cara e o corpo cobertosde branco...”- O marido da grávida era bastante mais velho doque ela e beijou-a na boca, para que a imagem do Static Manpassasse para o estro do feto, seu filho. “Não exageremos. Noséculo XVI fomos os primeiros a dar a volta ao mundo...”–disse um lojista emparvecido com aquele movimento. Mas duasraparigas em culotes gritaram – “Fora, fora! Nessa altura,
1 3 7
ainda não havia Guiness Book...” (Jorge, op. cit.: 175,176)
O que se abala quando o jovem recusa o recorde:
Mas a aproximação dos passantes e sua indignação eramgenuínas. Tinham-se aglomerado a olhar para o cartaz, apesardo calor e da zorreira da tarde. Uma senhora com a gargantaenfeitada a ouro disse – “Nunca me enganou, sempre achei quenão era um vencedor, que era um cobarde!” A senhora levou amão à garganta e, aí, sim, dirigiu-se à máquina de Falcão –“Coitado do meu neto que não fala em mais nada do que noStatic Man! Começou a fazer uma banda desenhada em que orecordista recebia uma medalha, e foi ao ponto de desenharbalões com falas! Afinal não passa de um perdedor desgraça-do! O que vou dizer ao meu neto?... São episódios destes quevão minando a nossa auto-estima!” (...) um cavalheiro ergueuum saco da Loja do Povo. Abriu os braços diante da câmara elamentou profundamente – “De novo o nosso país não vaiganhar! Não vai entrar na corrida dos primeiros...” (...) “Querdizer que não vai constar do livro? Se não vai constar do livro,não consta da História, naturalmente!” Não era fácil compre-ender o que se passava e até a frase estivesse mal escrita.“Ouça, menino, pedimos-lhe que aceite! É a nossa vida tambémque fica em causa (...)” (Jorge, 1995: 326,327)
Não existe possibilidade de reversibilidade de um fato co-letivo para individual. O indivíduo é “cabrão”, “covarde”,“caguincha”, “fraco”, mas a perda, agora, não é mais individual,é coletiva. A pátria, já abalada em sua auto-estima, perde suapossibilidade de recorde e de se fazer presente no Guiness.
E é exatamente esse o método de composição de LídiaJorge. Por trás do aparente irreal, desenham-se acontecimentosreais e figuram pessoas vivas, proporcionando ao leitor uma vi-são adequada do homem português do nosso tempo, dos seus
1 3 8
problemas, do seu caos, da devoração e da asfixia causada pelascontradições múltiplas.
Estamos diante de um romance sem sentimentalismo,sem valores nulos, um mundo fragmentário e atomizado, sempossibilidade de unidade, mesmo através de João Lavinha, comsua fuga para o metafísico, representando as igrejasapocalípticas, tentando resgatar leis e regras, por meio do sa-ber revelado, para uma sociedade que perdeu o valor do outro.Um romance que se produz por uma série de alegorias forte-mente ligadas ao real. A própria amplitude cósmica do mito seassocia a um agudo sentido da atualidade num panorama con-temporâneo.
Do ponto de vista estrutural, esclarece a autora, O jardimsem limites constitui “um labirinto que se vai organizando emespiral”. E de fato vai. A obra se constrói na velha Remington aotempo mesmo da leitura. No mundo fragmentário e atomizado,não há unidade possível, há determinados arranjos de associaçãoentre os diferentes pedaços da realidade exposta que, na experi-ência estética, liga-se à contemplação para conhecer, sem inter-vir. Daí, os seres ficcionais – e a narradora se inclui entre eles –serem submetidos, como o próprio funcionamento de uma soci-edade marcada pela imobilidade, à evidenciação de seus traçosmais significativos.
E quem era eu para lhes escolher os desejos, avaliá-los ejulgá-los? Como já disse, apenas me interessava o espetáculodo mundo, e a partir da Casa da Arara, eu tinha a idéia de queo via na totalidade, espelhado numa gota de água. (Idem: 51)
Ora, no mundo assim representado, a totalidade é sempreuma falsa totalidade. Na medida em que a narradora assume-setambém como personagem: “ Eu abandonava a máquina. É ver-dade, dormíamos os quatro”, na busca de manter a objetividadedo registro, a ação predomina sobre a nomeação, mas, aindaassim, as demais personagens subordinam-se à sua visão, muito
1 3 9
embora registre em termos definitivos: “limitei-me a assistir paraconhecer. Não sou culpada” (Jorge, 1995: 375).
Por outro lado, O jardim sem limites propõe imagensmíticas. Na verdade, aponta para o Jardim do Éden e outrosmitos universais, o que Lídia Jorge, em entrevista a Martins,explica da seguinte maneira:
No paraíso, os limites não eram os rios, era aquela árvoreda sabedoria . Não quero com isso dizer que seja bom havercoisas proibidas, mas tem de haver um limite até onde possa-mos ir sem desfeitear ninguém. Hoje, por mais que se multipli-quem as regras, as leis e os tribunais, a consciência humanacontinua a viver à deriva e a barreira magnífica que é o rostodo outro perdeu-se. (Apud Martins, 1995, 132)
Na verdade, perdeu-se o rosto do outro e o próprio. O jar-dim sem limites vive de casos particulares. Do ponto de vista mítico,os jardins, mesmo os primordiais, eram uma mistura do bem e domal, mas tinham limites. Os da cosmogonia judaico-cristã não ti-nham limites exteriores. Os rios Píson, Gheon, Tigre e Eufrates nãoconstituíam fronteira. A fronteira era o centro: a árvore.
N’ O jardim sem limites, não há qualquer tipo de frontei-ra, nem interior nem exterior, as pessoas se movimentam e bus-cam conhecer-se em seus feitos. O ilimitado do jardim não émais do que a possibilidade, sempre mais rica do que a realidadeefetiva, mas que não admite a perfeição e, nesse sentido, a pos-sibilidade pode tocar a morte, tal qual sucede ao Homem Está-tua, que personifica o desejo de superação e a perfeição do imó-vel representados pela morte. Por outro lado, as possibilidadessão múltiplas e, ainda que os sobreviventes, Paulina, Falcão,Gamito e a narradora, dona da velha Remington, dormissem jun-tos por puro medo, ainda assim tentam reorganizar o mundo,“Ficavam a pensar, mas não tinham a certeza. Então levanta-vam-se enrolados nas colchas e andavam pela casa. Arrastavam
1 4 0
os cobertores pelo soalho até junto da maviola” (Idem: 375),como se as imagens desgarradas que sobram do projeto do filmedo Falcão, reordenadas, pudessem apresentar uma nova possi-bilidade de leitura, fazendo-os escapar da devoração, ainda quenuma “sociedad poseída por el frenesi de producir más paraconsumir más”, uma sociedade que “tiende a convertir las ideas,los sentimentos, el arte, el amor, la amistad e las personas mismasen objetos de consumo” (Paz, 1991: 62).
A devoração em Cabo Verde, entretanto, é de outra or-dem.
Há que se atentar, primeiramente, para a duplicidade daconcepção espacial caboverdiana. Há o espaço limitado, interior,ensimesmado da ilha e há o outro, o que tem o mar como cami-nho mítico.
No espaço interior, predomina um conjunto de ilhas quasedespidas de vegetação florestal, onde se assentam arraiais comatividades pobres, derivadas do trabalho agrícola, com uma ca-pacidade produtiva de víveres e gêneros essenciais precária. Fal-tam à cidade caboverdiana os elementos distintivos do fenôme-no urbano. Daí uma sociedade tradicional, sem projetos de futu-ro, profundamente marcada pelo insulamento e condenada à inér-cia.
Seca, ilhamento e força opressiva da tradição: esse é orosto da terra madrasta (Amarílis, 1991: 52), a que condena osfilhos à emigração ou à miséria, sem que a primeira, necessaria-mente, exclua a segunda.
“Sabe comadre, a vida aqui já não podia continuar comoera. Sete anos sem chuva é muito. Eu não tenho nem uma miga-lha de reforma de Deus-Haja. Nós vivemos de renda dos boca-dinhos de terra e de alguma coisinha, encomendas dos nossosrendeiros, um cacho de banana de vez em quando, uns ovinhos,um balaio de mangas uma vez por outra, uma quarta de
1 4 1
mongolon, umas duas quartas de milho e é tudo.”
“Eu também não tenho nada, comadre Ana. Se não fossemas flores para as coroas dos mortos ou umas rendinhas paralençol, como eu me havia de governar, comadre?” (AMARÍLIS,1983:14)
Assim, a devoração é de outra ordem: a da miséria, dodesemprego, da fome, da doença, da morte. “Mal-feitiço ou não,muita gente nova em Soncente morria tuberculosa e, se criançasainda, morriam de febre tifóide, e se meninos de mama, morriamcom desinteria” (Amarílis, 1991: 17).
Não se trata, portanto, de resistência à língua ou à culturado colonizador o que aqui conta. A língua resiste no fazer literá-rio de Orlanda Amarílis pela insistência do crioulo, dialeto comestatuto de língua, na fala dos seres ficcionais por meio do re-gistro das formas orais. A cultura, por sua vez, resiste nos mitose na mestiçagem cultural que toda a sociedade, em maior oumenor grau, sofre. Não se trata de personalizar o tirano no colo-nizador nem anular o processo histórico. Embora, é preciso nãoesquecer, Cais-do-Sodré té Salamansa seja um livro anterior àna-cionalização, traz a visão, ainda que diaspórica, de uma colô-nia decadente devido à seca e à má administração pelo poucointeresse do colonizador, a não ser como base naval do passadoe do presente, como posto de abastecimento de navios. Trata-se, em última análise, isso sim, da decifração dos signos da mi-séria e da alienação social impostas por essa terra madrasta.
É no conto “Esmola de Merca”, que compõe Cais-do-Sodré té Salamansa, num olhar sobre o Eu, pela experiência co-mum, quotidiana, da chegada da ajuda externa, o que acentua ograu de miserabilidade, que Orlanda Amarílis revela, com preci-são, a condição sócio-histórica do povo caboverdiano.
“No pelourinho, na Praça Nova, na igreja, nos passeios danoitinha, não havia outra conversa. No Grémio, à hora da canasta,já tinham falado nisso.” Isso, era a esmola de americano que
1 4 2
chegava de vapor: “(...) são caixotes e caixotes de roupa.” (...)“Também mandaram farinha, banha. Vai ser um dia grande”(Idem,51).
É quando o texto de Amarílis, tocando nos problemasmais ingentes do povo, permite-nos a contemplação desses ato-res sociais, que retratam, com surpreendente realismo, a experi-ência local.
O povo fora-se juntando do lado de fora. Aguardava. Nãofora preciso avisá-lo. Ainda o vapor não havia alcançado oilhéu Raso e ele sabia: a esmola dos patrícios vinha pela baíadentro. Na sua maioria eram mulheres velhas, andrajosas, deolhos encovados e cabelo engasgado pelo pé e falta de pente,escondido debaixo do lenço vincado de tanto uso. Parte delasviera arrimada ao seu pau de laranjeira, desde a Ribeira Bota,a arrastar os pés descalços e gretados até ao meio da morada.Uma parte espalhara-se pelo passeio da Administração, outrassentadas no patim das portas laterais, outras aguardavam decócoras nos passeios. Penderam o queixo sobre os joelhos uni-dos e abraçavam as próprias pernas, com a saia de panoesfiapado na bainha puxada de modo a cobrir os pés.(Idem:53,54)
“Esmolas de Merca” é um conto seco. Em sua estruturalinear por adição, vai, num crescendo, num tempo marcadamentecronológico, no plano do real objetivo, fazendo-se crônica soci-al e recuperando, no Mindelo, o espaço da experiência de umasociedade corroída pelo drama da miséria.
Conto aberto ao popular, sem nenhuma preocupação es-tética de experimentação, faz com que suas personagens saiamdo meio objetivo e sociológico, trazendo como pano de fundo odesespero da fome, do frio, e a passividade popular e, aí, sedestacam tipos transindividuais, aqueles que carregam consigo apsicologia e o comportamento da classe a que pertencem.
1 4 3
É neste quadro que a velhota “de tronco abaulado sob acabeça a tremular” aspira por comida:
“Banha de Merca faz engrossar a cachupa. Cachupa ficasabe, sabe com banha de Merca”(...)
“Nô Senhor me perdoe, quase me esqueci do gosto dacachupa – disse baixinho e riu. Atemorizada porém fez o sinalda cruz. – Dias-há no mundo eu não tenho comido cachupanem nenhuma comida de caldeira. Só parentem, às vezes. Maseu não tenho dentes, você sabe, e custa-me comer parentem.”
Ficou a ver a rua cheiinha de gente pobre como ela. (Idem:54)
Mas é, nesse quadro, e de um povo impaciente, “impaci-entes e contentes. Ia ser uma boa semana” (Idem: 55), que afigura de Mam Zabêl se agranda na representação deste mesmopovo:
Estava esperançada. Bia Sena havia-lhe prometido um ca-saco de Merca, quente, um casaco para a resguardar do frio dacambota. O frio passado dormia de noite enrodilhada na saiapreta que lhe tinha dado Nha Elvira de Nhô Jul Sousa. Oh tantofrio ela passou na cambota, Nhor Deus. As pedras eram durase o vento do Lazareto furava a pele e trespassava uma criaturade Deus. Os mocinhos de ponta-de-praia tinham mais sorte.Dormiam debaixo do coreto, na Praça Nova. Mas ela era gentevelha, tinha compostura, não ia dormir debaixo do coreto, nãosenhora. (Idem: 55)
Quando viu um casaco semelhante ao que queria em NhaJoninha, sentiu um desespero:
(...) sentiu um frêmito ao vê-la. Quase correu. Furou ondepodia, esquecendo-se do bordão, onde se amparava. Trope-
1 4 4
çou, entretanto, e caiu de bruços, mesmo junto à casota. Umgrito elevou-se da pequena multidão e duas mulheres ajuda-ram-na a sentar-se.
Um fiozinho de sangue na boca, conseguiu desvencilhar-sedelas e, a rastejar, aproximou-se. De joelhos, agarrou a saia deBia Sena:
“Arranja-me um casaco de Merca, um casaco como essede Joaninha.” (Idem: 56)
Mas o drama e o quadro não terminam aí:
Um chorinho manso não a deixou continuar. De cócoras, oqueixo sobre os joelhos tapados com a saia, o choro de MamZabêl, entrecortado de lamentos ininteligíveis, vazava em répiamonocórdica. (Idem: 57)
Aproximava-se o meio-dia, momento de o estômago come-çar a dar horas. Mam Zabêl, acocorada perto da casinha pa-rara de chorar e pegara no sono. O queixo descaído, a bocaaberta, da garganta subia-lhe e descia um gorgolejo seguido.(Idem: 58)
Quando voltou deu com a Mam Zabêl a dormitar no mes-mo lugar, de boca aberta. Aproximou-se, curvou-se e bateu-lheno ombro. Mam Zabêl não deu sinal de si. (...) Enrodilhadasobre si mesma, tinha batido com a cabeça contra o cimento.Parecia um novelo escuro e sujo atirado para ali. (Idem: 59)
A consciência dessa realidade passa aquém da adminis-tração, uma vez que a cisão entre aquela e o povo é a marcadefinida, tanto que “da janela do primeiro andar, Senhor Amadeuda Fazenda e seu compadre Gouveia apreciavam, divertidos, opovinho” (Idem: 55).
1 4 5
A consciência vem de Tina, seja pelo aproveitar-se dasituação, vindo buscar os pobres, não miseráveis, a esmola, emdetrimento daqueles; seja pela ligação do administrador com asmocinhas, em que a questão sexual entra em evidência na signi-ficação do uso; seja na imagem que a esmola produz, na carac-terização do ator social: “Deu-lhe vontade de rir ao ver sair dacasota uma outra Mam Zabêl, inchada de roupas. Lembrou-meum fantoche de cores, um desgraçado palhaço de um circo semnome” (Idem: 60). E nisso, Mam Zabêl não era diferente de nin-guém, como num desfile de carnaval” (Idem: 57).
Bia Sena foi encaminhando as mulheres para uma casotaonde as despia. Era uma operação lenta, dolorosa para a vista,penosa para quem a fazia. Ao cabo, saíam transformadas nosfatos novos, envergando vestidos de seda, farfalhudos, em chifonondulante com alastrados estampados azuis, vermelhos. Algu-mas reapareciam com chapéus de praia, descaídos, capelinesde crina, realçadas de flores e tule, feltros enterrados sobre asorelhas encardidas. (Idem: 56)
O conto termina assim:
O sol a pino queimava. O mesmo cheiro pestilento de hábocado incomodou-a.
Transpôs o batente, puxando a porta em seguida.
Hoje não serei capaz de almoçar, pensou, enojada de tudoquanto lhe ficara para trás naquele quintal fedorento.
Caminhou pela rua fora, apressada, desejosa de alcançaro sobrado e estender-se na cama de ferro, comprada pela ma-drinha quando tivera a febre tifóide. (Idem: 60)
Quer dizer: Orlanda Amarílis acolhe a realidade fazendodo seu texto denúncia, encaminhando-se, entretanto, para o des-prezo melancólico, quando o realismo social aponta para o sen-
1 4 6
timento trágico e a situação absurda num cotidiano estaticisado,esvaziado de sentido.
Ocorre que o presente não é luta, é contemplação de simesmos enquanto atores sociais na representação de sua condi-ção histórica. A ajuda sistemática, paternalista, traduz-se numartifício:
Isto não vem remediar nada, pensou olhando para além damadrinha. (...) Nem chega a ser um remendo, pensou ainda. Ospatrícios de Lisboa também mandam roupas usadas, calças,pão seco. Senhores, mandam pão seco para a nossa gente amo-lecer em água e enganar a fome. (Idem: 51)
Na verdade, essa ajuda não atinge nem a estrutura socialnem a econômica nem a cultural do arquipélago. Agindo comoentorpecente, apenas nutre a tendência à substituição de um cer-to imobilismo por outro.
Tratando-se, entretanto, da devoração, a corrupção, oexibicionismo e o discurso demagógico também fazem partedesse quadro e é no conto “Pôr-de-sol” que se revela, quandoCandinho faz uma festa, depois de solto da prisão, para “tirar decima de si o enxovalho daquela história de ter sido preso” (Idem:74).
Quando perguntado por que escondera os sacos de ali-mento, se havia a fome do povo, responde:
“Olha Damata, parece-te que eu seria capaz de esconder acomida para deixar de encher a barriga do nosso povo? Pare-ce-te? Tu sabes, bem, Damata, e não o podes negar. Eu pagomelhor do que os outros quando há descargas e eu, e eu, sim,eu – a voz tornou-se-lhe firme – todos os sábados dou esmolaà minha porta a mais de trinta pobres.” (Idem: 69)
1 4 7
Para reconhecer-se, ao final, como “homem de posiçãona terra, respeitado” e, depois, “sempre foi uso os comerciantesesconderem o milho nos anos de carestia” (Idem: 74).
Ora, a fórmula dessa devoração é a da posse de terras nasmãos de uma minoria, aliada ao fator da seca e a uma ânsiainsaciável de lucro. É o distanciamento entre os valores huma-nos e os valores do capital, criando uma realidade opressiva,esmagadora, feita de sofrimento e servidão, de desespero e inér-cia, cujo resultado é a miséria.
Há, ainda, em Orlanda Amarílis, uma devoração de outranatureza que também atinge o espaço, a cidade, e, atingindo acidade, que se devora a si mesma, atinge o homem de Mindelo.Trata-se do tempo e das transformações que traz consigo.
Paradigma dessa afirmação é o conto “Canal Gelado”, deIlhéu dos Pássaros, obra de 1983, que se desenvolve em doisplanos: o plano da memória, quando o passado se presentifica, eo plano do real objetivo, por meio do diálogo informal, possibili-tando, no confronto entre ambos, a reavaliação dos valores tem-porais e a perda da história individual, de Mandinha, que se fazcoletiva. Não há, portanto, a preocupação com a interioridade. Aação é apenas o contraste, buscando refletir ambas as realidadesda forma mais fiel e completa possível, sem a introdução demarcas estilísticas que as distinga, a não ser o próprio tempo.Orlanda Amarílis cria, no passado, uma espécie do que Mendilow(1972: 120) classifica de “presente ilusório”, ao evocar o efeitoda pintura, “um presente que possui uma estreita extensão tem-poral”, enquanto o presente desenvolve-se num diálogo curto,apenas enunciador de informações.
No tempo da memória, as casas eram todas iguais. “Umquarto térreo e um quintalinho. Aí cozinhavam e tomavam ba-nho” (Amarílis, 1983: 68):
Todo o quarteirão, aliás, estava cheio daquelas casas deum quarto e um quintalinho. Casas dos carregadores de car-
1 4 8
vão da companhia inglesa Miller’s and Son. A parte da frentedo quarteirão dava para a Rua da Praça Nova, tinha um armais concertado. Começava com a casa de nha Chinchinha, acasa do Dr. Roque, a igreja inglesa. Depois a rua do PadreInglês. Dobrada a esquina, a rua subia por ali adiante. Era atravessa do Cadamosto. Na casa do tio Pedro entrava-se porum quintal onde havia cabras. (Idem: 70)
Se, subjetivamente, essas casas guardam histórias da in-fância, Mandinha, menina de outra classe, um pouco mais abas-tada, cujo tio pagava-lhe para falar português e não crioulo, que,em vez de ir para a escola, ia direto para a caboverdianidade doCanal Gelado comprar cimbrão de nha Quinha, vive a diferençada qualidade de vida daquelas moradas e daquela gente descalça.Objetivamente, o Canal de propriedade dos ingleses não era maisdo que um “poço de tuberculose”, aquela “passagem estreita eressaibada de doenças, chichi e escassez de catchupa...” (Idem:67).
O que mudou? Taparam as saídas do canal, o quarteirãofoi colocado abaixo para dar lugar às casas novas, altas, o bairroda Holanda; de um lado, do que era o canal, é a Rua KwameN’Krumah; do outro, uma avenida, a Pracinha de Igreja é agoraPraça Amílcar Cabral.
O que mudou? No passado,
(...) tudo andava descalço, gente-grande e gente-menino, eas roupas remendadas, roupa de trabalho, riscavam vincos depó de carvão da Compainha. À tardinha saíam pela banda decima, mais ampla e arejada, iam tomar um groguinho ou co-mer uma gemada no botequim do Freitas. (Idem: 68)
No presente, “os homens da nossa terra ainda andam depés descalços, alguns só aos domingos se pinocam com roupasde Holanda” (Idem: 68).
Fica evidente, então, que muda a paisagem, mas adevoração primeira, a do drama da miséria, essa persiste, e per-siste na forma da estaticidade social, com o Ilhéu dos Pássaros,em sua pequenez imponente, a servir-lhe de testemunha.
1 5 0
ÁFRICA AMARELA:O EXERCÍCIO DO PODER
Embora, na obra de Lídia Jorge, a crueldade da guer-ra colonial apareça já em uma cena de O dia dos prodígios, eembora os caboverdianos sejam trazidos à narrativa em Notíciasda cidade silvestre, é em A costa dos murmúrios que a autoratrata da ocupação e da atuação portuguesa na África.
Voltada para os últimos anos da década de 60, início dade 70, em plena guerra colonial, uma guerra de libertação nun-ca reconhecida pela metrópole – “Nunca se sabe quando Lis-boa recusa uma vitória atingida a tantos milhares de quilôme-tros” (Jorge,1992:232) –, A costa dos murmúrios questiona aHistória e a consciência do país, por meio da relação com oOutro, o africano, criando condições para, numa espécie deespelho, o ver-se na ação como forma de chamamento, atéporque
(...)Fazíamos o nosso Vietnam sozinhos, com o Mundo contranós, quando defendíamos a Civilização Ocidental. Mas quando osamericanos perdessem a guerra no Vietnam – porque eles haveri-am de a perder – Portugal teria há muito vencido a guerra dassuas províncias por determinação dos altos comandos. (Idem:231)
E
4
1 5 1
Como nos outros livros, Lídia Jorge, aqui, experimentana forma. Pode-se falar, em termos de estrutura, de duas partes:o relato, “Os gafanhotos”, e a revisão do relato, “A costa dosmurmúrios”, quando, depois de vinte anos, Eva Lopo, antes Evita,resgata a verdade da História por meio de uma consciência quese agudiza neste hiato de tempo entre a reelaboração do real – orelato – e o real mesmo, com sua fragmentação.
O relato narra um episódio colonial ocorrido na cidademoçambicana da Beira: o casamento, os amores, as danças; ossoldados convergem para Mueda; os autóctones morrem porterem ingerido metanol, uma nuvem de gafanhotos ganha a cos-ta; e Luís Alex suicida-se com o revólver do capitão que Helenade Tróia, “a causa do conflito” (Idem: 72), tira da bolsa, porque
(...) Todos, incluindo Evita, compreendiam que o excessode harmonia, felicidade e beleza provoca o suicídio mais do quequalquer estado. Infelizmente, muito infelizmente, as guerraseram necessárias para equilibrar o excesso de energia quetransbordava da alma. Grave seria proporcionar demasiadafelicidade. (Idem: 38)
As personagens de Lídia Jorge são profundamentemarcadas pela solidão. Não uma solidão de natureza, mas umasolidão imposta por forças histórico-sociais, pela própria situa-ção de guerra colonial, de ser Mesmo em terra de Outro.
É absolutamente solitária a bela Helena, com seu cabelovermelho, sua pele leitosa, uma mistura de representação, ino-cência e medo, força e fragilidade, a que não podia suportar oregresso do marido da frente de luta. Ser tantas sendo uma. Mastambém o é o Capitão Jaime Forza Leal, com sua cicatriz feitodistintivo precioso, a ter de manter-se herói; o noivo, imitaçãodo capitão, que de um jovem dedicado à matemática se
1 5 2
redescobre, na guerra, como um bárbaro, que cortava a cabeçado inimigo e a enfiava num pau, “subia às palhotas e ameaçava apaisagem, como os melhores entre os Godos, os Árabes, osHunos” (Idem: 139); o jornalista, “irmão verdadeiro de toda aÁfrica negra” (Idem: 250), com suas mulheres e seus oito fi-lhos, sempre indecifrável como sua “Coluna Involuntária”, no“Correio do Hinterland”.
As relações que se estabelecem entre eles Helena/Jaime,Evita/noivo, Evita/jornalista, Jaime/noivo, Evita/Helena são me-diadas pelo incompleto ou pelo falso. A linguagem é uma lingua-gem que não revela, que esconde e, graças a isso, permanecemestranhos uns para os outros, mascarados, protegidos, sem amor.E Eva, antes Evita, se revela pelo ângulo de visão que se colocasobretudo em “A costa dos murmúrios”, subordinando a si asoutras personagens e os acontecimentos.
Na verdade, a traição de Helena ou de Evita, a morte dodespachante ou de Alex não são mais do que pretextos para quese alcem significados maiores, quando a literatura revisa, criti-camente, a História.
E, aí, joga-se texto contra texto. O relato e a sua revisão.Lá, Evita. Aqui, Eva Lopo que, com um olhar cru, entre ironia ecinismo, vai restituindo ao tempo a sua real dimensão, sem pre-ocupação cronológica – o que aumenta o encantamento da leitu-ra –, deixando que a memória flua, refazendo-a de modo crítico,onde o que é vivência e o que não é se confundem, como formade encontrar a verdade, tal como quer Guillén (1985:385):
No basta con que el relato histórico sea verdadero, si por laverdad designamos solamente el relato fiel a lo que de hechosucedió. Para captar la contextura y calidad del vivir pretérito,es menestrer abrir-se a la complejidad de unos procesos queabarcaron variedades de opciones, cúmulos de esperanzas,interaciones entre estas y los condicionamentos sociales ymateriales – cuyos resultados y desenlaces hubieran podido ser
1 5 3
diferentes. El diálogo entre la Historia desde la perspectiva delpresente y la Historia desde la perspectiva del passado descubreuna tercera dimension: la de lo virtual, lo-que-hubiera-podido-suceder.
A primeira parte, “Os gafanhotos”, tenta refletir a realida-de de forma compacta, tão fiel e completamente quanto possa. Asegunda parte, “A costa dos murmúrios”, desesperando da pri-meira, evoca o sentimento de uma nova realidade própria, em buscada verdade total, embora isso não se declare objetivamente.
Aconselho-o, porém, que não se preocupe com a verdadeque não se reconstitui, nem com a verossimilhança que umailusão dos sentidos. Preocupe-se com a correspondência. Ouacredita em outra verdade que não seja a que se consegue apartir da correspondência? (...) A si, a mim, que fomos ondefomos, estivemos onde estivemos, basta-nos uma correspon-dência pequenina, modesta, que ilumine apenas um pouco danossa treva. (...)
Não, não ou dizer que as figuras estão erradas, e que éindiferente que estejam erradas, de modo nenhum. Tudo estácerto e tudo corresponde. Veja, por exemplo, o major. Está tãoconforme que eu nunca o vi, e no entanto reconheço-o a partirdo seu relato como se fosse meu pai. (...) Ah, como admiro essafigura que encontrei espalhada por várias! E o noivo? Comocompreendeu o noivo, tapando a boca de Evita com a boca, nomomento em que ela ia pronunciar o M de Matemática! Claroque não foi bem assim, mas a correspondência é perfeita. A talpequena, humilde e útil correspondência que não nos deixanavegar completamente à deriva. Às vezes quase, contudo. (Jor-ge,1992: 42,43)
No relato, o passado, pela correspondência, permanececomo tal. Acabado, fechado. Em “A costa dos murmúrios”, não.É preciso que o passado se presentifique como forma de res-
1 5 4
guardar o distanciamento crítico. Importa a reação ao passado –e ao relato – que é visto do presente à luz do presente, comouma espécie de recuperação e de exorcismo de certas experiên-cias que ultrapassam o individual, impondo uma consciência éti-co-histórica, trazendo à cena o grande teatro colonial. É a dis-tância que se coloca entre Evita e Eva Lopo. A mesma distânciaentre a verdade e o real:
A verdade deve estar unida e ser infragmentada, enquantoo real pode ser – tem de ser porque senão explodiria – dispersoe irrelevante, escorregando, como sabe, literalmente para lu-gar nenhum. (Idem: 85)
Quer dizer, “n’Os gafanhotos, só a verdade interessa”(Idem.Ibidem). N’ “A costa dos murmúrios”, interessa o real,que, “gêmeo” da verdade, é mais verdadeiro, porque fragmenta-do, do que ela.
Segundo Salvato Trigo (s.d.: 148,149),
Portugal (e, aliás, as outras potências colonizadoras) nun-ca compreendeu que ninguém pode suportar toda a vida a afron-ta e a proscrição dos seus direitos. Portugal também não com-preendeu os “Ventos da História” que sopravam por todo ocontinente africano, a partir das independências francófonas eanglófonas, e, em vez de reformar o seu sistema colonial, refi-nou-o.(...) o regime de Salazar proclama a utopia dum Portu-gal do Minho a Timor. O colonizado, reduzido cada vez maisao silêncio...
É, de fato, o refinamento do sistema colonial e o silênciodo colonizado que Lídia Jorge traduz no seu texto, quebrado,apenas, pela voz única do jornalista e pela gincana a tentar salvarsuas casas, sua terra, seus artistas.
Aqui, a realidade cultural estrangeira – africana – é tida
1 5 5
por inferior e negativa em relação à cultura de origem – portu-guesa. Instaura-se a fobia, e essa atitude desencadeia, comoreação, uma sobrevalorização da cultura de origem.
A voz – ou as vozes – que emerge do texto é predomi-nantemente a do dominador, e não do Outro, e o espaço doOutro, reconhecido como espaço do Mesmo, se traduz poresta voz. Assim, o espaço ficcional desorganiza o espaço geo-gráfico para reorganizá-lo, já modificado criticamente. O espa-ço do Outro transforma-se numa espécie de espaço do Mesmo– palco onde se situam as narrativas: “Os gafanhotos” e “Acosta dos murmúrios” – por isso ele é redimensionado, toman-do da alteridade o reconhecimento de si. Não se trata, entre-tanto, do espaço ambígüo do carnaval, em que cada um de-sempenha também o papel do Outro numa representação sempalco. Há, isso sim, um espaço totalizado em que dominador edominado desempenham-se a si próprios, mas só o primeirotem voz. Comenta Edward W. Said:
O que há de marcante nesses discursos são as figuras deretórica que encontramos constantemente em suas descriçõesdo “oriente misterioso”, os estereótipos sobre o “espírito afri-cano” (...) as idéias de levar a civilização a povos bárbaros ouprimitivos, a noção incomodamente familiar de que se fazianecessário o açoitamento, a morte ou um longo castigo quando“eles” se comportavam mal ou se rebelavam, porque em geralo que “eles” melhor entendiam era a violência, “eles” nãoeram como “nós” e por isso deviam ser dominados. (1995: 12)
Mas que África é essa?
“África é amarela, minha senhora” – disse o Comandan-te, apertando pelo carpo a mão de Evita. “As pessoas têm deÁfrica idéias loucas. As pessoas pensam, minha senhora, queÁfrica é uma floresta virgem, impenetrável, onde um leão comeum preto, um preto come um rato assado, o rato come as co-
1 5 6
lheitas verdes, e tudo é verde e preto. Mas é falso, minha senho-ra, África, como terá oportunidade de ver, é amarela. Amarela-clara, da cor do Whisky!” (Jorge, op. cit.: 12)
“Ainda é cedo para ter verificado, mas verá que essa é umadas poucas regiões ideais do Globo! Admire a paisagem, everá que para ser perfeita, só faltam uns quantos arranha-céusjunto à costa. Temos tudo do século dezoito menos o hediondofisiocratismo, tudo do século dezanove à excepção da liberta-ção dos escravos, e tudo do século vinte à excepção do televi-sor, esse veneno em forma de écran. Com uns vinte arranha-céus, a costa seria perfeita!” (Idem:13)
Mas a África é, sobretudo, a da rebelião ao Norte deMoçambique:
Não esqueci, porém como o Stella mantinha todo o fragordum hotel decadente transformado em messe, de belíssimo hall.Era aí, no hall, largo como um recinto de atracagem, e filtradopelos panos brancos das janelas, que os homens abastados quedesciam pelos Trans-Zambezian Railways, vinham espalharaté à década de cinqüenta, as inumeráveis malas, os longosdentes de elefante. Antes de tomarem os paquetes e partirem anegociar, em língua inglesa. O sussurro dum tempo colonialdoirado vinha ali aportar, e por isso se falava do modo comoas banheiras primitivas eram assentes no chão por pés emforma de garra. Nessa altura, ainda os negros não podiam, ounão queriam, encontrar os colonos brancos no passeio dasruas. Quando falavam, jamais viravam as costas, curvando-se às arrecuas até desaparecerem pelas portas, se entravamnas casas. Ah, desse tempo de banheiras com pé de garra im-portadas da Europa! Que cheiro antigo, que cheiro a arte aenvelhecer e a passar! A rebelião ao Norte, porém, tinha obri-gado a transformar o Stella em alguma coisa mais práticoainda que arrebatadoramente feia. (Idem:44,45).
1 5 7
É, pois, o momento da ruptura, quando o Outro empe-nha-se em conquistar a dignidade individual e social, até porque“o contato imperial nunca consistiu na relação entre um nativonão ocidental inerte ou passivo, sempre houve algum tipo deresistência ativa e, na maioria dos casos, essa resistência acaboupreponderando” (Said, 1995: 13) e, aqui, a pressão da História,que então se constrói, se faz presente, embora sempre na pers-pectiva do Mesmo:
Percebia também que ninguém falava em guerra com seri-edade. O que havia ao Norte era uma revolta e a resposta quese dava era uma contra-revolta. Ou menos do que isso – o quehavia era o banditismo, e a repressão do banditismo chamava-se contra-subversão. Não guerra.
Por isso mesmo, cada operação se chamava uma guerra,cada acção dessa operação era outra guerra, e do mesmo modose entendia, em terra livre, o posto médico, a manutenção, agerência duma messe, como várias guerras. (...) A desvalori-zação da palavra correspondia a uma atitude mental extrema-mente sábia e de intenso disfarce. (...) O sentido de guerracolonial não é pois de ninguém, é só nosso. (Idem: 74,75)
“O sentido de guerra colonial não é pois de ninguém, é sónosso.” Essa é a frase síntese da situação portuguesa dosalazarismo.
Retomando o pensamento de Salvato Trigo, a ditadurasalazarista impõe aos portugueses a alienação sobre o que sepassava no mundo e que pudesse abalar a estrutura do regime.Daí a descolonização do império português ser uma parte tardiado fenômeno global de dissolução dos impérios coloniais euro-peus, que se seguiu à II Guerra Mundial (1939-1945), e queconfigura o ciclo descolonizador do século XX. Indiferente aessa dinâmica e “orgulhosamente só”, no dizer de Pedro Pezarat
1 5 8
Correia (1996: 41), Salazar pretendia que Portugal permanecesseimune ao contágio e alheio aos ventos da História. “Mas os po-vos das colônias não aceitaram o diktat de Salazar. E lançando-se na luta libertadora, elevaram a um tal grau as contradições doregime, que levariam à conquista da liberdade pelo próprio povoda metrópole colonial” (Idem, ibidem).
Cabe, aqui, a pergunta: quem é o Outro na obra de LídiaJorge? O Outro, sem voz, aparece sob a forma de estereótipo.Não é mais do que o selvagem em rebelião. “Ainda era muitocedo para se falar de selvagens – eles não tinham inventado aroda, nem a escrita, nem o cálculo, nem a narrativa histórica, eagora tinham-lhes dado umas armas para fazerem a rebelião...”(Jorge, 1992: 14).
É aquele capaz de matar o seu igual:
“São os senas e os changanes esfaqueando-se. Que seesfaqueiem. São menos uns quantos que não vão ter a tentaçãode fazer aqui o que os macondes estão a fazer em Mueda.Felizmente que se odeiam mais uns aos outros do que a nósmesmos. Ah!Ah!...” (Idem: 17)
O que os macondes fizeram em Mueda, na década de 60,foi uma grande movimentação de luta pela liberdade, que resul-tou em centenas de mortos e feridos. Pois foi a resposta portu-guesa, absolutamente violenta, e a recusa ao diálogo que forne-ceram o aproveitamento político de acontecimentos como essepelos movimentos de libertação. Daí a afirmação de Correia, (op.cit.: 41) de que:
Foi a intolerância portuguesa a verdadeira geradora daguerra colonial, para a qual empurrou os movimentos nacio-nalistas, que não baixaram os braços perante a repressão quese abateu sobre a ação política.
Retomando o texto de Lídia Jorge, o Outro é o black,
1 5 9
capaz de tomar álcool metílico por vinho branco, provocandodessa maneira a morte em massa, mas incapaz de um gesto no-bre, embora a certeza do major:
O major de dentes amarelos, também num belo robe deseda, mas com um dragão pintado nas costas, não tinha dúvi-das, e lembrava que os povos vencidos por vezes se suicidamcoletivamente. E referiu o que tinha acontecido ao Império Inca,nos Andes, depois da morte de Atahualpa Yupanki. Ora nofundo, toda a gente sabia que se estava a convergir para Muedae qual o significado disso. Porque não admitir que os povosautóctones daquela terra não se quisessem suicidar? E nãoseria um gesto nobre? Suicidarem-se colectivamente como asbaleias, ao saberem que nunca seriam autónomos e indepen-dentes? Nunca, nunca, até ao fim da Terra e da bomba nuclear?Major abriu os braços e o dragão desenrugou a potência dasua língua vermelha, pintada. (Jorge, op. cit.: 20)
Não, o Outro não seria capaz de um gesto nobre, apenasde um gesto estúpido como o de tomar álcool por vinho e
várias pessoas do cortejo se sentiram a princípio chocadaspela estupidez, depois sentiram ódio pela estupidez e a seguirindiferença pela estupidez. Não se conseguia ter solidariedadecom quem morria por estupidez como aqueles blacks. (Idem:23)
A mesma estupidez que poderia, eventualmente, sempreda perspectiva do Mesmo, fazê-lo sensível aos prospectos daForça Aérea Portuguesa:
“Guerrilheiro, rende-te, nós somos os teus verdadeirosamigos,e a nossa pátria é só uma, a portuguesa. Pega nas tuasmulheres, nos teus bens, nos teus sobrinhos e família, teu tio,
1 6 0
teu pai, tua mãe, e rende-te à tropa portuguesa. O português éteu amigo, o que os outros dizem são falsas panaceias...” (...)Os Dakotas estavam a semear a floresta de milhares e milha-res de folhetos, com dizeres apelando aos sentimentos de pazque ainda devia haver no espírito belicoso do povo maconte.Era uma chuva de prospectos pedindo aos guerrilheiros quedepusessem armas e se entregassem nos postos de água e nosquartéis. Em troca, eles teriam uma palhota já feita, teriamsegurança completa, escola, padre e milho. O piloto dizia queos Dakotas poderiam vir a largar várias toneladas de roupaeuropéia, perfumes e artigos de higiene, por cima do planalto epor toda a floresta circundante. Ah,que soberba imagem! Quelindíssima chuva de gêneros, a do piloto! Como uma ratoeiraque por fim desarma a tampa e cai do céu. E depois? Viria apaz. Todas olhavam para o céu.
“E o Mundo vai finalmente reconhecer-nos, senhor capi-tão?” (Idem: 114)
Essa última frase, “E o Mundo vai finalmente reconhe-cer-nos, senhor capitão?”, que, no texto de Lídia Jorge, temcomo resposta: “O mundo não é a ONU, minha senhora.”, dizrespeito ao isolamento internacional a que Portugal é submetidoem decorrência da sua intransigência ultramarina. Esse isola-mento tem início justamente na ONU, com a Resolução n. 1514(XV) da Assembléia Geral “Declaração sobre a concessão daindependência aos países e povos coloniais”, de 14 de dezembrode 1960. Portugal não cumpre a Resolução e passa a sofrer su-cessivas expulsões de organismos internacionais, vindo a ficarreduzido ao apoio da Espanha e, principalmente, da África doSul e da Rodésia, países limítrofes de Moçambique, ao sul do rioZambese, com regimes de apartheid.
Daí o reconhecimento, em A costa dos murmúrios, dovalor de luta da África do Sul, que apóia, inclusive militarmente,Portugal:
1 6 1
“Você devia perguntar mas é como são os sul-africanos emcombate. Esses sim, desses é que você deveria querer saber.Saberia o que é um verdadeiro conceito de combate.Pergunteao seu marido e não a mim como fazem os loirinhos que nosajudam...”
“Esses sim, aquilo é que é sempre a matar. E que matar!Vê-se mesmo que vêm duma outra raça, muito mais pragmáti-ca, muito mais metódica, muito mais bife...” (...)
(...) Estavam ambos de acordo que havia gente muito maiseficaz em combate do que aquele que era praticado por elesmesmos em Cabo Delgado. (Jorge, 1992: 70,71)
É a partir da década de 70 que o Governo português sofregolpes significativos no campo diplomático e, entre eles, em 1972,a aceitação na ONU de representantes dos movimentos de liber-tação, com o estatuto de observadores, fazendo com que Portu-gal fique cada vez mais só.
No entanto, a auto-imagem do Mesmo, aquele traído eenvelhecido com as armas paradas, “sobretudo depois da Se-gunda Guerra, num país que a não tinha tido(...)” ( Idem: 58),essa tem sua chance de recuperação justamente na guerra colo-nial, “A nação estava cheia de gente que nunca assistira a outracena de combate que não fosse a dum ridículo distúrbio à portaduma taverna, dois bêbedos com dois galos na testa(...)” e, poroutro lado, ela representa, também, um bem ao colonizado, afi-nal, “O que era uma terra sem a memória activa do inimigo?”(Idem:59). E, aí, Moisés dá à costa não como uma criança numcesto, mas sob a forma de veneno, a garrafa de álcool metílico,dentro de um saco de napa. Ambos, cada um a seu modo, fun-dadores de nacionalidades. Moisés, da nacionalidade israelita. Oveneno, utilizado como estratégia, poderia vir a ser, através dasérie de mortes que desencadeia, fundador do estado que ali seformaria:
(...) o General sonha com o momento em que se tornará,por direito, presidente daquele estado, quando for estado.
1 6 2
(...)Mas aí é que se levanta um problema. Ou Lisboa é afavor da Civilização Ocidental de que faz parte e cede a umaautonomia branca, ou é a favor do desmantelamento da Civili-zação Ocidental e manterá tudo na mesma e a guerra continu-ará. (Idem, 233)
Como se, de fato, a guerra já estivesse ganha, e numaalusão à FICO, Frente Independente para a Colaboração Ociden-tal, que se opunha à independência de Moçambique.
Não se abandona a idéia da eternidade de um Portugald’além e d’aquém mar e, não gratuitamente, essa idéia é recupe-rada pelas palavras de um cego. É ele quem recorre à história, amostrar o heroísmo do povo, desde os primórdios; a evocar asfiguras de D. Afonso Henriques e de Dona Filipa de Vilhena comseus filhos, para concluir que: “O planeta é eterno, Portugal fazparte do Planeta, o Além-Mar é tão Portugal quanto o solo pátriodo Aquém, estamos pisando solo de Além-Mar, estamos pisandoPortugal eterno!” (Idem: 213).
Mas tal idéia de um Portugal mítico, conquistador e eter-no, termina passando por um processo de desmitificação pro-movido não apenas pela ironia do local em que o cego faz aconferência como pelas vozes distintas. O salão era decoradocom vários quadros da “Invencível armada” que, a despeito donome, fora desastrosa para Portugal, fora vencida pelos ingle-ses. As vozes do general e do noivo, por exemplo, o primeiro acomemorar a vitória e o futuro do estado da Civilização Ociden-tal e o noivo a denunciar a falsidade da vitória numa “guerrafingida” (Idem:238) entre eles para a imprensa imaginar. A vozdo jornalista – voz solitária do Outro, a não ser pela “gincana”,cujos apitos eram “a voz que clamava por uma fera que nãodormia” (Idem:199), e de Eva Lopo – queria ver a volta do barcocheio de soldados e via como “um país invasor que atravessa opaís invadido, de onde vai ser expulso sem julgar!” (Idem: 229).Eva, então Evita, “ Por mais que soubesse que tudo era transitó-rio e as terras sem dono absolutamente nenhum, não conseguia
1 6 3
deixar de ver, naquele barco, um pedaço de pátria que descia”(Idem: 259).
E é, justamente, pelas vozes distintas que dialogam entresi n’ A costa dos murmúrios, que a História, ao mesmo tempoem que ganha um enfoque realista, não adquire um caráter abso-luto. É no diálogo entre os textos histórico e ficcional que residea sua autêntica significação. A reconstituição do relato, gênerointercalado, pela memória, estabelece o surgimento de um con-texto singular em que o passado se liga ao presente por transi-ções temporais. Não é um passado acabado, fechado; atualiza-se criticamente durante o diálogo, polemiza-se, denuncia, repen-sa a si próprio e anula o relato como possibilidade única e fecha-da de uma verdade compacta. Anula-se a verdade, fica-se com oreal. Anulam-se “Os gafanhotos”, fica-se com “A costa dosmurmúrios”. O texto, então, escuta as vozes da história, não asrepresenta como uma unidade, mas como um jogo de confron-tações, como contradições fecundadas pelo plurilingüismo soci-al, trazendo uma consciência social pluridiscursiva. O textoficcional apropria-se da verdade histórica e vice-versa, o resgateda História e do vivido promove um olhar desencantado e cínicoque aponta para a reavaliação da experiência de ocupação dacosta e, em última análise, a experiência colonial na África, co-locando A costa dos murmúrios na linhagem daquela novelísticaque segundo Maria Alzira Seixo
encara com extrema atenção o espaço romanesco enquantoescrita de uma terra cujo sentido se busca, entre a marca que ahistória lhe imprimiu e o curso humano que a transforma, entrea extensão determinada e característica que a forma e o tempoque lhe ritma a sucessão e a vida. (1986: 72)
Não se pense, entretanto, que o processo de ocupação eluta pela independência, em Moçambique, possa servir deparâmetro a Cabo Verde.
1 6 4
Como bem destacou Manuel Ferreira, em Literatura afri-canas de expressão portuguesa, a relação do arquipélago com ametrópole tinha características diferenciadas das colônias docontinente.
O engajamento à luta pela libertação vai se dar, efetiva-mente, em 60, com a criação do PAIGC, Partido Africano para aIndependência da Guiné e Cabo Verde, em cuja formação desta-caram-se os caboverdianos da Guiné que, em nome das afinida-des culturais entre os dois povos, decidiram por uma luta co-mum.
Em Cabo Verde, clamava mais alto a reivindicação social,diante da miséria e da seca, que a luta pela libertação nacional.
Na Guiné-Bissau, entretanto, o PAIGC assumia a luta e sealastrava pelo território e, em setembro de 1973, declarava, naárea libertada de Madina do Boé, a independência da Repúblicada Guiné-Bissau, reconhecida, de imediato, por mais de oitentapaíses e saudada na Assembléia Geral da ONU.
Após o 25 de Abril, quase a generalidade dos partidosque, então, em Portugal, se formavam, principalmente os queintegravam o I Governo Provisório, apoiava o fim da guerra co-lonial e a independência das colônias, em consonância com ocrescente movimento popular nas ruas. E, em maio, acontecemas primeiras reuniões formais, em Dacar, do governo portuguêscom os dirigentes do PAIGC. O que se coloca na mesa é: Portu-gal deveria reconhecer a Guiné como Estado independente e acei-tar o direito à autonomia e independência de Cabo Verde.
Nesse período, promove-se o reencontro português coma comunidade internacional, tanto pela credibilidade colocada so-bre a Revolução, como pela imagem de abertura transmitida peloEstado português. Conforme Pedro Pezarat Correia (Op. Cit.:54),
A consagração desta abertura dá-se com o discurso do
1 6 5
presidente da República, general Costa Gomes, na AssembléiaGeral da ONU, em 18 de Outubro de 1974, o que aconteciapela primeira vez desde a admissão de Portugal na organiza-ção, em 1955. Em junho de 1975 reunia em Lisboa a Comissãode Descolonização da ONU. Era o reconhecimento da boa fécom que Portugal assumira seu papel na descolonização e ainfluência que tal poderia vir a ter, como veio, na solução dasúltimas questões pendentes no xadrez da África Austral,Zimbabwe, Namíbia e África do Sul.
Inicia-se, então, o período de negociações. Em 26 de agos-to de 1974, Portugal reconhece a República da Guiné-Bissau,cuja independência seria formalizada em 10 de setembro de 1974.O PAIGC aceitara que Cabo Verde, por exigência portuguesa,tivesse suas negociações em separado e, em contrapartida, con-seguiu que o acordo sobre a Guiné exarasse o direito do povo deCabo Verde à autodeterminação e independência.
Assim, sem luta armada, o acordo sobre Cabo Verde foiassinado em Lisboa, em 19 de julho, fixando o 5 de julho de1975 para a declaração formal da independência. É bem verdadeque Cabo Verde assistiu, em algumas ilhas, a manifestações e,inclusive, a confrontações entre grupos a favor ou contra oPAIGC, que, depois, terminaria com a cisão PAIG e PAICV, maso inimigo transpunha barreiras históricas; era o que fazia, e queOrlanda Amarílis tão bem retrata em seus contos, a terra ma-drasta: a seca e a miséria. E sobre a independência, bem, “inde-pendentes, o povo parecia estar contente.(...)” (Amarílis, 1989:62).
1 6 6
CONSIDERAÇÕES FINAIS:REPRESENTAÇÃO E TRANSGRESSÃO
Remontando ao início desta investigação, aponta-mos como eixo de análise a permeação existente entre o textohistórico e o texto ficcional, dentro da linha de pensamentobakhtiniano, buscando detectar os olhares de Lídia Jorge e deOrlanda Amarílis voltados para a sua terra. Partimos de umaHistória temporalmente comum em realidades ligadas, mas dis-tintas, e em culturas de natureza também diversa: a racional e amítica, apreendidas em pleno processo de ruptura – a Revoluçãoe a Descolonização – a exigir o desvendamento da identidade,cuja busca e construção se fazem, em ambas as autoras, porcaminhos dessemelhantes.
Se o período anterior à Revolução de Abril caracteriza-sepela anestesia do povo, pelas injustiças sociais, pelo atraso eco-nômico e cultural, pelo anacronismo autocrático e isolacionistade último império colonial do mundo ocidental e da mais antigadas três ditaduras da Europa não comunista, o período que osucede é o da euforia revolucionária. Nela Portugal tenta viveras décadas de história européia de que se vira privado pelo regi-me ditatorial. Àquela euforia inicial somam-se as dificuldades doperíodo crítico na construção da democracia, com o abandonodo sonho imperial e a descolonização, e a busca da integração naComunidade Européia que termina por desmascarar as fragilida-des de uma nação que não se enquadra nem no primeiro nem no
R
1 6 7
terceiro mundo. A nação de segunda, a que refere Benjamin AbdalaJúnior.
À urgência em pôr fim à guerra colonial, que foi a molapropulsora do movimento militar, acrescem-se as décadas dedesinformação política, ideológica e cultural da esmagadora mai-oria da população. Finda-se a fantasia anacrônica para a criaçãode outra, não menos fantasia, não menos anacrônica. Ao mito dadefesa do império cristão e ocidental opõe-se o mito doantiimperialismo e da libertação nacional instaurado pelo 25 deAbril. Tanto mais por ter sido uma operação planejada e executa-da apenas pelos militares, sem qualquer articulação das forçascivis. O discurso do totalitarismo ideológico e suas imagensidealizantes cede lugar a uma história que se mescla ao imaginá-rio nacional.
Segundo Eduardo Lourenço,
Nos primeiros anos do século XVI os portugueses erameuropeus que iam à India buscar mercadorias que os enrique-ciam menos do que aos grandes centros da Europa mercadoraa quem, em última análise, se destinavam. Mas ao longo doséculo XVI e de certa maneira até hoje, os portugueses conver-teram-se em ocidentais perdidos e achados no oriente que osseduz e lhes fornece mais matéria de ficção vivida que a madreEuropa. (...) Nem todos os portugueses consciencializavam (...)essa objectiva des-europeização do nosso imaginário.(1994:145)
Assim, a Europa não é Portugal, como Portugal não éEuropa.
O imaginário que a nossa crucial aventura extra-européia,sobretudo a do século XVI, nos fabricou, a Segunda dimensãoque criou, tanto mais decisiva quanto a sua estrutura relevamais do puro onirismo compensatório que de uma relação
1 6 8
objectiva entre realidade e desejo, tem o seu ponto de fuga nessesonho imperial, de que o mito do Quinto Império é a traduçãomais acabada e não em qualquer forma de utopia de que aEuropa seja o alvo. (Idem: 146)
Paradoxalmente, “ A Europa, uma certa realidade entre-vista como Europa, é o barco que ninguém, minimamente realis-ta ou cínico deseja perder” (Idem. Ibidem.). A entrada na Euro-pa, na Comunidade Européia, desenhava-se, de um lado comofactum, de outro, como deixar de estar só, de ser relegado aoostracismo, para contar com a ajuda para resolver problemasinternos. Acenava para um panorama político, ainda segundo opensamento de Eduardo Lourenço, “ parado num pós-25 de Abrilque não acaba de acabar” (Idem: 181), “(...) a política portugue-sa no seu conjunto, entalada entre a necessidade de assumir um‘europeísmo’ exemplar para não perder os fundos comunitáriose a veleidade imperial do discurso oficial ou oficioso, como secontinuássemos nos tempos míticos de Albuquerque ou D. JoãoV” ( Idem: 179).
E se a década de 70 é uma década de grandes mutaçõesno campo ideológico, em que a falência da utopia se afirma; nocampo científico e tecnológico, com o alarme de iminente peri-go nuclear, civil ou militar; no campo da eletrônica e dainformática, que transformam os Estados Unidos em uma naçãohegemonicamente cultural; é também a década marcada pela “rei-vindicação, mesmo sob aspectos quiméricos, de múltiplas iden-tidades culturais” (Idem: 32). De acordo com Eduardo Louren-ço (Op.cit.: 32), “a década de 70, como nenhuma outra, mos-trou a que ponto ‘a cultura’ não é apenas o verniz e o luxo neu-tros de uma sociedade, mas o seu cartão de identidade”
Nesse contexto, a partir de 74, Portugal rompe com odiscurso do totalitarismo, termina a ilusão da grandeza do Esta-do Novo, voltando-se para a reabilitação dos valores nacionais eda cultura portuguesa. O discurso que, então, se evidencia, é o
1 6 9
discurso antiépico, marcado pela busca da identidade.
Se o nacionalismo está na raiz de tudo na cultura portu-guesa, como já o demonstrou Cleonice Berardinelli, agora o dis-curso laudatório e messiânico recompõe-se como discurso crí-tico, marcado pelo diálogo entre o texto histórico e o textoficcional, quando o segundo revisa o primeiro. É resultado da“repensagem da história portuguesa em revisão de sua existên-cia”, a que alude Maria de Lourdes Netto Simões (1992: 660).
E, aí, a proposta maior de Lídia Jorge em O dia dos pro-dígios, Notícia da Cidade Silvestre, O cais das merendas e Acosta dos murmúrios.
Lídia Jorge promove a mitologização da História quando,revolvendo as visões míticas, as imagens espontâneas, portado-ras de um caráter reflexo, cria sua própria mitologia a partir demateriais históricos, provocando a exageração da experiênciacotidiana alicerçada na imaginação mítica.
Longe do caráter apologético, o mito é tomado como fa-tor de desmascaramento, mas é também fator de desvendamentode princípios imutáveis localizados entre o cotidiano empírico eas mutações históricas, criando, no texto ficcional, espaço dereflexão e denúncia.
O texto de Lídia Jorge ultrapassa os limites ficcionais paraa colocação de teses históricas dialeticamente pensadas.
O dia dos prodígios pode ser traduzido como metáfora oualegoria dos acontecimentos anteriores e posteriores à Revolu-ção de Abril. Como o povo mítico de Vilamaninhos, parcela sig-nificativa do povo português não chegou a reconhecer o mo-mento histórico que vivia, não entendeu a mensagem trazida pe-los soldados da Revolução, do mesmo modo como aqueles nãoentenderam o milagre que eles próprios representavam, a exem-plo da cobra voadora.
Lídia Jorge, ao atuar na cultura racional, toma para si aincumbência de recriar, ficcionalmente, determinados mitos edestruí-los para recuperar para os portugueses certas experiên-
1 7 0
cias evidenciadoras do próprio conceito de nacionalidade. Ela osreinventa, pela ausência de parâmetros e referenciais outros, pro-pondo, por meio de uma simbologia mítica, a leitura crítica deuma parte da História portuguesa, em que rompe de vez definiti-va com o grande mito de uma solução salvadora exterior, “caí-da” do céu, não buscada.
O cais das merendas traz em seu substrato a idéia anteriorde condição de marginalidade de Portugal em relação à Europa eà própria América.
Aí, permanecendo fiel ao seu projeto literário de busca daidentidade cultural portuguesa, Lídia Jorge nos coloca diante deuma história centrada entre o real e o irreal na experiência de umpovo sem memória e sem identidade próprias. Seu herói é umSebastião Guerreiro, que encontra no contato fácil com o es-trangeiro a forma de sobreviver, numa alusão irônica e melancó-lica ao outro Sebastião, o do mito do sebastianismo, o salvadorque trará a Portugal o Quinto Império e a nova idade de ouro dahumanidade.
É a crítica ao processo de aculturação sofrido por umPortugal peninsular e periférico, marginal, na condição de naçãoabandonada por uma Europa madrasta. Esse é, também, um tra-ço de contemporaneidade na literatura portuguesa.
Como diz Eduardo Lourenço :
É quixotescamente que devemos viver a Europa e desejarque a Europa viva ...nós, primeiros exilados da Europa e seusmedianeiros da universalidade com a sua marca indelével, bempodemos trazer a nossa Europa à Europa. E dessa maneira,reconciliarmo-nos, enfim, conosco próprios.(1988:37)
É de O dia dos prodígios a citação que se segue:
Ninguém. Ninguém se liberta de nada se não quiser liber-tar-se. E ainda disse. Mas aqui. Aqui ficam todos pelo desejodas coisas. (Jorge, 1990:203).
1 7 1
Em O dia dos prodígios, retomando-se a teoria da trans-figuração inicialmente colocada, tudo funciona como duplicidadeparalela, há a História e a história.
As personagens são os portugueses, atores de uma Histó-ria que não foi contada – a Revolução dos Cravos e suas conse-qüências – senão através de uma história/parábola – O dia dosprodígios – “o breve tempo de uma demonstração”, em que de-sempenham um papel, portanto representação de si mesmos,estabelecendo a relação entre a arte e o real.
Mas não apenas em O dia dos prodígios, em toda a obrade Lídia Jorge perpassa a idéia de representação teatral ligada àoralidade da escrita e à multiplicidade de vozes colocadas pelapolifonia entrecortada pelo carnaval. O cais das merendas não ésenão a crônica histórica de um povo que atinge o limiar doesquecimento de si próprio, um povo aldeão que procura e aomesmo tempo perde a sua identidade ao ser transplantado, car-navalescamente, para um meio cosmopolita, onde há odesenraizamento cultural, colocando Lídia Jorge, definitivamen-te, entre os escritores que “lutam por agarrar uma identidadecultural que escapa ou é esmagada pelos vizinhos e convenientesparceiros da economia européia” (Medina, 1982: 4).
Lídia Jorge desmitifica e dessacraliza o espaço e subverteos elementos tradicionais, colocando à mostra a fragilidade doprocesso identitário quando circunscrito a uma nova dependên-cia cultural, dicotomizando auto-afirmação e autonomia, voltan-do-se, essencialmente para o consumo ilimitado.
A tópica do equívoco da própria concepção revolucioná-ria, já aludida em O dia dos prodígios, desloca-se para o ambien-te urbano em Notícia da cidade silvestre, apreendendo, na tran-sição do longo ciclo histórico do fascismo à Revolução, o con-fronto entre o homem novo que de fato produz e o harmoniosoque deveria produzir. O que se evidencia, paralelamente ao es-
1 7 2
forço de construção da democracia, é a degradação em todos osníveis: político, social, interpessoal, é todo um questionamentoexistencial voltado para a redefinição do próprio espaço, um es-paço marcado pelo fim das utopias e dos mitos, no final da déca-da de 70, pela crise geral de valores que traz consigo a crise daidentidade.
A década de 80, por sua vez, num panorama geral, reve-la-se como a década da grande ruptura de uma herança históricasacralizada, de uma ideologia que se convertera em religião se-cular, com Mikhail Gorbachev dando o empurrão inicial à quedado sistema. A História se modifica pela derrocada ideológica domundo comunista. A Geografia restaura-se por um novo mapageopolítico. A derrubada do muro de Berlim torna-se o aconteci-mento mítico da década.
A reunificação da Alemanha, as primeiras eleições livresnos países do leste, o PCI mudando de nome, nada disso deixatransparecer grandes mudanças em um Portugal que luta comseus problemas internos. A modernização social choca-se comcrescentes dificuldades financeiras e com a desorganização deuma sociedade civil agredida e expropriada e dotada de liberdadecivil antes da econômica, permanecendo a desigualdade, o arca-ísmo, a desorganização social, a reabsorção dos retornados edesalojados da África, a baixa escolarização, o atraso industrial.E o tempo crítico se coloca entre 1976 e 1985.
É evidente, também, que a entrada de Portugal na Comu-nidade Européia (1985) causou um choque profundo na econo-mia e na sociedade portuguesas. E a injustiça – marginalidade,exclusão, pobreza ou desigualdade – e a carência social, sempregrandes, se agravam sintetizando um processo marcado peloconsumismo e desigualdade. Por outro lado, Portugal não temestrutura – pobre de recursos – para enfrentar a globalização domercado.
Culturalmente, a década de 80 traz consigo uma geraçãoque se revela oposição à geração de 60. Distancia-se dos temas e
1 7 3
paixões do 25 de Abril, desconfia do social, das ideologias que ocercam e do coletivo, colocando em seu lugar a confiança nasinstituições, no mercado e no indivíduo. É a emergência do indi-vidualismo e do narcisismo contemporâneos, do hedonismo e dapermissividade, a comunidade como vivência coletiva perde seulugar, mas não se perde um certo consenso de “portugalidade” ede “identidade nacional”.
Fica, então, demonstrado que a “Revolução Cultural” quese desenhara com a Revolução não se concretizara. Não há, nes-sa década, movimentos culturais substantivos, tudo o que seencontra são personalidades dispersas.
Se a vaga de emigrantes dos anos 60 tornou a Europa“Uma espécie de Estados Unidos ao pé da porta”, como afirmaEduardo Lourenço (1994: 141), desmitificando a Europa imagi-nária, mais tarde o grande turismo de massa e a globalizaçãotrazem não só a Europa, mas o mundo, e Portugal se deparacom o multiculturalismo. O imperialismo americano é de umoutro tipo, embora se reciclem nele mitos, imagens, discursos.É o imperialismo cultural, uma cultura que impõe, vendendo amitologia democrática e o utopismo igualitarista e fraternal.
(...) A América não só se tornou objecto de sonho para osde fora, mas para si mesma e por fim, com um sucesso mascom uma “violência” crescente, exportou o sonho americanocomo paradigma de todas as sociedades democráticas e tecni-camente avançadas. Foi enquanto “sonho americano” que ohomem pôs o pé na Lua. Mas muito mais decisivo do que issofoi não a imposição mas a irresistível sedução do imaginárioplanetário pelos ícones que a mais compósita e dinâmica civili-zação ocidental alguma vez ofereceu ao mundo, sob o rosto deGary Cooper, de Spence Tracy, de John Wayne (...) Mesmo asdivas européias, as Garbo, as Bergman, as Marlène se torna-ram no que foram sob o sun-light da Califórnia. (Op. Cit.:224).
1 7 4
E, aqui, encontramo-nos com O jardim sem limites, cujapersonagem central é o português da “Geração do Vazio”, osjovens sem rosto próprio e sem identidade, frutos da globalizaçãoe do multiculturalismo que, a exemplo dos habitantes de O caisdas merendas, mas por razões outras, rompem com o passado,mas não têm espaço para agir porque “a vida estava pronta”. É aprimeira geração posterior ao 25 de Abril, uma geração que sedepara com um não saber-se. Quando o mundo passa a ser de-terminado pela idéia pragmática de economia, quando, de fato,já não existem sistemas isolados, mas receptores de aconteci-mentos e ideologias provenientes de vários centros de irradia-ção, compreender qual o sentido do homem nesse específicotempo histórico num país que não se configura como uma soci-edade de consumo forte nem como tecnologicamente avançada,eis o que aí se propõe. Temos diante de nós o homem portuguêsdo nosso tempo, com seus problemas, seu caos, sua devoraçãoe asfixia causadas pelas contradições múltiplas.
Não escapa à Lídia Jorge, como aos escritores da suageração, pós-74, a experiência colonial na África. Retomando oepisódio da Cidade da Beira, em Moçambique, em A costa dosmurmúrios, o texto escuta as vozes da História como contradi-ções fecundadas pelo plurilingüismo social. O texto ficcionalapropria-se da verdade histórica e vice-versa, e esse resgate daHistória e do vivido promove um olhar desencantado e cínico areavaliar a experiência da ocupação da costa. É como Lídia Jor-ge questiona a História e a consciência do país na representaçãodo refinamento do sistema colonial, a idéia do Império Branco eo silêncio do colonizado, desmitificando a imagem de um Portu-gal mítico, conquistador e eterno.
A História caboverdiana, por sua vez, nos remete, em suaorigem, ao caldeamento lingüístico, cultural e racial e, se a atu-ação colonial não é a mesma, em Cabo Verde, das outras colôni-as, devem-se buscar os fatores diferenciais na contextualizaçãohistórica – do abandono administrativo a que as ilhas foram sub-metidas – e na inserção física e humana global, num cenáriofísico e humano onde, pela adversidade das condições sócio-
1 7 5
econômica-alimentar, “ninguém poderia sobreviver independen-te de outrem”, afirma Alberto Carvalho ( 1991: 14).
E grandes que tenham sido, como foram, os obstáculosimpostos pela censura do “Estado Novo”, a partir da décadade 30, a nova restrição da liberdade no uso pleno da expressãopolítica não modifica a ordem da realidade anterior que, essa,já tem uma história de séculos de existência. (Idem: 15)
Quer dizer, mais premente é a vida possível na Terra-mãe,ou Terra-madrasta, da miséria, do insulamento, da seca, da impo-sição do dilema, e essa exigiu a mestiçagem em seu sentido maisamplo: ao lado do crioulo biológico, os brancos e os negros iam-se tornando crioulos culturais. Daí a afirmação de Gabriel Mariano(1991) de que o mestiço teve em Cabo Verde o papel que “nasÁfricas” pertenceu ao português e, no Brasil, ao reinol. Com amestiçagem, as simbioses, os sincretismos e as sínteses várias,anula-se, praticamente, pelo exercício da sobrevivência, a subor-dinação colonial. É o que Manuel Ferreira aponta como um novotipo de relação a substitutir colonizador/colonizado, uma vez que aprópria administração passa para mãos de uma burguesiacaboverdiana. É o que Gabriel Mariano (1991: 68) assim refere:
Em Cabo Verde, depois de uma fase em que os povos emcontacto teriam confusamente procurado um motivo de enten-dimento seguir-se-ia uma outra de harmonização íntima deculturas, propícia ao aparecimento de uma nova sociedade.Para esta sociedade crioula passaram as terras, o comércio ea agricultura; ela apossou-se também do funcionalismopúblico.De modo que é exacta a afirmação que se refere “àtransferência” de poderes a que podemos atribuir igualmenteum sentido sociológico cultural, pelo que ela traduz ou sugereda vitalidade dos valores regionais caboverdianos no seu con-tato permanente com a cultura portuguesa. Já uma vez afirmeique desse corpo- a-corpo entre a cultura caboverdiana e a
1 7 6
cultura portuguesa resulta muitas vezes uma absorção de esti-los portugueses, quando não se dá a substitutição do portuguêspor aquilo que já é nitidamente e dinamicamente crioulo. (1991:67)
Por outro lado, a falta de recursos, a pobreza do solo, apequenez das ilhas e a irregularidade das chuvas, tudo fez comque os portugueses não tivessem interesse de investimento. Aí,por exemplo, não se tentou introduzir, como em outros territóri-os, a grande plantação que traria consigo o diretor, o capataz, amonocultura e a descaracterização regional, ainda que Portugalestivesse sob o fascismo salazarista e Cabo Verde sofresse ofascismo numa situação colonial.
Assim, Gabriel Mariano refere dois movimentos opostos,o ascendente, aristocratizante, de negros e mulatos em contatocom a cultura de língua portuguesa, e o descendente,democratizante, das “elites da terra” que difundiram as coletivi-dades e as instituições culturais desse contato. Estamos, então,diante de uma História de unidade na diversidade e de harmonizaçãode antagonismos.
Afirma Alberto Carvalho (1991: 17) que
Contra a idéia (ideologia), talvez mais cativante, da com-pleta submissão da sociedade crioula ao poder colonialista,parece-nos bastante produtivo colocar o processo sócio-cultu-ral da nação caboverdiana na dependência da dinâmica daburguesia protagonizada pelos “filhos da terra”, detentores derecursos econômicos que em outras colônias pertenceram aoreinol. A este conjunto de elite negro-crioulo, mestiço e branco-crioulo se deverá ligar a idéia de “consciência da nação”, elaprópria em face do “outro”, em nome de uma realidade-“povo”que apenas na segunda metade do séc. XIX começa a ter con-tornos definidos e a assumir o princípio ativo da homogeneidade.
1 7 7
Resta-nos perguntar que elementos compõem a identida-de dessa nação de que, então, se tem consciência, entendendo-se por identidade o “estar sendo”?
Fundamentalmente um território, uma cultura, um tem-peramento, são os elementos que Orlanda Amarílis trabalha emseus contos, num espaço que transita entre São Vicente e Lis-boa. Lá, o chão. Aqui, o exílio. Lá, uma geografia que se divideentre a Terra madrasta, com seu ilhamento, sua seca e sua misé-ria, e a Terra longe, cheia de promessa, diante de um mar cami-nho e obstáculo. Um espaço determinante da temporalidade por-que a Terra longe é sempre futuro, e o futuro, melhor do que opresente. E o evasionismo pertence à condição de ser docaboverdiano, “é a condição de um povo mestiço vindo da es-cravatura, mal nutrido e mal tutelado” (Mariano, 1991: 101).Mas, no olhar voltado para a terra natal, o passado, a despeito daterra, reforçando a “mitologia doméstica”, é o agente reveladorda felicidade de casa e a possibilidade de ser. “ Quando se emi-gra toda a pátria emigra conosco”, comenta Eduardo Lourenço(1994: 142), transportam-se “como Enéias, os deuses lares paraas novas terras”.
A língua crioula aponta para a Terra-mãe, enquanto a lín-gua portuguesa está a serviço do desejo de libertação da tutelaexperiencial daquela. Comenta Alberto Carvalho (op.cit.: 21,22)que a “escrita literária crioula é a ‘criatura-criativa’ da plena iden-tidade (ôntica) do caboverdiano, em acção na sua vida (deôntica)cultural, social e econômica.” Assim, se uma das expressões dacultura nacional caboverdiana é o crioulo, a partir de uma certafase da sua formação intelectual e das suas experiências sociais,o caboverdiano se torna bilíngüe, não apenas falando, mas es-crevendo também. E o texto de Orlanda pode bem ser paradigmadessa afirmação.
Ainda como fator de cultura, a expressão musicalrepresentada pela morna, a que todo o caboverdiano adereincondicionalmente. Segundo Gabriel Mariano, é no conto e namorna, e sobretudo na morna que mais completamente se realiza
1 7 8
a vida integral do caboverdiano. “A morna comemora a sua vidade existência emocional, castigada pelo défice econômico que oleva a emigrar partindo para as terras longe, “sem partir” oupartindo para poder regressar” (1991: 21).
Há, ainda, que se falar do temperamento “morabe”, “prin-cipal motor da conduta e do pensar crioulos” (Idem: 88), que nãoé senão o culto da vizinhança “forma de intimidade de relaçãoentre os humanos e as coisas, extensível mesmo aos estratos só-cio-económicos mais altos da sociedade onde são mais nítidos osecos da influência européia” (Carvalho, 1991: 21).
Se tempos e povos possuem a sua mitologia e se ela refle-te o pensamento espontâneo de cada variedade de homens, omito se traduz por uma espécie de alma íntima, de expressãosintética onde se encontram fundidas e unificadas todas as suasfaces. Da admiração e do medo gerados pelo instinto do conhe-cimento é que nascem os mitos, como visões da imaginação eimpressões dos sentidos.
Em Orlanda Amarílis, sua representação gera a afirmaçãode uma identidade cultural que transgride a imposição de umaidentidade racional, a européia. Predomina a invenção dos espí-ritos ou almas, seres fantásticos da sombra, como representa-ção do mundo cósmico e seus fenômenos e do mundo físicocom seus sonhos e alucinações. Nas suas relações com os espí-ritos, há decorrência de rito através do qual se luta e se querafastar os demônios e os espíritos ruins, os quebrantos e osmaus olhados. E, ligado a essa invenção dos espíritos, predomi-na o apego à terra, com todas as dificuldades que possa ofere-cer, a miséria, a seca, a fome, a insularidade, porque a terra,mesmo a trazida, é o elemento fundamental de sua identidade.
Ao atuar na cultura mítica, em que os mitos subsistemem massas de população num estado primitivo, revestindo per-sonagens e fatos de traços lendários, Orlanda Amarílis desvendao estatuto de caboverdianidade e africanidade, oferecendo, aoscaboverdianos, o orgulho étnico e nacional, buscando rompercom a inferiorização e marginalidade em relação a Portugal. Por-
1 7 9
tugal é a exploração e deixar-se aculturar é perder o orgulho desi, rompendo laços, tornando-se um “cigano errante”, condena-do à solidão.
Também no texto amariliano a idéia de representação sefaz presente. Em “Luísa, filha de Nica”, de Ilhéu dos pássaros,por exemplo, não raro um narrador vem ao primeiro plano, diri-gindo-se ao leitor, transformado em espectador, para enfatizar,como no teatro antigo, por meio da explicação, a necessidade,num gesto correspondente à máscara nativa, encarregada de sig-nificar o tom trágico do espetáculo. O espetáculo é a vida. É oque se evidencia em “Rolando de nha Concha”, de Cais-do-Sodrété Salamansa. A representação é a vida, dentro do plano do realobjetivo. O real pertence à morte, à dimensão do imaginário deque A casa dos mastros e os sete contos que a compõem podemser paradigmas ao articularem-se entre si pelos ciclos de vidas emortes. E, na representação da vida, o papel caboverdiano é, emLisboa, a procura de um papel social, um papel sempre insufici-ente, porque a verdadeira significação e a verdadeira identidadeestão presas às ilhas. Assim, o Cais-do-Sodré é porto de chega-da e de partida, mas Salamansa é a reconquista de ser, o lugardas origens. A temática de Ilhéu dos Pássaros é, fundamental-mente, calcada no exílio, funcionando como uma espécie de le-genda caboverdiana. Partir para querer voltar, temas de mornase de romances, convivência com a “sôdade”, a “força decrecheu”, a “hora di bai”, hora de dor. É por meio do que, noscontos de Orlanda Amarílis, os seres ficcionais se fazem a simesmos agentes de caboverdianidade, no sentido de manter asraízes profundas que os ligam ao seu meio.
Em Orlanda Amarílis e em Lídia Jorge, há o adentramentona poética do quotidiano caboverdiano e português, respectiva-mente. As histórias individuais são pretextos para reflexões ou-tras que nos serão oferecidas por situações insólitas e dialéticas.A realidade com que se configura a vida é evocada para que, aí,se coloque à mostra o exercício da paixão, da solidão, da luta
1 8 0
entre valores. Isso tudo o que é o homem, indivíduoproblematizado e centro da estrutura social, e a existência comsuas raízes fixadas na terra, num realismo mágico e regional,voltado para a composição de uma outra imagem de nação por-tuguesa e do reforço de uma imagem caboverdiana.
É a partir da verdade histórica que Lídia Jorge busca, naficção, sintetizar pela reconstituição, criação e destruição dosmitos, a identidade com suas peculiaridades. Em outras pala-vras, busca revelar o português a si mesmo, oferecendo-lhe ele-mentos para repensar a significação da identidade nacional pormeio de um olhar crítico e não raras vezes irônico.
Em Orlanda, a verdade histórica busca reconstituir a iden-tidade, meio de um olhar distante, marcado pelo sentimento desaudade.
Em ambas, projetos culturais nacionalistas revelados pelavisão mítica da vida, como produto e criação de uma vontade,humana ou sobre-humana, natural ou sobrenatural, e da Histó-ria, uma História em que não há lugar para o mascaramento dasforças sociais.
Assim, retomando as questões/hipóteses enunciadas naintrodução deste trabalho, já podemos chegar a algumas afirma-ções.
A relação do discurso literário com o discurso histórico esocial em culturas de natureza diversa é essencialmente a mes-ma, quando não voltada para o discurso de poder e dominação.Isso se explica pelo fato de que a retórica do poder autoprojeta-se pela idealização, embasada na idéia do “bem”, ou seja, de levara civilização aos primitivos, punindo-os, com violência, pela di-ferença, tal como afirma Edward Said, (1995: 12): “ ‘eles’ nãoeram como ‘nós’ e por isso deviam ser dominados”. Por outrolado, a par do projeto colonial, as culturas por não seremmonolíticas e autônomas terminam tomando para si elementosda alteridade. O que então se entende por “essencialmente amesma”? O debruçar-se na autoreflexividade identitária, marcada literatura portuguesa pós-74, na obra de Lídia Jorge e da lite-
1 8 1
ratura caboverdiana de Orlanda Amarílis, guardadas as peculia-ridades de interpretações, de perspectivas, de sentido histórico,de idiossincrasias e tradições. Isso só se conjuga, literariamente,na permeação entre o texto ficcional e o texto histórico, quandoo discurso literário refaz, criticamente, o discurso histórico, tra-zendo as marcas mais profundas do espaço social.
Embora o imperialismo português, na África, trouxessecompactada a idéia de superposição de cultura, de anulação deuma sobre a outra, sendo a cultura fonte de identidade, ela pró-pria termina por tornar-se foco de resistência, produtor da cons-ciência nacional e de uma base ideológica voltada para aredescoberta, repatriação e revalorização do que lhe foi invadi-do, modificado, tirado ou abafado. No dizer de Pires Laranjeira,“o colonialismo serve-lhe de propulsor da consciência, a qual serebela contra ele” (1985: 11).
Por outro lado, o totalitarismo, ao criar uma imagem ide-alizada benevolente e “salvadora”, de si, substitui a consciêncianacional pelo sentimento nacionalista, mascarando a cultura aoatribuir-lhe valores e significados outros, mesmo porque as cul-turas nacionalistas dependem, fortemente, de um conceito deidentidade nacional, de tal forma que a política nacionalista é,prioritariamente, uma política de identidade, ainda que sob pode-rosa idealização. Há, portanto, que derrubar-lhes os mitos, re-verter imagens, reordenar o funcionamento social, enfrentandoa crise de paradigmas. Daí a preocupação de Lídia Jorge de re-duzir a complexidade social à sua essencialidade no sentido depermitir a autodescoberta e, em última análise, a reconstruçãoda identidade.
E, aí, o mito, por princípio simbólico-metafórico, cuja des-coberta do sentido possui caráter de transformações infinitas,tem um papel fundamental, mesmo diante da tradição mutável,que o obriga a reatualizar-se, até porque – e, aqui, comungamoscom Lévi-Strauss, – “Nós explicamos a ordem do mundo pelaciência. Mas para explicar a nós mesmos nossa história, para
1 8 2
fabricá-la, procedemos como os grandes mitos. O fato históricoparticipa da natureza do mito...” (1970: 142), e tanto o mito quantoa narrativa possuem uma função reguladora nas sociedades.
No decorrer do trabalho, a importância do Outro no pro-cesso de identidade ou como representação da identidade doMesmo se fez presente e acreditamos ter deixado claro o con-ceito de alteridade; daí pretendermos avançar no raciocínio, tra-zendo a idéia de Edward Said (1995: 267) de que “Esta é a tragé-dia parcial da resistência: ela precisa trabalhar a um certo graupara recuperar formas já estabelecidas ou pelo menos influenci-adas ou permeadas pela cultura do império”. Ou seja, para recu-perar formas já estabelecidas ou pelo menos influenciadas oupermeadas pela cultura do Outro. Ainda segundo E. Said (Idem,ibidem), “... os africanos da descolonização julgaram necessárioreimaginar uma África despojada do seu passado imperial”, paraconcluir pela imutabilidade do passado e da presença do Outrono próprio processo identitário do Mesmo, como força constru-tora, com todas as premissas negativas que o imperialismo tragaconsigo.
Os escritores pós-imperiais do Terceiro Mundo, portanto,trazem dentro de si o passado – como cicatrizes de feridashumilhantes como uma instigação de práticas diferentes, comovisões potencialmente revistas do passado que tendem para umfuturo pós-colonial, com experiências urgentementereinterpretáveis e revivíveis, em que o nativo outrora silencio-so fala e age em território tomado pelo colonizador, como partede um movimento geral de resistência. (Idem: 269)
Nesse sentido, o esforço cultural pela descolonização trazconsigo um esforço pela restauração da comunidade e pela reto-mada da cultura, enfim, entendendo-se a cultura como mananci-al da identidade, o que continua, por muito tempo, após o esta-belecimento do Estado independente. E, aqui, quando se fala em
1 8 3
projeto voltado para o nacionalismo, fala-se em restauração dacomunidade, em afirmação da identidade, em resgate de práticasautênticas e surgimento de novas práticas culturais.
Isso só se consegue pela transgressão dos códigos, sejadiante da resistência à aculturação como um todo, seja numa vi-são humana mais integrativa desencadeada pelo processoglobalizado em que há interdependência entre terrenos culturaisque coexistem, uma vez que “estão surgindo novos alinhamentosindependentemente de fronteiras, tipos, nações e essências” (Idem:27). Quer dizer, o que efetivamente se transgride nomulticulturalismo é uma visão estática de identidade, na medidamesmo em que, a par dos novos alinhamentos, não há como iso-lar o passado do presente, uma vez que ambos coexistem e seajustam mutuamente, e na medida em que aquele é uma marcaindelével neste.
Assim, em Lídia Jorge e em Orlanda Amarílis, a compre-ensão do presente – o mesmo que afirma a existência do passa-do rigorosamente como presente ou, como quer Mendilow (1972:248), “numa série de presentes resvalando uns para dentro dosoutros” – só se faz como parte de um processo cujas raízesestão na experiência humana vivida coletiva e nacionalmente,verdadeira matriz potencial de futuro. Isso porque, no presente,neste presente que é somatório histórico de vivências, e no estardistante da terra natal, o coletivo é devorado pela solidão dasforças sociais, as que tomam os presentes anteriores como exis-tências à parte, rompendo com suas significações mais profun-das.
É um modo de a literatura ler e dialogar com a História –caboverdiana e portuguesa – atribuindo-lhe significados outrosem que as trajetórias coletivas, o nacionalismo, as matrizes, en-fim, de cultura e vida espiritual são forças vitais na construçãode um outro tempo.
Em Orlanda Amarílis, a valorização; em Lídia Jorge, aredescoberta da pátria.
1 8 4
Bibliografia
1- Bibliografia de Orlanda Amarílis
AMARÍLIS, Orlanda. Cais-do-Sodré té Salamansa. Lisboa: Bertrand,1974.
____. Ilhéu dos pássaros. Lisboa: Bertrand, 1982.____. A casa dos mastros. Lisboa: Bertrand, 1989.
2- Bibliografia de Lídia Jorge
JORGE, Lídia. O dia dos prodígios. 6. ed. Lisboa: Europa-América,1990.
____. O cais das merendas. 4. ed. Lisboa: Europa-América, 1989.____. Notícia da cidade silvestre. 6. ed. Lisboa: Europa-América
1984.____. A costa dos murmúrios. Lisboa: Europa-América, 1988.____. A última dona. Lisboa: Europa-América, 1992.____. A instrumentalina. Lisboa: Europa-América, 1992.____. O jardim sem limites. Lisboa: Europa-América, 1995.
3- Bibliografia sobre Orlanda Amarílis
ABDALA JÚNIOR, Benjamin. Globalização, cultura e identidade emOrlanda Amarílis. Trabalho apresentado no Colóquio Internaci-onal Literatura & História: três vozes de expressão portuguesa.Porto Alegre, UFRGS, abr. 1997.
CARDOSO, Ribeiro. Literatura Caboverdiana. Orlanda Amarílis: novolivro talvez este verão. Diário de Lisboa, Lisboa, 5 mai.,1988.
FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portugue-sa I. Amadora, Instituto de Cultura Portuguesa, 1977.
LEPECKI, Maria Lúcia. Charneira das letras Cabo Verde - Portugal.Diário de Notícias, Lisboa, 05 nov. 1989.
1 8 5
PIRES LARANJEIRA, J. L. Mulheres, ilhas desafortunadas. Prefácioa AMARÍLIS, Orlanda. A casa dos mastros. Lisboa:ALAC, 1989.
____. A escrita de Orlanda Amarílis. Trabalho apresentado no Coló-quio Internacional Literatura & História: Três vozes de expres-são portuguesa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Porto Alegre, abr., 1997.
SANTOS, Maria Elsa Rodrigues dos. Um olhar sobre a literaturacabo-verdiana. Jornal de Letras, Lisboa, 28 fev. 1982.
Sete contos cabo-verdianos de vidas e mortes quotidianas. O Diá-rio, Lisboa, 12 jan. 1990.
TUTIKIAN, Jane. A montagem literária do discurso nacionalista emLídia Jorge e Orlanda Amarílis. Organon, Revista do Instituto deLetras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 8, (22),1994.
____. Caboverdianamente Orlanda. Trabalho apresentado no Coló-quio Internacional Literatura & História: três vozes de expres-são portuguesa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Porto Alegre, abr. 1997.
____. Compatriotas da língua. Zero Hora, Porto Alegre, 05 abr. 1997.Cultura, Segundo Caderno.
____. Caboverdianidade: o passe e a senha. In: ROSA, Victor Pereirada & CASTILLO, Susan (org.) Pós-colonialismo e Identidade.Porto: Universidade Fernando Pessoa, 1998.
Uma ponte de palavras. Diário de Lisboa, Lisboa, 1° jan. 1990.
4- Bibliografia sobre Lídia Jorge
BERG, Eliana. “O dia dos prodígios” escrita prodigiosa. ColóquioLetras, Lisboa, 64, nov. 1981.
BULGER, Laura. “ O Cais das Merendas” de Lídia Jorge. Uma iden-tidade cultural perdida? Colóquio Letras, Lisboa, 82 nov. 1984.
CÂMARA, J. M. Bettencourt da. “A última dona” amor ou morte.Jornal de Letras, Lisboa, 13 out. 1992.
CAUTELA, Afonso. Lídia Jorge lança “A última dona”, A Capital,Lisboa, 18 nov. 1992.
____. Os mais jovens não sabem onde está o inimigo. A Capital,Lisboa, 5 dez.1996.
CHIURE, Alexandre. Aplausos para Moçambique. Diário de Notíci-as, Maputo, 28 jun. 1993. Entrevista.
FERREIRA, Vergílio. De D. Sebastião a Godot - “O dia dos Prodígi-
1 8 6
os” – um livro singular. Jornal Expresso, Lisboa, 08 mar. 1980.FRANÇA, Elisabete. “A última dona” na cidade agreste. Diário de
Notícias, Lisboa, 30 set. 1992.GUEDES, Maria Estela. Antes e depois da cobra. Jornal Diário Po-
pular, Lisboa, 21 mar. 1980.GUERREIRO, António. Tempos difíceis. Expresso, Lisboa, 19 set.
1992.HORTA, Maria Teresa. “ A última dona” é uma parábola. Diário de
Notícias, Lisboa, 04 out. 1992MARTINS, Luís Almeida. À procura da verdade perdida. Jornal de
Letras, Artes e Idéias, Lisboa, 294, 23 fev. 1988._____. Lídia Jorge, notícia do cais dos prodígios. Jornal de Letras,
Artes e Idéias, Lisboa, 293, 15 fev. 1988._____. A ficção é o mais sério de tudo. Jornal de Letras, Artes e
idéias, Lisboa, 29 set. 1992.MARTINS, Maria João. O rosto dos outros. (Entrevista). Jornal de
Letras, Lisboa, 06 dez. 1995.____. A inocência avisada. Visão, Lisboa, 07 dez. 1995.MAURA, Antonio. La costa de los murmullos. A B C Literario,
Madri, 10 jun. 1989.MEDINA, Cremilda de Araújo. O escritor português hoje. : O Estado
de São Paulo. São Paulo, 16 mai. 1982.____. Viagem à literatura portuguesa contemporânea. São Paulo :
Nórdica, 1983.MONGELLI, Lênia Márcia de Medeiros. Memórias da Idade Média
em Lídia Jorge. In: 2º Congresso ABRALIC- Literatura e memó-ria cultural -anais. Belo Horizonte, 1991.v.2.
RISQUES, Isabel. Comovida com a realidade. O Jornal, Lisboa, 2out. 1992.
SERRANO, Miguel. “O cais das merendas” de Lídia Jorge. Lisboa,09 mai. 1982.
SILVA, Maria Augusta. “O jardim sem limites” de Lídia Jorge: Ro-mance pressente o futuro. Diário de Notícias. Lisboa, 03 dez.1995.
____. Um jardim de setas (Entrevista). Diário de Notícias. Lisboa,14 mar. 1996.
TUTIKIAN, Jane. A montagem literária do discurso nacionalista emLídia Jorge e Orlanda Amarílis. Organon, Revista do Instituto deLetras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.8,( 22),
1 8 7
1994.____. O prodígio dos tempos modernos. Trabalho apresentado no II
Simpósio Luso-Afro-Brasileiro de Literatura. Faculdade de Le-tras de Lisboa, abr. 1994.
5- Bibliografia geral
ABDALA JÚNIOR, Benjamin. A escrita Neo-Realista. São Paulo:Ática, 1981. (Ensaios: 73)
____.A aventura crioula em Manuel Ferreira. In: X Encontro de Pro-fessores Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa- IColóquio Luso-Brasileiro de Professores Universitários de Li-teraturas de Expressão Portuguesa –Actas . Lisboa/ Coimbra/Porto: Instituto de Cultura Brasileira / Universidade de Lisboa,1984.
____. Crioulidade - Resistência e identidade nacionais nas literatu-ras africanas de língua portuguesa. In: 1º Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada. Porto Alegre: UFRGS,1986.
____. Literatura, história e política. Literaturas de Língua Portu-guesa no século XX. São Paulo: Ática, 1993.
ABDALA JÚNIOR, Benjamin & PASCHOALIN, Maria Aparecida.História social da literatura portuguesa.4.ed. São Paulo: Ática,1994.
ADORNO, Theodor. Notas de literatura. Barcelona: Argel, 1962.AFFERGAN, Francis. Exotisme et alterité. Paris: Presses
Universitaires de France, 1987.AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da literatura. Coimbra,
Almedina, 1965.ALBÉRÈS, R. M. Métamorphoses du roman. Paris: Albin Michel,
1962. (A)____. Histoire du roman moderne. Paris: Albin Michel, 1962. (B)____. Le roman d’aujourd’hui. Paris: Albin Michel, 1970.ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado.
Lisboa: Presença, 1980.ANDERSON, Benedict. Vieux empires, nouvelles nations. In:Théories
du nationalisme. Paris: Kimé, 1991.AUCOUTURIER, Michel. Prefácio a Esthétique et théorie du roman.
M.Bakhtin. Paris: Gallimard, 1978.BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoievski. Trad.
1 8 8
Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1981.____. Marxismo e filosofia da linguagem. 6.ed. São Paulo: Hucitec,
1992.____. Questões de literatura e de estética. (A teoria do romance)
Trad. Aurora Fornoni Bernadini e outros. 3.ed. São Paulo: Hucitec,1993.(A)
____. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Ocontexto de François Rabelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. SãoPaulo: Hucitec / Brasília: Editora da Universidade de Brasília,1993.(B)
BARTHES, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1970.____. O rumor da língua. Lisboa: Edições 70, 1984.BERARDINELLI, Cleonice. Nacionalismo, linha mestra da literatura
portuguesa. In: II Simpósio Luso-afro-brasileiro de literatura:Nacionalismo, Regionalismo. Lisboa: Cosmos, 1994.
BLOCH-MICHEL, J. La “nueva novela”. Guadarrama: Madri, 1967.BORNHEIM, Gerd. Motivação básica e atitude originante de Filo-
sofar. Porto Alegre: Meridional, 1961.BRUNEL, P.; PICHOIS, CL.; ROUSSEAU. Que é literatura compa-
rada? São Paulo: Perspectiva/USP; Curitiba: UFPR, 1990.BRUNEL, Pierre. Transparences du roman (Le romancier et ses
doubles au XXe siècle – Calvino, Cendras, Cortázar, Echenoz,Joyce, Kundera, Thomas Mann, Proust, Torga, Yourcenar). Pa-ris: José Corti, 1997.
____. Mythocritique: théorie et parcours Paris: PressesUniversitaires, 1992.
BUBNOVA, Tatiana. F. Delicado puesto en diálogo: las clavesbajtinianas de Lozana andaluza. México: Universidad Autónomade México, 1987.
CAMPOS, Maria Monsueto Cunha.Figurações do outro. Tempo bra-sileiro, Rio de Janeiro, 114/115, 1993.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: CompainhaEditora Nacional, 1985.
CANDIDO, Antonio et alii. A personagem de ficção. São Paulo:Perspectiva, 1970.
CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. Matéria e forma no romance. Separatada Revista de Letras, Assis: Faculdade de Filosofia Ciências eLetras,1966.
CARPENTIER, Alejo. A literatura do maravilhoso. São Paulo: Vér-
1 8 9
tice, 1987.____. O reino deste mundo. Trad. João Olavo Saldanha. Rio de Ja-
neiro: Civilização Brasileira, 1985.CARVALHAL, Tania Franco. 2. ed. A literatura comparada. São
Paulo: Ática, 1986.____. Compatriotas da língua. Zero Hora, Porto Alegre, 05 abr., 1997.
Cultura, Segundo Caderno.____. Teorias em Literatura Comparada. Revista Brasileira de Lite-
ratura Comparada, São Paulo: ABRALIC, 2, mai 1994.CARVALHAL, Tania & COUTINHO, Eduardo (org.). Literatura com-
parada: textos fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.CARVALHO, Alberto. Prefácio a Cultura caboverdeana: ensaios.
Lisboa: Vega, 1991.CASSIRER, Ernst. Mito y lenguage. Buenos Aires: Galatea Nueva
Vision, 1959.____. O mito do Estado. Lisboa: Europa-América, 1961.COELHO, Nelly Novaes. Escritores portugueses. São Paulo: Quíron,
1973.CORREIA, Pedro Pezart. A descolonização. In: Portugal 20 anos de
democracia. Lisboa: Printer Portuguesa, 1996.COUTINHO, Afrânio. Conceitos e vantagens da literatura compara-
da. Boletim de Ariel, Rio de Janeiro,2 (13), jan./fev., 1976.CUNHAL, Álvaro. A revolução portuguesa. Lisboa: D. Quixote, 1975.EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Rio de Janeiro: Zahar,
1993.ELIADE, Mircea. Aspects du mythe. Paris: Gallimard, 1969.____. Le mythe de l’eternel retour. Paris: Gallimard, 1969.____. Mito y realidad. Madrid: Guadarrama, 1968.FARACO, Carlos Alberto et alii. Uma introdução a Bakhtin. Curitiba:
Hatier, 1988.FEHÉR, Ferenc. O romance está morrendo?. Guanabara: Paz e Terra,
1972.FERREIRA, Manuel et alii. Claridade: revista de arte e letras. Lis-
boa: A.L.A.C./ Instituto Caboverdeano do Livro, 1986.FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Lisboa: Ulisséia, 1963.FISCHER, Ernst et alii. Sociologia da arte. Rio de Janeiro: Zahar,
1966.FLORY, Suely Fadul Villibor. Experimentalismo e auto referencialidade
como marcas de contemporaneidade na Literatura Portuguesa
1 9 0
atual. Revista de Letras, Assis, UNESP,34, 1994.FONSECA, Aguinaldo et alii. Antologia: Cabo Verde, Guiné Bissau,
e São Tomé e Príncipe. Poesia e conto. Sel. Org. Lucia Cechin.Porto Alegre: 1982.
FORSTER, E. M. Aspects of the novel. New York: Harcourt, Braceand World, s.d.
GLISSANT, Edouard. Introduction à une poetique du divers. Paris:Gallimard, 1966.
____. Le discours antillais. Paris: Seuil, 1981.GOLDMANN, Lucian. Recherches dialectiques. Paris: Gallimard, 1959.____. Sociologia do romance. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.GUILLÉN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la
Literatura comparada. Barcelona: Crítica, 1985.HEGEL, G.N.F. Esthétique. Paris: Auberier, 1949.v.3.HELENA, Lúcia. A construção da Literatura Comparada na História
da Literatura. Revista Brasileira de Literatura Comparada. SãoPaulo:ABRALIC, 2, mai 1994.
JAHN, Janheis. Las literaturas neoafricanas. Madrid: Guadarrama,1971.
KRISTEVA, Julia. A palavra, o diálogo e o romance.In: Introdução àSemanálise. Trad. Lúcia Helena França. São Paulo: Perspectiva,1974.
LÉVI-STRAUSS, Claude et alii. Mito e linguagem social (Ensaiosde Antropologia Estrutural). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1970.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Lábios rachados e gêmeos. In: Mito e Sig-nificado. Lisboa: Edições 70, 1978.
LLOSA, Mario Vargas. La novela. Montevideo: Fondo de CulturaUniversitaria, 1968.
LOPES, Oscar & SARAIVA, Antonio José. História da literaturaportuguesa. Porto: Porto, 1989.
LOURENÇO, Eduardo. Labirinto da saudade- Psicanálise míticado destino português. Lisboa: D. Quixote, 1978.
____. Literatura e revolução. Colóquio Letras, Lisboa,78 ,1984.____. Nós e a Europa ou as duas razões. Lisboa: Nacional/Casa da
Moeda, 1988.____. A Europa desencantada- Para uma mitologia européia. Lis-
boa: Visão, 1994.LUKACS, Georg. La signification presente du réalisme critique.
1 9 1
Paris: Gallimard, 1966.MACHADO, Álvaro Manuel & PAGEAUX, Daniel-Henri. Literatu-
ra Portuguesa Literatura Comparada Teoria da Literatura. Lis-boa: Edições 70, 1981.
MAILLOUX, Steven. Rhetorical Power. London: Cornell University,1989.
MALINOVSKI, B. Myth in primitive psychology. Londres:1926.MARIANO, Gabriel. Cultura caboverdeana: ensaios. Lisboa: Veja,
1991.MARTINS, J.P. Oliveira. Systema dos mythos religiosos. Lisboa:
Bertrand, s.d.MARTINS, Ovídio et alii. Antologia temática da poesia africana.
Lisboa: Sá da Costa, 1977.MEDINA, Cremilda de Araújo. Sonha mamana África. São Paulo:
Epopéia, 1987.MENDILOW, Adam Abraham. O tempo e o romance.Trad. Flávio
Wolf. Porto Alegre: Globo, 1972.MIELIETINSKI, E.M. A poética do mito. Trad. Paulo Bezerra. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1987.MIRANDA, Nuno de. Compreensão de Cabo Verde. Lisboa: Junta
de Investigações do Ultramar, 1963.NITRINI, Sandra. Em torno da literatura comparada. Boletim Biblio-
gráfico São Paulo, 47, (1/4), jan.dez., 1986.OLIVEIRA, Mário António Fernandes de. Reler África. Coimbra:
Centro de Estudos Africanos, 1990.ORLANDI, Eni Pulcinelli. A linguagem e seu funcionamento: as for-
mas do discurso. 2.ed. Campinas, SP: Pontes,1987.____. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez;Campinas: UNICAMP,
1988.PADILHA, Laura Cavalcante (org.) Anais do I Encontro de Profes-
sores de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Niterói:Imprensa Universitária da UFF, 1995.
PAGEAUX, Daniel-Henri et alii. Literatura comparada/ Teoria da lite-ratura. Tempo Brasileiro,Rio de Janeiro,1, 1962.
PAGEAUX, Daniel-Henri. De l’imagerie culturelle à l’ imaginaire. In:Précis de Littérature Comparée. Paris: PUF, 1989.
____. Da literatura comparada à teoria literária; elementos dereflexão. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro, 114-115, 1993.PAZ, Octavio. La quête du présent. Paris: Gallimard, 1991.
1 9 2
PESSOA, Fernando. Mensagem. Obras completas de Fernando Pes-soa. Lisboa: Ática, 1972.
PERRONE-MOISÉS. Flores na escrivaninha. São Paulo: Companhiadas Letras, 1990.
PIRES LARANJEIRA, J. L. Literatura canibalesca. Porto:Afrontamento, 1985.
____. A actual literatura dos cinco. Letras de hoje, Porto Alegre,PUCRGS, 26, (1), mar. 1991.
____. De letra em riste (identidade, autonomia e outras questõesna literatura de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomée Príncipe). Porto: Afrontamento, 1992.
____. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa: Uni-versidade Aberta, 1995.
PIZARRO, ANA et alii. La literatura latinoamericana comoproceso. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1985.
PRAÇA, Afonso. Baltasar Lopes ao “JL”: o movimento “claridoso”ainda existe. Jornal de Letras, Lisboa, 8/21 dez.1981.
P.S. La teoria del apagamiento. El pais, Madrid, 09 jun. 1989.RAMA, Angel. Transculturación narrativa en América Latina.
Mexico: Siglo XI, 1985.RIVAS, Pierre. Insularité et deracinement dans la poésie
Capverdienne. In: Les littératures africaines de langueportugaise: à la recherche de l’identité individuelle etnationale. - Actes du Colloque. Paris: Fondation CalousteGulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1985.
ROSADO, Pedro Garcia. Retratos: os heróis cabisbaixos do EstadoNovo: a síndrome do contestável. Diário de Notícias, Lisboa, 13abr. 1994.
SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. Trad. Denise Bottman.São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
____. Orientalism. New Jersey: Penguin, 1991.SANTILLI, Maria Aparecida. Africanidade - Contornos literários.
São Paulo: Ática, 1993.____. Viagens textuais.Um percurso: América-África-Europa. Revis-
ta Brasileira de Literatura Comparada. São Paulo, ABRALIC,2 mai. 1994
SANTOS, Maria Elsa Rodrigues dos. O mito e o anti-mito de Pasárgadana poesia cabo-verdiana. In: X Encontro de Professores Univer-sitários Brasileiros de Literatura Portuguesa - I Colóquio Luso-
1 9 3
Brasileiro de Professores Universitários de Literaturas de Ex-pressão Portuguesa-Actas. Lisboa/Coimbra/Porto, Instituto deCultura Brasileira/ Universidade de Lisboa, 1984.
SARAIVA, António José. Os mitos portugueses. Jornal de Letras,Artes e Idéias, Lisboa,1, (3/16) mar. 1981.
SARAIVA, José Hermano. História concisa de Portugal. Lisboa:Europa-América, 1971.
SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura ? Trad. Carlos Felipe Moisés.São Paulo: Ática, 1989.
SEIXO, Maria Alzira. Ficção. Colóquio Letras. 78, 1984.____. A palavra do romance: Ensaios de genologia e análise. Lis-
boa: Livros Horizonte, 1986.SÉRGIO, António. Breve interpretação da história de Portugal.
Lisboa: Sá da Costa, 1978.SIMÕES, João Gaspar. A arte de escrever romances. Lisboa: Ática,
1947.____. Natureza e função da literatura. Lisboa: Sá da Costa, 1948.____. Literatura, literatura, literatura... Lisboa: Portugália, 1964.SIMÕES, Maria de Lourdes Netto et alii. Temas portugueses e brasi-
leiros. Lisboa/ Ministério da Educação/ Instituto de Cultura eLíngua Portuguesa, 1992.
SCHÜLER, Donaldo. Visão do Messianismo no Brasil. Zero Hora,Porto Alegre, 13 mai. 1995. Cultura, Segundo Caderno.
SCHWARTZ, Roberto. Nacional por subtração. In: –––––. Que ho-ras são? São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
SOUZA, Eneida Maria de. Literatura Comparada. Espaço Nômadedo Saber. Revista Brasileira de Literatura Comparada, São Pau-lo, ABRALIC, 2, mai. 1994.
STAM, Robert. Bakhtin da teoria à cultura de massa. São Paulo:Ática, 1992.
TADIÉ, Jean-Yves. O romance no século XX. Lisboa: Dom Quixote,1992.
TRIGO, Salvato. Ensaios de literatura comparada afro-luso- brasi-leira. Lisboa: Vega/Universidade, s.d.
WELLECK, René. Conceitos de crítica. São Paulo: Cultrix, s.d.