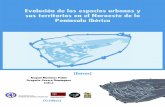Ingerência Internacional na África Subsahariana: uma Tipologia Exploratória
Transcript of Ingerência Internacional na África Subsahariana: uma Tipologia Exploratória
Universidade de Brasília – UnB
Instituto de Relações Internacionais – IREL
Roberta Holanda Maschietto
SOBERANIA E INGERÊNCIA INTERNACIONAL NA ÁFRICA
SUBSAARIANA: UMA TIPOLOGIA EXPLORATÓRIA
Orientador: Prof. Dr. Wolfgang Döpcke
Dissertação apresentada como requisito parcial para a
obtenção de grau de Mestre em Relações Internacionais
Brasília - 2005
III
AGRADECIMENTOS
Curiosa é a vida e os caminhos que nos vemos levados a trilhar. Se não fosse a
“descoberta da África”, provavelmente a minha vida teria seguido um rumo muito
diferente. Assim, gostaria de agradecer em especial ao meu orientador, prof. Wolfgang, que
primeiro me introduziu aos estudos da África e que tanto me ensinou ao longo dos anos em
que tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado. A conclusão deste trabalho é
decorrente, principalmente, da sua confiança na minha capacidade.
Nesse sentido, também fico imensamente grata a quem primeiro não acreditou que
eu pudesse levar a cabo esse projeto, e que acabou fazendo com que eu me sentisse
desafiada para continuar adiante. Ao prof. Viola agradeço os preciosos comentários ao
meu projeto, e as proveitosas conversas ao longo do mestrado.
Muitas pessoas contribuíram para a concretização deste projeto e não poderia listá-
las em sua totalidade. Amigos, professores e colegas de mestrado contribuíram de várias
formas para o desenvolvimento das idéias presentes nas próximas páginas. Contudo, à
minha família fica reservado um agradecimento especial, principalmente minha mãe, por
sempre me apoiar em qualquer caminho que eu viesse a escolher.
À minha prima Cíntia e Ricardo, que me ajudaram na etapa final, com a revisão do
texto, fica minha eterna amizade.
IV
RESUMO
O presente estudo tem por finalidade propor a sistematização das várias
manifestações de ingerência internacional na África Subsaariana desde as independências
de seus Estados. Num primeiro momento, são discutidos os conceitos de soberania e
ingerência, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. Em seguida, trabalha-se a
parte empírica, buscando na história e no estudo de casos as manifestações do fenômeno.
Ao longo dos capítulos, são identificados os principais atores, os meios utilizados para ingerir,
os tipos de ingerência e seus resultados. Conclui-se que com o final da Guerra fria houve
algumas mudanças significativas tanto no que concerne os atores, quanto os meios e tipos
de ingerência, mas, principalmente, no que diz respeito ao discurso utilizado como
justificativa para ingerir.
V
ABSTRACT
The main purpose of this study is to systemize the phenomenon of intervention in post-
colonial Sub-Saharan Africa. Firstly, the concepts of sovereignty and intervention are
reviewed and discussed. Once these terms are defined, they are applied in the analysis of a
series of case studies. In each chapter, the main actors, means and types of intervention are
identified, as well as their results. The paper concludes with some considerations on the end
of the Cold War and its impact on the intervention in Africa. Among the changes, the most
important one appears to be that related to the discourse that justifies the act of intervention.
VI
SUMÁRIO
LISTA DE TABELAS E FIGURAS VIII
LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES IX
MAPA DA ÁFRICA SUBSAARIANA 1
INTRODUÇÃO 2
1. SOBERANIA E INGERÊNCIA INTERNACIONAL: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL 5
1.1 Soberania: um conceito em discussão 6
1.2 Estado e soberania na África 9
1.3 Uma tipologia de soberania 12
1.4 Ingerência 15
1.5 Tipos de ingerência 17
1.6 Justificativas para a ingerência 19
1.7 A concordância entre o discurso e a prática 23
Conclusão 25
2. A FRANCOFONIA NA ÁFRICA 27
2.1 O interesse francês pela África 28
2.2 A descolonização do império francês: as bases da ingerência 29
2.3 A relação franco-africana após as independências 32
2.4 Intervenções militares 38
Zaire/Shaba (1977-78) 41
República da África Central (1979) 45
Chade (1983-1984) 48
2.5 Ingerência econômica 50
O caso de Mali 54
Conclusão 56
3. GUERRA FRIA E ÁFRICA: A ALTERNÂNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA E O ESQUECIMENTO 60
3.1 A Guerra Fria e a ingerência internacional 61
3.2 A Guerra Fria e a ingerência na África 65
3.3 As superpotências e a África 69
3.4 Motivações para a ingerência das superpotências 74
3.5 Outros Estados ingerentes 78
China 78
Cuba 80
3.6 A Guerra Fria e a descolonização africana 82
Zaire (1960-1965) 86
3.7 O ápice da Guerra Fria na África: a década de 1970 91
Angola (1975-1976) 94
Chifre da África 100
3.8 O fim da Guerra Fria na África 107
VII
África do Sul 108
Namíbia 115
3.9 Ingerência internacional e Guerra Fria na África 119
Conclusão 124
4. INGERÊNCIA ECONÔMICA 126
4.1 Inserção da África na economia mundial 127
4.2 Desenvolvimentismo e ajuda externa: a consolidação do modelo estatista 129
A politização da ajuda externa 131
4.3 Planos de ajuste estrutural e condicionalidades econômicas: revertendo o estatismo 138
Os resultados dos SAPs 143
4.4 A ingerência econômica internacional 145
Ajuda externa: uma forma de ingerência? 146
SAPs e ingerência internacional 150
4.5 Motivações e justificativas 153
Conclusão 156
5. INGERÊNCIA INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA FRIA: UM NOVO DISCURSO? 158
5.1 Mudanças no contexto internacional: o lugar da África no pós-Guerra Fria 158
5.2 A nova agenda de política internacional para a África 160
5.3 As novas ingerências 165
5.4 Direitos humanos, democracia e boa governança: justificativas ou motivações? 168
Contexto histórico e construção do discurso 169
Democracia e desenvolvimento 171
Direitos humanos 174
Implementação da nova agenda 177
5.5 Ingerência humanitária 180
Somália (1992-1994) 181
Ruanda (1994) 188
5.6 Ingerência democrática 193
Nigéria (1993-1998) 194
Zimbábue (2000-2002) 197
Quênia (1992-2002) 202
5.7 Ingerência internacional na África no pós-Guerra Fria 207
Conclusão 210
CONCLUSÃO 212
BIBLIOGRAFIA 218
Livros e capítulos de livros 218
Artigos 230
Artigos de imprensa 234
Teses e dissertações 234
Documentos e relatórios oficiais 234
VIII
LISTA DE TABELAS E FIGURAS
MAPA DA ÁFRICA SUBSAARIANA 1
TABELA 2.1 Intervenções militares francesas na África Subsaariana desde a descolonização 40
FIGURA 2.2 Localização do Congo/Zaire e de Shaba (Katanga) 42
FIGURA 2.3 República da África Central 45
FIGURA 2.4 Chade 48
FIGURA 3.1 Periodização comparada: Guerra Fria e Guerra Fria na África 68
FIGURA 3.2 Divisão da África colonial 82
FIGURA 3.3 Chifre da África 101
FIGURA 3.4 Namíbia 116
TABELA 3.5 Ingerência internacional na África Subsaariana na Guerra Fria: casos, tipos e
meios
122
TABELA 4.1 Cinco maiores receptores de ajuda francesa na África 136
TABELA 4.2 Cinco maiores receptores de ajuda na África 138
TABELA 4.3 Países africanos dependentes de ajuda externa (ajuda oficial para o
desenvolvimento líquida maior do que 10% do PNB)
146
TABELA 4.4 Ajuda internacional como porcentagem dos gastos governamentais 148
TABELA 5.1 Ingerência internacional na África Subsaariana no pós-Guerra Fria: casos, tipos e
meios
208
FIGURA: Ingerência internacional 217
IX
LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
ACP, África, Caribe e Pacífico
ANC, African National Congress
BCEAO, Banco Central da CEAO
BEAC, Banco Central da UDEAC
BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
BM, Banco Mundial
CEAO, Comunidade Econômica da África Ocidental
CFA (franco), franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale para os membros da África Central, e franc de la Communauté Financière d’Afrique
CIA, Central de Inteligência Americana
CS, Conselho de Segurança
DHs, Direitos Humanos
ECA, Comissão Econômica para a África
Ecomog, ECOWAS Monitoring Group
ECOWAS, Economic Community of West Africa States
EDA, Effective Development Assistance
EPRDF, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front
EPRP, Ethiopia People’s Revolutionary Movement
EU, União Européia
EUA, Estados Unidos da América
FAN, Segundo Exército de Libertação (Chade)
FAP, Primeiro Exército de Libertação (Chade)
FAPLA, Forças Armadas do MPLA
FAR, Forças Armadas Ruandesas
FLNC, Frente para a Libertação Nacional do Congo
FMI, Fundo Monetário Internacional
FNLA, Frente Nacional para Libertação de Angola
FPR, Front Patriotique Rwandais
Frolinat, Front de Libération Nationale du Tchad
GUNT, Governo de Transição de União Nacional (Chade)
IAF, Inter-African Force
IFIs, Instituições Financeiras Internacionais
KANU, Kenya African National Union
MPLA, Movimento para Libertação de Angola
NMOG, Neutral Military Observer Group
ODA, Official Development Assistance
ONU, Organização das Nações Unidas
ONUSOM, Operação das Nações Unidas para a Somália
OUA, Organização da Unidade Africana
PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde
RAC, República da África Central
RECAMP, Renforcement des capacités Africaines de maintien de la paix
SADF, South African Defense Forces
SALT, Strategic Arms Limitation Talk
SAPs, Planos de Ajuste Estrutural
SDP, Social Democratic Party (Nigéria)
SWAPO, South West Africa People’s Organization
UA, União Africana
UDEAC, União Aduaneira e Econômica da África Central
UEMOA, União Econômica e Monetária da África Ocidental
UMOA, União Monetária da África Ocidental
UNAMIR, Missão das Nações Unidas para Assistência à Ruanda
UNITA, União Nacional para Independência Total de Angola
UNITAF, United Task Forces
UNOC, United Nations Organization in the Congo
UNOMUR, Missão de Observação das Nações Unidas para Uganda-Ruanda
URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID, United States Agency for Internacional Development
USC, United Somali Congress
ZANU, Zimbabwe African National Union
ZAPU, Zimbabwe African People’s Union
ZDERA, Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act
2
INTRODUÇÃO
Desde a sua conformação enquanto Estados nacionais, os países africanos estiveram
sujeitos às mais variadas formas de ingerência internacional. Embora muitas dessas
manifestações tenham sido estudadas em seu micro, não consta na literatura um estudo
sistematizado a partir da discussão do conceito de ingerência internacional e sua aplicação
na África. Em grande parte, isso é resultado do debate relativo ao conceito em si, que se
mistura com os termos intervenção e interferência, fator que, conjugado aos diversos
idiomas em que o assunto é tratado, causa uma certa imprecisão quanto ao significado do
termo ingerência. Uma das conseqüências disso é a fragmentação da discussão em temas
específicos (intervenção militar, ingerência econômica, ingerência humanitária, promoção
democrática, ajuda externa e condicionalidades, entre outros), sem que haja um fio
condutor entre os mesmos.
A proposta dessa dissertação reside na busca desse fio condutor e na sistematização
do tema em seus aspectos gerais. Assim, num primeiro momento, será retomada a discussão
conceitual sobre ingerência, vinculando-se o termo à soberania, esta última sendo muito
mais alvo de discussão acadêmica do que a primeira. Em seguida, serão analisadas
algumas manifestações empíricas de ingerência internacional na África, buscando-se uma
sistematização por período.
Uma vez que as independências africanas ocorreram, em sua grande maioria, a
partir de 1960, esta vai constituir a data marco para o trabalho, sua extensão prosseguindo
até os dias atuais. Embora seja um período particularmente amplo para uma dissertação de
mestrado, o recorte responde ao objetivo central da mesma, qual a construção de uma
tipologia exploratória da ingerência na África Subsaariana independente. Em termos de
objetivos específicos, o trabalho pretende: (a) classificar os tipos de ingerência que
ocorreram na África Subsaariana desde as independências; (b) identificar os principais
atores ingerentes (externos ao continente); (c) identificar quais foram as motivações e as
justificativas que levaram às ingerências e (d) verificar em que medida houve mudanças a
segunda do período histórico no discurso, nas ações e nas justificativas.
A hipótese central é a de que houve uma progressão no fenômeno da ingerência
na África que acompanhou, em grande medida a evolução da configuração política
internacional. Em especial, a Guerra Fria teve um papel fundamental no comportamento
das potências em relação ao continente, a sua importância para estas estando fortemente
vinculada à configuração de poder mundial. Ao lado dessa hipótese, assume-se o
pressuposto de que a ingerência internacional é um fenômeno contingente às relações
3
internacionais, fazendo parte das relações entre Estados. Nesse sentido, a ingerência não é
necessariamente positiva ou negativa. Ela tanto pode ser benéfica para as partes
envolvidas, quanto pode trazer prejuízos de valor incalculável, a depender do caso em
questão. O que muda, portanto, não é a ocorrência ou não da ingerência, mas a
freqüência da sua incidência, as formas que assume e a efetividade dos resultados. Muda,
também, ao longo do tempo a forma como a ingerência é tratada, o que, em última
instância, se reflete no grau de legitimidade que esta vai ou não assumir no cenário
internacional. No caso africano, o desenvolvimento do fenômeno acompanhou a formação
dos Estados, trazendo reflexos na própria forma que este viria a assumir. Desde então, não só
as formas que a ingerência assumiu mudaram, como, principalmente, a lógica do discurso
que as permeia.
Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, além da conclusão. No
primeiro capítulo, trata-se da discussão conceitual sobre soberania e ingerência. Dada a
dificuldade em encontrar uma discussão mais sistemática sobre a ingerência em si, optou-se
por trabalhar primeiramente a soberania, para em seguida, dela derivar o que seria aqui
considerado como ingerência. Além da discussão e definição dos termos, é apresentada
uma tipologia inicial de ingerência que será utilizada ao longo do trabalho. Ainda neste
capítulo, são apontadas algumas das principais justificativas apresentadas para a
ocorrência da ingerência internacional, bem como se levanta a discussão quanto à
concordância entre o discurso e prática que permeiam o tema.
O segundo capítulo trata da ingerência no contexto da francofonia, que define as
relações entre a França e partes da África. A opção por tratar essa relação em separado
das demais manifestações de ingerência deve-se às particularidades que caracterizam a
relação franco-africana e o caráter de continuidade que se revela excepcional, se
comparado com os demais atores ingerentes. Não obstante, alguns aspectos das
ingerências francesas serão retomados ao longo dos demais capítulos.
O terceiro capítulo aborda as manifestações de ingerência internacional que
ocorreram durante a Guerra Fria e que estiveram, em alguma medida, ligadas à dinâmica
da bipolaridade. Nesse sentido, constata-se que alguns dos casos mais importantes não
necessariamente contaram com a participação direta de ambas as superpotências, mas
que a razão pela qual se configurou o desfecho final esteve entrelaçada com a disputa por
zonas de influência. Por compreender praticamente três quartos de todo o período
considerado nesta dissertação, o capítulo engloba alguns dos casos mais importantes de
ingerência realizada no continente. Igualmente, por englobar o período da descolonização,
vai revelar em que medida a própria conformação do Estado africano respondeu a estas
manifestações.
4
O quarto capítulo trata especificamente da ingerência econômica. Muito embora
esse tipo de ingerência esteja presente ao longo da Guerra Fria, bem como depois, ele é
tratado em separado devido às suas dinâmicas que, em grau significativo, ultrapassam as
da Guerra Fria. Os dois instrumentos analisados são a ajuda externa e os planos de ajuste
estrutural e como a sua instrumentalização política afetou a soberania dos países africanos,
em especial a partir da década de 1980.
O quinto capítulo trata das ingerências realizadas após o fim da Guerra Fria.
Qualitativamente, as “novas ingerências” fundem considerações políticas com questões de
cunho econômico, resultando numa imbricação das ingerências conforme realizadas nos
dois capítulos anteriores. O marco desse período é a mudança do discurso que permeia a
ingerência, auferindo-lhe um caráter de legitimidade oriundo de valores considerados
universais, particularmente a promoção da democracia.
Por se tratar de um tema amplo, as fontes utilizadas nesta dissertação são
eminentemente secundárias. Os casos analisados não foram retrabalhados em sua
essência, sendo apenas instrumentais para compor um panorama mais amplo. Utilizou-se,
portanto, de um lado, ampla literatura sobre soberania e ingerência para tratar dos
aspectos conceituais; de outro, livros conceituados sobre as relações internacionais da
África, bem como relatórios de centros de estudos africanos e de organismos internacionais,
incluso ONGs, que acompanham a situação política do continente.
5
1
SOBERANIA E INGERÊNCIA
INTERNACIONAL: UMA DISCUSSÃO
CONCEITUAL
Como demonstram séculos de história, a ingerência de um Estado soberano sobre outro Estado, também soberano, é uma constante, sob diversas modalidades. […] Em geral, tal imisção tem como únicas regras incontestes o egoísmo (por fundamento) e o proveito (por resultado)
(Seitenfus, 2005)
A análise da literatura sobre soberania e ingerência mostra que ambos os conceitos
estão sujeitos às mais diversas interpretações. Temos, assim, uma vasta literatura que trata do
mesmo tema e que, na verdade, muitas vezes, está tratando de coisas diferentes.
Propõe-se, aqui, a fazer um apanhado das discussões conceituais sobre os dois
termos, a fim de precisar o instrumental que, posteriormente, será utilizado para trabalhar a
análise de casos. Inicialmente, tratar-se-á da soberania e da discussão em torno de sua
validade e/ou flexibilização. Em seguida, será discutida a ingerência, como conceito
resultante da definição aceita de soberania. Seguidamente, uma classificação será
sugerida para os tipos de ingerência existentes e as justificativas geralmente utilizadas para
sua aplicação.
Por fim, considera-se que, não obstante a contradição entre os dois termos, há algo
que os une e que os torna mais semelhantes do que opostos: seu caráter de instrumento
discursivo. Assim como a soberania foi criada em determinadas circunstâncias históricas,
com determinada finalidade política, o mesmo se passa com a ingerência e as justificativas
que a permeiam. No caso da ingerência, a complexidade é ainda maior, uma vez que a
necessidade de legitimar ações no cenário internacional é mais intensa hoje do que à
época do surgimento da soberania.
No que diz respeito aos princípios que regem a soberania e a ingerência (o peso de
sua validade, as justificativas que os regem), é posição desta dissertação que estes não são
necessariamente compartilhados em nível internacional, mas aceitos em função das
relações de poder (principalmente político e econômico). Em última instância, a própria
construção do discurso depende, em parte, da defasagem nas relações de poder entre os
6
Estados. No caso da África, observa-se que, de um lado, o peso do discurso pró-soberania e
a árdua defesa do princípio de não-intervenção se chocam com a realidade, uma vez que
os países africanos estão constantemente sujeitos a processos de ingerência externa em
seus assuntos internos, seja porque assim o desejam, seja por constrangimentos
internacionais. Ao mesmo tempo, ao se comparar a África com os países ocidentais,
observa-se que o grau de soberania é diferente em cada caso: de um lado, o Ocidente
preserva na prática a sua soberania, enquanto, de outro, flexibiliza o conceito quando se
trata de ingerir nos países em desenvolvimento.
A busca de uma tipologia de ingerências visa a facilitar a análise de casos e traçar
uma linha geral do histórico do fenômeno no continente.
A fim de tornar a análise mais completa, buscar-se-á tratar os temas tanto a partir do
prisma jurídico, do direito internacional, quanto a partir do prisma teórico das Relações
Internacionais, uma vez que as ações internacionais são justificadas, em grande parte, a
partir do direito.
1.1 SOBERANIA: UM CONCEITO EM DISCUSSÃO
Como noção de Direito Internacional Positivo, o conceito de soberania surgiu na
Europa, no século XVII, quando os governos monárquicos deixaram de ser controlados pelo
poder da Igreja. Hoje, o conceito perpassa toda a jurisprudência internacional, sendo parte
da Carta da ONU, que reza em seu Art. 2º, § 1º, que “a Organização das Nações Unidas é
baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros”.
No que tange às Teorias das Relações Internacionais, na vertente tradicional realista,
a soberania pode ser vista como uma característica inerente ao Estado. É esta soberania
que concede aos Estados o status de atores equivalentes no sistema internacional. A idéia
de sistema internacional anárquico, onde não há governos ou instituições supranacionais,
advém exatamente da autonomia do Estado.
Em termos históricos, a soberania surgiu em conjunto com a formação do Estado
nacional. Como apontam Lyons e Mastanduno:
(…) the concept of sovereignty developed as an instrument for the assertion of royal authority over feudal princes in the construction of modern territorial states. (…) What was essential was that governments maintained the capacity to provide order through the exercise of sovereignty.1
Um dos principais marcos da construção do conceito foi o Tratado de Vestfália, de 1648,
que encerrou a Guerra dos Trinta Anos e reformulou as bases das relações internacionais.
1 LYONS, G. M. & MASTANDUNO, M. International intervention, state sovereignty, and the future of international society. LYONS, G. M. & MASTANDUNO, M. (ed.). Beyond Westphalia? State sovereignty and international intervention. Baltimore/London: John Hopkins University Press, 1995, cap. 1, p. 5-6.
7
Isso se traduziu, futuramente, no princípio da não-ingerência, ou seja, dentro do território que
constitui um Estado, as autoridades domésticas seriam as únicas legítimas responsáveis pelas
decisões e comportamento deste Estado.2
O contexto histórico em que a soberania passou a vigorar como princípio regente
das relações internacionais é importante, pois impõe limitações à sua lógica de
funcionamento: esta foi moldada por circunstâncias sociais e econômicas específicas de
uma Europa dos séculos XVI e XVII, sofrendo, em tempos posteriores, variações em sua
validade e aplicabilidade.
O próprio fato de a soberania estar atada à formação do Estado nacional restringe
sua lógica, uma vez que o Estado em si sofreu fortes mudanças ao longo dos últimos séculos
(e talvez um consenso sobre o próprio Estado já não existisse à época de sua formação).3
Relacionado a isso, ainda há dois fatores complicadores que dizem respeito à soberania
estatal e que contribuem para as ambigüidades que envolvem o conceito: as noções de
poder e autoridade, que também estão sujeitas a diferentes interpretações e,
conseqüentemente, contribuem para a discussão do que vem a ser soberania.
Passado tanto tempo, portanto, é natural que o conceito de soberania tenha sido
alvo de inúmeras discussões, o que, contudo, não chegou a alterar a importância do
mesmo para a condução e análise das relações internacionais. De forma geral, parece que
o princípio de não-ingerência sempre foi consenso e guia das relações entre Estados, pelo
menos no discurso. Hoje, no entanto, é justamente essa “inviolabilidade” que parece ser
questionada. Scott argumenta que algumas mudanças ocorreram após 1945, as quais
resultaram em um novo regime internacional de soberania. Até então, a estatalidade
(“statehood”, aqui indicando a condição de Estado) era adquirida por meio da
demonstração: antes de ser reconhecido como tal, o Estado deveria existir de fato. Depois
da Segunda Guerra Mundial, a independência não necessariamente seria adquirida de
fato, mas viria como um “moral entitlement”, ou seja, seria formalmente concedida. De
maneira mais específica, em relação aos países mais fracos e subdesenvolvidos, seria
concedida uma soberania negativa (reconhecimento formal da autoridade), em contraste
com uma soberania positiva (consistindo esta nas condições concretas e substantivas que
2 KRASNER, Stephen. Sovereignty. Organized hipocrisy. New Jersey: Princeton University Press, 1999, p. 20 3 Camillieri apresenta as diferentes interpretações sobre a noção de Estado através dos argumentos de filósofos dos séculos XVI e XVII. Para Bodin e Hobbes, por exemplo, o Estado refería-se aos indivíduos e à instituição que exercem autoridade suprema dentro de um dado território ou sociedade. Segundo esta visão, o Estado teria o monopólio efetivo do uso da força. Uma visão mais idealista, defendida por Hooker, Burke e também Rousseau e Hegel, veriam o Estado como constituído não apenas pelas instituições, mas também por uma sociedade política organizada, pela nação. Tais diferenças teriam influência direta na prática e na teoria da soberania, bem como na discussão sobre o conceito. CAMILLIERI, Joseph A. Rethinking sovereignty in a shrinking, fragmented world. WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, SAUL H. (ed.) Contending sovereignties. Redefining political community. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1990, p. 15.
8
permitem o funcionamento eficiente do governo, no sentido de prover bens políticos e
serviços aos seus cidadãos). Assim, enquanto a soberania positiva implicaria controle e
poder, a soberania negativa traria reconhecimento e autoridade perante a comunidade
internacional.4
Esta visão bidimensional de soberania é facilmente corroborada se considerarmos as
condições de determinados Estados no atual cenário político internacional. “Failed states” e
“quasi-states” são algumas das expressões que exemplificam casos de Estados que ou
falharam ao consolidar suas instituições ou sequer chegaram a instituí-las.
Outras classificações existem, contudo, quando se fala em soberania. Juridicamente,
há que se considerar suas dimensões interna e externa (ou internacional). Soriano Neto
define soberania interna como “aquela em que o poder do Estado edita e faz cumprir, para
todos os indivíduos que habitam em seu território, leis e ordens, que não podem ser limitadas
ou restringidas por nenhum outro poder”5, enquanto que a soberania internacional
significaria que “nas relações recíprocas entre os Estados, não há subordinação nem
dependência e sim igualdade.” 6 Contudo, e não obstante a posição do autor seja firme
quanto à indivisibilidade da soberania, novos termos foram criados em tempos recentes, de
maneira a adaptarem-se à realidade internacional, termos que muitas vezes contrastam
com a própria idéia de soberania. “Soberania limitada” ou “restrita”, “soberania
compartilhada”, “dever de ingerência”, todos foram conceitos criados nos últimos anos que
justificam a violação da soberania, quando não flexibilizam o conceito em si.
Lyons e Mastanduno afirmam que assim como a soberania evoluiu dentro de uma
sociedade européia em determinado momento histórico, assim também deverá adaptar-se
aos novos tempos e aos novos princípios decorrentes das mudanças internacionais. A
soberania envolveria, assim, tanto direitos como obrigações.7
Na mesma linha, grande parte das discussões relativas ao tema aponta para uma
mudança no que diz respeito à percepção da não-ingerência, princípio antes considerado
máxima das relações internacionais e hoje visto com reservas. Hoje as justificativas mais
comuns que levam à violação da soberania são a defesa dos direitos humanos, meio
ambiente e preservação do ecossistema, boa governança e democracia. Ao longo da
história, contudo, são observáveis violações de inúmeros tipos, justificadas por outros motivos
ou mesmo não-justificadas e sequer formalizadas. Exemplos foram as intervenções na
própria formação de determinados Estados nacionais ou na forma de governo que alguns
4 SCOTT, Pegg. International society and the de facto State. Inglaterra/Estados Unidos: Ashgate, 1998, p. 3 5 SORIANO NETO, Manoel. Soberania, soberania limitada, dever de ingerência e intervenção humanitária. O Farol, n. 84, out. 2001. Disponível em: <http://www.farolbrasil.com.br/>. Acesso em: 05 maio 2003 6 Ibid. 7 Lyons & Mastanduno, op. cit., p. 7-8.
9
Estados viriam a tomar (América Latina, África e Ásia são repletas de casos). A tentativa de
buscar um conceito que se adapte à realidade internacional não significa que no passado
este mesmo conceito, enquanto princípio, tenha sido respeitado ao longo da história. A
proposta desse capítulo repousa na formulação de um conceito de soberania a partir do
qual se possa extrair um conceito de ingerência internacional. A finalidade última é
encontrar um apoio instrumental para, posteriormente, trabalhar os casos de ingerência
internacional na África.
1.2 ESTADO E SOBERANIA NA ÁFRICA
Uma vez que a soberania surgiu na Europa, dentro de um contexto histórico
específico, quando da formação dos Estados nacionais europeus, transplantar o conceito
para o caso africano requer uma nova contextualização histórica. De fato, utilizar a
tradicional conceituação de Estado na África omite uma problemática maior, referente às
peculiaridades do continente e da formação dos Estados em questão. O continente
africano foi o último a ver a independência de seus países e sofreu com um processo brutal
de desapego das potências coloniais, as quais, ao sair do continente (quando saíram de
vez), deixaram para trás inúmeros problemas que iriam afetar diretamente a formação dos
Estados nacionais. De fato, as fronteiras coloniais foram reconhecidas pela então
Organização da Unidade Africana (OUA, hoje União Africana, UA), formada em 1963 e, no
entanto, praticamente não há um país africano que não tenha, em algum momento, tido
questionamentos internos quanto à redefinição das fronteiras.
Não obstante este processo, e a dificuldade de consolidação (dificuldade
observada, em muitos casos, até os dias de hoje), tão logo constituídos, os Estados africanos
optaram por uma defesa assídua da soberania, tendo como princípio-guia de suas relações
a não-ingerência nos assuntos alheios. O princípio é um dos mais fundamentais da própria
carta da OUA/UA e dirige as relações intra-africanas, muito embora uma certa flexibilização
também tenha sido observada em tempos mais recentes (o envio de tropas regionais para
tentar normalizar processos de conflitos internos seria um exemplo – ECOMOG na Libéria e
Serra Leoa).
O apego à soberania e à união do Estado é tão forte no continente que, com todas
as dificuldades na consolidação dos Estados, na África o processo de fragmentação após a
independência foi resistido. De fato, apenas um caso de secessão concretizou-se com
sucesso (a independência da Eritréia em 1993, até então parte integrante da Etiópia).
Parece mesmo paradoxal: um continente com Estados problemáticos, que por vezes sequer
respondem às funções de Estado, mas que no entanto se mantêm unitários e
internacionalmente reconhecidos como tais.
10
Esse aparente paradoxo foi discutido por Jackson e Rosberg, ao tratarem do Estado
na África, na década de 1980. Ao estilo de Scott (discutido acima), os autores falam em dois
tipos de propriedades do Estado: as propriedades jurídicas e as empíricas. Segundo eles,
essa divisão categórica seria a base para explicar a sobrevivência do Estado africano, uma
vez que, analisado de maneira pragmática, é evidente que muitos desses Estados não
possuem controle de fato sobre os territórios e populações sob sua jurisdição, ou, pelo
menos, não de maneira constante. Contudo, o reconhecimento destes mesmos Estados e
sua sobrevivência enquanto entidades internacionais nunca foram colocados em
questionamento, sua existência, portanto, sendo perpetuada. De maneira mais explícita,
enquanto as propriedades empíricas desses Estados se mostram altamente variáveis, seus
componentes jurídicos demonstram-se constantes ao longo do tempo.8
Entre as variáveis empíricas que caracterizariam um Estado constariam uma
população permanente e um governo efetivo. No primeiro caso, ao se considerar uma
“comunidade estável” uma comunidade política baseada em uma cultura comum, então
de fato poucos Estados africanos seriam possuidores desta. As divisões étnicas e os conflitos
oriundos deste fator provam exatamente o contrário, ou seja, a dificuldade de uma união
sob o signo do nacionalismo. Quanto a um governo efetivo, essa categoria parece ainda
mais problemática. Considerando por governo efetivo a capacidade de exercer controle
sobre um dado território e a população nele residente (por meio de regulações, políticas e
leis implementadas e impostas), então outra questão parece propícia no caso africano, ou
seja, de quais meios se utiliza o Estado para exercer este controle. Na linha de Jackson e
Rosberg, o exercício do controle na África reside em três fatores: a autoridade doméstica
(que tende a ser pessoal mais do que institucional e particularmente frágil, como mostram os
vários e constantes golpes de Estado), o aparato de poder (considerado fraco e
subdesenvolvido, tanto por carência de recursos quanto pela deficiente redistribuição
destes – corrupção) e as circunstâncias econômicas (notórias por serem desfavoráveis). Em
outras palavras, o exercício de controle longe está de refletir a realidade da maioria dos
Estados africanos.
Em contraste com o Estado empírico, Jackson e Rosberg argumentam que “the
juridical state is both a creature and a component of the international society of states, and
its properties can olny be defined in international terms”.9 Ao entrar na discussão de
sociedade internacional de Estados, os autores clamam a doutrina dos direitos dos Estados
(state’s rights), que se traduziria pela soberania. Nesse sentido, o importante seria o
8 JACKSON, Robert H.; ROSBERG, Carl G. Why Africa’s weak states persist: the empirical and the juridical in statehood. KOHLI, Atul (ed.) The state and development in the Third World. New Jersey: Princeton University press, 1986, p. 259-62. 9 Ibid, p. 270.
11
reconhecimento internacional do território e da independência do Estado em questão. Não
por acaso, a sobrevivência dos Estados africanos estaria muito mais ligada ao
reconhecimento internacional e à pressão que a sociedade internacional poderia exercer
na manutenção desse status do que à capacidade real destes Estados de constituírem-se
enquanto tais. Ao mesmo tempo, não menos importante é o reconhecimento dos próprios
Estados africanos de sua soberania (jurídica). Como explicam os autores, em outro artigo:
The OAU rules have been observed by African leaders in large part because of the weakness of African states. (…) African rulers are obliged to co-operate with one another. The OAU rules are observed by them out of a sense of mutual vulnerability and shared interests.10
Completam a argumentação os autores afirmando que, ao apoiar esse tipo de soberania, o
Ocidente estaria, muitas vezes, perpetuando governos indignos, corruptos e ilegítimos.
Em trabalho recente, Grovogui critica Jackson, argumentando que sua visão assume
um modelo de soberania único, enquanto que, segundo ele, na verdade,
Sovereignty reflects historical regimes or social compacts, real or imagined, that give form to power and legitimacy (Bartelson: 1995:186-248). These entities exist because international morality has never been founded upon a single standard of moral authority or sovereign legitimacy.11
Ou seja, a própria idéia de soberania estaria vinculada a uma série de circunstâncias
históricas particularmente ligadas ao Ocidente, logo, a forma que assumiu em outros lugares
e circunstâncias não necessariamente esteve ancorada ao modelo europeu. Em outras
palavras, Grovogui acusa Jackson de eurocentrismo ao analisar a África.
Parece que a discussão sobre Estado e soberania muitas vezes se confunde. Jackson
e Rosberg, por exemplo, tratam a noção de “estatalidade” (statehood) da mesma forma
que Scott trata “soberania”. Uma vez que soberania e Estado são conceitos fortemente
ligados, parece necessário tentar traçar uma linha divisória entre os dois. Ambos, enquanto
conceitos, tiveram sua origem em determinado momento histórico e na Europa. Num
primeiro momento, a soberania foi um meio de afirmação da condição de Estado.
Posteriormente, como apontam tanto Jackson e Rosberg quanto Scott, em especial depois
da Segunda Guerra Mundial, o surgimento de Estados por reconhecimento passou a
proliferar-se e a soberania passou a ser vista sob dois prismas: o empírico e o jurídico ou
formal. Contudo, enquanto a diferença na formação dos Estados na Europa e na África
parece mais do que evidente, no que diz respeito à soberania, não há um consenso quanto
a uma “mudança” histórica na sua prática. Parece mais provável que o que houve foi um
consenso quanto ao conceito, em termos de uma soberania vestfaliana, que depois foi
10 JACKSON, Robert H.; ROSBERG, Carl G. Sovereignty and underdevelopment: juridical statehood in the African crisis, p. 8. 11 GROVOGUI, Siba N. Sovereignty in Africa: quasi-statehood and other myhts in international theory. DUNN, Kevin C. and SHAW, Timothy M. (ed.). Africa’s challenge to International Relations Theory. New York: Palgrave, 2001, p. 32-3.
12
quebrado, resultando na subdivisão terminológica (soberania jurídica/empírica,
positiva/negativa). Essa forma de analisar o conceito dificulta sua aplicação prática. Uma
fórmula mais eficaz de tratar do tema na prática é acatar uma definição e analisar em que
grau ela encontra recorrência na realidade.
1.3 UMA TIPOLOGIA DE SOBERANIA
A definição de soberania perpassa vários ângulos da vida do Estado. Não apenas
existem algumas tipologias de soberania, como também parece não estar claro o quanto
essa soberania existiu empiricamente de maneira absoluta. A tentativa de reformular o
conceito de forma a adaptar-se à realidade internacional apenas reflete o quanto o
mesmo se aproxima mais de um tipo ideal do que algo real e concreto.
Não obstante o presente trabalho vá ter seu foco no continente africano, o conceito
de soberania que aqui se pretende trabalhar não vai sofrer vieses regionais. Como
colocado acima, as diferenças que tocam a África parecem mais evidentes na
problemática do Estado do que da soberania. Evidentemente, a forma como se consolidou
o Estado vai ter reflexos diretos na forma como ele vai ser capaz de exercer sua soberania
ou, de outra forma, em que medida esta soberania vai ser respeitada. É importante,
contudo, distinguir de que soberania se está falando.
Krasner distingue quatro tipos de soberania (segundo a forma como o termo tem sido
utilizado): a soberania internacional legal, a soberania vestfaliana, a soberania doméstica e
a soberania de interdependência (interdependence sovereignty).12 De maneira resumida, a
soberania internacional legal está associada à prática do mútuo reconhecimento,
geralmente entre entidades territoriais que têm independência jurídica. A soberania
vestfaliana refere-se a uma organização política baseada na exclusão de atores externos
das estruturas de autoridade de um determinado território. A soberania doméstica reside na
autoridade política intraestatal e na habilidade das autoridades públicas de exercer
controle efetivo dentro de suas próprias fronteiras políticas. Por fim, a soberania de
interdependência refere-se à habilidade das autoridades públicas de regular o fluxo de
informações, idéias, bens, pessoas e capitais de um lado a outro de suas fronteiras estatais.
Tais soberanias não necessariamente estão correlacionadas, ou seja, um Estado pode ter
um tipo de soberania e não o outro.
O presente trabalho preocupa-se com o poder de influência de um Estado sobre o
outro na política internacional, em especial o poder de influência internacional nas políticas
interna e externa de um dado Estado. Por esta razão, nem a soberania doméstica nem a de
12 Krasner, op. cit., cap. 1.
13
interdependência nos interessa aqui. Não obstante os tipos de soberania “reconceituados”
ao longo das últimas décadas, ao se afirmar que um Estado exerce ou não esta soberania,
a referência normalmente remonta à tradicional soberania vestfaliana. Ao lado desta,
principalmente no âmbito do direito internacional, a segunda maior referência é aquela à
soberania internacional legal.
No modelo da soberania internacional legal, os Estados são entidades equivalentes,
são análogos aos indivíduos no nível doméstico. O que importa é o reconhecimento das
demais entidades, uma vez que isso vai ter conseqüências no que diz respeito aos recursos
que o Estado possa vir a obter. O reconhecimento é um “facilitador” de relações. Na
prática, no entanto, não necessariamente uma entidade tem que ser Estado, de fato, para
gozar dos mesmos privilégios. Nas palavras de Krasner:
The basic rule for international legal sovereignty is that recognition is extended to entities, states, with territory and formal juridical autonomy. This has been the common, although as we shall see, not exclusive, practice. (…) States have recognized other governments even when they did not have effective control over their claimed territory.13
O modelo de soberania internacional legal reflete a noção jurídica do conceito e
está, em princípio, ligado à noção de sociedade internacional, no sentido de que há um
conjunto de normas e regras que são reconhecidas globalmente. Na prática, as exceções
provam que há fatores outros, além dos jurídicos, que definem as relações internacionais e
que, mesmo aceitando um direito internacional conjunto, relações de poder podem ser
decisivas na violação ou na própria mudança de regras de direito internacional. De maneira
geral, a soberania internacional legal equivale à soberania jurídica, apresentada por
Jackson, e, segundo ele, graças à qual os Estados africanos teriam sobrevivido até hoje.
A soberania vestfaliana, por sua vez, vai ter por base dois princípios: o da
territorialidade e o da exclusão de atores externos das estruturas de autoridade domésticas,
o que se traduz, basicamente, no princípio da não-ingerência. Este conceito de soberania é,
sem dúvida, o mais forte no estudo das Relações Internacionais e perpassa as principais
teorias do campo, mesmo que sob focos diferentes. Assim, por exemplo, segundo o prisma
realista, a soberania vestfaliana é um pressuposto teórico; na escola inglesa trata-se de uma
norma internalizada que guiou, mas não determinou o comportamento político; já um
prisma construtivista enfatiza o quanto as normas associadas ao conceito têm sido
problemáticas e sujeitas a mudanças.14
Não é objetivo deste trabalho discutir cada um destes prismas. No entanto, uma vez
que existe a finalidade de traçar rupturas e continuidades na ingerência internacional no
continente africano, atenção especial será dada ao uso do discurso, não apenas o da
13 Ibid, p. 14-5. 14 Ibid, p. 44-5.
14
soberania, mas o da própria ingerência e o das justificativas utilizadas para levá-la a efeito.
Nesse sentido, consideramos que o mesmo conceito pode ser utilizado de forma a
maximizar determinados interesses, mudando, portanto ao longo do tempo e do espaço, e
sendo, assim, constantemente reformulado ou reconstruído. Desta forma, alguns
fundamentos da teoria construtivista nos ajudam a compreender melhor o papel do
discurso.
Os dois principais pilares do construtivismo seriam:
(1) that the structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces and, (2) that the identities and interests of purposive actors are constructed by these shared ideas rather than by given nature.15
Quanto a estes pilares, este trabalho concorda com o fato de que as idéias são basilares na
formação dos conceitos e que estes são construídos e não dados. Contudo, não se acredita
que necessariamente estas idéias sejam compartilhadas. Uma vez que o ambiente
internacional é marcado pela distribuição assimétrica de poder, considera-se a
possibilidade de que a própria construção de conceitos seja resultante de uma defasagem
e da conseqüente imposição de idéias que seriam depois vistas como compartilhadas. A
própria discussão conceitual em relação à soberania e à ingerência leva a crer que não
existe este consenso e que o debate permanente, tanto pela formulação conceitual,
quanto pelos princípios que regem sua aplicação, é fruto de disputas e conflitos que
envolvem assimetrias de poder material. Corrobora-se, portanto, a visão de Krasner, que
discorda dos construtivistas em relação ao peso que dão às normas e princípios
compartilhados. Segundo ele, “norms, when they exist in the international system, are
instrumental, not deeply embedded.”16 O mesmo é corroborado em Abrahamsen, que
retoma Foucault, segundo o qual
’There is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations’. This close relationship between power and knowledge alert us to the fact that the problematisation of a particular aspect of human life is not natural or inevitable, but historically contingent and dependent on power relations that have already rendered a particular topic a legitimate object of investigation.17
Da mesma forma que o conceito de soberania assume uma certa flexibilidade em
razão de sua construção, oriunda da defasagem de poder, é difícil aceitar o fato de que,
dado um conceito tão rigoroso como o da soberania vestfaliana, seja de fato possível
evidenciar a sua aplicação na prática em termos absolutos. Krasner chega à conclusão de
que, na prática, o respeito ao princípio vestfaliano nunca foi algo inteiramente respeitado.
15 WENDT, Alexander. Social theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 1. 16 Krasner, op. cit., p. 52. 17 Foucault, apud, ABRAHANSEM, Rita. Disciplining Democracy. Development discourse and good governance in Africa. London/New York: Zed Books, 2000, p. 14.
15
Referindo-se às soberanias internacional legal e vestfaliana como “organized hipocrisy”,
Krasner nota que a sua violação é uma constante na história, considerados os princípios a
elas associados.18 Há que se notar variações no grau e na forma. É nesse sentido que se
pode falar em diversos tipos de ingerência.
1.4 INGERÊNCIA
Ingerência é outro conceito que gera bastante discordância quanto à sua
abrangência. A começar pelo fato de que há pelo menos três vocábulos em português que
se misturam na literatura: intervenção, interferência e ingerência. De fato, no dicionário, tais
termos constam como sinônimos. Ingerir significa intervir, intrometer-se. Interferir também
remonta a intervir. Intervir, por sua vez, significa “tomar parte voluntariamente, interpor sua
autoridade, seus bons ofícios, estar presente”.19 No trabalho, privilegiar-se-á o termo
“ingerência”, uma vez que intervenção está muitas vezes associada ao uso da força,
enquanto interferência é menos utilizada. Ao trabalhar, no entanto, com a literatura
internacional, utilizaremos o termo apresentado na versão original.
Nota-se, por exemplo, na literatura sobre o tema, que em inglês a palavra mais
usada é “intervention”, mesmo quando se fala em processos que não envolvem ação
militar, enquanto em francês fala-se em “intervention” e, principalmente em “dévoir
d’ingérence”, aqui sendo mais nítida a distinção entre a ação militar a outras formas de
ingerência. “Devoir d’ingérence”, em especial, aparece na literatura jurídica. Em português,
parece que intervenção está normalmente associada à ação militar, enquanto
interferência consiste em uma forma mais branda de influência. Aqui dar-se-á preferência
para o termo ingerência, mas possivelmente será usado “intervenção”, segundo a acepção
citada.
Na discussão sobre o tema, nota-se, ainda, uma diferença no tratamento segundo
as abordagens jurídicas e de Relações Internacionais. Considera-se aqui importante
trabalhar com as duas abordagens, uma vez que a consolidação do discurso tem um forte
embasamento nas convenções jurídicas e no direito internacional. Por outro lado, a prática
nem sempre coincide com tais regras, logo as interpretações possuem variações quando
analisadas por um prisma político. Comum a ambas as áreas, contudo, é a contradição
entre os princípios de soberania e não intervenção em contraposição ao direito/dever de
intervir.
18 Krasner, op. cit., p. 24. 19 Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Jornal da Tarde. São Paulo: Ed. Globo e Zero Hora Editora Jornalística, 1993.
16
Na literatura jurídica, encontramos uma maior discussão em relação a princípios e
justificativas de intervenções, em especial o destaque para as intervenções humanitárias. A
dificuldade de se encontrar um consenso quanto ao que seria ingerência é abordada por
Ramsbotham e Woodhouse. Mencionam os autores diversas definições, algumas tão amplas
que chegam a confundir ingerência com influência, outras que diferenciam o ato pelo fator
coerção. Os próprios autores concluem que
Intervention is the abrogation of sovereignty. It occurs when one or more external powers exercise sovereign functions within the domestic jurisdiction of a state.20
Atenta-se para o fato de que os autores não mencionam a coerção como fator inerente à
ingerência, bastando a existência do exercício soberano de funções domésticas como
elemento constituinte. Contudo, este elemento parece prevalecente nas demais definições,
como, por exemplo:
Il y a intervention quand un Etat ou un groupe d’Etats s’ingèrent, pour imposer sa volonté, dans les affaires intèrieures ou extérieures d’un Etat souverain et indépendant avec lequel il existe des relations pacifiques, sans son consentement, dans le but de préserver ou de modifier l’etat de chose existant.21
Na literatura de Relações Internacionais, os conflitos em torno das definições de
ingerência não são menores. Basta lembrar das diferentes concepções de soberania para
visualizar o quanto a extensão do debate é transplantada para o caso da ingerência.
Segundo Wight,
Intervenção pode ser definida como uma interferência pela força, que não seja uma declaração de guerra, feita por uma ou mais potências, nos assuntos de outra potência.22
O uso da força, contudo, não é consensual nas definições. Hoffman, por exemplo,
propõe um conceito de ingerência como “acts which try to affect not the external activities,
but the domestic affairs of a state.” 23 Aqui, portanto, a restrição do conceito reside na área
em que será exercida a influência.
Outras definições são, ainda mais restritas, como por exemplo, a de Lyons e
Mastanduno, segundo os quais
International intervention may be understood as the crossing of borders and infringements on sovereignty carried out by, or in name of, the international community.24
20 RAMSBOTHAM, Oliver & WOODHOUSE, Tom. Humanitarian intervention in contemporary conflict. Cambridge, Oxford: Polity Press, Blackwell Publishers, 1996, p. 39-40. 21 Thomas & Thomas, apud BEDJAOUI, Mohamed. La portée incertaine du concept nouveau de ‘dévoir d’ingérence’ dans un monde troublé: quelques interrogations. Le Droit d’Ingérence.Est-il une nouvelle legalisation du colonialisme? Publications de l’Academie du Royaume du Maroc, Collection Sessions, Rabat: out. 14-15-16, 1991, p. 56. 22 WIGHT, Martin. A Política do Poder. Brasília: Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002, p. 193. 23 HOFFMAN, Stanley. The problem of intervention. In: BULL, Hedley (ed.). Intervention in world politics. Oxford: Clarendon Press, 1984. 24 Lyons & Mastanduno, op. cit., p. 12
17
Aqui haveria um fator de legitimidade, uma vez que a ação seria levada a cabo em nome
da comunidade internacional.
Parece evidente que as diferenças presentes nas definições acima estão ligadas ao
que cada autor entende por soberania. De fato, ao atrelar a definição de ingerência à
soberania, fica mais clara a compreensão sobre o sentido do termo. Se considerarmos a
soberania vestfaliana, ou seja aquela na qual as estruturas internas são as únicas legítimas
condutoras das políticas do Estado, então todo ato que reverta esta lógica traduzir-se-á em
um ato de ingerência. Neste caso, a definição de ingerência de Romsbotham e Woodhouse
parece a mais apropriada. Nesse sentido, a ingerência não está vinculada,
necessariamente, nem ao uso da força nem a qualquer forma explícita de coerção. Como
aponta Krasner, mesmo que a ingerência seja resultado de um “convite” por parte do
Estado receptor, a partir do momento em que a estrutura doméstica de formulação política
é afetada, então há ingerência.25
1.5 TIPOS DE INGERÊNCIA
Uma forma de classificar os tipos de ingerência seria segundo os meios pelos quais
esta se dá. Uma segunda, seria por meio de suas manifestações. Por manifestações,
entende-se a forma assumida pela mesma na prática. Trata-se de um aspecto mais
detalhado do que o meio. Exemplos de formas assumidas seriam: sanções, embargos,
intervenções armadas, entre outros.26
O meio, por outro lado, refere-se a como a ingerência se conforma, em seu princípio,
mais especificamente no quesito grau de consentimento ou grau de coerção presente no
ato em si. Nesse sentido, Krasner apresenta quatro maneiras pelas quais pode ocorrer a
violação da soberania vestfaliana e que se considera aqui como constituindo os meios de
ingerência: convenções, contratos, coerção e imposição.27
Por convenções, entendem-se acordos voluntários por meio dos quais os
governantes se comprometem a seguir um determinado tipo de prática nas relações entre
governantes e governados dentro de suas fronteiras nacionais. Este compromisso não está
diretamente vinculado ao cumprimento da convenção por parte dos demais signatários,
mas expõe o Estado a uma possível ingerência a partir do momento em que não há o
cumprimento do acordo. Em outras palavras, ao fazer parte da convenção, o Estado abre
25 Krasner, op. cit., p. 20-3. Krasner fala em tipos de violação de soberania, aqui assumido como sendo ingerência. 26 Seitenfus oferece uma listagem muito prática sobre o que ele denomina como sendo modalidades de intervenção. SEITENFUS, Ricardo. Ingerência ou solidariedade? Dilemas da ordem internacional contemporânea. São Paulo: Fundação Sedae, 2005 27 Krasner, op. cit., p. 25-40
18
as portas voluntariamente para a ingerência, que pode ocorrer ou não, dependendo da
sua postura com relação ao compromisso. Exemplos de convenções são a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, a convenção sobre escravidão, refugiados, entre outros. É
importante ressaltar que nem todas possuem meios efetivos de imposição e monitoramento,
daí seu grau de coerção ser nulo.
Contratos são acordos entre dois governantes ou entre um governante e outro ator
internacional (como instituições financeiras, por exemplo). Contratos podem afetar a
soberania vestfaliana se alteram as concepções de comportamento legítimo, se sujeitam as
instituições domésticas a influência ou pessoal externo, ou se criam estruturas de autoridade
transnacionais. À diferença das convenções, os contratos são mutuamente contingentes, ou
seja, perdem a validade se uma das partes não cumpre o acordado (embora, na prática,
seja mais comum uma renegociação do que uma ruptura de contrato). Exemplos de
contratos são os empréstimos internacionais, via Banco Mundial e Fundo Monetário
Internacional e a União Européia.
Por fim, coerção e imposição, que são, em princípio, semelhantes, ou seja, são
formas de pressão exercidas sobre um Estado. A diferença entre ambas reside no custo da
recusa pelo Estado alvo da ingerência em cumprir ou não com as demandas atreladas à
pressão. A coerção ocorre quando governantes de outros estados ameaçam impor
sanções a menos que a contraparte comprometa sua autonomia doméstica. O Estado alvo
pode ceder ou resistir, mas o resultado é sempre pior do que o status anterior. A imposição,
por outro lado, ocorre quando o governante do Estado alvo não tem escolha a não ser
ceder à pressão e comprometer sua autonomia doméstica. Ou seja, a diferença entre
ambos reside no grau do custo envolvido na recusa do alvo de ceder à pressão. Exemplos
de coerção são as sanções econômicas. Imposições, normalmente, envolvem o uso da
força e foram utilizadas em casos associados a direitos de minoria, empréstimos e estruturas
constitucionais de Estados mais fracos.
Ao trabalhar os casos práticos, percebe-se que nem sempre a distinção
classificatória é clara. A fronteira entre uma ingerência por contrato e por imposição, por
exemplo, pode ser muito tênue, especialmente se se considerar que, muitas vezes, o Estado
somente adere ao contrato em função de fortes pressões externas. Outros casos não têm
uma vestimenta formal. As diversas formas de ajuda internacional, por exemplo, podem,
muitas vezes, ser encaradas como uma forma de contrato, uma vez que há uma espera
implícita de retorno em forma de apoio político ou afim (os apoios militares e econômicos
aos países africanos durante a Guerra Fria ilustram bem esse tipo de caso). Em outros casos,
ainda, a ingerência começa de uma forma específica e termina de outra, por exemplo, um
contrato que se transforma em imposição devido ao não cumprimento voluntário do
mesmo.
19
Uma forma de ingerência que será considerada neste trabalho e não abordada por
Krasner é a paradoxal não-ingerência, ou não-ação, quando esta ocorre de maneira
intencional visando atingir um determinado objetivo. Seitenfus refere-se a esta modalidade
como omissão, ou seja a exclusão deliberada de um autor de um determinado tema
referente a outro que causa efeitos diretos na parte “receptora”.28 No caso africano, a não-
ação, em determinados momentos, teve efeitos tão ou mais gravosos do que ações
positivas.
1.6 JUSTIFICATIVAS PARA A INGERÊNCIA
Uma vez definido o conceito de ingerência, e as formas que ela pode adquirir, resta
traçar as principais justificativas utilizadas para o exercício da mesma.
Ao longo da história pode-se observar vários tipos de ingerência, ainda que nem
sempre em relação a entidades estatais. O próprio colonialismo foi uma forma clara de
ingerência internacional, no sentido de uma expansão de um determinado tipo de
sociedade em outros espaços regulados por estruturas sociais diferentes e no sentido de
imposição e coerção, uma vez que não foi dada escolha a estas últimas de querer ou não
se submeter à dominação estrangeira.
Antes do século XIX, as sociedades em expansão não sentiam necessidade de
buscar uma justificativa para tanto. A guerra e o colonialismo eram algo quase natural e
perfeitamente compreensível. A necessidade de legitimar um comportamento
expansionista surgiu a partir do século XIX e traduziu-se em vários princípios, quais o da
liberdade e abertura do mundo, democracia e restabelecimento de direitos, secularismo e
missionarismo, ciência e, por fim, valores morais, que se traduziram na luta pela abolição da
escravatura, defesa das minorias, entre outros.29 Notadamente, estes valores morais
encontraram forma, mais recentemente, na emergência dos direitos humanos, no discurso
da assistência humanitária, no desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos e,
na década de 1990, na boa governança. Ainda assim, cabe observar que mesmo no século
XX nem sempre as ingerências foram justificadas formalmente. Esta necessidade tornou-se
muito mais premente com o fim da Guerra Fria, em alguns casos tornando-se o próprio fator
motivador da ingerência.
Será função deste trabalho discernir entre as justificativas apresentadas no discurso
pelas partes interventoras e as motivações que de fato resultaram na ação prática da
28 Seitenfus, op. cit. 29 LAROUI, Abdallah. Le droit d’intervention et son rôle dans le dévelopment de la colonisation au course du XIXè siècle. Le Droit d’Ingérence.Est-il une nouvelle legalisation du colonialisme? Publications de l’Academie du Royaume du Maroc, Collection Sessions, Rabat: out. 14-15-16, 1991, p. 21-30.
20
ingerência. Considera-se que a legitimação do discurso se traduz, em grande parte, mas
não de maneira absoluta, no direito internacional e na interpretação das leis que, em última
instância, justificam a tomada da ação. As motivações políticas, e mesmo econômicas, por
outro lado, encontram-se, por vezes, veladas pelo discurso e devem ser buscadas na lógica
da política interna e externa dos países interventores.
Juridicamente, a soberania é um princípio consagrado, assim como a não-
ingerência. Duas exceções, contudo, abrem margem para que esta soberania seja violada.
A primeira é a doutrina da intervenção humanitária. A segunda é a “intervenção
consentida”, ou seja, aquela que é feita resultante do pedido do governo do Estado
receptor da mesma.30 Discutir-se-á aqui a primeira delas. A segunda somente faz sentido
dentro da ótica da soberania internacional legal.
Em primeiro lugar, cabe discutir o que vem a ser humanitarismo. Apesar do crescente
apelo ao termo, não há uma definição geral do que vem a ser humanitarismo no direito
internacional. O discurso aparece pincelado em diversos tratados e áreas, mas carece de
uma definição precisa. O mais comum é assumir-se o que vem a ser humanitarismo, ao invés
de explicá-lo. Essa vaguidade tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, permite
que o conceito seja aceito de maneira mais ampla internacionalmente, entre culturas
diferentes, pois não impõe muitas restrições e nem é diretamente associado com o
Ocidente. Por outro lado, dificulta a elaboração de uma legislação internacional específica
sobre o tema e a regulação de sua aplicação.31 Além disso, um discurso tão vago é mais
fácil de ser manipulado para fins escusos, uma vez que permite que as situações mais
diversas se encaixem no rótulo “humanitário”.
Em segundo lugar, há que se especificar as várias dimensões desse humanitarismo.
Tem-se, assim, um direito internacional humanitário, traduzido em uma série de convenções,
as mais importantes sendo as de Haia e de Genebra. Enquanto Haia trata das leis de guerra
e do tratamento que deve ser dispensado aos combatentes, Genebra trata dos prisioneiros,
dos feridos e civis. A assistência humanitária, por outro lado, que seria uma segunda
dimensão, não se vincula diretamente à guerra.
International humanitarian relief or assistance is concerned with the immediate needs of victims of natural political disasters, not necessarily in war zones and not necessarily connected with explicit violations of human rights. Yet the ‘three legal pillars of international protection’ include international humanitarian law and human rights law, as well as refugee law.32
30 Bedjaoui, op. cit., p. 57. 31 Ramsbotham & Woodhouse, op. cit., p. 9. 32 Ibid, p. 12.
21
Por fim, os princípios humanitários, a terceira dimensão, são aqueles embutidos na criação
da Cruz Vermelha. São eles sete: independência, serviço voluntário, unidade, humanidade,
imparcialidade, neutralidade e universalidade.
Embora embutidos, muitas vezes, no termo humanitarismo, os direitos humanos
diferenciam-se do direito humanitário e da assistência humanitária por tratar das relações
entre um governo e sua população, e não das populações de outros Estados. Entre as
obrigações que eles impõem, estão: evitar que as violações aos direitos humanos ocorram,
em primeiro lugar, e proteger e assistir aos cidadãos vítimas destas violações. Os direitos das
vítimas devem, portanto, ser protegidos primeiramente pelo seu próprio governo e, em
segundo lugar, por outros governos caso os seus venham a falhar com suas obrigações.33
Daí o termo “devoir d’ingérence”. Ou seja, uma vez que é dever do Estado cuidar da sua
população, é como se sua soberania passasse a depender deste cumprimento.
A grande questão, diante deste debate jurídico, e daí fazendo a ponte com a
dimensão política da ingerência é “who determines that a state has not met its sovereign
obligations and that consequences are such that intervention to force compliance is
justified?”34 Uma vez que o direito dá margem a interpretações diferenciadas, em razão da
imprecisão de alguns conceitos fundamentais, a última palavra é dada por quem interpreta
esta jurisdição e a adapta à realidade prática.
De fato, enquanto juridicamente os Estados possuem status de eqüidade, na prática
a defasagem de poder entre eles é fundamental na condução das relações internacionais.
No caso da ingerência, mais especificamente, esta defasagem de poder é ainda mais
evidente, uma vez que, como nota Bull, aquele que intervém é, em princípio, mais forte do
que aquele que sofre a ingerência.35 Não obstante o argumento de Krasner de que as
convenções e os contratos sejam atos voluntários, em princípio, na prática há inúmeras
formas de pressão para impelir os contratantes a tomar parte dos mesmos. Em suma, a
própria adaptação das normas jurídicas está em parte sujeita a fatores políticos e
econômicos que acabam por suprimir o princípio de eqüidade entre os Estados.
Além das justificativas jurídicas relativas ao humanitarismo, pode-se observar, ainda,
discursos legitimadores políticos, relativos a princípios quais o desenvolvimento e a boa
governança. A idéia de desenvolvimento enquanto progresso e evolução surgiu no
Renascimento, mas foi cunhada e institucionalizada somente com o fim da Segunda Guerra
Mundial. O marco foi o discurso do então presidente dos Estados Unidos, Truman, que refletia
o papel missionário dos Estados Unidos, enquanto protetor das áreas menos desenvolvidas
33 Ibid, p. 22-3. 34 Lyons & Mastanduno, op. cit., p. 8. 35 BULL, Hedley (ed.), op. cit.
22
do mundo. Como observa Abrahamsen, o rótulo desenvolvimentista escondia todo o
contexto histórico em que o mesmo foi construído:
The invention of development in the early post-war period was set against the background of rising nationalism in Latin America and growing demand for independence in Asia and Africa, which made it necessary to think in terms of new ways of managing and relating to these areas. But most importantly, development emerged at a time when Cold War hostilities came to define international relations. (…) Fear of Communism was one of the prime motivating forces behind the development effort. 36
Uma vez cunhado como argumento legítimo, o desenvolvimento passou a justificar uma
série de ingerências internacionais que, no discurso, visavam a atingir o termo em si, mas
que, na prática, eram guiadas mais por interesses outros, nada altruísticos. De fato, a
expansão do liberalismo trazia vantagens políticas e econômicas ao Ocidente. A “primeira
geração de condicionalidades”, segundo termo de Stokke, é um exemplo disso. Stokke
retoma o Plano Marshall para explicar como a ajuda oferecida aos países europeus após a
Segunda Guerra Mundial esteve vinculada a condições políticas específicas, e, em
particular, à opção por uma economia aberta de mercado, competindo, assim, com a
opção socialista da União Soviética. A mesma lógica foi usada no que se refere à ajuda aos
países em desenvolvimento. Na verdade, os países do então chamado Terceiro Mundo
viram-se obrigados a escolher entre ou alinhar-se a uma das duas superpotências e receber
a ajuda pela fidelidade ou não se comprometer com nenhum dos lados e tentar jogar com
as duas partes, de forma a tentar obter benefícios redobrados. 37 No caso do recurso ao FMI,
uma vez que os acordos eram feitos por meio de contratos “voluntários”, a ingerência
ficava velada pela “não-imposição” das medidas. A própria reforma da economia
doméstica dos Estados, no entanto, não deixa dúvidas quanto à margem de violação da
soberania vestfaliana destes. O rótulo desenvolvimentista permitia ingerir diretamente nas
políticas internas nos países menos desenvolvidos sem levantar questionamentos quanto à
legitimidade da ação, uma vez que o objetivo oficial declarado era o desenvolvimento
desses mesmos países.
Durante essa primeira fase, e até a década de 1980, a importância do regime
político (se era ou não uma democracia) era secundária, se não inexistente. A
preocupação econômica era tão forte que se chegava mesmo a justificar, quando não a
preferir, regimes autoritários e centralizados a regimes democráticos. Isto porque os
interesses das grandes potências estavam diretamente relacionados ao contexto histórico
em questão, ou seja, a Guerra Fria.
A partir da década de 1980, os resultados dos programas de ajuste econômico
levantaram dúvidas quanto à sua eficácia. Contudo, as justificativas para este fracasso
36 Abrahamsen, op. cit., p. 19. 37 STOKKE, Olav. Aid and political conditionality: core issues and state of the art. STOKKE, Olav (ed.). Aid and political conditionality. Frank Cass & Co., 1995, p. 6.
23
foram atribuídas aos próprios governos dos países subdesenvolvidos. O surgimento da boa
governança como novo discurso internacional associa o desenvolvimento diretamente ao
tipo de regime político. Em outras palavras, a própria falha dos planos econômicos
receitados pelas instituições financeiras passa a ser justificada não pela inadequação dos
planos em si, mas pela ausência de condições internas aos países menos desenvolvidos de
implementá-las: a culpa é, na verdade, dos regimes corruptos e não democráticos
existentes nestes países.38 Destarte, a solução (e a nova justificativa) para ingerir passa a ser
a boa governança, associada à defesa dos direitos humanos e à democracia.
1.7 A CONCORDÂNCIA ENTRE DISCURSO E PRÁTICA
Nem sempre as justificativas apresentadas para a ingerência correspondem, de fato,
às motivações que levam a ela. A coincidência pode existir ou não. Serão usados, no
presente trabalho, os termos justificativa e motivação, para designar, respectivamente, o
discurso apresentado para a ingerência, de um lado, e o real estímulo do agente
interventor, de outro. Se essa dicotomia reflete um aspecto do poder do discurso, de outro
temos que a própria soberania, enquanto discurso, teve e tem um papel legitimador de
determinadas posturas internacionais. Não obstante os diversos aspectos que o conceito
pode englobar, cada ator internacional o usa da forma que mais lhe apraz.
Alguns paradoxos, nesse sentido, podem ser observáveis. Primeiramente, há o
paradoxo menos aparente, que é aquele entre soberania e não-ingerência. Normalmente
considerados dois lados da mesma moeda, na verdade, como apontam Ramsbotham e
Woodhouse, a própria não-ingerência torna-se um constrangimento à soberania, uma vez
que lhe tolhe o direito de ir à guerra com os outros Estados, posto que deve respeitar a
soberania dos demais.39 A própria aceitação deste princípio, de outro lado, reflete uma
aceitação de uma norma comum, o que remete à concepção de sociedade internacional
e de uma ordem internacional.40
Assume-se aqui a existência de uma “aceitação” de determinadas normas e
princípios que regulam as relações internacionais. Neste sentido, pode-se falar em uma
sociedade internacional. O grau em que estas normas são efetivadas, contudo, está sujeito
a variações em função de fatores diversos, como a área temática (comércio, meio
ambiente, direitos humanos, entre outros), o grau de interesse das partes envolvidas e a
defasagem de poder entre as mesmas. A princípio, portanto, a existência de regras serve
38 Abrahamsen, op. cit., cap. 2. 39 Rambotham & Woodhouse, op. cit., p. 34-5. 40 BULL, Hedley. A sociedade anárquica. Brasília: Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.
24
para conferir um certo grau de previsibilidade de comportamento, de forma que as
relações internacionais se dêem com um certo grau de confiança. Não necessariamente,
contudo, a previsão é corroborada pelos fatos.
Outro paradoxo é mais evidente e reflete-se na idéia apresentada por Krasner, que
se refere à soberania vestfaliana como “hipocrisia organizada”. Por esse termo, o autor
entende que, de maneira empírica, essa soberania nem sempre foi/é observável. Krasner
retoma James March e Johan Olsen e as duas lógicas de ação política e social por eles
trabalhadas e observáveis também no ambiente internacional: a “logic of expected
consequences” e a “logic of appropriateness”.
Logics of consequences see political actions and outcomes, including institutions, as the product of rational calculating behavior designed to maximize a given set of unexplained preferences. (…) Logics of appropriateness understand political action as a product of rules, roles and identities that stipulate appropriate behavior in given situations.41
Segundo Krasner, e aqui se endossa o seu argumento, no ambiente internacional, o que
prevalece é a lógica das conseqüências esperadas. Primeiramente, porque as normas
internacionais podem ser contraditórias e não há um órgão supranacional competente para
solucionar tais divergências. Em última instância, são os fatores e as políticas domésticas que
vão guiar a ação do Estado. Em segundo lugar, porque o ambiente internacional é
caracterizado pela assimetria de poder, o que, muitas vezes, se sobrepõe às próprias
normas. Por fim, porque é inerente aos tomadores de decisão seguir esta lógica. Nas
palavras de Krasner:
Rulers, not states – and not the international system – make choices about policies, rules, and institutions. Whether international legal sovereignty and Westphalian sovereignty are honored depends on the decisions of rulers. There is no hierarchical structure to prevent rulers from violating the logical of appropriateness associated with mutual recognition or the exclusion of external authority.42
Além disso, uma vez que está nas mãos dos tomadores de decisão a condução da política
internacional, há que se considerar que é de interesse destes permanecer no poder e fazer
o que estiver ao seu alcance para tanto. As formas empregadas para atingir esses objetivos
vão variar em cada caso, podendo ir do emprego da força militar ao convencimento via
diálogo.
É partindo destas premissas que se pode considerar que nem sempre a justificativa
de ação no cenário internacional é coincidente com a motivação do Estado (no caso, dos
tomadores de decisão). Contudo, há ainda um fator que talvez seja mais decisivo na
questão da ingerência, que não as justificativas ou as motivações e sim a percepção da
ação por parte da sociedade internacional. É a percepção, afinal, que vai incidir na
aceitação da ingerência pela sociedade internacional. Essa percepção pode estar
41 Krasner, op. cit., p. 5. 42 Ibid, p. 7.
25
vinculada tanto a uma noção de justiça, quanto de importância da ação, que se traduz no
conceito de legitimidade. De fato, uma vez que no sistema internacional não há elementos
legais coercitivos, caracterizando o estado de anarquia, os Estados respondem ou por
pressão (se submetidos a algum instrumento de força por parte de outro) ou por
voluntarismo. Neste último caso, a aplicação das normas internacionais estará vinculada ao
seu grau de percepção, ou, de outra forma, ao grau de legitimidade que estas normas vão
possuir.43 A partir do momento em que a necessidade de justificar as ingerências se fez mais
presente, fez-se necessário também auferir a estas um grau de legitimidade maior, de forma
que houvesse uma aceitação das mesmas pela sociedade internacional (inclusive, em
muitos casos, das partes receptoras da ingerência).
CONCLUSÃO
O objetivo deste capítulo foi levantar a discussão conceitual sobre soberania e
ingerência, de forma a definir de maneira mais precisa o conceito que vai ser utilizado ao
longo da dissertação. Uma vez que ambos estão intrinsecamente ligados, optou-se por
definir primeiramente o que seria entendido por soberania para, em seguida, refinar o
conceito de ingerência a ser utilizado. Definiu-se soberania a partir do prisma vestfaliano, ou
seja, o da exclusão de atores externos das estruturas de autoridade domésticas. Destarte,
por ingerência, entende-se qualquer ato, coercitivo ou não, que resulte na alteração dessas
mesmas estruturas.
Além de definir os termos, propôs-se uma classificação de ingerências possíveis, que
será utilizada ao longo da análise de casos. Tal classificação vai servir de instrumento para a
sistematização da ingerência internacional na África Subsaariana, objetivo central da
presente dissertação. De maneira auxiliar, procedeu-se também a uma sistematização geral
das justificativas utilizadas para ingerir, notando-se que nem sempre elas existem de maneira
formal. Ao lado das justificativas, destacou-se a existência das motivações que guiaram as
ações dos atores ingerentes. Possivelmente coincidentes, justificativas e motivações são aqui
considerados elementos distintos da ingerência internacional. Estas últimas vão ser buscadas
ao longo dos estudos de casos.
Por fim, destacou-se a dimensão discursiva e de construção tanto dos conceitos em
si quanto das justificativas para ingerir. Uma vez que as justificativas e motivações vão ser
trabalhadas em paralelo, a dimensão do discurso e de sua instrumentalização podem
ajudar a compreender a dinâmica do processo de ingerência. No mínimo, apresenta-se
como um indicador da capacidade de poder dos atores, mostrando quem dita as regras no
43 FONSECA JR., Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais. São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 176.
26
sistema internacional e em que medida tais regras são cumpridas. Dados os instrumentos de
análise, passa-se a partir de agora à análise histórica da ingerência internacional na África.
27
2
A FRANCOFONIA NA ÁFRICA
To understand the importance of Africa to France it is necessary to examine the ways in which the French themselves have defined the nature and sources of French power.
(Chipman, 1989: 3)
Usualmente, o termo francofonia refere-se à promoção da cultura francesa, em
especial a língua, em territórios cuja cultura original é diferente desta em questão. Por países
francófonos, entende-se tanto países que utilizam a língua francesa, como aqueles que a
utilizam e lhe oferecem um status de língua oficial. Em seu extremo nacionalista, francofonia
transforma-se em francité, a indicar o marco da civilização francesa. Em última instância, a
francofonia pode ser encarada como uma modernização pós-colonial das idéias de
assimilação e associação (discutidas a seguir).44
No presente trabalho, a francofonia será trabalhada em conjunto com a noção de
ingerência, uma vez que a sua implementação enquanto política, primeiro colonial e,
depois, pós-colonial, foi um fator permissivo para o desenvolvimento das relações entre
França e África da maneira em que se deram. Nesse sentido, a francofonia é vista como um
tipo especial de relação que se desenvolveu entre a França e suas ex-colônias africanas (e,
posteriormente, mesmo com ex-colônias de outros países), e que se amplia para além do
aspecto cultural e civilizacional. A separação do tema das demais formas de ingerência
explica-se pelo caráter complexo e único que marcou a relação entre França e África. O
vínculo histórico que liga a França com a África pede uma análise diferenciada, uma vez
que as bases da ingerência francesa na África independente encontram suas raízes ainda
no período colonial, e se reafirmam e consolidam durante o processo de descolonização.
Por essa razão, antes de entrar no período independente da África francófona, é necessário
voltar na história de forma a entender como se deu o processo que resultou, décadas
depois, na consolidação das relações de dependência entre a África e a França.
44 MARTIN, Guy. Continuity and change in franco-African relations. The Journal of Modern African Studies, 33, 1,1995, p. 1-20, p. 3.
28
2.1 O INTERESSE FRANCÊS PELA ÁFRICA
A França do século XIX não possuía uma cultura imperial expansionista muito
marcante. Paris mostrava-se particularmente introspectiva e a importância da expansão só
se fazia mais premente em momentos de crise nacional. Internamente, existia mesmo um
debate interno, pois as conquistas ultramarinas nem sempre respondiam a uma lógica
econômica. Pelo contrário, o custo oriundo das mesmas nem sempre compensava o status
de potência imperial ou o prestígio que a França pretendia com isto adquirir. A emergência
de uma cultura colonial só se fez sentir a partir de 1870, em especial graças ao trabalho de
divulgação de geógrafos, parlamentares, estudiosos e mesmo economistas que
acreditavam que a imagem do poder francês deveria ter um respaldo da expansão
imperial. A consolidação desta cultura deu-se com a formação do parti colonial, em 1892, e
em pouco tempo formou-se uma doutrina para a expansão ultramarina, cuja característica
marcante, em contraste com o caso britânico, foi a de tratar as colônias como um bloco
unitário, sem atentar para as diferenças regionais das mesmas.45
Contribuiu de maneira significativa para essa expansão o próprio contexto europeu
da época. A França encontrava-se num momento de perda de status. A derrota na guerra
franco-prussiana fez com que esta saísse em busca de novos meios pelos quais pudesse
ascender no ranking europeu. A África, neste momento, foi vista como meio para este fim,
passando a ser parte integrante da própria sobrevivência da França enquanto potência.46
O termo central que caracterizou a doutrina expansionista francesa foi
“assimilação”, segundo o qual as colônias seriam um prolongamento natural da metrópole
e que deveriam receber instruções e sujeitar-se a políticas similares. A justificativa para a
assimilação residia na idéia de que, ao se tornarem “franceses”, os colonizados estariam
assimilando a forma de pensar francesa, o que não apenas elevaria o poder francês, ao
criar uma comunidade que naturalmente sempre apoiaria a França, mas também
consolidaria o poder francês nas próprias áreas colonizadas.47 Além do termo assimilação,
muitos preferiam falar em “associação”, ou seja, uma forma de administração indireta, com
a preservação mas melhoria na governança das instituições dos povos conquistados e com
o total respeito ao seu passado.48 Em suma, existia no discurso francês, e na convicção dos
que conduziam essa política, a idéia de uma mission civilisatrice, ou uma forma de relação
especial, que incluía e não excluía os povos conquistados e que, à diferença da Grã
Bretanha, acrescentava à França não apenas território e recursos, mas população. Tratava-
45 CHIPMAN, John. French power in Africa. Oxford, Cambridge: Basil Blackwell Ltd., 1989, cap. 2. 46 MOÏSI, Dominique. Intervention in French foreign policy. BULL, Hedley (ed.). (1984), op. cit, p. 71. 47 Ibid. 48 Betts, apud Chipman, op. cit, p. 57.
29
se esta relação, portanto, do ponto de vista francês, de uma troca, uma forma de
cooperação, onde os benefícios eram mútuos, e não de exploração.
Até então a importância da África para a França residia no prestígio e no status de
império que advinha da situação. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, o império francês
expandiu-se na África e, aos poucos, veio a suplantar a importância das extensões na Ásia e
no Oriente Médio. Foi às vésperas da Segunda Guerra Mundial, no entanto, que a África
passou a ter papel ainda mais privilegiado nas considerações de política externa da França.
Sua função estratégica, população e a preocupação cada vez maior com a manutenção
do status de potência fizeram com que a França se voltasse cada vez mais para o
continente. Após a Segunda Guerra Mundial, diante da conjuntura bipolar e das rivalidades
leste-oeste, preocupou-se a França em preservar seu domínio e evitar, de toda forma
possível, que suas extensões na África caíssem no jogo das superpotências.
2.2 A DESCOLONIZAÇÃO DO IMPÉRIO FRANCÊS: AS BASES DA INGERÊNCIA
É durante o processo de descolonização que a França desenha toda a estratégia
que vai resultar na chamada francofonia e nas várias formas de ingerência que serão aqui
analisadas. É importante destacar que todo o trabalho em cima da idéia de assimilação
criou seus discípulos do lado africano. Leopold Senghor, futuro chefe de Estado do Senegal,
foi um dos principais expoentes da francofonia e da unidade entre França e África, ou, de
maneira mais geral, a Eurafrique. Desta forma, não surpreende que, após a Segunda Guerra
Mundial a opinião pública francesa não fosse tão favorável à independência das colônias
africanas. Não só se apreciava a contribuição africana ao longo das duas guerras mundiais,
como se acreditava que os povos endógenos ao continente não apenas concordavam
com esta situação, como também a consideravam necessária.49
De maneira geral, o processo de descolonização francesa foi pacífico,
caracterizado mais pela reforma do que pela revolução (uma das graves exceções foi o
caso da Argélia). Na verdade, as independências em si resultaram de inúmeras tentativas
de manter-se uma estrutura imperial, disfarçando melhorias, mas de forma que a França
sempre mantivesse um estrito controle sobre as colônias. A primeira tentativa neste sentido
foi a Conferência de Brazzaville, em 1944, onde de Gaulle propôs uma série de reformas nas
instituições coloniais que, em última instância, trataram apenas de permitir a continuidade
do império. Nas palavras de Chipman,
49 Chipman, op. cit., p. 83.
30
Brazzaville should be seen not as the place where decolonization began, but rather as the place at which a specific style of managing power was implicitly adopted which would serve France well at the true moment of decolonization in Black Africa.50
A tentativa de redesenhar a estrutura imperial levou à criação União Francesa,
estabelecida pela constituição de 1946, que deu origem à Quarta República. Essa nova
estrutura legal trazia consigo inúmeras contradições. Se, por um lado, tentava trazer o status
das populações das colônias o mais próximo possível ao dos franceses, por outro deixava
evidente que o status real dos territórios ultramarinos era de fato mais baixo do que o da
metrópole. Ainda assim, o que contou a favor da França foi a própria elite de intelectuais
africanos que tinham interesse em manter estreitos os vínculos com a mesma. É nesse
contexto que faz sentido falar-se em “descolonização de cima para baixo”. Como aponta
Chipman, ao tratar de Senghor e Houphouet-Boigny (futuro chefe de Estado da Costa do
Marfim):
Rather than force a mass rebellion, these leaders would work for decolonization from above. Moreover, while their pressure for reform would be constant, it was brought to bear with the full understanding that their own power in a liberated Africa would remain a function of their links with France.51
Ou seja, a massa intelectual destes países, já visando uma posição de poder num país
libertado, atuou como mediadora do processo de independência, mantendo, de um lado,
os vínculos com a metrópole e, com isso, obtendo um respaldo para seu próprio poder
interno; de outro, trabalhando as idéias da população de seus países e mobilizando-as para
uma transição pacífica.
O marco para a independência das colônias foram as reformas da Loi-Cadre, de
junho de 1956. Dentre os principais aspectos da Loi-Cadre, uma das maiores mudanças foi
desvincular as reformas nas instituições coloniais de possíveis alterações na constituição,
coisa que na Quarta República não era possível. Ao mesmo tempo, e com efeitos mais
diretos nas colônias, descentralizou a administração dos territórios africanos antes reunidos
sob os cunhos de África Ocidental Francesa e África Equatorial Francesa, quebrando
também a idéia de uma França expandida. A nova lei provia a transferência parcial de
poder para a população local em determinados assuntos e, pela primeira vez, foi garantido
aos povos das colônias o direito ao sufrágio universal. Prudentemente, a França manteve o
domínio sobre determinadas esferas, como a política externa, a defesa e segurança, bem
como a política monetária.52 Em suma, o aspecto mais importante da Loi-Cadre foi o que
ficou posteriormente conhecido como a balcanização da África Ocidental, em outras
palavras, beneficiou-se o poder local em detrimento do poder regional, o que, de um lado,
50 Ibid, p. 93. 51 Ibid, p. 99. 52 ANDEREGGEN, Anton. France’s relationship with Subsaharan Africa. Westport/Connecticut/London: Praeger Publishers, 1994, p. 34-35; Chipman, op. cit., p. 100.
31
agradou a liderança local, que se via, no futuro, a comandar países independentes, mas
que, de outro, criou uma série de Estados pequenos e fracos. Houphouet e Senghor, neste
sentido, encontravam-se em direções opostas, o primeiro acordando com o feito francês, o
segundo acusando todos os aspectos negativos dessa fragmentação regional. Senghor
abraçou firmemente a causa federalista e acusou a França de utilizar-se da tática de dividir
para governar (divide and rule), com o fim de perpetuar seu regime colonial.53
A queda da Quarta República e a subida ao poder de de Gaulle em 1958 vieram a
pôr um fim aos debates entre federalistas e antifederalistas. Mal tinham se acostumado às
prerrogativas da Loi-Cadre, as populações locais tiveram que votar o referendo relativo ao
futuro dos territórios coloniais: se “sim”, desejavam permanecer membros da comunidade
como repúblicas autônomas ou se “não” e ascendiam de imediato à independência. A
tática de de Gaulle foi conceder liberdade de escolha, mas alertando de maneira nada
sutil para as conseqüências negativas de um “não”. De fato, a opção pela independência
pressupunha a cessão imediata de qualquer tipo de ajuda proveniente da França. O
discurso teve seu reverbe prático em pouco tempo. No referendo, realizado em 28 de
setembro de 1958, apenas a Guiné de Sekou Touré votou pelo “não”, preferindo, nas
palavras do líder, “poverty in liberty to wealth in slavery”.54 Não demorou para que a França
cessasse toda forma de ajuda à Guiné e, ainda, retirasse de imediato todo seu aparato
administrativo e equipamentos, até mesmo aparelhos telefônicos. Em pouco tempo, a
Guiné serviu de claro exemplo aos desígnios franceses: o país caiu na miséria e permaneceu
sob o governo autoritário de Sékou Touré, saindo da órbita francesa e deixando de gozar de
qualquer forma de ajuda ou benefício. A dureza de de Gaulle não foi arbitrária, mas uma
clara mensagem de que sim, os países eram livres para seguir seu rumo independente da
França, mas que definitivamente não seria para eles ao final assim vantajoso. Tratou-se de
uma clara forma de coerção, oriunda de uma posição de poder diante de outra parte em
desvantagem. Ao mesmo tempo, foi um claro exemplo de como os líderes africanos locais
tiveram em suas mãos o poder para manipular a opinião pública local: o que, para
Houphouet, por exemplo, foi argumentado como sendo uma ruptura pacífica, uma
transformação radical na relação da França com a África, foi apresentado por Sékou Touré
como a continuação da exploração e subserviência à potência colonial.55
A Guiné, contudo, foi apenas uma exceção. A passagem para a independência das
ex-colônias francesas deu-se de maneira extremamente gradual e calculada, de forma a
preservar a França uma série de vantagens que uma passagem abrupta não permitiria.
Desta forma, após o referendo, houve, sim, transferência de poder para as comunidades
53 Andereggen, op. cit., p. 36. 54 Chipman, op. cit., p. 105. 55 Ibid, p. 106.
32
locais, mas as instituições coloniais, em seu quadro geral, continuaram firmes e presentes. A
presença física francesa continuou, bem como o domínio francês nas posições de serviços
industriais e administrativos. Até pouco antes da independência, os serviços técnicos e de
gerenciamento, e mesmo o controle das importações eram controlados por brancos.56
As independências em si não alteraram muito a estrutura existente. Pode-se mesmo
questionar até que ponto houve uma real descolonização, no sentido do desmantelamento
de estruturas estrangeiras sobre os territórios africanos, e o fim das relações de dependência.
Na verdade, poucos países africanos membros da comunidade francesa possuíam, à
época, capacidade real de se constituir enquanto Estado nacional. Primeiramente, em
relação à idéia de nação, há uma discussão ampla quanto a este conceito no que diz
respeito à África, levando-se em consideração a artificialidade de suas fronteiras e a
pluralidade de etnias presentes em seus territórios. Em segundo lugar, e de maneira mais
imediata, a maioria dos países oriundos da fragmentação a partir da Loi-Cadre sequer
possuíam estrutura econômica que pudesse sustentar a formação de um Estado. Em
terceiro, se a elite que tomou o poder logo nas independências possuía um vínculo direto
com a França, e uma educação e orientação política extremamente vinculada à
metrópole, o mesmo não se pode dizer da geração imediatamente subseqüente, muito
menos das qualificações técnicas e administrativas locais, que residiam nas mãos dos
franceses.57 Ou seja, de maneira independente, os países francófonos africanos não teriam
tido à época sequer as condições de se auto-sustentar. Ainda assim, todos eles, 14 ao total,
se viram com a independência proclamada em 1960 (com exceção da Guiné,
independente desde 1958) e todos eles, a partir de então, assinaram acordos de
cooperação com a França.
A política de cooperação, adotada pela França a partir das independências
merece especial atenção, uma vez que o termo disfarça a real natureza da relação. De
fato, muito mais do que cooperar, interessava à França manter uma relação privilegiada
com a África Negra, da qual pudesse extrair os mais diversos tipos de vantagens. A cessão
das independências, nesse contexto, deve ser entendida muito mais como uma forma de
perpetuação das relações desiguais de poder do que uma mudança real das mesmas.
2.3 A RELAÇÃO FRANCO-AFRICANA APÓS AS INDEPENDÊNCIAS
Para se compreender o processo de descolonização francês é importante lançar o
olhar sobre o sistema internacional, indo assim além da perspectiva interna de política
externa francesa. O momento em que se dá a descolonização francesa da África
56 Andereggen, op. cit., p. 51. 57 Ibid, p. 61-63.
33
Ocidental enquadra-se em plena Guerra Fria, num dos momentos de maior intensidade da
disputa bipolar, a ser quebrado logo em seguida a partir de 1962 com o esfriamento e o
início da détente. A Grã Bretanha já vinha enfrentando o processo de descolonização
desde a década de 1950, deixando um espaço “livre” no continente para ser preenchido
por novas influências externas. Estados Unidos e União Soviética ainda não tinham
descoberto a África, na extensão em que o fariam na década de 1970, mas já havia uma
visão de expansão e de preenchimento de vácuos que apenas aguardava o momento
propício para se concretizar. Era claro para a França que, na primeira oportunidade, tanto
Estados Unidos quanto União Soviética não esperariam para se infiltrar na região, por isso a
preocupação em manter estreitos os vínculos de dependência das ex-colônias e uma
posição de domínio que impedisse essa infiltração. Claramente, um fator que facilitava este
domínio era a pouca relevância que a África possuía no momento na política mundial. Em
1962, as grandes crises da Guerra Fria (Coréia e Cuba) haviam se encerrado e não havia
disposição por parte das superpotências em investir na África o mesmo que haviam
investido e arriscado até então na Ásia e no Caribe. Havia, portanto, um contexto
internacional facilitador para a manutenção do poder francês na África Negra.
Graças a tal conjuntura, a descolonização não sofreu influências externas na mesma
intensidade que ocorreria na década de 1970, permitindo que o processo ficasse mais
restrito ao âmbito colonizador-colonizado. Assim, as independências das colônias franco-
africanas foram conduzidas de maneira pacífica e de tal forma que se perpetuassem as
relações de dependência. Ao mesmo tempo, aos olhos internacionais, essa dependência
não pareceu surgir de nenhuma forma de coerção explícita, o que, contudo, não se verifica
a partir de uma análise mais crítica da política de cooperação:
The policy of co-operation in fact was a means of holding on to influence in Black Africa even if it was often presented as a general leitmotif of French foreign policy. (…) And since these ‘new contracts’ were freely entered into, even if there was some pressure to do so at the time of independence, they allowed France to claim to the outside world that French policy in Black Africa was in virtually every detail not merely accepted by the states in question, but also requested by them.58
Colocado de outra forma, instituiu-se uma forma de ingerência a prolongar-se no
tempo, onde a França mantinha relações privilegiadas com a África Negra em troca de
‘ajuda ao desenvolvimento’ e afins. Tal relação só foi possível da forma que foi devido às
relações pessoais que se desenvolveram entre a elite política africana e a francesa. De fato,
um dos grandes marcos da francofonia reside na personalização da política. Como analisa
Clapham, em relação às partes envolvidas na condução das relações franco-africanas:
58 Chipman, op. cit., p. 108-09.
34
On the one hand, not so much the French State as a limited number of French people, whether or not they held official positions, had some kind of access to state power; on the other, an equally limited number of leading figures in the eighteen francophone states.59
A base de tais relações, por sua vez, seria a amizade estabelecida entre partes
particulares ao longo do tempo, fora de uma lógica de política externa tradicional, mas sim
calcada nas relações interpessoais entre personalidades individuais. Em outras palavras,
seria uma transposição de relações íntimas e pessoais para o nível internacional. Em termos
burocráticos, até mesmo os processos mais comuns relacionados à política externa francesa
eram desprezados quando se tratava da África Negra. Os canais governamentais eram
substituídos por encontros pessoais, e de forma semelhante davam-se as relações
comerciais. O resultado disso foi a formação de redes de contatos pessoais que eram
responsáveis pela condução das políticas francesas na África.60
Das independências africanas para cá, enquanto a França teve vários presidentes, a
maior parte dos países africanos teve líderes que permaneceram décadas no poder, desde
as independências. Não obstante a variância no poder francês, o padrão de
comportamento relacionado à África Negra foi mantido. A política francesa para a África
permaneceu geralmente nas mãos presidenciais, transformando-se em domain reservé.
Embora muitas instituições governamentais lidem diretamente com a África, é o presidente,
juntamente com seus assessores, que imprime o marco da política franco-africana, bem
como toma as decisões mais importantes, em especial aquelas que estão vinculadas a
interesses estratégicos franceses no continente africano.
Ainda assim, em determinados momentos históricos, houve um compartilhamento de
poder entre o presidente e outra figura política de confiança do mesmo. O próprio
personagem que imprimiu o estilo francófono de se relacionar com a África não foi de
Gaulle em si, mas sim Jacques Foccart, seu braço direito no que diz respeito aos assuntos
africanos. De fato, contudo que de Gaulle foi o responsável pela manutenção das relações
de dependência da África para com a França, enquanto presidente esteve muito mais
presente nas questões que diziam respeito diretamente à Europa, a América e a Ásia. O
próprio número de visitas ao continente, extremamente reduzido (apenas uma após 1959),
comprova o fato. Assim, Foccart foi para de Gaulle o que Kissinger foi para Nixon, o primeiro
na gerência dos assuntos africanos, o segundo no Conselho de Segurança Nacional dos
Estados Unidos61, pessoas de extrema confiança e com acentuado grau de liberdade na
condução da política de seus países. Foccart tornou-se quase uma lenda na política
francesa, diante dos feitos que conseguiu atingir na direção dos assuntos africanos. Atribui-
59 CLAPHAM, Christopher. Africa and the international system. The politics of state survival. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 89. 60 Ibid, p. 89-91. 61 MCNAMARA, Francis Terry. France in Black Africa. Washington, DC: National Defense University Press, 1989, p. 189. O paralelo é encontrado em mais de um texto.
35
se a ele a formação da maior rede de informação relacionada aos acontecimentos internos
aos países africanos sob domínio francês, rede formada pelos meios mais diversos, tanto
oficiais como não oficiais. Seus informantes eram desde simples correspondentes locais a
pessoas de renome da política africana, com as quais consolidou forte amizade e da qual
obteve inúmeras trocas de favores. A presença de Foccart foi tão marcante na África que,
ao assumir a presidência Pompidou e tirar Foccart do cargo, houve uma pressão de pelo
menos dez chefes de Estado africanos para que o mesmo voltasse. E assim ocorreu.62
Foccart foi um caso sem paralelo no contexto das relações franco-africanas. Com o
governo de Giscard d’Estaing, observou-se uma retomada súbita da política africana nas
mãos presidenciais. Giscard atribuiu à África uma importância ainda maior do que seus
predecessores, especialmente no que concerne o aspecto militar, aumentando
consideravelmente o contingente militar francês no continente e fazendo da segunda
metade da década de 1970 um momento de intervenções militares e até mesmo de sérios
embaraços políticos para o governo francês (caso da participação no conflito zairense, na
região do Shaba e da remoção de Bokassa do poder na República da África Central).63
A subida ao governo de Mitterrand foi acompanhada de vários anúncios de
mudanças em relação à política para a África. Seu ministro para cooperação e
desenvolvimento, Jean-Pierre Cot, era um terceiro-mundista e condenava as relações
pessoais e privilegiadas que existiam com determinados líderes africanos. Sua visão era a de
uma cooperação mais ampla, voltada para o Terceiro Mundo em geral, e não apenas à
África. Havia discordâncias, no entanto, dentro dos próprios condutores de política, a
começar pelo próprio Mitterrand, que tinha ele mesmo relações de amizade especial com
alguns líderes africanos (a destacar Senghor e Houphouet). Cot não durou muito em seu
cargo, sendo logo substituído por Christian Nucci, de acordo com o próprio conselheiro
presidencial para assuntos africanos, Guy Penne.64
Embora parte de um governo socialista, que por longo tempo condenou as relações
personalizadas e manipuladoras com a África, ao estilo gaullista, Mitterrand, tão logo expeliu
Cot de seu cargo, seguiu o mesmo padrão de comportamento de seus antecessores. De
1982 até a formação do governo de Chirac, em 1986, Mitterrand dominou a condução das
relações franco-africanas. As críticas do partido e da oposição tornaram-se ainda mais
duras diante do caso da intervenção mal conduzida no Chade (que será analisado mais
adiante). O biênio de 1986 a 1988 foi marcado pela cohabitation, quando Chirac, enquanto
Primeiro Ministro também tomou parte direta no envolvimento com a política para a África.
Chirac chegou mesmo a chamar Foccart como seu conselheiro de assuntos africanos, mas,
62 Ibid, p. 194. 63 Chipman, op. cit., p. 130-33. 64 Andereggen, op. cit., p. 81-84; McNamara, op. cit., p. 200-02.
36
após a sua saída, a velha preponderância presidencial voltou à tona. Na realidade, a
política africana de François Mitterrand no primeiro mandato foi marcada por uma série de
contradições entre o discurso e a prática: de um lado, o discurso defendia os próprios
princípios de política externa do partido socialista, como uma política mais igualitária para o
Terceiro Mundo, o fim das relações paternalistas com a África, ou seja, alertava para
necessidade de mudanças; na prática, contudo, as continuidades prevaleceram, quando
não se intensificaram, como foi no caso das intervenções militares e permaneceram as
preocupações com o status quo francês, ainda dentro do contexto da Guerra Fria.65
A reeleição de Mitterrand, em 1988, acompanhada de Michel Rocard como Primeiro
Ministro, trouxe algumas alterações nas relações franco-africanas. A atitude mais moderada
de Chirac acabou por criar raízes. A nova vestimenta da política de cooperação passou a
englobar a afirmação dos direitos humanos e a promoção da democracia nos países da
África francófona. A preocupação da França com a situação econômica dos países
traduziu-se no apelo à ajuda internacional, uma vez que a França sozinha não estava
conseguindo sanar esses males. Empréstimos foram substituídos por doações e programas
de perdão de dívida foram prometidos àqueles países que mostrassem progressos em
direção à democracia. A mesma condição foi atrelada para um maior fluxo de ajuda
francesa. Prometeu Mitterrand, ainda, que a França continuaria a ajudar os países
francófonos a enfrentar ameaças externas, mas que não interviria em conflitos internos.66 As
mudanças de postura deste segundo mandato estão vinculadas às próprias mudanças no
contexto internacional da época. O fim da Guerra Fria, o desmembramento da União
Soviética e a conseqüente perda de importância estratégica da África em prol da Europa
Oriental, fizeram com que o próprio status da França enquanto potência não mais
dependesse de maneira direta da extensão de sua influência no continente africano. Além
disso, questões de cunho econômico fizeram-se sentir e refletiram-se na busca do
compartilhamento do custo da ajuda à África Negra juntamente com instituições
internacionais, em especial a União Européia. Seguindo o fluxo internacional, internamente
levantaram-se questionamentos quanto aos resultados oriundos da relação especial com o
continente e para onde seguiu a ajuda injetada nos países africanos, se para os bolsos de
seus governantes ou em algum benefício às suas populações.67 Na onda da promoção
democrática, a França passou a implementar (ou pelo menos ameaçar fazê-lo)
condicionalidades políticas, atrelando sua ajuda ao desenvolvimento da democracia e da
boa governança, ou seja, a implementação de políticas liberais e o estabelecimento de
eleições multipartidárias. Na prática, muitas vezes o discurso não encontrou reverbe,
65 BAYART, Jean-François. La politique africaine de François Mitterrand. Paris: Éditions Karthala, 1984. 66 Andereggen, op. cit., p. 85-86. 67 CHAFER, Tony. French African policy: towards change? African Affairs, (1992), 91, 37-51.
37
observando-se uma redução na ajuda a países que de fato estavam implementando
reformas democráticas e vice-versa, demonstrando que há outros interesses que pesam na
prática da política francesa.68
De maneira geral, a década de 1990 também trouxe consigo os sinais do tempo,
uma vez que vários líderes africanos, bem como franceses, deixaram seus cargos, seja por
vontade própria (raro na África, mas ocorreu, como no caso de Senghor no Senegal), ou
por força das circunstâncias políticas, ou, ainda por fatores naturais. Em 1993, morre
Houphouet-Boigny, um dos símbolos da amizade franco-africana. Em 1996, é a vez de
Mitterrand, seguido em 1997 por Foccart. Uma vez que, como foi visto acima, as relações
francófonas calcavam-se nos vínculos pessoais entre os líderes dos países envolvidos, a ida
de seus maiores expoentes traz consigo uma mudança significativa na condução destas
relações.69
Não obstante o discurso, os mandatos de Mitterrand ainda foram marcados pelo
engajamento francês na África, em especial no campo securitário. À semelhança do
discurso de Mitterrand em seu primeiro mandato, Chirac também adotou uma proposta que
clamava o fim da África como “esfera de influência” francesa. À diferença de seu
antecessor, no entanto, Chirac foi favorecido, nesse sentido, pela mudança no próprio
ambiente internacional. De um lado, a França caía vítima do desgaste de sua imagem
internacional, após uma série de acusações referentes ao genocídio na Ruanda, em 1994 e
a suposta cumplicidade francesa no acontecido.70 De outro, fez-se sentir o próprio desgaste
econômico oriundo dessa relação privilegiada. Nesse sentido, a desvalorização do franco
em 1994 aparece apenas como um primeiro passo para o distanciamento e
desvinculamento das responsabilidades. O segundo passo residiria em aproximar-se dos
países não francófonos africanos, economicamente mais interessantes para a França
(Nigéria, Libéria, Angola e África do Sul são alguns exemplos).71 Paralelamente, procedeu a
metrópole a cortes nos gastos militares para com a África e uma nova política de segurança
foi instituída, visando a multilateralização da política de segurança francesa. Em suma, a
partir de Chirac o peso dos fatores já não é mais o mesmo e a necessidade de compartilhar
a política francesa para a África se faz premente. Ainda assim, a França continua sendo um
dos maiores doadores bilaterais para a África e mantém no continente uma presença militar
expressiva.
68 Martin (1995), op. cit., p. 14-18. 69 CHAFER, Tony. Franco-African relations: no longer so exceptional? African Affairs, (2002), 101, 343-363, p. 344. 70 BBC NEWS. France’s contentious African role. Disponível em: <http://www.news.bbc.co.uk>. Acesso em: 21 abr. 1998. 71 ASH, Lucy. France: superpower or sugar daddy?, BBC News. Disponível em: <http://www.news.bbc.co.uk>. Acesso em: 23 dez. 1998.
38
2.4 INTERVENÇÕES MILITARES
Uma das formas de ingerência mais evidente por parte da França na África, ao
longo da história, é a série de intervenções militares conduzidas em diferentes ocasiões,
após as independências francófonas. Algumas características que marcam a atuação
francesa nesse âmbito são observáveis. A primeira delas é o aspecto formal que as encobre.
Logo após as independências, entre os acordos firmados no âmbito bilateral estavam os
acordos de cooperação militar, a saber: 1) os acordos de defesa, que permitiam que a
França interviesse militarmente sob pedido do governo africano em questão e 2) os acordos
de assistência militar técnica, pelos quais a França concordava em prover assistência e
treinamento às novas forças armadas nacionais locais.72 Por meio destes acordos, não
apenas a França ganhou um respaldo legal, como uma tranqüilidade internacional, uma
vez que, por pressuposto, suas intervenções advinham, a rigor, do consentimento dos países
africanos. A análise aprofundada de casos traz questionamentos a esse consenso, pelo
menos em termos “nacionais”. No entanto, uma das características mais notáveis das
relações franco-africanas é exatamente sua restrição a determinadas personalidades,
sendo a sua representatividade, portanto, no mínimo questionável.
Uma segunda característica das intervenções francesas diz respeito ao tamanho das
operações, que são, de maneira geral, de pequena escala e de curta duração.73 Esse
padrão é observável na maioria dos casos, em contraste com a postura norte-americana e,
principalmente, soviética, em especial na década de 1970. Eventualmente, por não
competir a França com nenhum inimigo militar à altura das superpotências, manteve sua
participação sempre limitada e pontual.
Uma terceira característica revela a distinção entre as intervenções, que estão de
certa forma relacionadas ao contexto histórico em que ocorreram. Moïsi distingue entre as
intervenções que correspondem puramente a tentativas de desestabilização e aquelas que
considera como sendo reações a agressões externas a esses países, mesmo que a origem
do problema seja interna. Esse segundo tipo seria o mais fácil de encontrar respaldo
internacional quanto à sua legitimidade. Historicamente, Moïsi observa que até 1974 a
grande maioria das intervenções francesas na África visava estabilizar os regimes que
tinham acabado de ganhar suas independências (Camarões, Congo-Brazzaville, Gabão,
Chade, Niger e Mauritânia entre 1960-64). Da mesma forma, as “não-intervenções”
francesas na mesma época se enquadrariam nesse mesmo tipo, uma vez que constituíam
72 Moïsi, op. cit., p.72; MOOSE, George E. French military policy in Africa. In: FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S. (ed.). Arms and the African. New Haven, London: Yale University Press, 1985, p. 62. 73 Moïsi apresenta dados de 1984, segundo os quais nunca houve mais de 10.000 tropas francesas na África francófona e nunca mais de 2000 no mesmo lugar ao mesmo tempo (exceção do Djibouti até sua independência em 1977). Moïsi, op. cit., p. 72.
39
uma forma de intervenção passiva, resultante da escolha de abandonar os líderes que não
lhe confiavam a devida credibilidade (caso de Fulbert Youlou no Congo-Brazzaville em 1963,
ou Hamani-Diou no Niger em 1974). Após a descolonização portuguesa e a penetração das
superpotências no continente africano, acompanhadas da presença cubana e das
aspirações expansionistas líbias, a rationale do intervencionismo francês passou a girar em
função das ameaças externas. O caso da província de Shaba no Zaire cai nesta segunda
categoria.74 Subjacente a esse comportamento estaria a ótica francesa de uma segurança
ligada, global e unitária franco-africana. Chipman explica que, mesmo após a
descolonização, a defesa da África francófona e da França foram apresentadas como fins
conjuntos (co-extensive aims). Segundo um analista dos anos 1960,
[…] The strong links between the metropole and the new African states overseas were justified not only by the various political, cultural and economic interests which France had there, but also because if France did not act to preserve these interests others would take her place.75
Destarte, a percepção da França era a de que o custo militar do envolvimento
nestes países era pequeno comparado aos ganhos políticos advindos. Esses ganhos políticos
eram vistos a partir do prisma competitivo pelo qual a França via o cenário mundial: existia,
na verdade, uma forte consideração do cenário da Guerra Fria, e da competição entre as
superpotências. Isso gerava o temor de que essa competição se expandisse na África,
território que, segundo a França, ainda possuía um forte vínculo de “pertencimento” com a
Europa.76 A política militar francesa na África, nesse sentido, refletia uma forma de
competição e uma tentativa de equiparar-se, em algum grau, às superpotências.
Após o fim da Guerra Fria, a política militar francesa para a África não vai cessar,
mas vai sofrer algumas mudanças significativas. Seguindo as reformulações de política
econômica para o continente, cujo símbolo foi a desvalorização do franco CFA em 1994, na
esfera de segurança envolveu-se a França na polêmica Operação Turquoise em Ruanda.
Muito embora houvesse contingente francês neste país desde 1990 (em parte para proteger
franceses que moravam no país, em parte para resguardar o governo de Habyarimana, de
minoria Tutsi), a participação na operação pós-genocídio transformou-se na “última das
intervenções militares em larga escala ao velho estilo francês na África Negra”.77 O
embaraço internacional decorrente do envolvimento em Ruanda fez com que o perfil da
ação francesa tomasse um aspecto mais discreto, a partir de então. Em conseqüência, na
crise do Zaire/RDCongo, em 1996-97, não houve uma política aberta de envolvimento, mas
sim envio de apoio coberto a Mobutu em conjunto com uma agência de serviços secretos
74 Moïsi, op. cit., p. 71-74. 75 Chipman, op. cit., p. 116. 76 Ibid., p. 76. 77 Chafer, op. cit., p. 348.
40
francesa. O descrédito internacional tanto de Habyarimana quanto de Mobutu isolaram a
França na comunidade internacional, o que fez com que uma reformulação de sua política
de segurança fosse considerada. Foi em decorrência desses acontecimentos que uma nova
iniciativa foi lançada: criou-se o RECAMP (Renforcement des Capacités Africaines de
Maintien de la Paix), um programa de peacekeeping liderado pela França, cujo objetivo é
abrir espaço para que os próprios países africanos tomem a dianteira de suas questões
securitárias. Um dos aspectos inovadores dessa iniciativa é o seu caráter multilateral,
refletido, de um lado, na “africanização” da segurança regional e, de outro, a
“multinacionalização” dos interesses ocidentais (havendo trabalhos em parceria, por
exemplo, com Estados Unidos e Grã Bretanha).78
A mudança da postura francesa reflete a conscientização dos aspectos negativos
oriundos do isolamento diplomático e militar. Ao mesmo tempo, trata-se de uma forma de
compartilhar custos e diminuir as responsabilidades diante de possíveis resultados negativos
nos casos de envolvimento. Mais recentemente, o envolvimento na Costa do Marfim trouxe
questionamentos na imprensa sobre se a França estaria voltando ao velho tipo de
intervenção. O episódio da revolta na Costa do Marfim e o pedido deste país de ajuda à
França em nome do pacto de defesa assinado logo após a independência mostram o
quanto os vínculos ainda são estreitos entre as partes. Não obstante a recusa inicial da
França em intervir, uma vez que o pacto refere-se a agressões externas e não insurgências
internas, tropas foram enviadas com a função de defender os cidadãos franceses na Costa
do Marfim. Posteriormente, essas mesmas tropas viram-se engajadas em combates com os
insurgentes, resgatando o velho tom de intervencionismo francês.79
2.1 Intervenções militares francesas na África Subsaariana desde a descolonização
GOVERNO FRANCÊS PAÍS DATA TIPO
De Gaulle Camarões 1959-64 Ação contra os insurgentes do UPC
De Gaulle Mauritânia 1961 Supressão das revoltas
De Gaulle Senegal 1959-60 Apoio local ao presidente Senghor durante a quebra da federação de Mali
De Gaulle Congo 1960-62 Supressão de motins
De Gaulle Gabão 1964 Prevenção de golpe militar contra o presidente M’ba
78 Ibid., p. 348-49. 79 BBC NEWS. French troops in Ivorian capital. 23/09/2002; French troops in Ivory Coast battle. 21/12/2002; ASTIER, Henry. France’s watchful eye on Ivory Coast. BBC News. Disponível em: <http://www.news.bbc.co.uk>. Acesso em: 27 fev. 2003. A tabela original foi encontrada em Chipman, op. cit., p. 124 sob o título Table 5.2 French military interventions in Black Africa since decolonization. O autor, no entanto, não especifica as presidências e pára em Togo 1986. Os acréscimos são de responsabilidade da autora.
41
De Gaulle
Pompidou, Giscard
Chade 1960-63
1969-1975
Supressão de pequenos levantes
Guerra contra a FROLINAT
Giscard Djibouti 1976-77 Operações Louada e Saphir contra irredentismo somali
Giscard Mauritânia 1977 Intervenção contra o Polisário
Giscard Zaire 1977-78 Supressão da rebelião em Shaba
Giscard Chade 1978-80 Guerra contra a FROLINAT
Giscard República da África Central
1979 Operação Barracuda em apoio a David Dacko contra Bokassa
Mitterrand Chade 1983-88 Várias operações em apoio ao presidente Hussein Habré
Mitterrand Togo 1986 Operação de apoio ao presidente Eyadema
Mitterrand Comoros 1989 Apoio ao presidente Djohar, que sofria tentativa de golpe
Mitterrand Costa do Marfim 1990 Apoio ao presidente no poder
Mitterrand Gabão 1990 Apoio ao presidente no poder
Mitterrand Ruanda 1990 “Operação humanitária” após invasão da Frente Patriótica Ruandesa
Mitterrand Zaire 1991 Apoio a Mobutu
Mitterrand Ruanda 1994 Opération Turquoise, ação multilateral humanitária
Chirac Zaire/RDCongo 1996-97 Ajuda encoberta a Mobutu
Chirac Costa do Marfim 2002 Defesa de nacionais franceses e depois do governo contra insurgentes locais
A seguir, serão examinados alguns casos de intervenção militar francesa na África
Subsaariana. Especificamente, tratam-se de exceções ao padrão de intervenção geral
francesa. Tanto a intervenção no Zaire/Shaba, quanto as na República da África Central e
no Chade em 1983-84 apresentam-se como casos graves, onde a intervenção francesa foi
severamente criticada pela forma como se deu. O caso do envolvimento na Ruanda, na
década de 1990 será analisado no capítulo referente à ingerência no pós-Guerra Fria, por
fazer parte de um contexto mais amplo de mudanças no cenário internacional.
ZAIRE/SHABA (1977-1978)
Internamente, a questão da região de Shaba (antes, Katanga) era problemática
desde a década de 1960. Desde 1910, sua administração havia sido excepcional, sendo
deixada diretamente nas mãos de um vice-governador geral e separada do restante do
Congo Belga. Somente em 1933, veio Katanga a ser reintegrada e realinhada dentro da
ordem administrativa central colonial. O fato por si só gerou resistência por parte da
população local e resultou na formação de um movimento secessionista que se tornou ativo
42
ainda mesmo antes da independência do Congo. Katanga, além de ser então a região
mais próspera do Congo, beneficiava-se, ainda, da “generosidade” belga, no que diz
respeito à assistência militar, econômica e técnica. Mesmo após a independência, tal
assistência persistiu e só não sucederam os Katangueses na secessão em razão da postura
internacional que isolou diplomaticamente a região, negando seu reconhecimento e sua
legitimidade.80 Em 1977, quando a Frente para a Libertação Nacional do Congo (FLNC)
invadiu o agora Shaba, parte de seus militantes eram remanescentes do exército katanguês
de 1960. Desta vez, no entanto, os rebeldes deixaram claro que não queriam simplesmente
a independência da região, mas sim tomar o poder e depor Mobutu.
Apesar de seu governo
corrupto e despótico, a assistência
internacional a Mobutu veio de
diferentes direções, a incluir
Bélgica, França, Estados Unidos e
alguns países africanos, tais quais
Egito e Marrocos. O conflito que
ficou conhecido como Shaba I terminou favorável ao governo zairense, mas as precárias
condições do exército de Mobutu e o empenho internacional foram suficientes apenas para
postergar uma ulterior invasão do FLNC, a seguir-se em 1978. Diferentemente da primeira, a
segunda invasão do Shaba demonstrou-se bem mais violenta e taticamente planejada. Foi
quando se fez necessária uma ajuda internacional mais comprometida e determinante. De
fato, os rebeldes chegaram rapidamente a Kolwezi, a província mais importante da região,
economicamente vital para o Zaire. Seus ataques particularmente violentos e as ameaças à
presença européia na região resultaram, então, numa resposta internacional diferenciada
em relação ao primeiro episódio. A chegada de tropas francesas e belgas, cobertas
logisticamente pela Força Aérea dos Estados Unidos, freou o intento insurgente de controlar
a província e em pouco tempo o conflito foi abafado.81
Não obstante o Zaire não tenha sido colônia francesa, mas belga, por ser o país
africano com maior população de língua francesa e um dos mais ricos em recursos naturais,
sempre exerceu este território um enorme poder de atração em relação à França. Foi
somente com o governo de Giscard, no entanto, que as relações entre os dois países
80 MEDITZ, Sandra W.; MERRILL, Tim (ed.). Zaire. A country study. Federal Research Division, Library of Congress, The Secession of Katanga, December 1993. Disponível em: <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/zrtoc.html>. Acesso em: 08 jan 2004 81 Ibid, Shaba I e Shaba II.
2.2 Localização do Congo/Zaire e de Shaba (Katanga)
43
passaram a se estreitar. Preocupado com os acontecimentos em Angola e com medo de
uma expansão soviética na região, Giscard visitou o Zaire em 1975, buscando, através de
Mobutu, contribuir de alguma forma com assistência à FNLA (Frente Nacional de Libertação
de Angola), um dos movimentos angolanos apoiados pelo próprio Zaire, bem como pelos
Estados Unidos. A partir desta data, a França, que já era o maior fornecedor de
equipamentos militares do Zaire, passou a aumentar ainda mais suas entregas, a incluir
Mirages, helicópteros e outros equipamentos de transporte. Se a primeira intervenção no
Shaba foi mais branda, isso se deveu ao fato de que, tanto na França, quanto na Bélgica e
nos Estados Unidos, houve constrangimentos de ordem interna. No caso francês, havia uma
preocupação com eleições domésticas, em que uma coalizão socialista mostrava-se
favorita contra o governo de Giscard. Ainda assim, por menor que tenha sido a
participação, as críticas internas foram significativas, especialmente por parte da esquerda,
que acusava o governo de intervir indevidamente em favor de um dos regimes africanos
mais instáveis e malvistos internacionalmente. Superadas as mesmas, contudo, e diante da
aprovação geral doméstica do fato, Giscard sentiu-se mais confiante para em 1978, tomar
medidas mais fortes na nova invasão do Shaba, principalmente porque Kolwezi abrigava
cerca de 2500 cidadãos franceses, belgas e americanos.82 Ainda assim, se a justificativa
humanitária era a mais “evidente”, o motivo de força maior a impelir a intervenção francesa
foi o apoio ao governo Mobutu, com o qual a França havia assinado em segredo um
acordo de cooperação militar. Ironicamente, se um dos motivos de instigação da
francofonia sempre foi manter a região francófona longe das influências da Guerra Fria, não
fosse a participação dos Estados Unidos, dificilmente teria sido possível à França manter
Mobutu no poder.83
Que as razões humanitárias eram secundárias em relação ao apoio ao governo
zairense ficou bem claro após a supressão da FLNC. Finda a operação de repressão aos
insurgentes, enquanto as tropas belgas regressavam para casa, a França agregou às suas
funções aquela de restabelecer a ordem no Shaba, de forma a permitir a volta ao
funcionamento do setor mineiro e, ao mesmo tempo, encerrar a ameaça que a invasão
tinha apresentado à própria existência do governo zairense. Nesse intuito, contou com o
apoio da administração Carter, que viu, em Shaba II a oportunidade de provar em casa e
ao mundo seu comprometimento em atacar formas de aventurismo soviético-cubano. O
sucesso da operação inicial, no entanto, não obteve seqüência imediata, uma vez que se
82 MOOSE, George E. French military policy in Africa. In: FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S. (ed.), op. cit., p. 68-9. 83 Chipman, op. cit., p. 133.
44
provou tarefa árdua encontrar uma solução para novas ameaças a um governo
politicamente instável e economicamente conturbado como o Zaire de Mobutu.84
Em termos de segurança, havia muito que o exército zairense encontrava-se
totalmente defasado. Apesar de Mobutu ter subido ao poder com a ajuda militar, seu
relacionamento com a classe tornou-se precário devido à sua manipulação sobre a mesma,
pois, se por um lado, trabalhava no sentido de revitalizar as mesmas, utilizando, para isso,
apoio internacional, por outro, por medo de que os militares o substituíssem no poder,
trabalhou no sentido de controlá-los ou diretamente ou por meio de seus assessores e
ministros de defesa. Quando das invasões no Shaba, além do tipo de relação já criado com
os militares, acrescentou-se o atraso prolongado nos pagamentos dos mesmos. Como se
não bastasse, em diversas ocasiões, na década de 1970, Mobutu mostrou um
comportamento paranóico em relação a tentativas de golpes, acusando e executando
vários militares por meio de julgamentos não transparentes.85 Desta forma, uma solução, no
sentido estrito do termo, não foi encontrada. Diante das pressões domésticas pela retirada
das tropas francesas do Zaire e das urgências em outros lugares, como Chade e Djibouti, a
saída de Giscard foi assegurar um acordo entre Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Togo e
Gabão para a provisão de contingentes para uma força inter-Africana, a substituir os
franceses após sua retirada. Logicamente, tratou-se de um paliativo que de maneira
alguma resolveu os problemas securitários do Zaire. No que concerne às questões políticas e
econômicas, tampouco foram resolvidas. Consultas entre França, Bélgica, Estados Unidos e
Alemanha trouxeram à tona as diferenças diante do que cada um considerava como
fundamental para a reestruturação do país. Diante das divergências, e da assistência
econômica que se perpetuou ao governo Mobutu, este pôde preservar-se no poder por
mais duas décadas, jogando uma potência ocidental contra a outra, e cumprindo as partes
dos acordos que lhe convinham, mantendo-se no poder através de exorbitantes
malabarismos raramente encontrados na história política africana.86
Em termos de ingerência, o papel francês foi fundamental para a não secessão de
Katanga e para o prolongamento de Mobutu no poder. Uma vez que a ajuda veio
direcionada ao governante do Estado, a ingerência (a incluir o envio de tropas,
equipamentos militares, recursos financeiros) assumiu um caráter de contrato, ou seja, foi
consensual. Por outro lado, dada a não-legitimidade de Mobutu enquanto governante e as
severas manifestações de insatisfação internas, ao analisar-se a parte receptora da
ingerência como o Estado do Zaire e não o seu governo, então houve na verdade uma
84 Moose, op. cit., p. 68-73. 85 Meditz e Merrill, op. cit., The military under Mobutu. 86 Moose, op. cit., p. 70-2.
45
clara forma de imposição, refletida na definição de uma situação que favorecia um
governante ilegítimo, dando-lhe respaldo militar para permanecer no poder.
REPÚBLICA DA ÁFRICA CENTRAL (1979)
Ex-colônia francesa, a República da África Central (RAC) tornou-se independente
em 1960 sob o governo de David Dacko, seguido da morte misteriosa do líder carismático
Boganda, em 1959, e da disputa política com o líder do partido de oposição, Goumba.
Dacko foi visto pela França como um aliado colaborador dos interesses franceses, em
especial a manutenção de um regime moderado, que não sucumbisse às influências dos
acontecimentos nos dois Congos (tentativas de implementação de governos socialistas).
Aos poucos, no entanto, sua administração tornou-se arbitrária, ditatorial e altamente
repressiva, ao mesmo tempo em que nenhuma reforma econômica chegou a ser
perseguida. Ainda assim, a RAC transformou-se em pupila da França, recebendo todo
apoio econômico, ainda que não demonstrando qualquer tipo de retorno financeiro à
metrópole. Em 1966, quando Dacko preparava-se para entregar o poder a um candidato
apontado pela França, Jean Izamo, Jean-Bédel Bokassa, então chefe das forças armadas,
lançou um golpe, depondo Dacko e prendendo e assassinando Izamo.87
2.3 República da África Central
Bokassa tornou-se mundialmente famoso por causa de
seu governo tirano e pela maciça violação de direitos
humanos. Governando de maneira personalista, Bokassa fez
pouco caso das demandas da classe trabalhadora, passando
a tomar decisões que afetavam diretamente seus próprios
interesses econômicos, envolvendo-se no comércio de
diamantes e enriquecendo exorbitantemente, enquanto a
população ficava cada vez mais pobre. Sofreu uma série de
tentativas de golpes, mas sempre as reverteu, aprisionando e em seguida executando os
responsáveis. Sua administração arbitrária contou com a condescendência francesa. Era
interesse da ex-metrópole manter as concessões sobre o urânio, um dos principais minérios
da região. O que mais impressionava, no entanto, eram os laços pessoais de amizade que
ligavam o presidente francês, Giscard, ao governante africano. O cúmulo da cumplicidade
com o governo que lhe era “amigo” foi o financiamento da coroação de Bokassa, quando
este resolveu autoconceder-se o título de imperador, em 1977, logo após declarar uma
87 RAKE, Alan (ed.). New African Yearbook 2001. London: IC Publications Ltd., 2001, Central African Republic, p. 92-93.
46
“revolução” ao estilo líbio. Surda às reações internacionais, a França arcou com os custos
absurdos da cerimônia e deu prosseguimento à relação amistosa com Bokassa.88
Foi somente em 1979 que a postura francesa foi reconsiderada e passou o governo a
tomar uma atitude efetiva de confronto ao regime Bokassa. Este foi o ano em que o
imperador, em resposta a protestos relativos ao seu governo, autorizou e instigou
pessoalmente o massacre de jovens estudantes, gerando repercussões internacionais
alarmantes. Protestos e greves regulares vinham ocorrendo desde 1978, contra inúmeras
posturas do governo Bokassa. O estopim, contudo, veio em janeiro de 1979, quando uma
“ordem imperial” obrigou os alunos das escolas a usar uniformes comprados diretamente da
fábrica de roupas do próprio Bokassa! A repressão começou com as tropas zairenses, mas
culminaram em abril, quando veio a ordem para a “Guarda Imperial” de conduzir um
ataque intensivo contra os líderes dos protestos. Centenas de jovens estudantes foram
detidos em Bangui e presos. Em seguida, pelo menos cem foram retirados de suas celas,
torturados e espancados até a morte, sob ordens diretas de Bokassa. Alguns relatos
chegaram mesmo a indicar a participação direta do imperador nas atividades em
questão.89 De início, o governo negou as acusações, mas investigações foram conduzidas,
inclusive a pedido do próprio governo Giscard, que não só não desmentiram, como
trouxeram à tona ainda mais evidências contra Bokassa e o episódio. Diante do
apresentado, a França cortou toda forma de ajuda à RAC, que não fosse direcionada a
questões meramente humanitárias. Ao mesmo tempo, passou a aproximar-se da oposição
em Bangui. O sinal maior de alarme para a França, no entanto, foi a súbita aproximação da
RAC com a Líbia, em busca de ajuda militar e financeira, que Qadhafi parecia disposto a
conceder em troca do acesso às principais reservas de urânio e o estabelecimento de
bases militares na RAC. Não só isso afetava os interesses econômicos da França, que já
possuía as concessões sobre o urânio da RAC, como trazia novas preocupações relativas à
expansão líbia na região, em detrimento da influência francesa.90
A viagem de Bokassa a Trípoli, a fim de dar prosseguimento às negociações com a
Líbia, foi o momento propício para a França para interromper de vez o reinado tão
polêmico e já tão desgastado internacionalmente de Bokassa. Poucas horas após o
embarque de Bokassa para Trípoli, uma força aérea saiu da França trazendo David Dacko
(o mesmo que havia sido derrubado em 1966 por Bokassa) a bordo. Tão logo chegou em
Bangui, Dacko dissolveu o governo imperial e formou um “governo de salvação” tendo
como seu vice-presidente Maidou. Cerca de mil tropas francesas foram enviadas
provenientes de Libreville e Ndjadema. Além de assegurar a transição do governo, foi
88 Ibid. 89 Ibid. 90 Moose, op. cit., p. 80-81.
47
função das tropas assegurar a base militar de Bouar, desde 1978 local de manobras militares
francesas (ligadas a preocupações com a expansão soviética e líbia).91
O evidente envolvimento francês na derrubada de Bokassa e na manipulação que
instalou Dacko no poder surtiu reações nada positivas na população centro-africana. Como
efeito, protestos de estudantes, intelectuais e trabalhadores em Bangui foram
acompanhados de um acréscimo numérico das tropas francesas. Ao mesmo tempo, Dacko
prontificou-se em assegurar a estada francesa “até por mais de dez anos, se necessário”.92
De fato, a presença francesa se prolongou por ainda duas décadas, enquanto que a
administração Dacko não se mostrou tão melhor do que a de seu antecessor. Assumindo
inicialmente uma postura liberal, Dacko logo enveredou para a repressão política,
chegando a banir as greves, bem como tornar ilegal a única associação trabalhista do país.
Como no passado, a manutenção do cargo presidencial ao longo do tempo deveu-se,
especialmente, à contribuição francesa, nesse caso traduzida pela presença militar das
tropas que permaneceram no país. Ainda assim, como geralmente ocorre nos países
politicamente instáveis, logo o próprio Dacko foi deposto, em 1981, assumindo o cargo o
General Kolingba.93
Difícil dizer se o mais impressionante na remoção de Bokassa foi a desfaçatez
francesa ou a complacência africana diante de uma forma tão explícita de violação de
soberania, princípio tão caro à OUA. De fato, não houve sequer a tentativa de se levar o
caso nem às instâncias da OUA, nem mesmo às Nações Unidas. Já na França o episódio foi
alvo de inúmeras críticas, mesmo que, eventualmente, por fatos paralelos não diretamente
relacionados ao caso em si. Havia, realmente, um consenso e uma consciência clara do
apoio indevido ao regime Bokassa, da condução direta do golpe, que, aliás, colocava no
poder alguém não mais nobre que o próprio Bokassa, da repetição do comportamento
francês em, mais uma vez, ser cúmplice de um governo africano e da irresponsabilidade
deste ato. Ainda assim, o que mais chocou a população francesa, e que fomentou a
imprensa à época, foram as alegações de um diamante que teria sido dado de presente
de Bokassa a Giscard, quando este ainda era ministro sob Pompidou. O fato, além de
apontar para as relações de amizade entre os dois, chegou mesmo a ter implicações para
a família de Giscard, que possuía relações comerciais na África Central.94
Enquanto forma de ingerência, o caso da RAC exemplifica claramente uma forma
de coerção, desta vez tanto com relação ao Estado quanto com relação ao governo que
o “representava” então (mesmo que de maneira ilegítima). A ingerência, neste caso,
91 Rake, op. cit., p. 93-94. 92 Moose, op. cit., p. 82. 93 Rake, op. cit., p. 94. 94 Moose, op. cit., p. 83.
48
antecede a deposição de Bokassa, estando presente na própria consolidação anterior de
Dacko no poder e mesmo do próprio Bokassa, antes de ser este mal visto no cenário
internacional, embora aqui em uma versão mais consensual, como uma forma de contrato
com os governantes.
CHADE (1983-1984)
A presença francesa no Chade foi marcante desde a independência. Seu
envolvimento militar na década de 1980 foi somente equiparado pelo da Líbia e, em menor
grau, pelo dos Estados Unidos. Desde 1960, ano de sua independência, o Chade aderiu à
aliança econômica francesa, AEF, juntamente com outras ex-colônias. Pelo acordo, a
França podia utilizar-se de uma ampla base militar perto de N’Djadema (então Fort Lamy),
bem como gozava de trânsito automático e direito de sobrevôo. Em contrapartida, a
França fornecia defesa contra ameaças externas, bem como ajudava na manutenção da
segurança interna dos países membros em questão. Segundo essa cláusula, o Chade ou
qualquer outro signatário poderiam automaticamente requisitar a intervenção francesa em
seus países caso se sentissem ameaçados por insurgências ou golpes de Estado.
Evidentemente, a França podia aquiescer ou não ao pedido.95
A guerra no Chade teve sua origem em 1965, a partir de uma
insurgência na prefeitura de Guéra contra novos impostos instituídos pela
presidência de Tombalbaye. A rebelião representou um renascimento das
animosidades entre muçulmanos do norte e centro do país e os não-
muçulmanos do sul, os quais vinham dominando o governo e os serviços
civis desde a independência. Após a incidência do conflito em demais
áreas do país, os vários grupos dissidentes fundiram-se em uma única frente
de libertação, a FROLINAT (Front de Libération Nationale du Tchad) e a partir
de 1968 deram início a uma verdadeira guerra de libertação.96
A primeira intervenção francesa no Chade independente ocorreu já
ao final da década de 1960, tão logo o governo do Chade pediu ajuda contra a FROLINAT.
A expedição francesa recuperou a maior parte das regiões ocupadas pelo movimento, mas
este voltou a operar livremente tão logo se concluiu a retirada, em 1971. Ainda assim,
beneficiou-se o governo Tombalbaye das dissidências internas à FROLINAT e que resultaram,
em 1977, na reorganização da mesma sob o comando de Goukouni e tendo como
componente militar o Primeiro Exército de Libertação (FAP), que passou a ser apoiado pela
Líbia. A outra facção, liderada por Habré, prosseguiu com o chamado Segundo Exército de
95 COLLETO, Thomas (ed.). Chad. A country study. Federal Research Division, Library of Congress, 1988, The french military role in Chad. Disponível em: <http://lcweb2.loc.gov/>. Acesso em: 07 abr 2004 96 Ibid, The Frolinat rebellion, 1965-79.
2.4 Chade
49
Libertação, posteriormente conhecido como FAN. Não obstante a tentativa do governo de
angariar até mesmo o apoio de Habré, disputas entre a FAN e o exército nacional (FAT)
facilitaram a série de vitórias da FROLINAT, a ponto de que, em 1979, por meio de
negociações via OUA, criou-se um Governo de Transição de União Nacional (GUNT), onde o
próprio Goukouni assumiu como presidente, tendo por vice Kaougué, da FAT e
permanecendo Habré como ministro da defesa.97
Não foi desta vez, contudo, que o conflito se resolveu. As disputas entre as facções
armadas perpetuaram-se mesmo sob o governo de transição. De uma guerra entre
muçulmanos e não-muçulmanos, passou-se para uma guerra entre facções muçulmanas.
Ainda assim, ou justamente por não ver solução no conflito, as tropas francesas se retiraram
em 1980. À época, seu papel já havia mudado drasticamente, de defensores de um dos
lados a forças de paz e mediadoras entre as partes. Além disso, paralelamente havia tropas
francesas em vários outros países africanos, a se destacar o Zaire, a Mauritânia e o Djibouti.98
O vácuo deixado pelos franceses foi fator de preocupação tanto por parte das facções,
quanto por parte dos demais países africanos na região, uma vez que o Chade estava
muito longe de qualquer forma de estabilização. De fato, um mês depois da retirada
francesa, diante da escalada do conflito e da ascensão militar da FAN de Habré, em
desfavor do GUNT, Goukouni voltou-se para a Líbia e em 15 de junho assinou um tratado de
cooperação e amizade. Pelo acordo, o governo do Chade poderia chamar a Líbia no caso
de ameaça da independência, da integridade territorial ou da segurança interna do país.
Por meio do apoio líbio, o GUNT conseguiu sufocar o avanço da FAN na capital e pouco
depois a presença líbia foi substituída por uma força de paz da OUA, a IAF (Inter-African
Force). O vago mandato e a escassez de tropas da IAF não resultaram no fortalecimento do
governo. Pelo contrário, em pouco tempo Habré voltou e em 7 de junho de 1982 entrava na
capital N’Djamena.99 O novo governo foi implicitamente reconhecido pela OUA no ano
seguinte.
A Líbia, de seu lado, continuou o apoio a Goukouni e às suas forças agora
reorganizadas sob o nome de Armé Nationale de Libération (ANL). Mão à mão que a ANL
avançava, Habré apelava para a ajuda internacional. De início, a França recusou-se a
intervir diretamente: disponibilizou apenas equipamentos aéreos e combustível. O Zaire
ofereceu tropas e os Estados Unidos anunciou a disponibilização de US$ 25 milhões em
equipamentos. Em resposta, a Líbia aumentou o arsenal pesado de suas tropas, a incluir
tanques e lança-mísseis, o que resultou na tomada de Faya Largeau em Agosto. Diante da
pressão, a França, a contragosto, apelou para um novo envolvimento direto, que resultou
97 Ibid. 98 Moose, op. cit., p. 73-75. 99 Colleto, op. cit., First Libyan intervention, 1980-81.
50
no envio de 180 conselheiros militares, novos provimentos e novas tropas que ao final
totalizaram cerca de 3500 e se concretizaram sob o nome de Operation Manta. A expansão
de Goukouni, no entanto, continuava e, após uma série de acordos, foi negociada a
retirada conjunta da França e da Líbia do território do Chade. Enquanto os franceses saíram
em novembro de 1984, Qadhafi manteve as tropas líbias até 1987, quando finalmente foram
expulsas do país, após perder até mesmo o apoio de quem apoiavam.100
Diferentemente dos casos anteriores, o papel da França foi mais oscilante, iniciando-
se ainda na década de 1960 com o envio de tropas em favor do governo, para retirar-se
em 1980 e reintervir de maneira mais enfática em 1983, como resposta a uma possível
expansão líbia na região. Novamente, a ingerência vai ser vista de maneira diferente
conforme a percepção da parte receptora. Num primeiro momento, o envolvimento
francês de maneira consensual, favoreceu o governo de Tombalbaye, permitindo uma
breve extensão de sua liderança no país. Haveria aqui uma forma de contrato com o
governo, mas considerada o Estado como um todo e as reivindicações de mudanças,
obstruiu-se a efetivação de alterações políticas, existindo um grau de coerção que poderia
traduzir-se em imposição, resultante de uma disputa onde o “vencedor” impôs o resultado
ao “perdedor”. Num segundo momento, dada a ausência de consenso e de um governo
oficial interno, a participação francesa afetou a condução da política mais pela sua
retirada súbita do que pela sua participação. Quando retornou com contingente militar, e
com nova carga de ajuda material, não obteve o resultado esperado, terminando por
negociar uma retirada. Nesse segundo momento, portanto, os fatores locais e o
envolvimento de outros atores de peso não viabilizaram a imposição de resultados. Nesse
sentido, a ingerência ocorreu em seu estágio inicial, não concretizando, contudo, a
alteração de resultados no âmbito doméstico do país como se propunha.
2.5. INGERÊNCIA ECONÔMICA
A ligação econômica entre a França e as suas ex-colônias africanas é um fenômeno
sem paralelo e que levanta inúmeros questionamentos quanto a seus próprios objetivos. De
fato, enquanto sua funcionalidade meramente econômica é historicamente questionada,
seu papel político é muito mais evidente e compreensível.
Desde a época da colonização, a França buscou uma política de aproximação
monetária com suas colônias africanas. Em 1939 a Zona Franca foi estabelecida
oficialmente e em 1945 nasceu o franco CFA, que passou a ter sua paridade fixa ao franco
100 Ibid, Habré’s return to power and second Libyan intervention, 1982-84.
51
a partir de 1948.101 Enquanto a sigla CFA teve seu significado alterado ao longo do tempo
(inicialmente estava para Colonies Françaises d’Afrique, posteriormente Communauté
Française d’Afrique, e hoje franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale para os
membros da África Central, e franc de la Communauté Financière d’Afrique para os
membros da África Ocidental), o seu estado enquanto moeda pouco se alterou, mesmo
após a introdução do euro. De fato, desde sua criação, o franco CFA foi mantido em
paridade fixa e totalmente conversível na razão 2 francos CFA para 1 franco francês, tendo
sua primeira desvalorização, de 50%, em janeiro de 1994.
O desenvolvimento do esquema de integração econômica na África francófona
seguiu as divisões regionais administrativas da colonização, ou seja, de um lado a África
Equatorial, de outro a África Ocidental francesa. Enquanto a administração manteve-se
separada, em quesitos de Banco Central e emissão de moeda, o valor da mesma e o
funcionamento de câmbio mantiveram-se uniformes.
Hoje a chamada Zona Franca cobre os mesmos quatorze países africanos desde
praticamente a sua formação. De um lado: Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-
Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo formam a União Econômica e Monetária da África
Ocidental (UEMOA), com seu Banco Central (BCEAO); de outro: Camarões, República da
África Central, Chade, Congo-Brazzaville, Guiné Equatorial e Gabão, são partes da União
Aduaneira e Econômica da África Central (UDEAC), com seu Banco Central (BEAC),
igualmente responsável pela moeda comum.
O principal pilar da zona franca sempre foi o ancoramento direto do franco CFA ao
franco francês. Em troca da garantia da convertibilidade, os países africanos acordaram em
depositar 65% das suas reservas de câmbio em uma conta especial junto ao Tesouro Francês
e ainda cederam à França o poder de veto sobre essa política monetária toda vez que essa
conta ficasse em descoberto. De maneira mais pontual, os princípios que guiaram essa
política monetária foram: a) a taxa de câmbio fixa entre o franco CFA e o franco francês; b)
a garantia de convertibilidade entre as duas moedas; c) a liberdade absoluta de
transferências entre esses países e a França; d) a cobertura ilimitada do franco CFA pelo
Tesouro Francês; e) a centralização das reservas estrangeiras; f) a condução das transações
externas através de uma Conta de Operações, onde a França se comprometeu a suprir de
francos franceses qualquer quantia que os países membros necessitassem.102 Ou seja,
qualquer banco central africano dentro da Zona Franca poderia abrir uma conta no
Tesouro Francês e, com isso, obter francos franceses ou outras divisas em troca de francos
CFA. Esse sistema de convertibilidade é ilimitado, ou seja, em caso de dívida externa, os
101 EVLO, K.: The West African Monetary Union: the Economics of a Dependent Monetary System, tese de doutorado, Boston University, 1988. 102 Ibid.
52
bancos centrais podem retirar essas divisas, pois sua convertibilidade é garantida pelo
tesouro francês. A contrapartida consiste no depósito de 65% das divisas dos países
francófonos na Conta de Operações todo mês. Isso gera um mecanismo de cooperação
entre os países: quando um deles possui haveres importantes no exterior, ele vai financiar a
eventual dívida de um outro país membro da Zona Franca.103 Em última instância, todo esse
funcionamento teve, como finalidade econômica principal, facilitar o deslocamento de
recursos intra-Zona Franca e, em especial, entre a França e a África Ocidental e Equatorial.
Como aponta Andereggen,
Thanks to this system the Franc Zone countries were able to avoid currency black marketing, parallel economies, and overvalued currencies that have damaged the economies in many African countries outside the Franc Zone. France became the major trading partner with all its former colonies in black Africa, and French investments in these nations also outstripped all competitors. On the other hand, the member states had to accept certain strict monetary and financial regulations.104
Aqui algumas considerações devem ser levantadas. É comum o argumento de que,
de maneira geral, a criação da Zona Franca foi um dos fatores responsáveis pelo melhor
desempenho econômico destes países africanos em relação aos demais. Esse próprio
pressuposto, contudo, é questionável e criticado por alguns autores. Dearden, por exemplo,
observa os dados relativos ao desempenho econômico dos países da Zona Franca ao longo
do tempo e aponta para a diferença entre a manutenção das taxas de inflação reduzida e
o crescimento econômico de fato. Enquanto nas décadas de 1960 e 1970 o regime CFA
parece ter contribuído para a estabilidade inflacionária, trazendo algumas vantagens para
estes países, por outro lado, o mesmo regime de paridade fixa teria diminuído a
competitividade internacional de preços destes mesmos Estados. Ao mesmo tempo,
enquanto na década de 1970 a taxa de crescimento anual dos países da Zona Franca
atingiu a média de 4,2%, na década de 1980 esse percentual caiu para 2,3%. Mais
interessante, nota o autor um comportamento semelhante nos demais países da África
Subsaariana em relação à taxa de crescimento, portanto, ficando menos clara a real
relação de crescimento com o ancoramento ao franco francês.105 Ao lado do
questionamento quanto ao sucesso do esquema, existe uma ampla discussão frente aos
malefícios oriundos do mesmo.
De maneira geral, o que grita aos olhos é a dependência das economias dos países
da Zona Franca à economia francesa, e hoje à economia européia. De acordo com esse
esquema, a economia monetária dos países CFA está sujeita a caminhar de acordo com o
103 L’ UEMOA en bref, op. cit. Não obstante o artigo refira-se à UEMOA, o paralelo vale também para a UDEAC, sendo o mesmo o mecanismo gerenciador de seus Bancos Centrais. 104 Andereggen, op. cit., p. 115. 105 DEARDEN, Stephen J. H. The CFA and the European Monetary Union. Manchester Metropolitan University, DSA European Development Policy Study Group, Discussion Paper, n. 14, jun., 1999. Disponível em: <http:// www.edpsg.org/Documents/Dp14.doc>. Acesso em:08 ago 2003
53
franco francês, hoje com o euro e, portanto, está sujeito às mesmas desvalorizações ou
valorizações. Se por um lado isso ajuda a manter a estabilidade das moedas dos países
membros, por outro os torna dependentes de tal forma que fica cada vez mais difícil eles se
desvincularem desse arranjo.
Em termos econômicos, uma vez que o fulcro da relação França-Zona Franca
repousa no comércio entre os dois lados e, em especial, a oferta de franco CFA é oriunda
desse comércio, um dos resultados mais nefastos para o lado africano é a escassez de
dinheiro e as altas taxas de juros. Isso, combinado com a baixa inflação, meta dos planos de
ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial, tem como fruto, nas palavras de Sanou Mbaye,
economista do Banco de Desenvolvimento Africano, “a lethal combination of currency
convertibility, skyrocketing interest rates, low inflation, and free capital movement, which
merely fuels speculation and capital flight.”106
Parece existir na literatura um consenso quanto ao fato de que os reais benefícios
econômicos da relação França-Zona Franca são, no mínimo, dúbios. De fato, as vantagens
esperadas de uma união monetária na África Ocidental não chegam a se concretizar. Do
lado dos países africanos, o aumento das transações entre os países participantes não
ocorreu de maneira significativa. O que favoreceu a opção pela perda de autonomia da
política econômica por parte dos Estados africanos, no entanto, foi a estabilidade oriunda
do esquema financeiro e, não menos importante, a manutenção da cumplicidade na
relação com a França e os privilégios oriundos desta. Do lado francês, é muito questionável
a importância econômica “fundamental” que a África Ocidental teria para a economia
metropolitana. Ao contrário, a manutenção da taxa de câmbio fixa, ancorada ao franco,
foi muito criticada pelos que consideravam a mesma supervalorizada. Mesmo sob o
governo Mitterrand, quando houve quatro desvalorizações imputadas pelo governo francês
sobre o franco CFA, críticos continuavam a questionar a valia da união monetária, inclusive
por acontecer esta em detrimento dos próprios planos de ajuste estrutural propostos pelo
FMI e Banco Mundial.107
Na prática, parece que os únicos benefícios econômicos realmente observáveis
remetem ao que foi anteriormente discutido, em relação à personalização das relações
entre França e África. Nas palavras de Mbaye, “the only rational reason for the CFA franc’s
existence is connivance between France and the governing elites of its former colonies in
order to plunder the franc zone states.”108 Clapham reitera o argumento, indicando que um
dos principais fatores que permitiram a sustentabilidade desse esquema foi o nível em que
106 MBAYE, Sanou. How the French plunder Africa. Jan., 2004, Disponível em: <http://sanou.mbaye.free.fr/ps_how_the_french_plunder_africa.htm>. Acesso em: 07 mar 2004 107 Chipman, op. cit., p. 210. 108 Ibid.
54
se deram as relações: elites políticas africanas, de um lado, e empresas francesas, de outro.
Enquanto as elites beneficiavam-se de um estilo de vida europeu graças à entrada de
produtos franceses em seus países, as empresas lucravam graças às operações de lobby
junto à elite francesa e que resultavam em largo apoio financeiro por parte dos partidos
políticos e de seus líderes.109
De maneira mais geral, pode-se argumentar que o estabelecimento e a
perpetuação da Zona Franca tornaram-se possíveis graças, de um lado, à forma
personalizada como as relações entre as partes eram conduzidas e, de outro, ao próprio
interesse político do Estado francês no contexto das relações internacionais da Guerra Fria e
que resultou numa clara forma de domínio político francês na região. Mais especificamente,
o exercício do domínio econômico sobre a região serviu de meio, se não mesmo de
cobertura, para a própria ingerência política.
O exemplo a seguir mostra o quanto a preocupação política esteve vinculada à
formação da união monetária e econômica na África Ocidental e Equatorial francófona.
O CASO DE MALI
Mali fazia parte da África Ocidental Francófona, o chamado Sudão Francês, desde
1898. Em 1960 conquistou sua independência, associado ao Senegal, sob uma federação.
Como os demais países francófonos da região, era servido pelo BCEAO e usava como
moeda corrente o franco CFA. A união com o Senegal durou apenas seis meses, depois dos
quais foi inaugurada a nova República do Mali, dirigida por Modibo Keita. Como medida de
“preservação” em relação ao antigo parceiro e à metrópole francesa, Mali estabeleceu o
Office Malien des Changes. A medida foi apresentada como “técnica e conservativa”, mas
acabou gerando uma má impressão na França. Não obstante, foi firmado um acordo, em
1961, onde constava que isso não desvinculava o país da zona franca e que continuariam
os laços com o BCEAO.110
Em 1962 foi criada a UMOA (Union Monetaire Ouest-Africaine)111, que consolidava o
franco CFA como moeda comum, dessa vez com uma paridade fixa com o franco francês.
Mali foi um dos sete países que assinaram o tratado. Um mês depois, antes mesmo de os
109 Clapham, op. cit., p. 94. 110 CRUM, David Leith. Mali and the UMOA: a case study of economic integration. The Journal of Modern African Studies, 22, 3 (1984), p. 470-71. 111 A UEMOA surgiu como fusão dos dois organismos que regiam a Zona Franca, a CEAO (Comunidade Econômica da África Ocidental), responsável pela organização da política econômica regional, e a UMOA (União Monetária da África Ocidental), responsável pela política monetária comum. Não obstante a união monetária tenha sido criada já à época colonial, maiores esforços no sentido de uma integração regional só surgiram após as independências, como resultado da busca dos países africanos por uma maior interação comercial. Ao ser criada, a UEMOA fundiu as duas funções em um único órgão.
55
arranjos serem colocados em prática e para surpresa de todos, Mali introduziu o franco
malês, em paridade com o franco CFA e criou o Banco da República de Mali, que seria
responsável pela emissão da nova moeda. Automaticamente, segundo a visão dos outros
países, esse ato unilateral traria o desligamento de Mali da UMOA. No entanto, mais uma
vez, para maior espanto dos membros, Keita declarou que esse não deveria ser interpretado
como um ato hostil e que não existia a menor intenção de um desligamento da Zona
Franca. A interpretação dos demais membros foi a de que Mali queria gozar dos privilégios
da zona franca sem arcar com as devidas responsabilidades e sem fazer as devidas
concessões. Em reação, restringiram as trocas de seus francos CFA pela nova moeda malês.
Na realidade, a atitude de Mali correspondeu, em parte, ao experimento socialista pelo
qual esse país vinha passando, e, em parte, a um exercício de independência dos laços
coloniais. Em outras palavras, Mali queria se abrir para receber ajuda externa de outros
países, diversificar as relações e sair da bainha da França.112
O fato é que esse desligamento arruinou a economia de Mali: a produção ficou
estagnada, aumentou a dívida externa, o valor do franco malês depreciou-se, as empresas
estatais passaram a funcionar mal e, por fim, as trocas ultramarinas estavam se paralisando.
Em tais condições, a única alternativa que Mali encontrou foi a de voltar a se reaproximar
da França. Quem o apoiou e intermediou essa reaproximação foi o Senegal, que dependia
do mercado malês para seus produtos industrializados. Em 1967 assinou-se um acordo
visando a volta de Mali à UMOA, mas a deterioração da economia daquele país era
tamanha que foi necessário um período de preparação para que houvesse condições
necessárias para tanto. Entre essas medidas estava a substituição do Banco da República
de Mali por um Banco Central de Mali, que seguia as mesmas regras e funções monetárias
do BCEAO. Ulteriores problemas foram adiar a nova adesão de Mali, como o golpe de 68,
que tirou Keita do poder, em prol de Moussa Traore e a disputa fronteiriça com o Alto Volta,
pela região de Oudalan, que culminou em um conflito armado. Dessa forma, as
negociações para a entrada de Mali na UMOA só começaram de fato em 1981. Ainda
assim, restava a questão das dívidas deixadas pelo Banco de Mali. O que favoreceu uma
resolução final favorável a essa entrada foi a vontade política da França, devido a dois
fatores. Em primeiro lugar, ela queria fortalecer as relações com as suas ex-colônias de
forma a evitar uma possível expansão soviética na região. Em segundo lugar, era a própria
França que estava dando apoio à economia de Mali, e os custos estavam sendo elevados.
A volta à Zona Franca iria aliviar tais despesas, que até então estavam sendo carregadas
unilateralmente.113
112 Crum, op. cit., p. 471-74. 113 Ibid.
56
Evidentemente, Mali não constituía por si só um parceiro econômico fundamental
para a França. A estratégia francesa diante do caso visava muito mais evitar que o padrão
de comportamento se expandisse aos demais países da região. Se Mali tivesse sucedido em
sua nova política monetária e tivesse mantido os privilégios oriundos da Zona Franca mesmo
estando independente dela, logo os demais membros poderiam optar por seguir um rumo
semelhante. Subjacente ao caso, a grande preocupação da França era na realidade a
manutenção de uma política de domínio regional que resguardasse seu “protetorado”
africano das disputas entre as superpotências. Nesse sentido, o domínio econômico e o
vínculo da África Ocidental à França serviram de instrumento para que esse domínio político
fosse exercido.
O caso insere-se em um contexto histórico diferente do atual. Existe, não obstante,
um fator de continuidade, qual o grau de dependência gerado pelo esquema monetário
francês. A opção pela saída, num ambiente onde todos pertencem ao esquema, deixa o
país isolado e em condições mais difíceis de se sustentar economicamente, bem como
estabelecer um comércio com os vizinhos e atrair investimentos externos. Embora o arranjo
seja oriundo de um contrato formal, que foi assinado na crença de que seria vantajoso para
ambas as partes, perpetuou-se uma situação em que a opção pelo abandono é
extremamente cara. Ao mesmo tempo, é questionável o atual interesse da França em
perpetuar este arranjo, uma vez que as próprias vantagens políticas já não compensam os
custos de manutenção. Assim, é difícil falar na existência de uma pressão para a não saída
dos membros. A expressão “beco sem saída” refletiria melhor a presente situação.
CONCLUSÃO
O presente capítulo teve como objetivo mostrar a política francesa em relação à
África como uma forma de ingerência multidimensional, no sentido de que se reflete em
várias esferas (política, econômica, securitária, entre outras). Diferente dos demais casos
analisados no presente trabalho, o caso da francofonia revela-se excepcional pelo grau de
profundidade que o vínculo entre a ex-metrópole e suas ex-colônias veio a adquirir e o
como isso se congelou no tempo. Como foi visto, as bases desse vínculo possuem raízes
históricas, ressalentes ainda ao período da colonização. Foi na própria formação dos
Estados independentes que se consolidou uma estrutura relacional entre França e África, a
qual, por sua vez, permitiu a constante ingerência francesa nos assuntos africanos. De fato,
como aponta Krasner, à diferença do restante da África, onde, em sua maioria, a soberania
vestfaliana foi concretizada no momento de suas independências, o caso da França
57
demonstrou ser uma clara tentativa de imposição de estruturas.114 O resultado, em termos
de expectativas, foi bem inferior ao desejado, uma vez que, dentre todos os territórios
coloniais franceses, apenas na África Subsaariana obteve a metrópole algum êxito:
Only in Sub-Saharan Africa, where local nationalist movements were weak and where the rulers of the newly independent states lacked resources, was France able to enter into contracts that gave some influence over institutional arrangements, especially with regard to monetary affairs. (…) However, French efforts to create an institutional form that would have provided an explicit alternative to Westphalian and international legal sovereignty, the French Community, failed as much because it was abandoned by de Gaulle as because it was resented by African rulers.115
Analisando a ingerência a partir da tipologia anteriormente exposta, observa-se que,
à exceção das convenções, o comportamento francês na África Subsaariana passou pelas
demais formas de ingerência. No que diz respeito ao processo de descolonização em si,
observa-se, de um lado, que o acordo entre os líderes locais e a França recaem na
ingerência por meio contratual. De fato, o consenso da elite intelectual africana em relação
ao processo de descolonização e a manipulação que exerceram sobre a opinião pública
local foram os grandes fatores responsáveis pela forma pacífica e reformista que o processo
assumiu. Contudo, não obstante esse consenso, devido a esse processo, a França passou a
ter por décadas influência direta na política interna destes países que, já não mais colônias,
restavam contudo dependentes de sua ex-metrópole para sobreviver política e
economicamente. Em que medida essa conseqüência foi consensual (ou mesmo previsível
pelas colônias) é questionável.
A criação da Zona Franca, neste sentido, serviu como veículo desta política
intervencionista. Representando clara manifestação de violação de soberania, o esquema
entregava nas mãos da metrópole toda a política econômica dos países dela membros.
Mais uma vez, observa-se o consenso que permitiu essa relação da forma como se
constituiu. Vistas as contradições relativas às reais vantagens oriundas da Zona Franca, este
trabalho concorda com a proposição de que, em certo grau, o exercício do domínio
econômico na região foi instrumento facilitador para as demais formas de ingerência, uma
vez que a dependência econômica dos países africanos da França criava um
constrangimento a qualquer tipo de resposta mais enfática. Ou seja, criava-se um ambiente
claramente gerador de ingerências por coerção e imposição, onde as opções de resposta
dos atores receptores da ingerência eram particularmente reduzidas. De fato, o que tornava
os países francófonos particularmente suscetíveis à ingerência francesa era a própria
fragilidade de seus governos, que sobreviviam, não apenas economicamente, mas
politicamente graças ao apoio francês. Assim foi o caso da República da África Central e
também do Chade. Vale lembrar que a própria presença militar francesa nas regiões em
114 KRASNER, op. cit., p. 185-86. 115 Ibid, p. 195.
58
questão era fator de estabilidade para esses governos e a sua presença ou ausência trazia
implicações para a sobrevivência dos regimes em questão.
No que diz respeito aos estímulos da política intervencionista francesa para com a
África, parece consensual a idéia de que, em última instância, o que moveu a França
foram, de maneira geral, considerações políticas internacionais, mais especificamente uma
preocupação com seu status internacional. Segundo Moïsi, a política de intervenção116
francesa na África independente corresponde à fusão, de um lado, de circunstâncias
históricas específicas do próprio continente africano, com suas fragilidades refletidas na
própria constituição do Estado, bem como os vínculos que permaneceram entre África e
França como legado do colonialismo, e de outro uma ambição específica francesa,
ambição esta que seria
[…] a mixture of idealism and cynism, of sense of duty and outright exploitation of the weakness of others, and corresponds to a desperate and somewhat successful attempt to refuse to adapt, and yet to adapt at the same time, to the international system after 1945 and France’s newly reduced international status.117
Em outras palavras, tratou-se da tentativa francesa de compensar a perda de um império e
a recusa em aceitar um status diminuto oriundo dessa perda.
De fato, esse motivo inicial perpetuou-se no tempo, mantendo-se na Guerra Fria e
refletindo-se na obsessão com um espaço mundial francês que se mantivesse resguardado
das disputas entre as superpotências. A idéia de que a França possuía uma extensão
territorial fora de seu continente configurava-se como uma forma de domínio internacional
exclusivo e, mesmo que de fato não tivesse muita importância para os demais atores
internacionais, tratou-se de uma imagem autocultuada na própria França. O fim da Guerra
Fria trouxe algumas reconsiderações na postura francesa para com a África, muito embora
ainda seja perceptível o “lugar especial” que a África ocupa na política francesa. Entre as
afirmações oficiais francesas e sua postura prática em relação ao continente, observa-se
ainda uma falta de congruência. Apesar dos custos da manutenção do status das relações,
a expansão cultural e a manutenção de uma extensão da França do outro lado do
Mediterrâneo parecem ter seu peso.
Diferentemente das motivações, podemos observar que as justificativas se
mostraram variadas ao longo do tempo e da situação específica. A Zona Franca foi
apresentada como um esquema que trazia vantagens para ambos os lados, mas na prática
não se mostrou tão linear, sendo tais vantagens, na verdade, reduzidas a apenas uma
116 Moïsi interpreta a intervenção como “dictatorial interference in the internal affairs of another State”, Moïsi, op. cit., p. 67. Embora o autor trabalhe basicamente com as intervenções militares, aqui transpomos o seu argumento para os demais casos de ingerência, uma vez que a análise dos casos nos leva a crer que, em última instância, as principais motivações para a ingerência francesa, de maneira geral, foram as mesmas, independente se no aspecto militar ou econômico. 117 Moïsi, op. cit., p. 69.
59
parcela das populações dos lados envolvidos. Do lado das intervenções militares, são
observáveis variações em relação aos casos. Enquanto no Zaire a presença de cidadãos
franceses clamava por uma “ação humanitária”, no caso da RAC a ação deu-se muito
mais como resposta às cobranças internacionais do que por outro motivo qualquer.
Eventualmente, pesava muito mais para Giscard desvincular seu nome do de Bokassa do
que propriamente remover um ditador cruel e sanguinário do poder. No Chade,
oficialmente a ação francesa veio em resposta ao pedido de ajuda do governo local, mas
os fatos mostraram o quanto a preocupação esteve vinculada ao expansionismo líbio na
região. Ainda assim, o comportamento ambíguo francês e sua inconstância no
fornecimento de ajuda deixam margem a dúvidas em relação a quanto realmente
importava para a França o destino do Chade. Em última instância, nem sempre foi possível
à França escapar às pressões domésticas para com a sua política externa.
Por fim, parece que tanto do lado das motivações, quanto do lado das justificativas,
o contexto internacional sempre teve um papel preponderante no discurso e na ação
francesa. Assim, enquanto ao longo da Guerra Fria sua ação esteve calcada fortemente no
campo militar, além do econômico, com o fim da Guerra Fria, não apenas seu
envolvimento direto diminuiu, como passou a França a querer compartilhar com os demais
atores internacionais sua responsabilidade para com a África. Isso porque as motivações
referentes ao status de potência estavam diretamente vinculadas à disputa bipolar,
enquanto que hoje, com a aceitação da preponderância dos Estados Unidos no cenário
mundial, a preocupação internacional francesa voltou-se muito mais para o fortalecimento
da União Européia e o aprofundamento do esquema de integração (inclusive com sua
ampliação horizontal e a incorporação de novos países do leste europeu). Do lado do
discurso, passou a ex-metrópole a adotar as novas diretrizes propostas pelas instituições
internacionais, a saber a defesa da democracia, dos direitos humanos e da boa
governança, atrelando as famosas condicionalidades à sua ajuda a esses países. Na
prática, nem sempre o discurso se comprova e os dados referentes à ajuda internacional
francesa nem sempre acompanham o desenvolvimento da democracia nos países
receptores. Mas isso não é novidade na postura francesa. Maiores considerações a esse
respeito serão feitas em capítulo posterior.
60
3
GUERRA FRIA E ÁFRICA: A ALTERNÂNCIA
ENTRE A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA E O
ESQUECIMENTO
The most important criterion in accounting for levels of superpower intervention was consequently the failure of the post-colonial relationship, either because the African state concerned did not have access to a colonial power capable of providing the normal level of protection, or else because it whished to escape from the post-colonial embrace by seeking alternative sources of support.
(Clapham, 1996: 139)
A Guerra Fria, enquanto período histórico, perpassa trinta dos quarenta e cinco anos
de toda a história da África independente, inclusive a própria transição de seus territórios da
condição de colônias a Estados soberanos. Devido à amplitude deste período e dos
inúmeros tipos de ingerências que abarca, torna-se difícil fazer uma sistematização por tipos
e manifestações. Ao mesmo tempo, não é possível prescindir do contexto político implícito
na Guerra Fria para compreender boa parte destas ingerências.
O presente capítulo trata da ingerência internacional na África na Guerra Fria
partindo de um prisma geral para o específico. Primeiramente, são analisadas algumas
características da Guerra Fria que ajudam a compreender o comportamento das
superpotências em sua relação com a África. Nesse sentido, alguns aspectos da política
externa das superpotências para a África são ressaltados, bem como outros atores são
introduzidos, que tiveram um papel importante na dinâmica das ingerências no continente
africano. Em seguida, apresenta-se alguns estudos de caso que se agrupam segundo o
momento de sua ocorrência. A periodização proposta para a Guerra Fria na África é
oriunda da comparação com a periodização da Guerra Fria em geral. Os casos
apresentados são aqueles considerados os mais significativos e de maior impacto em suas
conseqüências políticas no continente.
Será ressaltado que nem sempre o vínculo de tais ingerências com a dinâmica da
Guerra Fria é evidente e que o papel de outros atores, em muitos casos, foi decisivo para o
desfecho de situações de crise.
61
Conclui-se o capítulo com um balanço comparativo dos casos e o questionamento
quanto ao grau em que a Guerra Fria influenciou o destino político dos países analisados.
3.1 GUERRA FRIA E INGERÊNCIA INTERNACIONAL
Quando se fala em Guerra Fria, logo se associa a imagem do mundo como um
bloco dividido em duas partes: uma capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e a outra
socialista, sob a égide da União Soviética. É inegável o grau em que a política internacional
de maneira geral esteve ligada, neste período, às políticas externas desses dois países. Isso
se deveu a vários fatores, mas, primordialmente, ao fato de que Estados Unidos e União
Soviética foram os dois principais vencedores da Segunda Guerra Mundial.
As diferenças entre as duas superpotências delinearam-se ainda ao fim da Primeira
Guerra Mundial e já a partir de então é visível o tipo de comportamento que ambas vão
assumir no que diz respeito a imiscuir-se na política mundial. Nesse aspecto, a Guerra Fria
mostrou-se ambiente propício para os mais diversos tipos de ingerência em razão da própria
sobrevivência dos ideários políticos e sociais das duas maiores potências da época.
De um lado, a Revolução Russa trouxe consigo toda uma nova forma de
administração política nacional e internacional e não é coincidência que a duração da
Guerra Fria coincida com o período de vida do regime soviético. Por princípio, este regime
pedia sua expansão. De fato, consideradas as bases para a concretização de uma
revolução socialista (a existência de uma classe operária forte e um processo de
industrialização avançado), a Rússia não era o local ideal para que esta ocorresse,
tratando-se de um país basicamente camponês, analfabeto, pobre e atrasado. Diante
desta conjuntura, os próprios russos sabiam que, para que a revolução se consolidasse, era
necessário que a mesma se espalhasse em outros lugares.118 Esta necessidade por si só já
legitimava aos olhos soviéticos qualquer ação que viesse a alterar as políticas domésticas
dos demais Estados, e a história mostra o quanto a potência investiu, especialmente em
termos militares, na concretização dessa expansão.
Do outro lado do globo, os Estados Unidos já vinham se consolidando como primeira
potência mundial desde o início do século XX. Após longo período de isolamento
internacional auto-imposto (decorrente da consolidação nacional e do desejo interno de
auto-sustentação), a ex-colônia britânica vai pisar no século XX ainda reticente no que diz
respeito ao envolvimento com as questões internacionais (mormente em relação à Europa).
A entrada na Primeira Guerra Mundial deveu-se, assim, muito menos à vontade de
expansão americana do que ao medo do domínio e expansionismo alemão. Em outras
118 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 64-64.
62
palavras, havia, sim, considerações de poder, mas especialmente ligadas à estabilidade do
sistema internacional. 119 Prova disso é a não participação dos Estados Unidos na Liga das
Nações (que, ironicamente, foi inspirada pelos famosos princípios do então presidente
Wilson).
A Segunda Guerra Mundial, por outro lado, que também contou com a entrada
tardia dos Estados Unidos, não apenas trazia consigo a ascensão do nazi-fascismo, mas
também o vácuo do poder britânico, decrescente desde a Primeira Guerra, e que deixava
a Europa mais fragilizada e sujeita à expansão alemã.120 A entrada dos Estados Unidos na
Segunda Guerra marcou o fim do período de isolamento e a sua consolidação, de fato,
como superpotência mundial. À diferença de 1919, 1945 não ofereceu aos Estados Unidos a
opção de recolher-se, novamente, em seu isolamento. Embora tenha sido, de fato, o país
envolvido na guerra que menos sofreu com a mesma (aliás, notou-se um crescimento
extraordinário na economia americana nas duas guerras121), contava agora com um co-
vencedor à sua altura, um parceiro de guerra que veio a transformar-se, logo em seguida,
no seu principal inimigo: a União Soviética.
Hoje está claro que essa igualdade não equivalia à realidade da época. A um
Estados Unidos forte política e economicamente, contrapunha-se uma União Soviética
desgastada pela Guerra, em termos econômicos e humanos. Ainda assim, o que moldou as
relações internacionais então foi muito mais a percepção que as partes tinham de si e uma
da outra do que os dados factuais. Os Estados Unidos levaram algum tempo pra tomar
consciência de sua absoluta superioridade no imediato pós-guerra. O período de transição
entre os anos de 1945 a 1947, marco da reação norte-americana ao comunismo e do
lançamento do Plano Marshall, foi suficiente para que a URSS corresse contra o tempo a fim
de amenizar a distância que a separava dos EUA. A detonação da primeira bomba
atômica soviética, em 1949 simboliza o fim da superioridade absoluta dos EUA em termos
militares.122 Mais do que isso, faz com que toda a diferença de poder entre as duas
superpotências passe a ser medida exclusivamente em termos de armas, trazendo uma
119 PECEQUILO, Cristina Soreanu. A política externa dos Estados Unidos. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. A autora trabalha a periodização da política externa dos Estados Unidos desde sua independência, apontando continuidades e inflexões e o quanto o comportamento externo esteve vinculado à política doméstica. 120 Ibid. 121 Hobsbawm sugere que provavelmente o “efeito econômico mais duradouro das duas guerras tenha sido dar à economia dos EUA uma preponderância global sobre todo o breve século XX.” Em ambas, o país teria se beneficiado por ter não ter sido palco direto dos conflitos, bem como serem o principal arsenal dos seus aliados. Sua taxa de crescimento no período chegou a 10% ao ano. Hobsbawm, op. cit., p. 55. 122 AZEREDO, Mauro Mendes de. Visão americana de política internacional de 1945 até hoje. In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
63
equivalência que longe estava de corresponder à realidade.123 Foi, porém, esta visão que
moldou o quase meio século que se seguiu a 1945 e que concentrou o mundo em torno de
dois sistemas distintos, sistemas estes que, mesmo diferentes em sua capacidade de
sobrevivência, competiram como iguais.
Halliday caracteriza a Guerra Fria como um conflito intersistêmico,
Uma forma específica de conflito interestatal e intersocietal, no qual formas convencionais de rivalidade – a militar, a econômica e a política – são compostas por, e freqüentemente legitimadas em termos de, uma total divergência de normas políticas e sociais.124
A singularidade do argumento intersistêmico reside no fato de que transcende a
esfera política e os interesses de poder, passando para um nível de análise que inclui o
aspecto social dos sistemas. Trata-se de dois sistemas heterogêneos, não apenas em seu
funcionamento, mas no que diz respeito aos seus princípios basilares. Assim sendo,
envolvem-se numa dinâmica competitiva e universalizadora que só terá fim com a
prevalência de um sobre o outro. Ou seja, o fim último é a busca da homogeneidade.125
A ingerência internacional, nesse sentido, está diretamente vinculada às ações
políticas das superpotências que visam, em última instância, sua própria sobrevivência, se
não mesmo, sua legitimidade. Para tanto, agirão elas de maneira a ampliar as famosas
zonas de influência, ou seja, zonas territoriais no globo onde possam consolidar alianças que
resguardem seus respectivos sistemas. Observa-se, ao longo da Guerra Fria, que nem
sempre as alianças corresponderam de maneira direta às afinidades ideológicas das partes
envolvidas, muitos outros elementos estando em jogo e por vezes prevalecendo sobre as
questões ideológicas. Como aponta a definição de conflito intersistêmico, são de natureza
diversa os fatores que influenciam o jogo. Parece, portanto, que a idéia de zonas de
influência não reflete a natureza da bipolaridade de maneira satisfatória. No quesito
ingerência outra categoria ajuda na compreensão da análise.
John Lewis Gaddis, ao revisar a história da Guerra Fria, trabalha com a categoria
império, ao caracterizar o comportamento das superpotências após 1945. Por império o
autor entende
123 Gaddis trabalha com a visão multidimensional de poder e argumenta que foi exatamente a visão monodimensional do conceito que reduziu as análises em Relações Internacionais em seu poder explicativo. Enquanto alguns tipos de poder foram distribuídos de maneira bipolar, mais equitativamente, outros o foram de maneira mais vasta. Em última instância, o fato de a visão política da época ter sido fixada na dimensão das armas (poder monodimensional) fez com que a idéia de equilíbrio bipolar perdurasse, mesmo não refletindo a realidade em sua totalidade. GADDIS, John Lewis. We now know. New York: Oxford University Press, 1997. 124 HALLIDAY, Fred. Repensando as Relações Internacionais. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1999, p. 187. 125 Ibid., p. 192.
64
A situation in which a single state shapes the behavior of others, whether directly or indirectly, partially or completely, by means that can range from the outright use of force through intimidation, dependency, inducements, and even inspiration.126
Argumenta Gaddis que tanto União Soviética quanto Estados Unidos (apesar de sua
retórica antiimperialista e pró-autodeterminação), após 1945, engajaram-se na construção
de impérios informais, no sentido de que, apesar de recusar o rótulo, na prática assim se
portaram: trabalharam, cada um a seu modo, a expansão de seu modelo de civilização. A
grande diferença entre as partes residiu na forma como este objetivo foi perseguido. De um
lado, os Estados Unidos trabalharam, de maneira geral, pelo “convencimento”, ou pela
demonstração do funcionamento de seu modelo; a URSS, por outro lado, teria atuado de
maneira mais impositiva, muitas vezes forçando a implementação do socialismo nos países
que lhe interessavam. Em parte, isto se relaciona com os desejos e as condições reais de
cada uma das partes para concretizar a expansão de seus respectivos impérios: enquanto
os Estados Unidos possuíam condições reais para concretizar esse império antes mesmo de
seus líderes considerarem essa hipótese, Stalin, ao contrário, buscava essa realidade desde
muito antes de ter condições torná-la possível.127
A lógica de Gaddis não necessariamente casa no contexto africano. Se, num
primeiro momento, os EUA conquistaram a Europa graças ao Plano Marshall e ao ideário de
democracia, enquanto a URSS teve que impor seu regime no Leste Europeu, não obstante a
resistência local, na África o inverso parece mais provável. De fato, enquanto a URSS
respondeu a vários chamados de ajuda militar, os EUA estiveram envolvidos em situações
desconfortáveis relacionadas a regimes ilegítimos e golpes que favoreceram a pior espécie
de líderes da história, trabalhando para isto na surdina internacional.
De maneira geral, importa aqui ressaltar que, no que diz respeito à ingerência
internacional, a Guerra Fria, enquanto ambiente político, teve um peso diferencial no
comportamento dos agentes e dos receptores da ingerência. Se, de um lado, os agentes (e
aqui referimo-nos primordialmente às superpotências) possuíam uma força sem paralelo na
história para ingerir (a capacidade nuclear), de outro, sentiam-se constrangidas uma em
função da outra: havia limites no que diz respeito ao campo de ingerência, em especial a
intervenção militar. O medo da destruição mútua, que atingiu seu ápice com a crise dos
mísseis de Cuba (1962) foi, desta forma um fator constrangedor na ação das
superpotências.128 Em parte isso explica porque o foco na África intensificou-se após esta
data, em especial na década de 1970: onde os interesses eram menores, a liberdade de
atuação era maior e menos comprometedora. Se tais ingerências se deram por consenso
126 Gaddis, op. cit., p. 27. 127 Ibid., p. 33. 128 WINDSOR, Philip. Superpower intervention. In: BULL, Hedley (ed.), op. cit., p. 46-48.
65
ou por coerção, isso variou de caso a caso, a segunda do local e do momento específico
da Guerra Fria.
3.2 A GUERRA FRIA E A INGERÊNCIA NA ÁFRICA
O envolvimento das superpotências na África segue um paralelo com o andamento
da Guerra Fria em geral, muito embora não haja uma correlação direta entre os ciclos de
acirramento e distensão entre EUA e URSS e a intensificação dos seus engajamentos na
África. Embora haja discordâncias, pode-se dizer que, de maneira geral, a Guerra Fria
começou em 1945-47, com o encerramento da Segunda Guerra Mundial, seguiu de
maneira acirrada até 1962, seu ápice (marcado pela crise dos mísseis de Cuba e o medo da
um conflito atômico), prosseguiu com a fase de détente até 1979, renascendo então e
prolongando-se até 1985, quando passa a declinar e desemboca na cooperação EUA-
URSS, terminando com o desmembramento desta última em 1991.129
Ao fim da Segunda Guerra Mundial apenas quatro países africanos eram
independentes, a saber: Egito, Etiópia, Libéria e África do Sul. A primeira onda de
descolonização na África começou ao final dos anos 1950, início de 1960 e retomou o
fôlego somente uma década depois, a partir de 1974-75. De imediato, há que se atentar
para os atores preponderantes nos respectivos períodos na África. No primeiro momento, a
descolonização limita-se às presenças francesa, britânica e belga, que se retiraram, na
grande maioria dos casos, sem a interferência direta das superpotências ou mesmo de
terceiros países: a questão restringiu-se, grosso modo, ao âmbito colonizados-colonizadores.
A segunda onda de descolonização, por outro lado, que marcou a retirada portuguesa do
continente, envolveu diretamente tanto Estados Unidos quanto União Soviética e marcou o
período de maior acirramento da disputa bipolar no continente. Como observa Marte, o
primeiro momento da Guerra Fria levou as superpotências a centralizarem suas atenções na
Europa e na Ásia, entre outros motivos porque grande parte da África ainda estava sob
domínio ocidental colonial. Somente num momento posterior o continente vai passar a
ocupar um lugar de importância na política externa desses dois países, e isso devido a
algumas mudanças significativas no contexto internacional. Primeiramente, em razão da
onda de descolonização. Em segundo lugar, por causa da emergência da China como
nova potência comunista (após a revolução de Mao em 1949), que ampliava a
possibilidade de expansão vermelha no mundo, trazendo, portanto, um novo grau de
pressão na disputa leste-oeste. Por fim, dada a conferência de Bandung de 1955, que reuniu
129 A periodização é sempre um fator problemático. Aqui foram consultados Hobsbawm, Pecequilo, Saraiva e Gaddis e, não obstante algumas diferenças, optou-se pelo que pareceu comum aos autores.
66
os países do chamado Terceiro Mundo e que ofereceu à União Soviética a oportunidade de
abraçar a bandeira do anticolonialismo, confrontando-se com o ocidente através de um
discurso que gozava de maior legitimidade internacional, pelo menos em solo terceiro-
mundista, para onde as disputas bipolares logo seriam transferidas.130
O fluxo dos acontecimentos, portanto, vai fazer com que 1960 seja o marco de um
novo tipo de envolvimento internacional na África. De um lado, este ano foi o marco das
independências da grande maioria das colônias francesas, tendo, por conseqüência, o
acréscimo de uma vasta gama de Estados independentes ao mapa da África. De outro,
1960 traz também o primeiro envolvimento tenso das superpotências no continente: a crise
do Congo belga. Destarte, tomar-se-á este ano como marco zero para a Guerra Fria na
África. É importante observar, contudo, que esse marco somente é possível devido ao
recorte geográfico, que restringe o presente estudo à África Subsaariana. Ao expandir o
foco para a região setentrional, a década de 1950 revela-se importantíssima, em especial
no que se refere à descolonização britânica e a questão de Suez com o Egito.
A periodização da Guerra Fria na África é geralmente feita como função das
políticas externas dos Estados Unidos e da União Soviética. Há um consenso na literatura
quanto ao fato de que a importância da África para as superpotências esteve diretamente
vinculada às rivalidades Leste-Oeste, sendo demais fatores secundários, pelo menos no que
diz respeito ao envolvimento direto, e, conseqüentemente às diversas formas de ingerência
que tomaram corpo no período em questão.
Há que se enfatizar, contudo, que outros prismas de análise levam a periodizações
diferentes. Do ponto de vista africano, a Guerra Fria teve uma série de implicações
diferentes no que diz respeito às políticas locais.131 Por outro lado, as políticas internas ao
continente tiveram peso de extrema relevância no que diz respeito à concretização da
ingerência internacional. No entanto, uma vez que aqui o foco de estudo repousa nos
atores intervenientes e nas motivações que levaram estes a ingerir, dar-se-á prioridade ao
ambiente internacional e sua determinação na realização dos eventos. Destarte, mesmo
que em graus variados, a Guerra Fria, enquanto contexto político internacional, teve peso
determinante na atuação tanto das superpotências, quanto das demais potências
ingerentes na África Subsaariana, sendo, assim, justificada a ênfase na política externa das
130 MARTE, Fred. Political Cycles in International Relations. The Cold War and Africa 1945-1990. Amsterdam: VU University Press, 1994, p. 49-53. 131 Colin Legum, por exemplo, divide a história da África independente em 4 períodos distintos, a saber: “The romantic period, 1939-1970”, “The period of disillusionment, 1970-1985”, “The period of realism, 1988-?”, “A period of renaissance?”. Tais períodos estão relacionados, de maneira geral, com as dinâmicas políticas internas ao continente e sua relação com os fatores internacionais. LEGUM, Colim. Africa since independence. Bloomington: Indiana University Press, 1999.
67
superpotências como fator explicativo e construtivo da periodização da Guerra Fria na
África.
Como mostra a tabela, o momento de maior acirramento da Guerra Fria na África
coincide com o momento da détente na Guerra Fria. Uma vez que a África possuía pouca
importância na estratégia das superpotências, mostrou-se o ambiente perfeito para o
direcionamento das divergências ideológicas, já que não implicaria perdas significativas
para nenhum dos lados. Uma vez reacesa a Guerra Fria, sob Reagan, a África passa a
perder novamente o foco, em vista de outros acontecimentos internacionais mais relevantes
nas agendas das superpotências (guerra Irã-Iraque, crise do petróleo). Ainda assim, há um
acentuamento na política direcionada à África do Sul, no sentido de aproximar-se do
regime do apartheid, que aparecia como pilar anticomunista. Também há a continuação
da transferência de armas, muito embora em escala menor do que na década de 1970. A
segunda metade da década de 1980 vem a trazer a finalização do afastamento das
superpotências da África. A URSS em especial, diante da tomada de consciência de sua
falha econômica estrutural, e diante da tentativa de reaproximação com Washington, não
tem sequer mais condições de prosseguir com os financiamentos a seus parceiros africanos.
Em vista da erosão da própria Guerra Fria, as “últimas pendências” africanas vêm a
encontrar solução. Na teoria, “resolve-se” a questão angolana, juntamente com a da
Namíbia. Na prática, Angola continua imersa em crise, uma vez que a antiga (e mesmo
posterior) transferência de armas para a região se reflete em um prolongamento do conflito,
perpassando o fim da Guerra Fria. O grande fator positivo é o início do desmembramento
do apartheid, mérito das dinâmicas internas da África do Sul, mas sem dúvida facilitado
pela postura internacional, finalmente afirmativa, no sentido de adotar medidas contra o
regime branco. O fim da Guerra Fria na África é simbolizado pela independência da
Namíbia (pré-celebrada na Batalha de Cuito Canavale), quando as últimas tropas cubanas
presentes no território voltaram para casa.
68
3.1 Periodização comparada: Guerra Fria e Guerra Fria na África
ANO GUERRA FRIA ANO GUERRA FRIA NA ÁFRICA
1947 Início da Guerra Fria Plano Marshall; Doutrina Truman
1949 OTAN
1950-53 Guerra da Coréia 1956
Indep. do Sudão
1957 1958
Indep. de Gana (Grã Bretanha) Indep. da Guiné (França)
1960 Início da Guerra Fria na África Indep. do Congo/Zaire Indep. da África Francófona
1961 Construção do muro de Berlim 1961 Congo/Zaire: assassinato de Lumumba
1962 Crise dos mísseis de Cuba Détente
1964 URSS: Kruschev
1965 Guerra do Vietnã 1965 Congo/Zaire: Mobutu chega ao poder
1968 Strategic Arms Limitation Talks (Salt)
1969 Golpe na Somália: Siad Barre
1973 Guerra do Yom Kippur Crise do petróleo
1974 Acirramento da GF na África Revolução Etíope
1975 Fim da Guerra do Vietnã 1975 Independência de Angola e Moçambique
1977-78 Guerra do Ogaden: revezamento de alianças (Somália-Etiópia)
1979 Guerra Irã-Iraque
1980 Acirramento Ascensão de Reagan
Détente
1981 Constructive engagement
1985 Nova détente 1985 Fim do constructive engagement
1987 Fim prático da Guerra Fria: cúpula de Washington
1988 Fim prático da Guerra Fria na África Batalha de Cuito Canavale
1989 Queda do muro de Berlim 1989 África do Sul: New Diplomacy
69
1990 Fim da Guerra Fria na África Independência da Namíbia (retirada das tropas cubanas) África do Sul: libertação de N. Mandela
1991 Fim oficial da Guerra Fria Fim da União Soviética
1994 África do Sul: fim do apartheid
3.3 AS SUPERPOTÊNCIAS E A ÁFRICA
Tão logo terminou a Segunda Guerra Mundial, a África não estava presente de
maneira significativa na política externa das superpotências. Uma vez que a grande
extensão do território africano já se encontrava sob domínio ocidental, não havia nem
mesmo espaço para uma infiltração ulterior.
Até então, não existia uma política norte-americana para a África, e sim se atuava
de maneira pontual e ad hoc. Entre outros motivos, esse desinteresse era justificado pela
falta de uma política ativa soviética na região, de forma que não havia uma ameaça de
expansão socialista iminente. Marte classifica o período 1945-1960 da política americana
para a África como a fase de benign neglect.132 Esta fase encerrou-se no governo
Eisenhower e foi fortemente influenciada por três eventos internacionais: o acordo
armamentício concluído entre Kruschev e Nasser, no Egito, em 1955; a emergência da China
como novo protagonista atuando na expansão do comunismo e a onda de
descolonização que se iniciou no final da década de 1950. Principalmente este último fator
preocupou Washington, uma vez que não apenas restringia sua maleabilidade política,
dado seu elo com as potências coloniais, mas também porque suscitou o temor de que os
vácuos deixados pela Europa fossem alvo da política do Kremlin.
A partir de então, a política externa americana para a África vai girar em torno do
debate interno travado entre os formuladores de política que adotavam uma postura dita
globalista e aqueles que aderiam a uma ótica regionalista. Enquanto os globalistas
enfatizavam a primazia do confronto Leste-Oeste na condução da política americana no
mundo, os regionalistas enfatizavam o prisma Norte-Sul e as idiossincrasias políticas e culturais
de cada região geográfica. Embora tão anti-sovéticos quanto os primeiros, os regionalistas
se pautavam por uma visão de mundo mais complexa, onde, além dos fatores globais,
fatores regionais de ordem endógena explicavam e deviam ser levados em conta na
resolução dos conflitos internacionais. De outra forma, enquanto os globalistas priorizavam a
132 Marte, op. cit., p. 75-82.
70
segurança como cerne da política internacional, os regionalistas preocupavam-se com o
crescimento econômico dos países do Terceiro Mundo, bem como com o respeito aos
direitos humanos (pelo menos no discurso).133 O que se observa na política americana para
a África é, de maneira geral, a contínua preponderância da visão globalista na condução
da mesma, tendo a bipolaridade peso decisivo nas considerações norte-americanas.
O primeiro envolvimento americano na África deu-se em 1960, no Congo, durante o
governo Eisenhower. Visto como um possível espaço de infiltração soviética, o Congo
recém-independente viu seu líder assassinado após uma série de tentativas e ações
conjuntas entre Estados Unidos, Bélgica e facções internas de oposição. Essa visão globalista
foi amenizada com Kennedy, que adotou uma abordagem mais liberal para o continente.
Entre as mudanças propostas por este, o abraço à causa da descolonização foi,
provavelmente, uma das mais marcantes. Contudo, Laïdi associa o papel americano na
descolonização a interesses estratégicos: de fato, tanto não foi gratuito esse apoio, como foi
seletivo, restringindo-se a determinadas regiões (Congo, Etiópia).134 Onde o favorecimento a
governos ocidentais não era evidente, como em Angola, os Estados Unidos mantiveram
uma política de favorecimento à metrópole, chegando mesmo a conceder armas que
seriam utilizadas na repressão de movimentos revolucionários duvidosos (Angola).135 Ou seja,
a ingerência estava vinculada ao grau da disputa com a URSS, que variava a segunda da
região. De fato, durante o restante da década de 1960, a África perdeu importância,
ofuscada pelos acontecimentos no Vietnã, voltando a ocupar as preocupações das
superpotências apenas na segunda metade da década de 1970.
A descolonização portuguesa (1974-75) abriu um novo espaço de influência que foi
logo percebido pela União Soviética. De um lado, observa-se o envolvimento das
superpotências em Angola, afetando de maneira incisiva o rumo da independência deste
país. De outro, ao final da década, EUA e URSS participam de um dos maiores conflitos
interestatais africanos: a Guerra do Ogaden, entre Etiópia e Somália. Em ambos os casos, o
papel dos Estados Unidos nos conflitos deu-se, principalmente, pelo envio de recursos
financeiros que foram fundamentais no prolongamento dos conflitos (em especial em
Angola, onde a violência estendeu-se por mais de 25 anos) e na permanência de
determinados governantes no poder. Nesse sentido, a ajuda externa, mesmo quando
enviada para propósitos sociais, era canalizada para a compra de armas e o
enriquecimento de membros dos governos, com a complacência norte-americana.
133 DORAN, Charles F. The globalist-regionalist debate. Schraeder, Peter J. (ed.) Intervention in the 1980s. US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989. 134 LAÏDI, Zaki. The Superpowers and Africa. The constraints of a rivalry, 1960-1990. Chicago/London: The University of Chicago Press, 1990, p. 12-13. 135 Marte, op. cit., p. 85.
71
Curiosamente é também na década de 1970 em que se observa uma momentânea
inflexão da política norte-americana para a adoção de uma abordagem regionalista.
Contudo que não haja tido uma preponderância regionalista de fato no governo Carter,
houve, sem dúvida, um acirramento no debate interno, que resultou numa postura
diferenciada, pelo menos na primeira parte do mandato. Ainda assim, o foco da política
norte-americana no sentido de trabalhar sempre com a possibilidade de expansão soviética
permanece evidente. Segundo Marte, a própria política de engajamento regional, a partir
do desvinculamento dos eventos da Guerra Fria, constituía uma tentativa de desviar a
atenção soviética da região. Nesse sentido, a melhor forma de evitar a penetração
soviética no Terceiro Mundo era evitando que se dessem motivos para tanto, daí a busca
pela solução dos problemas locais.136 O que fica evidente nessa asserção é que, em última
instância, a grande diferença entre as abordagens regionalista e globalista restringe-se
muito mais aos meios do que aos fins, uma vez que o traço permanente é a visão de mundo
que gira em torno da própria condução da política externa soviética. A grande questão é
qual a maneira mais eficiente de conter essa expansão.
A subida de Reagan à presidência trouxe consigo uma virada radical para a direita
e novamente as considerações Leste-Oeste mostraram-se centrais na condução das
relações com a África. À diferença de Carter, Reagan não se preocupou em esconder os
interesses dos Estados Unidos nesse sentido e agiu de maneira direta e frontal no quesito
combate ao “império do mal” (URSS). Pouco preocupado em manter relações amistosas
com os países africanos, Reagan definitivamente passou a encarar o Terceiro Mundo como
palco direto de disputas com a União Soviética e trabalhou arduamente no sentido de
expandir o poderio militar americano. Nesse sentido, a UNITA de Jonas Savimbi, em Angola,
tornou-se o principal recipiente de ajuda norte-americana (e sul-africana). O objetivo era
construir alianças que ajudassem na contenção do comunismo, em todas as frentes
possíveis. O Terceiro Mundo tornava-se, assim, um pilar de apoio instrumental.137
Outro ponto focal, no que diz respeito à África, foi a adoção do constructive
engagement, proposto pelo secretário para assuntos africanos Chester Crocker. Assumindo
a fatalidade da presença branca na África Austral, a proposta era trabalhar de maneira
que os Estados Unidos não tivessem que se indispor nem com os negros nem com os
brancos. Na teoria, o constructive engagement visava encorajar a igualdade racial na
África do Sul, bem como a independência da Namíbia. Na prática, no entanto, Crocker
condicionou a retirada sul-africana da Namíbia, a retirada cubana de Angola.138
136 Ibid., p. 96-97. 137 Ibid., p. 98-103. 138 CHAZAN, Naomi, et al. Politics and society in contemporary Africa. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1988, p. 376.
72
O segundo mandato de Reagan afrouxou essa postura ofensiva, uma vez que mais
uma détente estabeleceu-se entre as superpotências a partir do governo soviético de
Gorbatchev. O encontro em Genebra, em 1985 e as pressões européias para a pacificação
colocaram Reagan em posição delicada, que já não permitia um regresso à velha postura
de embate. De fato, a década de 1980, de maneira geral, vai marcar a fase de progressivo
abandono da África como loco estratégico de competição entre as superpotências. Ao
mesmo tempo, gradualmente as questões estratégicas vão perder força diante das
questões econômicas. A nova postura norte-americana em relação à África vai traduzir-se,
então, na tentativa de acomodação e solução de pendências, mais especificamente, os
acordos na África Austral, que vão resultar na retirada de Cuba e África do Sul da Namíbia e
a independência desta enquanto país.
À diferença dos Estados Unidos, finda a Segunda Guerra Mundial, a URSS
encontrava-se extremamente frágil e não possuía meios físicos de engajar-se de maneira
mais ativa na África. Apesar disso, concebia o continente como um pilar das economias
ocidentais, de forma que, não obstante não visse um campo fértil para o florescimento
imediato do socialismo, não deixava de pairar a devida atenção sobre a região.
A morte de Stalin, em 1953, foi seguida quase que de imediato pelo primeiro surto de
descolonizações, o que gerou expectativas do lado soviético quanto às futuras lideranças
dos novos países. A independência de Gana em 1957, chamou a atenção soviética, diante
do discurso radical de Nkrumah, mas não chegou a concretizar-se uma aliança formal, uma
vez que a Nkrumah interessava primordialmente o apoio econômico ocidental. Da mesma
forma, a independência da Guiné, em desacordo com Paris, suscitou expectativas
soviéticas, juntamente com o primeiro temor de um comprometimento mais sério.139 A
década de 1960, contudo, provou ser esse caminho inevitável.
Na crise do Congo, a URSS teve um papel mais no imaginário dos Estados Unidos do
que prático. Na primeira crise africana da Guerra Fria, não houve uma ação soviética. Da
mesma forma, ao longo do restante da década de 1960 a URSS encontrou pouco espaço
de atuação no continente. De um lado, a pressão da China fez-se sentir, levando a URSS a
trabalhar com duas frentes de oposição no Terceiro Mundo (China e Estados Unidos). De
outro, vários aliados, ou potenciais aliados africanos foram derrubados de seus governos
(Ben Bella, em 1965, Nkrumah em 1966, Modibo Keita em 1968). Na busca de espaço a
qualquer custo, a URSS acabou por envolver-se na guerra civil da Nigéria, auxiliando em
armas e suprimentos o governo militar central, contra a província de Biafra, em sua tentativa
de secessão, episódio que deixaria particularmente claro o quanto o envolvimento soviético
139 Ibid., p. 111-115.
73
não dependia de afinidades ideológicas, mas girava em torno do enfrentamento bipolar.
De fato, ao final da década, o maior aliado soviético não era um regime revolucionário,
mas sim um governo centrista que necessitava de armas. A relação constituída revela,
portanto, dois aspectos da política soviética para a África: de um lado, um forte
pragmatismo na escolha de seus parceiros; de outro, a transferência de armas como
principal veículo de influência no continente.140
A transferência de armas vai se constituir no principal instrumento de ingerência
soviética na África. A militarização do Chifre da África na década de 1970 e seus reflexos no
destino político principalmente da Somália e da Etiópia não pode ser compreendido sem a
consideração deste fator. De maneira mais pontual, o peso das armas foi responsável pela
decisão das fronteiras na maior guerra interestatal africana, que poderia ter redesenhado o
mapa da região. Assim como em Angola, no entanto, os reflexos das transferências de
armas se estenderam por longo período no futuro.
Ao entrar na década de 1980, a União Soviética passou ao abandono progressivo
da África. Questões de cunho interno e econômico se sobrepuseram à velha rivalidade
bipolar. Ainda antes de Gorbatchev assumir a presidência, em 1985, discussões acerca do
apoio soviético a movimentos de libertação já se desenvolviam no seio do governo. De um
lado, os ortodoxo-conservadores pregavam a linha marxista-leninista tradicional, centrada
na luta de classes e na primazia do partido comunista na liderança rumo ao socialismo. Para
esta escola, o Terceiro Mundo era bem menos importante do que se supunha, uma vez que
carecia de bases fundamentais para o desenvolvimento do socialismo. A segunda escola,
modernista-sofisticada, enfatizava a importância dos componentes étnicos e nacionalistas,
bem como a burguesia nacional e o potencial dos intelectuais locais na condução à
revolução. A discussão versava sobre as perspectivas de uma real expansão do socialismo
nos países do Terceiro Mundo, de um lado, e sobre os custos do envolvimento soviético para
tanto, de outro.141 A partir da década de 1980, a esse debate acrescentavam-se questões
referentes à própria boa fé dos movimentos de libertação africanos em relação ao
marxismo-leninismo, logo a confiabilidade dos mesmos. Com a ascensão de Gorbatchev,
houve uma desideologização das relações interestatais, ou seja, de fato o abandono da
revolução mundial, que era uma das peças centrais da revolução bolchevique. A partir de
então, a détente seguiu rumo à África.
Marte acrescenta, nesse sentido, que não apenas houve o crescente
desvinculamento do continente africano, como também a sua utilização como instrumento
de barganha vis à vis o Ocidente:
140 Ibid., op. cit., p. 364. 141 Marte, op. cit., p. 134-35.
74
As for Africa, (…) the Soviet Union was ready for a trade off with the United States and its allies, in which Africa was simply used as a bargaining chip, dramatically reversing the traditional Soviet role on the black continent, as well as reducing Soviet involvement, in exchange for an international environment that would permit the Soviet Union to carry out its domestic reform program in peace, preferably with financial support from the West and Japan.142
3.4 MOTIVAÇÕES PARA A INGERÊNCIA DAS SUPERPOTÊNCIAS
A análise dos casos selecionados a seguir vai exemplificar de maneira mais explícita
o quanto a ideologia esteve vinculada de maneira subordinada a inúmeros outros fatores
mais importantes na condução das ingerências das superpotências na África. De maneira
geral, contudo,a literatura destaca, grosso modo, aqueles de ordem estratégica e
econômica. A estes se sobrepõe, em última instância, a bipolaridade com toda a carga de
competitividade que o termo carrega.
Em termos estratégicos, alguns fatores podem ser apontados que suscitaram o
interesse pelo continente ao longo da história. Foltz aponta cinco funções da África nesse
sentido: (1) ponto de ligação com a Ásia; (2) plataforma de defesa do comércio marítimo,
particularmente no que concerne o Mediterrâneo e a rota do Cabo; (3) ponto de
lançamento de ataques através da instalação de bases militares; (4) fonte de recursos
naturais escassos em outras regiões; (5) palco de disputas pouco dispendioso.143
O estudo de casos mostra que, em graus variados, tais funções se concretizam na
planilha de política externa dos atores ingerentes, mas, ainda assim, de maneira alguma
estariam desvinculadas de outros fatores mais globais, tampouco seriam considerados de
maneira homogênea no continente como um todo. Algumas regiões, de fato, parecem ter
tido importância maior nas considerações políticas das superpotências. Não é coincidência
que o Chifre da África foi um dos maiores receptores de armas das mesmas. A proximidade
da região com o Oriente Médio e a possibilidade de ter uma presença militar próxima a
regiões petrolíferas certamente pesou nas considerações tanto soviéticas quanto norte-
americanas de se envolver no conflito do Ogaden. Aliás, a ligação política e militar com a
região, que, em parte, resultou no acirramento das disputas locais (no mínimo gerou mais
confiança militar, uma vez que podiam contar com recursos externos) era antiga, sendo os
anos de 1978-79 apenas um resultado desastroso dessa evolução histórica.
É difícil, contudo, separar a noção de região estratégica da disputa bipolar. Marte
traz essa discussão e apresenta uma definição de Sinclair. Segundo este, uma região será
considerada estratégica em função de: (1) a soma dos recursos e capacidades do Estado;
142 Ibid., p. 139. 143 FOLTZ, William J. Africa in Great-Power srtategy. FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S. (ed.). Arms and the African. New Haven, London: Yale University Press, 1985.
75
(2) a percepção que o Estado tem de si mesmo e de seu papel estratégico regional e
global e (3) a percepção dos demais Estados da comunidade internacional sobre a
percepção estratégica de facto do Estado, diante de seus interesses.144 No que diz respeito
à percepção internacional do que era estratégico, esta dependia de maneira estreita da
visão de política internacional dos EUA e da URSS. Na verdade, um outro fator fundamental
na definição do que é estratégico é a existência de pelo menos uma potência rival que
tenha recursos percebidos como ameaça ao status da outra potência em determinada
região.145 Ou seja, a percepção de ameaça acaba sendo fundamental da definição do
comportamento das superpotências. É isso que vai guiar as suas ações. No caso da África,
essas percepções vão variar a segunda da região e do momento histórico, sendo quaisquer
generalizações nesse sentido passíveis de inúmeras críticas.
Economicamente, interesses na África são observados tanto do lado soviético,
quanto do lado americano. No caso dos Estados Unidos, mais do que o governo, interesses
privados pesaram nas relações com alguns países. No caso da África do Sul e do Zaire, por
exemplo, os negócios concentravam-se no comércio de minerais e giravam em torno das
multinacionais. Ainda assim, o tamanho da participação destes países na economia
americana sempre foi modesto. Entre as décadas de 1960 e 1970 somente 3% do
investimento externo direto americano total era destinado à África.146 No que diz respeito às
relações com a África do Sul, as questões econômicas tiveram um peso diferenciado e
chegaram mesmo a influenciar a política externa dos EUA para com este país, no sentido de
adotar uma política mais branda com relação ao apartheid (muito embora táticas mil
fossem usadas para maquilar a realidade). Pode-se recordar, da mesma forma, o episódio
de revogação das sanções da ONU contra a Rodésia a fim de proceder com as relações
comerciais com o regime branco.
A União Soviética, de maneira diversa, e dada a natureza de seu regime, encontrou
interesses econômicos relacionados com o setor governamental, que se traduziram na
venda de armas para o continente. Não obstante a transferência de armas soviéticas para
a África seja evidente em termos de dados, seu real benefício econômico merece
discussão. Fawole argumenta que os benefícios econômicos oriundos dessa transferência
teriam constituído mesmo um pilar fundamental da política externa soviética para a África e
que se encaixariam dentro de uma lógica econômica não muito diferente de uma lógica
econômica ocidental. A busca de mercados externos seria, dessa forma, um meio de
sobrevivência, dadas as necessidades soviéticas de matérias que o país não possuía,
144 Sinclair, apud Marte, op. cit., p. 228-29. 145 Marte, op. cit., p. 229. 146 DUIGNAN, Peter; GANN, L. H. The United States and Africa. A history. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p. 301.
76
inclusive alimentos tropicais. Segundo o autor, a importância maior da África para a União
Soviética residia no fato de ser o continente o segundo maior comprador de armas após o
Oriente Médio, sendo os pagamentos freqüentemente feitos em moeda corrente ou na
forma de matérias primas.147
O fracasso do modelo soviético ao final do século XX não deixa dúvidas quanto às
suas falhas estruturais econômicas. Apesar do peso do comércio de armas com a África
Negra, há dúvidas que pairam quanto real profitabilidade do negócio. Em alguns casos,
questiona-se mesmo se várias dessas transferências acabaram por ser mesmo pagas. A
pergunta fica se a União Soviética de fato contava com este retorno. Em artigo de 1984,
Remnek analisou os dados disponíveis do governo americano relativos ao período 1975-
1980. Nesse arco de tempo a URSS teria transferido para a África o equivalente a US$ 11,3
bilhões, destes, 5,5 bilhões destinados à Líbia e 1,8 bilhões à Argélia. Isso se explica porque
estes dois países, ricos produtores de petróleo eram parte dos poucos que possuíam
condições de pagar a compra em dinheiro, sendo que os demais países trabalhavam por
meio de créditos e empréstimos (aliás, deste segundo grupo, a Etiópia foi o maior receptor
de armas soviéticas, recebendo na década de 1980 o equivalente a US$ 1,9 bilhões).
Conclui o autor que o comércio de armas soviético com a África teria tido um impacto
muito reduzido na economia soviética.148 Mais sensato parece medir os interesses soviéticos
na África como um misto de fatores, que se pautam pela busca da influência política, o
comprometimento ideológico, motivos econômicos e a competição com o Ocidente.
Como aponta Gray, há uma relação diretamente proporcional entre o número de armas
transferidas e (1) a inclinação política do país (se dizia-se socialista ou não) e (2) a riqueza
do mesmo (se possuía recursos valiosos, como, por exemplo, petróleo). Ainda assim, Gray
não acredita que houvesse um claro planejamento quanto à atuação soviética na África,
sendo as oportunidades muitas vezes quase “coincidências” que a URSS soube aproveitar,149
o que remete à idéia de oportunismo previamente analisada.
Evidentemente, o peso que cada conjunto de fatores teve varia a segunda do caso,
mas observa-se uma certa homogeneidade no que diz respeito a esse consenso relativo à
política para a África em função do adversário bipolar. A própria periodização da
ingerência na África segue, grosso modo, esse fluxo de acirramento e distensão entre as
superpotências: de um lado, esse fluxo na Europa, de outro na África. Nesse contexto, a
África fazia parte de uma estratégia mais global das superpotências, não constituindo um
objeto exclusivo em si mesmo. A grande vantagem da África, e o consenso implícito quanto
147 Ibid., p. 47. 148 REMNEK, Richard B. Soviet Military Interests in Africa. Orbis. A Journal of World Affairs, v. 28, n. 1, Spring 1984. 149 GRAY Robert D. The Soviet presence in Africa: an analisys of goals. The Journal of Modern African Studies, 22, 3 (1984), p. 511-527.
77
a isso, era exatamente a sua pouca importância para as superpotências: nenhuma delas
possuía interesses vitais no continente, sendo, portanto, lícito intensificar aí suas rivalidades,
uma vez que isso não chegaria a abalar a coexistência pacífica que se desenhava entre
ambas. Da mesma forma, os ganhos obtidos seriam marginais.150 Se tais ganhos foram
marginais ou não é fruto de muita discussão. O papel da bipolaridade como motivador do
envolvimento das superpotências na África, no entanto, gera discussão apenas no que diz
respeito ao grau. Por outro lado, há autores que argumentam quanto ao efeito dos eventos
na África na relação entre as superpotências e o acirramento ou não da Guerra Fria.
Mesmo que em grau relativamente pequeno, as disputas travadas no continente chegaram
a ser usadas na condução de outras políticas, como instrumentos de barganha, no sentido
de obter concessões ou exigências.151
Uma das explicações concernentes à bipolaridade na África tem como base a
dicotomia expansão versus manutenção do status quo. De um lado, os Estados Unidos
queriam preservar a ordem constituída no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, onde
havia uma clara predominância ocidental no mundo; de outro, a União Soviética queria
expandir seu novo modelo civilizacional. Daí a déia de contenção que moldou a política
externa americana durante a Guerra Fria: tratava-se da contenção de uma possível
expansão soviética.152 No caso africano isso significou o desdobramento em discursos
variados, que, muitas vezes, poderiam parecer um fim em si só, ou que, pelo menos,
resultaram num discurso legitimador da ingerência na África. O discurso antiimperialista
soviético é um desses exemplos. Da mesma forma, a defesa tardia do anticolonialismo pelos
Estados Unidos, que se refletiu no esforço de ligar os nacionalismos à contenção,
defendendo transições graduais e negociadas com as potências coloniais.
Uma análise comparativa das políticas externas americana e soviética para a África
aponta algumas semelhanças, no que diz respeito à utilização oportunista do contexto
internacional e das dinâmicas internas ao continente com o fim último de concluir as
agendas nacionais:
Soviet and US strategic policies, therefore, look quite like mirror images. The United States has tried to contain Soviet influence, whereas the Soviet Union has sought to channel the changes of the postcolonial era in directions favorable to their own interests. The Soviets have capitalized upon imperialist sentiment when they could, and the American have all too often invested in conservative regimes. Neither superpower has demonstrated much inclination to leave ‘Africa to the Africans’, whereas both have largely respected France’s residual sphere of influence.153
150 Laïdi, op. cit., p. 32. 151 Marte, op. cit., cap. 7. 152 Hobsbawm, op. cit., p. 231-34. 153 Chazam, et al., op. cit., p. 381.
78
Cabe acrescentar que as motivações que levaram à ingerência na África na Guerra
Fria muitas vezes se confundem em razão da percepção do contexto internacional da
época. Há uma imbricação entre a questão ideológica e as demais (segurança, economia,
etc.), no sentido de que coisas que só parcialmente estavam relacionadas muitas vezes
foram sobrepostas, levando, em alguns casos, a tomadas de ações que sobrevalorizavam a
questão ideológica em detrimento das demais.154
3.5 OUTROS ESTADOS INGERENTES
Além das superpotências, outros Estados constam como atores ingerentes na África
Subsaariana durante a Guerra Fria. De um lado, as ex-potências coloniais. Já foi visto
anteriormente o caso peculiar da França e da consolidação de um esquema de relações
com suas ex-colônias de forma a manter uma influência constante e um grau de autoridade
alto em quesitos estruturais de política doméstica dos novos Estados. As demais potências
coloniais vão seguir rumos diferentes, que serão analisados mais adiante.
Além das potências coloniais, no entanto, outros Estados tiveram papel importante
durante a Guerra Fria e participaram de maneira particularmente ativa na definição dos
rumos das políticas domésticas dos Estados Africanos.
CHINA
A China teve uma atuação reduzida na África, se comparada com Estados Unidos e
União Soviética. Ao mesmo tempo, sua posição como fator de pressão parece decisiva no
que diz respeito às tomadas de decisão soviéticas em relação à África. Assim como a
atuação soviética, a ação chinesa na África pautou-se, primordialmente, pela transferência
de armas. Entre os receptores desta ajuda estiveram a Uganda, o Zanzibar/ Tanganika e o
Congo-Brazzaville, ainda na primeira metade da década de 1960. Após 1965 essa
transferência diminuiu, seguindo acontecimentos de ordem doméstica, mas continuou a
afronta com a União Soviética, bem como o apoio militar e financeiro a movimentos
revolucionários seletos, tais quais o PAIGC na Guiné-Bissau, a Frelimo em Moçambique, o
ZANU na Rodésia e o ANC-PAC na África do Sul.155
Uma das características que marcou o envolvimento chinês na África foi sua
oposição à União Soviética. Aquela que havia sido uma aliança num primeiro momento, e
que deveria traduzir-se numa divisão de tarefas (de um lado, a China viria a explorar as
154 FERREIRA, Oliveiros S. Segurança, comércio e ideologia. In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000, p. 254. 155 Marte, op. cit., p. 125.
79
vulnerabilidades do Ocidente nas regiões coloniais e dependentes; de outro, a URSS
proveria assistência moral e material)156 transformou-se depois numa acirrada disputa que
caminhava em paralelo à soviético-americana. Os eventos na própria Ásia foram
responsáveis pelo desgaste na aliança, de forma que em 1960, quando começou a
expansão da Guerra Fria na África, URSS e China já se encontravam distantes. Em parte, isso
se deveu à própria flexibilização da política soviética de Kruschev em relação ao
enfretamento direto com os Estados Unidos. Enquanto a China seguia um caminho que
previa as etapas atingidas até então pela revolução bolchevique na URSS, Kruschev
procedia a uma política de “desestalinização”, justamente quando Mao entrava em sua
fase stalinista.157 Para Pequim, a luta contra o imperialismo merecia prioridade absoluta,
acima de qualquer entendimento diplomático com Washington. Qualquer movimento no
sentido contrário constituía uma forma de traição ao Terceiro Mundo. 158 De fato, o discurso
chinês para angariar apoio dos países do Terceiro Mundo era um de crítica à postura
soviética, que, além de tudo, usava, muitas vezes, justificativas raciais para o argumento:
sendo a URSS branca, européia e desenvolvida, não poderia ter a pretensão de entender
um povo de cor em um mundo subdesenvolvido.159
De certa forma, a maior desenvoltura obtida por Cuba em seu envolvimento na
África pudesse talvez corroborar o argumento. Note-se, no entanto, que a maior
preocupação da China, após o cisma com a URSS, passou a ser muito mais o ataque a esta
do que a real defesa dos interesses africanos ou do Terceiro Mundo. Marte argumenta que o
comprometimento extremo da China para com a luta revolucionária na África era muito
mais retórico do que substancial. De fato, houve transferência de recursos, mas isso se deu
muito mais no sentido de rivalizar com a União Soviética do que por considerações
meramente revolucionárias.160
O que levou a esta insistência na disputa com a URSS, por outro lado, merece mais
estudo. Gaddis, por exemplo, trabalha com as características pessoais de Kruschev e Mao, e
com a falta de afinidade e a decepção de Mao com o primeiro, como fatores que
pesariam nas relações entre os dois países. No caso da África, porém, o que parece é que
mesmo a China não escapou ao comportamento baseado na política de poder, que
guiava, da mesma forma, a ação das superpotências e que fez com que estas apenas
vissem a África como palco de enfrentamento político entre elas mesmas.
156 Gaddis, op. cit., p. 159. 157 Ibid., p. 210-15. 158 Marte, op. cit., p. 125. 159 Laïdi, op. cit., p. 27. 160 Marte, op. cit., p. 125.
80
Na década de 1970 a política chinesa para a África vai sofrer uma reviravolta.
Optando por uma reaproximação a Washington, as alianças africanas também vão mudar.
Nesse sentido, observa-se, por exemplo, a visita de Mobutu, então presidente do Zaire e
aliado dos Estados Unidos, a Beijing, em janeiro de 1973. Ao mesmo tempo, diminui a
transferência de armas para o continente, com algumas exceções (UNITA e FNLA em
Angola). Ainda assim, em 1975 observa-se a retirada total chinesa de Angola,
provavelmente por estar do lado perdedor imperialista, contra um movimento dito e
apoiado pelas socialistas URSS e Cuba.161
CUBA
Cuba teve um papel primordial no desfecho de algumas crises africanas. Mais do
que isso, esta pequena ilha do Caribe esteve presente nas principais crises de confrontação
das superpotências no continente.
A primeira aproximação de Cuba com o continente deu-se no início da década de
1960, com a expedição de uma missão na Argélia. Na África Subsaariana, o primeiro
envolvimento ocorreu no Congo-Zaire. Em 1965, Che Guevara embarcou em missão secreta
para o Zaire com cerca de cem soldados cubanos. O objetivo era o de treinar as forças
rebeldes zairenses a lutar contra o imperialismo que se impunha a partir da intervenção
americana e que havia resultado, anos antes, no assassinato do líder nacionalista Patrice
Lumumba. O que marcou fortes expectativas do lado de Che traduziu-se numa profunda
decepção, derivada tanto da falta de preparo dos soldados locais, sua falta de disciplina e
dispersão, bem como do descaso do principal líder rebelde então, Kabila, que
aparentemente não reconheceu o valor da presença de Che Guevara e sua capacidade
de organizar o movimento revolucionário.162 Ainda assim, as tropas lá permaneceram e
ainda receberam mais pessoal durante os meses que se seguiram, chegando a obter
sucesso na condução de emboscadas. O marco desse envolvimento foi o total
desconhecimento internacional da presença cubana em solo africano. A seqüência de
eventos que favoreceu os Estados Unidos e consolidou um regime respaldado pela
superpotência ocidental contribuiu para que não se desenvolvesse uma séria preocupação
com a presença cubana na África.
Ainda na década de 1960, Cuba vai estar presente no Congo-Brazzaville e na Guiné
Bissau, aqui obtendo sucesso no apoio à subida ao poder de Amílcar Cabral e sua rebelião
frente a Portugal. O papel cubano focalizou-se basicamente no treinamento militar, ainda
que estritamente submetido a Cabral, que insistia em uma revolução de cunho interno e
161 Ibid., p. 126. 162 A passagem de Che Guevara pelo Congo-Zaire é relatada no seu diário, GUEVARA, Ernesto. Passagens da guerra revolucionária: Congo. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000.
81
não estrangeira, bem como na maciça assistência médica, fundamental para o sucesso da
PAIGC. Mais uma vez, o envolvimento cubano fica em segredo, e não possui absolutamente
vínculos com a política soviética.163
É na década de 1970, contudo, que Cuba vai ter um papel decisivo na história da
política africana, passando a ter, inclusive, uma aproximação com a política soviética para
a África. Em Angola, essa aproximação vê seus primeiros passos. Na ainda colônia
portuguesa, Cuba consegue levar a cabo uma ação que se inicia independentemente de
Moscou, mas que se conclui, com o apoio da superpotência, resultando no alcance do
primeiro objetivo, que era a independência do país sob a liderança reconhecida do MPLA.
Dois anos depois, no Chifre da África, a coordenação entre os dois países marcaria a
sua atuação militar. Aqui, desde o início da operação, a divisão de tarefas fica clara,
consistindo a parte cubana na expedição do corpo físico militar, enquanto a URSS fica
responsável pelo envio de apoio logístico (ao estilo de Angola, com a diferença residindo no
timing em que se deu a coordenação).
Não obstante as orientações socialistas de URSS e Cuba, havia diferenças
significativas tanto na condução das políticas internas de cada país, quanto na política
relativa à exportação da revolução para o mundo. Quanto a esta última, enquanto a URSS
acreditava que a única forma de se atingir o socialismo era com base na revolução
burguesa e que, para isso, deveria existir previamente uma classe operária com uma forte
base ideológica, Castro defendia a chamada teoria do foco. Segundo o foquismo, era
possível conduzir a revolução a partir de movimentos locais, com experiências
revolucionárias próprias, sendo portanto, muito mais flexível e aplicável às diversas partes do
mundo, tal qual América Latina e África.164
Uma segunda diferença que pautou o comportamento cubano na condução de
sua política africana foi a questão das motivações que a levaram a atravessar o Atlântico
em apoio aos movimentos revolucionários. Enquanto a União Soviética primava
considerações relativas à rivalidade com os Estados Unidos, Cuba tinha preocupações mais
fortes para penetrar o continente africano. Gleijeses aponta a dificuldade de delinear a
visão política cubana frente ao seu envolvimento na África. Os documentos analisados, de
maneira geral, apontam para dois fatores principais, quais uma messianic compulsion to
lead ‘revolution’, e a própria sobrevivência do regime cubano, que seria fortalecida por
meio da expansão da revolução no mundo.165 Especificamente, a corrida para a África,
163 GLEIJESES, Piero. Conflicting Missions. Havana, Washington and Africa, 1959-1976. Chapel Hill: North Carolina University Press, 2002. 164 KEMPTON, Daniel R. Soviet strategy toward Southern Africa. The national liberation movement connection. New York: Praeger Publisher, 1989, p. 27. 165 Gleijeses, op. cit., p. 375.
82
que se vislumbrou a partir da década de 1960, refletiu, em parte, uma certa decepção com
os desenvolvimentos políticos na América Latina à época. Che Guevara, em especial,
acreditava que resultados positivos na África poderiam fortalecer o ideário revolucionário
nas Américas.
Há que se frisar, contudo, que, não obstante a independência da ação cubana, o
vínculo com a União Soviética era fundamental para a própria condução de suas ações
mundo afora. É verdade que houve alternância nos momentos de aproximação entre Cuba
e URSS, mas é inegável a injeção de recursos financeiros soviéticos na ilha, o que, em última
instância, permitiu o fortalecimento militar cubano, bem como a exportação de auxílio
militar ao exterior.166 Na década de 1970, o que vai mudar, especificamente a partir de
Angola (talvez mesmo como conseqüência), é a coordenação entre os dois países, o que
de certa forma vai se refletir no sucesso das operações tanto em Angola quanto no Chifre
da África.
3.6 GUERRA FRIA E DESCOLONIZAÇÃO AFRICANA
De maneira geral, a independência dos Estados africanos refletiu as relações com as
metrópoles, de forma que se observam diferenças marcantes segundo as regiões que foram
colonizadas por França, Grã Bretanha, Bélgica e Portugal. O grau de desenvolvimento
estatal de cada metrópole teve reflexos na consolidação dos Estados africanos, no
desenvolvimento de seu aparato governamental, suas economias e mesmo formação
cultural e societária. De forma indireta, tais fatores são os maiores indicadores do quanto um
Estado é forte e, por conseguinte, mostram sua vulnerabilidade à ingerência internacional,
daí a necessidade de se analisar sucintamente o processo de descolonização africana.
A duração do período colonial na África é
relativamente curta. Considerando a história da
civilização africana, os cerca de oitenta anos que
marcaram a dominação estrangeira parecem
pouco significativos em termos da história do
continente. Contudo, não obstante sua brevidade,
o colonialismo trouxe mudanças significativas e
não retroativas à África. Entre estas, uma das mais
significativas parece, sem dúvida, a mudança no
166 VALENTA, Jiri. The USSR, Cuba, and the Crisis in Central America. Orbis, a Journal of World Affairs, v. 25, n. 3, Fall 1981, p. 729
3.2 Divisão da África colonial
83
sistema civilizatório, ao introduzir o Estado nacional como estrutura organizacional da
sociedade, conferindo, portanto, ao continente, uma forte aproximação com os valores e
cultura ocidentais. De maneira mais específica, e atrelada à questão estatal, uma das
grandes transformações foi a “alteração essencial e permanente na fonte de autoridade do
poder político”, que conferiu à nova elite, criada pelo próprio sistema colonial, o papel de
autoridade antes atribuído aos chefes de família e de clã, bem como às autoridades
religiosas.167 Na prática, isso se refletiu no fato de que, inicialmente, não houve mudanças
significativas em relação ao período colonial. Não apenas as estruturas continuaram as
mesmas, mas, no caso em que houve substituição de pessoal europeu por pessoal local, os
novatos faziam parte da elite “europeizada” e as estruturas de poder foram mantidas.
Como aponta Betts,
O sistema colonial […] fixou o quadro administrativo geral no qual o governo nacional devia inserir-se durante a primeira década de independência. A incipiente normalização da vida política no contexto de uma estrutura organizada européia constitui o aspecto principal da modernização que os europeus introduziram então na África, mas para servir a seus próprios desígnios.168
Esse método de transmissão de poder pautava-se, portanto, na colaboração com a
nova elite local, constituída a partir do próprio sistema colonial. De um lado, essa
“cooperação” por parte da elite se explica pela facilidade de ascensão ao poder a partir
de uma estrutura colonial já dada, ao invés de criar uma nova. Utilizando-se do aparato já
existente, restava criar um discurso legitimatório para dar organicidade à idéia de Estado
independente, logo de união que transcendesse as diferenças étnicas locais. Em outras
palavras, fazia-se necessário legitimar o Estado aos olhos de sua população, o que incluía
recriar a idéia de autoridade, autoridade esta que já não estaria nas mãos de uma elite
estrangeira, mas de nacionais locais.169 Aos líderes nacionalistas coube este papel.
Ao mesmo tempo em que se esforçavam para legitimar o Estado internamente,
cabia aos líderes, ainda, manter o controle da relação do Estado nacional recém-criado
com o mundo exterior, em especial com a ex-metrópole. Mesmo quando radicais em suas
posições nacionalistas, à herança da estrutura estatal colonial somava-se a herança da
própria educação ocidental destes, que se politizaram por meio de estudos também
oriundos em sua maioria das metrópoles.170 De fato, a transformação decorrente da
descolonização esteve muito mais vinculada ao reconhecimento formal dos Estados no
cenário internacional do que as transformações internas de fato. Nesse sentido, de um lado
167 BOAHEN, Albert Adu. O colonialismo na África: impacto e significação. In: BOAHEN, Albert Adu (org.). História Geral da África, v. VII. São Paulo: Ática, Unesco, 1991 168 BETTS, Raymond F. A dominação européia: métodos e instituições. In: BOAHEN, Albert Adu (org.), op. cit. 169 WALLERSTEIN, Immanuel. Africa. The politics of independence. New York: Vintage Books Edition, Novembre 1961, cap. 5 170 Wallerstein, Clapham, Boahen, op. cit.
84
o novo Estado africano viu-se inserido num ambiente internacional onde não podia atuar de
maneira incisiva. Lançado na política internacional sem as estruturas domésticas necessárias
a conferir-lhe uma soberania de fato, via-se, ainda por cima, inserido num ambiente dividido
pela Guerra Fria, com regras pré-instituídas que não podia alterar. De outro lado, esse
mesmo ambiente internacional foi o facilitador de seu próprio reconhecimento enquanto
ente internacional. O sistema das Nações Unidas e o reconhecimento formal da soberania
desses Estados, davam-lhe uma âncora legal única, que não podia ser questionada, não
obstante suas falhas práticas estruturais.171
Um das conseqüências da descolonização para o Estado africano, foi o
desenvolvimento de um sistema que primava pelo unipartidarismo e pela concentração de
poder na elite.172 Outros aspectos, no entanto, merecem maior destaque, no que diz
respeito à ingerência. Nesse quesito, observa-se uma ambigüidade. De um lado, tem-se o
processo de independência per se, onde, num primeiro momento, a África prece ter
gozado de maior liberdade em relação às demais regiões que ficaram independentes após
1945. Krasner argumenta, por exemplo, que a desimportância da região na época em
questão, lhe conferiu maior liberdade de condução do processo, de forma que, com
exceção da África Ocidental francófona, onde foram feitos arranjos que ligaram a região
diretamente à França, as metrópoles não conseguiram , ou não quiseram (em razão do
custo-benefício) manter uma influência direta no processo de formação dos Estados.173 Esse
foi claramente o caso da descolonização britânica.174
De outro lado, no entanto, podem-se visualizar pelo menos dois fatores que minaram
o exercício da soberania destes países no curto prazo. Como foi anteriormente
argumentado, considera-se aqui a ingerência como um fato que existe independente da
vontade ou não da parte receptora a aceitá-la. Desta forma, e em primeiro lugar, a
condução das independências por uma elite “europeizada” foi um dos fatores que
facilitaram a manifestação de algumas formas de ingerência internacional. Isso se deve, em
parte, ao fato de que foram as elites as responsáveis pela manutenção das relações com o
mundo exterior. Num contexto em que a independência deu-se com a manutenção da
estrutura colonial e a capacidade de independência econômica era reduzida, se não nula,
171CLAPHAM, Christopher. Africa and the International System. The politics of state survival. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 41. 172 Legum levanta vários aspectos gerais referentes ao que ele denomina o “Período Romântico” da África independente. Legum, op. cit., cap. 1. 173 KRASNER, Stephen. Sovereignty. Organized hipocrisy. New Jersey: Princeton University Press, 1999, p. 186-202. 174 Darwin traz o debate entre historiadores frente ao processo de desmonte do império britânico. O autor aponta os fatores internos à Grã Bretanha, internos aos territórios colonizados e o sistema internacional diante dos acontecimentos, atribuindo possíveis pesos a cada um destes. DARWIN, John. The end of the British Empire. The historical debate. Institute of Contemporary British History. Cambridge, Oxford: Basil Bllackwell, 1991.
85
o link com as metrópoles tornou-se fundamental para a própria sobrevivência dos países,
quando não a sobrevivências dos próprios líderes. Já foi visto o caso da francofonia, que
exemplifica o ápice dessa forma de dependência e ingerência na estrutura doméstica
africana. Há que se observar, no entanto, que onde a metrópole se ausentou do local,
outras fontes de apoio econômico foram encontradas, em especial dentro do contexto da
disputa bipolar, a partir dos Estados Unidos e da União Soviética, com todas as implicações
oriundas desta relação. Tem-se, portanto, uma relação de quase cumplicidade entre a elite
e os líderes nacionalistas e as metrópoles ou superpotências. Onde essa relação prosperou,
a ingerência fazia parte da relação e era acordada (no lado da economia esse esquema
foi mais evidente, traduzindo-se em ajuda internacional e contrapartida política de apoio a
determinada forma de regime político). Onde a liderança local não se enquadrava em um
determinado esquema internacional, o embate tomou formas mais violentas, resultando em
intervenções diretas que, mais uma vez, alteraram profundamente o futuro político dos
países africanos. No caso da África Subsaariana, o caso do Congo/Zaire e o assassinato de
seu líder são um exemplo extremo deste último.
Em segundo lugar, ainda devido ao papel das elites nacionalistas, cabe lembrar a
diferença entre Estado e governo, e o grau de representatividade dessas elites na
condução da política interna dos novos países. Dada a forma em que as independências
foram obtidas, o Estado africano foi confundido, em um primeiro momento, com os
governos que os assumiram então. Se no âmbito externo isso não abalou as relações dos
Estados com o mundo, internamente observou-se uma crise de legitimidade que exigiu uma
reformulação da tradição local a fim de moldar um discurso nacionalista que unisse etnias e
clãs ao invés de dividi-los em pólos de poder.175 No que toca a ingerência internacional, isso
trouxe conseqüências significativas, uma vez que transpôs a própria legitimidade dos
Estados para fora do mesmo, criando, assim, uma relação de dependência. Como explica
Clapham,
In all but the most exceptional cases, those people who constituted the government had an interest in their own survival, and thus in their continued control over the state’s territory and population. If they could not achieve this end through the support of the population, they were likely to seek to achieve it through the support of outside powers, and their relations with the rest of the population were correspondingly altered.176
Tem-se, portanto, que o processo de descolonização teve influência sobre a
soberania dos países africanos de duas formas: primeiro, ao manter estruturas políticas que
perpetuaram os estreitos vínculos com as metrópoles ou com outros países externos ao
continente africano, o que facilitou a ingerência constante via elite política local; segundo,
onde essa forma contínua de exercício de poder externo não vingou, medidas coercitivas
175 Wallerstein, op. cit., p. 85-89. 176 Clapham, op. cit., p. 21.
86
foram tomadas de forma a alterar o caminho político dos países em questão. A seguir,
examinaremos o caso do Congo/Zaire, que, cabe lembrar, encaixando-se nesse segundo
grupo de casos, constitui uma das exceções ao processo geral de descolonização africana.
Antes de analisar o caso, contudo, algumas considerações devem ser levantadas
relativas ao contexto internacional. Até agora, viu-se o processo de descolonização
centrado na relação metrópole-colônia e como o período colonial afetou a conformação
dos Estados e sua propensão à ingerência internacional. Num primeiro momento, de fato, a
influência da Guerra Fria não se fez sentir de maneira tão significativa nas dinâmicas do
continente (embora, evidentemente, o próprio processo de descolonização e a retirada das
metrópoles do continente tenha tido como uma de suas causas a emergência das
superpotências). Isso porque na segunda metade da década de 1950 e primeira metade
da década de 1960, quando da primeira onda de descolonizações, a própria Guerra Fria
sofria transformações, passando de uma fase de esfriamento, entrando num período de
coexistência pacífica que desencadearia na détente. Saindo de uma violenta guerra na
Coréia, 1962 foi o ano da crise dos mísseis de Cuba, um dos momentos de maior tensão
entre as superpotências pelas possibilidades de reação que se apresentavam. O terror de
uma guerra atômica e uma nova consciência de reexame das relações entre Estados
Unidos e União Soviética não deixavam margem a um envolvimento mais aprofundado na
África. O primeiro momento de crise da descolonização que se enquadrou no contexto da
Guerra Fria foi o caso do Congo/Zaire, a ex-colônia belga.
ZAIRE (1960-1965)
A crise do Congo/Zaire, que se iniciou com o processo de independência (concluído
em junho de 1960), e “encerrou-se”177, em sua dimensão internacional, com o
estabelecimento do governo de Mobutu em 1965, apresenta um cruzamento de fatores
particularmente complexo. Não obstante seja considerada a primeira grande crise da
Guerra Fria na África Subsaariana, o desenvolvimento do processo aponta muito mais para
a convergência de interesses da Bélgica com os Estados Unidos, do que propriamente uma
crise aberta entre Estados Unidos e União Soviética. Essa interpretação é corroborada pelo
nível de envolvimento da União Soviética, que foi diminuto, se comparado às demais crises
no continente, e mesmo em comparação com o nível de envolvimento norte-americano e
belga.
177 Até hoje o Congo encontra-se mergulhado em crises internas e regionais, que foram desencadeadas desde o processo de independência. Aqui, quando o termo “encerramento” é utilizado, referência é feita ao nível de engajamento internacional, que, no caso, envolvia não apenas o contexto da Guerra fria, bem como a próprio processo de descolonização e o desvinculamento formal da metrópole belga da região.
87
Em termos de ingerência internacional, o caso do Congo/Zaire traz uma intersecção
de vários atores ingerentes e motivações diversas que explicam o envolvimento
internacional. Em primeiro lugar, tem-se a metrópole colonial, que, à diferença da França e
da Grã Bretanha, viu-se no, espaço de quatro anos, envolvida num processo
particularmente relutante de descolonização. Devido às características da colonização
belga, não houve um momento de preparo para a passagem de poder da metrópole para
a colônia, nem tampouco a transposição prévia de instituições ocidentais para o território
colonizado. À diferença do caso francês, não havia uma interação significativa entre a elite
local e a metrópole, testemunhando-se, portanto, um atraso no treinamento intelectual e
político para o processo de independência. Ao mesmo tempo, entre esses poucos
intelectuais, faltava uma interação em nível nacional, com o restante da população, o que
dificultou a formação de um movimento político organizado. Além disso, os cargos
administrativos da colônia eram concentrados em pessoal belga, entre outros motivos
porque aos congoleses faltava a capacitação técnica básica, que lhes era tolhida pelo
sistema colonial. Estes, entre outros fatores, fizeram com que houvesse um período de
letargia peculiar em relação à emancipação do país, que só foi rompido a partir de 1956.
Foi nesse momento que se iniciou um processo de tomada de consciência, calcado muito
mais em idéias soltas do que em programas políticos organizados. A partir de 1958, essa
discussão ideológica passou a ter reflexos de ordem prática, não apenas aprofundando as
demandas locais, guiadas, a partir de então, pelo ideário da independência, mas também
suscitando reações belgas que deram um tom de violência ao processo como um todo. O
marco da revolta foram os motins em Leopoldville (atual Kinshasa), violentamente reprimidos
pelos belgas em janeiro de 1959.178 Foi nesse episódio que Patrice Lumumba foi
encarcerado pela primeira vez, tornando-se, a partir de então, o maior símbolo do
nacionalismo congolês. Ao contrário da intenção belga, a prisão de Lumumba resultou na
sua exaltação enquanto líder e teve como conseqüência prática a mudança na estratégia
de Bruxelas: ao invés de resistir ao processo de descolonização, acelerá-lo e tentar manter
sobre os novos líderes um controle político que perpetuasse a relação colonial.179
A tentativa de uma transição apenas formal mostrou-se frustrada quando, no dia da
assinatura da independência, então eleito primeiro ministro, Lumumba discursou em tom
nacionalista que a luta do Congo apenas se iniciava. Ao invés de se ver agradecido pela
concessão da independência, o rei belga Baudouin viu a Bélgica ser acusada de uma série
da faltas contra o povo congolês, e o sistema colonial condenado como uma “humiliating
178 STENGERS, Jean. Precipitous decolonization: the case of the Belgian Congo. In: GIFFORD, Prosser; LOUIS, Wm. Roger (ed.). The transfer of power in Africa. Decolonization, 1940-1960. New Haven, London: Yale University Press, 1982. 179 DE WITTE, Ludo. The assassination of Lumumba. London, New York: Verso, 2001, p. 5.
88
slavery that was imposed on us by force.”180 O episódio deixou claro que qualquer plano
belga de manter sua influência direta sobre a ex-colônia seria minado enquanto Lumumba
estivesse no poder. A brecha estava aberta para o início da crise.
Uma das primeiras manifestações da crise foi a relutância belga frente à
nacionalização das forças armadas. O episódio gerou revoltas e terminou com a indicação
de alguns oficiais congoleses, entre eles Mobutu, a comandar o exército. Não houve, no
entanto, uma aceitação tácita do desfecho e um grupo de oficiais belgas reuniu-se em
Elisabethville, capital da província sulista de Katanga, cujo líder, Moïse Thsombe, era aliado
belga e rechaçou a decisão de nacionalização das forças armadas. Estava montado o
cenário para a primeira intervenção no Congo independente. Aproveitando o êxodo belga
da região e o estado de momentânea confusão, o governo belga autorizou o despacho de
tropas a Katanga, sob o pretexto de incidentes que estariam ocorrendo envolvendo
nacionais metropolitanos. Dez dias após a independência, o Congo via seu território
ilegalmente invadido por tropas estrangeiras, que culminaram numa tentativa de secessão
da província de Katanga, sob a liderança de Tshombe (em comungação com os belgas).
Não obstante a gritante violação de soberania, nenhuma reação internacional em defesa
do Congo foi observada.
Diante da invasão, a primeira reação do Congo foi pedir ajuda militar às Nações
Unidas contra a agressão. O que se seguiu foi um circo jurídico que demonstrou claramente
a parcialidade das Nações Unidas, em prol do Ocidente, bem como a utilização do
Conselho de Segurança pelas potências a fim de atingir objetivos de política externa
próprios.
Vale observar que, na data, o Congo ainda não era membro das Nações Unidas,
logo a “ajuda” viria através do pedido oficial do Secretário Geral, então Dag Hammarskjöld,
ao convocar a reunião do Conselho de Segurança (CS).181 O pedido congolês era bem
claro: ajuda militar contra uma agressão ao seu território. Nesse sentido, a resolução do CS
de 14 de julho decidiu: (1) prover ajuda militar ao governo congolês até que suas forças
armadas fossem capazes de cumprir suas funções adequadamente; (2) montar a operação
UNOC (United Nations Organization in the Congo) e (3) pedir formalmente a Bruxelas a
retirada das tropas de Katanga, sem, contudo, anunciar um prazo. A invasão belga, como
forma de violação da soberania do Congo independente (logo violação de princípio da
própria carta das Nações Unidas) não foi condenada. Como se não bastasse, ao tratar a
questão não como uma invasão, mas como manutenção da ordem, a ONU legitimou o
180 Lumumba, apud De Witte, op. cit., p. 2. 181 HOFFMAN, Stanley. In search of a thread: the UN in the Congo labyrinth. In: KAY, David A. (ed.) The United Nations political system. New York, London: John Wiley & Sons, Inc., 1967, p. 232
89
argumento belga de proteção da vida em um contexto de caos.182 Na prática, como
descreve De Witte,
The last Belgian soldier left Leopoldville on 23 July. The Blue Berets set up camp through the Congo, except in Katanga. While Brussels strengthened Tshombe’s regime in Katanga unhinderes, the UN kept the legal Congolese government on a tight rein. Hammarskjöld rejected all bilateral aid to Leopoldville from Moscow, Ghana, Guinea or any other country, stating that any aid to the Congo had to go through the United Nations.183
Ao revirar documentos, cartas e telegramas, De Witte mostra claramente que o
Secretário Geral agiu durante todo o processo de maneira ambígua: de um lado,
manipulava a jurisdição da ONU e as possíveis interpretações a justificar a postura da ONUC;
de outro, sua opinião pessoal era claramente pró-Ocidente, no sentido de concordar com o
perigo representado por Patrice Lumumba enquanto possível líder comunista a legitimar-se
na região.184
Evidentemente Hammarskjöld não pautou toda a movimentação no Congo em
função apenas de sua opinião sobre o assunto. Um terceiro agente fundamental nos
eventos que se seguiram na crise do Congo foram os Estados Unidos. Segundo Marte, o que
caracterizou a participação americana no processo de independência do Congo/Zaire foi
uma percepção errônea (misperception) da realidade de então. A revolução em Cuba, de
um lado, já havia marcado os Estados Unidos e aumentado sua preocupação com uma
possível expansão comunista no mundo. O momento da descolonização mostrava-se como
uma porta de entrada para novas influências comunistas na África. A ruptura da Guiné,
recém-independente, com a França, em prol de uma aproximação com Moscou, poderia
ser um prenúncio para os novos rumos a serem tomados pelo continente africano. A ação
americana, nesse sentido, foi muito mais um ato preventivo do que uma resposta a uma real
ameaça soviética na região.185 O que comprova esse argumento é que o próprio Lumumba
era acima de tudo um nacionalista fervoroso, não um comunista. Sua própria postura de
recorrer à ONU em primeiro lugar, antes da União Soviética, mostra sua intenção primordial
de consolidar um país recém “libertado” dentro de um sistema de Estados
internacionalmente reconhecido. Ademais, no período, a própria atuação da URSS frente à
crise do Congo foi relativamente branda, resumindo-se muito mais a manifestações
discursivas pró-soberania congolesa do que a atos unilaterais de apoio militar
(contrariamente a outros episódios no continente africano).186
182 De Witte, op. cit., p. 8-9. 183 Ibid. 184 Detalhes sobre os aspectos jurídicos da operação onusiana no Congo: Hoffman, op. cit. Para os aspectos políticos que motivaram as intervenções e posturas tanto da ONU, quanto da Bélgica e dos Estados Unidos: De Witte, op. cit. 185 Marte, op. cit., p. 176. 186 Ibid.; De Witte, op. cit.
90
O grande drama que se resvalou no Congo, contudo, foi o desfecho inicial dessa
crise: o assassinato do premier Lumumba, em 17 de janeiro de 1961. O assassinato e as
conseqüências oriundas do mesmo para o Congo constituem a forma mais brutal de
ingerência internacional. Primeiramente, a própria detenção de Lumumba e sua demissão
do governo por parte do presidente Kasavubu feriram toda forma de legalidade, nacional e
internacional. Sem levar em consideração a imunidade parlamentar do ministro, nem a
ONU, nem a Bélgica nem os Estados Unidos fizeram qualquer movimento no sentido de
tentar preservar o bem estar do líder político. Não obstante as manifestações formais de
Hammarskjöld e de Washington, com todo o pessoal presente no território congolês, em
momento algum foi tomada qualquer medida no sentido de proteger Lumumba. Após anos
de sigilo, a pesquisa levada a cabo por De Witte comprovou que o assassinato do premier
fora idealizado por todas as frentes envolvidas, inclusive pela CIA. A troca de
correspondência mostra que o ponto de concordância consistia na eliminação de
Lumumba do cenário político, e que o assassinato acabou por revelar-se a única forma de
eliminação definitiva, não apenas de Lumumba, mas de sua política nacionalista. De Witte
comprova que o assassinato foi o resultado de cumplicidade mútua entre Bélgica, Estados
Unidos e facções internas ao Congo. Após sua prisão e reclusão, em condições totalmente
desumanas e em contravenção com a legislação internacional, Lumumba acabou por ser
transferido exatamente para Katanga, a região mais inóspita para sua estadia, exatamente
em função da crise secessionista e dos movimentos antilumumbistas locais. Sua chegada,
acompanhada por sucessivos maus tratos, presenciada tanto por representantes da ONU
quanto por autoridades belgas foi totalmente relevada, e só passou a ser fator de
preocupação após a consumação de sua morte, juntamente com a de mais dois membros
parlamentares. A equipe que executou o assassinato do líder era composta, entre outros,
por belgas membros da polícia militar congolesa.
O descaramento da parcialidade da ONU revelou-se após o assassinato de
Lumumba. Após mandato pouco claro, que fortalecia o papel de Katanga contra o poder
central e legítimo congolês, a ONU autorizou imediatamente a invasão de Katanga para pôr
fim ao movimento secessionista! A Bélgica, por sua vez, antes em acordo com Katanga,
passou a focalizar novamente no governo em Leopoldville e na unificação nacional.
Kasavubu continuou como presidente e Tshombe acabou por ser apontado como Primeiro
Ministro. A crise frente à liderança política, no entanto, continuou até 1965, quanto Mobutu,
até então progredindo em suas funções político-militares, e com apoio dos Estados Unidos,
tomou o governo, removendo Kasavubu, proclamando a Segunda República e declarando
a si mesmo presidente, comandante chefe das forças armadas e presidente fundador do
sistema unipartidário. Finalmente estava consolidado um governo pró-ocidental no coração
da África.
91
O futuro do Zaire (assim renomeado por Mobutu) estava traçado. O que se seguiu foi
o mais terrível exemplo de mal governança estatal. A ingerência internacional que se iniciou
no processo de independência encontrou continuidade nos anos que se seguiram,
perpetuando Mobutu no poder, não obstante os claros indícios de corrupção e violação de
direitos humanos. A complacência dos Estados Unidos, incorporada nos sucessivos
empréstimos obtidos pelo Zaire no FMI e consolidada na cooperação em Angola, na
década de 1970, apenas mostra parte das máscaras assumidas pela atuação internacional
na soberania de um dos maiores países africanos. A grande violência do processo reside no
fato de que a violação ocorreu em um momento definidor na história do Congo. Lumumba
permaneceu menos de seis meses no poder. A soberania do país não durou mais que dez
dias, da assinatura da independência ao início da crise de Katanga. De maneira
descarada, um governo democraticamente eleito foi atropelado por forças políticas
internacionais e teve sua soberania violada com o consentimento de um órgão
internacional que tem como princípio base o respeito à soberania dos Estados! Tratou-se de
uma nítida forma de imposição de vontade sobre um Estado independente. De um lado,
houve a coincidência de interesses externos com o de facções internas. O resultado final,
contudo, embora fruto de uma ação conjunta, foi decididamente facilitado pela atuação
internacional. É difícil avaliar o que teria acontecido sem o envolvimento externo. A única
certeza, no entanto, é a de que a não-atuação, internacional, quando deveria e tinha
condições de ter atuado, alterou o rumo da história do Congo. É percepção deste trabalho
de que, nesse caso, a não-ação constituiu uma forma de ingerência, uma vez que foi
intencional, visando um objetivo específico e teve repercussões fundamentais na história do
Congo. Esse fato abalou as próprias bases de constituição do Estado congolês, que não
teve tempo sequer de se estruturar internamente, antes de enfrentar sua primeira crise. O
Congo nasceu imerso na crise e ainda hoje não conseguiu consolidar sua legitimidade
interna.
Por outro lado, se a não-ação foi o fator que levou à eliminação física de Lumumba,
foi um conjunto de ações afirmativas que levaram à sua captura. Entre essas ações, a
manipulação do Conselho de Segurança e a interpretação da Carta da ONU; os diálogos
constantes com os grupos rivais ao governo e o planejamento do assassinato do ministro
pela CIA, que não chegou a se concretizar, mas que foi elaborado, conforme evidências
documentais. Essas ações, e as demais que foram descritas, sem dúvida caracterizam uma
forma de ingerência que se pautaram num primeiro momento pela coerção (quando havia
a esperança de que, por pressão, Lumumba cedesse aos desígnios ocidentais),
seguidamente transformadas em imposição, vista a impossibilidade de negociação e
vislumbrando como única forma de atingir o fim político a eliminação física do obstáculo.
92
3.7 O ÁPICE DA GUERRA FRIA NA ÁFRICA: A DÉCADA DE 1970
A década de 1960 provou-se, afinal, pouco frutífera para a superpotência socialista
no que diz respeito à África. De um lado, o processo de descolonização desenvolveu-se
para além da disputa bipolar, muitas das antigas metrópoles exercendo um papel premente
no processo. Na prática, isso significou que os Estados Unidos, enquanto parceiro das ex-
potências coloniais, conseguiria manter o status quo na região. Ao mesmo tempo, as
tentativas soviéticas de infiltrar-se na região e consolidar governos socialistas fracassaram,
como provaram a crise do Congo, a queda de Modibo Keita no Mali em 1968, de Nkrumah
em Gana em 1966 e de Ben Bella na Argélia em 1965.
A década de 1970 abre espaço para um novo contexto na África subsaariana, em
termos de ingerência internacional associada à Guerra Fria. Enquanto na década de 1960
iniciava-se um processo de distensão entre as superpotências, e, como foi visto, a crise do
Congo/Zaire, não chegou a colocar as mesmas em posição de enfrentamento direto, a
partir de 1970, mecanismos passam a ser buscados no sentido de harmonizar as relações
entre União Soviética e Estados Unidos. Nesse sentido, às questões estratégicas, como a
busca de negociações referentes a armas estratégicas, culminando no SALT, e à discussão
em torno da não-proliferação de armas nucleares, somavam-se acontecimentos de ordem
diversa da lógica bipolar. No campo econômico, isso ficou claro a partir das crises que
abalaram a década de 1970 e que tiveram, entre outras repercussões, a movimentação do
chamado Terceiro Mundo, no sentido de buscar um espaço próprio na arena internacional,
bem como tentar consolidar uma nova ordem econômica internacional.187 Em decorrência
dessa busca pela harmonização da relação, e após a exaustão de crises agudas como
Coréia, Cuba e Vietnã, a África apareceu como palco estratégico onde as forças das
superpotências poderiam ser medidas sem que houvesse prejuízo ou maior
comprometimento das partes.
No contexto africano, pelo menos dois eventos vieram a alterar a conjuntura política
e, em última instância, favorecer uma penetração soviética no continente. Primeiro, a crise
em Portugal e a inevitabilidade de sua retirada enquanto potência colonial da África. Nesse
sentido, ao desvincular-se da potência ocidental, a formação de movimentos pela
independência em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau acabou por facilitar a aliança com
parceiros “antiocidentais”. Um segundo evento significativo foi a Revolução Etíope de 1974,
que, embora decorrente prevalentemente de fatores internos, alterou a balança de poder
187 SARAIVA, José Flávio Sombra. Détente, diversidade, intranqüilidade e ilusões igualitárias. In: SARAIVA, José Flávio Sombra (org.) Relações Internacionais. Dois séculos de história. Entre a ordem bipolar e o policentrismo (de 1947 a nossos dias). V. II. Brasília: IBRI, 2001.
93
regional no Chifre da África, bem como abriu as portas para uma das maiores crises
bipolares no continente.188
Um dos marcos da década de 1970 foi a imensa transferência de armas para o
continente africano, que refletiu a militarização das relações exteriores da África e que teve
como um de seus principais reflexos o prolongamento de conflitos internos ao longo das
décadas seguintes. No que toca a ingerência, a transferência de armas mostra-se como um
dos meios mais significativos de alteração de conjunturas domésticas, com reflexos não
apenas na decisão da vertente política que vai ser dominante no país, mas também, e
principalmente, na própria consolidação do Estado africano.
Segundo Clapham189, na década de 1970, não obstante boa parte das armas fosse
transferida para grupos rebeldes dentro dos países, a grande maioria dessas importações
era direcionada às forças armadas dos governos dos Estados juridicamente constituídos
(aqueles que se formaram dentro de um esquema de concessão formal de soberania, vide
supra). No entanto, e de maneira paradoxal, o fluxo de armas que entrou nesses países
acabou por não apenas não fortalecer os Estados receptores, mas sim enfraquecê-los e, em
alguns casos, até mesmo destruí-los. Em parte, isso decorre do fato de que o excesso de
fluxo de armas encorajou os governantes a seguir uma agenda que visava apenas
consolidar suas ambições hegemônicas, sem perceber para as mesmas um limite. Isso teria
levado à consolidação do chamado estado de monopólio, que não leva em consideração
a oposição interna, tão pouco as características endógenas de suas sociedades
constituintes. Um segundo problema, apontado por Clapham, seria a confusão entre
controle de armas e controle do poder. Aos governantes receptores de armas faltava, em
muitos casos, não apenas a habilidade militar de utilizar o próprio recurso, mas também
mecanismos de controle social que conferem legitimidade estatal. Em suma, o poderio das
armas teria levado a um excesso de confiança por parte dos governantes, levando-os a
ignorar outros fatores de estabilidade interna. A existência de grupos rebeldes e movimentos
de guerrilha conferem uma dimensão do problema. Uma vez dentro do país, as armas e
equipamentos são roubados, comprados, ou trocados, gerando uma dificuldade de
controle dos mesmos, logo de controle da própria força. Se a isso somarmos a porosidade
das fronteiras africanas, tem-se uma noção da complexidade que o problema das armas
adquiriu no continente e como isso teve reflexo na consolidação do Estado.
A seguir, serão analisados dois casos clássicos de ingerência internacional na África:
a independência de Angola e a Guerra do Ogaden, entre Somália e Etiópia, que na
verdade se estende no tempo para além do próprio conflito. À diferença do Congo/Zaire, a
188 Clapham, op. cit., p. 151-52. 189 Ibid., p. 155-58.
94
participação externa nesses dois casos está diretamente vinculada à lógica da Guerra Fria,
sem maiores influências das ex-potências coloniais. Outra diferença significativa reside no
papel ativo, quando não manipulador dos agentes internos aos Estados em relação às
superpotências: de um lado, enquanto no Congo havia um governo legítimo, Angola
encontrava-se indefinida em termos de representação, enquanto tanto Somália quanto
Etiópia vinham de um período de transição governamental caracterizada pelo componente
militar. Nesse sentido, a sobrevivência (ou não) de seus regimes esteve diretamente
vinculada à atuação das superpotências na região.
ANGOLA (1975-1976)
A ingerência de Estados Unidos, União Soviética e Cuba e, em menor grau, China, na
independência de Angola é estudada em diversas obras acadêmicas que nem sempre
concordam quanto a pontos fundamentais (como as motivações que levaram à
participação no evento, ou a coordenação entre Cuba e URSS, entre outros). No presente
relato, teremos por base uma das mais recentes obras sobre o tema, que traz algumas
reinterpretações a partir do trabalho com arquivos recém liberados. Uma vez que seu autor,
Piero Gleijeses, traz no texto a discussão com as obras mais relevantes sobre o tema,
optamos por não nos aprofundar no paralelismo entre as interpretações, conferindo ênfase
nas formas de ingerência das partes envolvidas e nas conseqüências oriundas da mesma. 190
A queda do regime Caetano, em 1974, trouxe mudanças imediatas na política de
Portugal para com suas colônias. Imediatamente deu-se início ao processo de
descolonização, concedendo-se a independência à Guiné-Bissau ainda em 1974 e
negociando-se a independência de Moçambique com a Frelimo para junho de 1975.
Angola mostrou-se um caso mais complicado. Desde a década de 1960 evidenciou-se a
formação de três grupos de libertação, a saber: o MPLA (Movimento para Libertação de
Angola), liderado por Agostinho Neto; a FNLA (Frente Nacional para Libertação de Angola),
liderada por Holden Roberto; e a UNITA (União Nacional para Independência Total de
Angola), liderada por Jonas Savimbi, formada um pouco depois, após ruptura com a FNLA.
Especificamente o MPLA caracterizou-se por ser o grupo de filiação mais híbrida, incluindo a
grande parte da população mulata e boa parte de brancos (esses dois grupos eram vistos
com suspeitas por boa parte da população, em especial pelos outros dois grupos, que os
acusavam de concubinar com Portugal). Acima de tudo, porém, o marco do MPLA era a
dominância de uma elite intelectual, grupo carente nos demais movimentos.191
190 Entre as obras consultadas que tratam do tema: Laïdi, op. cit.; Marte, op. cit.; Valenta, op. cit.; Kempton, op. cit. 191 Gleijeses, o p. cit., p. 235-37.
95
Diante da fragmentação interna, o acordo de Portugal com Angola não definiu qual
dos grupos viria a liderar o futuro político do país. Assinado em 15 de janeiro de 1975, o
Acordo de Alvor previa a cessão da independência em 11 de novembro do mesmo ano.
Até então, o governo de Angola ficaria sob o jugo de um alto comissário português, a ser
assistido por um governo de transição, presidido por um conselho composto por
representantes dos três movimentos, MPLA, UNITA e FNLA. As forças armadas, por sua vez,
seriam constituídas por tropas dos três grupos, 8 mil de cada, bem como 24 mil tropas
portuguesas. Eleições presidenciais seriam realizadas em 31 de outubro de 1975. Antes disso,
contudo, o país estaria tomado por uma verdadeira guerra civil.
Havia cerca de dez anos que Cuba havia se afastado de Angola. Os últimos
contatos datavam de 1965. Após Alvor, e diante da divisão interna que foi se acentuando
cada vez mais, Neto recorreu a Havana, após já ter negociado com a URSS ajuda militar
que, pelo acordo, se concretizaria após alguns meses. O apoio de Havana não veio de
imediato. Sequer houve maiores pressões por parte de Neto, no sentido de obtê-la. O MPLA,
na verdade, contava com Moscou e vinha recebendo ajuda em dinheiro da Iugoslávia de
Tito. Na verdade, nem a URSS, nem Cuba, nem o próprio MPLA esperavam tão cedo a
guerra civil. Os primeiros confrontos, no entanto, começaram logo após a formação do
governo de transição.192
Quem liderou o avanço militar, num primeiro momento, foi a FNLA, então apoiada
por Mobutu (Zaire) e militarmente melhor equipada. A UNITA, de outro lado, era inicialmente
o mais fraco dos movimentos, com um exército pequeno e ainda em busca de
patronagem. Ainda assim, quem tomou a capital logo no primeiro momento, em 9 de julho
de 1975, foi o MPLA, o que lhe garantiu uma certa vantagem ao longo do conflito que se
seguiria.
Foi somente na segunda metade de julho que Cuba mostrou ação e respondeu às
novas e repetidas requisições de ajuda por parte de Neto. O atraso não é muito bem
explicado pelas fontes, mas deduz Gleijeses que Castro estivesse muito voltado para a
política doméstica. Há argumentos que frisam também o momento de tentativa de
construção de um modus vivendi com os Estados Unidos. De qualquer forma, após as
lembranças traumáticas do Congo, Fidel optou por, primeiro, enviar uma equipe para
analisar como de fato se desenvolvia a situação em Angola. Após relatório detalhado,
Havana acatou o pedido de ajuda e montou uma equipe de 480 instrutores, a serem
despachados para Angola. A chegada dos mesmos consumiu-se em meados de outubro,
via Brazzaville.193
192 Ibid., p. 246-50. 193 Ibid., p. 254-65.
96
Enquanto isso, tropas da FNLA eram treinadas no Zaire por instrutores chineses. Os
Estados Unidos, futuros parceiros da coalizão anti-MPLA, demoraram a de fato engajar-se no
conflito angolano. De um lado, outros eventos internacionais, em especial na Ásia e no
Oriente Médio, chamavam a atenção do governo. De outro, após a queda do governo em
Portugal, a preocupação passou a ser muito mais com o próprio Portugal e sua orientação
de esquerda do que suas colônias africanas. Além do mais, uma vez que a década de 1960
havia se provado tão pouco favorecedora ao comunismo, não restavam maiores
preocupações com o continente, em termos geoestratégicos. O envolvimento em Angola
mostrou-se súbito e ad hoc. Ainda assim, houve discussões internas quanto a qual dos
movimentos apoiar e como se portar diante do conflito. O próprio representante americano
em Angola enviou inúmeros relatos a Kissinger argüindo que o MPLA era o melhor
estruturado dos três movimentos. Contudo, a decisão final foi feita muito mais em função do
contexto da Guerra Fria do que sob considerações pragmáticas quanto ao futuro de
Angola. Como aponta Gleijeses, Ford nada sabia de Angola e a questão ficou nas mãos de
Kissinger.194
Em 18 de junho, o presidente americano aprovou uma ajuda secreta a Roberto
(FNLA) e Savimbi (UNITA). Trabalhando da maneira mais indireta possível, os Estados Unidos
usaram o Zaire como plataforma de cobertura. Para lá foram enviados os primeiros
carregamentos de armas para a FNLA e a UNITA. Logo o norte do país estaria controlado
pelas tropas da FNLA. Ainda assim, dificuldades seriam encontradas nos sucessivos ataques
a Luanda, onde o MPLA continuava reinante. Em resposta, os Estados Unidos enviaram
novos carregamentos de armas ao Zaire, passando por cima das regras do programa de
assistência militar dos EUA, segundo o qual armas enviadas pelos Estados Unidos em ajuda
ao Zaire não poderiam ser utilizadas em conflitos externos, no caso em Angola.
Paralelamente, um novo aliado passou a colaborar com o envio de armas ao FNLA: a África
do Sul. 195
A entrada da África do Sul em Angola é cercada de polêmicas, especialmente no
que se refere à cumplicidade dos Estados Unidos. De um lado, a África do Sul tinha interesse
em manter sua presença ao sul de Angola em função da Namíbia e do grupo de libertação
que lá havia se formado e lançava constantes ataques clamando por independência, a
SWAPO (South West Africa People’s Organization). De outro, tanto Savimbi quanto Roberto
recorreram à África do Sul em busca de apoio militar para suas operações. Este veio,
inicialmente, via carregamento de armas. Posteriormente, por meio do envio de tropas sul-
africanas.
194 Ibid., cap. 13. 195 Ibid., p. 258, 268-69.
97
Embora haja negação veemente por parte do governo americano quanto a
qualquer forma de diálogo com Pretória na questão angolana, evidências apontam para
uma coordenação entre as atuações dos dois países. A inibição é claramente justificada
diante da condenação internacional ao regime do apartheid. Contudo, a própria ação da
África do Sul e a omissão de qualquer menção ao fato nos relatórios da CIA levam a crer
que o próprio silêncio foi voluntário, no sentido de não gerar maiores suspeitas de
cumplicidade.
Um mês depois da primeira aprovação de ajuda à FNLA, em 17 de julho, um plano
revisado da CIA é aprovado pelo governo americano. No dia seguinte, Ford autoriza o envio
de 6 milhões de dólares (a serem seguidos por mais 8 milhões em julho e 10,7 milhões em
agosto) a fim de dar início à operação secreta da CIA IAFEATURE.196 Paralelamente, no
mesmo período, a África do Sul, sob o governo Vorster, lança uma série de operações que
irão culminar com a investida sobre os campos da SWAPO ao sul de Angola em 22 de
agosto. Gleijeses observa a coincidência do período em que se iniciaram as operações
americana e sul-africana. Ainda assim, não obstante esse trabalho duplo no sentido de
reforçar a FNLA/UNITA, o MPLA continua ganhando terreno. Em ato de desespero, a África
do Sul lança uma coluna chamada Zulu, que entra em Angola pela Namíbia em 14 de
outubro. Embora haja depoimentos que confirmem o pedido explícito de ajuda de
membros do alto escalão do governo americano à África do Sul, Kissinger nega
veementemente qualquer envolvimento, mesmo indireto, no episódio. Anos depois, após o
abandono internacional, em desabafo, o então presidente sul-africano Botha relembra com
desgosto:
Against which neighbouring states have we ever taken aggressive steps? I know of only one occasion in recent years, when we crossed a border that was in the case of Angola when we did so with the approval and knowledge of the Americans. But they left us in the lurch We are going to retell that story: the story must be told of how we, with their knowledge, went in there and operated in Angola with their knowledge, how they encouraged us to act and, when we had nearly reached the climax, we were ruthlessly left in the lurch.197
Fato é que nem mesmo a Zulu foi suficiente para quebrar a liderança do MPLA em
Luanda. O fator surpresa, que nem Estados Unidos nem África do Sul contavam encontrar,
foi a participação de tropas cubanas nos combates travados com o MPLA. A primeira
participação cubana em combate ocorreu em 23 de outubro, diante de ataque da FNLA (e
tropas zairenses) em Morro de Cal. Cerca de 40 instrutores participaram na resistência do
MPLA. O envio de tropas, no entanto, somente ocorreu mais tarde, em reação à atuação
sul-africana. Diante da investida, que Castro cria piamente estar vinculada aos Estados
196 Ibid., p. 293. 197 Botha, Jan. 27, 1976, Republic of South Africa, House of Assembly Debates, col. 114, apud Gleijeses, op. cit., p. 299.
98
Unidos, em 7 de novembro dois aviões saíram de Havana, carregando a bordo 652 homens
do batalhão das Forças Especiais. Foi o início da Operação Carlota. Ao contrário do que se
poderia pensar, a decisão foi tomada de maneira unilateral. Castro optou por primeiro agir,
depois avisar os soviéticos, em parte porque já tinha tomado a sua decisão; em parte
porque corria o risco de receber uma negativa (como já havia ocorrido anteriormente); por
fim, implicitamente, Castro esperava que, uma vez iniciada a ação, os soviéticos apoiariam
a operação.198 Foi o que aconteceu.
Há uma grande discussão em torno da participação de Moscou na guerra de
independência de Angola. A dúvida resta sobre quando de fato Moscou teria iniciado o
envio de armas ao MPLA. A dificuldade de acesso aos arquivos soviéticos não colabora
para um esclarecimento sobre o fato. Tudo leva a crer que os primeiros envios de ajuda ao
MPLA se deram a partir de março de 1975, embora também fique evidente que houve uma
intensificação a partir de novembro e dezembro, quando Cuba já estava presente em
Angola. Aparentemente, não havia muito entusiasmo por parte de Moscou frente à
empreitada em Angola. Havia mesmo suspeitas sobre a composição do próprio MPLA, além
de que o momento de construção da détente não favorecia a busca por embates com os
Estados Unidos.199 Ainda assim, Moscou acompanhou o desenvolvimento da situação e, no
segundo momento do conflito, passou a agir de maneira coordenada com Havana,
entregando material de guerra, portanto, não apenas diretamente ao MPLA, mas a Cuba.
As repercussões das subseqüentes vitórias do MPLA foram decisivas. No dia da
independência, os portugueses simplesmente se retiraram sem escolher qual dos
movimentos ficaria no poder. O MPLA, no entanto, continuava firme em Luanda, o que fez
com que a “coalizão” FNLA/UNITA declarasse uma República Democrática Popular de
Angola com capital provisória em Huambo, como contraparte a República Popular de
Angola, declarada por Neto.
Novas batalhas seguiram-se à independência, sendo a mais importante delas a de
Ebo, ao sul de Luanda, onde a Zulu sofreu derrota das tropas cubanas, que, então, haviam
dividido os trabalhos com as forças armadas do MPLA (FAPLA). A derrota sul-africana
causou choque e temor do que viria dali para frente, culminando no recuo da Zulu ao sul.
Havana e Moscou, no entanto, seguiram trabalho conjunto, a primeira enviando mais
tropas, a segunda, mais carregamentos de armas.200 Diante da situação, restou à CIA
recorrer a mercenários. A busca por mercenários chegou até ao Brasil, recebendo a
negativa deste governo. Ao final, foram contratados alguns mercenários franceses e vários
britânicos. Esse ato de desespero provou-se um dos menos proveitosos aos Estados Unidos:
198 Gleijeses, op. cit., p. 305-07. 199 Ibid., cap. 16. 200 Ibid., p. 311-20.
99
ao alto custo das contratações, somaram-se magros resultados. Cerca de 250 mercenários
adicionados aos esforços já presentes em campo não conseguiram conter o MPLA. Alguns
morreram.201 Entrementes, o reconhecimento do Estado Angolano do MPLA vinha se
concretizando, tendo sido o Brasil o primeiro a se manifestar a favor.
Diante do fracasso da última tentativa americana, a África do Sul viu-se de fato
isolada, encontrando na retirada a menos nociva das opções. Ainda assim, sua retirada foi
acompanhada da humilhação na ONU, que reconheceu a invasão sul-africana em Angola
e a condenou a conceder reparações de guerra. Como conseqüências para a África do
Sul, observou-se não apenas o fortalecimento da SWAPO, que ganhou na nova Angola um
terreno fértil de operação, mas também o abalo do nacionalismo baseado no apartheid. A
expulsão do destemido e nunca derrotado exército branco trouxe novas esperanças à
população negra na sua busca pelo desmoronamento do regime segregacionista.202
Infelizmente o conflito em Angola não terminou então, prolongando-se por mais 25
anos, trazendo consigo todas as mazelas de uma guerra sangrenta e sem limites. A questão
da ingerência internacional poderia ir muito além deste breve episódio da independência,
dada a continuidade da presença das tropas cubanas no território angolano, bem como a
continuidade do apoio financeiro e militar americano à UNITA. Por uma questão de ordem
prática, contudo, opta-se aqui por analisar apenas essa brecha histórica, em que a
atuação internacional assumiu formas variadas. Não obstante o episódio comece antes da
proclamação formal da independência, e, portanto, não existisse legalmente o Estado
angolano, fica claro o peso das forças externas na definição do rumo político que o país
viria a tomar. De fato, e aqui uma análise contrafactual pode ser útil, se não fosse o apoio
de Estados Unidos, China e Zaire, posteriormente África do Sul, à FNLA e UNITA, muito
provavelmente o MPLA teria consolidado sua supremacia bem antes da própria declaração
da independência. Isso porque não apenas o MPLA era o movimento mais consolidado dos
três, mas também o melhor organizado militarmente. O fato de poder contar com o apoio
externo fez com que tanto a FNLA quanto a UNITA sentissem maior confiança para
mergulhar num conflito violento na esperança de atingir a liderança política do país, mesmo
que sua representatividade fosse seriamente minada por seu aspecto mormente étnico e
exclusivo em relação à população mulata e branca.
De um lado, os Estados Unidos poderiam ter entrado em acordo com o próprio MPLA
e aguardar a independência de Angola para travar relações diplomáticas. A decisão por
atuar sob cobertura, no entanto, foi decorrente de uma visão extremamente limitada da
política de Estado. Segundo Gleijeses, o que guiou a decisão de Kissinger foi o prestígio dos
201 Ibid., p. 233-39. 202 Ibid., p. 339-46.
100
Estados Unidos diante da Guerra Fria. Conforme fala de Kissinger em encontro do National
Security Council, em 27 de junho:
Playing an active role in Angola would demonstrate that events in Southeast Asia have not lessened our determination to protect our interests. In sum we face an opportunity – albeit with substantial risks – to preempt the probable loss of Communism of a key developing country at a time of great uncertainty over our will and determination to remain the preeminent leader and defender of freedom in the West.203
Em suma, havia claramente uma visão geopolítica calcada em torno da relação
com a União Soviética.
De seu lado, a União Soviética mostrou, mais uma vez, um comportamento
oportunista. Se já havia iniciado o envio de ajuda militar em meados de 1975, por outro
lado, intensificou a ajuda após o passo decisivo tomado por Havana. Interveio, desta forma,
de maneira cautelosa, intensificando após perceber os passos tomados pelos Estados
Unidos. Na realidade, as duas superpotências trataram de resguardar seu envolvimento
indireto, bem como contaram com parceiros externos decisivos em sua empreitada:
Moscou com Cuba, Estados Unidos com África do Sul e Zaire.
Independentemente do final do episódio, fica claro que todos os atores externos
envolvidos tinham como objetivo definir o tipo de governo que viria a tomar posse em
Angola. Para tanto, utilizaram-se dos meios disponíveis: armas, dinheiro e pessoal. Ao mesmo
tempo, cada parte trabalhava internamente com o consentimento de uma das facções.
Nesse sentido, pode-se dizer que ocorreu uma ingerência contratual, ou consensual. Mas
quem era de fato a representante do Estado Angolano? Num primeiro momento, uma vez
que não havia Estado independente, pode-se dizer que os três movimentos pleiteavam essa
representação. A ingerência, portanto, ocorreu com seu consenso e sem afetar de maneira
direta a autoridade do Estado. A partir da declaração de independência, e, mais tarde, do
reconhecimento gradual da autoridade do MPLA, a situação mudou. De um lado, o apoio
ao MPLA passou a ser o apoio ao governo legítimo de Angola. Houve, portanto, uma
ingerência contratual, com o consenso do Estado angolano. De outro lado, a atuação das
demais facções se transformou, daí que o apoio dado às mesmas passou a ser uma clara
forma de coerção, no sentido de uma força externa que pressionava o Estado a mudar seu
sistema político representativo. Isso em parte explica o isolamento da África do Sul e sua
súbita (mas não permanente) retirada.
CHIFRE DA ÁFRICA
Os eventos que ocorreram no Chifre da África ao longo da década de 1970 e 1980
são reflexo da associação de fenômenos domésticos e regionais ao contexto da Guerra Fria
203 Quotations from NSC, Response, p. 82, and Kissinger to Ford, Meeting of the National Security Council, Friday, jun. 27, 1975, 2.30 pm, p. 6-8, NSC, apud Gleijeses, op. cit., p. 355.
101
e o conseqüente envolvimento das superpotências. Se, de um lado, observa-se o jogo dos
atores locais com Estados Unidos e União Soviética no que concerne à obtenção de ajuda
militar, de outro constata-se o quanto a presença das superpotências teve conseqüências
diretas na perpetuação de determinados regimes, bem como no resultado do conflito
regional.
Quando falamos de Chifre da África, referimo-nos aqui à região noroeste da África,
que compreende os seguintes países: Etiópia, Somália, Eritréia, Djibouti, Quênia e Sudão. Esse
conglomerado forma, nas palavras de Buzan, um complexo de segurança, no sentido de
que as principais questões de segurança de cada um desses países está ligada
intrinsecamente à segurança do outro.204 Isto significa que o fator regional é extremamente
forte, entre outros motivos, devido à porosidade das fronteiras. Uma vez que a região se
caracterizou, durante o século XX, por uma série de conflitos internos e transfronteiriços, a
idéia de complexo de segurança torna-se ainda mais forte.
Ainda assim, nem todos os países da
região suscitaram o mesmo interesse
internacional. Segundo Lyons, o centro do
sistema seria a Etiópia, uma vez que é o país
que faz fronteira com todos os demais, além
de possuir os vínculos mais estreitos com
cada um deles do que os demais entre si.
Soma-se a isso sua população de cerca 50
milhões de habitantes (texto de 1992), o que
se reflete em seu poder militar potencial.205 O
interesse internacional e o foco na região
comprovam essa tese. Embora o Chifre da
África tenha tido sua posição
sobrevalorizada em termos estratégicos
desde a construção do Canal de Suez, foi
após a Segunda Guerra Mundial que se observou um movimento no sentido de conferir à
região uma atenção especial. Nesse sentido, a Etiópia foi claramente “alvo” dos Estados
Unidos tão logo se viu libertada da invasão italiana (que durou de 1935 a 1941). Na mesma
data, a Eritréia, que se encontrava sob jugo italiano desde 1889 também foi “libertada”,
embora recolocada sob administração britânica até 1951. No ano seguinte, sob resolução
das Nações Unidas, foi anexada à Etiópia como território autônomo, sob um esquema
204 Buzan, apud LYONS, Terrence P. The Horn of Africa Regional Politics: a Hobbesian World. Columbia University Press, 1992, p. 155. 205 Lyons, op. cit.
3.3 Chifre da África
102
federativo. Na ocasião, os Estados Unidos lideraram a idéia e não coincidentemente. Como
observa Marte, antes da votação da resolução, os Estados Unidos já haviam contactado o
imperador etíope Haile Selassie a fim de planejar a construção de uma estação de
comunicação, chamada Kagnew, na Eritréia.206 Em 1953, os dois países fecharam acordo
que concedia aos Estados Unidos 25 anos de concessão de uso da estação. Em troca, os
Estados Unidos se comprometiam com o treinamento das forças armadas etíopes para
operações de contra-insurgência. Paralelamente, outro acordo foi firmado, que garantia a
ajuda militar americana em termos financeiros e de pessoal para treinamento militar, bem
como provia também assistência econômica à Etiópia.207 Nove anos depois, em 1962, a
Etiópia anexaria formalmente a Eritréia como sua província, passo igualmente acobertado
pelos Estados Unidos.
O período que se seguiu, até 1977, quando da deposição do imperador etíope, foi
marcado por um intenso fluxo de investimentos americanos à Etiópia. Em termos práticos, a
Etiópia foi o maior receptor de ajuda militar americana no período, recebendo um total de
185 milhões de dólares em assistência militar gratuita. Na época, os Estados Unidos também
aprovaram um total de 36 milhões de dólares em créditos para vendas militares, além de
oferecer uma ajuda em treinamento militar equivalente a 22 milhões de dólares para a
instrução de 3.912 militares etíopes. Durante as décadas de 1960 e 1970, mais de 45% de
toda a transferência de armas norte-americanas foi direcionada para a Etiópia.208 Em
dezembro de 1960, o papel americano foi ainda fundamental na contenção de um golpe
de Estado contra o imperador, enquanto este estava em visita oficial ao Brasil.
Imediatamente após a independência, não obstante a relação de amizade
privilegiada com os Estados Unidos, a Etiópia também tratou de consolidar boas relações
com a União Soviética. Já tendo garantido a ajuda militar americana, Haile Selassie visitou
Moscou em 1959, ocasião em que Kruschev também disponibilizou a quantia de 100 milhões
de dólares em crédito à Etiópia, deixando manifesta a possibilidade de estender a ajuda em
termos até mais favoráveis do que os dispostos pelos Estados Unidos. Eis que, nesse
momento, portanto, a Etiópia pôde se armar intensamente em razão das boas relações
com ambas as superpotências, realizando um “jogo” que não comprometesse a ajuda de
nenhuma das partes. De fato, diante da proposta soviética, os Estados Unidos aumentaram
ainda mais o seu nível de assistência, de forma a manter o “cliente” em sua órbita de
influência.209 Essa maciça transferência de armas para a Etiópia teve sérias implicações para
a região do Chifre da África no futuro. Os conflitos que se seguiram, e se postergaram ao
206 Marte, op. cit., p. 205. 207 Ibid., p. 212. 208 LeFebvre, Arms in the Horn, apud Marte, op. cit., p. 214. 209 Marte, op. cit., p. 216.
103
longo de décadas, demonstraram claramente o quanto a fusão da lógica de conflito
regional com a lógica da Guerra Fria foi nociva para o desenvolvimento da região e a
consolidação do Estado local.
Enquanto a Etiópia foi o primeiro canal de interesse das superpotências no Chifre da
África, a independência da Somália trouxe algumas alterações na configuração de poder
regional. A história da Somália se diferencia da etíope, entre outros fatores, pelos fortes
vínculos que esta possui com o mundo árabe e o islamismo. Nesse sentido, essa propensão
se refletiu muito mais em conflitos entre os dois países, do que em cooperação.210 Além
disso, outro fator diferencial foi a colonização da Somália. Durante o período colonial, a
região foi dividida em cinco regiões: a França respondeu pela administração da região na
fronteira com o Djibouti; Grã-Bretanha e Itália disputaram a jurisdição sobre a faixa do
Oceano Índico; a Etiópia manteria o controle na região do Ogaden; por fim a parte ao
norte do Quênia ficaria sob a administração britânica.211 Essa dispersão trouxe
conseqüências póstumas, uma vez que um dos grandes objetivos de política interna e
externa da Somália, após sua independência em 1960, foi exatamente a de reunir o povo
somali dividido na época colonial. A idéia de uma “Grande Somália” colocou Mogadíscio
em confronto com praticamente todos os seus vizinhos.
Desde a independência, a Somália contou com a ajuda financeira tanto dos
Estados Unidos, quanto da União Soviética. A lógica da Guerra Fria, no entanto, não tardou
a se manifestar na região. Em 1963 a Somália firma acordo com a União Soviética, pelo qual
recebe um pacote de ajuda no valor de 32 milhões de dólares a fim de constituir um
exército de dez mil tropas, bem como desenvolver uma força aérea. Ao acordo seguiu-se a
chegada de inúmeros instrutores soviéticos no país, bem como a ida de vários militares
somalis à URSS para treinamento.212 Ainda assim, e não obstante o início de conflitos com a
Etiópia na região fronteiriça, a Somália não chegou a se consolidar como zona de influência
exclusiva de Moscou. Ajuda em termos econômicos e militares também provinha de outras
fontes, ocidentais ou não (EUA, China, por exemplo). Em 1969, porém, a situação sofre um
forte revés, como o golpe que coloca o Major General Muhammed Siad Barre no poder.
Cedo se configura uma orientação do governo para a esquerda: descrevendo o golpe
como uma revolução marxista, Siad Barre estabelecia na Somália uma nova sociedade,
baseada, segundo ele, nos princípios do “socialismo científico”. Não obstante não haja
evidências de uma ligação soviética com o golpe em si (pelo contrário, a conjuntura interna
explica melhor o rumo dos acontecimentos), no período posterior observou-se o aumento
significativo da influência soviética na Somália. Entre 1970 e 1975, o exército somali quase
210 Ibid., p. 207. 211 Lyons, op. cit., p. 168. 212 Marte, op. cit., p. 220-21.
104
duplicou, passando de 12 mil para 23 mil homens. Além da transferência de equipamentos
militares, os soviéticos também proveram substancial ajuda não militar, como ajuda
humanitária na drástica seca de 1974-75.213
Aparentemente, os interesses que guiaram as superpotências na região foram de
cunho estratégico, em especial um interesse focado no Oceano Índico. Como aponta
Marte:
From the 1970s onward, the Indian Ocean increasingly became a contested area between the United States and the Soviet Union. In the late 1960s, the Soviet Union had achieved strategic parity with the United States and decided to project its power into this region. (…) From the Soviet point of view, having a naval presence in the Indian Ocean could work as a deterrent and reduce the possibility of close-up operations in case of major conflict. In the early 1960s, the United States had established a base on Diego Garcia in the Indian Ocean and was implementing plans to expand its naval and military activities in the region (…). The Horn of Africa, bordering the Indian Ocean, therefore, became a stake in the East-West competition in the region. (…) both superpowers had set out to apply sea power to obtain political objectives.214
Em suma, existia de fato um interesse na região como ponte para outras partes do
globo, em especial o Oceano Índico e o Oriente Médio. Nesse sentido, aos interesses
americanos na estação Kagnew, compensaram os soviéticos investindo em Berbera, na
Somália.
A consolidação da disputa das superpotências na região trouxe como
conseqüência a escalada de uma corrida às armas, que se refletiu na competição entre
Somália e Etiópia. Evidentemente, a resposta de uma superpotência em relação ao seu
cliente trazia reações mais intensas do outro lado da fronteira, e vice-versa. Paralelamente,
a Etiópia passava a sofrer pressões internas relativas à Eritréia, que clamava por sua
independência. Os Estados Unidos, por sua vez, passaram a ter uma postura mais reticente,
diante da relação da Eritréia com os países árabes e da necessidade americana de manter
uma boa relação com os mesmos. Ao mesmo tempo, a remoção do Shah no Iran mudou a
lista de prioridade dos Estados Unidos, perdendo em importância a estação de
comunicações na Eritréia.
A dinâmica da Guerra Fria, no entanto, estava lançada. Em 1974, ocorre outro
evento que vai mudar a dinâmica e a balança militar regional: a Revolução Etíope. A
remoção do imperador Haile Selassie e o estabelecimento de uma junta militar, o Dergue,
não suscitou reação imediata dos Estados Unidos. Foi algum tempo depois que o Dergue
definiu sua linha marxista-leninista e deu início a um programa de reforma agrária, que
acompanhava o seu programa no sentido de demolir a antiga base econômica do país.
Ainda assim, por algum tempo a ajuda americana em termos econômicos e militares
continuou e a relação entre os dois países só esfriou de fato em razão de divergências
213 Ibid., p. 227-28. 214 Ibid., p. 226.
105
internas ao Dergue, onde a facção mais radical de esquerda se impôs.215 Foi então que o
Coronel Mengistu Haile Mariam, líder da ala radical do Dergue, seguiu para Moscou, a fim
de concluir um acordo secreto no valor de cerca 200 milhões de dólares.216 Pouco depois,
em 1977, Mengistu foi empossado como líder da Etiópia, após violento conflito intra-Dergue.
O que se seguiu, a partir de 1977 foi a guerra entre Etiópia e Somália pela posse do
Ogaden. Dentro de sua política de expansionismo pró-nacionalista, a Somália, então
suficientemente militarizada, lançou uma incursão na Etiópia. Antes de tomar partido,
soviéticos e cubanos atuaram como mediadores e propuseram a criação de uma
federação com o Ogaden como região autônoma. A proposta não vingou, entre outras
razões porque a Somália estava em posição de vantagem na guerra (a Etiópia encontrava-
se desestabilizada internamente, diante das constantes pressões do movimento de
libertação da Eritréia, somadas às insatisfações internas geradas pela radicalização das
políticas do Dergue). Diante do insucesso, em 19 de outubro de 1977 a URSS interrompe a
entrega de armas à Somália. Um mês depois, Siad Barre revoga o acordo de cooperação e
amizade. Era o que faltava para os soviéticos se lançarem de vez em auxílio à Etiópia,
fazendo com que esta recuperasse a vantagem no conflito. Mais de um bilhão de dólares
investidos na reversão do conflito, aliados à presença de 13 mil tropas cubanas puseram fim
ao sonho somali, levando as tropas à retirada, bem como a estimados oito mil mortos.217
O conflito pelo Ogaden prosseguiu em menor escala nos anos que se seguiram,
refletindo-se em pequenas emboscadas e atos de sabotagem, terminando oficialmente
apenas em 1988, em comunicado oficial após encontro dos governos da Somália e da
Etiópia. O apoio militar soviético à Etiópia prosseguiu até 1987, quando houve um corte
acompanhado de pressões políticas para resoluções dos conflitos civis concernentes a
Eritréia. Desde 1977, os Estados Unidos já vinham pressionando o Dergue diante das inúmeras
violações de direitos humanos, reduzindo sua assistência econômica. No mesmo ano, o
Dergue respondeu com o fechamento da estação de comunicação Kagnew.218
Dentro das crises analisadas até agora, o caso do Chifre da África é o que melhor se
encaixa dentro da dinâmica da Guerra Fria. Claramente o envolvimento das
superpotências deu-se em razão da bipolaridade, no sentido de que o valor estratégico da
região foi percebido a partir da presença de uma das duas superpotências no local. Da
mesma forma, a proximidade do Chifre do Oriente Médio e do Oceano Índico só se fez valer
porque uma dinâmica da Guerra Fria já se desenvolvia nessas regiões. O desejo de ter uma
215 Ibid., p. 236. 216 Marte cita artigo do The New York Times, 25 abr 1977, op. cit., p. 237. 217 Ibid., p. 241-42. 218 OFCANSKY, Thomas P.; BERRY, La Verle. Ethiopia. A country study. Federal Research Division, Library of Congress, December 1991. Disponivel em: <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/zrtoc.html>. Acesso em: 10 jan 2003.
106
presença forte na região fez com que tanto Estados Unidos, quanto União Soviética
injetassem na região uma quantidade de armas tal que, mesmo após suas retiradas, o efeito
político nos países do Chifre se prolongasse. De fato, tanto o nível de repressão estatal,
como o prolongamento dos conflitos não teria sido possível sem a injeção das armas pelas
superpotências, uma vez que a capacidade produtiva da região, nesses termos, é mínima.
Além disso, a qualidade do equipamento transferido teve papel importante: as
superpotências não transferiram apenas armas de pequeno porte, mas também artilharia
pesada, a incluir milhares de tanques e equipamentos aéreos sofisticados.219
Em termos de ingerência internacional, podem-se destacar alguns momentos em
que esta adquire feições diferenciadas. Em primeiro lugar, ainda na década de 1950,
destaca-se o papel dos Estados Unidos e das Nações Unidas na definição do futuro político
da Eritréia. A cumplicidade na anexação formal da região à Etiópia em 1963 foi uma forma
clara de privilegiar um governo em detrimento do direito de autodeterminação dos povos, o
que trouxe não apenas uma conseqüência de curto prazo (a consolidação de um Estado
não legítimo), mas, e especialmente, de longo prazo, uma vez que as forças centrífugas que
caracterizavam a Eritréia enquanto parte independente da Etiópia apenas se placaram
com a independência desta em 1993. Nesse meio tempo, milhares de vidas foram tolhidas e
o fluxo de refugiados apenas veio a agravar um problema já recorrente no Chifre da África.
Poderíamos então falar aqui de uma forma de ingerência indireta, via contrato implícito
entre o governo de Haile Selassie e os Estados Unidos, uma vez que houve um consenso
tácito que resultou em uma consolidação de um Estado territorial que de outra forma não
existiria.
Em segundo lugar, observa-se o fluxo de armas ao longo das décadas de 1960 e
1970. Enquanto no primeiro momento esse fluxo é mais intenso por parte dos Estados Unidos,
num segundo momento, ele é dominado pela União Soviética. Nesse sentido, Clapham
observa o quanto o que ocorreu na região está muito menos ligado a uma corrida
armamentista, e muito mais a uma sucessão de hegemonias regionais.220 A partir daí,
acoplando-se o argumento de Lyons referente ao complexo de segurança, faz sentido
pensar que essa lógica está diretamente vinculada à posição da Etiópia, que foi o principal
cliente dos Estados Unidos até 1974, depois passando para a esfera de amizade soviética.
Em ambos os momentos, pode-se observar uma relação direta entre a manutenção do
governo e o fluxo de armas. Até o momento em que os fatores internos se fizeram mais fortes
e quebraram a barreira da bipolaridade, a “estabilidade” auferida ao regime foi oriunda
dos “patrões” e do seu respaldo financeiro e militar. Tem-se, portanto, aqui, mais uma forma
219 CLAPHAM, Christopher. The Horn of Africa: a conflict zone. Furley, Oliver. Conflict in Africa. Tauris Academic Studies. London, New York: IB Tauris Publishers, 1995, p. 77. 220 Ibid., p. 78.
107
de ingerência contratual, vinculada à manutenção de regimes que favoreciam uma
política internacional que interessasse ao ator externo.
Por fim, no que toca ao conflito do Ogaden em si, fica clara a ingerência
internacional na definição final do conflito. A retirada súbita do apoio ao lado que se
encontrava até então em vantagem altera completamente o balanço da guerra, trazendo
uma alteração decisiva no futuro territorial dos dois países. Se de um lado tem-se a
ingerência indireta contratual a partir da transferência de recursos à Etiópia, de outro tem-se
também a ingerência direta a partir do envio de tropas cubanas para o campo de batalha.
As implicações são variadas e complexas. A vitória de virada acabou fortalecendo um
regime que já carecia de legitimidade e que se encontrava em momento particularmente
frágil. Não fosse a maciça transferência de recursos soviéticos, não apenas poderia ter
ocorrido uma mudança no mapa da fronteira entre Somália e Etiópia, bem como, já à
época, a tomada do governo pelo EPRP (Ethiopia People’s Revolutionary Movement), o
que, por sua vez, poderia ter trazido consigo políticas alternativas em relação à Eritréia.
Na prática o que ocorreu foi que Mengistu só foi deposto em 1990, quando o
governo foi tomado pelas forças da EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic
Front) e a Eritréia adquiriu sua independência em 1993, após negociações com o novo
governo. A Somália, após a súbita retirada soviética, viu o governo de Siad Barre fragilizado
e exposto à divisão interna, cada vez mais intensa. Ainda assim, se arrastou até 1991,
quando foi derrubado deixando o país em estado de caos, sem novo governo legítimo ou
reconhecido.221
3.8 O FIM DA GUERRA FRIA NA ÁFRICA
O fim da Guerra Fria, não obstante “formalizado” em 1991, com a dissolução da
União Soviética, na prática já havia se iniciado na década de 1980. Ainda antes de 1989,
quando da queda do muro de Berlim, alguns historiadores consideram os anos de 1986 e
1987 como marcos práticos do fim da Guerra Fria, refletido nas conferências de Reykjavik e
Washington, ocasiões em que Gorbatchev assumiu a necessidade de reestruturação da
economia soviética a Reagan.222
No caso da África, também há que se discutir quando de fato se encerrou a Guerra
Fria. Enquanto a década de 1970 representou o apogeu da disputa bipolar no continente,
marcando o ápice da transferência de armas e apresentando as duas principais crises
regionais exacerbadas pela Guerra Fria, a década de 1980 já reflete um retrocesso das
221 Lyons, op. cit. 222 Hobsbawm, op. cit., p. 246.
108
superpotências no continente. De fato, não obstante a transferência de armas continue no
Chifre da África, bem como os apoios à UNITA em Angola (apesar do reconhecimento
internacional do governo do MPLA), o marco da década de 1980 vai ser o mergulho da
grande maioria dos países africanos nos vários planos de ajuste estrutural formulados pelo
FMI e pelo Banco Mundial. Aqui destaca-se, portanto, uma divisão entre os eventos políticos
e econômicos, que seguem rumos diferentes dentro da Guerra Fria. Enquanto na política
internacional, passa a ficar evidente a falha estrutural inerente ao modelo soviético, na
África, isso se reflete na resignação dos países africanos a propostas ocidentais de solução
econômica para seus governos.
Há que ficar claro que, não obstante a União Soviética tenha encontrado um
espaço de atuação profícuo na África na década de 1970, em momento algum os países
que se aliaram à URSS romperam relações com os Estados Unidos ou deixaram de receber
ajuda da potência ocidental. A dinâmica da Guerra Fria se refletiu na África muito mais na
dimensão da segurança do que na dimensão econômica. Daí o foco do presente capítulo
nas ingerências que remetem a questões securitárias.
Nesse sentido, a década de 1980 vai encerrar a ingerência internacional
relacionada ao contexto da Guerra Fria. O principal símbolo desse encerramento foi a
retirada das tropas cubanas de Angola, iniciada em 1988, que lá haviam permanecido
desde a independência da mesma, em função da Namíbia. A retirada das tropas dá-se em
função das negociações em torno da independência da região, até então ainda
subjugada pela África do Sul. Relacionado ao episódio, está o progressivo desmonte do
regime do apartheid, oficializado apenas no início da década de 1990, mas que no
entanto, é reflexo direto da deterioração da Guerra fria e do desengajamento ocidental,
findos os temores relacionados à expansão do socialismo no mundo.
ÁFRICA DO SUL
A independência sul-africana deu-se em 1910, como estabelecimento da União da
África do Sul, após reconciliação entre bôeres e britânicos e à custa da maioria negra do
país. O regime do apartheid, no entanto, apenas se institucionalizou em 1948, com a
ascensão ao governo do National Party, que representava os interesses da população Bôer.
Enquanto esse marco trouxe continuidades no que diz respeito à política segregacionista
racial, algumas mudanças significativas também ocorreram. Primeiramente, há uma
dissociação entre o poder político, que se concentra na população africânder, e o poder
econômico, que passa a se concentrar nas mãos dos britânicos.223 Em segundo lugar,
223 MENDONÇA, Hélio Magalhães de. Política externa da África do Sul (1945-1999). In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) África do Sul. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000, p. 16.
109
dentro do aspecto econômico, muda a base de sustentação política do país. Conforme
Döpcke,
The South African apartheid regime was faced with the task to reconcile and negotiate two rather contradictory objectives: the utilization of Black labour, on which the economy and the whole country depended, and the separation of the white’s and blacks spheres in all imaginable layers of life, with the systematic exclusion of the African population from political and social participation and the benefit’s of the country’s resources.224
Tem-se, portanto, uma lógica que associou questões raciais a um sistema de base
econômica exploratória, embora não escravista. Essa base econômica, que dispunha de
uma imensa mão-de-obra barata (a grande maioria da população), trouxe, no curto prazo,
benefícios econômicos ao país. De fato, observa-se, juntamente com a intensificação do
apartheid, um boom industrial e um período de prosperidade econômica. Isso, contudo,
não se deveu simplesmente à existência de mão-de-obra barata. A isso se associou uma
forte participação ocidental nos investimentos que entravam no país, principalmente no
setor da mineração.225
O interesse ocidental pela região, em especial o interesse norte-americano, não
obstante o apartheid, encontra explicação parcial dentro da conjuntura internacional da
Guerra Fria. Há, contudo, interpretações diversas quanto aos interesses que guiaram
prioritariamente a política norte-americana para a região.226 De um lado, consta o
argumento geoestratégico, relacionado à posição geográfica da África do Sul e a rota do
Cabo da Boa Esperança. A rota seria estrategicamente importante, em especial por ser
ponto de passagem das importações de petróleo tanto da Europa Ocidental, quanto dos
Estados Unidos. Ainda dentro dos aspectos geográficos da região, destaque era feito diante
da riqueza minerária da África do Sul. Ouro, diamantes, antimônio, cromo, urânio seriam
alguns dos minerais críticos que o Ocidente não possuía (em contraste com a URSS). Nesse
sentido, não apenas a África do Sul se destacava, mas também a Namíbia e Angola. Um
fator político, contudo, centralizava a importância da África do Sul: o fato de ser esta a
maior potência militar da região e um pilar de contenção ao comunismo. Esse parece ter
sido, sem dúvida, o principal fator que motivou a adoção de uma política americana para
a África do Sul low profile em relação ao apartheid.
224 DÖPCKE, Wolfgang. Foreign policy and political regime: the case of South Africa. In: SARAIVA, José Flávio Sombra (ed.) Foreign policy and political regime. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2003, p. 279. 225 BAHIA, Luiz Henrique Nunes. A política externa da África do Sul: da internacionalização à globalização. In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) África do Sul. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000, p. 121. 226 Entre os textos consultados sobre o tópico: Marte, op. cit.; BAWMAN, Larry W. The strategic importance of South Africa to the United States: an appraisal and policy analysis. African Affairs, 81 (323), 1982; Mendonça, op. cit.; Duignan e Gann, op. cit.; FOLTZ, William J. United States policy toward South Africa: is one possible? In Bender, Gerald J.; Coleman, James S.; Sklar, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
110
A política americana para a África do Sul oscilou ao longo dos governos entre as
abordagens globalista e regionalista das relações internacionais (vide supra). Ainda assim, à
exceção dos primeiros anos da administração Carter, o que prevaleceu na política externa
americana para a África do Sul foi um viés globalista, extremamente pragmáticos e voltado
para interesses americanos relacionados à Guerra Fria. Isso fica evidente logo nos primeiros
anos do regime do apartheid, quando, em 1951, o Departamento de Estado fecha acordo
relativo a transferência de armas a Pretória, dentro de um programa de segurança mútuo,
de 1949.227 O acordo marca o início de uma política claramente de sustento ao regime do
apartheid, no sentido de fortalecer militarmente o governo, garantindo a supremacia militar
da África do Sul na região, bem como consolidando um bastião anticomunista na África
Austral.
Do lado sul-africano, havia um interesse em consolidar o apoio ocidental em razão
das novas ameaças regionais, relacionadas ao contexto das independências africanas. O
fato de ser o único regime branco minoritário contrastava de maneira gritante com o
espírito libertário pan-africano. O fortalecimento militar e a política regional de
favorecimento aos regimes brancos (na Rodésia) e coloniais (Portugal) foi o meio
encontrado para fortalecer as bases do governo do apartheid. Em momento algum o
comunismo chegou a representar uma real ameaça à África do Sul, nem mesmo a constituir
uma preocupação de política interna. 228 A utilização do argumento deu-se, sim, em razão
do oportunismo, a fim de obter algo do Ocidente que de outra forma talvez não se pudesse
obter. O anticomunismo foi o argumento que “legitimou” a opção ocidental por armar a
África do Sul e se tornar cúmplice do apartheid. Houve, nesse sentido, uma coincidência de
interesses, que minou a política do Ocidente. Mais do que isso, houve uma coincidência de
interesses que se refletiu na política regional tanto da África do Sul quanto do Ocidente para
a África Austral. Como afirma Marte:
South Africa, Rhodesia, and Portuguese-controlled Angola and Mozambique became crucial pillars of this policy, since they shared with the West the commitment against international Communism. In this way, the Western security policy in Southern Africa became interwoven with the South African regional security strategy, as both had come to rely on the same pillars in the region.229
Nesse sentido, o apoio ocidental ao apartheid não apenas prolongou a
permanência desse regime no poder, como teve incidência significativa no
desenvolvimento das políticas internas dos países vizinhos, Angola sendo um dos mais
afetados (vide supra).
227 Marte, op. cit., p. 277-78. 228 Ibid., p. 279-81. 229 Ibid., p. 283.
111
Embora o apoio militar tenha sido um dos aspectos importantes concernentes à
política ocidental para a África do Sul, não menos importante foi a postura do Ocidente nas
Nações Unidas e demais foros internacionais. De fato, é nesse âmbito em que se chocavam
a postura favorecedora ao regime segregacionista com a indignação dos inúmeros países
do Terceiro Mundo frente ao apartheid. Alguns autores, discorrendo sobre a política
americana para a África do Sul, chegam mesmo a apontar que os custos oriundos do apoio
a Pretória acabaram por suplantar os benefícios. Se de um lado os ganhos econômicos
derivados do comércio e investimentos foram significativos, os embaraços internacionais
custaram caro, no sentido de dificultar posteriores negociações dos Estados Unidos. A
intervenção em Angola teria sido um desses episódios, que manchou a imagem americana
e foi uma política de fracassos (considerando os objetivos propostos).230
Outros autores, no entanto, afirmam que, na verdade, mesmo em desacordo com a
política ocidental diante do apartheid, o Terceiro Mundo não tinha muita opção se não
relevar e continuar mantendo as mesmas relações com o Ocidente, uma vez que deste
dependia economicamente. Isso parece casar melhor com os eventos. De fato, se a
pressão terceiro-mundista tivesse tido algum efeito prático, provavelmente o apoio e o
“acobertamento” do apartheid pelo Ocidente tivesse acabado mais cedo. Na prática, no
entanto, a condescendência ocidental foi observada com descontento, mas certa
aceitação.
No âmbito da ONU, desde meados de 1950 já se discutia a questão do apartheid e
suas contradições com os princípios abraçados pelo organismo. Só a partir de 1961,
contudo, iniciou-se propriamente uma política condenatória do regime. Desde então, as
resoluções passaram a pregar uma ruptura urgente, tanto política, quanto econômica, com
a África do Sul. Nesse ano, os Estados Unidos aprovaram resolução urgindo o abandono do
regime pela África do Sul. França e Grã Bretanha se abstiveram. Quatro dias depois, os
Estados Unidos votaram contra a resolução clamando por sanções amplas à África do Sul.
Dois anos depois, a superpotência se opôs ao movimento que pregava a expulsão da
mesma do organismo. Ainda em 1963, frente à recomendação do Conselho de Segurança
de embargo voluntário sobre armas, os Estados Unidos não apresentam objeção, mas se
reservaram o direito de mudar de idéia caso aparecessem interesses que requisitassem o
envio de armas. Marte esclarece a postura americana:
As it appears, whenever Washington choose to vote with the Afro-Asian Bloc in the United Nations, it did implied only a symbolic gesture toward the Africans without much substance and commitment to dramatically altering its policy with respect to its regional allies, South Africa and Portugal, in the Cold War. However, when its vote in the international body
230 NOLUTSHUNGU, Sam C. South Africa policy and United States options in Southern Africa. In: BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985, p. 51-52.
112
potentially did entail a follow-up commitment (…) the United States was quick to reserve the right to itself to reconsider, if the international situation so required.231
No caso norte-americano, o que parece ter oscilado, na prática, foi muito mais a
preocupação em justificar políticas do que as políticas propriamente ditas. Nas
administrações Johnson e Kennedy, por exemplo, a preocupação com um discurso
condenatório do apartheid e o abraço à descolonização não foram acompanhados de
medidas mais pragmáticas no sentido de alterar a situação real. Havia, contudo, uma
preocupação em manter uma imagem positiva com os demais países africanos, recém-
independentes, até mesmo como forma de prevenir uma aproximação destes com a União
Soviética. Nixon, ao assumir em 1969, mudou o foco discursivo, passando a defender uma
maior aproximação com a África do Sul, de forma a fortalecer a presença americana na
região. A política apelidada de Tar Baby pregava, assim, um maior diálogo com o regime
branco, partindo do pressuposto de que os brancos, afinal, não sairiam tão cedo do poder
(“whites are here to stay”). Não obstante esse pragmatismo, a política foi mantida em
segredo até ser revelada por um jornalista em 1972 no New York Times. O sigilo foi devido
particularmente a motivações internas, uma vez que uma política aberta de apoio ao
apartheid poderia provocar reações pela população negra dos Estados Unidos. A Tar Baby
previa o relaxamento do embargo sobre armas aplicado pela ONU. Na prática, seu
principal reflexo foi o encorajamento ao regime de Ian Smith na Rodésia. No início de sua
implementação, a Tar Baby foi acompanhada pela transferência de equipamento militar a
Portugal para fins de combate ao comunismo, mas que, evidentemente, poderiam muito
bem ser usados na luta contra os movimentos de libertação na África Austral.232
O abandono da Tar Baby ocorreu em resposta às mudanças conjunturais das
relações internacionais. O colapso do regime em Portugal e seus reflexos nas colônias
africanas exigiram novas respostas, tanto sul-africanas, quanto americanas. Do lado sul-
africano, o governo Vorster passou a adotar uma política conciliatória com a região,
chegando mesmo a incitar a aceitação de um governo majoritário na Rodésia.
Paralelamente, os Estados Unidos, agora sob Ford, demonstraram uma leve inflexão em sua
política para a África Austral. De um lado, Kissinger fez pressão para que a África do Sul se
opusesse ao governo de Smith. Ao mesmo tempo, a nova administração queria pôr um fim
à questão da Namíbia. O embargo sobre armas foi estendido de forma a incluir peças de
avião feitas na França. Os Estados Unidos não mais permitiriam que a África do Sul vendesse
ouro ao FMI e declarariam no Conselho de Segurança que a esta constituía uma ameaça à
paz, bem como que o controle sul-africano da Namíbia era ilegal.233 Essas medidas não
231 Marte, op. cit., p. 299. 232 Ibid., p. 305. 233 Duignan e Gann, op. cit., p. 294.
113
alteravam substancialmente os interesses dos Estados Unidos em relação Pretória. Elas
constituíram uma resposta às mudanças internacionais, bem como uma tentativa de
recuperação de prestígio diante do Terceiro Mundo, que, no entanto, não surtiram frutos. De
fato, a influência americana sobre Pretória acabou por diminuir, e o criticismo aos Estados
Unidos na ONU permaneceu.
Foi sob Carter que um enfoque mais regionalista ganhou espaço. Carter estava
determinado a exercer pressões sobre o regime do apartheid, condenando as violações aos
direitos humanos e tentando desvincular os conflitos regionais da África Austral da Guerra
Fria. Seu governo votou em favor da proibição mandatária de armas à África do Sul, no
Conselho de Segurança, em 1977. Esse primeiro passo coercitivo pelo Ocidente foi
acompanhado de medidas menos rígidas na esfera econômica. Em 1974 a Grã Bretanha
estabeleceu códigos de conduta para suas firmas que operavam na África do Sul. A
Comunidade Européia fez o mesmo em 1977 e no ano seguinte os Estados Unidos seguiram
o exemplo, através dos Sullivan Principles. Esse enfoque, contudo, durou pouco e seus efeitos
práticos foram pouco significativos. Ao final do governo Carter, a abordagem globalista
voltava à tona, consolidando-se de vez sob Reagan.
Em 1981 Reagan inaugurou a política do constructive engagement. Formulada pelo
Secretário para Assuntos Africanos, Chester Crocker, essa política apoiava uma abordagem
não-confrontacionista com o governo branco, a partir de agora considerado parceiro na
luta contra o comunismo (reflexo do próprio recrudescimento da Guerra Fria). A idéia básica
era a de que uma aproximação com a minoria branca poderia facilitar futuras mudanças
dentro da África do Sul. Ao mesmo tempo em que assumia uma postura passiva diante do
apartheid, o governo americano dava carta branca para a condução da política de
desestabilização regional perpetuada pela África do Sul nos anos 1980.234 Ainda como parte
dessa nova política, a administração Reagan passou a vincular a independência da
Namíbia à retirada das tropas cubanas de Angola.
Somente no segundo mandato, e já diante do contexto de encerramento da Guerra
Fria, medidas coercitivas passaram a ser adotadas pelo Ocidente. De um lado, o Congresso
americano aprovou o Anti Apartheid Act, que levava ao abandono definitivo do
constructive engagement, e implementava severas sanções econômicas à África do Sul. Um
dos resultados foi a própria retirada de empresas americanas da região. Paralelamente, a
Comunidade Européia aprovava um pacote de medidas que visavam bloquear os
investimentos direcionados à África do Sul, bem como banir a importação de diversos
produtos sul-africanos. Longe de constituir um boicote, tais medidas tiveram, contudo, um
impacto na economia sul-africana, afetando o regime do apartheid e contribuindo para
234 Döpcke, op. cit., p. 287-88.
114
seu enfraquecimento. Como conseqüência, observou-se uma súbita fuga de capitais, o
aumento da inflação, que se tornou crônica, e o aumento da dívida externa, bem como a
desvalorização da moeda local.235
O desmonte tardio do regime do apartheid está diretamente vinculado ao fim da
Guerra Fria. Durante anos, a política externa da África do Sul foi formulada basicamente em
função da sobrevivência do regime branco. Nesse sentido, a Guerra Fria proporcionou um
ambiente propício para que este governo encontrasse respaldo suficiente para garantir sua
sobrevivência através de seu fortalecimento econômico e militar. Ao invés de “jogar” com
as superpotências e tentar obter vantagens das duas partes, bastou à África do Sul
manipular o discurso da Guerra Fria, no sentido de aliar o comunismo ao ANC (African
National Congress, principal movimento antiapartheid) para ganhar apoio dos Estados
Unidos (e do Ocidente de maneira geral) e se garantir no poder durante toda a Guerra Fria.
Como aponta Döpcke:
The South African regime (…) sought to build its international legitimacy within the ideological framework of the Cold War divisions, projecting itself as an arduous defender of the Western political (and culturally Occidental) interests against the “communist menace”. Although it did not achieve a formal alliance with Western powers and a formal admittance into Western global defense strategy, South Africa was rather successful – economically, ideologically and politically – in forging links with the West. Consequently, much more closely than other countries the regime’s existence became linked to international political conjuncture.236
O caso da África do Sul mostra uma ampla conexão entre o papel das potências
internacionais e a sobrevivência de um regime internacionalmente considerado ilegítimo. O
bloqueio de mudanças internas (não obstante o contínuo movimento interno para a
ocorrência de mudanças) foi em grande parte financiado por atores externos. De um lado,
observa-se que a política internacional moveu-se intencionalmente na manutenção do
apartheid, em razão de interesses variados. No caso dos Estados Unidos, o fator motivador
dessa política de cobertura do regime do apartheid, foi a manutenção de um bastião
anticomunista numa região que se demonstrava estrategicamente importante. Do lado das
demais potências ocidentais, o fator econômico, que ligava interesses à exploração
minerária na região falaram mais alto do que a defesa dos interesses de uma população
negra oprimida por uma minoria branca. De outro lado, não obstante o claro interesse
ocidental na manutenção do apartheid, observa-se a hipocrisia do discurso, no sentido de
condenar o regime e aflancar-se à posição do Terceiro Mundo. Ao mesmo tempo, é
interessante observar que a presença soviética no caso é mais virtual do que real. Não
obstante o apoio ao ANC, a União Soviética não chegou a constituir uma ameaça real, no
sentido de substituir o papel dos Estados Unidos na região. Os reflexos soviéticos se fizeram
235 Ibid., p. 289. 236 Ibid., p. 284.
115
sentir muito mais em Angola e na questão da Namíbia e, em grande parte, constituíram
uma resposta à ação sul-africana, respaldada pelos Estados Unidos.
Dadas essas considerações, a maior forma de ingerência ocidental na África do Sul
foi decorrente da sua não-ação quando esta se fazia necessária (o que era, inclusive
enfaticamente declarado nos discursos das potências). Essa não-ação traduziu-se na não-
interrupção de comércio com este país e na não aplicação das sanções recomendadas
pela ONU. No caso do Conselho de Segurança, verificou-se a sua paralisia nas sucessivas
tentativas de impor medidas coercitivas à África do Sul. Aqui tem-se a coalizão ocidental
vetando decisões que poderiam comprometer seus interesses políticos na região. Da mesma
forma que agiram em favor do apartheid, ao final da Guerra Fria, as potências Ocidentais
mostraram sua capacidade coercitiva ao adotar medidas que afetaram os pilares
econômicos do apartheid, contribuindo significativamente para o seu desmantelamento.
Num primeiro momento tem-se, portanto uma ingerência pró-apartheid, não explícita, mas
que era constituída pela não-ação que contribuía de maneira incisiva para o
prolongamento do regime. Num segundo momento, tem-se uma ingerência por coerção,
no sentido de obrigar a parte receptora a mudar sua política interna e enquadrar-se dentro
de um esquema considerado legítimo pela sociedade internacional. A coerção dá-se via
sanções econômicas, embargos e isolamento diplomático.
NAMÍBIA
A forma pela qual se deu a independência da Namíbia já carrega consigo algumas
formas de ingerência internacional: a partir do momento em que Washington vinculou a sua
independência à retirada das tropas cubanas de Angola, houve uma clara
internacionalização de uma questão regional africana.
O caso da Namíbia lembra em parte o da Eritréia: trata-se de um país que não foi
considerado dentro do movimento de descolonização enquanto ente autônomo e com
direito à autodeterminação. Ao invés disso, a ex-colônia alemã foi colocada sob controle
da África do Sul por um mandato da Liga das Nações de dezembro de 1920. A SWAPO foi
criada em 1960 por Sam Nujoma visando a obtenção do desvinculamento com a potência
regional, mas por diversos motivos (estratégicos, econômicos e políticos), não era de
interesse da África do Sul auferir independência ao território. Um desses motivos era o medo
da repercussão da independência sob a liderança de um movimento negro às portas do
regime do apartheid, o que poderia suscitar um estímulo ao movimento interno de
oposição.237
237 Marte, op. cit., p. 290-91.
116
Em 12 de junho de 1966, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou uma
resolução proclamando que a África do Sudoeste (South-West Africa, até então designação
do território) passasse a se chamar Namíbia. Em 27 de outubro do mesmo ano, nova
resolução votava em favor do término do mandato sul-africano na região, que deveria
tomar responsabilidade direta pelo seu próprio território. Surda à resolução, a África do Sul
não tomou nenhuma iniciativa no sentido de conferir independência à Namíbia.
Entrementes, a SWAPO, que já havia apelado para a Corte Internacional de Justiça em
agosto de 1966, viu-se sem respaldo internacional e não teve outra opção se não retomar a
sua luta. Foi nesse momento que a União Soviética apareceu como opção ao Ocidente. Em
complemento à ajuda militar, estudantes namibianos foram enviados à URSS, criando um
ambiente regional favorável para o aquecimento das rivalidades bipolares.238 Em 1971 a
Corte Internacional de Justiça decretou a ocupação ilegal da Namíbia pela África do Sul, e
ordenou sua retirada imediata, mas, mais uma vez, o efeito prático do veredicto foi nulo.239
Por estar localizada entre Angola e África do Sul, a Namíbia viu-se diretamente
envolvida na luta da independência angolana, a ponto de, anos depois, sua
independência vir condicionada a um tema externo, qual a retirada das tropas cubanas de
Angola. A idéia do linkage surgiu em 1981, a partir do conselheiro de Reagan para assuntos
africanos, William Clark, e agradou vivamente o governo
sul-africano, que via aí um ótimo motivo para postergar sua
saída da Namíbia.
Em 16 de fevereiro de 1984 o Tratado de Lusaka foi
assinado entre Angola e África do Sul, numa tentativa de
atingir um cessar-fogo. O acordo previa a retirada gradual
das tropas sul-africanas do sul de Angola, onde se
encontravam havia alguns anos. Ao mesmo tempo, o
governo do MPLA se comprometia a proibir a utilização de
seu território pelas forças de guerrilha da SWAPO no intuito
de realizar incursões na África do Sul. O acordo deixou a
SWAPO fragilizada, uma vez que não podia mais contar
com a utilização do território angolano, que era sua base de apoio. Do ponto de vista do
governo angolano, no entanto, o acordo trazia a grande vantagem de interromper o apoio
à UNITA, o que, na prática, acabou não acontecendo, uma vez que a África do Sul
manteve o apoio militar à facção, não obstante a assinatura do acordo.240 Diante da
violação, mais uma vez, nenhuma atitude foi tomada no âmbito internacional.
238 Ibid., p. 292. 239 Gleijeses, op. cit., p. 273. 240 Marte, op. cit., p. 345-46.
3.4 Namíbia
117
Foi somente entre 1987-88 que as circunstâncias mudaram em favor da Namíbia.
Nesse período, a África do Sul esboçou um último esforço militar, no sentido de tentar uma
alteração política em Angola. O embate decisivo deu-se em Cuito Canavale, ao sul de
Angola, batalha que envolveu as forças do MPLA (FAPLA), tropas cubanas e conselheiros
militares soviéticos de um lado, e tropas sul-africanas (SADF – South African Defense Forces) e
as guerrilhas da UNITA de outro. Na ocasião, a ajuda cubana, associada aos equipamentos
de guerra soviéticos, que se mostraram superiores aos possuídos pela SADF, especialmente
no espaço aéreo, fez com que a África do Sul reconsiderasse sua investida. O golpe final à
SADF foi dado pela mudança das táticas adotadas pela coalizão FAPLA/Cuba, que resultou
em numerosas perdas ao, até então, maior exército da região. A distância do campo de
batalha da fronteira sul-africana também provou ser uma dificuldade aquém da esperada.
A busca por um diálogo político sobre a questão foi o último recurso a ser adotado por
Pretória. Um cessar-fogo foi anunciado em agosto de 1988, seguido pela retirada da SADF
em primeiro de setembro. 241
A batalha de Cuito Canavale foi um divisor de águas no desenvolvimento político da
África Austral. A coincidência dos desenvolvimentos regionais e da conjuntura internacional
veio a facilitar imensamente a negociação frente à questão angolana e a independência
da Namíbia. A nova fase de détente entre Estados Unidos e União Soviética, que na
verdade marcava o fim da Guerra Fria, trouxe consigo a vontade crescente da URSS de
descomprometimento com as questões do Terceiro Mundo. Isto, associado ao
enfraquecimento militar da África do Sul, preparou o terreno para que, de fato, as
negociações entre as partes fosse possível.
Dois acordos foram firmados entre Angola, Cuba e África do Sul: o Protocolo de
Brazzaville e o Acordo de Nova York, em dezembro de 1988. Este último previa a retirada das
tropas sul-africanas de Angola, simultaneamente ao fim do apoio à UNITA. A África do Sul
também se comprometeu a retirar suas tropas da Namíbia e abrir caminho para a
independência desta, de acordo com a resolução 435 da ONU. De outro lado, Angola se
comprometia a retirar as tropas cubanas dentro de dois anos, bem como expulsar o ANC de
seu território, assim como segurar as tropas da SWAPO a duzentos km da fronteira da
Namíbia, até que estas pudessem voltar para casa em segurança.242 Em novembro de 1989,
eleições foram conduzidas na Namíbia, monitoradas pelas Nações Unidas. A SWAPO
ganhou as mesmas com larga vantagem, o que autorizou a mudança a fim de formar-se o
primeiro governo constitucional da Namíbia, que levaria o país à independência. O
processo de transição foi concluído em 21 de março de 1990.
241 O’NEILL, Kathryn; MUNSLOW, Barry. Ending the Cold War in Southern Africa. Third World Quarterly, v. 12, n. 3-4, p. 81-96, 1990/91, p. 83-84. 242 Marte, op. cit., p. 354.
118
Pelo exposto, fica evidente o quanto a independência da Namíbia esteve vinculada
a fatores externos, tanto relativos a conflitos regionais paralelos, quanto relativos à Guerra
Fria e ao envolvimento cubano, soviético e americano na região. A manipulação política
da independência da Namíbia, como instrumento de barganha para outros fins, e o
conseqüente retardamento da concretização de sua independência (que já havia sido
urgida pelas Nações Unidas) constituem um nítido exemplo de ingerência internacional. Não
obstante a Namíbia ainda não fosse um Estado independente até 1990, o reconhecimento
de seu direito já existia desde 1966! No entanto, não apenas a África do Sul, mas nenhuma
das superpotências tomou qualquer passo no sentido de garantir o cumprimento do direito
da região. Outros fatores mais importantes se sobrepuseram a isso: a definição do conflito
em Angola tocava diretamente a Guerra Fria, tendo transformado a África Austral numa das
regiões onde o foco de envolvimento das superpotências em razão da Guerra Fria foi um
dos mais intensos. A associação da independência da Namíbia à retirada das tropas
cubanas de Angola foi uma clara tentativa de manipular os acontecimentos regionais, mas
que, no entanto, não teve o sucesso esperado, uma vez que a esperada superioridade
militar sul-africana falhou em suas expectativas. Em Angola, o MPLA continuou a se manter
no governo. A Namíbia conseguiu afinal sua independência. A derrota militar da África do
Sul, por outro lado, afetou esta negativamente, fragilizando ainda mais o regime do
apartheid e acelerando o processo de desmonte do mesmo. Quanto às superpotências, à
conclusão dos acontecimentos, a Guerra Fria já caminhava para o seu fim, daí que o
resultado final pareceu não afetar diretamente seus interesses políticos. Aliás, o apoio
americano à UNITA continuou mesmo após a independência da Namíbia, bem como o
apoio soviético a Luanda, postergando um conflito que, já não mais internacionalizado,
ainda se desenvolveria por alguns anos adiante.
À diferença dos casos anteriores, a ingerência na Namíbia destaca-se por não ter
sido, em sua aplicação, direcionada diretamente a este país. Não houve uma tentativa
clara de influenciar diretamente o tipo de governo que viria a se instalar, mas a ação deu-se
dentro do contexto regional circunstante. A Namíbia serviu como instrumento para a
perseguição de políticas relacionadas aos casos angolano e sul-africano, mas o efeito na
soberania deste país foram marcantes, uma vez que a sua independência foi postergada.
Segundo a proposta classificatória de Krasner, a ingerência nesse caso se aproximaria de
uma forma de imposição, uma vez que à Namíbia não foi oferecida opção, a não ser
aguardar o esfriamento das dinâmicas regionais para que sua independência fosse
finalmente concedida.
119
3.9 INGERÊNCIA INTERNACIONAL E GUERRA FRIA NA ÁFRICA
A análise das ingerências na África ao longo da Guerra Fria leva a algumas
constatações, no que diz respeito aos atores envolvidos, às forças que propulsionaram as
ações, seus impactos e, por fim, os tipos de ingerência utilizados.
Com relação aos atores, fica claro que, muito embora a presença das
superpotências (se não juntas, de maneira isolada) seja uma constante, ela não é exclusiva
e não necessariamente a de maior peso no desfecho dos acontecimentos locais. O caso do
Congo é um exemplo, considerada a participação belga no assassinato de Lumumba. Da
mesma forma, o destino de Angola possivelmente não teria sido o mesmo não fosse pela
atuação cubana.
A ampliação dos autores leva a um segundo ponto, referente ao grau em que os
acontecimentos estiveram vinculados à Guerra fria em si. Nesse aspecto, cabe ressaltar que
na grande maioria dos casos, a ingerência deu-se de maneira consentida, ou, recorrendo à
tipologia de Krasner, por meio de contratos, mesmo que não formais. De maneira geral, e
quase paradoxal, exatamente por não possuir no cenário internacional uma importância
premente, os Estados africanos puderam exercer sua soberania de maneira mais intensa do
que outros Estados estrategicamente mais importantes para as superpotências. Desta forma,
na maior parte dos casos, a ingerência é observada como algo acordado entre a parte
ingerente e o Estado ou uma parcela representativa deste (por exemplo, movimentos de
libertação, líderes nacionalistas, elites locais). Principalmente em termos militares, não há
penetração externa ao continente sem um consentimento interno, quando não mesmo um
pedido direto. Nesse sentido, a ingerência internacional deve ser analisada a partir de um
prisma bidimensional: de uma lado, a dinâmica internacional decorrente da Guerra Fria; de
outro, o complexo emaranhado de dinâmicas internas ao continente e de cada Estado
constituinte. O cruzamento destas dimensões é que vai oferecer uma explicação
abrangente para o desenvolvimento dos processos que resultaram na alteração das
políticas internas africanas.
Do lado externo, não há como negar a influência da Guerra Fria no processo. Acima
de tudo, o próprio interesse das superpotências e, conseqüentemente, os envolvimentos
cubano e chinês, estão diretamente ligados ao interesse e à ação destas em relação à
África. Ao mesmo tempo, esse mesmo envolvimento teve conseqüências inegáveis na
formação e consolidação do Estado africano, uma vez que foi, em grande parte, devido à
manipulação das relações com as superpotências que muitos Estados sobreviveram e se
120
estruturaram da maneira em que o fizeram.243 Do lado interno, essa dinâmica assume
matizes peculiares, resultantes da dinâmica social e política africana, bem como do próprio
nascimento do Estado. Nascendo (em sua quase totalidade) do processo de
descolonização, já débeis e dependentes, e muitas vezes fragmentados internamente, os
Estados africanos buscaram seu fortalecimento através dos meios disponíveis e acessíveis, o
que se traduziu, dentre outras formas, na busca de apoio militar e econômico junto aos
grandes agentes internacionais. A possibilidade de ter um apoio de uma superpotência, que
se revertesse em armas e dinheiro, instrumentos essenciais para a consolidação dos novos
Estados, fez com que muitos líderes abraçassem a causa socialista e adotassem no discurso
seu alinhamento. Na prática, contudo, vários outros fatores estiveram permeando os
alinhamentos e mesmo os não-alinhamentos dos países africanos, bem como o apoio das
superpotências.
De fato, o que se observa na prática não responde de maneira geral a uma lógica
ideológica de alinhamento. Do lado das superpotências, já foram esboçados alguns dos
determinantes dessa relação. É do lado africano, contudo, que se pode visualizar o impulso
dinamizador desses apoios. Em primeiro lugar há que se observar que, mesmo quando
abraçando a bandeira socialista, os Estados africanos jamais se desvincularam
financeiramente do ocidente. Em segundo lugar, um dos princípios cardinais da política
externa africana foi o não-alinhamento. O não-alinhamento surge, de certa forma, como
meio para minimizar desentendimentos diplomáticos resultantes do alinhamento a um dos
lados e, ao mesmo tempo, como forma de exercício de soberania.244 Ainda assim, foi a
ideologia que foi usada como motivo de aproximação da África à União Soviética. E não
obstante o ceticismo soviético frente aos socialismos africanos, foi esse argumento que
justificou politicamente seu movimento de apoio na África.
Em suma, o papel ativo do Estado africano (ou daquele que o representa) mostra-se
fator permissivo das ingerências no continente durante a Guerra Fria. No contexto bipolar,
mesmo a participação de outros Estados, bem como outros agentes internacionais esteve
vinculada a alguma forma de consenso por parte de agentes internos ao continente. Uma
vez que freqüentemente as partes internas mostram-se dissidentes, a ingerência
internacional viria a ter um papel decisivo na condução das políticas internas dos Estados,
quando não na forma de governo que estes iriam assumir.
No que diz respeito aos impactos, é interessante notar a discrepância entre o efeitos
das ingerências das superpotências na África e suas conseqüências para as mesmas. As
243 Clapham, op. cit., p. 135. O argumento de Clapham é mais aprofundado e remete à própria formação do Estado africano e à relação state/ruler. 244 Para análise da relação entre ideologia e a relação africana com as superpotências: YOUNG, Crawford. Ideology and development in Africa. New Haven, London: Yale University Press, 1982.
121
crises africanas não apresentaram para Estados Unidos e União Soviética o grau de
relevância das crises na Ásia e no Oriente Médio, que dizer na Europa. Por outro lado, os
efeitos das dinâmicas na Guerra Fria no continente foram extremamente marcantes, uma
vez que exacerbaram de maneira significativa as crises que já existiam internamente, dando
corpo a situações que, de outra forma, muito provavelmente não teriam chance de se
concretizar.
Por outro lado, como ficou claro nos estudos de caso, os efeitos da Guerra Fria só
foram possíveis diante das condições preexistentes nos Estados africanos. A maior prova
disso é que grande parte das ingerências ocorreu de maneira consensual com pelo menos
uma das partes representativas dos Estados. A grande problemática, na maioria dos casos,
é a legitimidade da representatividade do Estado, o que parece muito mais um resultado
do processo de descolonização do que meramente de fatores endógenos à África. Sendo
assim, pode-se inferir que o impacto da Guerra Fria na África, em termos de ingerência
internacional, esteve umbilicalmente ligado ao processo de descolonização, uma vez que
foi aí que se criaram as bases do Estado frágil, tanto econômica quanto politicamente. Se a
descolonização, por outro lado, é em si, um processo resultante da Guerra Fria, isso é
discutível. Também aí há que se pesar os fatores endógenos às ex-potências coloniais e
aqueles inerentes à conjuntura internacional. O que parece claro, no entanto, é que,
independentemente dos fatores que levaram ao processo de descolonização, o processo
em si ocorreu de maneira muito mais isolada da Guerra Fria do que vice-versa. O caso do
Congo/Zaire seria uma exceção, constituindo um caso isolado na década de 1970. O
interesse pela África na década de 1970, por outro lado, e a possibilidade de ingerência,
teriam sido facilitados pelos reflexos do processo colonial: de um lado, pela constituição do
Estado em crise; de outro, pelo abandono das ex-potências coloniais. Observa-se que no
caso onde a potência permaneceu em exercício de influência, como no caso da França
na África Ocidental, o peso das dinâmicas da Guerra Fria foi sensivelmente menor.
Em termos de classificação, a ingerência vai ser caracterizada, de um lado, pelo
autor e pela forma como foi imposta, mas por outro, também, pela parte receptora, que
pode variar dentro do mesmo caso, a segunda do nível de análise (regional, estatal). Há
casos em que é a classificação torna-se mais difícil em função da dinâmica de processos
ainda não concluídos, e cujo resultado altera a percepção dos eventos passados. A tabela
a seguir ajuda a ilustrar a asserção.
122
3.5 Ingerência internacional na África Subsaariana na Guerra Fria: casos, tipos e meios
CASO ATOR
INGERENTE MEIO UTILIZADO RESULTADO TIPO DE INGERÊNCIA
Congo/Zaire
Bélgica
1) Envio de tropas em Katanga
2) Não-ação para salvaguardar a vida de Lumumba
1) Assassinato de Lumumba
2) Ascensão de Mobutu
no poder e sua permanência, por mais de 20 anos
Imposição: não obstante a atuação com facções internas, as ações foram contra um governo reconhecido e não ofereceram opção alternativa
Estados Unidos
1) Não-ação para proteger Lumumba; cumplicidade no assassinato
2) CIA: cobertura a Mobutu para tomar o poder
ONU
1) Envio de ajuda militar para manter a ordem, ONUC
2) Bloqueio de ajuda bilateral ao Congo
3) Não proteção dos direitos parlamentares de Lumumba
Angola
África do Sul
1) Apoio financeiro à FNLA e à UNITA
2) Envio de tropas (Zulu, depois SADF): invasão de Angola
1) Fomento à guerra civil e prolongamento da mesma
2) Vitória do MPLA em
campo de batalha
Até a indep.: Contrato/consenso (com as facções), enquanto não havia ainda um governo reconhecido Após a indep.: a) Contrato/consenso: URSS e Cuba, que apoiavam o governo reconhecido do MPLA b) Coerção: Estados Unidos, África do Sul e Zaire, que tentavam impor uma mudança política
China 1) Instrutores no Zaire
para treinar FNLA e UNITA
Cuba
1) Envio de instrutores militares
2) Envio de tropas que participaram em combate
Estados Unidos
1) Envio de armas a Portugal (que iam ser usadas nas colônias)
2) Ajuda financeira à FNLA e à UNITA
3) CIA: Operação IAFEATURE
4) Contratação de mercenários contra o MPLA
União Soviética
1) Apoio financeiro ao MPLA
2) Envio de armas e equipamentos militares ao FNLA e a Cuba para ajudar o MPLA
Zaire
1) Base de treinamento da FNLA
2) Apoio logístico e financeiro à FNLA, depois UNITA
Chifre da África
Cuba
1) Envio de instrutores militares
2) Envio de tropas que participaram em combate
1) Manutenção de Haile Selassie no poder prolongada
2) Postergação da
independência da Eritréia
Imposição, no caso da Eritréia que não teve o direito de autodeterminação cumprido, bem como na definição da Guerra do Ogaden Contrato/consenso, no que se refere à transferência de armas
Estados Unidos 1) Manipulação do
CSNU para atachar a Eritréia à Etiópia
123
2) Transferência de recursos financeiros aos governos da Etiópia e da Somália
3) Reversão do resultado da Guerra do Ogaden em favor da Etiópia
4) Corrida armamentista
na região, com prolongamento dos conflitos regionais
e apoio financeiro aos governos instalados
União Soviética
1) Transferência de armas à Somália e à Etiópia
2) Instrução militar
África do Sul
Estados Unidos
1) Congelamento da ONU no que diz respeito à resolução de medidas coercitivas contra o apartheid
2) Transferência de armas à África do Sul
3) Sanções econômicas
1) Prolongamento do regime do apartheid
2) Desmoronamento do
apartheid
Contrato/consenso, (implícito e passivo) num primeiro momento, quando da complacência com o regime branco, também podendo ser vista como Não-ação Coerção, quando das medidas a fim de desmontar o apartheid
Ocidente
1) Congelamento da ONU, em relação a medidas coercitivas à África do Sul
2) Embargos e sanções econômicas
ONU 1) Embargos, sanções,
medidas antiapartheid
Namíbia
Estados Unidos
1) Manipulação da independência da Namíbia, ligando-a à situação em Angola
2) Não-monitoramento do cumprimento da resol. da ONU
1) Postergação da independência da Namíbia
2) Independência da Namíbia
Uma vez que a Namíbia não era independente, mas tinha o direito conferido pela ONU, a classificação fica dificultada. Considera-se que a manutenção da Namíbia como parte da África do Sul foi uma imposição, enquanto que o apoio soviético à SWAPO foi uma forma de ingerência por contrato/consenso frente à Namíbia, mas uma forma de coerção frente à África do Sul.
ONU
1) Decisão no sentido de atachar a Namíbia à África do Sul, em 1920
2) Resolução conferindo à Namíbia direito de autogovernar-se
União Soviética
1) Ajuda financeira à SWAPO
2) Treinamento militar à SWAPO
Evidentemente, o elenco apresentado está longe de esgotar as várias formas
assumidas pela ingerência internacional, mesmo nos casos trabalhados. Dependendo do
nível de aprofundamento, muito há que ser considerado dentro da temática. Contudo, o
que parece transparecer é que, à exceção do Congo/Zaire, as vezes em que a ingerência
internacional deu-se de maneira impositiva (no sentido de não deixar alternativa ao
receptor, se não aquela oferecida pelo ingerente) remetem a casos onde havia territórios
que ainda não eram independentes (no caso, a Eritréia e a Namíbia). Onde havia um
Estado reconhecido, o grau máximo da ingerência deu-se por coerção, ou seja, via pressão
internacional, muitas vezes resistida pelo ator receptor.
Outro ponto importante a ressaltar é que nem sempre a ingerência deu-se de
maneira ativa. Como mostra o caso do Congo, e mesmo da África do Sul, muitas vezes a
ingerência é resultante da não tomada de atitude, quanto esta deveria ser tomada (seja
124
por resoluções da ONU, seja pelo direito internacional, seja por motivos referentes ao
consenso internacional em torno da questão). Nesses casos, a não-ação reflete uma
vontade política específica, como a manutenção das coisas como estão, ou o desejo de
que a situação prossiga conforme a dinâmica dada.
Isso remete a outra consideração, qual a existência dos atores ingerentes que não
Estados e seu vínculo com determinados Estados. No caso, a ONU é um claro exemplo de
como um órgão de consulta e coordenação internacional funcionou de maneira a
favorecer um determinado desfecho que, a rigor, sequer favorecia a maioria de seus
membros. Houve, na prática, uma manipulação, decorrente do processo decisório do
órgão (no caso o Conselho de Segurança), que aufere poder diferenciado aos seus
membros. Aqui, a Guerra Fria se fez sentir sobremaneira, uma vez que o Ocidente conseguiu
instrumentalizar a ONU a seu favor. De um lado, no caso do Congo/Zaire, por exemplo, as
decisões tomadas no órgão demonstraram-se parciais e direcionadas a interesses
específicos dos membros ocidentais. De outro, quando medidas aparentemente neutras e
pautadas nos princípios da carta eram tomadas, como no caso da Namíbia, não eram
levadas a cabo em seu cumprimento.
CONCLUSÃO
A complexidade do tema da ingerência internacional na África na Guerra Fria não
permite uma análise satisfatória dentro do presente trabalho. Muito há ainda que ser
considerado, por prismas diferenciados. Dada a amplitude do conceito de ingerência aqui
utilizado, outros atores ingerentes deveriam constar, como, por exemplo, atores privados e
ONGs, na medida em que estes também, com sua atuação, podem trazer mudanças nas
políticas internas dos Estados. Aqui optou-se pelo enfoque estatal por questões meramente
práticas, inclusive pelo acesso a material disponível.
O objetivo deste capítulo foi tentar sistematizar as ingerências na África relacionadas
ao período da Guerra Fria e que, em maior ou menor grau, estivessem vinculadas à
dinâmica das rivalidades entre as superpotências. Destarte, os casos analisados refletem, em
algum momento, preocupações de cunho estratégico de uma ou das duas superpotências.
As ações de Estados Unidos e União Soviética, nesse sentido, eram pautadas pela
percepção que uma parte tinha da outra e de como “o outro” iria atuar naquela dada
situação. No caso dos demais atores envolvidos, a vinculação de suas ações com a
bipolaridade nem sempre se apresenta tão clara, mas ainda assim, o espaço em que
puderam atuar dependia do grau de engajamento das superpotências.
Outras formas de ingerência ocorreram durante a Guerra Fria, mas não
necessariamente seguiram, pelo menos não com a mesma rigidez, a dinâmica da
125
bipolaridade. A ingerência econômica, que adquire um capítulo à parte nesta dissertação,
em alguns momentos acompanha os ciclos de distensão e acirramento da Guerra Fria na
África, mas possui complexidades que ultrapassam essa lógica. Na esfera econômica, a
bipolaridade se apresenta num tom mais cinza, cabendo ao Ocidente exclusivamente a
condução das decisões (que, em muitos casos, se pautaram por questões políticas).
126
4
INGERÊNCIA ECONÔMICA
One African negotiator compared the process to a Wild West shoot-out, in which his revolver emitted no more than a series of ineffectual clicks, while his opponent’s was fully loaded.
(Clapham, 1996: 170)
Ao longo da Guerra Fria, várias formas de ingerência puderam ser observadas. Até o
momento, foram analisadas aquelas que estiveram vinculadas ao contexto político da
bipolaridade e que, em diferentes graus, eram oriundos das políticas de poder entre as
superpotências, bem como dos seus reflexos nas políticas de outras potências.
Enquanto a faceta política da ingerência na África seguiu, nesse período, um
comportamento ligado à Guerra Fria, em termos econômicos essa ligação foi menos
evidente. De fato, ao utilizar o termo “ingerência econômica”, o presente texto pretende
abordar as relações de dependência dos países africanos com relação às potências
ocidentais e às instituições financeiras internacionais (IFIs). Essa dimensão econômica da
ingerência, que tem início ainda durante a Guerra Fria, tem continuidade até os dias atuais,
apresentando variações, que serão analisadas nos dois próximos capítulos.
Num primeiro momento, que vai das independências até o final da Guerra Fria,
observa-se a predominância do discurso desenvolvimentista, que viria a orientar os
comportamentos políticos tanto dos novos países africanos quanto as políticas das
potências ocidentais e das IFIs em relação a estes. Esse discurso, que foi apresentado e
aceito como legítimo pelos participantes das relações internacionais, veio a justificar uma
série de medidas econômicas que moldaram a inserção africana na economia mundial e
que, sob vários aspectos, carregam consigo formas diversas de violação de soberania.
Num segundo momento, que coincide com o final da Guerra Fria, o discurso
desenvolvimentista vai ser retrabalhado, sendo acrescido de variáveis outrora pouco
relevantes nos discursos das grandes potências e das IFIs para com o continente africano (e
os países em desenvolvimento em geral). Ao desenvolvimento, serão acrescentados valores
como a democracia, o respeito aos direitos humanos e a boa governança.
O presente capítulo vai enfocar o primeiro momento, traçando um breve histórico
da inserção africana na economia mundial, a partir da sua interação com as ex-colônias e
com os Estados Unidos e as IFIs (aqui entendidas como o Banco Mundial – BM e o Fundo
127
Monetário Internacional – FMI). Ao se explanar o papel desses agentes no desenvolvimento
econômico africano, serão detectadas algumas modalidades de violação de soberania.
Como nos demais capítulos, buscar-se-á compreender as motivações dessas violações, bem
como identificar as justificativas apresentadas para a sua ocorrência.
À diferença dos capítulos precedentes, não haverá ênfase em casos particulares,
uma vez que, no caso específico da ingerência econômica aqui entendida, as ações
levadas a cabo pelos agentes mantiveram um parâmetro semelhante nos países africanos
que, aliás, participaram quase em sua totalidade das atividades aqui descritas.
4.1 INSERÇÃO DA ÁFRICA NA ECONOMIA MUNDIAL
Os reflexos da ação internacional na formação da economia africana podem ser
encontrados ainda no período colonial. Assim como o modelo civilizatório e a organização
política dentro dos moldes de um Estado nacional (a refletir a idéia de uma expansão da
sociedade internacional européia), também a economia e as regras que viriam a dirigir o
sistema de trocas comerciais endógenas e exógenas vieram como parte de um pacote
ocidental liberal a ser implementado no continente.
Enquanto sociedade ainda intocada pelo colonialismo, a África possuía instituições
econômicas próprias. Havia variações conforme as regiões geográficas e os tipos de
sociedades. De maneira geral, no entanto, o leque de atividades econômicas era amplo,
perpassando as culturas extrativas, como agricultura, pesca e caça, até a tecelagem e a
fundição de metais, tais quais ouro, cobre e prata. Em grande parte do continente existia a
propriedade privada, entendida como a posse de bens, de forma que a produção
pertencia aos nativos que por ela eram responsáveis. Diferentemente da Europa, não se
instituiu um sistema feudal, com exceção da Abissínia (atual Etiópia).245 Igualmente, havia a
noção de lucro, proveniente do repasse de mercadorias, calcado num amplo sistema de
comércio, cujo cerne eram os grandes mercados. As evidências históricas apontam que o
sistema comercial agia de maneira independente do governo local, este ficando
responsável apenas pela garantia de que o sistema não colidisse com os interesses da
comunidade. Da mesma forma, não há indícios de que qualquer estrutura administrativa
local produzisse bens de forma a suprir as necessidades da comunidade: cada indivíduo era
responsável por sua produção e sobrevivência.246 Em suma, o que regulava as relações
econômicas africanas era a produção privada de bens e o livre comércio, sendo
excepcionais os casos de intervenção estatal na economia.
245 AYITTEY, George B. N. Africa in chaos. New York: St. Martin’s Press, 1999, p. 96. 246 Ibid., cap. 3.
128
Foi a administração colonial e, posteriormente, o processo de independência, que
alterou a estrutura econômica da África e, mais ainda, definiu a sua inserção na economia
mundial. A abordagem colonialista focava em dois aspectos que hoje se apresentam quase
contraditórios: de um lado, o liberalismo econômico, de outro o dirigismo estatal. No caso
da relação com as colônias, isso não parecia contradizer-se, dado que o próprio
pressuposto do colonialismo residia na expansão econômica da metrópole. Assim, identifica-
se, nesse momento, um processo de expansão do centro ocidental europeu para o resto do
mundo que se reflete na África a partir de uma assimetria de poder em favor do centro.
Nesse sentido, a primeira mudança percebida na sociedade nativa é a relativa ao
comércio local: em razão dos interesses metropolitanos, há um corte nas transações de bens
não-essenciais, em prol de uma ênfase em bens primários. Ao ser inserida na divisão
internacional do trabalho, a África passa a exportar escravos, seguidos de matérias primas,
tais quais minérios, e produtos tropicais, e transformando-se em importador de produtos
manufaturados, dando início, assim, a um processo de inserção dependente no sistema
econômico internacional.247
O processo de independência não alterou esse padrão, uma vez que foi conduzido
por uma elite europeizada, que, ironicamente, veio a combater o colonizador falando sua
mesma língua, utilizando as mesmas armas políticas e ameaçando seus próprios princípios
liberal-democráticos. Enquanto a África tradicional248 permaneceu viva, sujeitou-se à visão
da elite que conduziu o processo de independência249 e que consolidou a principal
herança deixada pelo colonialismo: o estatismo.250
Uma vez obtidas as independências, a principal preocupação dessas elites centrou-
se na busca por desenvolvimento. Vinculando o capitalismo ao colonialismo, e abraçando
ideologias alternativas (muitas vezes o socialismo), a política para o desenvolvimento
traduziu-se num alto grau de intervenção estatal na economia, visando criar um setor
industrial que havia sido retardado pelo sistema colonial. É nesse momento em que o
Ocidente e, particularmente, as instituições financeiras internacionais (IFIs), vão ter um papel
incisivo no desenvolvimento das políticas econômicas dos novos Estados africanos, bem
como na própria consolidação de determinados regimes políticos.
247 WILLIAMS, Marc A. Africa and the international economic system: dependency or self-reliance? In: WRIGHT, Stephen; BROWNFOOT, Janice N. (ed.) Africa in world politics. Changing perspectives. Houndmills, London: The Macmillan Press, 1987, p. 38. 248 Aqui o termo refere-se à África antes da colonização. 249 LEGUM, Colim. Africa since independence. Bloomington: Indiana University Press, 1999, p. 11-12. 250 Ayittey, op. cit., cap. 3.
129
4.2 DESENVOLVIMENTISMO E AJUDA EXTERNA: A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO
ESTATISTA
Tão logo obtiveram as independências de seus países, a grande maioria dos líderes
africanos optou por adotar uma linha de atuação política que primava pelo
desenvolvimentismo. Eventualmente usando linguagens diferentes, líderes conservadores
(Haile Selassie da Etiópia, Houphouet-Boigny da Costa do Marfim), radicais (Julius Nyerere da
Tanzânia) ou militantes (Kwame Nkrumah de Gana, Sekoú Touré da Guiné)251 perseguiam o
mesmo objetivo: o desenvolvimento de seus países. Mas o que vinha a ser esse
desenvolvimento?
Há que se destacar a transformação qualitativa do termo ao longo do tempo. Hoje
desenvolvimento aporta um significado mais amplo, que inclui o crescimento econômico de
um país, mas que também se reflete na melhoria das condições de vida da população. Essa
melhoria não está apenas relacionada ao aumento da renda, mas também ao acesso da
população à educação, saúde e nutrição.252 O crescimento econômico, portanto,
enquanto aumento do PIB, faz parte do processo, mas não basta em si. Num primeiro
momento, contudo, o aspecto social do desenvolvimento não era tão enfatizado. A ênfase
era calcada no crescimento econômico, que, eventualmente, de maneira quase
automática, implicaria uma melhoria para a população em geral. A busca pelo
desenvolvimento pautava-se, assim, pelo aumento do PIB, que dependia, por sua vez, de
alguns elementos que passaram a ser perseguidos pelos Estados (e ainda hoje o são). De um
lado, uma das fontes de crescimento econômico reside no aumento de algum dos fatores
de produção (terra, trabalho e capital). De outro, um dos recursos de crescimento seria a
inovação tecnológica, de forma a aumentar a eficiência e a produtividade. Há, ainda,
fatores temporários e exógenos, como, por exemplo, a sobrevalorização de algum produto
de exportação do país devido a razões de mercado (exemplo seria o boom do petróleo na
década de 1970).253
No caso africano, a inserção dos países na economia mundial limitou o investimento
em tecnologia de produção, devido à ênfase que foi colocada na exportação de produtos
primários (resquício do período colonial). A forma encontrada para elevar o crescimento
econômico e buscar o desenvolvimento, pautou-se, portanto, nos outros dois elementos. A
partir da discussão intelectual que permeou as décadas de 1950 e 1960, os recém criados
251 A classificação é proposta por Legum, op. cit., p. 6-8. Há outras que remetem aos tipos de líderes que surgiram no pós independência, mas que ao final se aproximam quando fazem referência ao grau de intensidade das reformas propostas e os métodos preferencialmente adotados. 252 Ayittey, op. cit.; p. 30, LANCASTER, Carol. Aid to Africa. So much to do, so little done. A Century Foundation Book. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1999, p. 14. 253 Lancaster, op. cit., p. 15-16.
130
governos africanos detectaram como principal obstáculo ao seu desenvolvimento a falta
de capital (juntamente com o baixo nível de tecnologia e o analfabetismo). A lógica
ocidental era a de que a pobreza havia se transformado numa patologia no Terceiro
Mundo. A falta de investimentos, que era fundamental para o crescimento, era reflexo da
falta de reservas, que, por sua vez, era decorrente da baixa renda. Como a baixa renda era
também reflexo da falta de investimentos, identificava-se um círculo vicioso, do qual
somente se poderia sair por meio de um grande impulso (big push). Esse impulso não
poderia advir do mercado interno, que era considerado subdesenvolvido. Era necessário
capital externo abundante.254 A ênfase na atração de capital, dessa forma, marcava todo
o pensamento terceiro-mundista e traduziu-se na famosa substituição de importações como
fórmula mágica que livraria esses países da dependência internacional. Para que tais
políticas fossem implementadas e se obtivesse o resultado esperado, cria-se necessário um
Estado “forte”, que pudesse conduzir esse processo. O estatismo foi consolidado, assim,
como elemento chave na política de desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo em
geral, e africanos, em particular.
O desenvolvimento dirigido pelo Estado (state-led development) seguia três pilares
fundamentais. Primeiramente, enfatizava a expansão dos serviços sociais e da infra-
estrutura, financiados pelo Estado. Em segundo lugar, priorizava o desenvolvimento
industrial, normalmente via barreiras tarifárias e implementação de políticas de preços que
favorecessem as indústrias, além do investimento setorial. Por fim, previa-se o financiamento
dos gastos governamentais, mormente por meio da taxação das exportações de produtos
primários (leia-se produtos agrícolas ou minerais).255 Na prática, a lógica que previa o big
push revelou-se uma falácia, uma vez que a substituição de importações, longe de reduzir a
dependência das exportações, tornou as indústrias locais menos competitivas
internacionalmente, e o Estado cada vez mais dependente das exportações de produtos
primários. Isto, por sua vez, aumentava a vulnerabilidade dessas economias, que ficavam
sujeitas à volatilidade da receita das exportações, contrariando, portanto, todas as
expectativas que haviam levado à adoção dessa mesma política.256
Além de não produzir o resultado esperado (não se observou o processo de
industrialização), a adoção da política desenvolvimentista trouxe uma série de
conseqüências negativas para os Estados africanos. A principal delas foi a rápida expansão
do Estado bem como dos gastos governamentais, gerando, nas palavras de Lancaster, um
desenvolvimento não-sustentado (unsustainable development). Isso ficou evidente ao longo
254 Ayittey, op. cit., p. 269. 255 Lancaster, op. cit., p. 22-23. 256 WILLIAMS, Gavin. Why structural adjustment is necessary and why it doesn’t work. Review of African Political Economy, n. 60: 214-225, 1994.
131
da década de 1970, quando houve um brusco aumento, seguido da igualmente brusca
queda nos preços da maior parte dos produtos de exportação locais, em especial o
petróleo. A ascensão que se iniciou em 1973 aumentou enormemente o fluxo de capitais,
em especial na Nigéria, em Angola, no Congo, Gabão e Camarões. Como reflexo dessas
entradas, e diante da política de desenvolvimento adotada, os gastos dos governos
aumentaram consideravelmente, incluindo desde projetos de desenvolvimento a aumento
de salários e oferta de empregos no aparato do governo. Uma vez que essa prosperidade
era oriunda de um momento particular da economia internacional, ou seja, de fatores
exógenos e temporários, logo se observou o efeito reverso. Ao final da década de 1970,
quando os preços das commodities voltaram ao “normal”, os Estados desenvolvimentistas
encontraram-se com uma alta quantidade de recursos financeiros e poucas opções de
investimento. De um lado, esses Estados passaram a ter uma alta folha de pagamentos que
já não podiam suportar. Os setores que haviam recebido os investimentos não se auto-
sustentavam e, a fim de manter o padrão de gastos adquirido, os governos tiveram que
recorrer a ajustes que primavam por medidas de controle da economia: imposição de
quotas às importações, adição de subsídios e regulamentações, políticas de preços abaixo
da taxa real de mercado, entre outros. 257 Além do mais, criou-se a necessidade de recursos
cada vez maiores para pagar pelas importações necessárias à política adotada.
Paralelamente, o descrédito internacional fez com que os empréstimos das instituições
financeiras a esses países se fizessem sob condições mais rígidas. Como alternativa, muitos
dos empréstimos foram obtidos junto a bancos comerciais, que se valeram da situação de
fragilidade dos governos em questão para atrelar aos empréstimos taxas de juros flexíveis.
Como explica Williams:
Consequently, the commercial banks and government agencies supplied large amounts of short- and medium-term credit to governments who had no evident way of paying for them, especially when real interest rates rose and the price of primary exports fell in the 1980s.258
Em suma, no início da década de 1980, as reformas econômicas haviam se revelado
um fracasso. Não se realizou o processo de industrialização, os países africanos continuaram
tendo suas economias apoiadas na exportação de produtos primários, confirmando, assim
que o modelo de desenvolvimento escolhido não encontrava sustentação.
A POLITIZAÇÃO DA AJUDA EXTERNA
A política desenvolvimentista apresentava aspectos de consenso e discordância
entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Era consensual a crença no papel do
Estado, nos benefícios que seriam dela oriundos, tanto para as economias locais africanas,
257 Lancaster, op. cit., p. 22-26. 258 Williams, op. cit., p. 216.
132
quanto para a economia internacional como um todo. De outro lado, o Terceiro Mundo
apresentava suas reivindicações, especialmente na condução de atividades multilaterais,
onde exigiam medidas privilegiadas para compensar sua inserção econômica, dados os
laços históricos com as potências ocidentais. Havia, no entanto, um otimismo quanto à
viabilidade e sucesso dos planos de desenvolvimento.
No caso africano, contribuiu para um otimismo inicial, a própria conjuntura
econômica internacional, que se refletiu no alta do valor das commodities locais, levando a
crer que de fato o big push seria possível. Com o tempo, as políticas implementadas não
apenas não encontraram sustentabilidade, como provaram-se ineficientes na resolução dos
problemas que se propunham resolver. Além disso, houve conseqüências importantes no
que diz respeito ao desenvolvimento do Estado africano, nesse período. De fato, o que
ocorreu internamente, paralelamente ao processo “desenvolvimentista”, foi a consolidação
da elite política que havia se fixado no poder durante o processo de independência. De um
lado, a opção pelo desenvolvimentismo pautava-se por uma visão elitista da sociedade
africana, ficando os investimentos no setor agrícola relegados a segundo plano e
intensificando-se a disparidade entre a população urbana e a população agrária. De outro,
a opção pelo modelo estato-cêntrico concentrava ainda mais o poder político e
econômico nas mãos dessa mesma elite. Como aponta Lancaster,
There were few “agencies of restraint” within their governments – like independent central banks or judiciaries – and there were rarely groups within their societies able or willing to resist the monopolization of power by increasingly autocratic and often repressive rulers.259
A ótica desenvolvimentista, então, não levava em consideração a qualidade da
administração estatal no que toca o seu grau de democratização. Ao contrário, era crença
geral de que, em determinados casos, fazia-se necessário um Estado forte e centralizado
para se obter uma política econômica controlada que favorecesse o crescimento e a
implementação de medidas políticas e econômicas rígidas. A centralização do poder nas
mãos do governante, contudo, abriu espaço para o aprofundamento das relações de
clientelismo e patronagem, que vieram a caracterizar os Estados africanos independentes.
Nessa relação, observa-se a concentração de poder e de recursos nas mãos do chamado
“big man”, um (ou vários) político influente que abusa do seu poder para repassar os
recursos estatais a um reduzido grupo de clientes, que são os seus seguidores, usualmente
ligados ao seu grupo étnico, ou partido político. A utilização das instituições e recursos
públicos para fins de patronagem enfraqueceu sensivelmente a capacidade dessas
mesmas instituições de atingirem um grau de autonomia e eficácia necessários para a
condução dos países ao desenvolvimento. Embora o desenvolvimentismo não tenha sido a
causa dessa tendência, foi um fator que contribuiu para a consolidação desse modelo que,
259 Lancaster, op. cit., p. 24.
133
ao longo das décadas seguintes, enraizou-se de tal forma no Estado africano, que carregou
suas mazelas até os dias de hoje.
Se a opção por esse modelo foi uma decisão africana, a sua persistência e
“legitimidade” internacional estão diretamente ligadas ao apoio do Ocidente na
perseguição do modelo desenvolvimentista. De fato, a consolidação do Estado, em
especial dos governantes que conduziram a política de centralização estatal, também foi
favorecida pelo fluxo financeiro oriundo tanto de Estados, quanto de IFIs. Primeiramente, a
própria retórica desenvolvimentista tinha sua origem entre os economistas do Ocidente
(destaque para a London School of Economics). De maneira mais direta, contudo, as
próprias agências internacionais compraram o discurso e investiram na adoção pelo
Terceiro Mundo do chamado modelo dirigista. O próprio Banco Mundial, não obstante sua
reputação de organização liberal e market-oriented, encorajou a estatização ao invés de
promover o livre mercado e a democracia.260 Esse apoio foi refletido em suas políticas de
empréstimos, focados em projetos de infra-estrutura governamentais. Segundo dado
apresentado por Ayittey, ao longo da década de 1980, 80% dos fundos do BM foram
revertidos para empreendimentos governamentais ou paraestatais.
O papel que a ajuda internacional teve nas políticas domésticas africanas e como
afetou a soberania desses Estados é alvo de ampla discussão. De um lado, é comum
encontrar a posição de que o papel da ajuda internacional é fundamental para explicar a
persistência de alguns governantes africanos no poder. Um dos exemplos clássicos é o de
Mobutu no Zaire, que lá teria permanecido por mais de três décadas graças aos recursos
transferidos regularmente para o país, não obstante a sua péssima gestão administrativa. De
outro lado, alguns autores possuem sérias reservas ao argumento da ajuda externa como
instrumento de violação da soberania.
Não se assume neste trabalho que a ajuda externa tenha sido a causa das mazelas
estatais africanas, mas sim que a ela contribuiu de maneira incisiva para tanto, tornando-se,
em função da legitimidade internacional que carregava consigo, um fator permissivo
fundamental para tanto. Em razão dos efeitos oriundos da ajuda internacional (se não
totalmente, pelo menos de maneira parcial) no destino político e econômico dos países
africanos, considerar-se-á aqui, que, em alguma medida a ajuda externa foi
instrumentalizada para afetar deliberadamente a soberania dos Estados recipiendários. Essa
manifestação de ingerência vai ganhar contornos mais claros a partir do atrelamento das
condicionalidades, primeiro econômicas e, após o fim da Guerra Fria, políticas às
transferências de recursos.
260 Ayittey, op. cit., p. 270.
134
Por ajuda externa (foreign aid)261 entende-se a transferência de recursos
concessionais de um governo a outro ou de um governo a uma agência internacional ou
não-governamental (que o venha a repassar para países mais pobres) e cujo principal
objetivo seja o da promoção de desenvolvimento.262 A ajuda externa pode assumir várias
formas: recursos financeiros (como empréstimo ou doação), comida, roupas, medicamentos
ou outros bens. Também pode vir na forma de perdão de dívidas. De maneira geral, a ajuda
vem atrelada a projetos de natureza diversa, que cobrem desde investimento em infra-
estrutura à capacitação técnica de nacionais do país receptor, via transferência de
recursos humanos. Enquanto essa definição permanece vigente, o fato de estar atrelada ao
desenvolvimento carrega algumas implicações. A primeira delas é que, à medida que
muda a percepção sobre desenvolvimento, muda a sua instrumentalização prática e as
condições em que a ajuda se aplica. A segunda é que, não obstante essas possíveis
mudanças, a legitimidade do discurso é permanente, pois assume um caráter de
benevolência para com aqueles que necessitam da ajuda. Assim, nesse primeiro momento
(décadas de 1960 e 1970), a ajuda internacional vinha atrelada ao discurso
desenvolvimentista então vigente, que se calcava na industrialização, portanto muito mais
na economia do país em termos de crescimento de indicadores, do que na distribuição dos
benefícios na esfera social, na boa gestão administrativa ou outros aspectos que depois
vieram a ser incluídos no discurso. A isso, somava-se o contexto internacional político da
época, a Guerra Fria, que também teve reflexos diretos na distribuição da ajuda
internacional (considerando que um dos principais financiadores de ajuda foram e são os
Estados Unidos).
No âmbito bilateral, a ajuda internacional esteve normalmente ligada a interesses
políticos de Estado. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, a ajuda enviada ao
continente africano sempre esteve bem abaixo da ajuda revertida a outros continentes
(América Latina, Europa e Ásia), atingindo seu primeiro pico no início da década de 1960.
Nesse momento, o fator de estímulo era a Guerra Fria e o contexto de independência dos
Estados africanos. Com medo da influência que poderia advir de Moscou, Washington viu
na transferência de recursos um instrumento político, respondendo, assim, em 1962, com US$
261 É um conceito cuja definicão encontra possíveis variações na literatura. Usualmente, a ajuda externa é refletida na chamada Official Development Assistance (ODA), que compreende ajuda financeira e técnica, sendo que a primeira também inclui os juros concessionais que podem chegar a 25%. Atualmente, há definicões alternativas, que buscam prescisar mais o conceito. Uma seria a proposta pelo Banco Mundial Effective Development Assistance (EDA), entendida como a soma dos recursos direcionados ao desenvolvimento em um dado período, sendo estes concessionais. Os recursos não concessionais estariam incluídos no rótulo de Official Development Finance (ODF) que também incluiria o EDA. Essas novas definições viriam a traduzir a realidade de uma maneira mais precisa, refinando o que está incluindo na ODA. Ver DEVARAJAN, S.; DOLLAR, D. R. & HOLMGREN, T. (ed.) Aid and reform in Africa. Lessons from ten case studies. Washington, DC: The World Bank, 2001, p. 36. 262 Lancaster, op. cit., p. 36, referindo-se a definição da OCDE.
135
65 milhões para ajudar na construção da represa de Volta em Gana; US$ 10 milhões para
atividades variadas na Guiné e US$ 84 milhões para o Congo. Na Etiópia, a aproximação
soviética fez com que a ajuda americana passasse de 8 milhões de dólares em 1960 para 42
milhões em 1961.263 Passado o medo da expansão socialista no continente, o fluxo de ajuda
reduziu-se, para ascender novamente na segunda metade da década de 1970, quando da
renovação das tensões bipolares no continente. Na década de 1980, não obstante o
gradual e progressivo desinteresse da URSS no continente, a transferência de recursos
estadunidenses cresceu, já não mais em razão da bipolaridade, mas em função da
deterioração econômica do continente e da posição política de que se fazia necessário
contribuir com os países mais pobres e necessitados. Especificamente, a África passava por
uma severa crise, que se agravou ainda mais com fatores de natureza apolítica, como a
seca na Etiópia, que colocou o país em destaque mundial. A mudança no fator que
incentiva a transferência de ajuda vai se consolidar com o fim da Guerra Fria, quando a
ajuda externa vai passar a acompanhar a expansão democrática liderada pela potência.
Não obstante a ajuda externa fornecida pelos Estados Unidos tenha sido sempre
vinculada ao discurso desenvolvimentista, estando estes recursos atrelados a projetos pré-
determinados, uma das características marcantes que revela o aspecto político da ajuda é
o processo decisório que a define. De fato, não obstante a agência responsável pelo
processo seja a USAID, na prática o papel do Congresso em determinar restrições aos
projetos da agência acabaram por ter um impacto direto na distribuição da ajuda. Como
observa Lancaster:
The result was frequently that USAID missions submitted laboriously prepared budget proposals to Washington of the projects and programs they would like to undertake in their particular countries and then were told that they would have funds to finance only certain types of projects (often not the ones they wanted to finance) because of the legislative restrictions emanating from the Congress or other commitments by the administration.264
Ou seja, enquanto existe uma autonomia na identificação de áreas que precisam
de ajuda e na elaboração de propostas, a liberação de recursos acaba sendo vinculada às
prioridades de política externa definidas pelo Congresso. Ao lado de ambas, também há
que se destacar o papel do Departamento de Estado, que decide junto à USAID onde vão
ser alocados os recursos. Em suma, a autonomia da agência é limitada quando à sua
capacidade decisória. Essa autonomia ficou particularmente restrita à época da Guerra
Fria, onde as decisões referentes à transferência de ajuda externa se pautavam por
motivações políticas.
A politização da ajuda externa também é visível no caso francês, aqui de maneira
ainda mais evidente. De fato, pela relação especial desenvolvida com a África, os próprios
263 Ibid., p. 86. 264 Ibid., p. 92.
136
trâmites burocráticos para a transferência de ajuda são bem reduzidos, se comparados ao
caso estadunidense. Primeiramente, a maior parte da ajuda é fornecida para apoio
orçamentário, auferindo à contribuição um alto grau de flexibilidade quanto à sua
utilização. Em segundo lugar, a estrutura institucional responsável pela ajuda externa
francesa é particularmente fragmentada, fazendo com que não haja um planejamento
claro e transparente. Uma vez que existe um assessor presidencial especial para a África
(caso excepcional, se comparado aos demais países doadores) e não há um controle
centralizado da ajuda, muitas vezes esta acaba sendo duplicada dentro de um mesmo
programa, o que beneficia os países africanos recipiendários. Essa fragmentação contribui
para que o governo continue conduzindo a política de relações especiais com a África,
sem que haja maiores constrangimentos. Esta, aliás, constitui um forte instrumento de ação
diplomática, indicativo do grau de importância atribuído às relações com os países que a
recebem. A ajuda externa seria, assim, “a little like political campaign contributions: it can
facilitate the access of those providing it to those receiving it.”265
Um fator indicativo da instrumentalização política da ajuda externa é a própria
alocação dos recursos que não se pautou pelo fator necessidade (os países mais pobres
recebendo mais ajuda). O Gabão, por exemplo, é um dos menores países africanos, mas
também um dos mais ricos, graças às reservas de petróleo que possui. Ainda assim, entre o
final da década de 1980 e início de 19990 recebeu da França cerca de US$ 100 milhões por
ano.266
4.1 Cinco maiores receptores de ajuda francesa na África
1970-71 1980-81 1994-5
Costa do Marfim Senegal Costa do Marfim
Madagascar Costa do Marfim Camarões
Senegal Camarões Senegal
Gabão República da África Central Congo
Camarões Gabão Burkina Faso
Fonte: Development Assistance Committee, Development Cooperation (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1997), p. A73, apud Lancaster (1999)
Outro fator indicativo do grau de politização da ajuda francesa é a sua não
necessária coincidência com os interesses econômicos do país. Ao longo dos anos, embora
em especial na década de 1990, vários relatórios apontaram para as desvantagens
econômicas das relações especiais com a África Ocidental (atenção especial era dada ao
265 Ibid., p. 118. 266 Ibid., p. 118.
137
ancoramento do franco CFA, cuja sobrevalorização foi por muito tempo sustentada pela
França), mas sem que mudanças significativas ocorressem.
O peso das determinações políticas na ajuda “para o desenvolvimento” não se
restringe ao âmbito bilateral, mas encontra reflexos nas agências multilaterais, em especial
no Banco Mundial. Constituindo um sujeito das relações internacionais em si, essa instituição
possui um alto grau de autonomia, que, no entanto, não escapa às pressões políticas de
seus membros mais influentes. De fato, enquanto o BM possui um corpo estrutural que não
depende de lobbies nacionais, nem sofre pressões da sociedade civil organizada,
tampouco é constrangido pelas legislações internas aos países, ele sofre limitações oriundas
da sua própria estrutura de processo decisório. No que diz respeito à liberação de
empréstimos, há critérios previamente estabelecidos, entre os quais destacam-se: o
tamanho da população, o grau de pobreza e performance econômica do país
recipiendário. Este último, aliás, é fator prioritário, especialmente quando da renovação de
recursos vinculados a programas de ajuste estrutural. Entretanto, em várias ocasiões esse
critério foi suprimido em razão do lobby de alguns de seus membros. Esse foi o caso, por
exemplo, da não-interrupção dos fluxos em direção ao Zaire, que recebia no Banco forte
apoio de Estados Unidos, Bélgica e França. A França, em especial, também contribuiu para
o repasse de verbas para vários países francófonos (Costa do marfim, Camarões), também
em função do franco CFA, que segurava as economias destes. Tais pressões derivam do
fato de o peso de cada participante da instituição estar diretamente relacionado ao valor
de suas contribuições. É inevitável, nesse sentido, a não-politização da ajuda externa. De
maneira mais específica, essa politização será refletida nas condicionalidades atreladas à
ajuda (que serão analisadas adiante).
Essas motivações políticas e seus reflexos na não-interrupção de ajuda aos países
africanos trouxeram alguns reflexos importantes no futuro do continente. Primeiramente, esse
fluxo financeiro contribuiu para a consolidação dos novos governantes no poder. Apegados
ao discursos desenvolvimentista, justificava-se a centralização estatal como meio necessário
para atingir um estágio que viria a beneficiar o país como um todo. Em termos econômicos,
um dos efeitos colaterais derivados da ajuda internacional foi o reforço da má gestão
administrativa, uma vez que, relaxando o grau de constrangimento econômico, os
governantes viam-se com mais facilidade para persistir em suas políticas econômicas e
fiscais, mesmo que fossem estas danosas ao próprio desenvolvimento do país. Estudos que
se baseiam em contrafactuais observam que, em alguns casos, a interrupção de ajuda em
determinado momento teria levado o governo a obrigatoriamente interromper tais políticas,
138
buscando métodos de gestão alternativos.267 Em termos políticos, um efeito observável foi a
utilização da ajuda como um instrumento de statecraft. De fato, muito embora oficialmente
a ajuda fosse dirigida ao Estado, na prática ela se revertia em uma ajuda ao governante em
exercício que a encarava como uma forma de aprovação pela sua gestão, e, ao mesmo
tempo, a utilizava como melhor lhe convinha, na maioria das vezes desvirtuando-a do seu
propósito desenvolvimentista. Ao mesmo tempo, como instrumento diplomático, a ajuda
carregava um vínculo com o doador, que muitas vezes podia ser interpretado como uma
forma de controle. Na prática, contudo, na maior parte dos casos, a ajuda mais legitimou
do que deslegitimou os novos governantes. Isto porque, uma vez que a consolidação dos
novos Estados se apoiou no discurso desenvolvimentista, a ajuda transformou-se no seu
principal instrumento de concretização desse objetivo. Como aponta Lancaster:
Foreign aid was supposed to finance development. But more than that, it became a symbol of development – or, at least, of a development to come – indirectly supporting government’s promises to deliver a better standard of living for its people.268
Nesse sentido, uma das conseqüências correlatas foi a consolidação de regimes
ineficientes, caracterizados por extrema corrupção e má gestão, sendo o Zaire um dos
casos mais notórios, mas não exclusivo. Como pode ser observado na tabela, não apenas
não há uma relação entre a boa gestão e o fluxo de ajuda internacional, mas tampouco há
uma relação entre a ajuda para o desenvolvimento canalizada para estes países e o seu
grau real de desenvolvimento.
4.2 Cinco maiores receptores de ajuda na África
1970 1980 1990 1995
Nigéria Tanzânia Quênia Zâmbia
Zaire Sudão Tanzânia Costa do Marfim
Quênia Zaire Moçambique Moçambique
Tanzânia Quênia Etiópia Etiópia
Gana Zâmbia Zaire Tanzânia
Fonte: Development Assistance Committee, Development Cooperation (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development), apud Lancaster (1999)
4.3 PLANOS DE AJUSTE ESTRUTURAL E CONDICIONALIDADES ECONÔMICAS:
REVERTENDO O ESTATISMO
A política de ajuda externa, da forma como foi conduzida no caso africano e dada
a sua politização, contribuiu em medida significativa para a deterioração estatal que se
267 Lancaster, op. cit., p. 61. 268 Ibid., p. 64.
139
seguiu ao longo da década de 1980. Embora possa haver diferenças de opinião quanto ao
grau dessa influência, a literatura não sugere discordância quanto à existência desta. Em
grande medida, a adesão dos países africanos aos planos de ajuste estrutural (SAPs) está
vinculada à crise que se sucedeu à política desenvolvimentista. Enquanto a ajuda externa
tinha como objetivo oficial o financiamento do desenvolvimento, na prática uma de suas
conseqüências foi a criação de dependência dos países recipiendários à mesma. De fato,
os recursos recebidos não geraram a industrialização esperada. Aliado a isso, a conjuntura
econômica internacional da década de 1970 havia favorecido as exportações de alguns
países africanos, acomodando-os em uma situação que, no longo prazo, não teria
sustentação. Ao entrar na década de 1980, em bancarrota, sem condições de financiar as
importações sequer de produtos básicos, quanto menos para pagar os juros das dívidas,
esses governos foram jogados aos braços das instituições financeiras internacionais (IFIs) de
Bretton Woods: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM).
O FMI, nesse contexto, vai aparecer como ator novo, uma vez que se observa, nesse
momento, uma modificação significativa no domínio das suas funções. Tanto o Banco
Mundial quanto o FMI foram criados na Conferência de Bretton Woods, em 1944. O BM,
nomeado originalmente como Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), tinha como foco a reconstrução da Europa, ou seja, sua principal função residia na
reconstrução de maneira mais específica. Naquele momento, a grande maioria dos países
em desenvolvimento não havia adquirido sequer a independência e possuíam importância
reduzida na agenda internacional. O papel do FMI era menos ligado à reconstrução e/ou
desenvolvimento: sua função específica era a de zelar pela estabilidade econômica o que,
em alguns casos, poderia ser feito por meio de empréstimos de curto prazo a determinados
países, com o intuito de prover liquidez e evitar possíveis crises econômicas de larga escala.
Em suma, o FMI vinha ajustar possíveis falhas do mercado, a fim de salvaguardar a
economia internacional.269
A mudança nas funções das instituições, que vai se desenhar a partir da década de
1980, esteve ligada à ascensão de Ronald Reagan nos Estados Unidos e de Margareth
Tatcher no Reino Unido. A ideologia de livre mercado pregada por ambos de maneira
quase missionária encontrou tanto no BM quanto no FMI seus principais instrumentos de
propagação. Foi então que as funções dessas instituições, embora permanecendo distintas,
passaram a ser fortemente interligadas. Nos anos 1980, o Banco Mundial foi além de
simplesmente conceder empréstimos para o financiamento de projetos (sob a forma de
planos de ajuste estrutural): na prática, esses empréstimos só seriam liberados com a
aprovação do FMI, que, para concedê-la, atrelava uma série de condições aos países
269 STIGLITZ, Joseph E. Globalization and its discontents. New York/London: W. W. Norton & Company, 2003, p. 11-12.
140
recipiendários270, as chamadas condicionalidades econômicas. Com o fim da Guerra Fria,
essas condicionalidades vão se expandir ainda mais, passando a abranger aspectos
políticos dos Estados (condicionalidades políticas) e ampliando ainda mais grau de
penetração da instituição nas políticas domésticas dos países requisitantes de ajuda.
Houve, portanto, de maneira progressiva, uma imbricação das funções do BM e do
FMI. Funções que antes cabiam à competência do BM passaram a estar diretamente
vinculadas à aprovação do FMI, que, na prática, assumia um papel cada vez mais ativo no
sentido de afetar as estruturas domésticas dos países recipiendários:
[…] Supervision of a program of structural change involves Fund intrusion into questions of investment priorities, microeconomic efficiency, and the structure of incentives, all of which have traditionally been the preserve of the Bank. In the late 1970’s, the Bank, for its part, concluded that, since the main constraint on more acceptable rates of development was once again the balance of payments, fulfillment of its responsibilities required it to provide a facility to support coherent programs of structural adjustment aimed at earning or saving foreign exchange.271
Assim, em razão das crises do petróleo da década de 1970 e da deterioração
econômica internacional, o FMI passou a adotar algumas das responsabilidades antes de
competência do BM. Nesse sentido, os planos de ajuste estrutural vão refletir essa nova
relação.
O termo ajuste estrutural foi cunhado pelo então presidente do BM, Robert
MacNamara, e compreendia a série de medidas adotadas pelas duas instituições no
sentido de reformar as economias dos países endividados. Essas medidas, por sua vez, foram
desenhadas e articuladas na série de relatórios comissionados pelo Banco Mundial, os mais
importantes no caso africano, a saber: Accelerating development in Sub-Saharan Africa, de
1981, o primeiro deles; Africa’s adjustment and growth in the 1980s, de março de 1989; Sub-
Saharan Africa: from crisis to sustainable growth, de novembro do mesmo ano e, em 1992,
inovando o paradigma desenvolvimentista, Governance and development, que viria a
mudar o tom da abordagem e a identificação dos problemas concernentes ao
desenvolvimento na África.
O fulcro dos SAPs residia numa abordagem econômica liberal, ou de mercado,
assumindo uma racionalidade econômica que estaria subjacente a todas as sociedades,
independentemente do seu nível de desenvolvimento ou de suas peculiaridades. Meinlik
observa que essa “universalidade” está ligada aos fundamentos teóricos das duas
instituições. No caso do FMI especificamente, suas políticas estariam baseadas num
arcabouço teórico que data da década de 1950 (Polak, 1957) e cujas premissas estão
270 Ibid., p. 13-14. 271 Williamson (1982) apud BLACKMON, Pamela E. The IMF: a new actor in foreign policy decision making. International Studies Association. 41st Annual Convention. Los Angeles, CA: March 14-18,2000. Disponível em: <http:://www.ciao.com/>. Acesso em: 02 abr 2005
141
longe de coincidir com a realidade das economias africanas.272 De maneira semelhante, as
políticas do BM estariam pautadas em modelos ressalentes à década de 1940 (Harrod-
Domar Model), que assume, entre seus pressupostos, que os recursos oriundos do exterior
serão automaticamente usados de maneira produtiva pelo país receptor, desconsiderando,
portanto, a existência de Estados que pilham os recursos nacionais, muito comum na história
da África independente. Partindo desses pressupostos, a “fórmula mágica” apresentada
pelas IFIs à África propunha a redução do Estado na esfera econômica, uma vez que este
seria o responsável pelas “distorções do mercado”. Removido esse “empecilho”, a
economia fluiria de maneira livre, mais fundos seriam canalizados para o setor privado,
estimulando um ambiente competitivo e atrativo para os investidores externos.
Formulados a partir desse ideário, os SAPs atrelavam a liberação de empréstimos a
programas de austeridade, que se pautavam por algumas condições específicas.273
Primeiramente, os Estados que possuíam suas moedas supervalorizadas deveriam
desvalorizá-las de acordo com as taxas de câmbio do mercado. Considerando o excesso
de estatismo vigente até então, em alguns casos isso implicava mudanças drásticas nas
economias dos países e, principalmente no poder de compra da população. Em segundo
lugar, as SAPs incentivavam a privatização de setores controlados pelo Estado. Dois efeitos
esperados desta medida ganham destaque: a) o desmantelamento do monopólio de
compra governamental em relação a produtos primários locais, abrindo, assim, espaço
para preços competitivos; b) a privatização das paraestatais que, em muitos casos,
revelavam-se verdadeiras máquinas de desperdício de recursos. Terceiro, os governos
passam a ser obrigados a retirar o controle sobre a estrutura de preços, o que se dá,
basicamente, pela remoção das tarifas protecionistas relativas às indústrias locais, bem
como via remoção do controle de preços dos alimentos em prejuízo dos fornecedores
locais. Por fim, espera-se dos governos a manutenção da estabilidade macroeconômica,
através do controle orçamentário e dos cortes governamentais, logo da redução da
burocracia. Em suma, a receita proposta pelas IFIs a fim de reformar as economias desses
países previa a total reformulação da política econômica destes, numa tentativa de reverter
um processo de centralização estatal inerente ao próprio nascimentos dos Estados
africanos.
272 “The IMF preoccupation with the internal demand side of the economy has made them blind to other important cause behind the financial imbalances in African economy, namely the losso of import capacity and the related reduction in output resulting from external shocks (…). Also the IMF underestimates the existing fragmentation of markets and the severe inflexibilities in African economies that prevent the assumed presence of a flexible market-clearing system and perfect competition.” MEILINK, Henk. Structural adjustment programmes on the African continent. The theoretical foundations of IMF/World Bank reform policies. ASC Working Paper No. 53. Leiden: dez. 2003. 273 Para maiores detalhes, ver Clapham (1996), op. cit., cap. 7 e Meilink, op. cit.
142
Cabe notar que em momento algum o BM resgatou qualquer parte de
responsabilidade com relação a como o estatismo havia se consolidado na África, o que
incluía a sua participação enquanto instituição de fomento a este. Anos depois, mais uma
vez o BM vai se esquivar da sua parte de responsabilidade, atribuindo o fracasso dos SAPs à
falta de vontade política dos governantes locais, governantes esses que, aliás, consolidaram
sua gestão com a ajuda desta mesma instituição.
Ao aderirem aos SAPs, os Estados africanos mostraram resistência na sua
implementação. Não somente o processo requeria uma ampla cessão de sua soberania,
uma vez que, por definição, a lógica do ajuste residia, justamente, na diminuição do Estado,
como também trazia consigo custos não apenas políticos, mas sociais e, mesmo,
econômicos (pelo menos, durante o processo de reforma). A “opção”, contudo, não foi
propriamente resultado de uma escolha deliberada e sim resultado da falta de opção.
Destarte, a adesão aos planos não foi acompanhada de vontade política no que toca a
implementação dos SAPs, muitas vezes os Estados esquivando-se ao máximo de aplicar as
condicionalidades, tentando primeiro ter acesso aos recursos de que necessitavam para,
depois, buscar possíveis alternativas à dolorosa prescrição.
Como observa um estudo de 2001 publicado pelo próprio BM em 2001, Aid and
reform in Africa. Lessons from ten case studies, é difícil encontrar um caso onde a reforma
tenha ocorrido sem um contexto de crise. Dos 10 casos analisados pelos autores do
estudo274, apenas dois de fato implementaram as reformas propostas pelas IFIs e justamente:
Gana e Uganda. No primeiro caso, no ano de adesão ao plano de ajuste estrutural, 1983, a
inflação ultrapassava os 100%, a Nigéria anunciava a expulsão de 1,2 milhões de ganeses
de volta ao país e uma forte seca havia resultado na queimada de parte significativa da
produção de cacau. Na Uganda, em 1986 o sistema bancário estava insolvente e a
inflação em 300%. Várias alternativas haviam sido buscadas, sendo a opção pelo programa
do FMI a última desejada, mas também a última possível. Nesses dois casos, devido à
situação limite, as reformas foram de fato implementadas e os casos avaliados como
positivos, casos de sucesso. Nos outro oito casos, no entanto, as reformas somente foram
parcialmente implementadas ou não foram implementadas de forma alguma. Em Mali, por
exemplo, a maior parte das reformas foi implementada nos momentos de pico da crise,
enquanto Quênia e Zâmbia puderam adotar alternativas que as esquivaram da parte
executória, não obstante a adesão aos SAPs. O mesmo ocorreu com a Costa do Marfim,
274 Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Etiópia, Gana, Quênia, Mali, Nigéria, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.
143
que continuou contando, ao longo do tempo, com o forte apoio francês em termos de
transferência de recursos.275
Além da relutância por parte dos governos, houve casos onde a aceitação pelo
governante das SAPs foi acompanhada de fortes resistências domésticas. Esse foi o caso da
Zâmbia, onde trabalhadores rurais, temendo o fim dos subsídios, se opuseram às reformas
até 1991. Na Costa do Marfim e na Tanzânia, o reconhecimento da necessidade das
reformas implicou paralelamente o reconhecimento da falha dos líderes (Houphouet-Boigny
e Nyerere) ao conduzir a economia destes países. Por fim, nos casos mais drásticos, os
eventos internos que seguiram a crise econômica removeram qualquer possibilidade de
implementação das reformas, como foi o caso então Zaire e da Nigéria, ambos
mergulhados em guerra e conflitos civis.276
Apesar dessas diferenças, que tiveram efeito decisivo na situação de cada país e na
sua capacidade de, de fato, aderir às reformas propostas pelos SAPs, estes programas foram
apresentados como um pacote único e a ajuda enviada continuou independentemente
da submissão das reformas atreladas a esta. Isto por si só teve conseqüências no destino
político dos países africanos.
OS RESULTADOS DOS SAPS
A eficácia (ou não) e a lógica que permeou a formulação dos SAPs são objeto de
ampla discussão entre economistas e seu aprofundamento foge ao escopo desse trabalho.
O próprio Banco Mundial reformulou inúmeras vezes seus planos de ação para o
desenvolvimento do continente africano e a busca de melhores resultados prossegue nos
dias de hoje. Não obstante a avaliação do que foi atingido até o presente também seja
alvo de discussão, serão apontadas aqui algumas conseqüências observadas na erosão da
autoridade estatal, para depois se discutir em que medida houve uma ingerência
econômica na África.
Na prática, as SAPs traduziram-se numa série de condicionalidades econômicas
onde os Estados subdesenvolvidos, a fim de terem acesso a novos empréstimos por parte
das IFIs, deveriam condicionar a sua economia aos moldes propostos por estas. Ou seja, em
troca de recursos financeiros, cediam parte de sua soberania, no caso, sua política
econômica. Evidentemente, tratava-se de um acordo entre desiguais: de um lado,
encontrava-se um continente em crise, sem recursos em espécie, sem credibilidade, cuja
única alternativa era implorar por qualquer tipo de ajuda que viesse a ser concedida; de
outro, as IFIs, dominadas pelas potências ocidentais, que tinham não apenas os recursos
275 Devarajan, Dollar &Holmgren, op. cit., p. 7-8. 276 Ibid.
144
materiais necessários a esses países, como traziam consigo a credibilidade internacional
necessária para que estes pudessem obter empréstimos junto a qualquer outra entidade
internacional, inclusive Estados. A desigualdade entre as partes negociadoras é ressaltada
por Clapham, ao notar que
It escaped no one’s notice that the meetings of the ‘Paris Club’, in which arrangements for rescheduling public debt were negotiated, took place in the building which, during the Nazi occupation of France, had housed the Gestapo.277
Em termos econômicos, os SAPs não apresentaram os resultados prometidos. Ao
entrar na década de 1990, o continente africano não apenas encontrava-se estagnado
economicamente, mas em muitos casos, mostrava mesmo um regresso. Tendo uma dívida
de mais de 120 bilhões de dólares em 1991, o caso poderia parecer nem tão desesperador
se comparado ao Brasil, cuja dívida então restava na casa dos 127 bilhões. No entanto, não
obstante a dívida africana correspondesse a menos de um quarto da dívida total do
“Terceiro Mundo”, ela constituía cerca de 90% do seu PIB total. Tendo entrado num círculo
vicioso de dívida e juros, em 1993 o continente pagou US$ 11.3 bilhões em amortizações,
quatro vezes mais do que o montante investido em educação e saúde.278 De maneira
evidente, não houve um crescimento sustentado nos países submetidos aos ajustes. Mesmo
nos “casos de sucesso”, esse sucesso revelou-se passageiro, não trazendo reais alterações à
estrutura econômica dos países, quanto menos qualquer tipo de melhoria na sua inserção
internacional. Os efeitos dos SAPs foram tema de discussão entre, de um lado, as avaliações
do Banco Mundial e, de outro, a Comissão Econômica para a África da ONU (ECA).
Enquanto o primeiro destacava os aspectos positivos do ajuste, apontando crescimento das
economias submetidas aos SAPs e, principalmente, destacando uma melhor performance
econômica daqueles países em relação àqueles que não haviam se submetido ao
processo, a ECA acusava o BM de monopolizar os dados e utilizar metodologia de
avaliação duvidosa. De fato, com os mesmos dados fornecidos pelo BM, a ECA chegava a
conclusões opostas, indicando uma performance econômica desastrosa dos países
submetidos aos SAPs, cujo índice de crescimento teria sido, inclusive, negativo.279 Além disso,
um dos efeitos perversos dos SAPs teria sido a diminuição de investimentos externos diretos
nos países, fato, este sim, reconhecido pelo próprio BM.
Os principais danos oriundos dos SAPs, contudo, revelaram-se na esfera social. A
ênfase na desvalorização trouxe, de imediato, reflexos no cotidiano da população, posto
que, entre seus efeitos, encontrava-se o aumento dos preços dos bens importados, que
277 Clapham (1996), op. cit., p. 170. 278 BUSH, Ray & SZEFTEL, Morris. Commentary: states, markets and Africa’s crisis. Review of African Political Economy, n. 60, 1994, p. 147-156 279 Abrahamsen, op. cit.; PONTE, Stefano. The World Bank and adjustment in Africa. Review of African Political Economy, n. 66, 1994, p. 539-558.
145
incluíam alimentos e bens básicos. Ao mesmo tempo, o enxugamento do Estado resultou no
corte de despesas em setores menos “politicamente críticos”, como a saúde e a educação.
Como explica Williams,
In theory, these services could be protected by reducing government spending elsewhere, notably on army salaries and military equipment. This is unlikely to happen quickly, especially in a situation of political instability or even transition to democratic governments, too, have armies to contend with.280
Ao mesmo tempo, o ônus que recaiu na população refletiu também as desigualdades
locais, que se acentuaram ainda mais, quando não se congelaram, a partir do processo de
enxugamento estatal. De fato, a consolidação do Estado africano, ao longo do período
anterior às SAPs, havia sido empreendida a partir das elites “europeizadas”, que mantiveram
uma estrutura de divisão social muito semelhante àquela colonial. A própria expansão do
Estado e a burocratização do mesmo havia servido a beneficiar uma parcela específica
dessa mesma elite, de forma que, ao ver esse mecanismo de governança desestruturado, a
opção dessas elites residiu no repasse dos custos das reformas à população em geral, na
tentativa de resguardar os privilégios que haviam adquirido ao longo do período anterior.
Por sua vez, isso resultou na acentuação da polarização social, na deterioração das
condições de vida da população em geral e no crescimento do desemprego.281 A pobreza
e a pobreza absoluta cresceram ao longo da década de ajuste, tanto em termos absolutos,
como em termos relativos e comparado aos índices mundiais. A crise do Estado que se
seguiu aos SAPs está diretamente vinculada aos seus efeitos sociais, que afetaram a
legitimidade de um Estado ainda em vias de consolidação.
4.4 A INGERÊNCIA ECONÔMICA INTERNACIONAL
Considerados os impactos da ajuda internacional e dos SAPs nas políticas
domésticas dos países africanos, visualiza-se a existência de ingerência internacional
assumindo manifestações diversas. Tanto a ajuda internacional, vinculada a programas,
quanto os SAPs, de maneira mais específica, tiveram impacto tanto de curto prazo, quanto
de longo prazo no desenvolvimento das políticas nacionais. No caso da ajuda externa, o
debate é menos conclusivo: observa-se posições muito divergentes quanto à medida em
que a transferência de recursos de fato afetou a soberania dos Estados recipiendários. No
caso dos SAPs, esse impacto foi mais direto e a evidência da ingerência menos contestada.
280 Williams, op. cit., p. 222. 281 Abrahamsen, op. cit., p. 9-10; BUSH & SZEFTEL, op. cit.; Williams, op. cit.
146
AJUDA EXTERNA: UMA FORMA DE INGERÊNCIA?
O debate acerca dos efeitos da ajuda externa sobre a soberania do país
recipiendário é marcado por uma ampla corrente crítica, que acusa a transferência de
ajuda como sendo uma forma de incentivo à perpetuação da má gestão administrativa
estatal. Enquanto a ajuda deveria ser repassada como estímulo ao desenvolvimento e à
melhoria da gestão, na prática não apenas não se evidencia o cumprimento do objetivo,
como se observa o crescente estado da África de dependência em relação à ajuda
externa. Pelo termo dependência (aid dependent), entende-se que a capacidade do
Estado de levar a cabo suas funções básicas está atrelada à entrada de recursos financeiros
e técnicos estrangeiros.282 Os dados corroboram a crescente dependência africana em
relação à ajuda externa (considera-se o grau de dependência a partir do momento em
que mais de 10% do PNB de um país é proveniente da ajuda283).
4.3 Países africanos dependentes de ajuda externa (ajuda oficial para o desenvolvimento líquida
maior do que 10% do PNB)
1975-79 1980-89 1990-97
Botsuana Burkina Faso Angola
Burkina Faso Burundi Benin
Burundi Cabo Verde Burkina Faso
Chade Chade Cabo Verde
Comoros São Tomé e Príncipe Mali
Gâmbia Guiné Equatorial Chade
Guiné-Bissau Gâmbia Comoros
Lesoto Guiné Costa do Marfim
Maláui Guiné-Bissau Guiné Equatorial
Mali Lesoto Etiópia
Mauritânia Libéria Gâmbia
Niger Maláui Gana
República da África Central República da África Central Burundi
Ruanda Mali Guiné
São Tomé e Príncipe Mauritânia Guiné-Bissau
Seychelles Ruanda Maláui
Somália Niger Lesoto
Senegal Mauritânia
Seychelles Moçambique
Somália Niger
282 GOLDSMITH, Arthur A. Foreign aid and statehood in Africa. International Organization, 55, 1, winter 2001, p. 123. 283 Na verdade, não há uma parâmetro exato para medir a dependência de ajuda externa. Esse indicativo é fornecido por Bräutigam, apud Goldsmith, op. cit., p. 125.
147
Moçambique Quênia
Comoros República da África Central
Tanzânia Ruanda
Togo São Tomé e Príncipe
Zâmbia Senegal
Serra Leoa
Tanzânia
Togo
Uganda
Zaire/RDC
Zâmbia
Fonte: Banco Mundial (1999), based on average for years with observations, apud Goldsmith (2001)
A tabela acima mostra o quanto o processo de dependência de ajuda externa tem
se alastrado pelo continente africano. De um lado, enquanto novos países são
acrescentados à lista, não há uma redução de dependência daqueles que já o eram na
década de 1970 (com exceção da Botsuana). Ao mesmo tempo, estendendo-se até 1997,
confirma o fato de que até esta data não houve progressos fundamentais na alteração da
economia desses países que lhes conferisse um grau de autonomia suficiente para liderar
seu próprio crescimento.
De fato, numerosos estudos comprovam a não existência de uma relação direta
entre a quantidade de ajuda externa recebida e o crescimento das economias dos países
recipiendários, uma série de outras variáveis sendo igualmente ou mais importantes nessa
avaliação.284 Da mesma forma, os efeitos negativos da ajuda contínua a países com
problemas de governança também são difíceis de se mensurar. No caso da dependência,
esse é evidentemente relacionado, mas não exclusivamente causado pela ajuda externa.
Por pressuposto, a ajuda externa deveria ter sido utilizada como recurso para alavancar as
economias dos países recipiendários. No entanto, devido à forma como esses recursos
foram utilizados, eles passaram a constituir parte necessária e fundamental do aparelho
estatal. A tabela abaixo mostra em que grau essa dependência se refletia em 1995.
284 Um dos mais recentes estudos, promovido pelo Banco Mundial é o de DEVARAJAN, S.; DOLLAR, D. R. & HOLMGREN, T. (ed.) Aid and reform in Africa, op. cit.
148
4.4 Ajuda internacional como porcentagem dos gastos governamentais
PAÍS PORCENTAGEM PAÍS PORCENTAGEM
Gabão 7,5 Lesoto 46,5
Zimbábue 11,9 Zâmbia 54,5
Seychelles 13,3 Serra Leoa 56,3
Mauritius 14,1 Guiné 71,5
Botsuana 18,3 Chade 75,6
Camarões 22,7 Gana 77,4
Quênia 33,9 Maláui 96,9
Etiópia 40,1 Madagascar 101,4
Fonte: Banco Mundial, World Tables (Washington, D.C.: World Bank, 1995); World Bank, World Debt Tables (Washington, D.C.: World Bank, 1995) apud Lancaster (1999)
Enquanto os dados apontam para um declínio na autonomia do Estado africano ao
gerir sua própria economia, ulteriores interpretações sobre o papel da ajuda externa
merecem maior discussão. Argumentos que atrelam a ajuda externa à deterioração da
capacidade institucional do Estado correm o risco de recair na perversity thesis, ou a crença
de que as tentativas de conduzir a sociedade em uma determinada direção
necessariamente vão levá-la à direção oposta.285 O mecanismo para esse acontecimento
seria o chamado moral hazard (acaso/risco moral). A tese trabalha com a idéia de que o
agente que envia ajuda o faz com a intenção de mudar a situação, enquanto a tendência
de quem a recebe é querer que as coisas permaneçam como estão. Destarte, a partir do
momento que ajuda é transferida, o governante local é liberado do ônus de arcar com as
conseqüências negativas de sua gestão pouco eficaz, tornando-se menos propenso a
implementar as reformas requisitadas pelos agentes doadores. As condicionalidades viriam
como uma tentativa de limitar esse efeito, mas elas não podem ser impostas a priori, pois,
normalmente, vêm vinculadas à ajuda, que faz parte do pacote necessário para sua
implementação.
Goldsmith observa que o grau de coerção dos agentes sobre os países
recipiendários é limitado. Historicamente, a não implementação de várias dessas
condicionalidades pode servir como exemplo disto. O que interessa aqui, contudo, é em
que medida a simples transferência de ajuda afetou as atividades de competência do
Estado em sua esfera doméstica. Nesse sentido, dois aspectos ajudam a medir o grau de
ingerência: (1) a intenção do agente ao transferir os recursos; (2) o sucesso e/ou a
implementação pelo recipiendário da intenção do agente.
No primeiro aspecto, há que se retomar a instrumentalização política da ajuda.
Como foi visto acima, tanto no âmbito bilateral como no multilateral, evidencia-se essa
285 Goldsmith, op. cit., p. 123, argumentando sobre a tese de Hirshman.
149
politização e o envio de recursos (a quantidade e a seleção dos destinatários) a partir de
interesses mais amplos de política externa das potências. Esse era o caso da ajuda bilateral
oferecida pelos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970, ou da França, que utilizou sua
capacidade econômica para salvaguardar seu domínio político na África Ocidental. Nesses
casos, não obstante a ajuda fosse atrelada à promoção de desenvolvimento, na prática,
muitas vezes se revertia em ajuda aos governantes no poder, que, em contrapartida,
assumiam uma postura diplomática favorável ao doador e seguiam linhas de
comportamento político condizentes com as preferências do mesmo.
No segundo aspecto, que diz respeito aos efeitos práticos da transferência de
recursos nas políticas domésticas dos países, alguns autores chegam a destacar algumas
conseqüências econômicas. Uma delas seria o atrelamento da política macro-econômica
dos recipiendários aos interesses dos doadores. Nas palavras de El-Issawy:
Foreign aid plays a cardinal role in enforcing the policies favored by donors in at least two ways. First, to ensure that the reform programs are formulated in line with recommended policies, donors are called upon to assist African recipients in undertaking the required policy analyses. In doing so, they ‘can help governments, both directly and indirectly, formulate macro and sectoral action programs.’ […] More importantly, ‘it facilitates a special link between donor and recipient in a particular sector, enabling the provision of goods and services for the project by the donor country.’ […] Moreover, it provides donors with ample opportunities to create an influential presence in the recipient country and to make specific interventions in its economic affairs, including choice of projects.286
Por esse ponto de vista, haveria uma violação da soberania a partir da aceitação da ajuda
internacional: de um lado, a submissão a projetos exportados pelas potências, que, muitas
vezes, respondiam mais aos interesses destas do que às necessidades locais, não levando
em consideração (em grande parte devido à falta de informação) as estruturas e
necessidades sociais locais; de outro, a vinculação política que vinha implícita na ajuda.
Haveria, portanto, uma intervenção direta na estrutura econômica local, removendo
parcialmente a autoridade governamental frente à alocação dos recursos, bem como a
perpetuação e legitimação internacional do mesmo governo/ governante, que, não fosse
pela atuação internacional, possivelmente teria as bases de seu governo abaladas diante
da falta de capacidade de arcar com a promessa desenvolvimentista.
A crítica a essa abordagem, por outro lado, enfatiza o não cumprimento das
condições “impostas” pelas potências e ainda ressaltam o papel dos governantes locais no
sentido de aceitarem a ajuda e perpetuarem suas políticas (tese do moral hazard). O
debate inconclusivo encontra repercussões no período pós-Guerra Fria, refletido em como a
ajuda externa teria contribuído para ou obstaculizado a implementação da democracia no
continente.
286 El-Issawy, op. cit., p. 139
150
Paralelamente, outras abordagens enfatizam o aspecto da soberania utilizado: seria
a soberania representada pelo governante ou pela população do país?287 Retomando o
conceito de quasi-states, ou seja, aceitando que os Estados africanos nasceram com o
reconhecimento de jure, mas não exercendo soberania de fato, então se pode trabalhar
com a hipótese de que a contínua transferência de recursos ao longo das décadas de 1960
a 1990 contribuiu para a consolidação de determinados governos nos Estados africanos.
Mesmo que, como argumenta Goldsmith, a aplicação das intenções dos doadores não
fosse concretizada, a simples transferência reafirmava internacionalmente a legitimidade de
governos internamente não-legítimos. Sendo assim, não faz sentido falar de uma ingerência
na soberania internacional legal dos Estados africanos. No entanto, a evidência de
ingerência frente à soberania vestfaliana pode surgir se ficar evidenciado que, não fosse
pela ajuda externa, os governos vigentes sucumbiriam às forças internas de oposição.
Evidentemente, tudo isso implica um grau de complexidade que não se esgota
numa simples análise. O que se pode levantar aqui, contudo, é que, dada a elevada
porcentagem da ajuda externa relativa ao PIB dos países africanos, em alguns casos é difícil
argumentar que esta não tenha sido se não fundamental, mas de particular significância
para a permanência de determinados governos no poder. Nesse sentido, uma forma de
ingerência contratual entre governo doador e governos recipiendários pode ser detectada,
onde a ajuda teve impacto relevante na manutenção do próprio regime político no Estado
africano.288
SAPS E INGERÊNCIA INTERNACIONAL
No caso dos SAPs, a ingerência internacional é mais evidente, não apenas diante do
processo em si, mas também em razão da clara e transparente intenção de alteração das
estruturas locais. Todas as políticas “sugeridas” pelo BM e pelo FMI visavam explicitamente
alterar o funcionamento da economia doméstica desses países. Seu foco centrava-se na
redefinição do papel do Estado, reduzindo a sua dimensão econômica e transferindo-a
para o setor privado. O argumento era de que um dos principais problemas do Estado
africano era a excessiva expansão de crédito, que levaria a um déficit fiscal excessivo que,
por sua vez, contribuiria para o aumento da inflação. Sendo assim, a redução de crédito
tornou-se um pilar central das políticas das IFIs para os países africanos. Uma vez que uma
das causas da expansão de crédito residia (no diagnóstico do FMI) na deterioração da
balança de pagamentos, uma das formas encontradas para corrigir esse desvio era o
287 WILLIAMS, David. Aid and sovereignty: quasi-states and the international finantial institutions. Review of International Studies, 26, 2000, p. 557-573. 288 Há que se considerar que, em alguns casos específicos, houve uma intencionalidade mais clara por parte dos Estados doadores (Zaire, Somália, Etiópia, entre outros). Em outros casos, isso teria sido uma consequência não calculada, mas que se manifestou independentemente da intencionalidade.
151
aumento da balança comercial. Para tanto, encontrou-se na desvalorização da moeda o
instrumento que levaria a uma diminuição das importações e aumento das exportações,
tornando a balança comercial superavitária. Outra forma encontrada para reduzir a
expansão de crédito era o corte dos gastos governamentais e/ou o aumento dos
impostos.289
A simples existência de um SAP implica por si só a transferência de parcela de
autoridade do Estado a atores externos, que passam a ter parte ativa na formulação de
políticas nacionais. Não apenas o diagnóstico é elaborado a partir de atores externos, que
pressupõem validade universal a determinados modelos econômicos, como o “remédio”
também é formulado e implementado de fora para dentro. Nas palavras de Williams, ao
falar sobre o papel do Banco Mundial e seu papel para o desenvolvimento:
[…] When the World Bank was set up it was assumed that borrower governments would undertake the work of identifying investment projects and leading the development process. This has been superseded by a situation in which the bank takes de facto responsibility for project identification and preparation. […] There is, in short, very little of developing countries’ economic, governmental, administrative, institutional, and social structures and policies which IFIs see as being beyond their purview.290
Assim, mesmo que não se verifique um cumprimento absoluto das condições
impostas pelas IFIs, na prática muitas delas tiveram efeito imediato na erosão da autoridade
estatal africana. Em especial, os ajustes afetaram o poder do Estado vis-à-vis a sociedade e
o sistema internacional, assim como a balança de poder interna entre as várias classes
sociais e setores da população.291 Considerando que a implementação de qualquer plano
depende não apenas da vontade política externa, mas, principalmente, da disposição
interna (inclua-se aqui não somente os setores governamentais, mas as elites, os empresários,
produtores, ect.), nem sempre fica clara a distribuição de tarefas e de responsabilidades.
Assim, dados os resultados nefastos dos ajustes, a culpa recai sobre as diversas partes, tendo
como resultado líquido a crise de legitimidade do Estado.
No caso africano, esse impacto demonstrou-se particularmente profundo devido à
forma como o Estado vinha se consolidando. Os monopoly states, como definidos por
Clapham, pautavam sua estrutura a partir das elites que controlaram o processo de
independência. Caracterizados por economias frágeis e uma fraca estrutura institucional,
um dos mecanismos centrais de funcionamento desses Estados residia na instauração das
relações de patronagem, e na cooptação ou supressão de qualquer partido ou entidade
289 Meinlik, op. cit. 290 Williams (2000), op. cit., p. 569-70. 291 Abrahamsen, op. cit., p. 10-11; EL-ISSAWY, Ibrahim H. The aid relationship and self-reliant development in Africa. In: ADEDEJI, Adebayo & SHAW, Timothy M. (ed.) Economic crisis in Africa. African perspectives on development problems and potentials. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1985.
152
de oposição.292 Outra característica central dos monopoly states era a personalização do
Estado na pessoa de um líder que governava o país como se este fosse sua propriedade
pessoal. Sua retenção no poder, contudo, estava estritamente ligada às relações de
patronagem, ou seja, à política de estímulos e recompensas a quem o apoiasse.
Esse frágil equilíbrio sofreu um forte abalo a partir da implementação dos SAPs, pois a
introdução de atores externos na formulação de políticas nacionais minava o
funcionamento do mecanismo que “legitimava” a permanência do líder nacionalista no
poder. De maneira mais profunda, a aderência a esquemas econômicos controlados
reduzia, quando não eliminava, a autonomia dos governantes no sentido de utilizar os
recursos da maneira que mais lhe fosse favorável. Revelava-se, portanto, uma forte ligação
entre a estabilidade doméstica e o mecanismo de benefícios econômicos vigentes.293 Em
meados da década de 1990, e já com a consolidação do fim da Guerra Fria, a explicação
buscada pelo Ocidente pelas falhas dos SAPs vai recair na própria administração interna
dos países africanos, ou na chamada poor governance. Após décadas de apoio a
governos centralizados, concluir-se-á que o desenvolvimento está intrinsecamente ligado à
democracia, logo, das condicionalidades econômicas, o Ocidente vai passar a focar nas
condicionalidades políticas. Resta, contudo, o fato indeletável de que tanto a consolidação
de Estados centralizados (com governantes depois acusados de poor governance), quanto
a crise de legitimidade dos mesmos, refletida nas várias manifestações de instabilidade
política no continente, estiveram em algum grau vinculadas ao apoio político e econômico
ocidental. Em outras palavras, se as raízes dos problemas de governança são internas ao
continente, sua durabilidade com certeza foi afetada pelos agentes externos, tanto no
âmbito bilateral, quanto multilateral.
Pela forma como são negociados e implementados, os SAPs geram dúvidas quanto
à sua categorização enquanto forma de ingerência. De fato, considerando o nível de
desigualdade de recursos de poder das partes envolvidas em sua negociação, os SAPs
poderiam ser vistos não apenas como meros contratos, mas sim como verdadeiras formas
de coerção. Se, por uma lado, trata-se claramente de um contrato voluntário, em seu
aspecto formal, a desigualdade do poder de barganha das partes na negociação também
acarreta um certo grau de coerção, no sentido de que houve uma pressão exercida por
uma das partes em relação à outra. Embora diferenças no poder de barganha estejam
normalmente presentes em qualquer negociação, o grau em que isto ocorreu no caso dos
SAPs se destaca por colocar o lado receptor mais sob pressão do que em condições de
292 Clapham (1996), op. cit., cap. 3. 293 Ibid., p. 173.
153
“liberdade” para aceitar ou não o contrato. Essa pressão era expressa não pela imposição
de sanções no caso da não aceitação do acordo, mas sim pela interrupção da ajuda que
estava sendo cedida até então e da qual os Estados dependiam. Ao mesmo tempo,
atrelada ao acordo não estava somente a ajuda a ser cedida pelas partes negociadoras,
mas inclusive a possibilidade de obter ajuda de terceiras fontes (como bancos privados),
uma vez que o que estava em jogo era a credibilidade dos países africanos. Uma vez que
as partes negociadoras sabiam do fato e o utilizaram como instrumento de barganha, logo
como meio de pressão, a negociação e implementação dos SAPs mais se aproximam de
uma ingerência por meio de coerção do que por contrato.
4.5 MOTIVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
O desenvolvimentismo e as ações internacionais no sentido de “contribuir” para a
sua implementação na África Subsaariana aparecem como justificativas legítimas por
partes das potências para ingerir nas economias destes países. Algumas considerações
merecem destaque, no entanto, que contestam esse interesse específico.
Em termos práticos, no que concerne à alocação de recursos, a ajuda oferecida
muitas vezes reflete mais os interesses dos setores dos países doadores do que as
necessidades setoriais dos beneficiários. Isso seria observável nos tipos de projetos atrelados
à ajuda, que focam muito mais na infra-estrutura, na transferência de alimentos ou de
capacitação técnica que beneficia o doador ao gerar empregos em seu próprio país, não
priorizando projetos auto-sustentáveis no país receptor ao longo do tempo.294
The facts speak for themselves. As the United Nations Development Programme (UNDP) has pointed out, less than 7 per cent of all aid is directed towards priority areas such as primary health, basic education, water and sanitation, and family planning. […] Where donors have a clearer sense of purpose is in tying aid to the expansion of market opportunities. […] All of OECD countries allocated proportion of their aid budgets to the purchase of domestically produced exports. Over two thirds of the British aid and one half of the French aid is used for this purpose.295
Assim, a exportação de alimentos, por exemplo, muitas vezes é uma forma
conveniente encontrada pelos países industrializados no sentido de repassar o excedente
da produção a um custo superior do que o valor real.296 Da mesma forma, a assistência
técnica normalmente repousa em recursos abundantes nos países industrializados e que são,
muitas vezes, sobrevalorizados no momento da transferência. Em muitos casos, essa
294 Lancaster, op. cit.; El-Issawy, op. cit.; BANDOW, Doug. Economic and military aid. In: Schraeder, Peter J. (ed.) Intervention in the 1980s. US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989; DUIGNAN, Peter; GANN, L. H. The United States and Africa. A history. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 295 WATKINS, Kevin. Aid under threat. Review of African Political Economy, No. 66: 517-523, 1994. 296 El-Issawy, op. cit., p. 143.
154
tecnologia transferida sequer se adequa às necessidades locais, o que faz com que, no
longo prazo, o governo não tenha recursos para arcar com a manutenção do projeto
implementado. Isso tem um impacto direto na ineficácia dos programas assistenciais e gera
um outro problema grave, qual a dependência dos países africanos em relação à ajuda
internacional.297 De fato, a transferência de recursos e implementação de projetos que não
se sustentam, se de um lado estão relacionadas à má governança local, de outro são
perpetuados pela própria postura internacional, que, ao invés de financiar a manutenção
dos projetos já existentes, insiste em realocar constantemente recursos em novos projetos,
exigindo, inclusive, a contraparte africana no co-financiamento dos mesmos. Assim,
enquanto o big push não chega, congela-se uma situação em que permanecem as
transferências que beneficiam os setores privados e burocráticos dos países industrializados
atrelados à dependência dos países africanos a esta ajuda a fim de manter uma situação
minimamente estável politicamente em seus países.
De maneira mais profunda, o que essa situação representa é o congelamento de
uma determinada ordem econômica internacional que favorece os países industrializados e
que desfavorece as economias africanas desde as independências de seus países. A
formulação e implementação dos SAPs viriam a confirmar esse interesse ocidental no
sentido de conter uma possível expansão dos mercados dos países africanos ao atrelar as
economias destes países à exportação de recursos dos países industrializados. Segundo
argumento de Bracking, os SAPs deveriam ser vistos a partir de um prisma histórico mais
amplo, como um dos pilares da construção e preservação de um sistema de livre mercado.
Ao construir essa dependência, o Ocidente estaria reduzindo o poder de acesso dos países
africanos às fontes de financiamento do livre mercado, devido ao crescente endividamento
dos mesmos. Ao mesmo tempo, esse acesso estaria sob estrito controle das IFIs, que agem
de forma a favorecer seus principais financiadores. Existiria, assim, um sistema criado e
controlado pelos países industrializados, em que a África foi inserida de forma a postergar
esse esquema que favorecia o mercado construído por essas potências.298
Enquanto Bracking enfatiza a construção dos mercados como instrumento dos
países industrializados para se favorecer na ordem internacional, o paralelo pode ser
traçado com o argumento de Abrahamsen, que enfatiza a construção do próprio discurso
desenvolvimentista como instrumento de manutenção de uma estrutura de poder
internacional que favorece esse mesmo grupo. Aqui, a construção do desenvolvimento
transpassa os incentivos econômicos para incluir aspectos políticos que explicariam a
297 Lancaster, op. cit., p. 52-69; E-Issawy, op. cit. 298 BRACKING, Sarah. Structural adjustment: why it wasn’t necessary and why it did work. Review of African Political Economy, n. 80: 207-226, 1999.
155
postura ocidental vis-à-vis à África. Esses incentivos ficam claros durante a intensificação da
Guerra Fria no continente e explicam a seleção dos países receptores de ajuda no âmbito
bilateral e a quantidade de ajuda a ser revertida a cada um deles (Estados Unidos e Zaire
na década de 1960, Etiópia na década de 1970, por exemplo, França e África Ocidental).
Já no âmbito multilateral, muito embora o Banco Mundial tenha atuado em
praticamente todos os Estados da África Subsaariana, o peso do fator político fica refletido
na pressão interna diante das interrupções de transferências de recursos, que deveriam ter
sido efetivadas e não o foram. Ou seja, em muitos casos, houve uma instrumentalização
política das próprias IFIs: muito embora estas tenham sempre carregado um certo grau de
autonomia, quanto às suas diretrizes e mecanismos de funcionamento, esses próprios
mecanismos deixam brechas que podem ser facilmente manuseadas pelos países mais ricos
e que contribuem com mais recursos para a manutenção dessas instituições.
Soma-se a isso um fator institucional, presente na maioria das agências responsáveis
pela ajuda externa, mas de maneira especial no Banco Mundial: a pressão para gastar.299 A
própria existência dessas agências justifica-se pela necessidade de repassar recursos a
países em desenvolvimento. O seu crescimento institucional está diretamente ligado à
quantidade de recursos transferidos, portanto evidencia-se a tendência a efetivar esses
repasses, mesmo quando, pela avaliação dos projetos, estes não deveriam mais ocorrer. No
caso do Banco Mundial, Lancaster argumenta que isso gerou uma série de problemas que
abalaram a credibilidade da instituição. Segundo ela, essas pressures to lend teriam trazido
uma série de patologias, dentre as quais destacam-se: (1) o excesso de otimismo por parte
da instituição frente aos planos e seus impactos e (2) o surgimento de “jogos” entre o Banco
e os governos africanos, onde estes, sabendo das necessidades de gastos da instituição,
assumem que não serão duramente penalizados caso não cumpram as reformas
acordadas ao aceitar os empréstimos de ajuste estrutural.300 Junta-se a isso o fato de que, a
partir da dependência de ajuda externa africana, o súbito corte de fundos do Banco
Mundial poderia gerar uma impossibilidade de pagamento dos países ao FMI, trazendo uma
crise de proporções ainda mais graves. Por fim, destaca-se o medo do BM com relação aos
efeitos desse corte nos países africanos, muitos dos quais são particularmente frágeis e
haveria o risco, em alguns casos específicos, até mesmo de um colapso do Estado. Ou seja,
o empréstimo na África, em razão do seu tamanho acentuado, tornou-se “hostage to
economic conditions in the borrowing countries”.301
299 Lancaster, op. cit. e Goldsmtih, op. cit. 300 Lancaster, op. cit., p. 204-05. 301 Ibid.
156
CONCLUSÃO
A ingerência econômica na África Subsaariana encontra espaço de ocorrência a
partir da inserção do continente na economia mundial. A conjuntura internacional que
propiciou um congelamento da divisão internacional do trabalho e a conformação de elites
políticas nacionais vinculadas à orientação ocidental favoreceram o estabelecimento de
contratos, formais e/ou informais que resultaram na ingerência externa nas estruturas
políticas e econômicas dos países africanos. A caracterização desta forma de ingerência
como “econômica”, não obstante seus efeitos políticos, advém da forma pela qual a
economia foi instrumentalizada para, de um lado, consolidar uma ordem econômica
internacional vigente e, de outro, favorecer a conformação de governos nacionais que se
demonstrassem compatíveis com as ideologias das potências industrializadas.
Muito embora se argumente, mais recentemente, que a culpa pelo fracasso das
políticas econômicas no continente africano esteja vinculada à má gestão de seus
governantes, as performances destes nunca foram ocultadas, mas sim relevadas pelos
doadores quando da transferência de recursos ou da implementação dos SAPs.
Considerando que o processo de democratização no continente só veio mostrar sinais de
concretização após o fim da Guerra Fria (não coincidentemente), o lado vitimizado foi o da
população dos referidos países, que pouco se beneficiou tanto da ajuda internacional
quanto dos ajustes.
Dentro da construção de uma tipologia, aqui a ingerência assume duas
manifestações distintas, embora entrelaçadas. De um lado, a ajuda internacional, pela sua
instrumentalização e politização, contribuiu para a consolidação do modelo estatista na
África. Muito embora o grau em que isso ocorreu seja assunto de debate e discordância na
literatura, aqui assume-se a sua importância em função do grau de dependência financeira
que se conformou na África em relação à ajuda externa. Se não houve o exercício direto
de funções domésticas por um agente externo, o exercício dessas funções pelo agente
local respaldou-se pelo apoio externo. Em alguns casos, esse respaldo foi determinante,
refletindo-se, em termos econômicos, na dependência quase total desses recursos para
prover bens básicos à população.
De outro lado, também manifestando-se como uma forma de ajuda externa (mais
especificamente como empréstimos condicionados), os SAPs surgiram com o objetivo
explícito de trazer alterações na política econômica desses países, exercendo, por
pressuposto, uma ingerência à soberania desses países. Não apenas a sua implementação
se expressava por meio da violação da soberania vestfaliana, como as suas conseqüências
tiveram forte impacto na crise de legitimidade do Estado africano, que se agravou após o
fim da Guerra Fria. A partir de então, a ingerência econômica vai sofrer alterações que vão
157
expandir seu escopo, acrescentando às condicionalidades econômicas as
condicionalidades políticas.
158
5
INGERÊNCIA INTERNACIONAL NO PÓS-
GUERRA FRIA: UM NOVO DISCURSO?
The good governance discourse not only obscures such relations of power and domination, but its declared intention to build on traditional, indigenous structures in the effort to improve governance implies a continuation of the forms of oppression entailed within primordial relationships.
(Abrahamsen, 2000: 57)
A década de 1990 traz uma série de inovações na esfera das ingerências
direcionadas à África. Acompanhando as mudanças no cenário político internacional e os
fracassos das ingerências econômicas que marcaram a década de 1980, as novas
ingerências caracterizam-se pela legitimidade atribuída à sua existência, refletidas nas
pressões canalizadas para as reformas políticas dos Estados africanos.
O presente capítulo vai explorar, de um lado, como as mudanças políticas
internacionais afetaram o comportamento das potências para a África e, de outro, quais as
transformações práticas no caso das ingerências. Nesse sentido, serão apresentadas as
“novas ingerências”, os atores que tomaram parte em sua aplicação, em que medida elas
foram de fato aplicadas e qual o seu grau de sucesso.
Serão apresentados alguns casos significativos que apontam para essas mudanças,
concluindo-se que, um dos fatores que se destacam no pós-Guerra Fria é o baixo grau de
alteração política nos países receptores, especialmente se comparado com o período da
Guerra Fria.
5.1 MUDANÇAS NO CONTEXTO INTERNACIONAL: O LUGAR DA ÁFRICA NO PÓS-
GUERRA FRIA
Durante a Guerra Fria, os governantes africanos beneficiaram-se do “paradoxo da
desimportância” da África na política internacional: justamente por não possuir importância
vital na política das superpotências, não havia um esforço maior por parte destas no sentido
de controlar os acontecimentos políticos locais. Em decorrência disto, foi possível aos líderes
nacionalistas africanos “jogarem” com a bipolaridade, obtendo apoio e recursos junto às
superpotências por meio da barganha relativa às esferas de influência. Até então, a
159
influência externa no continente contribuiu para a consolidação dos Estados africanos
centralizados em torno do líder nacionalista, independentemente da qualidade de sua
gestão administrativa. A preocupação das superpotências, reduzida se comparada ao
caso da Ásia, residia apenas na ampliação de suas esferas de influência, processo que
requeria um grau de aquiescência local facilitado pela existência de governos não-
democráticos. A contrapartida recebida pelos Estados africanos, de maneira indireta, era o
seu próprio reconhecimento enquanto soberanos e partícipes do sistema internacional, não
obstante as instabilidades internas e a duvidosa legitimidade de seus governos.
Assim como a Guerra Fria contribuiu para a afirmação do Estado africano,
fornecendo subsídios (armas e recursos financeiros) para a consolidação dos regimes
políticos e, dessa forma, abafando as manifestações internas de insatisfação e de
refutamento ao Estado como tal, seu fim contribuiu para a manifestação de uma crise
Estatal que veio a se intensificar a partir da década de 1990. Como observa Thomas, a
Guerra Fria “congelou” os problemas políticos continentais que vieram como legado ainda
do período colonial e que compuseram a fragilidade do Estado africano, sendo os principais
o seu baixo grau de legitimidade política e a problemática da integração nacional.302
Removidos os utensílios utilizados pelo Estado para suprimi-los, esses problemas vieram à
tona, agravando a situação política continental e abrindo uma nova janela por onde viriam
as novas formas de ingerência internacional no continente.
Além das crises internas ao Estado africano, manifestas de maneira mais intensa a
partir de então, o fim da Guerra Fria também trouxe consigo a marginalização do
continente e a diminuição da sua já pouca relevância na arquitetura de política
internacional das grandes potências. O distanciamento da URSS que vinha engatinhando
desde a primeira metade da década de 1980, acirrou-se com o seu desmembramento,
uma vez que a principal preocupação da Rússia passou a ser com seus problemas
domésticos. Ao mesmo tempo, a emergência de vários novos países ao Leste europeu
trouxe, no início da década de 1990, o desvio de recursos que antes eram destinados ao
continente africano para aquela região.
Economicamente pouco importante, dependendo da ajuda internacional e tendo
praticamente todos os seus países vinculados aos planos de ajuste estrutural coordenados
pelas IFIs, a África perdeu sua importância estratégica, ligada, em grande parte, à Guerra
Fria. As novas “ameaças” que provêm do continente não estão ligadas diretamente aos
interesse políticos das potências ocidentais: o agravamento dos conflitos étnicos não toca
interesses vitais nem dos Estados Unidos nem da Europa (embora esta, por seus vínculos
302 THOMAS, Scott. Africa and the end of the Cold War: an overview of impacts. In: AKINRINADE, Sola & SESAY, Amadu (ed.). Africa in the post-Cold War International System. London and Washington: Pinter, 1998, p. 4.
160
históricos e pela proximidade geográfica possa se ressentir em maior grau).
Interessantemente, ao mesmo tempo em que essa diminuição de importância distancia a
África das agendas políticas prioritárias das potências ocidentais, também possibilita que o
comportamento destas em relação ao continente seja pautado de maneira preponderante
pelos princípios que compõem no discurso a postura do Ocidente, mas que ficaram
suplantados à Guerra Fria e que se traduzem na defesa da democracia liberal.
A visão internacional do continente teve reflexos em seu interior. Subitamente, todas
as possibilidades de manipular a ordem global foram removidas: com o fim da União
Soviética, a África havia perdido não apenas um parceiro, mas, principalmente, um forte
instrumento de barganha vis-à-vis o Ocidente. Uma vez que esse poder havia se
transformado num pilar de sustentação desses governos, o forte abalo estrutural a que
foram submetidos resultou na remoção de um dos principais mecanismos de controle de
suas populações. Se até então a vigência da soberania dos Estados africanos vinculava-se,
em grande parte, ao reconhecimento formal internacional, agora restava aos governos
locais contar com a sua própria população para auferir à sua soberania um
reconhecimento de facto. Esse apoio, que estaria vinculado às demandas atendidas da
população, deveria ter como princípio estimulante o próprio bem-estar da população, que,
ao ver sua situação sócio-econômica bem atendida, permaneceria ao lado do governo.303
Na prática, dada a forma como havia se consolidado o Estado na África e o congelamento
dos problemas estatais ao longo da Guerra Fria, o que se observou ao final desta foi
exatamente o contrário: não existindo a legitimidade interna do Estado e excluídos os
fatores externos que mantinham esses governos “consolidados”, procedeu-se a uma
contínua explosão de conflitos civis, muitas vezes caracterizados como étnicos, mas
prioritariamente resultantes de sérias necessidades de revisão do sistema político estatal.
O início do declínio do Estado africano, diagnosticado como falta de
democratização, forneceu às potências internacionais uma nova argumentação para
ingerir no continente. A implantação de governos democráticos, a “imposição” do respeito
aos direitos humanos e a lógica de que o desenvolvimento econômico está atrelado a estes
dois pautaram a nova agenda de política internacional para o continente, abrindo a era
das novas ingerências.
5.2 A NOVA AGENDA DE POLÍTICA INTERNACIONAL PARA A ÁFRICA
O colapso da União Soviética não significou apenas o fim de uma rivalidade política
com reflexos mundiais, mas, principalmente, a confirmação de um único modelo
303 CLAPHAM, Christopher. International Relations in Africa after the Cold War. In: KIENLE, E.; HALE, W. (ed.) The end of the Cold War: effects and prospects for Asia and Africa.
161
econômico subsistente, qual o capitalista, cuja engrenagem recai na economia de livre
mercado304 e que vem atrelado à defesa da democracia enquanto única forma de regime
político legítimo. Nesse sentido, um dos principais objetivos de política externa da
superpotência remanescente consistiu na expansão da democracia liberal mundo afora,
objetivo que veio a substituir a antiga missão da contenção ao comunismo, mas que, ao
mesmo tempo, ainda carrega um aspecto de “missão redentora”, presente em vários
momentos na política externa estadunidense.305 Essa agregação do aspecto de “missão”
ganha mais peso quando se observa a possibilidade de imbricação de interesses
econômico-comerciais à segurança nacional, confundindo-se o discurso da expansão da
democracia-liberal com a garantia da paz e estabilidade mundiais. De fato, adotou-se essa
correlação como justificativa para a expansão de um modelo que, em última instância, se
reverte na conformação do mundo como um conjunto de free-trade democracies.306 O
fulcro ideológico dessa nova missão baseia-se na noção do democratic enlargement, que
vincula a expansão da democracia pelo globo à expansão das economias de mercado.
Seus objetivos consistiriam em:
Strengthening the ‘community of market economies’; fostering and consolidating ‘new democracies where possible’; countering ‘the aggression and (providing) support (for) liberalization of states hostile to democracy’; and helping ‘democracy and market economies take root in regions of greatest humanitarian concern.’307
Esses princípios vieram a pautar diretamente as ações da USAID, que passou a vincular a
transferência de ajuda ao princípio democrático, bem como adotou uma forte política de
incentivos à liberalização econômica nos países recipiendários.
No caso específico da política estadunidense para a África, a mudança introduzida
pelo governo Clinton vai se desdobrar em três componentes centrais. Primeiramente,
haveria novos termos de engajamento político, que se refletiriam na eleição de Estados
pivôs que intermediariam a missão americana, em especial a África do Sul, vista como
principal mercado emergente no continente e dada a sua emergência democrática. Essa
postura seria corroborada pelas agências governamentais e semi-oficiais, em especial a
USAID, que prestariam ajuda a governos democráticos, enfatizando áreas como
monitoramento de eleições, registro de eleitores, resolução de conflitos, entre outros. O
segundo componente seria a mudança nos termos da assistência para o desenvolvimento e
304 Hobsbawnm observa que, ao final do século XX, mesmo a crença no liberalismo puro havia sido abalada, voltando a necessidade de uma intervenção mínima do Estado no mercado. HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 542-43. 305 FERREIRA, Oliveiros S. Segurança, comércio e ideologia. In: Guimarães, Samuel Pinheiro (org.) Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000. 306 GUIMARÃES, César. Envolvimento e ampliação: a política externa dos Estados Unidos. In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.), op. cit. 307 Brinkley apud ALDEN, Chris. From neglect to virtual engagement: the United States and its new paradigm for Africa. African Affairs, 99, 355-71, 2000, p. 357.
162
do comércio com a África. Nesse sentido, o marco governamental para o estímulo a
reformas de mercado no continente traduziu-se na chamada “Partnership for Economic
Growth and Opportunity Act in Africa”, lançada em junho de 1997 e que propunha uma
série de medidas que viriam a recompensar os Estados africanos que adotassem as reformas
de mercado. Por fim, o terceiro componente teria foco na segurança do continente. Após
uma tentativa de resgate da ação coletiva, fracassada na Somália e na Ruanda, os Estados
Unidos passariam a apoiar a resolução de conflitos via órgãos regionais e continentais
(União Africana), defendendo, assim, “African-based solutions to African problems”.308
Paralelamente, e de maneira semelhante, a então ainda Comunidade Européia
adotou, em 28 de novembro de 1991, uma resolução que afirmava que, no futuro,
democracia e respeito aos direitos humanos seriam pré-condições para a continuidade dos
fluxos de ajuda provenientes destes países (Resolução 10107, 1991). No Tratado de
Maastricht, que consolidou a União Européia, os mesmos princípios são ressaltados no que
toca a transferência de ajuda para o desenvolvimento.
Individualmente, os países europeus também passam a manifestar o seu
comprometimento com a democracia e a sua expansão. Em 1990, pouco depois do
anúncio americano de que sua ajuda viria condicionada ao processo democrático, o
Secretário das Relações Exteriores britânico, Douglas Hurd, declarou que a ajuda britânica
também viria a favorecer “countries tending toward pluralism, public accountability, respect
for the rule of law, human rights, and market principles”.309 A posição britânica foi reiterada
subseqüentemente pela Minister of Overseas Development, Lynda Chalker, ao explicitar que
a ajuda bilateral britânica estaria vinculada ao comprometimento do país recipiendário
com a democracia, a se traduzir, na prática, pela liberdade de imprensa, direitos humanos,
transparência fiscal, estado de direito e extensa participação.
Ao mesmo tempo, a França também mudava sua postura política com relação ao
continente africano. Rompendo de maneira dramática (pelo menos no discurso) com a
tradicional relação com as ex-colônias, Mitterrand anuncia que a França passaria a vincular
a sua ajuda ao continente ao progresso democrático, a evidenciar-se na realização de
eleições livres e justas, na liberdade de imprensa, na independência do judiciário, no
multipartidarismo e na abolição da censura.310
No que diz respeito ao principal instrumento que regula as relações da Europa com a
África, o Tratado de Lomé, as adaptações à nova realidade política internacional já
308 Alden, op. cit. 309 Apud DIAMOND, Larry. Promoting democracy in Africa: US and international policies in transition. HARBESON, John W. & ROTCHILD, Donald. Africa in world politics. Post-Cold War challenges. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1995, p. 257. 310 Diamond, op. cit., p. 257.
163
apareceram em 1989, quando da assinatura da quarta versão do tratado (Lomé IV). Até
1995, as condicionalidades econômicas ainda prevaleceram, no sentido de a ajuda
européia passar a ser vinculada à execução dos planos de ajuste estrutural então vigentes.
Observa-se, no entanto, o surgimento do discurso público sobre good governance e a
necessidade de esta caminhar junto com o processo de desenvolvimento econômico.311 A
postura foi reforçada com a revisão de Lomé IV, cinco anos depois e reafirmada com maior
intensidade a partir da publicação do Green Paper on the EU-ACP Relations pela Comissão
Européia, em 1996. Ao estilo do discurso do Banco Mundial, no Green Paper a identificação
pela malaise africana recai exclusivamente no âmbito doméstico desses países. A solução,
por outro lado, é encontrada na implementação de um modelo liberal, sendo atribuídos
“ao livre comércio e à iniciativa privada poderes quase mágicos de cura da miséria e
pobreza africanas.”312
Uma das conseqüências imediatas observadas a partir desse novo discurso europeu
foi a drástica redução na quantidade de ajuda fornecida ao continente a partir da década
de 1990. Em parte isso responde à realocação de recursos para o Leste Europeu, Em parte,
no entanto, reflete o ceticismo quanto à eficiência desses recursos na contribuição para o
desenvolvimento. Como observa Olsen:
According to a report from Brussels in February 1995, ‘if Africa is to continue to receive aid from Europe it requires a few success stories’, and in their absence a number of influential politicians and civil servants have come to the conclusion that it will be difficult to find popular support for allocating additional funds for Lomé IV.313
Essa postura das potências ocidentais vai ser reforçada pelas instituições multilaterais,
dentre as quais tem papel de destaque o Banco Mundial. De fato, esta instituição e os seus
relatórios sobre o continente vão ter um papel central na mudança de postura internacional
para com a África. Assim, de maneira quase súbita e ignorando seu próprio papel na
consolidação de regimes não democráticos nas décadas anteriores, ao lançar o relatório
Sub-saharan Africa: from crisis to sustainable growth (1989), o Banco introduz o termo good
governance, que virá a se transformar na nova solução para os problemas de crescimento e
desenvolvimento dos Estados africanos. Segundo a interpretação do relatório, as causas do
fracasso das políticas de desenvolvimento da África estariam diretamente vinculadas à má
gestão administrativa estatal, logo, para que haja uma possibilidade de reversão dessa
situação de estagnação, é necessário reformular todo o aparato estatal e o seu
funcionamento. Ao introduzir a questão da governança na discussão sobre
desenvolvimento econômico, o Banco Mundial se exime da responsabilidade pelas falhas
311 OLSEN, Gorm Rye. Western Europe’s relations with Africa since the end of the Cold War. Journal of Modern African Studies, 35, 2, 1997, p. 299-319 312 DÖPCKE, Wolfgang. Back to the future. Relações entre a União Européia e A África sob o signo do neoliberalismo. Correio Internacional, 2001. 313 Olsen (1997), op. cit., p. 309.
164
dos fracassados planos de ajuste estrutural e ainda reafirma a sua legitimidade enquanto
instituição digna de continuar ingerindo nos assuntos domésticos dos Estados que ainda
necessitam dos recursos disponibilizados por essa instituição. Mais importante, contudo,
parecem ser as conseqüências atreladas a essa nova postura. De um lado, a associação
discursiva atrela a noção de governança a tópicos específicos como direitos humanos,
liberdade de imprensa, pluralismo partidário e democracia. Ao fazer isso, o Banco assume
que esses fatores, mais especificamente a democracia, não apenas contribuem, mas são
necessários para o crescimento econômico. De outro lado, as assertivas propostas passam a
constituir parâmetros que vão moldar o comportamento de outros Estados, bem como de
outras agências e instituições internacionais, “universalizando” o novo discurso
desenvolvimentista. A conseqüência prática imediata evidencia-se na introdução das
condicionalidades políticas a toda e qualquer forma de ajuda internacional para o
continente, ou seja, à transferência de recursos para o desenvolvimento requer-se como
contrapartida a implementação de reformas políticas no país recipiendário.314
É nesse cenário que se evidenciam as novas formas de ingerência internacional na
África (e não apenas nesse continente). Elas ocorrem de acordo com o monitoramento do
cumprimento das condicionalidades, que se desdobram, basicamente, em três
componentes: (1) o respeito aos direitos humanos, particularmente difícil de se monitorar e
até mesmo de se especificar, mas que pode ser compreendido como sendo principalmente
a concessão de liberdade política nesses países; (2) a democratização, que na prática tem
se resumido à implementação de eleições multipartidárias, sujeitas a monitoramentos
(muitas vezes de valia duvidosa) por parte de observadores credenciados e (3) a melhoria
da governança, ou seja, neste caso o estabelecimento de procedimentos que viabilizem a
condução de uma gestão administrativa do Estado eficiente, honesta e transparente.315
Em suma, a construção de uma nova agenda de política internacional para a África
teve como principal inovação a focalização da democracia como sua base de
sustentação. O fato de a democracia (leia-se democracia liberal) ter se “consolidado”
como modelo dominante no mundo pós-Guerra Fria trouxe consigo um caráter de
legitimidade, outrora auferido ao desenvolvimentismo. A existência de demandas internas
ao continente por democratização contribui para a consolidação da legitimidade do
discurso. No entanto, o adjetivo que acompanha o termo (democracia liberal) levanta
314 Vide, por exemplo: CLAPHAM, Christopher. Africa and the International System. The politics of state survival. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; ABRAHAMSEN, Rita. Disciplining Democracy. Development discourse and good governance in Africa. London/New York: Zed Books, 2000; e AKE, Claude. Rethinking African democracy. In: DIAMOND, Larry & PLATTNER, Marc F. The global ressurgence of democracy. Second edition. Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1996. 315 Clapham (1996), op. cit., p. 196-97.
165
alguns problemas quanto à forma como esse processo de democratização deve ser
implementado e a que interesses vai responder.
5.3 AS NOVAS INGERÊNCIAS
O novo discurso da boa governança e seu papel na condução de uma política
internacional para a África teve como principal conseqüência a ampliação das possíveis
áreas de ingerência em relação ao continente. Durante a Guerra Fria, a “legitimidade” das
ingerências derivava, de um lado, da postura ideológica dos agentes ingerentes e, de
outro, tão ou mais importante, do consenso ou dos governantes ou dos aspirantes aos novos
governos africanos. Em muitos casos, não houve sequer uma preocupação com a
legitimação das ingerências: tratava-se claramente de ações que se enquadravam na
esfera das clássicas políticas de poder. De várias formas, o discurso desenvolvimentista serviu
de instrumento nessas ações: as transferências de recursos financeiros, por exemplo, eram
feitas por meio das agências governamentais constando como “ajuda para o
desenvolvimento”; do lado africano, a busca por estes recursos também muitas vezes
carregou esta justificativa. Ainda assim, houve muitas ações que não respondiam a princípio
legítimo algum, mas simplesmente aos interesses de poder das partes envolvidas. Na prática,
toda ajuda era condicionada: tanto a transferência de armas, de recursos, de treinamento,
tinham como contrapartida no mínimo o apoio político do governo receptor. Daí as várias
formas de ingerência, no sentido de consolidar ou implementar regimes que favoreciam
uma ou outra superpotência.
Após o fim da Guerra Fria, o que mudou não foi a existência das condicionalidades,
mas a sua legitimação enquanto instrumento de política internacional, dado o pressuposto
de que existe um modelo político-econômico universalmente “melhor” do que os demais.
Essa suposta legitimidade facilita a ação dos agentes ingerentes, pois amplia seu domínio
de ação sem requerer posteriores explicações ou necessidade de agir às escuras.
Ao mesmo tempo, essa facilidade de ação parece importar menos do que durante
a Guerra Fria, dada a reduzida significância da África a partir da década de 1990. O que
nos remete a outro aspecto que não mudou após o fim da Guerra Fria: as ações
internacionais na África continuam sendo pautadas por interesses específicos das potências
e que, de maneira geral, não equivalem aos interesses africanos. Prova disso é o diferente
grau de ingerência observado nos diferentes países do continente. Não obstante o discurso
democrático, observa-se o continuado apoio a determinados governos de legitimidade
duvidosa, a não interrupção de ajuda a países que não implementam as condicionalidades
ou mesmo a falta de ações coercitivas onde supostamente deveriam existir.
166
Destarte, pode-se observar uma duplicidade das novas ingerências no pós-Guerra
Fria. De um lado, observa-se a continuidade das ingerências positivas, ou seja, a formulação
de políticas proativas, de condicionalidades, de demandas ou ações efetivas por parte das
potências. De outro, observa-se uma forma de ingerência negativa, ou seja, a não-ação
das potências diante de acontecimentos internos ao continente que, de acordo com as
linhas de políticas formuladas por essas mesmas potências, requereriam uma intervenção.
Nesse sentido, poderiam ser aqui consideradas a não-interrupção de fluxos financeiros não
obstante o não cumprimento das condicionalidades e o não-posicionamento diante de
algumas crises internas nos Estados africanos.
Em termos de ingerência positiva, no que diz respeito aos instrumentos utilizados,
observam-se tanto continuidades quanto mudanças. Uma das principais mudanças deu-se
na esfera de segurança, onde a tendência do Ocidente tem sido a de deixar a própria
África resolver seus problemas. Já não se observa a transferência de armas e o envio de
pessoal na mesma intensidade que nas décadas de 1960 e, principalmente, 1970. Com a
consolidação de esquemas de integração regional e da União Africana e a atuação desses
organismos na organização de missões de paz (ECOWAS/Ecomog na Libéria e na Serra Leoa
sendo o maior exemplo), a participação externa ao continente ficaria restrita à orientação
e treinamento dos países africanos para trabalhar na resolução de conflitos do continente,
bem como à ajuda financeira para a organização dessas missões.316 Muito embora a
década de 1990 traga o aumento substantivo do número de operações de paz da ONU na
África, (Moçambique, Ruanda, Somália, Serra Leoa, Angola, Libéria), seu valor enquanto
instrumento de promoção de segurança regional revela-se limitado. Se de início as ações
levadas a cabo na Somália e na Ruanda ainda envolviam um aspecto de pressão mais
enfático, seu parco resultado veio a moldar as subseqüentes operações no continente.317
Outra mudança significativa foi o súbito aumento de sanções por parte das Nações
Unidas. Até 1990, o Conselho de Segurança havia aplicado sanções apenas em duas
ocasiões: contra a Rodésia em 1966 e contra a África do Sul em 1977. A partir de 1990, na
África Subsaariana, sanções foram impostas aos seguintes países: Libéria (1992 e 2001),
Somália (1992), partes de Angola (1993, 1997 e 1998), Ruanda (1994), Sudão (1996), Serra
Leoa (1997), Etiópia e Eritréia (2000) e partes da República Democrática do Congo (2003).318
O aumento do número de sanções não deve ser associado diretamente à sua eficácia. De
316 Clapham, op. cit. 317 Para análise das operações de paz no pós-Guerra Fria na África, ver: PENNA FILHO, Pio. Segurança seletiva no pós-Guerra Fria: uma análise da política e dos instrumentos de segurança das Nações Unidas para os países periféricos – o caso africano. Revista Brasileira de Política Internacional, 47 (1): 31-50, 2004. 318 VINES, Alex. Monitoring UN sanctions in Africa: the role of panels of experts. Verification yearbook. 2003.
167
fato, enquanto instrumento, as sanções estão vinculadas à vontade política dos Estados
bem como ao monitoramento de sua real aplicação. Além disso, normalmente as sanções
impostas pela ONU são pontuais em sua abrangência: em sua maioria trata-se de embargo
sobre armas, que remetem diretamente a conflitos internos e a conseqüente situação de
caos. Em outras palavras, são lançados em situações limites e buscam afetar as bases
econômicas do Estado em questão. O mesmo pode ser aplicado às sanções bilaterais.
Mesmo neste caso, a análise dos casos mostra ceticismo quanto à eficácia das sanções.319
Um segundo mecanismo de promoção da democracia que passou a ser utilizado
com regularidade após o fim da Guerra Fria foi o monitoramento de eleições (ou, em sua
acepção mais ampla, election assistance). Este processo envolve o acompanhamento dos
processos eleitorais dos países, desde a realização das campanhas eleitorais até a
apuração dos resultados. Dentre os instrumentos já mencionados, este é provavelmente o
que possui maior impacto no curto prazo no destino político dos países africanos.
Primeiramente, uma vez que eleições multipartidárias são consideradas como o primeiro
grande passo para o processo de democratização, a forma como são conduzidas torna-se
um fator determinante para a imagem política do país em questão. Mais importante,
contudo, a diagnose das eleições vai legitimar o deslegitimar o novo governo perante a
sociedade internacional e domesticamente, o que vai gerar repercussões na estabilidade
política do regime. Isto pode ter aspectos tanto positivos quanto negativos. De um lado, um
monitoramento bem sucedido pode evitar que governos corruptos se perpetuem ao longo
do tempo, impossibilitando a compra de votos e a violência partidária. De outro, o sucesso
da ação depende da vontade política internacional, que nem é evidente e que, quando
tanto, nem sempre coincide em suas avaliações frente aos governos eleitos (Quênia e
Camarões em 1992, Zimbábue em 2000, entre outros casos).320
Do lado das continuidades, observa-se a instrumentalização política da ajuda
econômica, que sofreu uma mudança, contudo, em seu formato. Enquanto a situação de
dependência de grande parte dos países africanos em relação à ajuda externa se
estendeu ao longo da década de 1990, houve uma alteração na forma como as potências
ocidentais e as IFIs passaram a utilizar essa dependência. Das meras condicionalidades
econômicas passou-se a exigir formalmente dos países recipiendários de ajuda a
implementação de condicionalidades políticas. A diferença entre ambas reside no fato de
que, no primeiro caso, o objetivo era a reforma da política econômica do Estado, enquanto
319 Uma interessante análise do funcionamento das sanções é feita por MAHMUD, Sakah. Controlling African state’s behavior: International Relations Theory and international sanctions against Libya and Nigeria. DUNN, Kevin C. and SHAW, Timothy M. (ed.). Africa’s challenge to International Relations Theory. New York: Palgrave, 2001. 320 DIAMOND, Larry. Promoting democracy in the 1990s: actors and instruments, issues and imperatives. A report to the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. New York: Carnegie Corporation of New York, 1995.
168
que neste último caso exige-se uma reforma política, tanto sistêmica quanto substantiva. A
ênfase no aspecto da formalidade se aplica em razão do fato que as condicionalidades
políticas, em sua essência, sempre existiram (o Plano Marshall seria um exemplo). O aspecto
inovador reside na transparência que passa a acompanhar essas demandas, que mantém,
por outro lado, a característica básica que define a condicionalidade em si: a existência de
pressão por parte de um agente com maior recurso de poder que outro, ou simplesmente a
coerção.321 Entre os objetivos explícitos das novas condicionalidades (condicionalidades da
segunda geração) constam a democratização, o respeito aos direitos humanos e a boa
governança, que formam o tríptico que justifica as novas ingerências.
5.4 DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E BOA GOVERNANÇA: JUSTIFICATIVAS OU
MOTIVAÇÕES?
Até a década de 1980, não obstante o engajamento freqüente das grandes
potências na África, a preocupação com a gestão administrativa estatal e respeito aos
direitos humanos estiveram, se não ausentes, pouco presentes em suas considerações
político-estratégicas para com o continente. No caso dos Estados Unidos, um breve intervalo
na política globalista foi observado no governo do presidente Carter, mas ainda assim, não
foi significativo a ponto de transformar a agenda política dos Estados Unidos, tão pouco a
agenda política mundial em relação à África. Alguns exemplos drásticos demonstram essa
falta de preocupação. Em termos de gestão administrativa, o contínuo fluxo de recursos ao
Zaire pelos Estados Unidos e pelas IFIs demonstra claramente a falta de associação entre
mérito governamental e apoio político e econômico internacional. No caso da violação de
direitos humanos, alguns exemplos mais graves corroboram a insensibilidade do Ocidente
em relação ao povo africano. Jean Bédel-Bokassa, da República da África Central e Idi
Amin da Uganda são alguns dos personagens mais notórios. Não obstante a centralização
de poder levada a cabo por eles, e o grau de violência e repressão presentes em seus
governos, ambos foram acobertados pelas respectivas ex-potências coloniais, França e Grã-
Bretanha, até o momento em que a própria violência não pôde mais passar despercebida,
criando constrangimentos internacionais às próprias potências.
Não foi, contudo, a agudização da situação dos direitos humanos na África que
reverteu a política internacional para o continente. Violação de direitos humanos e poor
governance não eram novidade no continente, muito menos desconhecidas às grandes
potências. É interessante analisar como se deu o processo de transformação da agenda,
321 STOKKE, Olav. Aid and political conditionality: core issues and state of the art. STOKKE, Olav (ed.). Aid and Political Conditionality. Frank Cass & Co., 1995
169
para compreender quais os fatores que a motivaram. Alguns aspectos ajudam a
compreender esse processo.
CONTEXTO HISTÓRICO E CONSTRUÇÃO DO DISCURSO
O primeiro aspecto a ser observado é o momento histórico em que se deu o
surgimento da boa governança. O fim da Guerra Fria e a desideologização das relações
internacionais resultou, de imediato, no fim do escoamento de assistência soviética para
seus clientes africanos e assim, por conseguinte, na diminuição do interesse dos Estados
Unidos em continuar enviando uma quantidade de recursos substancial a seus respectivos
clientes. Não necessitando mais de aliados e tendo surgido interesses em outras partes do
globo, a superpotência remanescente, bem como outras potências ocidentais, cortaram ou
reduziram drasticamente a quantidade de ajuda militar prestada a aliados de longa data,
como o Quênia, a Somália e a Libéria. Também foi reduzida a presença física da
superpotência por meio do fechamento de algumas missões de ajuda, bem como de
postos da inteligência, que foram realocados para o Leste Europeu. Essa postura não
surpreende, dada a pouca relevância política e econômica que a África possui no sistema
internacional. Findos os interesses políticos, poucos atrativos permaneciam na região. Nesse
sentido, como observado por alguns críticos da agenda da boa governança, esta teria sido
uma desculpa “confortável” para explicar a fuga de capitais da África: não era
moralmente justificável continuar fornecendo recursos a governos acusados de poor
governance. A corroborar esse argumento, estariam alguns dados relativos ao constante
declínio da ajuda internacional para a África, acompanhados do não-aumento de ajuda
aos países que demonstraram progressos na área de governança.322
Ao mesmo tempo, esse distanciamento não se deu de maneira completa: manteve-
se um vínculo que daria continuidade a outras manifestações de ingerência. Permanecia
implícita nas novas políticas internacionais a idéia de superioridade do Ocidente em relação
ao continente africano, superioridade esta que atravessava diversas esferas (social, política,
econômica) e que se traduziu, de maneira sucinta, na defesa do respeito aos direitos
humanos de democracia e da boa governança. Muito embora possa parecer óbvio o
desejo dos povos africanos em ver aplicados esses princípios, interessa aqui fazer algumas
considerações quanto à sua instrumentalização e construção enquanto conceitos.
A construção do discurso, muito debatida a partir dos trabalhos de Foucault e mais
recentemente trabalhada na teoria das Relações Internacionais sob o construtivismo, alerta
para o fato de que a realidade é socialmente construída. Mais especificamente, os
parâmetros discursivos que moldam as políticas dos Estados, os conceitos e argumentos
322 Abrahamsen, op. cit., p. 33.
170
devem ser compreendidos dentro do seu contexto histórico, uma vez que refletem o
desnível de poder entre os agentes. Como observa Abrahamsen,
This close relationship between power and knowledge alerts us to the fact that the problematisation of a particular aspect of human life is not natural or inevitable, but historically contingent and dependent on power relations that have already rendered a particular topic a legitimate object of investigation.323
Em seu argumento, Abrahamsen observa a continuidade do exercício de poder do
Ocidente na África através da mudança do discurso desenvolvimentista, que se plasma sob
diferentes formas a fim de se manter como legítimo. A boa governança seria resultado
dessa evolução discursiva, uma vez que, em determinado momento (final da década de
1980, início dos anos 1990), o desenvolvimentismo por si só já não se demonstrava suficiente
para legitimar a ação ocidental no continente.
O grande fato a ser observado é de onde provém a renovação do discurso. Nesse
caso específico, a reformulação deu-se no seio do Banco Mundial, uma instituição
internacional cujo funcionamento se pauta claramente em função dos recursos financeiros
de seus membros, resultando numa grande defasagem de representatividade. Essa
defasagem de poder é redobrada pelo fato de que as próprias análises dos problemas dos
países em desenvolvimento são feitas não por intelectuais dos países com problemas, mas
por economistas de países já desenvolvidos (no caso, dos países com maior recurso de
poder). Esse discurso teria se alastrado para além do âmbito da instituição (ou, mais
provavelmente, tenha percorrido o caminho inverso), refletindo-se nas políticas bilaterais das
mesmas potências que possuem maior grau de influência na mesma. Tem-se,portanto, que
o diagnóstico, a receita e a implementação das reformas (políticas e econômicas) provêm
de cima para baixo.
O problema não seria, assim, a discordância frente à necessidade de se implementar
reformas político-econômicas na África, mas de que reforma especificamente se está
tratando, o que é entendido por boa governança (e sua associação à democracia e
respeito aos direitos humanos) e a discricionariedade com que o argumento é
implementado. Isso, por sua vez, está estreitamente relacionado com o contexto histórico
de política externa das potências. A idéia de boa governança, consolidada após o fim da
Guerra Fria, atrela a aspectos políticos e sociais as reformas econômicas nos moldes liberais,
refletindo a dessecuritização da agenda para o continente africano. Essa visão do
continente como não mais relevante em termos estratégicos (lembrando que a sua
relevância já era reduzida durante a Guerra Fria) redireciona o foco das novas ingerências
no sentido de consolidar o pensamento político-econômico ocidental e a economia global
dentro desses moldes. Mais do que isso, pela forma como é utilizado o discurso, o faz
323 Ibid., p. 14.
171
carregando um alto grau de “legitimidade”, oriunda do suposto consenso universal frente à
necessidade de desenvolvimento e de boa governança. Esse universalismo e suposto
consenso, no entanto, não encontram respaldo absoluto, entre outros fatores, porque não
existe sequer um consenso quanto aos termos.
DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO
A discussão sobre democracia na África traz à tona uma série de contradições frente
ao conceito de democracia e sua aplicação. Ao final da década de 1980, de maneira
geral, vários fatores reafirmavam a não existência da democracia no continente. Sequer se
podia falar ao certo de um fracasso da democratização, uma vez que as próprias
independências carregaram consigo características mais de centralização de poder do
que de representatividade popular. Como observa Legum, só se poderia falar em fracasso
da democratização se houvesse existido de fato um esforço no sentido de implementá-la.324
Mesmo nos casos onde houve uma tentativa de importar formatos institucionais das
metrópoles, esta permanecera na superfície, refletindo eventualmente um aspecto
aparente de Estado democrático, mas carecendo de efetividade e, principalmente de
compatibilidade com as tradições locais. Na verdade, tentar importar um modelo
democrático europeu, que sequer havia sido implementado à época da colonização,
tornou-se uma tentativa frustrada.
De um lado, isto aconteceu porque se buscou uma democracia “estrangeira”.
Alguns autores, por exemplo, chegam a apontar que antes do colonialismo, havia um
sistema indígeno (indigenous system) que apresentava aspectos muitos mais democráticos
do que aquele que se tentou impor após as independências. Os governos nativos africanos
eram mais democráticos no sentido de serem mais representativos: havia um chefe, mas as
decisões eram tomadas por consenso, após discussões com vários representantes da
comunidade. Existia, portanto, uma hierarquia de autoridade, mas também um forte
controle quanto a possíveis abusos de autoridade por parte do chefe. 325 Outros autores
reconhecem a existência desse sistema, mas também lembram de outros, autoritários em
sua natureza, igualmente presentes no continente.326
O que permeia a discussão, no entanto, transcende a existência e desejabilidade ou
não da democracia na África. A grande questão, primordial para se compreender as novas
ingerências, reside em definir de que democracia se está falando. A conceituação de
democracia é alvo de discussão. Se em sua acepção clássica grega remetia ao “governo
324 LEGUM, Colin. Democracy in Africa: hopes and trends. RONEN, Dov (ed.). Democracy and pluralism in Africa. Boulder: Lynne Rienner, 1986. 325 AYITTEY, George B. N. Africa in chaos. New York: St. Martin’s Press, 1999, cap. 3. 326 Legum (1986), op. cit.
172
do/pelo povo”, ao longo dos séculos essa noção foi sendo refinada e diretamente
influenciada pelo contexto histórico.
Um primeiro ponto importante a se ressaltar é qual aspecto prático da democracia é
priorizado em sua própria definição. Dois destes aspectos em geral são utilizados: (1) a sua
realização e (2) a sua institucionalização.327 O primeiro se aproxima mais da acepção
original grega, remetendo à idéia de autodeterminação (o povo decidindo por si próprio),
enquanto o segundo associa a democracia à implementação de instituições
representativas. Ayittey lembra que há uma tendência, quando se discute democracia, a
confundir-se a existência de uma instituição com as diferentes formas que ela pode
assumir.328 Essa observação é de fundamental importância para se compreender a nova
agenda de política internacional para a África e a imposição das condicionalidades
políticas. O discurso que o Ocidente utiliza não somente enfoca a democratização por meio
da implementação de mecanismos institucionais semelhantes aos seus, como também
associa a democracia a determinados métodos de condução da economia, o que se
traduz no binômio democracia liberal.
A associação da democracia ao liberalismo data da primeira metade do século
XIX, quando das importantes contribuições de Jeremy Bentham e James Mill. O eixo central
de suas concepções residia na proteção dos cidadãos dos governos: havia uma clara
intenção de restringir a esfera estatal em prol da sociedade civil, que deveria ser deixada
livre para agir. Mais do que uma preocupação democrática, essa visão centrava-se na
liberdade em relação ao Estado. Foi com John Stuart Mill, no entanto, que houve uma
introdução de aspectos mais sociais ao conceito de democracia. Este pensador via a
participação no processo político como uma forma de liberdade, mas também de
desenvolvimento humano. Igualmente, Mill preocupava-se com a desigualdade da
distribuição de renda, que via como um sério obstáculo ao processo democrático. Várias
vertentes democráticas desenvolveram-se a partir de então, existindo hoje inúmeras
definições, que variam em conteúdo e extensão. Parece haver um consenso, no entanto,
quanto a alguns elementos básicos que devem existir numa democracia: (1) a
competitividade entre indivíduos e grupos organizados, especialmente partidos políticos; (2)
a participação política na seleção de representantes políticos, refletida nas eleições e (3) a
existência de liberdades civis e políticas, como liberdade de expressão e de formar
organizações. 329 Colocada dessa forma, a democracia não parece gerar discordância
entre o que os países africanos desejam para si e o Ocidente supõe praticar há décadas. É
327 RONEN, Dov. The state and democracy in Africa. RONEN, Dov (ed.). Democracy and pluralism in Africa. Boulder: Lynne Rienner, 1986. 328 Ayittey, op. cit., p. 85. 329 Para discussão sistemática, ver: SØRENSEN, Georg. Democracy and democratization. Dilemmas in world politics. Boulder, Oxford: Westview Press, 1993, cap. 1.
173
na hora de mensurar o grau de democratização, contudo, que novos elementos entram em
cena. A observação de que a dimensão sócio-econômica de um país afeta a qualidade
da democracia abriu a porta para o entrada do conceito de desenvolvimento como um
suposto fator necessário para a concretização desta. Essa abordagem apresenta uma
relação inversa à do Banco Mundial: enquanto esta instituição considera a democracia
como requisito para o desenvolvimento (democracia à desenvolvimento), esta sugere que
o desenvolvimento sócio-econômico contribui, alguns consideram que seja até
fundamental, para o estabelecimento de um regime democrático (desenvolvimento à
democracia).
Um dos fatores que complicam essas observações é a imprecisão do termo
“desenvolvimento” a que se referem. Como argumenta Ake, se for considerado o
desenvolvimento político, então alguns aspectos da democracia (estado de direito,
consenso dos governados e transparência) podem contribuir para a sua concretização330, e
vice-versa. No entanto, quando se trata do desenvolvimento econômico, pelo menos em
suas versões extremas, essas correlações não encontram respaldo na prática. Na verdade, a
grande maioria dos estudos referentes ao tema são inconclusivos. Quando houve uma
maior verificabilidade da relação, tratava-se de algo muito específico, aplicado à realidade
das potências ocidentais que, sendo também as maiores economias do mundo, também
eram democracias. Retomando os estudos de Lipset, um dos principais estudiosos da
relação democracia-desenvolvimento, Ake esclarece que a ordem das variáveis é
imprescindível para a sua compreensão:
The thesis was meant to show that economically developed societies tendentially become democracies, which is a different question from whether democracies or authoritarian governments are more conducive to economic growth. Here economic development is the dependent variable, whereas in Lipset is the independent variable while democracy is the dependent variable.331
Essa compreensão das variáveis é fundamental, uma vez que questiona o
argumento central das políticas do Banco Mundial que vieram a pautar em grande parte a
agenda da boa governança. Assim, se o objetivo é o desenvolvimento econômico, não há
evidências suficientes que comprovem a sua ligação com a democracia (a Ásia, nesse
sentido, provê mais que um exemplo). Se, por outro lado, seguindo o discurso das potências
ocidentais, o objetivo é a democratização e esta requer um grau prévio de
desenvolvimento econômico, então a ordem de implementação das políticas deveria ser
revista. De fato, a grande maioria dos países da África Subsaariana não possui economias
expressivas. Se o seu desenvolvimento econômico é um pré-requisito para a
democratização, então não faz sentido implementar os dois processos de maneira
330 AKE, Claude. The feasibility of democracy in Africa. Dakar: Codesria, 2000, p. 76. 331 Ibid., p. 78.
174
conjunta.332 Na prática, aliás, tem sido exatamente a exigência dessa implementação
conjunta que tem surtido efeitos nefastos para o continente, uma vez que muitas das
medidas econômicas liberalizantes exigidas pelas IFIs se chocam com o desejo popular,
minando a própria democratização interna desses países.333
Há, ainda, um outro aspecto enfatizado pelo discurso democrático-liberal que
merece discussão. Segundo Ake, a lógica apresentada leva a uma concepção errônea
(misconception), segundo a qual o processo de democratização acarreta um processo de
“desestatização” (destatization). O termo, da forma como colocado, abre margem à
confusão quanto ao papel do Estado. De fato, há uma fundamental diferença entre
tamanho (size) e a força (strength) do Estado.334 Se de um lado parece positivo reduzir o
tamanho do Estado africano, em razão até mesmo da péssima qualidade do setor público
e da corrupção que perdurou ao longo das décadas, também se faz necessário não
enfraquecer ainda mais um Estado que sofre de séria crise de legitimidade. A
implementação de medidas que incentivem o desenvolvimento desses Estados depende,
em última instância da sua capacidade para implementá-las (no caso, da sua força).
Reside aqui uma diferença básica entre as potências ocidentais, que possuem um mercado
saliente, mas também um Estado forte, e os países africanos, em sua maioria extremamente
frágeis.
Em suma, a resumida discussão apresentada mostra o quanto não há um consenso
nem frente ao termo democracia, nem frente a desenvolvimento, muito menos quanto à
relação entre ambos. Não obstante esse debate, a agenda de política internacional
assume muitos desses duvidosos pressupostos como dados e, a partir deles, elabora suas
políticas para a África, justificando, assim, sua legítima ingerência. A referência aos direitos
humanos merece algumas considerações semelhantes.
DIREITOS HUMANOS
Diferentemente de democracia e desenvolvimento, a conceituação de direitos
humanos encontra uma ampla base jurídica que, supostamente, deveria contribuir para
uma mesma compreensão global do tema. Historicamente, contudo, o conceito esteve
sujeito a uma forte politização e debates quanto a quais de seus aspectos deveriam ser
priorizados. Durante a Guerra Fria, essa polarização ocorreu em função das posições
divergentes de Estados Unidos e União Soviética diante dos direitos políticos e civis e os
direitos econômicos e sociais, as duas facetas dos direitos humanos. Os EUA tentavam
enfatizar o aspecto onde saíam ganhando, qual a promoção dos direitos políticos e civis,
332 Ibid., p. 82-83. 333 Ibid.; Abrahamsen, op. cit. 334 Ake (1996), op. cit., p. 68-69.
175
enquanto a URSS os condenava exatamente por não cumprir com aquilo que servia de
base legitimadora ao comunismo: o respeito aos direitos econômicos e sociais.335 O impacto
desse debate no caso africano não parece muito relevante ao longo da Guerra Fria, uma
vez que, na prática, a ingerência das superpotências no continente não se respaldava pela
defesa dos direitos humanos: enquanto as ações da URSS eram guiadas pela expansão do
comunismo, a sua contenção era o fator primordial na política norte-americana. Somente
num breve período do governo Carter essas preocupações parecem ter tido alguma
consideração real.
Após o final da Guerra Fria, no entanto, com o desaparecimento da União Soviética,
não houve mais atores de peso que tentassem contrabalançar a ótica político-civil dos
direitos humanos. O exercício hegemônico norte-americano trouxe consigo a defesa dos
direitos humanos como fator legitimador de suas ações pelo mundo, sendo estes
entendidos, no entanto, em sua acepção restrita e, de maneira se não inovadora, mas
enfatizada, vinculados diretamente aos conceitos de democracia e desenvolvimento. No
caso dos Estados Unidos, essa visão retoma a ótica wilsoniana de universalismo de
determinados princípios. Na época de Wilson, esses valores universais concentravam-se na
autodeterminação dos povos (descolonização), na democracia e nos direitos humanos,
que eram vistos como fundamentais para se alcançar a paz internacional.336 Os reflexos do
discurso de Wilson foram limitados, uma vez que os próprios Estados Unidos não os seguiram,
não se comprometendo sequer com o pacto da Sociedade das Nações. Houve um reverbe
tempos depois, com a formação das Nações Unidas, no entanto a efetiva aplicação desses
princípios foi severamente prejudicada pelo congelamento do Conselho de Segurança ao
longo da Guerra Fria. Ao lado da descolonização, houve a complacência, quando não o
apoio, a governos que não eram nem democráticos e nem respeitavam os direitos
humanos. Ao mesmo tempo, o próprio princípio de autodeterminação possuía limites, num
primeiro momento sendo privilegiadas as relações com as potências coloniais e, num
segundo momento, em função do congelamento das fronteiras africanas após as
independências (não obstante algumas tentativas de secessão). Na prática, o peso maior
das decisões ocidentais pautava-se por considerações de realpolitik.
No pós-Guerra Fria, os valores wilsonianos reapareceram em cena, mas existe um
sério questionamento quanto à sua utilização. De um lado, juridicamente, houve um
fortalecimento dos temas sociais na década de 1990, refletidos nas inúmeras conferências
335 EVANS, Tony. Introduction: power, hegemmony and the universalization of human rights. In: Evans, Tony (ed.) Human rights fifty years on. A reappraisal. Manchester and New York: Manchester University Press, 1998. 336 ADAR, Korwa G. The wilsonian concept of democracy and human rights: a retrospective and prospective. Afrcan Studies Quarterly. The online journal for African Studies. Disponível em: <http://web.africa.ufl.edu/asq/v2/v2i2a3.htm>. Acesso em: 12 mar 2005
176
que marcaram a década. Assim, na Conferência de Viena de 1993, reafirmou-se a
indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos, a sua relação e interdependência,
bem como a necessidade de serem estes vinculados à democracia.337 Dentro desta
perspectiva, o foco central passaria a ser o indivíduo, e não mais o Estado, trazendo à tona
a discussão dos limites da soberania estatal.338 De outro lado, no entanto, no que concerne
à aplicação do compromisso jurídico, observa-se a série de limitações, traduzidas nas
ingerências seletivas e na adoção de “dois pesos e duas medidas” a segunda do país que
viola esses direitos. Em parte isso ocorre porque nem todos os instrumentos jurídicos possuem
caráter impositivo obrigatório, tratando-se mais de declarações de princípios. Fica assim, a
critério do Estado adotar ou não esses instrumentos na prática. Em segundo lugar, há falta
de mecanismos coercitivos suficientes para implementar a jurisdição que possui caráter
obrigatório. Em terceiro lugar, porque na prática, a ingerência envolve custos, uma vez que
implica um monitoramento constante dos Estados e, no caso da constatação da violação,
a ação que deveria resultar na mudança de comportamento do Estado em questão. Na
prática, portanto, a ação dos Estados no sentido de implementar uma agenda de direitos
humanos universais vai responder a um balanço entre os custos e benefícios previstos na
ingerência. Nesse cálculo, pesam, portanto, fatores de outra ordem (políticos e
econômicos).
Isso leva a uma visão dupla sobre o papel dos direitos humanos (DHs) no pós-Guerra
Fria: (1) por um lado, tem-se a visão tradicional, onde os DHs são vistos como instrumentais
para uma população, permitindo que estas exerçam seus direitos e lutem contra as
injustiças e perseguições; (2) por outro lado, observa-se uma visão alternativa, onde os DHs
são vistos como instrumentos de exercício de poder por um agente dominante e que se
expressa em práticas exclusionárias que impedem a participação daqueles que não
apóiam os interesses do agente em questão.339 Ou seja, em muitos casos o que se observa é
a manipulação do argumento de DHs para ingerir onde convém. Nos casos onde não há
interesse por parte das potências, o esforço no sentido de concretizar mudanças é reduzido,
quando não apenas simbólico. Ao mesmo tempo, quando utilizado, o discurso pró-DHs
reveste-se de caráter tão messiânico quanto o da democratização, dado o vínculo que se
estabeleceu entre ambos. Na prática, como observa Evans, não obstante a emergência
dos DHs na agenda política internacional, o foco do pós-Guerra Fria tem sido a democracia,
337 Há que se destacar, no entanto, que mesmo juridicamente, o consenso não é absoluto. O debate quanto à universalização dos direitos humanos foi acompanhado pelo questionamento frente ao relativismo cultural, mobilizado principalmente pelos países asiáticos. 338 KOERNER, Andrei. O papel dos direitos humanos na política democrática: uma análise preliminar. Revista Brasileira de Ciências Sociais. V. 18, n. 53, out. 2003. 339 Evans, op. cit., p. 4.
177
assumindo-se que, se houver democracia, então os DHs serão uma conseqüência direta.340
Essa democracia, por sua vez, reforça o enfoque nos direitos civis e políticos em detrimento
dos sociais e econômicos.
Não obstante a indivisibilidade dos DHs, o que se observa é que não somente a sua
promoção se dá em âmbitos separados, como, em alguns casos, a ênfase em apenas um
de seus aspectos prejudica a consolidação do outro. A promoção dos direitos civis e
econômicos, nesse sentido, revela-se menos custosa do que a dos direitos econômicos e
sociais. Estes, além do mais, se encarados em seu sentido mais amplo, eventualmente
levariam ao questionamento do próprio sistema capitalista como se encontra atualmente,
uma vez que este tem se revelado um forte gerador de desigualdades. Segundo alguns
analistas, o atual processo de globalização teria, na verdade, contribuído para a não
realização desses direitos, de forma que a ênfase nos direitos civis e políticos também seria
uma forma de desviar a atenção diante da necessidade de uma reforma profunda no
sistema econômico internacional.341 Em suma, o grande problema da agenda dos direitos
humanos como justificativa para a ingerência residiria na sua instrumentalização política e
utilização parcial e seletiva. Nesse sentido, concluem Mohan e Holland:
Clearly, […] the potential exists for the rights-based agenda to be used as a new form of conditionality which usurps national sovereignty and thereby further denies the autonomy and freedom which are a sine qua non for democratic development. Additionally, by handing the primary responsibility for defending human rights to unaccountable and authoritarian states the process does little to challenge the power structures which may have precipitated rights abuses in the first place. Finally, the emphasis on universal rights, as defined through largely Western experiences, limits the relevance of rights to local circumstances and […] seeks to normalize a particular and self-serving social vision.342
IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA AGENDA
Dadas essas considerações, resta o questionamento do porquê da implementação
da agenda da boa governança, não obstante as não poucas imprecisões em seus
fundamentos. Em parte, o contexto histórico e a construção do discurso ajudam a
compreender o fenômeno. Outro aspecto, contudo, que se faz necessário analisar é em
que medida essa agenda tem sido de fato implementada.
Na discussão sobre a adoção das novas ingerências (normalmente, o debate fala
sobre promoção da democracia), algumas causas podem ser apontadas que incentivam o
comportamento dos agentes. 343 De um lado, argumenta-se que o respeito aos direitos
340 Ibid., p. 13. 341 MOHAN, Giles & HOLLAND, Jeremy. Human rights & development in Africa: moral intrusion or empowering opportunity? Review of African Political Economy, No. 88: 177-196. ROAPE Publications Ltd., 2001, p. 190-191. 342 Ibid., p. 192-93. 343 HOUNGNIKPO, Mathurin C. Pax Democratica: the gospel according to St. Democracy. Australian Journal of Politics and History, V. 49, n. 2, p. 197-219, 2003, p. 204.
178
humanos e a democratização são necessários para que haja um mínimo de apoio popular
às reformas econômicas em andamento. Dadas as conseqüências sociais negativas
oriundas das reformas, seria necessário apresentar algum tipo de vantagem de longo prazo
à população para que não houvesse maiores resistências à continuidade das mesmas. Um
segundo motivo apontado pela literatura seria a necessidade das potências ocidentais em
encontrar uma justificativa satisfatória para reduzir o fluxo de ajuda externa direcionado aos
países em desenvolvimento, uma vez que essa transferência já não serviria mais aos seus
propósitos políticos e/ou estratégicos. Uma terceira explicação seria a de que, com o fim da
bipolaridade e o fracasso da experiência socialista, assumiu-se que os valores ocidentais
seriam os únicos dignos de serem seguidos, lembrando a idéia de fim da história proposta
por Fukuyama.
Análises pontuais sobre a implementação da nova agenda poderiam dar crédito às
três explicações. No entanto, olhar para o que foi de fato implementado deixa de fora uma
gama de situações que se tornam ainda mais significativas para compreender as
motivações dos agentes. Trata-se dos casos de não-implementação da agenda, não
obstante o discurso ou, de maneira mais precisa, a implementação seletiva desta.
A França parece ser o maior exemplo de agente que adotou a agenda da boa
governança e que se desviou de sua aplicação strito senso. Enquanto sua aderência ao
discurso surpreendeu, dado o amplo reconhecimento de suas relações especiais com a
África, o seu retrocesso pouco tempo depois demonstra o quanto essa drástica ruptura é
difícil de ser levada a cabo. Assim, enquanto a nova política contribuiu para a queda do
governo de Kerekou no Benin, em outros casos, houve um início da pressão pró-
democrática que logo foi abandonado, respondendo mais aos vínculos passados do que
ao discurso da nova agenda. Em última instância, no caso do Togo e da Costa do Marfim,
membros do chassé-guardée francês, a democracia foi sacrificada em nome do passado.
Comportamento semelhante foi o da Grã Bretanha, que aderiu à utilização de dois
pesos-duas medidas em sua política de promoção da democracia.
While Britain demanded that the corrupt military regime of Nigeria and the left-leaning government of Zambia get on the “democratization train”, Life-President Kamuzu Banda of Malawi was instead advised to abandon his autocratic rule, and Kenya was only urged or advised to adopt a multiparty political system.344
Os passos norte-americanos acompanharam os britânicos, agindo ambos em
conjunto ao pressionar o Quênia a realizar eleições multipartidárias, bem como
suspendendo ajuda e aplicando sanções à Nigéria. Ainda sob o governo Bush, em nome da
crise humanitária, os Estados Unidos participaram da controversa missão na Somália, depois
da qual notou-se um progressivo afastamento do continente.
344 Ibid., p. 207.
179
Essa aplicação seletiva da nova agenda evidencia aquela que parece ser a
principal força motriz das novas ingerências, e que, nesse sentido, não difere das
manifestações anteriores: os interesses nacionais dos Estados ingerentes. Nas palavras de
Houngnikpo,
The underlying persistence of the North’s inclinations to engage in democracy promotion in the South is based more on economic and political rationale than on true devotion to democracy. Despite efforts by Northern nations to conceal ulterior motives, their deeds (or lack thereof) often give lie to their intentions. 345
Segundo o autor, ainda, há variações dentre os agentes que promovem a
democracia e impõem condicionalidades. Por exemplo, dentro da Europa, não obstante os
parâmetros comuns que ditam as políticas de ajuda externa dos países, a Holanda teria um
interesse mais explícito de promoção da democracia, em contraposição à França, cuja
ajuda estaria de maneira mais diretamente vinculada às necessidades próprias deste país.
Evidentemente, poder-se-ia argumentar que a própria expansão da democracia
seja um interesse caro à Holanda, uma vez que, se dependesse de recursos de poder duro
(hard power), seu papel no cenário internacional seria limitado. De maneira geral, contudo,
o que a literatura argumenta é que a promoção da democracia e a sua seletividade
respondem a interesses egoístas dos Estados e não às necessidades de desenvolvimento da
África. Assim, as próprias condicionalidades são instrumentos para um fim, fim este que
estaria ligado à política externa dos países doadores, muito embora oficialmente seja
apresentado como benéfico e necessário aos países recipiendários. Em última instância, as
novas ingerências são levadas a cabo quando o fim formal (a implementação da
democracia, dos direitos humanos e da boa governança) coincide com os interesses
políticos nacionais dos Estados ingerentes. Quando isto não acontece, ou não há
ingerência, ou esta ocorre sem qualquer justificativa plausível (como a ação norte-
americana no Iraque), opção mais rara no caso africano.
Dadas essas considerações, fica um questionamento: se a agenda é cumprida de
maneira seletiva quando interessa às potências, com ou sem justificativa, e dados os
recursos de poder díspares entre as partes, porque então formular uma “nova agenda”?
Dada a amplitude da boa governança, poucas são as ocasiões em que as ações dão-se
de maneira não justificada. Essas justificativas, se não equivalentes às motivações das
ações, buscam legitimar tais ações perante a sociedade internacional. Daí a forte ênfase
em apresentar o discurso como universal e não contestável. A prestação de contas torna-se
necessária a partir do momento em que a atual distribuição de poder mundial configurou
um cenário de unimultipolaridade346, portanto mesmo os Estados Unidos sozinhos não
345 Ibid., p. 201. 346 A unimultipolaridade seria caracterizada pela situação em que “a resolução das principais questões internacionais requer ação por parte da única superpotência, desde que, porém, ela conte com a
180
podem garantir o sucesso de suas decisões sem a colaboração de pelo menos parte das
potências mais significativas. Além disso, há que se levar em conta o fato de que mesmo a
ingerência, nos dias atuais, depende da vontade do Estado receptor para sua
implementação (a exceção seria ataques armados, formas explícitas de imposição, que
não têm sido recorrentes no caso africano). Sendo assim, a legitimidade do discurso faz-se
necessária inclusive para que o Estado parte (tanto o governo quanto a população) aceite
a ingerência e viabilize sua concretização.
5.5 INGERÊNCIA HUMANITÁRIA
Juridicamente falando, a ingerência humanitária não implicaria uma violação de
soberania. Em seu formato padrão, esta deveria restringir-se apenas ao fornecimento de
recursos à população em situações de crise (catástrofes naturais, guerras). Enquanto a
observância dos direitos humanos envolve a vigilância do comportamento do Estado
(governo) em relação à sua própria população, a assistência humanitária visa simplesmente
ajudar uma população em circunstâncias emergenciais, sem se preocupar com a
identificação de quem (ou o quê) foi responsável por aquela situação. No caso das Nações
Unidas, a sua função humanitária seria traduzida no envio de missões de paz, que possuem
características distintas segundo seu tipo (peacemaking, peacekeeping, peace-
enforcement). De maneira geral, as missões de paz da ONU não envolvem o uso da força,
tratando-se mais de missões de observação ou utilizadas como veículos para facilitar o
acesso da população a bens vitais (comida, medicamentos, etc.). Contudo, nos casos da
Somália e da Ruanda, a utilização da força, segundo o artigo VII da Carta da ONU, gerou
uma situação onde a neutralidade da missão foi posta em xeque, gerando fortes
repercussões internacionais, embora muito menos resultados concretos no caso do destino
político desses países.
De maneira mais simbólica, os dois casos representam a mudança no pós-Guerra
Fria, tanto em termos da nova forma de atuação internacional na esfera de segurança (o
que alguns autores apresentaram como um novo paradigma de segurança coletiva),
como, no caso africano, uma nova forma de abordar a situação securitária no continente.
SOMÁLIA (1992-94)
A atual crise da Somália teve início a partir do governo do Major General
Muhammad Siad Barre, que chegou ao governo por meio de um golpe em 1969,
colaboração de outros Estados importantes; essa única superpotência tem poder, entretanto, de vetar as ações sobre questões relevantes adotadas por combinações entre outros Estados.” HUNTINGTON, Samuel. A superpotência solitária. Política Externa, v. 8, n. 4, mar/abr/maio, 2000. (Tradução do artigo de 1999 da Foreign Affairs), p. 15.
181
declarando um governo de inclinação socialista e buscando uma aproximação com a
União Soviética. A década de 1970 se abre com uma crise no país gerada, num primeiro
momento, pela seca e pela fome e, em seguida, pela guerra travada com a Etiópia pela
região do Ogaden (parte da Etiópia reivindicada pela Somália por ter uma população
somali). O desfecho da guerra resulta no abandono da aliança com a URSS em prol de uma
reaproximação com os Estados Unidos, mas a insatisfação com o governo de Siad Barre
segue um rumo de ascensão, culminando numa tentativa de golpe. A década de 1980
reforça a oposição ao governo, diante da postura de Siad Barre de afastar membros de
determinados clãs de postos governamentais. Novos enfrentamentos ocorrem com a
Etiópia, terminando com a assinatura de um acordo no Estados Unidos em 1988. As políticas
repressoras internas, no entanto, continuam, tendo como vítimas os membros dos
movimentos insurgentes. Em 1989, Siad Barre controla apenas a capital, Mogadíscio. Em
1991, o último suspiro de seu governo: a capital é destruída e Siad Barre abandona o país,
deixando-o em estado de total anarquia. Dois líderes passam a disputar e reclamar o cargo
presidencial: Al-Mahdi (líder do United Somali Congress, USC) e o General Aideed (antigo
chefe de guerra do mesmo partido).
Quando o Conselho de Segurança ficou a par da situação na Somália, em 1991, a
guerra civil e a fome já haviam causado mais de cem mil mortes e transformado cerca de
um quarto da população em refugiados. A estrutura econômico-administrativa do país
estava totalmente destruída e o presidente interino e seu governo eram reconhecidos
apenas por suas facções.347 O pedido para que o Conselho de Segurança fosse mantido
informado da situação foi feito pelo presidente Al-Mahdi. Em janeiro de 1992, o mesmo
pediu ao Conselho, por meio de um encarregado do governo, que fosse estabelecido um
programa de ação efetiva com o objetivo de pôr fim aos combates e restabelecer a paz e
a estabilidade dentro do país.348 Os pedidos são reiterados por demais facções dentro da
Somália.
Após discussão levada a cabo pelo Secretário Geral Boutros Boutros-Ghali, a
primeira medida tomada no seio do Conselho foi a imposição imediata de um embargo
geral sobre armas e equipamentos militares ao país. A resolução 733 de 23 de janeiro de
1992, decretando o embargo e urgindo as partes do conflito a cessar imediatamente as
hostilidades, foi aprovada por consenso, e assim seriam as subseqüentes resoluções, inclusive
347 DIVE, Gérard. Analyse des opérations de l’ONU: les objectifs, les moyens, la mise en ouvre… les résultats. Conflits en Afrique. Analyse des crises et pistes pour une prévention. Une iniciative de Médecins sans frontières e Fondation Roi Baudoin. Bruxelles: Editions GRIP, Editions Complexe, 1997, p. 146. 348 Dive, op. cit., p. 151.
182
as relativas a medidas coercitivas, que viriam a gerar uma série de questionamentos sobre a
interpretação da Carta da ONU e o futuro da segurança coletiva.349
As mediações do Secretário Geral, ao buscar um acordo entre as partes, foram
intensas. Em 3 de março de 1992, o presidente Al-Mahdi e o General Aideed assinaram um
“Acordo de Implementação de Cessar-fogo”, que incluía, entre outros, a aceitação de um
componente de segurança da ONU para comboios de assistência humanitária e o envio de
20 observadores militares em Mogadíscio, a fim de monitorar o cessar-fogo.350 Ainda no
mesmo mês, o Conselho adotou a resolução 746 (1992), apoiando a decisão do Secretário
Geral de despachar uma equipe técnica à Somália, a fim de preparar o mecanismo de
monitoramento de cessar-fogo, bem como desenvolver um plano de assistência
humanitária.
A UNOSOM, posteriormente conhecida como UNOSOM I, foi criada pela resolução
751, em 24 de abril de 1992. O mandato da missão consistiria em: facilitar a cessação efetiva
e imediata das hostilidades, a fim de promover o processo de reconciliação, e fornecer
assistência humanitária. Como aponta Patriota, a resolução basear-se-ia nos preceitos
tradicionais de imparcialidade e consentimento entre as partes.351
A falta de desenvolvimento da situação, contudo, resultou na revisão do mandato
da missão. O caos político e a constante destruição física do país, juntamente com as
intensas rivalidades locais, impossibilitavam a entrega de suprimentos humanitários, os quais
freqüentemente eram saqueados por bandidos e grupos armados.352 Nesse contexto, foi
sugestão do Secretário Geral que o mandato da UNOSOM fosse modificado e ampliado
dentro dos termos do capítulo VII da Carta da ONU. O mandato, segundo o Secretário,
deveria ser limitado no tempo e precisamente definido, de forma que preparasse o terreno
para o retorno das tropas de manutenção da paz e construção da paz (peacekeeping e
post-conflict peace-building).353
349 PATRIOTA, Antônio de Aguiar. O Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo: A Articulação de um Novo Paradigma de Segurança Coletiva. Brasília: Instituto Rio Branco, Fundação Alexandre de Gusmão e Centro de Estudos Estratégicos, 1998, p. 67. 350 UNOSOM I, Background. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em:07 ago 2004 351 Patriota, op. Cit., p. 75. 352 ONUSOM I, Background, op. cit. 353 Para maior precisão conceitual ver Boutros Boutros-Ghali, Uma Agenda para a Paz, 1992, onde o Secretário Geral apresenta algumas recomendações no sentido de aumentar a capacidade das Nações Unidas em relação à diplomacia preventiva, o estabelecimento da paz e a manutenção da paz. Nesse relatório, Boutros-Ghalia acrescenta a essas três etapas, um quarto conceito, qual o da “consolidação da paz”, que incluiria projetos a fim de possibilitar a formação de condições que pudessem perpetuar um estado de ordem e paz durável dentro dos países (projetos relacionados ao desenvolvimento e à consolidação de estruturas básicas).
183
Assim, em 3 de dezembro de 1992, o Conselho de Segurança adota, unanimemente,
a resolução 794 (1992), autorizando o uso de “all necessary means to establish as soon as
possible a secure environment for humanitarian relief operations in Somalia”.
A resolução 794 (1992) e sua implementação, com a subseqüente formação da
UNITAF (United Task Forces), somente foi possível graças à disposição dos Estados Unidos de
fornecer as tropas para intervir militarmente e em prazo imediato. O mandato da UNITAF foi
alvo de desentendimentos entre o Secretário Geral e a administração norte-americana. De
um lado, Boutros-Ghali queria que os Estados Unidos assumissem suas funções político-
militares a fim de cessar as hostilidades e desarmar as facções. Tanto Bush, quanto
posteriormente Clinton, no entanto, assumiam a posição de que seus objetivos eram
puramente humanitários e desejavam que as tropas permanecessem o menor tempo
possível no país.354 O comando da operação, contudo, restou, ao final, nas mãos dos
Estados Unidos.
As primeiras tropas da UNITAF desembarcaram na Somália em 9 de dezembro de
1992. Sua função seria, portanto, a de estabelecer um ambiente seguro a fim de que se
pudesse concretizar a assistência humanitária. Uma vez cumprida a função, o comando
militar seria devolvido às Nações Unidas. Cabe destacar que a UNITAF consistia numa força
de intervenção multilateral: além das tropas norte-americanas, havia unidades militares da
Alemanha, Austrália, Bélgica, Botsuana, Canadá, Egito, França, Grécia, Índia, Itália, Kuwait,
Marrocos, entre outros. Enquanto a UNITAF tentava desenvolver sua ação, a UNOSOM
continuava presente na capital e ambas tentaram manter um certo grau de coordenação.
Num primeiro momento, o sucesso da UNITAF foi reconhecido pelo Secretário Geral, em seus
relatórios ao Conselho de Segurança. A rapidez com que os objetivos estavam sendo
cumpridos levou o Secretário a sugerir a transformação da UNITAF em UNOSOM II e partir
para a segunda etapa da missão.355
A resolução 814 (1993), de 26 de março de 1993, expandia o mandato da missão
para que incluísse o desarmamento das facções, o que aumentava seu envolvimento militar
e sua vulnerabilidade. O argumento de Boutros-Ghali era de que, sim, a UNITAF havia
atingido alguns sucessos, mas o país encontrava-se, ainda, em estado de caos, uma vez
que não havia um governo efetivo, sequer força de polícia civil organizada, nem mesmo
forças armadas nacionais organizadas. Registrava-se, ainda, a ocorrência de ameaças ao
pessoal da ONU, sem contar que muitas regiões do país ainda não contavam com a
presença das forças de paz.356
354 Patriota, op. Cit., p. 76. 355 ONUSOM I, Background, op. cit. 356 Ibid.
184
A expansão do mandato da UNOSOM II deu-se sob o capítulo VII da Carta das
Nações Unidas. De maneira resumida, o mandato teria como objetivo principal garantir a
assistência humanitária no país como um todo. A esse, somavam-se outros objetivos, dentre
os quais destacam-se: restabelecer a segurança no país, ajudar no repatriamento dos
refugiados, ajudar na reconciliação nacional e na reconstrução das estruturas políticas e
administrativas e organizar atividades informativas, a fim de divulgar o trabalho da ONU no
país.
Infelizmente, a renovação do mandato não resultou em sucesso. A UNOSOM II não
só não conseguiu atingir seu objetivo de construção da paz, como foi vítima de ataques por
parte de facções locais. A morte de 23 soldados em 5 de junho de 1993 levou à resolução
837, que autorizou a UNOSOM II a tomar todas as medidas necessárias contra os
responsáveis pelo ataque. Em 12 de junho, a UNOSOM II deu início a uma série de ataques
aéreos e militares em Mogadíscio. Segundo o Secretário, o objetivo da ação era o de
possibilitar a continuidade das negociações de paz e que a ação deveria ser vista dentro
do contexto do compromisso internacional com o programa de desarmamento nacional
aprovado pelos próprios partidos somalis em Adis Abeba em março de 1993.357 Relatava,
ainda, o Secretário, as atrocidades cometidas pelas tropas do General Aideed, que usavam
mulheres e crianças como escudos humanos em suas operações. Na prática, o
envolvimento político tornou-se inevitável, sendo a caça ao General Aideed um dos
objetivos da UNOSOM II. A partir de então os choques tornaram-se cada vez mais intensos,
sendo as próprias tropas americanas responsáveis por incidentes que resultaram na morte
do Ministro da Defesa de Aideed e de mais 70 pessoas. Muitos outros incidentes ocorreram,
resultando na morte de mais somalis e mais funcionários da ONU. O resultado foi o aumento
de divergências entre o Secretário Geral e a administração norte-americana quanto a
como proceder dali por diante.358
Em apoio à UNOSOM II, forças norte-americanas (United States Rangers e Quick
Reaction Force) foram enviadas a Mogadíscio. Estas forças não estavam sob o comando e
controle das Nações Unidas, mas agiram dentro de um programa de coerção que tinha
como principal objetivo capturar os principais ajudantes do General Aideed (cúmplices dos
ataques de 5 de junho e demais ataques a funcionários da ONU). Cerca de 24 suspeitos
foram apreendidos, mas seguiu-se um ataque a dois helicópteros americanos e intenso
combate aos Rangers. Ao todo, doze soldados americanos morreram e 75 ficaram feridos.
Os corpos dos soldados foram objeto de manifestações de ira e as imagens repassadas por
redes de televisão chocaram o mundo. Após tais eventos, Clinton anunciaria a retirada das
tropas americanas até março de 1994 e a partir de então o Conselho de Segurança ficaria
357 UNOSOM II, Background. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em: 07 ago 2004 358 Patriota, op. cit., 77-9.
185
sem opção se não adotar a resolução 897, que autorizava a retirada gradual da UNOSOM II,
bem como tirava a responsabilidade da mesma na questão do desarmamento dos
beligerantes.359
Embora algumas melhorias tenham sido reportadas pela ONU no que concerne à
situação humanitária em geral na Somália, não há dúvidas de que a missão foi fortemente
prejudicada pela série de acidentes acima reportados. Estes não apenas dificultaram o
processo de reconciliação, como estimularam facções litigiosas em outras partes do país. A
segurança continuaria a ser um problema.
Em 4 de novembro de 1994, o Conselho de Segurança aprova a resolução 954
(1994), que estende o mandato da UNOSOM II por um período final até 31 de março de
1995, sendo sua função a de facilitar a reconciliação política na Somália. De fato, logo em
seguida, as facções começam a negociar e em 21 de fevereiro de 1995 o presidente Al-
Mahdi e o General Aideed firmam um acordo de paz, onde aceitam o princípio do poder
compartilhado e a subida ao poder apenas por eleições democráticas. A retirada da
UNOSOM II é completada em 2 de março do mesmo ano.
O envolvimento dos Estados Unidos na Somália, mesmo que dentro das Nações
Unidas, deu-se num momento em que a superpotência consolidava-se como única no
cenário mundial. As visões de política interna norte-americanas iriam, além disso, passar por
algumas mudanças. A visão da necessidade de uma reforma da América e a primazia de
um sistema multipolar (quebrado com a guerra do Iraque), vigentes no governo Bush, vão
ceder lugar, no governo Clinton, a uma visão de liderança e hegemonia, apoiadas em uma
estratégia de engajamento e expansão.360 Ao mesmo tempo, contudo, sua prioridade
voltar-se-á para a economia do país e suas prioridades internas. Daí que o próprio
engajamento dar-se-á de maneira mais acentuada naquelas regiões que possuem algum
tipo de interesse estratégico para os Estados Unidos, o que era o caso do Iraque,
posteriormente Kosovo, mas não a Somália.
Dessa forma, ainda que durante a década de 1980 os Estados Unidos tenham
prestado 500 milhões de dólares em assistência militar à Somália (em apoio ao regime de
Siad Barre, que, aliás, não se converteu minimamente em ajuda à população), em 1988 o
Congresso determinou que essa ajuda fosse cortada e até 1992, quando da chegada do
tema ao Conselho de Segurança, a Somália simplesmente sumiu da agenda norte-
americana (embora existissem relatos no governo referentes à situação institucional do país).
Na verdade, houve mesmo uma resistência por parte dos Estados Unidos de incluir o tema
359 UNOSOM II, Background, op. Cit. 360 PECEQUILO, Cristina Soreanu. A política externa dos Estados Unidos. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.
186
na agenda do Conselho de Segurança em 1991. Mesmo após a resolução 751 (1992), que
viria a estabelecer a UNOSOM, os Estados Unidos criariam resistências quanto ao
deslocamento das tropas. Este tipo de atitude só mudaria mais tarde, após alarde na
imprensa sobre a situação humanitária na Somália e o envio de telegrama dramático do
embaixador americano em Nairobi, descrevendo a situação alarmante do país.361
Somente em novembro de 1992, mostrariam os Estados Unidos a disposição de
intervir militarmente. Ainda assim, contudo, as resistências persistiram quanto ao mandato da
UNITAF (vide supra). Fatores políticos demonstravam ter muito mais importância nas decisões
americanas do que a fome de milhões de pessoas em um país longínquo e pouco
importante. Como coloca Clark:
Somalia, no longer strategically important after the end of the Cold War, could not compete for the political attention that is manifestly a prerequisite for the sustained and complex humanitarian assistance required. That the tragedy stemmed in large part from the effects of two decades of militarization by outside powers and their support for the authoritarian rule of Siad Barre was of little consequence as those powers distanced themselves from the messy situation and avoided further involvement.362
Além da postura de distanciamento dos acontecimentos, uma vez em solo somali, os
Estados Unidos viram-se numa situação em que uma operação de paz supostamente neutra
passou a ser ator politicamente envolvido no conflito. Uma vez mortos soldados da ONU e
entrado em vigor o mandato da UNOSOM II sob o capítulo VII da Carta, as tropas passaram
praticamente a caçar os responsáveis pelos ataques e, em especial, o General Aideed,
responsabilizado pelos mesmos. Nas palavras de Patriota:
A Embaixadora dos Estados Unidos, Madeleine Albright, passaria a se referir a Aideed em termos depreciativos, e a ONU, abandonando qualquer pretensão de imparcialidade, ficaria sem condições de levar adiante o processo diplomático de Adis Abeba.363
A missão que havia sido enviada a fim de facilitar as negociações e possibilitar a assistência
humanitária às vítimas civis viu-se, portanto, fazendo parte do próprio conflito, passando a
ter repercussão na imprensa e na população americana, que, a esta altura da situação,
preocupava-se mais com a captura de Aideed do que com os milhares de civis somalis que
continuavam a morrer de fome e da guerra.
Há que se destacar alguns aspectos da ingerência na Somália. Num primeiro
momento, houve um pedido por parte de representantes locais às Nações Unidas, no
sentido de contribuir para a resolução do conflito, dando a idéia da existência de uma
forma de contrato. Num segundo momento, no entanto, a ingerência tomou uma dinâmica
própria, sendo o caráter da missão da ONU transformado, e observando-se elementos
361 Patriota, op. cit., p. 74-5; Cohen, Herman J. Intervening in Africa. Superpower peacemaking in a troubled continent. Studies in Diplomacy. London/New York: Macmillan Press, 2000, cap. 8. 362 CLARK, Jeffrey. Debacle in Somalia: Failure of the Collective Response. New York, 1993, p. 214. 363 Patriota, op. cit., p. 77.
187
extras, como os Rangers, que respondiam a uma função diferente da missão da ONU. Assim,
a mudança do mandato transforma o caráter da ingerência na Somália.
Consta no capítulo VII da Carta das Nações Unidas, em seu artigo 30 que
O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura de paz ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os arts. 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacional.
e mais adiante, no artigo 42:
No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no art. 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas364, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas.
Existe, portanto, a identificação de um processo que concerne à segurança internacional
que pede uma ação internacional, mesmo sem o consentimento do Estado receptor, muito
embora dentro do âmbito da ONU, da qual o Estado é membro. Da mesma forma, existe
uma clara intenção de interferir nas estruturas políticas domésticas do Estado em questão,
na suposta tentativa de reestruturar a ordem e/ou, pelo menos, viabilizar a condução de
meios de sobrevivência à população. Nesse segundo momento, portanto, claramente
houve uma manifestação de coerção por parte tanto da ONU quanto dos Estados Unidos
em especial. De outro lado, o não alcance do objetivo proposto (o restabelecimento da
ordem política e da estabilização interna) resultou num súbito recuo das partes
interventoras, deixando o país seguir seu próprio rumo, não chegando, portanto, a alterar
substancialmente o processo interno.
Ironicamente, justamente quando a ingerência se fazia necessária, ela ocorreu de
maneira limitada e quase “a contragosto”. Enquanto até o eclodir do caos na Somália os
Estados Unidos adotaram uma política de “amizade” com Siad Barre, uma vez extinto o seu
governo e abertas as portas para uma possível reorganização estatal, a vontade política foi
desviada para outros temas de interesse da superpotência. Em parte, o mesmo pode ser
transposto para a ONU, que contava, naquele momento, com uma série de outras missões
de paz e recursos reduzidos.365
Não obstante a avaliação parcial positiva do Secretário do Bureau of African Affairs
na gestão Bush, Herman Cohen, sobre o caso da Somália366, o fato é que mais de dez anos
364 Seriam estas as medidas que não implicam o uso da força militar, por exemplo, interrupção das relações econômicas e diplomáticas. 365 Cohen, op. cit. 366 “While Somalia remained without a central government as of late 1999, and conflict continued between factions in Mogadishu, the overall situation was significantly better than it had been toward the end of 1991.” Cohen, op. cit., p. 215. Resta saber o que ele entendia dizer por overall situation.
188
após a retirada das tropas, este país continua em estado de caos e não há perspectivas de
melhora.
RUANDA (1994)
O problema étnico na Ruanda encontra suas origens desde a colonização belga.
Quando chegaram no local, em 1916, em função de teorias vigentes na época sobre
superioridade racial e étnica, os belgas conduziram uma política de extremo favoritismo aos
Tutsi, em detrimento dos Hutu e dos Twa. Embora existisse um conflito potencial entre esses
grupos étnicos, este foi eclodido pelas políticas coloniais.367
As primeiras manifestações políticas de clivagens étnicas ocorreram na década de
1950, quando o partido de maioria Hutu (que representava 83% da população) venceu as
eleições. Os anos de 1959 a 1961 são marcados por uma revolução que terá como
conseqüências: o exílio de um grande número de Tutsi (que passarão a reivindicar sua
nacionalidade e direito de retorno à Ruanda); a exclusão virtual dos Tutsi da vida pública; e
a concentração de poder e um autoritarismo crescente que vai levar, rapidamente, à
instalação de um monopartidarismo hutu de fato. As técnicas de intimidação,
aprisionamento e até mesmo eliminação dos Tutsi vai levar, por fim, a um golpe de Estado
em 1973.368
A segunda república ruandesa não vai ser menos violenta do que a primeira, não
obstante abra um período de abertura e modernização do país. Há, de fato, o aumento do
PNB per capita e a melhoria de algumas estruturas. Por outro lado, aumenta a
concentração de renda e o poder fica concentrado em duas províncias (Gisenyi e
Ruhengeri).369 Somente em 1990, contudo, uma nova crise virá a surgir. Nesse meio tempo, o
descontentamento vinha num crescente, resultando em conflitos sub-regionais, no
surgimento de uma classe predadora e no retrocesso do meio rural. Diante do cenário, o
presidente Habyarimana anuncia um aggiornamento político, e propõe um novo conceito
de democracia, que se traduziriam em uma carta política nacional e a promessa de uma
revisão constitucional para 1992. Antes que o todo fosse implementado, porém, em outubro
de 1990 a Front Patriotique Rwandais (FPR) lança sua invasão partindo da Uganda.
Afirmando ser um grupo multi-étnico e não apenas refugiados Tutsi, a FPR acusa o governo
de Kigali de corrupção, nepotismo e violação de direitos humanos e anuncia um programa
alternativo. A confusão relativa à constituição e os objetivos da FPR e a postura
internacional de lançar-se em defesa do governo atiram o país em uma nova onda de
367 REYNTJENS, Filip. L’Afrique des Grandsd Lacs en crise. Rwanda, Burundi: 1988-1994. Paris: Ed. Karthala, 1994, op. cit. 17-21. 368 Ibid., p. 25-8. 369 Ibid., p. 30-6.
189
violência étnica, tendo como principais vítimas os Tutsi.370 Há que se colocar que, embora o
presidente Habyarimana fosse defensor do unipartidarismo, sua tentativa de pôr em prática
um aggiornamento político foi levada a cabo com afinco, buscando o presidente um
diálogo com os demais partidos. O paralelismo dos acontecimentos, no entanto, acaba
privilegiando o crescimento de ressentimentos étnicos ao invés do diálogo político.
Alguns acordos foram negociados após o início das hostilidades, sendo o mais
importante o assinado em Arusha em 22 de julho de 1992, o qual determinava a presença
de um Neutral Military Observer Group (NMOG I), fornecido pela OUA. O respeito aos
acordos, contudo, não foi verificado e contribuiu para a interrupção das negociações que
estavam sendo conduzidas pela OUA e facilitadas pelo governo da Tanzânia.371 O mais
importante resultado das negociações foi concluído em Arusha, em 4 de agosto de 1993. O
acordo de paz propunha um governo eleito democraticamente e a formação de um
Gouvernment de Transition à Base Élargie que permaneceria até a conclusão das eleições.
Além disso, convidava à repatriação dos refugiados e à integração das forças armadas de
ambos os lados.372 O cumprimento dos acordos, contudo, mostrar-se-á um dos aspectos
mais difíceis da reconciliação ruandesa. Os eventos na Ruanda estão estreitamente ligados
aos acontecimentos nos vizinhos Burundi (que também sofria da disputa entre Hutu e Tutsi) e
Uganda (de onde provieram os ataques da FPR).
Em 3 de março de 1993 o Conselho de Segurança recebeu duas cartas datadas de
fim de fevereiro, respectivamente do representante permanente da Ruanda nas Nações
Unidas e daquele da Uganda. Ambas traziam o pedido da formação de uma missão de
observação e vigilância na fronteira entre os dois países, com vistas a assegurar que não
houvesse passagem de armas em direção à Ruanda. Um dia depois, a Ruanda
encaminharia um pedido ao Conselho de Segurança referente à formação de uma força
internacional de controle do cessar-fogo. O mesmo fazia a Uganda.373 O primeiro pedido vai
resultar na formação da Missão de Observação das Nações Unidas para Uganda-Ruanda
(UNOMUR), enquanto o segundo na Missão das Nações Unidas para Assistência à Ruanda
(UNAMIR).
A UNAMIR vai ser criada pela resolução 872 (1993). Seu mandato vai consistir em, de
um lado, restaurar a segurança no país, a fim de permitir a instalação de instituições de
transição e, de outro, assegurar a assistência humanitária à população. Este objetivo inclui o
retorno dos refugiados e deslocados que fugiram dos embates entre FPR e FAR (Forças
Armadas Ruandesas) em outubro de 1990.
370 Ibid., p. 89-102. 371 UNAMIR, Backgroung. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em: 10 ago 2004 372 Ibid. 373 Dive, op. cit., p. 152.
190
As primeiras dificuldades da UNAMIR vão ser decorrentes do próprio Acordo de
Arusha. Um dos pontos do acordo fazia referência à manutenção do então presidente
Habyarimana até que fossem concluídas as eleições, e isto foi seguido nos conformes. A
parte relativa à instalação do governo de transição, contudo, foi impossibilitada em função
das divergências entre os partidos. A falha nessa etapa levou ao acirramento dos problemas
de segurança. Janeiro e fevereiro de 1994 foram marcados pela escalada da violência,
assassinatos de políticos e civis.374 Se, inicialmente, a situação vai ser controlada pela
UNAMIR, em questão de pouco tempo, a perda de controle da violência vai gerar a
necessidade de revisão de seu mandato.
Em 6 de abril de 1994 morrem em misterioso acidente aéreo os presidentes da
Ruanda e do Burundi (respectivamente, Habyarimana e Ntaryamira). Os acontecimentos
que se seguem vão resultar naquele que ficou conhecido como o genocídio ruandês de
1994. O número estimado de vítimas ficou entre 500 mil e um milhão de Tutsi e Hutu
moderados. Entre os assassinos, estavam membros das forças do governo ruandês, mas
principalmente jovens da milícia da Guarda Presidencial, em especial os interahamwe,
recrutados pelo próprio partido do presidente.375 No massacre, morrem dez capacetes azuis
belgas. Diante da tragédia, a primeira medida tomada pelo Conselho foi a de reduzir
drasticamente o mandato da UNAMIR, que passaria a somente intermediar o diálogo entre
facções e facilitar, dentro do possível, a assistência humanitária, e diminuir o número de seus
efetivos militares a 270, conforme sugestão do Secretário Geral.376 A subseqüente extensão
dos massacres, contudo, fez com que, logo em seguida, o Secretário Geral retrocedesse em
sua decisão e no dia 17 de maio o Conselho emitisse nova resolução, 918 (1994), que
impunha um embargo sobre armas à Ruanda e estendia o mandato da UNAMIR, de forma
que compreendesse: contribuir para a segurança e proteção dos deslocados internos e
refugiados e, dentro do possível, criar zonas de segurança humanitárias; assegurar a
distribuição de socorro e as operações de assistência humanitária. Em outras palavras, o
mandato voltou a ser o mesmo que fora em sua versão original.
Assim como na Somália, a urgência de juntar tropas e equipamentos não foi
acompanhada pela disponibilidade dos países em fornecê-las. Em fins de maio, o governo
de Gana já possuía efetivo pessoal para ser enviado à Ruanda, mas carecia de
equipamentos que deveriam ser fornecidos por outros Estados membros. Este tipo de
percalço gerou um atraso de 6 semanas na implementação da fase dois do programa, que
teve que ser implementada em conjunto com a fase três.377
374 UNAMIR, Background, op. Cit. 375 Ibid. 376 Dive, op. Cit., p. 174. 377 UNAMIR, Background, op. cit.
191
As limitações materiais e as fortes pressões frente à necessidade de agir diante da
onda de violência fizeram com que o Secretário Geral passasse a considerar a oferta da
França quanto ao envio de uma força multilateral à Ruanda, o que se traduziu na Opération
Turquoise. A montagem da Opération Turquoise deu-se sob o capítulo VII da Carta
(resolução 929 de 1994), que foi aprovada por 10 dos membros e o restante de abstenções
e novamente empregava a expressão “all necessary means” para atingir objetivos
humanitários, indicando a postura coercitiva da missão, caso fosse necessário. Ainda sob o
capítulo VII seria estabelecido um Tribunal Penal na Ruanda, mesmo contra a vontade da
delegação ruandesa, que na época era membro não-permanente do Conselho.378 A
proposta inicial era a de que a Opération Turquoise durasse não mais que três meses, tempo
suficiente para que a UNAMIR fosse reforçada e passasse a operar independentemente da
força multinacional. As atividades entre as duas, ao mesmo tempo, seriam vivamente
coordenadas.
A operação foi lançada em 23 de junho de 1994. Em dois de julho a França
anunciava que seria estabelecida uma “zona de proteção humanitária” na região sudoeste
do país. Não obstante a forte oposição da FPR, esta não buscou confrontação com a
França, a qual, por sua vez, também evitou maiores provocações.379 Apesar da operação, a
FPR vai continuar avançando, controlando, em julho, a maior parte do território ruandês. Em
17 de julho, a Frente vai tomar Kigali, última cidade controlada pelas forças do governo, e
decretar unilateralmente um cessar-fogo, pondo, assim, fim à guerra. Em 19 de julho é
formado o Governo de Base Alargada de Unidade Nacional, que, subseqüentemente,
estende seu controle por todo o território nacional.
Apesar das mudanças, a situação de descontrole da violência continua, assim como
o fluxo intenso de refugiados, principalmente em direção ao Zaire. As principais funções da
UNAMIR nesse cenário passarão a ser, basicamente, estabilizar e monitorar a situação no
país, encorajar o retorno dos refugiados, prover segurança e apoio à assistência humanitária
e mediar o processo de reconciliação nacional na Ruanda.380
A resolução seguinte das Nações Unidas para a Ruanda, 955 (1994), de 8 de
novembro, apontaria para o estabelecimento de um tribunal internacional para julgar os
responsáveis pelo genocídio e demais violações de direito humanitário. Enquanto isso, a
UNAMIR continuaria com seu contingente presente no território ruandês. Seu mandato só
chegaria ao término em 8 de março de 1996, pela resolução 1050 (1996). A retirada das
tropas encerra-se em 19 de Abril. O número de monitores cai drasticamente logo em
378 Patriota, op. cit., p. 110. 379 UNAMIR, Background, op. cit. 380 Ibid.
192
seguida, não obstante o forte apoio do governo à sua permanência após a retirada da
UNAMIR.
Tanto no caso da Somália quanto da Ruanda a retirada das tropas da ONU se
deram antes de qualquer sinal de estabilidade nos países em questão. No caso ruandês,
contudo, uma questão extra consumiu aqueles que acompanharam o desenrolar dos
acontecimentos: porque tanta demora em agir? De fato, o único consenso no que diz
respeito a esta questão é a de que o desastre que ocorreu em 1994 poderia ter sido
evitado, considerando-se as informações abundantes sobre o que estava ocorrendo e
levando-se em consideração as supostas “lições aprendidas” com o caso da Somália. Em
1999, o Secretário Geral, com a aprovação do Conselho de Segurança, comissionou uma
investigação a fim de encontrar respostas que teriam levado a este desfecho. O resultado
apresentado concluiu que os dois principais motivos pela negligência internacional
resultaram de falta de vontade política e dos erros de julgamento quanto à natureza dos
eventos na Ruanda.381
A falta de vontade política parece mais do que evidente. O próprio reconhecimento
dos acontecimentos na Ruanda como “genocídio” foi fator de divergência no âmbito das
Nações Unidas. Como aponta Patriota,
Por qualquer critério de avaliação, os acontecimentos de 1994 se enquadrariam sem dificuldade no Art. II da Convenção sobre a Prevenção e a Punição pelo crime de Genocídio de 1948, que define o crime em termos de ‘ato cometido com a intenção de destruir em sua totalidade ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.’ (…) Mas relatório sobre Ruanda, publicado, em dezembro de 1996, pela Unidade de Lições Aprendidas do Departamento de Operações de Paz reconhece que ‘in fact, there was a certain reluctance among Council members to acknowledge that the problem in Rwanda was one of genocide.’382
A vontade da França, neste sentido, foi algo singular. É fato que a vontade francesa
de expandir sua influência no continente africano foi um fator de política externa marcante
durante muitas décadas. O partidarismo da França seria criticado pela imprensa belga, que
chegou a especular suspeitas do envolvimento francês na morte dos presidentes ruandês e
burundês. Acusações ainda mais pesadas, contudo, diriam respeito à própria finalidade da
Opération Turquoise, a qual, segundo a jornalista belga C. Braeckmann, teria sido enviada
para resgatar soldados franceses que se encontravam cercados por forças hostis da FPR.
Como se não bastasse, a jornalista cita, ainda, a suspeita, oriunda de declarações do
representante da FPR, de que a França tinha conhecimento e era cúmplice do plano de
genocídio.383 A rapidez e destreza com que a Opération Turquoise foi conduzida levam a
crer que a segunda hipótese (resgate dos franceses no local) seria plausível.
381 Ibid. 382 Patriota, op. cit., p. 112-3. 383 Ibid., p. 115.
193
Na opinião do ex-secretário americano para assuntos africanos, Herman Cohen, a
França teve alguma culpa na seqüência dos acontecimentos, mas que não se traduziriam
num ato de cumplicidade. Primeiramente, a França possuía com a Ruanda acordos de
cooperação militar (assim como com os demais países francófonos). Contudo, em 1990, a
ajuda dirigida à Ruanda provinha de diversas fontes, a incluir Alemanha, Suíça, Bélgica e
Estados Unidos. Segue o secretário:
Like other authoritarian regimes, the Rwandan government had a good track record for economic management with moderate foreign policies. In short, we were all helping the Habyarimana government. French military assistance was not out of the ordinary. (…) Where I fault the French is not that they honored their security commitment to Rwanda in the face of what they considered aggression from Uganda. It was their failure to use their leverage for conflict resolution, or to take notice of genocidal trends festering within the power structure to which they, better than anyone, related. By offering continued loyalty and material support without pressure for political liberalization, the French effectively signaled the Rwandan government they could count on French backing no matter what they did.384
Por esta ótica, o caso francês mais se aproximaria de uma ingerência em sua acepção
negativa, ou seja, uma falta de ação no momento certo que resultou numa catástrofe
humanitária. Primeiramente, observa-se a não interrupção da ajuda externa (não somente
francesa) não obstante a condução de uma política de limpeza étnica (que foi longamente
anunciada em meios públicos pelo país). Num segundo momento, há uma ação rápida e
tardia, que se desenvolve em paralelo com a ONU (que, aliás, completou a disposição das
tropas em novembro de 1994, quando o genocídio já havia sido realizado e já havia um
novo governo em gestão) e que se completa com uma retirada, mais uma vez, precoce
(antes do prazo de expiração sugerido pela resolução do Conselho). Nesse momento, a
ingerência foi mais uma manifestação de intenção do que algo que tenha resultado em
mudanças significativas na esfera doméstica do país.
5.6 INGERÊNCIA DEMOCRÁTICA
Enquanto o início da década de 1990 foi marcado por essas duas intervenções
humanitárias, refletindo uma preocupação internacional ainda significativa com a
segurança na África, o desfecho dos casos marcou o fim de um engajamento mais intenso
no continente por parte das potências ocidentais. A ingerência democrática que se
consolida a partir de então vai assumir formas mais brandas, na maior parte das vezes de
eficiência contestável, mas refletindo claramente a crescente desimportância do
continente africano no cenário internacional.
384 Cohen, op. cit., p. 179.
194
NIGÉRIA (1993-1998)
Desde 1960, quando de sua independência, a Nigéria passou por várias transições
de regime político. Nascendo como uma república federativa (o que dificultou
sensivelmente o processo de união doméstica), em 1966 ocorreu o primeiro golpe militar.
Somente treze anos depois, em 1976 observou-se a transição para um governo civil, levada
a cabo por Olusegum Obasanjo, e concluída em 1979, com a vitória do civil Alhaji Shehu
Shagari nas eleições presidenciais. Não obstante o caráter civil, o governo gerou dúvidas
quanto ao seu aspecto democrático, em especial quando da reeleição do mesmo partido
em 1983, sob fortes acusações de fraudes. Neste mesmo ano, novo golpe militar derruba o
regime do presidente Shagari, desta vez com amplo apoio popular. Incapaz de resolver os
problemas do país, o regime militar sofre um contra-golpe dois anos depois, liderado pelo
Major-General Ibrahim Babangida. Este foi reconhecido internacionalmente, com os
cumprimentos da Primeira Ministra Britânica Margaret Tatcher. Contudo, apesar da
promessa de conduzir o país à democracia, Babangida recusou os três resultados eleitorais
realizados em seu governo. Quando, finalmente, em 1993, as eleições presidenciais
concederam vitória ao candidato do Social Democratic Party (SDP), Olawale Abiola, mais
uma vez o país encontrou-se em estado de agitação. Sob alegação de fraudes, os
resultados foram anulados, gerando severos protestos por parte da população. Abiola fugiu,
alegando ter sido ameaçado de morte e em vão buscou ajuda para tentar assumir o
governo. 385 Um governo interino, liderado por Earnest Shonekan, seguiu-se, com brevíssima
duração, sendo deposto pelo General Sanni Abacha, o qual, em 1994 envia à prisão o
suposto vencedor das eleições, Abiola.386
Ao assumir o governo, Abacha substituiu os governadores governamentais por
militares, proibiu toda forma de atividade política, restaurou a constituição de 1979 e
marcou o retorno ao governo civil para janeiro de 1996,387 o que na prática não aconteceu.
Apresentando sérios temores de contra-golpes, Abacha passou a perseguir os oposicionistas
ao seu governo. Em 1995, 51 pessoas foram julgadas, acusadas de conspirar golpes contra
seu governo. Destas, quarenta foram condenadas à morte, inclusive o ex-presidente
Obasanjo e seu colega deputado aposentado Major-General Yar’Dua. Nesse momento, a
Commonwealth ameaçou a Nigéria de expulsão e os Estados Unidos predispôs-se a
aumentar as sanções. Um parco resultado, no entanto, só foi obtido após esforço
diplomático e diálogo intenso com Abacha, o qual, ao final, se dispôs a reduzir o grau das
sentenças, transformando-as de condenações à morte a termos de prisão. Ainda assim,
385 Da Silva, op. cit., Cap. 8. 386 Mahmud, op. cit., p. 133-34. 387 Da Silva, op. cit., p. 194.
195
Yar’Dua morreu em detenção em 1997, de maneira suspeita. Obasanjo, por outro lado,
permaneceu preso até a morte do próprio Abacha em 1998.388 O episódio levou à
suspensão por dois anos da Nigéria da organização.
O comportamento repressivo de Abacha, no entanto, não foi alterado. Ainda em
1995, o líder do grupo étnico minoritário dos Ogoni, Ken Saro-Wiwa e oito colegas foram
julgados por assassinato e condenados à forca. O julgamento foi conduzido por um tribunal
militar, sendo acompanhado por observadores que o consideraram injusto, resultando em
forte apelo internacional pela revisão da pena. De nada adiantou, no entanto, sendo os
acusados enforcados, de fato, dez dias depois.389 Ademais, o programa de transição
democrática revelou-se uma farsa. Nas eleições municipais, apenas cinco partidos (não
coincidentemente, favoráveis ao governo) foram autorizados a apresentar candidatos. O
resultado gerou protestos e acusações de fraude, em razão do altíssimo nível de abstenção,
superando os 90% (segundo pronunciamento de uma ONG local). Em 1997, Abacha foi
“escolhido” como candidato único elegível, pelos cinco partidos. Ao invés de eleições,
realizou-se somente um referendo, que decidiria pela continuidade de Abacha no governo.
Somente 15% dos eleitores compareceram às urnas.390 Em 1998, dois meses antes da
conclusão do “processo de transição”, Abacha vem a falecer de maneira súbita e
(in)esperada, vítima de um ataque cardíaco.
Até a morte de Abacha, dos 38 anos de independência, a Nigéria viveu apenas 13
sob governos civis. Ainda assim, até a subida ao poder de Abacha, as relações do país com
a comunidade de Estados eram particularmente amistosas. As primeiras manifestações de
insatisfação vieram com o anulamento das eleições por parte de Babangida, em 1993. A
partir de então, e de maneira mais intensa sob o governo Abacha, houve uma série de
medidas visando isolar a Nigéria internacionalmente. A Grã Bretanha liderou o movimento,
levando a questão à Commonwealth e buscando exercer pressão por meio de sanções,
suspensão de equipamentos militares, banimento dos vôos da Nigerian Airways, entre outros.
Mais importante, porém, não impôs embargo sobre o petróleo importado daquele país.391
Fora e dentro da Commonwealth, o Canadá também teve papel protagônico, sendo o
primeiro a rebaixar o nível de sua representação em Lagos. No entanto, o peso da
Commonwealth não chegou a afetar as decisões nigerianas (vide supra). Em algum
momento, Abacha aceitou a visita de observadores da organização, mas, paralelamente,
jogava com seu papel de potência regional, lembrando que a estabilidade da região
dependia da Nigéria.
388 Mahmud, op. cit., p. 134. 389 Ibid. 390 Da Silva, op. cit., p. 195-96. 391 Ibid., p. 196-97.
196
No caso da UE, ações semelhantes foram conduzidas: restrições à exportação de
equipamentos militares, armamentos, e da concessão de vistos aos militares (ampliados,
mais tarde, para os civis do governo). Visando afetar a reação interna, a UE chega a
suspender as relações esportivas do país. Fora isso, a “ação” calcou-se mormente em
protestos e manifestações declaratórias.
Não muito diferente foi a postura norte-americana. Os Estados Unidos protestaram
frente à prisão de Abiola, diante da aclamação de Abacha como candidato único nas
eleições, promoveram visitas presidenciais a outros países africanos, visando estimular a
adoção de sanções, mas se recusaram a impor embargos sobre as importações de
petróleo, alegando que isso afetaria questões econômicas domésticas.392 Num segundo
momento, maior ênfase foi dada a negociações diplomáticas, considerando o papel da
Nigéria para a estabilidade regional.
Nos fóruns multilaterais, também houve posicionamentos contra Abacha,
particularmente na ONU, onde a Assembléia Geral votou, durante três anos consecutivos,
resoluções condenatórias ao regime. Há que se observar, no entanto, que o número de
votos não-favoráveis e de abstenções foi crescendo ao longo desse período, refletindo a
mudança de posicionamento de alguns países africanos. A Comissão de Direitos Humanos e
a Organização Internacional do Trabalho também condenaram o país por violação de
direitos humanos.
Em termos qualitativos, as sanções aplicadas pelos países ocidentais foram pouco
significativas. Nenhum dos países impôs embargo sobre o petróleo ou adotou sanções
econômicas. O mero isolamento diplomático da Nigéria não surtiu efeitos, uma vez que não
se refletiu nem mesmo no continente. O discurso da estabilidade regional foi um dos fatores
que contribuiu para a não eficácia das sanções. De fato, por meio do discurso
ideologizado, Abacha ainda conseguiu reunir uma coalizão de países africanos que o
apoiaram no quesito do respeito à soberania do país e à não ingerência externa em seus
assuntos (em particular Qadhafi). Devido à atuação na região (a atuação na guerra da
Libéria via ECOWAS-Ecomog), após sua morte, chegou-se ao cúmulo de considerá-lo um
exemplo de panafricanista, bem como um grande nacionalista.393
A ação internacional reduzida traz o questionamento da vontade política existente
com relação a, de fato, agir em nome dos direitos humanos e da boa governança.
Felizmente, no caso nigeriano, à morte de Abacha seguiu-se um governo de transição que
resultou, dois anos depois, na eleição democrática de Obasanjo à presidência. Esse
resultado positivo, no entanto, pouco se relaciona com as tentativas de ingerência externa.
392 Ibid. 393 Mahmud, op. cit., p. 141.
197
Aliás, seria o caso mesmo de se questionar se houve, de fato, ingerência neste caso.
Claramente, houve uma tentativa de alteração das estruturas domésticas do país (mesmo
que minguada), traduzida em mecanismos de pressão, constituindo, assim, a priori, uma
ingerência por coerção. No entanto, não houve um resultado significativo oriundo dessas
ações: a alteração que se seguiu não foi decorrente das pressões internacionais. Em outras
palavras, cabe aqui questionar se de fato a ingerência aconteceu.
ZIMBÁBUE (2000-2002)
A formação do atual Estado do Zimbábue teve lugar em 1980, quando o governo de
supremacia branca de Ian Smith chegou ao fim, abrindo uma nova era na história do país.
Com a adoção de um sistema parlamentarista republicano e a vitória eleitoral do ZANU
(Zimbabwe African People’s Union) de Robert Mugabe, tem início um governo de
reconciliação racial, que surge com promessas de reconstrução e convivência harmônica
entre as raças. Já na primeira década de seu governo, no entanto, apesar da avaliação
positiva internacional, Mugabe mostra sinais de autoritarismo e de seu apego ao poder. Em
1983, por exemplo, diante da cisão no governo entre a ZANU e a ZAPU (Zimbabwe African
People’s Union), Mugabe autoriza a 5ª Brigada (contingente militar étnico composto por
Shonas) a conduzir uma guerra terrorífica contra a população civil da Matebelelândia,
reduto político da ZAPU. A ação resultou numa série de matanças arbitrárias e torturas, clara
expressão de violação de direitos humanos. Entre 15 mil e 20 mil civis foram mortos. Ao
episódio, seguiram várias perseguições pelos órgãos de segurança aos membros da ZAPU,
único partido de oposição consolidado então.394 O resultado no curto prazo foi a fusão do
que restava da ZAPU à ZANU, consolidando, desta forma, um sistema unipartidário (mesmo
que isso não estivesse de conformidade com a constituição do país).
Uma das explicações pela continuidade do governo Mugabe ao longo da década
de 1980, não obstante seu caráter repressivo, seria o ambiente internacional, ainda imerso
na Guerra Fria. Internamente, há que se destacar o forte apoio a Mugabe da etnia Shona,
além dos diversos instrumentos utilizados pela ZANU para centralizar e consolidar seu poder.
De fato, além das violentas repressões, em 1987 Mugabe extingue o cargo de Primeiro
Ministro e se torna Presidente Executivo, o que lhe conferia amplos poderes, “incluindo o de
nomear virtualmente todos os altos funcionários do serviço público, exército, polícia,
chancelaria e outras instituições importantes”, que, aliás, em pouco tempo, estariam todas
subordinadas ao partido.395
394 DÖPCKE, Wolfgang. De Babuinos, homossexuais e um presidente: o fracasso da política exterior do Zimbábue depois do fim da Guerra Fria. In: MARTINS, Estevão C. de Rezende (org.). Visões do Brasil e da América Latina. Brasília: IBRI, 2003, p. 352. 395 Da Silva, op. cit., p. 280.
198
A década de 1990 e a mudança da postura política ocidental para com a África
trazem algumas alterações tanto na reinserção internacional do Zimbábue, quanto no
desenvolvimentos domésticos deste país. De fato, ao longo da Guerra Fria, o Zimbábue
havia mantido uma postura de destaque em razão da sua postura terceiro-mundista e
ativista nos foros multilaterais (G77, Movimento dos Não-alinhados). Apesar das repressões
internas, Mugabe era visto como um grande líder que havia libertado seu país do regime
branco. Ao seu carisma, somava-se o fato de que, à época da Guerra Fria, a África ainda
se beneficiava do “paradoxo da desimportância”, que se refletia na preservação de um
maior grau de soberania.396 Com a ascensão da boa governança e das novas ingerências,
as ações de violação de direitos humanos passaram a ficar sob forte escrutínio tanto dos
Estados, quanto de organismos multilaterais e ONGs.
Internamente, o criticismo perante o governo da ZANU seguiu rumo ascendente,
refletindo-se em manifestações populares, seguidas de constantes repressões. A questão
agrária tornara-se particularmente grave, uma vez que a retomada das terras havia sido um
dos pilares da guerra de libertação, sua redistribuição, contudo, revelando-se mais
complexa do que inicialmente suposto. A esses fatores acrescentaram-se a crise econômica
de 1997 e o particularmente impopular envolvimento militar do país no conflito da vizinha
República Democrática do Congo, em 1998.397 Foi neste momento em que se consolidou
uma nova forma de oposição ao governo de Mugabe, que resultou na criação, primeiro da
autoproclamada National Constitutional Assembly (NCA), em prol de uma constituição mais
democrática que reduzisse os poderes presidenciais e, em seguida, do partido MDC
(Movement for Democratic Change), em setembro de 1999.
Inicialmente, a resposta de Mugabe foi redigir uma nova constituição, que, contudo,
continuava dando amplos poderes à presidência, sendo, portanto, rejeitada no referendo
de fevereiro de 2000. A tentativa de revisão constitucional era centralizar ainda mais o
poder nas mãos do presidente, de forma que houvesse ainda alguma chance de
manipulação das eleições que estariam por vir. Dada a não aprovação, subitamente, às
vésperas das eleições e pela primeira vez desde sua chegada ao poder, a ZANU corria o
risco de perder as eleições parlamentares de 2000. Como tentativa última de virar a
situação, Mugabe não se manifestou contra as invasões nas terras de fazendeiros brancos
que se seguiram ao referendo, direcionando aos brancos a responsabilidade das mazelas
econômicas do país a fim de reconquistar alguma popularidade. A estratégia funcionou
parcialmente: nas eleições parlamentares, que foram consideradas irregulares pelos
396 Cabe precisar que na literatura sobre a África no pós-Guerra Fria, muitas vezes é notado que houve uma erosão da soberania após o final da mesma. Isso está intimamente ligado à definição de soberania utilizada. Neste trabalho, assume-se que desde as independências africanas, a ingerência está presente, variando em graus e na transparência com que é conduzida. 397 Da Silva, op. cit., p. 281-82.
199
observadores, a ZANU saiu vitoriosa, mesmo que por pouco, conquistando 62 cadeiras,
contra as 57 do MDC. Em contrapartida, 2.000 fazendas foram ocupadas, vários fazendeiros
brancos e seus funcionários assassinados e, como resultado, uma vez que o setor agrícola
ainda era responsável por boa parte do PIB, houve uma queda deste indicador,
acompanhada da demissão em massa dos trabalhadores.398
Assim, às vésperas das eleições presidenciais de março de 2002, o risco de derrota
eleitoral para Mugabe era grande. A situação de crise do Estado se agravava a cada dia a
ponto de ser diagnosticada pelo International Crisis Group como um estado de emergência
de facto.399 E de fato, a maior evidência da escalada da repressão pelo governo foi o
significativo aumento do repasse financeiro ao setor de defesa, que foi duplicado, apesar
do cessar-fogo na República Democrática do Congo. Tropas foram realocadas para a
repressão interna e assassinatos políticos passaram a ser problemas comuns. Como desculpa
para a violência contra a oposição foi utilizado o lema pós-11 de setembro, de combate a
terroristas.
As eleições aconteceram afinal em meio ao caos e às dificuldades de
monitoramento do processo. Em relação aos observadores estrangeiros, o governo autorizou
somente aqueles provenientes de países com os quais possuía vínculos comerciais e que
não estariam propensos a tomar partido contra o governo. Observadores britânicos,
holandeses, alemães ou escandinavos não foram credenciados, sob alegação de que seus
governos adotavam uma posição pró-oposição. Além disso, o acesso de jornalistas às
informações referentes ao processo eleitoral foi restrita. Esses fatores contribuíram para que
um dos resultados do acompanhamento das eleições fosse a discrepância presente nos
relatórios finais, confirmando a falta de coordenação entre os grupos e a predominância,
em alguns casos, de declarações políticas sobre análises frias e objetivas dos fatos.400 Ao
final, Mugabe conseguiu seu quinto mandado consecutivo de seis anos à presidência,
reelegendo-se com 54% dos votos.
A reação da comunidade internacional frente aos acontecimentos no Zimbábue
caracterizou-se pela “timidez, indecisão e demora”, somando-se a isso a existência de
“divergências fundamentais na avaliação das eleições e da legitimidade dos seus
resultados”.401 Em decorrência dessas divergências, a postura internacional dividiu-se em
duas frentes: de um lado, a maioria dos Estados africanos, que acobertaram o Zimbábue,
minando todo o pressuposto da nova filosofia da UA e da África do Sul, a Nepad (Nova
398 Döpcke, op. cit., p. 373-375. 399 ICG report. All bark and no bite? The international response to Zimbabwe’s crisis. International Crisis Group, Africa Report, n. 40, Harare/Brussels: 25 jan 2002. 400 Da Silva, op. cit. p. 285. 401 Döpcke, op. cit., p. 379.
200
Parceria para o Desenvolvimento, cujo pilar era a promoção da boa governança); de outro,
a União Européia e os Estados Unidos, que tomaram algumas atitudes concretas visando
punir o governo de Mugabe.
Ainda assim, dentre o segundo grupo, as ações não se equipararam em rapidez e
firmeza. A União Européia, por exemplo, demorou a tomar um posicionamento mais rígido.
Suas primeiras manifestações seguiram as eleições parlamentares de 2000, enfatizando a
violência que as havia precedido, sem, contudo, adotar medidas punitivas. Essas só vieram
após as falidas tentativas de diálogo político e da expulsão do Zimbábue do chefe da
Missão Observadora da UE nas eleições presidenciais. Declarando que o Zimbábue não
havia realizado esforços políticos suficientes para pôr fim à violência, a UE retirou os
observadores eleitorais e decretou as denominadas smart sanctions, que suspendiam a
ajuda financeira a determinados projetos de desenvolvimento, a assistência orçamentária e
ainda baniram a venda de armas e outros equipamentos de repressão interna. Seu cerne,
contudo, visava punir funcionários do primeiro escalão do Estado e, nesse sentido, a
principal medida da UE foi o “congelamento de depósitos bancários e de outras fontes de
renda, nos países da UE, de vinte zimbabueanos que apareceram numa lista encabeçada
por Mugabe”.402 A Suíça seguiu o exemplo. Além disso, foram decretadas restrições de
viagens para os países da UE, depois seguidas pelos Estados Unidos, Suíça e Nova Zelândia
para essas mesmas pessoas.
Na prática, dentro das possibilidades de sanções previstas pelo Tratado de
Cotonou403, a opção adotada foi bem leve (longe da suspensão do país, por exemplo) e
mais simbólica do que prática, dada inclusive a dificuldade real de prejudicar as pessoas
listadas (que supostamente já teriam se prevenido com antecedência diante de possíveis
retaliações). Um dos argumentos para esta abordagem era a de que sanções econômicas
rígidas teriam mais conseqüências negativas na população do que no regime
propriamente. De outro lado, contudo, isso reflete as diferenças existentes entre os próprios
membros da UE: enquanto a Grã Bretanha pressionou por uma postura mais firme (em parte
por se sentir responsável pelos fazendeiros brancos), a França recomendava cautela (assim
como a Bélgica, ambos interessados na estabilidade do governo Kabila no Congo). Outros
membros da UE também acreditavam que a retirada dos observadores somente
prejudicaria ainda mais a tentativa de democratização do país.404 Bilateralmente, a Grã
Bretanha engajou-se de maneira mais firme na condenação a Mugabe, mas não a ponto
de não reconhecer o resultado final das eleições. Postura mais radical foi a da Dinamarca,
402 Ibid. 403 O acordo de Cotonou faz parte regula a ajuda para o desenvolvimento fornecida pela União Européia a determinados países da Ásia, África e Pacífico. 404 Ibid.
201
que fechou sua embaixada e interrompeu a ajuda para o desenvolvimento direcionada ao
país. Holanda e Finlândia também assumiram postura mais rígida contra o governo de
Mugabe. 405
Ao estilo europeu, antes das eleições presidenciais, os Estados Unidos assumiram um
tom muito mais grave do que suas ações. Em dezembro de 2001, o Congresso e o
presidente Bush assinaram o Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZDERA).
Diferente de uma sanção, o ato representava mais uma abordagem que incluía incentivos
para eleições justas e livres, um pacote de US$ 26 milhões para a reforma agrária e
desenvolvimento econômico. Seu aspecto mais “rígido” traduzia-se no incentivo ao
presidente Bush de exercer sua autoridade para impor sanções direcionadas contra oficiais
do governo do Zimbábue.406 Mais do que um ato de reprimenda, mais se aproximava de um
último estímulo a reformas. De um lado, abria a possibilidade de uso de instrumentos de
sanções, mas não impunha sua utilização. Na prática, esse instrumental ficou subutilizado
pela presidência norte-americana. Em fevereiro de 2002, duas semanas antes das eleições
presidenciais, tal como a UE, os Estados Unidos impuseram sanções direcionadas a Mugabe
e sua cúpula, por meio do congelamento de bens no exterior e proibindo o ingresso dessas
pessoas em território norte-americano. Além disso, proibiram a venda de equipamentos de
defesa ao país. No mais, enfatizaram sua posição mediante declarações que acusavam
Mugabe de ter vencido uma eleição de maneira ilegítima.407
A Commonwealth, grupo do qual o Zimbábue faz parte, também se dividiu
internamente diante do caso. Por incorporar entre seus membros países ocidentais e
africanos, a divisão acirrou-se entre aqueles que pressionavam pela expulsão do Zimbábue
da organização (Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) e aqueles que
mantiveram uma postura em defesa do Zimbábue (a maioria, se não totalidade dos países
africanos membros). Após várias tentativas de se chegar a uma postura comum, diante de
relatório da Commonwealth que declarava a ilegitimidade das eleições, optou-se pela
expulsão temporária do Zimbábue pelo período de um ano, com o consentimento da
Nigéria e da África do Sul.408 Foi a primeira expulsão do gênero na Commonwealth.
Na prática, os resultados das pressões internacionais demonstraram-se limitados.
Apesar da ênfase nos discursos, o ato político mais forte dos mencionados acima foi a
expulsão do Zimbábue da Commonwealth, órgão cuja utilidade no cenário internacional foi
questionada com ironia pelo próprio Mugabe. A grande maioria dos atores ocidentais (e
neste caso, mesmo os africanos) não utilizou todo o potencial que possuía para realmente
405 Da Costa, op. cit., p. 299-300. 406 ICG Report. All bark and no bite? Op. cit., p. 11-12. 407 Da Costa, op. cit., p. 301. 408 Döpcke, op. cit., p. 385.
202
alterar o destino político do país rumo à democratização. Isso facilitou a posição de
Mugabe, que desdenhou a postura ocidental, enfrentou-a, acusou-a de toda a displicência
prévia com a democracia em outras partes do mundo e, em algum momento, conseguiu
agaranhar algum apoio no meio desse debate.
Ironicamente, o caso do Zimbábue leva ao questionamento sobre em que medida
houve ingerência internacional. Evidentemente, houve uma ação internacional que por
suposto visava “melhorar” o processo de democratização no país. Essas ações foram
transparentes e debatidas bi e multilateralmente. Os resultados, no entanto, foram pouco
perceptíveis: não obstante a condenação do processo eleitoral, Mugabe continuou sendo
reconhecido como presidente e não houve nenhuma ação no sentido de tentar removê-lo
do poder e realizar novas eleições. Houve, desta forma, uma tentativa de ingerência por
meio de coerção, que na prática, não trouxe alterações significativas dentro do objetivo
que as induziram. Talvez o resultado mais marcante da ação internacional tenha sido o
agravamento da situação econômica deste país, dado o corte de ajuda não só por alguns
países, mas, principalmente, pelas IFIs. Mugabe, no entanto, continua lá.
QUÊNIA (1992-2002)
De 1963, quando da independência, até 2002, o Quênia teve apenas dois
presidentes, governantes pelo mesmo partido (o KANU – Kenya African National Union):
Jomo Kenyatta, até 1978 e, após seu falecimento, neste ano, Daniel Arap Moi. Muito
embora o grau de centralização do poder tenha sido alto desde a independência, os
episódios de violência no país foram reduzidos, se comparados aos demais casos africanos.
Isto porque, apesar do sistema unipartidário, a liberdade de expressão não chegou a ser
suprimida (contanto que os políticos não saíssem do partido e não criticassem o presidente).
Ainda assim, não faltaram acusações de assassinatos políticos à época de Kenyatta.409
Kenyatta pertencia à etnia dos Kikuyu e durante sua estadia no poder houve um
claro favorecimento deste grupo, tanto em termos de benefícios políticos, quanto
econômicos. Alguns autores chegaram mesmo a referir-se à sua gestão como englobando
um processo de “kikuyuisation”. Quando da ascensão de Moi, no entanto, houve uma
reversão deste processo, decorrentes da origem alternativa do presidente e de seu
favorecimento à “periferia” do país. Moi conduziu, num primeiro momento, uma política
populista, que apelava para os pobres, ultrapassando a antiga relação de patronagem
com os Kikuyus, que responderam, em 1982, com uma tentativa de golpe. A frustração
desta resultou na resposta mais rígida de Moi, que procedeu à exclusão sistemática da etnia
409 STEWART, Frances & O’SULLIVAN, Meghan. Democracy, conflict and development. Three cases. QEH Working Paper Series. Working paper, n. 15. Queen Elisabeth House, University of Oxfor, jun, 1998.
203
das posições de influência do governo. A partir de então, o regime queniano tornar-se-ia
cada vez mais repressivo.410
Em 1982, uma emenda constitucional aprova a formalização do regime
unipartidário. Dentro do KANU, passam a ser promovidos os interesses das etnias Kalenjin e
Luyha e a filiação partidária torna-se um pré-requisito para o progresso no serviço civil, bem
como para o acesso a empréstimos, entre outros benefícios. Detenções sem julgamento e
repressão da oposição tornam-se cada vez mais freqüentes, o que faz com que a própria
imprensa passe a se autocensurar. Por fim, o sistema de voto sofre alterações, abolindo a
cédula secreta, portanto aumentando a intimidação popular.411
As pressões internacionais para a liberalização no Quênia evidenciaram-se a partir
de 1989-1990. Uma das primeiras manifestações veio dos Estados Unidos, primeiramente pela
crítica aberta do Embaixador Smith Hempstone ao regime de Moi e seus apelos por reformas
democráticas. Em seguida, ainda em 1991, de acordo com o Foreign Assistance Act de 1961
e outras legislações concernentes à democracia e direitos humanos, os EUA aprovaram no
Congresso o congelamento de US$ 25 milhões em assistência militar ao Quênia.412
Paralelamente, no encontro do Consultative Group for Kenya, em Paris, os demais doadores,
estabeleceram condicionalidades políticas explícitas para continuar provendo ajuda ao
país. O FMI e o Banco Mundial também suspenderam a ajuda por dois anos. Essas pressões
tiveram resultado imediato, posto que em uma semana o regime viu-se forçado a repelir o
banimento aos partidos de oposição, fato que na prática se concretizou após dois meses.
Além disso, o grupo exigiu que fossem realizadas eleições multipartidárias no prazo de um
ano.413
De fato, o controle da mídia reduzido e as eleições multipartidárias ocorreram. Três
outros pequenos partidos concorreram com o KANU. Durante as campanhas presidenciais,
Moi utilizou as forças de segurança para vigiar e dividir a oposição. Além disso, o governo
esteve por trás dos choques étnicos que ocorreram na Rift Valley, causando 1500 mortes e
pelo menos 30 mil deslocados internos. No episódio, casas e plantações foram queimadas,
propriedades saqueadas e criações roubadas. Os principais responsáveis foram
identificados como os “guerreiros Kalenjin”, basicamente jovens do sexo masculino. Moi
referiu-se à situação como sendo provocada pelo multipartidarismo, que estaria polarizando
as posições políticas e levando a atos extremistas. O envolvimento governamental, no
410 Ibid. 411 Ibid. 412 Adar, op. cit., p. 4. 413 Diamond (1995), op. cit.
204
entanto, foi relatado por vários estudos aprofundados sobre o caso.414 O episódio contribuiu
para a intimidação política. A principal causa da vitória de Moi nas eleições, no entanto foi
diagnosticada como derivada da fragmentação da oposição. De fato, Moi reelegeu-se
com apenas 36,5% dos votos. Em 1992, consumada as eleições, a ajuda externa foi
retomada por parte dos principais doadores.
Não obstante a realização de eleições multipartidárias e a aparente eficácia das
pressões internacionais, o Quênia não entrou num período propriamente democrático a
partir de 1992. Na prática, as violações de direitos humanos continuaram a acontecer, tanto
por parte da polícia, quanto pelas forças armadas do governo. Da mesma forma,
perpetuaram-se as detenções arbitrárias e a prática de interferência no judiciário pelo
executivo. A violência derivada dos conflitos étnicos também continuou. Novamente, várias
acusações de envolvimento recaíram sobre o governo. Os indícios eram de que as causas
dos choques eram oriundas da politização da situação socioeconômica na região,
conduzida pelos políticos locais. Os relatórios apontaram, nesse sentido, o envolvimento nos
confrontos tanto de membros do KANU quanto da polícia.415
Um dos principais objetivos do regime, ao instigar os confrontos étnicos era
demonstrar que uma política multipartidária não era a mais apropriada para um país multi-
étnico como o Quênia. Na prática, Moi não queria abrir mão do poder, entre outras coisas,
em razão do passado corrupto do seu regime, que poderia, num ambiente mais
democrático, ser revelado e punido.416
Além dos confrontos étnicos, continuaram outras formas de violação de DHs. Não
obstante as eleições multipartidárias, durante boa parte da década de 1990, persistiram
prisões arbitrárias, tortura de civis (principalmente de pessoas pertencentes aos movimentos
democráticos e a partidos da oposição), e ainda detenções de membros do Parlamento,
acusados de conduzir “reuniões ilegais”, mesmo quando estas eram consentidas pelo
governo. Por fim, em acréscimo às continuidades, um novo fator entrou em cena após as
eleições de 1992: a repressão informal por parte do Estado. Esta envolvia o uso terceirizado
de agências e grupos, incumbidos de atacar grupos pró-democráticos e pró-direitos
humanos. Embora não fosse um elemento propriamente novo, foi particularmente utilizado
414 Stewart & O’Sullivan, op. cit., p. 12; REYNTJENS, Filip; PAUWELS, Anne. Des mesurer préventives – Etude de cas: Namibie, Angola, Rwanda, Kenya. Conflits en Afrique. Analyse des crises et piste pour une prévention. Col. Les publications du GRIP. Bruxelles: Editions Complexe, 1997. 415 ADAR, Korwa G. & MUNYAE, Isaac M. Human Rights Abuse in Kenya under Daniel Arap Moi 1978-2001. African Studies Quarterly 5(1): 1, 2001 [online] URL. Disponível em: <http://web.africa.ufl.edu/asq/v5/v5i1a1.htm>. Acesso em: 10 jul 2005 416 Ibid.
205
na nova era multipartidária do país. Em especial, nas eleições de 1992 e de 1997, exércitos
privados foram utilizados como instrumento para reprimir a oposição.417
As eleições de 1997, portanto, não foram nem mais livres, nem mais justas do que as
de 1992. De fato, durante o período de campanha eleitoral, os protestos e demonstrações
em favor de uma reforma constitucional foram atendidos pela resposta violenta policial.
Estas haviam sido prometidas por Moi desde 1992, mas não foram cumpridas. Ao lado dos
protestos, outro problema foi o oriundo da remissão das cédulas de identidade, implantada
desde 1995. Sem a identidade, o cidadão não poderia ter acesso ao cartão de registro
eleitoral e até junho de 1996, numa população de 13,5 milhões de população eleitoral,
apenas 4,6 haviam conseguido este último. O processo de liberação revelou-se
extremamente lento, havendo relatos de demoras de mais de seis meses, acompanhadas
de pedidos de propina pelos oficiais responsáveis, além do registro seletivo nas áreas onde o
KANU tinha forte apoio.418 Durante a realização das eleições, ocorreram episódios em que,
mesmo tendo o cartão de registro, alguns eleitores foram impossibilitados de votar, sendo
advertidos de que seus nomes não constavam na lista. A Comissão Eleitoral do governo foi
acusada de cumplicidade na seletividade dos eleitores. Após as eleições, vencidas, mais
uma vez e de maneira nada surpreendente, por Moi, a violação de DHs continuou, com
destaque para o papel da polícia na utilização da violência na repressão da oposição de
outras manifestações de liberdade política. O judiciário continuou sendo subjugado ao
executivo. Em 1999, Moi chegou a declarar que a corte não deveria interferir nos temas
relacionados a terra, universidades ou partidos políticos.419 Este seria, no entanto, seu último
mandato.
Até o período das novas eleições, a comunidade internacional absteve-se de
maiores formas de pressão. Em 1994, a maior parte da ajuda externa já havia sido
retomada, passando a depender muito mais do sucesso e da implementação das reformas
econômicas propostas pelas IFIs do que pela melhoria das condições políticas do país.
Embora no discurso continuassem as manifestações pró-reformas políticas e respeito aos
DHs, em 1996 um sinal de US$ 730 milhões foi liberado pelos doadores bilaterais. Um mês
depois, em abril, foi a vez do FMI, que concordou em conceder um empréstimo de US$ 316
milhões, que havia sido suspenso e estava bloqueado desde 1994. A liberação veio como
conseqüência da melhoria na implantação das reformas econômicas, a incluir o combate à
corrupção, mas carregava, também, implicitamente, uma complacência com a
417 Ibid. 418 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report, 1997. Kenya. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em: 10 jul 2005 419 Adar & Munyae, op. cit.
206
perpetuação das violações de DHs (ou sua inferioridade diante das reformas
econômicas).420
Os Estados Unidos, que haviam sido os primeiros a se manifestarem contra a violação
dos DHs em 1993, adotaram uma postura muito mais branda após a remoção do
Embaixador Smith Hempstone de Nairobi. Em 1997, no entanto, retomou-se uma postura
mais afirmativa. Em discurso, o novo embaixador reconheceu que o ambiente nacional não
era propício para a realização de eleições livres e justas e que o papel do governo vinha
sendo o de limitar as escolhas políticas da população. Em agosto, um grupo de senadores
enviou carta a Moi, clamando pela revisão constitucional e pelo fim da violência.421
No mesmo ano, Japão, Estados Unidos e outras vinte embaixadas européias
lançaram um declaração condenando os ataques à oposição e exortando o governo a
“allow political leaders, candidates and all citizens freedom of speech and assemby, which
are essential to free and fair election”. Várias declarações se seguiram a esta. Um encontro
de grupo consultivo foi marcado com todos os doadores no Quênia para julho, sendo
postergado a pedido de Moi, que, em outubro, sem apresentar nova data de remarcação,
atacou os “foreigners” de querer dizer ao Quênia o que deveria ou não ser feito. Também
pediu o fim das pressões, afirmando que “they should understand that the country and its
people have been pushed far enough”. 422
Em julho, o FMI suspendeu sua Enhanced Structural Adjustment Facility (um
empréstimo de US$ 220 milhões), em razão da postura insuficiente do governo em combater
a corrupção. A isso se seguiu a ação do Banco Mundial, que suspendeu o crédito de ajuste
estrutural no valor de US$ 71,6 milhões, alegando pendências na implementação das
reformas. Embora calcados em razões econômicas, esses cortes contribuíram para
pressionar o governo.423
A União Européia também adotou mecanismos de pressão após os ataques à
oposição em 1997. Primeiramente, declarou que se as eleições não fossem conduzidas de
maneira justa, a ajuda seria cortada. Nesse sentido, adotou resoluções que condenavam a
violação de DHs e a brutalidade policial no país, exortando o fim dos mesmos. Em
acréscimo, requisitou o monitoramento da situação de DHs e das eleições no Quênia.424
Após as eleições, mais uma vez a atuação internacional vai caracterizar-se pelo
recuo na questão dos DHs e na maior pressão frente às reformas econômicas e o combate
420 Human Rights Watch, op. cit. 421 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report, 1998. Kenya. Disponível em: <http://www.hrw.org>. Acesso em: 10 jul 2005 422 Ibid. 423 Ibid. 424 Ibid.
207
à corrupção (este, no entanto, um fator com implicações nos DHs, dada a sua incidência
no judiciário). Em seu último mandato, Moi tenta de várias formas, instituir rearranjos de
forma a poder postergar seu mandato, mas não sucede. Ao indicar um candidato
descendente de Kenyatta na candidatura do KANU, Moi, desta vez, não consegue fazer
face à oposição. Em 2002, deixa o cargo após 25 anos de mandato.
Como ingerência, no caso do Quênia evidenciou-se uma forma explícita de
coerção, formalizada pela postura internacional e implementada de fato tanto bi quanto
multilateralmente. Os resultados parecem mistos. De um lado, nas eleições de 1992, atingiu-
se o objetivo proposto, qual a realização de eleições multipartidárias. Estas, no entanto, nem
foram livres, muito menos justas e transparentes. Tampouco resultaram na redução da
repressão política nos anos seguintes. Nas proximidades de 1997, quando das segundas
eleições multipartidárias, houve novamente pressões internacionais, mas nenhuma
alteração com relação ao processo anterior (pelo menos antes houve a inovação do
multipartidarismo). Apesar disso, as pressões se reacenderam, e, coincidindo com processos
internos que refletiram as limitações de Moi em sua permanência no poder, resultaram na
mudança de governos em 2002. Em última instância, a medida em que a saída de Moi do
poder está relacionada às pressões externas não é tão clara. Desta forma, considera-se que
o sucesso da ingerência, em termos de objetivos propostos (oficialmente) e alcançados, foi
parcial.
5.7 INGERÊNCIA INTERNACIONAL NA ÁFRICA NO PÓS-GUERRA FRIA
Algumas considerações podem ser apresentadas com relação ao fim da Guerra Fria
e suas conseqüências nas manifestações de ingerência na África Subsaariana. No que diz
respeito aos atores, observa-se o virtual desaparecimento da URSS/Rússia e uma
concentração nos atores ocidentais (mormente Estados Unidos e países europeus) e
instituições internacionais (UE, ONU, Commonwealth). À diferença da Guerra Fria, a
ingerência mostra-se mais fragmentada, refletindo, em parte, a relutância dos países em
arcar com os custos das pressões de maneira unilateral. Ao mesmo tempo, é reforçado o
papel reduzido que o continente passou a desempenhar no mundo a partir da década de
1990.
Com relação aos meios utilizados para ingerir, também houve alterações
significativas, observando-se uma concentração nas condicionalidades (políticas, mas
também, ainda, econômicas) e nas sanções (concentradas na suspensão de ajuda
externa) direcionadas ao país receptor. Em parte isso parece refletir a dessecuritização da
agenda para o continente, fazendo com que os temas que levam à ingerência não sejam
208
de fato prioritários nas agendas das potências. O marco dessa mudança de perfil seriam as
intervenções na Somália e na Ruanda.
No que se refere aos resultados, as ingerências direcionadas à África no pós-Guerra
Fria caracterizam-se, se comparadas ao momento anterior, por seu reduzido grau de
alteração política no destino do país receptor. De fato, dada a perda da importância no
continente, e sua progressiva marginalização, o envolvimento ocidental tem se dado com
menor ênfase (pelo menos por parte das grandes potências). Nos casos analisados, apenas
no Quênia os resultados observados manifestaram uma concretização da ingerência
segundo o objetivo proposto. Ainda assim, se este caso representa, a primeira vista um
sucesso, (tanto no curto prazo, com a implementação de eleições multipartidárias, quanto
no longo prazo, com a saída de Moi e a entrega do poder à oposição), seria necessária
uma análise mais profunda para avaliar em que medida os resultados foram oriundos da
ingerência em si ou de outros fatores conjugados. Além disso há que se considerar a
hipótese de que, se a pressão foi mais forte do que nos outros casos, os estímulos da ação
ocidental responderam mais ao andamento da implementação das reformas econômicas
no país do que meramente aos casos de violação dos direitos humanos.
Por fim, a análise dos tipos de ingerência surpreende, uma vez que, dada a não
alteração das políticas domésticas na maior parte dos casos, observa-se uma subdivisão nas
dimensões do conceito: de um lado, a concretização da ação, de outro a concretização
do resultado. Sendo assim, pela ótica da ação, em sua maioria, as manifestações de
ingerência caracterizaram-se por seu aspecto de coerção, implícito na própria
manifestação pelos meios utilizados (sanções, condicionalidades). De outro, pela ótica dos
resultados, haveria mais não-ingerências do que ingerências, dada a permanência da
situação política após as ações. Na tabela, a análise do tipo é feita a partir das ações
levadas a cabo.
5.1 Ingerência internacional na África Subsaariana no pós-Guerra Fria: casos, tipos e meios
CASO ATOR INGERENTE MEIO UTILIZADO RESULTADO TIPO DE INGERÊNCIA
Somália ONU
1) Embargo sobre armas
2) UNOSOM II, a partir da ampliação do mandato a incluir o desarmamento das facções e, depois, com a caça aos responsáveis pelos ataques às suas tropas
1) Não-restabelecimento da ordem nem da estabilidade política. O Estado (falido) continua em crise ao longo da década que se segue.
Contrato: quando do pedido local para ajudar no processo de reconciliação interno;
Coerção: quando do envio de tropas com mandato expandido, sem o consenso local.
Estados Unidos 1) Envio dos Rangers para capturar os
209
responsáveis pelos ataques
Ruanda
ONU
1) UNAMIR e Operação Turquesa, com mandato sob o Cap. VII
2) Estabelecimento do Tribunal Internacional para julgar genocidas
1) Genocídio, que não foi prevenido
2) Escoamento de refugiados para o Zaire, com reflexos na situação de segurança regional
Contrato: (1) quando da ajuda francesa ao regime de Habyarimana; (2) pedido por parte dos representantes locais de envio de missão
Nao-ação: (1) da França diante da política genocida ruandesa; (2) quando do recuo do mandado da ONU após o genocídio
Coerção: quando da extensão do mandato da ONU sem o consenso da Ruanda
França
1) Apoio ao governos de Habyarimana (silêncio diante da política genocida)
Nigéria
Potências Ocidentais
(bilateralmente)
1) Ameaças de expulsão e suspensão da Commonwealth, sanções, suspensão de venda de equipamentos militares, sanções diplomáticas
1) O fim do regime dá-se com a morte de Abacha
2) Durante o seu governo, não houve alterações significativas de comportamento (apoio de outros países nas OIs)
Coerção: tanto bi quanto multilateral
OIs (EU, Commonwealth)
Zimbábue
Potências Ocidentais
(bilateralmente)
1) Monitoramento das eleições, suspensão da Commonwealth, smart sanctions, declarações condenatórias
2) Reeleição de Mugabe e seu reconhecimento internacional
3) Agravamento da situação econômica do país
Coerção: tanto bi quanto multilateral
OIs (EU, Commonwealth)
Quênia
Potências Ocidentais
(bilateralmente) 1) Apelos, declarações condenatórias, suspensão de ajuda
1) Instituição de eleições multipartidárias
2) Vitória de Moi nas 2 eleições que se seguiram e perpetuação das violações de DHs
Coerção: tanto bi quanto multilateral
OIs (EU, FMI, Banco Mundial)
As justificativas, bem como as motivações das potências para ingerir também
sofreram alterações, dada a mudança no contexto político internacional. Se as motivações,
de um lado, continuam pautadas, na prática, por interesses domésticos das próprias
210
potências, de outro se observa que os interesses em geral na ingerência no continente
diminuíram. Perdida a significância estratégica e reduzida a significância econômica da
África Subsaariana, o interesse na promoção da democracia mostrou-se seletivo em sua
intensidade e sua eficácia, dependendo, assim, da associação a outros fatores, inclusive as
dinâmicas locais e o grau de dependência do país da ajuda externa. Além disso, a partir
dos instrumentos utilizados pelo Ocidente, há que destacar a ênfase nas declarações e
ameaças e os limites na disposição em utilizar de fato todos os meios possíveis para alterar a
situação política nos países. Exemplo disso foi o não-embargo ao petróleo na Nigéria.
Estas considerações têm gerado várias críticas na literatura no que diz respeito à
eficiência das ingerências na promoção da agenda da boa governança. O ponto principal
apontado é o não ataque às causas profundas das situações de crise. Como observa
Neumayer,
It is doubtful at least whether good governance can be externally imposed via conditions. Bad governance is usually deeply entrenched in a country’s political system. (…) Conditionality often does not and cannot tackle the root causes of bad governance, but merely requires the recipient country to change its sending pattern.425
Ainda assim, mesmo que não tenham a capacidade de resolver os problemas políticos
africanos em suas bases, as pressões, se exercidas em sua plenitude, podem contribuir para
a remoção de governos corruptos e violadores de direitos humanos. O maior problema,
detectado pelas análises, reside em sua aplicação parcial e seletiva.
CONCLUSÃO
Não obstante as mudanças observadas após o fim da Guerra Fria, no que diz
respeito às ingerências perpetradas na África, houve mudanças e continuidades. Mudaram
os formatos adquiridos, cessando a ocorrência de imposições, e existindo muito mais uma
concentração nas coerções. Permaneceram os estímulos calcados nos interesses dos atores
ingerentes, que diminuíram no continente a partir da década de 1990. Nesse sentido,
diminuiu também o grau de eficácia das ingerências e seu impacto no destino da política
dos países receptores.
De um lado, isso reflete a falta de vontade política internacional, que resulta no
abandono da África a si mesma. De outro, há que se observar as limitações das próprias
ações ocidentais diante das dinâmicas internas. Tanto no caso da Nigéria quanto do
Zimbábue, a utilização dos governantes do discurso antiocidente surtiu efeitos na sua
perpetuação no poder.
425 NEUMAYER, E. Is good governance rewarded? A cross-national analysis of debt forgiveness. World Development, v. 30, n. 6, jun. 2002
211
Ao mesmo tempo em que há este “recuo”, em termos de intensidade e eficácia da
ingerência, quando esta ocorre, vem carregada de um discurso legitimador “universal”. De
fato, uma das grandes inovações das novas ingerências reside no aumento do grau de
transparência e na legitimidade que supostamente as acompanha. Assim, muito embora
haja críticas no que diz respeito à sua condução, não há dúvidas de que existe
internamente aos países africanos, um desejo pela democratização e pelo respeito aos
direitos humanos, liberdade política, como também por reformas econômicas que
beneficiem a população de maneira mais eqüitativa (e que não são necessariamente vistas
como sendo aquelas propostas pelas IFIs). Ao lado do desejo africano por melhorias,
destaca-se a preocupação ocidental mais versada, em alguns casos, para a esfera
econômica do que a política na condução das ingerências. Esta ambigüidade reflete-se
tanto na tentativa de imposição de planos conjuntos (reformas políticas e econômicas), que
muitas vezes têm efeitos contrários um no outro e, também, na não pressão de fato para
reformas políticas, se estas trazem implicações não-desejadas para a esfera econômica.
212
CONCLUSÃO
O objetivo principal da presente dissertação centrou-se na construção de uma
tipologia das ingerências internacionais perpetradas na África Subsaariana desde as
independências. Nesse sentido, o trabalho buscou explorar, primeiramente, a discussão
conceitual sobre o que viria a ser “ingerência”. Em seguida, buscou mapear as ocorrências
do fenômeno a partir da definição dada. Esses dois aspectos vão ser retomados na
conclusão, mas na ordem inversa. Primeiramente serão levantadas algumas considerações
sobre o progresso das ingerências, a partir dos autores, os tipos e os meios empregados, as
justificativas e as motivações. Em seguida, será retomada a discussão conceitual.
Embora a ingerência tenha sido analisada em quatro capítulos distintos, o marco que
distingue as principais mudanças nas suas manifestações na África foi o fim da Guerra Fria. A
francofonia foi trabalhada em separado em razão do destaque que a África possuiu desde
a colonização na política externa francesa. Constituindo em si um fenômeno especial, as
relações franco-africanas englobam uma ampla gama de manifestações de ingerência,
que perpassam as esferas militar, política e econômica e que se estendem até os dias
atuais, embora em menor grau. No caso francês, as bases que viabilizaram as várias formas
de ingerência foram implementadas ainda no período da colonização, de modo que o
aspecto contratual que prevaleceu foi oriundo do papel da elite durante a descolonização.
Neste momento, fortaleceu-se o vínculo entre os novos países independentes e a ex-
metrópole graças às relações pessoais desenvolvidas entre os governantes de cada parte.
Destarte, o aspecto contratual da ingerência dá-se ao assumir-se o Estado africano como
sendo aquele representado pelo governo em gestão. Algumas exceções marcam a ação
francesa na contramão do regime local (como no caso da República da África Central),
mas o que prevalece, no geral, mais se aproxima de uma relação de cumplicidade do que
de confronto. Os resultados se traduzem na construção de uma forte condição de
dependência da África francófona com relação à França, tanto em termos econômicos,
quanto da estabilidade e durabilidade dos regimes.
O período englobado na Guerra Fria tem particular relevância nesta dissertação, não
apenas pela sua abrangência em termos de tempo, mas pela significância das ingerências
realizadas neste período. De fato, não obstante a África tenha sido um lugar de importância
secundária na política das superpotências, houve a presença e atuação de outros atores
que se revelaram, em alguns casos, fundamentais no desenho da constituição dos novos
Estados africanos. Suas atuações, por sua vez, estiveram ligadas à conjuntura bipolar e à
dinâmica do confronto leste-oeste (Cuba e a própria França, em alguma medida). Assim,
ao lado de várias formas de ingerência contratual, observam-se alguns casos de imposição,
213
refletidos no papel dos agentes externos na definição de governos que viriam a se
perpetuar por todo o restante da Guerra Fria. Prioritariamente, as ingerências manifestavam-
se por meio de ajuda militar e financeira, de forma que esta pudesse ser revertida em gastos
militares e, igualmente importante, por meio de treinamento militar e capacitação. A
expedição de tropas era limitada, cabendo mais a Cuba (além da França), mas não
compondo no geral a agenda das superpotências.
A ingerência econômica foi apresentada em capítulo à parte devido a algumas
peculiaridades que a caracterizam. Primeiramente, ela perpassa a Guerra Fria, estendendo-
se até o momento atual. Em segundo lugar, tanto a ajuda externa, como, principalmente,
os planos de ajuste estrutural configuram-se como instrumentos de ingerência
prevalentemente ocidentais. Isso porque, não obstante as ajudas soviética e cubana,
importantes ao longo da Guerra Fria, estas se deram basicamente por meio de treinamento
militar e envio de equipamentos e armas. Recursos financeiros propriamente ditos advinham
das potências ocidentais (Estados Unidos e Europa), tanto bi quanto multilateralmente. Em
terceiro lugar, apesar da instrumentalização política da ajuda externa durante a Guerra Fria,
a ingerência econômica, em sua acepção mais ampla, enquadra-se num contexto que
ultrapassa a dimensão política e de segurança, fazendo parte de uma tentativa de
consolidação de uma ordem econômica internacional específica, que vinha percorrendo
um caminho próprio em paralelo. Em grande medida, esse caminho é traçado dentro do
âmbito das instituições financeiras internacionais, e sofre algumas alterações com o final da
Guerra Fria, principalmente no que se refere à abordagem das crises locais. O que não
muda, de outro lado, é o caráter coercitivo do fenômeno. De fato, muito embora
juridicamente essa forma de ingerência se realize trâmite um acordo formal, o contexto em
que esses acordos são firmados refletem a defasagem de poder existente entre as partes,
tanto nos termos do contrato quanto nos ditames da negociação (na prática, não há
propriamente uma negociação, sendo os termos fechados para aceitação ou não).
No pós-Guerra Fria, a ingerência econômica vai permanecer vigente, mas, em razão
do seu reconhecido fracasso no momento anterior, alguns aspectos vão ser reformulados,
sendo o seu escopo ampliado. De fato, além de a ingerência visar reformular as economias
dos Estados receptores, elas vão acoplar pré-requisitos políticos, relativos à governança dos
países em questão (condicionalidades políticas). Nesse momento, consolida-se a ingerência
proveniente das IFIs e das potências ocidentais, inseridas, desta vez, na cruzada
democrática que marca o pós-Guerra Fria. Ao mesmo tempo em que as ingerências
tornam-se processos mais transparentes, pois se assume a legitimidade das mesmas, seus
resultados têm se caracterizado pela pouca eficácia. Em parte, isso se deve a um dos
fatores de continuidade desde a Guerra Fria, ou seja, a ação em razão dos interesses dos
atores ingerentes e não das partes receptoras.
214
Em termos de resultados, portanto, a Guerra Fria se revelou o espaço para atuações
mais incisivas, uma vez que os interesses políticos em jogo nas políticas das superpotências e
das demais potências envolvidas eram maiores do que no pós-Guerra Fria. Ao mesmo
tempo, as preocupações com as justificativas e legitimidade das ações não eram fatores de
grande relevância, posto que havia claramente duas superpotências extremamente
superiores a todas as demais em conjunto. Já a década de 1990 inicia-se num contexto
diferenciado em termos de distribuição de poder mundial. Com o desfacelamento da União
Soviética, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos assumem o posto de única maior
potência mundial, seu grau de liberdade de atuação no resto do mundo está vinculado ao
consenso de outras potências que, mesmo que não o equiparem em todos os quesitos
utilizados como medidores de poder, em conjunto podem afetar seu campo de ação. No
caso da África, contudo, não parece haver maiores divergências entre as potências no pós-
Guerra Fria. Em termos econômicos, além de não possuir expressividade significativa, a
maior parte dos países ainda possui vínculos estreitos com as ex-metrópoles (agora atuando
em conjunto sob a UE), contra a qual reclamam continuamente a necessidade de
renegociações dos termos que regem as suas relações. Mesmo as maiores economias do
continente (África do Sul e Nigéria) não chegam a constituir uma ameaça à economia dos
Estados Unidos ou mesmo oferecem um mercado consumidor promissor para suas
exportações. Sendo assim, não há pólos de conflito entre as potências pela fatia do
mercado africano ou por recursos exclusivos que não possam ser encontrados em outras
áreas. Eventualmente, a crise no Oriente Médio possa resultar na reavaliação da
significância do continente enquanto fornecedor de petróleo, mas na prática qualquer
ação nesse sentido tem sido incipiente.
Em termos políticos e de segurança, se durante a Guerra Fria o lugar da África já era
secundário na política das potências, a tendência observada foi um declínio ainda maior
com o seu fim. Isso se refletiu no engajamento seletivo e restrito da última década. Nesse
sentido, as intervenções na Somália e na Ruanda marcaram um período de transição, antes
do recuo progressivo diante das questões relativas à instabilidade política dos países
africanos. O que esses casos parecem demonstrar é que, a partir de um dado momento, os
custos de intervir já não compensavam os ganhos, inclusive em razão dos parcos resultados
observados.
Essa constatação na área da segurança caminhou junto com a reformulação da
agenda econômica para o continente. Da mesma forma que as potências se eximiram da
responsabilidade pela crise de segurança do continente, assim o fizeram com a crise
econômica. A agenda da boa governança que nasce a partir de 1990 marca exatamente
a transferência dessa responsabilidade exclusivamente para os países africanos. Entre outros
fatores, isso explica a reduzida ênfase no grau de coerção das novas ingerências.
215
O contexto internacional aparece, portanto, como peça fundamental para explicar o
comportamento das potências em relação ao continente. Uma vez que a África, por si só,
teve a sua expressão reduzida desde a década de 1960, tanto em termos políticos quanto
econômicos, o que passou a medir a sua importância no cenário mundial foi a percepção
das potências e superpotências do continente enquanto instrumento a ser utilizado em suas
políticas umas com as outras. Em suma, enquanto houve um acirramento internacional, a
África passou a ser vista como um dos componentes de poder. A partir do momento em
que se procedeu a uma nova acomodação do status quo, seu valor ficou reduzido,
perdendo espaço para, por exemplo, a reorganização do Leste Europeu, ou para as novas
potências emergentes, ou mesmo aquelas que questionam e buscam confrontar o presente
status quo.
Assim, como foi notado no último capítulo, ao lado da não concretização de algumas
ingerências quanto aos resultados, observa-se, no pós-Guerra Fria, a não-ingerência em
casos onde, pela justificativa e prerrogativa do discurso internacional, esta deveria ocorrer.
Isso leva ao segundo ponto a ser abordado nesta conclusão.
A partir da discussão levada a cabo no primeiro capítulo, utilizou-se o termo
ingerência como a violação da soberania vestfaliana, ou seja, atos oriundos do exterior que
alterem as estruturas domésticas de um dado país ou que resultem no exercício de funções
domésticas por atores externos. Esta definição centra, portanto, nos resultados da ação.
Na prática, observou-se que, principalmente após o fim da Guerra Fria, alterações
significativas nas políticas internas dos Estados africanos em decorrência de ações de
potências externas foram mais raras. Ainda assim, constata-se a existência de ações no
sentido de alcançar essas alterações, mas que não necessariamente se confirmam. Seriam
estas, então, formas de ingerência ou não?
A fim de compreender melhor o fenômeno da ingerência, propõe-se aqui fazer uma
decomposição do termo, de onde resultam três dimensões: (1) a intenção, (2) a ação e (3)
o resultado. A intenção abrange a motivação dos atores e seu desejo, a partir dessas
motivações, de alterar as estruturas domésticas de um outro Estado ou a sua forma de
conduzir uma determinada política (interna e/ou externa). Essa dimensão é fundamental
para caracterizar um ato como ingerência, pois muitas vezes as relações entre Estados
podem resultar em alterações domésticas sem que haja uma intenção. Por exemplo, nas
relações comerciais, medidas internas adotadas por um país podem afetar o seu vizinho de
maneira dramática, levando-o a reestruturar sua política comercial, sem que esta tenha
sido, contudo, a intenção do primeiro. Neste caso, não houve ingerência, mesmo que a
mudança tenha sido decorrente de uma ação externa, pois não houve uma ação
direcionada para esta mudança, não houve intenção. Assim, para a ocorrência da
216
ingerência deve existir uma intenção clara de alteração dos fatores domésticos de outro
Estado.
Identificada a intenção do ator externo, é igualmente importante detectar a
existência de uma ação realizada em função da intenção. Na prática, esta ação também
pode ser negativa, ou seja, uma não-ação intencional pautada por um objetivo específico.
Seriam exemplos de ações: envio de ajuda externa (financeira, militar, entre outras), o
atrelamento de condicionalidades (políticas e/ou econômicas) à ajuda, e a aplicação de
sanções (embargo sobre importações, restrições diplomáticas, entre outros). Exemplo de
não-ação intencional seria o não socorro a Lumumba quando foi capturado, mesmo tendo
ele direito à imunidade parlamentar e proteção pela ONU. A manifestação de uma ação
(ou não-ação intencional) também é fundamental para a detecção de ingerência, pois
reflete a materialização da intenção.
Por fim, o resultado é a dimensão mais complexa da ingerência. Primeiramente,
porque nem sempre se concretiza: em muitos casos, não há alterações expressivas oriundas
das ações, seja porque as ações foram brandas, seja porque há fatores extras que nem
sempre são levados em conta no cálculo dos atores ingerentes, seja porque muitas vezes as
intenções não constituem prioridade na política externa das potências, o que se reflete na
defasagem entre a intenção e a aplicação. Em segundo lugar, muitas vezes os resultados
oriundos da ação não respondem ao objetivo inicial, por vezes até mesmo resultando em
seu oposto. As sanções, nesse sentido, são particularmente criticadas enquanto instrumento
de ingerência, pois freqüentemente ferem a população que não é o alvo da ação. Em
alguns casos, como no Zimbábue, por exemplo, elas acabaram sendo utilizadas como
contra-ataque pelo governo receptor que as manipulou em discursos como instrumentos de
exercício de poder pelas potências. Nesse sentido, ao invés de enfraquecer o alvo, elas
contribuem para o fortalecimento da popularidade do governo em gestão.
Isso reflete um aspecto importante que muitas vezes fica obscurecido pelas definições
de ingerência: o agente receptor não é necessariamente passivo. A própria concretização
das ingerências em seus resultados depende da receptividade local. Isso ficou evidente nos
casos analisados, uma vez que, onde as ingerências atingiram maior êxito, elas contaram
com o apoio, se não do governo, de alguma facção política local. Aqui um adendo deve
ser esclarecido. Trata-se da pergunta “quem é o Estado africano”? Na África, o que se
observa, em muitos casos é que, ao invés de uma Estado que tenta responder às
necessidades da população e que serve de instrumento para a organização do bem estar
social, desenvolveu-se um Estado predador, que serve de base para a usurpação do bem
público em favor de uma pequena elite ou de uma camada militar. Ou seja, a organização
do Estado tende a se concentrar nas mãos de uma pequena camada, quando não de
uma única pessoa. Aqui a relação Estado-governante ocupa importância central, posto
217
que a vontade estatal acaba por confundir-se com a vontade do governante, ou daquele
que se assume como tal e assim é reconhecido internacionalmente. Ao longo da Guerra
Fria, a discordância sobre quem era o representante legítimo dos Estados africanos pautou a
disputa das superpotências e a forma como intervieram (apoiando lados diferentes e, dessa
forma, coagindo na definição de que tipo de Estado iria se consolidar). No pós-Guerra Fria,
a discordância não se centra mais no reconhecimento do representante em si, mas na
transparência do processo que o elege, bem como na qualidade de sua gestão política e
econômica. São as diferentes visões externas que vão pautar o grau de ingerência
direcionado a esses países, o que, por sua vez, tem reflexos diretos na concretização da
ingerência.
Dadas essas considerações, a definição de ingerência pela ótica dos resultados
restringe em demasia a sua manifestação concreta. Uma maneira mais funcional de
analisá-la seria, portanto, da seguinte forma:
Ingerência internacional
Manifestação Concretização
Intenção à Ação à Resultado
A partir desta visão, a não-ação passa a ser qualitativamente diferente da não-
ingerência. Esta última, cuja manifestação é mais intensa após o fim da Guerra Fria, consiste
na não-ação, mas sem uma finalidade específica. Mormente, a não-ingerência decorre da
falta de interesse das potências em se imiscuir no assunto, em vista da percepção de que os
custos não vão compensar os ganhos. Enquanto a não-ação pode ser uma forma de
ingerência, a não-ingerência caracteriza-se pela não-ação em razão da falta de qualquer
intenção específica. Ela também pode ter conseqüências importantes no destino político
dos países que não a recebem, mas, por não se pautar numa intenção que objetive esta
alteração, não se trata de uma ingerência.
A reconceitualização da ingerência não era prevista nos objetivos iniciais da presente
dissertação. Uma vez explanados os casos, no entanto, sentiu-se a necessidade de refinar o
conceito a partir das dimensões apresentadas. Trata-se de uma tentativa de operacionalizar
o conceito e facilitar a sistematização de um tema em sua visão macro. Mais do que
218
concluir, pretende-se aqui abrir o espaço para posterior aprofundamento e discussão da
ingerência internacional na África. Nesse sentido, há muito ainda a ser explorado.
219
BIBLIOGRAFIA
LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS
ABRAHAMSEN, Rita. Disciplining Democracy. Development discourse and good governance in
Africa. London/New York: Zed Books, 2000.
ADAM, Bernard. Les transferts d’armes vers les pays africaines: quel contrôle? In: Conflits en
Afrique. Analyse des crises et piste pour une prévention, Col. Les publications du GRIP.
Bruxelles: Editions Complexe, 1997.
AKE, Claude. The feasibility of democracy in Africa. Dakar: Codesria, 2000.
AKEHURST, Michael. Humanitarian intervention. BULL, Hedley (ed.). In: Intervention in World
Politics. Oxford: Clarendon Press, 1984.
AKINRINADE, Sola and SESAY, Amadu (ed.). Africa in the post-Cold War International System.
London and Washington: Pinter, 1998.
—— The re-democratization process in Africa: plus ça change, plus c’est la même chose? In:
AKINRINADE, Sola and Sesay, Amadu (ed.). Africa in the post-Cold War International System.
London and Washington: Pinter, 1998.
ANDEREGGEN, Anton. France’s relationship with Subsaharan Africa. Westport, London: Praeger,
1994.
AYITTEY, George B. N. Africa in chaos. New York: St. Martin’s Press, 1999.
AZEREDO, Mauro Mendes de. Visão americana de política internacional de 1945 até hoje. In:
GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
BAHIA, Luiz Henrique Nunes. A política externa da África do Sul: da internacionalização à
globalização. In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) África do Sul. Visões brasileiras. Brasília:
Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
BANDOW, Doug. Economic and military aid. In: SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in the
1980s. US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
BAYART, Jean-François. La politique africaine de François Mitterrand. Paris: Éditions Karthala,
1984.
BEDJAOUI, Mohamed. La portée incertaine du concept nouveau de dévoir d’ingérence dans
un monde troublé: quelques interrogations. In: Le Droit d’Ingérence.Est-il une nouvelle
220
legalisation du colonialisme? Publications de l’Academie du Royaume du Maroc, Collection
“Sessions”, Rabat: 14-15-16 Octobre 1991.
BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S.
foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
BETTATI, Mario. L’action humanitaire: ingérence ou assistance? Le Droit d’Ingérence.Est-il une
nouvelle legalisation du colonialisme?, Publications de l’Academie du Royaume du Maroc,
Collection “Sessions”, Rabat: 14-15-16 Octobre 1991.
BETTS, Raymond F. A dominação européia: métodos e instituições. In: BOAHEN, Albert Adu
(org.). História Geral da África, vol. VII. São Paulo: Ática, Unesco, 1991.
BIENEN, Henry S. African militaries as foreign policy actors. In: FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S.
(ed.). Arms and the African. New Haven, London: Yale University Press, 1985.
BOAHEN, Albert Adu (org.). História Geral da África. V. VII. São Paulo: Ática, Unesco, 1991
—— O colonialismo na África: impacto e significação. In: BOAHEN, Albert Adu (org.). História
Geral da África. V. VII. São Paulo: Ática, Unesco, 1991.
BOBBIO, N., MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1998.
BOOTH, Ken. Three tyrannies. DUNNE, Tim; WHEELER, Nicholas J. (ed.) Human rights in global
politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
BRATTON, Michael; VAN DE WALLE, Nicolas. Democratic experiments in Africa. Cambridge:
Cambridge University Press, 1997.
BROWN, William. The European Union and Africa. London, New York: I.B. Tauris Publishers, 2002.
BULL, Hedley (Ed.). Intervention in World Politics. Oxford: Clarendon Press, 1984.
—— Intervention in the Third World. BULL, Hedley (Ed.). Intervention in World Politics. Oxford:
Clarendon Press, 1984.
—— A Sociedade Anárquica. Brasília: Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de
Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.
CAMILLERI, Joseph A. Rethinking sovereignty in a shrinking, fragmented world. In: WALKER, R. B. J.
& MENDLOVITZ, Saul H. (ed.) Contending sovereignties. Redefining political community. Boulder
and London: Lynne Rienner Publishers, 1990.
CHAZAN, Naomi et al. Politics and society in contemporary Africa. Boulder: Lynne Rienner
Publishers, 1988.
CHEMILLIER-GENDREAU, Monique. Hegémonies et inégalités: les ambigüités des Nations Unies. Les
Temps Modernes, sep./nov, 2000, n. 610.
221
CHIPMAN, John. French power in Africa. Cambridge: Basil Blackwell, Inc., 1989.
CHOMSKY, Noam. The United States and the challende of relativity. EVANS, Tony (ed.) Human
rights fifty years on. A reappraisal. Manchester and New York: Manchester University Press:
1998.
CLAPHAM, Christopher. Africa and the International System. The politics of state survival.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
—— International Relations in Africa after the Cold War. KIENLE, E.; HALE, W. (ed.) The end of the
Cold War: effects and prospects for Asia and Africa.
—— The Horn of Africa: a conflict zone. Furley, Oliver. Conflict in Africa. Tauris Academic
Studies. London, New York: IB Tauris Publishers, 1995.
CLARK, Jeffrey. Debacle in Somalia: Failure of the Collective Response. New York, 1993.
COHEN, Herman J. Intervening in Africa. Superpower peacemaking in a troubled continent.
Studies in Diplomacy. London, New York: Macmillan Press, 2000.
COLLETO, Thomas (Ed.). Chad. A country study. Federal Research Division, Library of Congress,
1988. Disponível em: <http://lcweb2.loc.gov/>. Acesso em: 07 abr 2004
Conflits en Afrique. Analyse des crises et piste pour une prévention. Col. Les publications du
GRIP. Bruxelles- Editions Complexe, 1997.
DANAHER, Kevin. In whose interests? A guide to U.S.-South Africa relations. Washington, DC:
Institute for Policy Studies, 1985.
DARWIN, John. The end of the British Empire. The historical debate. Institute of Contemporary
British History. Cambridge, Oxford: Basil Bllackwell, 1991.
DAVIS JR., R. Hunt; CARTER, Gwendolen M. South Africa. SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in
the 1980s. US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
DE WITTE, Ludo. The assassination of Lumumba. London/New York: Verso, 2001.
DENG, Francis M. Reconciling sovereignty with responsibility: a basis for international
humanitarian action. HARBESON, John W. & ROTCHILD, Donald. Africa in world politics. Post-Cold
War challenges. Boulder, San Francisco and Oxford: Westview Press, 1995.
DEVARAJAN, S.; DOLLAR, D. R. & HOLMGREN, T. (ed.) Aid and reform in Africa. Lessons from ten
case studies. Washington, DC: The World Bank, 2001.
DIAMOND, Larry. Promoting democracy in Africa: US and international policies in transition.
HARBESON, John W. & ROTCHILD, Donald. Africa in world politics. Post-Cold War challenges.
Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1995.
222
—— Promoting democracy in the 1990s: actors and instruments, issues and imperatives. A
report to the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. Carnegie Corporation of
New York, 1995.
Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Jornal da Tarde. São Paulo: Ed. Globo e Zero Hora
Editora Jornalística, 1993.
DIVE, Gérard. Analyse des opérations de l’ONU: les objectifs, les moyens, la mise en ouvre les
résultats. Conflits en Afrique. Analyse des crises et pistes pour une prévention. Une iniciative
de Médecins sans frontières e Fondation Roi Baudoin. Bruxelles: Editions GRIP, Editions
Complexe, 1997.
DONNELLY, Jack. The ‘right to development’: how not to link human rights and development.
WELCH Jr., CLAUDE E.; MELTZER, Ronald I. (ed.) Human rights and development in Africa. Albany:
State University of New York Press, 1984.
DÖPCKE, Wolfgang. De Babuinos, homossexuais e um presidente: o fracasso da política
exterior do Zimbábue depois do fim da Guerra Fria. MARTINS, Estevão C. de Rezende (org.).
Visões do Brasil e da América Latina. Brasília: IBRI, 2003
—— Foreign policy and political regime: the case of South Africa. In: SARAIVA, José Flávio
Sombra (ed.) Foreign policy and political regime. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais, 2003.
DORAN, Charles F. The globalist-regionalist debate. SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in the
1980s. US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
DUIGNAN, Peter; GANN, L. H. The United States and Africa. A history. Cambridge: Cambridge
University Press, 1984.
DUNN, Kevin C. MadLib #32: the (blank) African State: rethinking the sovereign state in
International Relations Theory. DUNN, Kevin C. & SHAW, Timothy M. (ed.). Africa’s challenge to
International Relations Theory. New York: Palgrave, 2001.
DUNN, Kevin C. & SHAW, Timothy M. (Ed.). Africa’s challenge to International Relations Theory.
New York: Palgrave, 2001.
DUNNE, Tim & WHEELER, Nicholas J. (ed.) Human rights in global politics. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999.
—— Introduction: human rights and the fifty years’ crisis. DUNNE, Tim; WHEELER, Nicholas J. (ed.)
Human rights in global politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
EL-ISSAWY, Ibrahim H. The aid relationship and self-reliant development in Africa. ADEDEJI,
Adebayo & SHAW, Timothy M. (ed.) Economic crisis in Africa. African perspectives on
development problems and potentials. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1985.
223
ELLIOT, Kimberly A. Economic sanctions. SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in the 1980s. US
foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
EVANS, Tony (ed.) Human rights fifty years on. A reappraisal. Manchester and New York:
Manchester University Press: 1998.
—— Introduction: power, hegemmony and the universalization of human rights. EVANS, Tony
(ed.) Human rights fifty years on. A reappraisal. Manchester and New York: Manchester
University Press: 1998.
FALK, Richard A. Intervention and national liberation. BULL, Hedley (ed.). Intervention in World
Politics. Oxford: Clarendon Press, 1984.
—— Evasions of sovereignty. WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, Saul H. (ed.) Contending
sovereignties. Redefining political community. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers,
1990
FERREIRA, Oliveiros S. Segurança, comércio e ideologia. GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.)
Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais,
Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
FOLTZ, William J. Africa in Great-Power srtategy. FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S. (ed.). Arms
and the African. New Haven, London: Yale University Press, 1985.
—— United States policy toward South Africa: is one possible? BENDER, Gerald J.; COLEMAN,
James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los
Angeles, London: University of California Press, 1985.
FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S. (ed.). Arms and the African. New Haven, London: Yale
University Press, 1985.
FONSECA JR., Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais. São Paulo: Paz e Terra,
1998.
FURLEY, Oliver (ed.). Conflict in Africa. London, New York: I.B. Tauris Publishers, 1995.
GADDIS, John Lewis. We now know. New York: Oxford University Press, 1997.
GIFFORD, Prosser; LOUIS, Wm. Roger (ed.). The transfer of power in Africa. Decolonization, 1940-
1960. New Haven, London: Yale University Press, 1982.
GLEIJESES, Piero. Conflicting Missions. Havana, Washington and Africa, 1959-1976. Chapel Hill:
North Carolina University Press, 2002.
GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-los de que amanhã seremos mortos com nossas
famílias. Histórias de Ruanda. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
224
GROVOGUI, Siba N. Sovereignty in Africa: quasi-statehood and other myhts in international
theory. DUNN, Kevin C. and SHAW, Timothy M. (Ed.). Africa’s challenge to International
Relations Theory. New York: Palgrave, 2001.
GUEVARA, Ernesto. Passagens da guerra revolucionária: Congo. Rio de Janeiro/ São Paulo:
Record, 2000.
GUIMARÃES, César. Envolvimento e ampliação: a política externa dos Estados Unidos.
GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.) África do Sul. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa
de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
—— (org.) Estados Unidos. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações
Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
HALLIDAY, Fred. Repensando as Relações Internacionais. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS, 1999.
HARBESON, John W. and ROTCHILD, Donald. Africa in world politics. Post-Cold War challenges.
Boulder, San Francisco and Oxford: Westview Press, 1995.
HIGGINS, Rosalyn. Intervention and international law. BULL, Hedley (ed.). Intervention in World
Politics. Oxford: Clarendon Press, 1984.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
HOFFMAN, Stanley. In search of a thread: the UN in the Congo labyrinth. KAY, David A. (ed.) The
United Nations political system. New York, London: John Wiley &Sons, Inc., 1967.
—— The problem of intervention. BULL, Hedley (ed.). Intervention in World Politics. Oxford:
Clarendon Press, 1984.
HOLLOWAY, Anne Forrester. Congressional initiatives on South Africa. BENDER, Gerald J.;
COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley,
Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
INGRAM, Derek. The Commonwealth and Africa. WRIGHT, Stephen; BROWNFOOT, Janice N. (ed.)
Africa in world politics. Changing perspectives. Houndmills, London: The Macmillan Press,
1987.
JACKSON, Robert H.; ROSBERG, Carl G. Sovereignty and underdevelopment: juridical statehood
in the African crisis.
225
—— Why Africa’s weak states persist: the empirical and the juridical in statehood. KOHLI, Atul
(ed.) The state and development in the Third World. Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1986.
JOUVE, Edmond. France and crisis areas in Africa. In: BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.;
SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press, 1985.
JOYNER, Christopher C. International law. SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in the 1980s. US
foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
KELLER, Edmond J. United States foreign policy on the Horn of Africa: policymaking with
blinders on. In: BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas
and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
KEMPTON, Daniel R. Soviet strategy toward Southern Africa. The national liberation movement
connection. New York: Praeger Publisher, 1989.
KLARE, Michael T. The development of low-intensity conflict doctrine. In: SCHRAEDER, Peter J.
(ed.) Intervention in the 1980s. US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne
Rienner Publishers, 1989.
KRASNER, Stephen. Sovereignty. Organized hipocrisy. New Jersey: Princeton University Press,
1999.
LAÏDI, Zaki. The Superpowers and Africa – The Constraints of a Rivalry, 1960-1990.
Chicago/London: The University of Chicago Press, 1990.
LANCASTER, Carol. Aid to Africa. So much to do, so little done. A Century Foundation Book.
Chicago, London: The University of Chicago Press, 1999.
LAROUI, Abdallah. Le droit d’intervention et son rôle dans le dévelopment de la colonisation
au course du XIXè siècle. Le Droit d’Ingérence.Est-il une nouvelle legalisation du
colonialisme? Publications de l’Academie du Royaume du Maroc, Collection Sessions,
Rabat: 14-15-16 oct. 1991.
Le Droit d’ingerence est-il une nouvelle legalization du colonialisme? Publications de
l’Académie du Royaume du Maroc, Collection Sessions, Rabat, 14-16 oct. 1991.
LEGUM, Colim. Africa since independence. Bloomington: Indiana University Press, 1999.
—— Democracy in Africa: hopes and trends. In: RONEN, Dov (ed.). Democracy and pluralism
in Africa. Boulder: Lynne Rienner, 1986.
LEMARCHAND, René. The crisis in Chad. In: BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; Sklar, Richard L.
(ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of
California Press, 1985.
226
LUARD, Evan. Collective intervention. In: BULL, Hedley (ed.). Intervention in World Politics.
Oxford: Clarendon Press, 1984.
LUTTWAK, Edward N. Intervention and access to natural resources. In: BULL, Hedley (Ed.).
Intervention in World Politics. Oxford: Clarendon Press, 1984.
LYON, Peter. The ending of the Cold War in Africa. In: FURLEY, Oliver (ed.). Conflict in Africa.
London, New York: I.B. Tauris Publishers, 1995.
LYONS, G. M. & MASTANDUNO, M. International intervention, state sovereignty, and the future of
international society. In: LYONS, G. M. & MASTANDUNO, M. (ed.). Beyond Westphalia? State
sovereignty and international intervention. Baltimore and London: The John Hopkins University
Press, 1995.
—— (Ed.), Beyond Westphalia? State sovereignty and international intervention. Baltimore
and London: The Johns Hopkins University Press, 1995.
LYONS, Terrence P. The Horn of Africa Regional Politics: a Hobbesian World. Columbia
University Press, 1992.
—— The international context of internal war: Ethiopia/Eritrea. In: KELLER, E. J.; ROTCHILD, D.
(ed.). Africa in the New International Order. London: Lynne Rienner Publishers, 1996.
MACLEAN, Sandra J. Challenging Westphalia: issues of sovereignty and identity in Southern
Africa. In: DUNN, Kevin C. and SHAW, Timothy M. (ed.). Africa’s challenge to International
Relations Theory. New York: Palgrave, 2001.
MAHMUD, Sakah. Controlling African state’s behavior: International Relations Theory and
international sanctions against Libya and Nigeria. In: DUNN, Kevin C. and SHAW, Timothy M.
(ed.). Africa’s challenge to International Relations Theory. New York: Palgrave, 2001.
MARTE, Fred. Political Cycles in International Relations. The Cold War and Africa 1945-1990.
Amsterdam: VU University Press, 1994.
MAYALL, James (ed.). The new interventionism. 1991-1994. United Nations experience in
Cambodia, former Yugoslavia and Somalia. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
MCNAMARA, Francis Terry. France in Black Africa. Washington, DC: National Defense University
Press, 1989.
MEDITZ, Sandra W.; MERRILL, Tim (ed.). Zaire. A country study. Federal Research Division, Library
of Congress, dez. 1993. Disponível em: <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/zrtoc.html>. Acesso em:
07 abr 2003
MELTZER, Ronald I. International human rights and development: evolving conceptions and
their application to relations between the European Community and the African-Caribbean-
227
pacific states. In: WELCH Jr., Claude E.; MELTZER, Ronald I. (ed.) Human rights and development
in Africa. Albany: State University of New York Press, 1984.
MENDONÇA, Hélio Magalhães de. Política externa da África do Sul (1945-1999). In: GUIMARÃES,
Samuel Pinheiro (org.) África do Sul. Visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
MOÏSI, Dominique. Intervention in French foreign policy. In: BULL, Hedley (Ed.). Intervention in
World Politics. Oxford: Clarendon Press, 1984.
MOOSE, George E. French military policy in Africa. In: FOLTZ, William J.; BIENEN, Henry S. (ed.).
Arms and the African. New Haven, London: Yale University Press, 1985.
NEL, Philip; MCGOWAN, Patrick J. Power, wealth and global order. An international relations
textbook for Africa. Cape Town: Cape Town Press, 1999.
NOLUTSHUNGU, Sam C. South Africa policy and United States options in Southern Africa. In:
BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S.
foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
NZONGOLA-NTALAJA. United States policy toward Zaire. In: BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.;
SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press, 1985.
OFCANSKY, Thomas P.; BERRY, La Verle. Ethiopia. A country study. Federal Research Division,
Library of Congress, dez. 1991. Disponível em: <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/zrtoc.html>.
Acesso em: 10 jan 2003
OLONISAKIN, Funmi. Changing perspective on human rights in Africa. AKINRINADE, Sola & SESAY,
Amadu (ed.). Africa in the post-Cold War International System. London/Washington: Pinter,
1998.
PATRIOTA, Antônio de Aguiar. O Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo: A
Articulação de um Novo Paradigma de Segurança Coletiva. Brasília: Instituto Rio Branco,
Fundação Alexandre de Gusmão e Centro de Estudos Estratégicos, 1998.
PECEQUILO, Cristina Soreanu. A política externa dos Estados Unidos. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2003.
PETTERSON, Donald K. Somalia and the United States, 1977-1983: the new relationship. In:
BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S.
foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
PRICE, Robert M. Creating new political realities: Pretoria’s drive for regional hegemony. In:
BENDER, Gerald J.; COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S.
foreign policy. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
228
RAKE, Alan (ed.). New African Yearbook 2001. London: IC Publications Ltd., 2001.
RAMSBOTHAM, Oliver & WOODHOUSE, Tom. Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict.
Cambridge, Oxford: Polity Press, Blackwell Publishers, 1996.
RANGEL, Vicente M. (org.). Direito e Relações Internacionais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1997.
REYNTJENS, Filip. L’Afrique des Grandsd Lacs en crise. Rwanda, Burundi: 1988-1994. Paris: Ed.
Karthala, 1994.
—— La guerre des Grands Lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique
Centrale. Paris: L’Harmattan, 1999.
REYNTJENS, Filip; PAUWELS, Anne. Des mesurer préventives – Etude de cas: Namibie, Angola,
Rwanda, Kenya. Conflits en Afrique. Analyse des crises et piste pour une prévention. Col. Les
publications du GRIP. Bruxelles: Editions Complexe, 1997.
RODRIGUES, Simone Martins. Segurança internacional e direitos humanos. A prática da
intervenção humanitárias no pós-Guerra Fria. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2000.
RONEN, Dov (Ed.). Democracy and Pluralism in Africa. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1986.
—— The state and democracy in Africa. RONEN, Dov (ed.). Democracy and pluralism in
Africa. Boulder: Lynne Rienner, 1986.
ROSATI, Jerel A. The domestic environment. SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in the 1980s.
US foreign policy in the Third World. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
ROTBERG, Robert I. Namibia and the crisis of constructive engagement. In: BENDER, Gerald J.;
COLEMAN, James S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley,
Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
ROTHCHILD, Donald. The United States and conflict management in Africa. In: HARBESON, John
W.; ROTCHILD, Donald. Africa in World Politics. Post-Cold War challenges. Boulder/San
Francisco/Oxford: Westview Press, 1995.
RUIZ, Lester Edwin J. Sovereigty as transformative practice. In: WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, Saul
H. (ed.) Contending sovereignties. Redefining political community. Boulder and London:
Lynne Rienner Publishers, 1990.
SARAIVA, José Flávio Sombra (ed.) Foreign policy and political regime. Brasília: Instituto
Brasileiro de Relações Internacionais, 2003.
—— (org.) Relações Internacionais. Dois séculos de história. Entre a ordem bipolar e o
policentrismo (de 1947 a nossos dias). V. II. Brasília: IBRI, 2001
229
—— Détente, diversidade, intranqüilidade e ilusões igualitárias. SARAIVA, José Flávio Sombra
(org.) Relações Internacionais. Dois séculos de história. Entre a ordem bipolar e o
policentrismo (de 1947 a nossos dias). V. II. Brasília: IBRI, 2001.
SARRIS, Louis George. Soviet military policy and arms activities in Sub-Saharan Africa. FOLTZ,
William J.; BIENEN, Henry S. (ed.). Arms and the African. New Haven, London: Yale University
Press, 1985.
SCHRAEDER, Peter J. (ed.) Intervention in the 1980s. US foreign policy in the Third World.
Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
SCOTT, Pegg. International society and the de facto State. England, USA: Ashgate, 1998.
SELASSIE, Bereket H. The American dilemma on the Horn. In: BENDER, Gerald J.; Coleman, JAMES
S.; SKLAR, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press, 1985.
SHAW, Timothy M. The political economy of self-determination: a world systems approach to
human rights in Africa. In: WELCH Jr., Claude E.; MELTZER, Ronald I. (ed.) Human rights and
development in Africa. Albany: State University of New York Press, 1984.
SHEPHERD JR., George W. Global power and self-determination: the case of Namibia. In: WELCH
JR., Claude E.; MELTZER, Ronald I. (ed.) Human rights and development in Africa. Albany: State
University of New York Press, 1984.
SIMONS, Anna. Somalia: a regional security dilemma. In: KELLER, E. J.; ROTCHILD, D. (ed.). Africa in
the New International Order. London: Lynne Rienner Publishers, 1996.
SØRENSEN, Georg. Democracy and democratization. Dilemmas in world politics. Boulder,
Oxford: Westview Press, 1993.
STENGERS, Jean. Precipitous decolonization: the case of the Belgian Congo. In: GIFFORD, Prosser;
LOUIS, Wm. Roger (ed.). The transfer of power in Africa. Decolonization, 1940-1960. New Haven,
London: Yale University Press, 1982.
STIGLITZ, Joseph E. Globalization and its discontents. New York, London: W. W. Norton &
Company, 2003.
STOKKE, Olav. Aid and political conditionality: core issues and state of the art. In: STOKKE, Olav
(Ed.). Aid and Political Conditionality. Frank Cass & Co., 1995.
THOMAS, Scott. Africa and the end of the Cold War: an overview of impacts. In: AKINRINADE,
Sola & SESAY, Amadu (Ed.). Africa in the post-Cold War International System. London and
Washington: Pinter, 1998.
THROUP, David. The colonial legacy. FURLEY, Oliver (ed.). Conflict in Africa. London, New York:
I.B. Tauris Publishers, 1995.
230
VINES, Alex. Monitoring UN sanctions in Africa: the role of panels of experts. Verification
yearbook. 2003.
WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, Saul H. (ed.) Contending sovereignties. Redefining political
community. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1990.
—— Interrogating state sovereignty. WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, Saul H. (ed.) Contending
sovereignties. Redefining political community. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers,
1990.
WALKER, R. J. B. Sovereignty, identity community: reflections on the horizons of contemporary
political practice. In: WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, Saul H. (ed.) Contending sovereignties.
Redefining political community. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1990.
WALLERSTEIN, Immanuel. Africa. The politics of independence. New York: Vintage Books Edition,
Novembre 1961.
WEISS, Thomas G., FORSYTHE, David P. and COATE, Roger A. The United Nations and changing the
world politics. Boulder and Oxford: Westview Press, 1997.
WELCH JR., Claude E.; MELTZER, Ronald I. (ed.) Human rights and development in Africa. Albany:
State University of New York Press, 1984.
WENDT, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999.
WHITEMAN, Kaye. Two summits: Vittel and New Delhi. Francophonie in the shadow of
anglophonie. In: WRIGHT, Stephen; BROWNFOOT, Janice N. (ed.) Africa in world politics.
Changing perspectives. Houndmills, London: The Macmillan Press, 1987.
WIGHT, Martin. A Política do Poder. Brasília: Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de
Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.
WILLIAMS, Marc A. Africa and the international economic system: dependency or self-
reliance? WRIGHT, Stephen; BROWNFOOT, Janice N. (ed.) Africa in world politics. Changing
perspectives. Houndmills, London: The Macmillan Press, 1987.
WINDSOR, Philip. Superpower intervention. BULL, Hedley (ed.). Intervention in World Politics.
Oxford: Clarendon Press, 1984.
WRIGHT, Stephen. Africa and global society: marginality, conditionality and conjuncture.
AKINRINADE, Sola & SESAY, Amadu (Ed.). Africa in the post-Cold War International System.
London and Washington: Pinter, 1998.
—— The changing context of African foreign policies. WRIGHT, Steven (org.). African Foreign
Policies. Boulder: Westview Press, 1999.
231
WRIGHT, Stephen; BROWNFOOT, Janice N. (ed.) Africa in world politics. Changing perspectives.
Houndmills, London: The Macmillan Press, 1987.
YOUNG, Crawford. The Zairian crisis and american foreign policy. In: BENDER, Gerald J.;
COLEMAN, James S.; Sklar, Richard L. (ed.) African crisis areas and U.S. foreign policy. Berkeley,
Los Angeles, London: University of California Press, 1985.
—— Ideology and development in Africa. New Haven, London: Yale University Press, 1982.
—— The politics of cultural pluralism. Wisconsin, London: The University of Wisconsin Press,
1976.
ARTIGOS
AKE, Claude. Rethinking African democracy. DIAMOND, Larry & PLATTNER, Marc F. The global
ressurgence of democracy. Second edition. Baltimore, London: The John Hopkins University
Press, 1996.
ADAR, Korwa G. The wilsonian concept of democracy and human rights: a retrospective and
prospective. Afrcan Studies Quarterly. The online journal for African Studies. Disponível em:
<http://web.africa.ufl.edu/asq/v2/v2i2a3.htm>. Acesso em: 12 mar 2005
ADAR, Korwa G. & MUNYAE, Isaac M. Human Rights Abuse in Kenya under Daniel Arap Moi
1978-2001. African Studies Quarterly 5(1): 1, 2001 [online] URL: Disponível em:
http://web.africa.ufl.edu/asq/v5/v5i1a1.htm>. Acesso em: 10 jul 2005
ALDEN, Chris. From neglect to ‘virtual engagement’: the United States and its new paradigm
for Africa. African Affairs, 99, 355-71, 2000.
BACH, D. C.: The Politics of West African Co-operation: CEAO and ECOWAS. The Journal of
Modern African Studies, 21, 4, 1983, p. 605-623.
BAWMAN, Larry W. The strategic importance of South Africa to the United States: an appraisal
and policy analysis. African Affairs, 81 (323), 1982.
BETTATI, Mario. Les Estats et l’ingérence humanitaire. Les Temps Modernes, Septembre-
Novembre 2000, n. 610.
BIRD, Graham. IMF programs: do they work? Can they be made to work better? World
Development, vol. 29, No. 11, pp. 1849-1865, November 2001.
BLACKMON, Pamela E. The IMF: a new actor in foreign policy decision making. International
Studies Association. 41st Annual Convention. Los Angeles, CA: March 14-18,2000. Disponível
em: <http:://www.ciao.com/>. Acesso em:
232
BRACKING, Sarah. Structural adjustment: why it wasn’t necessary and why it did work. Review of
African Political Economy, No. 80: 207-226, 1999.
BUSH, Ray & SZEFTEL, Morris. Commentary: states, markets and Africa’s crisis. Review of African
Political Economy, n. 60: 147-156, 1994.
CAMPBELL, John C. Soviet policy in Africa and the Middle East. Current History, out. 1977.
CHAFER, Tony. Franco-African relations: no longer so exceptional? African Affairs, (2002), 101,
343-363.
—— French African policy: towards change. African Affairs, (1992), 91, 37-51.
COLLIER, P. et al. Redesigning conditionality. World Development, Vol. 25 number 9, September
1997.
CRUM, David Leith. Mali and the UMOA: a case study of economic integration. The Journal of
Modern African Studies, 22, 3 (1984), pp. 469-486.
DEARDEN, Stephen J. H. The CFA and the European Monetary Union. Manchester Metropolitan
University, DSA European Development Policy Study Group, Discussion Paper n. 14, jun. 1999,
Disponível em: <http://www.edpsg.org/Documents/Dp14.doc>. Acesso em: 08 ago 2003
DÖPCKE, Wolfgang. Back to the future. Relações entre a União Européia e a áfrica sob o signo
do neoliberalismo. Correio Internacional, 2001.
EASTERLY, William. How did heavely indebted poor countries become heavely indebted?
Reviewing two decades of debt relief., World Development, v. 30, n. 10, p. 1677-1696, out.
2002.
FAWOLE, W. Alade. The Soviet Union and Sub-saharan Africa in retrospect: beyond ideology
and geopolitics. Journal of Asian and African Affairs, 1993.
GOLDSMITH, Arthur A. Foreign aid and statehood in Africa. International Organization, 55, 1,
winter 2001, p. 123-148.
GRAY, Robert D. The Soviet presence in Africa: an analisys of goals. The Journal of Modern
African Studies, 22, 3 (1984), p. 511-527.
GUPTA, Anirudha. Issues in Southern Africa. International Studies, Vol. 17, No. 1, January-March
1978.
HOUNGNIKPO, Mathurin C. Pax Democratica: the gospel according to St. Democracy.
Australian Journal of Politics and History, v. 49, n. 2, p. 197-219, 2003.
HUNTINGTON, Samuel. A superpotência solitária. Política Externa, v. 8, n. 4, mar./abr./maio,
2000. (Tradução do artigo de 1999 da Foreign Affairs).
233
KOERNER, Andrei. O papel dos direitos humanos na política democrática: uma análise
preliminar. Revista Brasileira de Ciências Sociais. V. 18, n. 53, out. 2003.
LEGUM, Colin. The African crisis. Foreign Affairs, v. 57, n. 3, 1979.
MAGNARELLA, Paul J. Achieving Human Rights in Africa: The Challenge for the New Millennium.
African Studies Quarterly - Volume 4 Issue 2 (2000). Disponível em:
<http://web.africa.ufl.edu/asq/v4/v4i2a2.htm>. Acesso em: 05 jan 2003
MARCUM, John A. Lessons of Angola. Foreign Affairs, V. 54, n. 3, abr. 1976.
MARTIN, Guy. Continuity and change in franco-African relations. The Journal of Modern African
Studies, 33, 1 (1995), p. 1-20.
—— The historical, economic, and political bases of France’s African policy. The Journal of
Modern African Studies, 23, 2 (1985), pp. 189-208.
MBAYE, Sanou. How the French plunder Africa. January 2004, Disponível em:
<http://sanou.mbaye.free.fr/ps_how_the_french_plunder_africa.htm>. Acesso em: 10 mar
2004.
MEILINK, Henk. Structural adjustment programmes on the African continent. The theoretical
foundations of IMF/World Bank reform policies. ASC Working Paper n. 53. Leiden: dez. 2003.
MOHAN, Giles & HOLLAND, Jeremy. Human rights & development in Africa: moral intrusion or
empowering opportunity? Review of African Political Economy, n. 88: 177-196. Roape
Publications Ltd., 2001.
MWENDA, Kenneth Kaoma. Benevolent and enlightened dictators, and standards of human
rights in Africa. World Bank, dez. 2000. Disponível em:
<http://www..murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n4/mwenda74.html>. Acesso em: 13 abr 2004
NEUMAYER, E. Is good governance rewarded? A cross-national analysis of debt forgiveness.
World Development, V. 30, n., jun. 2002.
O’CONNEL, S. A. and SOLUDO, C. C. Aid intensity in Africa. World Development, v. 29, n. 9, set.
2001.
O’NEILL, Kathryn; MUNSLOW, Barry. Ending the Cold War in Southern Africa. Third World
Quarterly, v. 12, n. 3-4, p. 81-96, 1990/91.
OLSEN, Gorm Rye. Europe and the promotion of democracy in post Cold War Africa: how
serious is Europe and for what reason? African Affairs (1998), 97, 343-367.
—— Western Europe’s relations with Africa since the end of the Cold War. Journal of Modern
African Studies, 35, 2, p. 299-319, 1997.
234
PENNA FILHO, Pio. Segurança seletiva no pós-Guerra Fria: uma análise da política e dos
instrumentos de segurança das Nações Unidas para os países periféricos: o caso africano.
Revista Brasileira de Política Internacional, 47 (1): 31-50, 2004.
PONTE, Stefano. The World Bank and adjustment in Africa. Review of African Political Economy,
No. 66: 539-558, 1994.
RADU, Michael. Ideology, parties, and foreign policy in Sub-saharan Africa. Orbis. A Journal of
World Affairs, V. 25, n. 4, Winter, 1982.
REMNEK, Richard B. Soviet Military Interests in Africa. Orbis. A Journal of World Affairs, v. 28, n. 1,
Spring 1984.
RUBINSTEIN, Alvin Z. Soviet Success story: the Third World. Orbis, A Journal of World Affairs, v.. 32,
n. 4, Fall 1988.
SEITENFUS, Ricardo. Ingerência ou solidariedade? Dilemas da ordem internacinal
contemporânea. São Paulo: Fundação Sedae, 2005.
SKURNIK, W. A. E. Africa and the Superpowers. Current History, November, 1976.
SMOLANSKY, O. M. Soviet policy in the Middle East and Africa. Current History, October 1978.
SORIANO NETO, Manoel. Soberania, soberania limitada, dever de ingerência e intervenção
humanitária. O Farol, n. 84, out. 2001. Disponível em: <http:/www.farolbrasil.com.br/>. Acesso
em: 05 maio 2005
STEWART, Frances & O’SULLIVAN, Meghan. Democracy, conflict and development – Three
cases. QEH Working Paper Series. Working paper No. 15. Queen Elisabeth House, University of
Oxford. Jun 1998.
THOMPSON, W. Scott. US policy toward Africa: at America’s service? Orbis, A Journal of World
Affaris, v. 25, n. 4, Winter 1982.
VALENTA, Jiri. The USSR, Cuba, and the Crisis in Central America. Orbis, a Journal of World
Affairs, v. 25, n. 3, Fall 1981.
WATKINS, Kevin. Aid under threat. Review of African Political Economy, n. 66: 517-523, 1994.
WESTAD, Odd Arne. Rethinking revolutions: the Cold War in the Third World. Journal of Peace
Research, v. 29, n. 4, 1992, p. 455-464.
WILLIAMS, David. Aid and sovereignty: quasi-states and the international finantial institutions.
Review of International Studies, 26, 2000, p. 557-573.
WILLIAMS, Gavin. Why structural adjustment is necessary and why it doesn’t work. Review of
African Political Economy, n. 60: 214-225, 1994.
235
ARTIGOS DE IMPRENSA
ANNAN, Kofi. Two concepts of sovereignty. The Economist, Sep 16th 1999.
ASH, Lucy. France: superpower or sugar daddy? BBC News. Disponível em:
<http://www.news.bbc.co.uk>. Acesso em: 23 dez 1998.
ASTIER, Henry. France’s watchful eye on Ivory Coast. BBC News. Disponível em:
<http://www.news.bbc.co.uk>. Acesso em: 27 fev 2003.
BBC NEWS. French troops in Ivory Coast battle. Disponível em: <http://www.news.bbc.co.uk>.
Acesso em: 21dez. 2002.
⎯ France’s contentious African role. Disponível em: <http://www.news.bbc.co.uk>. Acesso
em: 21abr. 1998.
⎯ French troops in Ivorian capital. Disponível em: <http:/www.news.bbc.co.uk>. Acesso em:
23 set. 2002.
TESES E DISSERTAÇÕES
DA SILVA, Maria Luiza R. Lopes. Assuntos alheios: a ingerência democrática no pós-Guerra
Fria. Dissertação de mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, 2003.
EVLO, K.: The West African Monetary Union: the Economics of a Dependent Monetary System,
tese de doutorado, Boston University, 1988.
DOCUMENTOS E RELATÓRIOS OFICIAIS
BANCO MUNDIAL. African Development Indicators. Washington: The World Bank, 2004.
BOUTROS-GHALI, Boutros. Supplement to an Agenda for Peace, position paper of the secretary-
general on the occasion of the fifth anniversary of the United Nations. 1995.
BOUTROS-GHALI, Boutros. Un Programa de Paz. Nueva York: Naciones Unidas, 1992.
HUMAN RIGHTS WATCH. World Report. Kenya. Anos: 1997 a 2004. Disponível em:
<http://www.hrw.org>. Acesso em: 10 jul 2005.
ICG report. All bark and no bite? The international response to Zimbabwe’s crisis. International
Crisis Group, Africa Report n. 40, Harare/Brussels, 25 jan. 2002.
ICG report. Somalia: countering terrorism in a failed state. International Crisis Group, Africa
Report n. 45, Nairobi/Brussels, 23 maio 2002.
236
IGC report. Zimbabwe: the politics of international liberation and international division.
International Crisis Group, Africa Report n. 52, Harare/Brussels, 17 out. 2002.
UNITED NATIONS. UNAMIR, Background. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em: 07
ago 2004.
UNITED NATIONS. UNOSOM I, Background. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em: 07
ago 2004.
UNITED NATIONS. UNOSOM II, Background. Disponível em: <http://www.un.org>. Acesso em: 07
ago 2004.