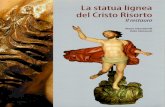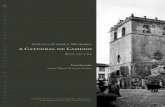FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO
Transcript of FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO
11
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ARQUITETURA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
ELOANE DE JESUS RAMOS CANTUÁRIA
FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO
SALVADOR - BAHIA
2003
ELOANE DE JESUS RAMOS CANTUÁRIA
FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da
Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal
da Bahia, em cumprimento às exigências para
obtenção do título de Mestre.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Helena Ochi Flexor
SALVADOR - BAHIA
2003
Cantuária, Eloane de Jesus Ramos Fotografia, Arquitetura e Restauro / Eloane de Jesus Ramos Cantuária. – Salvador, 2003. 123f. ; il Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia. 1. Fotografia. 2. Conservação e Restauro. 3. Patrimônio Histórico. 4. Arquitetura. I. Título.
ELOANE DE JESUS RAMOS CANTUÁRIA
FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da
Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal
da Bahia, em cumprimento às exigências para
obtenção do título de Mestre.
Área de concentração: Conservação e restauro
Aprovada em 6 de Maio de 2003.
BANCA EXAMINADORA:
Prof.ª Dr.ª Maria Helena Ochi Flexor – Orientadora Professora do PPGAU-FAU/UFBA
Prof. Dr. Mário Mendonça de Oliveira Professor do PPGAU-FAU/UFBA
Prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire Professor convidado
Agradeço
A Deus, sem Ele nada tem sentido.
Aos meus pais, pelo infinito amor.
Às minhas irmãs, as melhores companheiras que poderia ter.
A profª. Drª. Maria Helena Ochi Flexor, orientadora deste trabalho, pela
disponibilidade, atenção e compreensão dispensada.
Ao prof. Mário Mendonça de Oliveira, mestre e inspirador, que me faz orgulhar da
maravilhosa profissão que escolhi.
Ao prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire, pela generosa contribuição.
Aos amigos que conquistei em Salvador, em especial, a Eliana, Ana Paula e Lina.
A Eliane Cantuária, pela brilhante contribuição nesta dissertação.
A querida amiga Jandira Assis Borges, pela ilimitável colaboração.
E finalmente a José de Vasconcelos, sempre presente nos momentos difíceis e
fiel companheiro nas noites insones, tão necessárias para a realização deste
trabalho.
“...a fotografia tem a vantagem de produzir memórias
irrefutáveis, e documentos que podem ser
consultados sempre, inclusive quando os restauros
mascaram os vestígios deixados pelas ruínas. A
fotografia conduziu naturalmente os arquitetos a
serem ainda mais escrupulosos no respeito aos
mínimos vestígios de uma antiga disposição, a
aperceberem-se melhor da estrutura, além de
fornecer um instrumento permanente para justificar
as suas ações. Nos restauros jamais será excessivo
o uso da fotografia... ”.
Violllet-Le-Duc (1996, p. 28).
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS
RESUMO
ABSTRACT
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 11
2 ARQUITETURA E FOTOGRAFIA .................................................................... 14
2.1 As Transformações Urbanas e o Olhar da Arquitetura ......................... 14
2.2 O Invento fotográfico ............................................................................... 19
2.3 Origens da Fotografia de Arquitetura..................................................... 25
2.4 Fotografia de Arquitetura no Brasil ........................................................ 30
2.4.1 Fotografia no Império ............................................................... 31
2.4.2 Os Primeiros Anos da República e a Consolidação da
Fotografia ................................................................................ 39
2.5 Os Cartões Postais .................................................................................. 44
2.6 Os Álbuns Fotográficos ........................................................................... 49
2.7 A Moderna Fotografia de Arquitetura ..................................................... 53
3 A FOTOGRAFIA COMO TÉCNICA DE PESQUISA ......................................... 59
3.1 A Fotografia como Documento Histórico .............................................. 61
3.1.1 A Utilização da Documentação Fotográfica Histórica ........... 63
3.1.2 Acervo e Conservação ............................................................. 65
3.2 Metodologias de Análise e Leitura de Imagens ..................................... 69
3.3 Fotografia e Documento .......................................................................... 73
3.4 A Fotografia como Fonte ou Objeto de Pesquisa ................................. 75
4 FOTOGRAFIA E RESTAURO .......................................................................... 78
4.1 A Fotografia no Levantamento de Edifícios .......................................... 90
4.2 Fotogrametria ........................................................................................... 92
4.2.1 O Surgimento da Técnica ........................................................ 94
4.2.2 Utilização no Levantamento do Patrimônio Histórico ........... 95
4.3 Fotografias Especiais ............................................................................ 100
4.3.1 Raio-X, Ultravioleta e Infravermelho ..................................... 100
4.3.2 Fotografia com Raios Ultravioletas ...................................... 102
4.3.3 Fotografia com Raios-X ......................................................... 105
4.3.4 Fotografia com Raios Infravermelhos .................................. 109
4.3.5 Microfotografia ....................................................................... 110
5 CONCLUSÕES ............................................................................................... 113
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 116
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Interior do Palácio de Cristal – 1851 18 Figura 2 - Esquema de uma câmara escura 20 Figura 3 - Grande Câmara Escura em forma de liteira de 1646, construída em Roma por
Athanasius Kircher
21 Figura 4 - Câmara escura em forma de mesa, 1769 21 Figura 5 - Câmara escura tipo caixão com lente e espelho 21 Figura 6 - Primeira fotografia de Niépce em 1826, França 22 Figura 7 - Biblioteca Imperial do Louvre, em Paris 29 Figura 8 - Pátio da École des Beaux Arts, Paris 29 Figura 9 - O Paço da cidade do Rio de Janeiro, 1840 – tirado pelo Abade Compte 31 Figura 10 - Paço Municipal de Salvador – 1870 34 Figura 11 - Aqueduto de Santa Teresa e Casario da Lapa – 1859 35 Figura 12 - Palácio da Associação Comercial na Bahia – 1860 36 Figura 13 - Cais e Mercado da Glória no Rio de Janeiro – 1867 36 Figura 14 -Escola Militar de Botafogo - RJ – 1890 38 Figura 15 - Avenida Central no Rio de Janeiro – 1910 40 Figura 16 - Arsenal da Marinha e Zona Portuária do Recife – 1875 40 Figura 17 - Projetos arquitetônicos de edifícios na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1903 41 Figura 18 - Edifícios concluídos na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1906 42 Figura 19 - Correspondez-Karte, o primeiro cartão postal – 1869 45 Figura 20 - Frente e verso do cartão postal da Enseada de Botafogo - 1911 46 Figura 21 - Bilhete postal pré-selado, um dos primeiros postais do Brasil – postado a 24/07/1893 47 Figura 22 - Cartão postal da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro – postado a 15/11/1898 48 Figura 23 - Cartão postal do Ver-o-Peso em Belém – postado a 18/03/1908 48 Figura 24 - Cartão postal da construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro – 1930 49 Figura 25 - Álbum Obras do novo abastecimento de água no Rio de Janeiro - 1879/1882 50 Figura 26 - Álbum Estrada de ferro do Paraná - 1884 50 Figura 27 - Rua Direita – 1862 51 Figura 28 - Exposição Nacional no Rio de janeiro 1 – 1908 52 Figura 29 - Exposição Nacional no Rio de janeiro 2 – 1908 52 Figura 30 - Exposição Nacional no Rio de janeiro – 1922 53 Figura 31 - Arranha-céus – 1935 56 Figura 32 - “ balconies” - 1935 56 Figura 33 - Sem título 58 Figura 34 - Um que passa - 1953 58 Figura 35 - Apartamentos – 1974 58 Figura 36 - Telhados – 1969 58 Figura 37 - Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 67 Figura 38 - Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro 67 Figura 39 - Monte Paladino em Roma – 1899 74 Figura 40 - Partenon na Grécia – 1869 74 Figura 41 - Escultura situada no portal do Castelo Herten, na Alemanha, em diferentes épocas 82 Figura 42 - Ficha catalográfica do acervo cultural do litoral baiano - frente 83 Figura 43 - Ficha catalográfica do acervo cultural do litoral baiano - verso 84 Figura 44 - Três momentos da Igreja: Em 1928, sendo restaurada e após a restauração 85 Figura 45 - Vão original encontrado após prospecção arquitetônica 85 Figura 46 - Capa do livro publicado após a restauração da Igreja 85 Figura 47 - Fachada do Teatro no começo da restauração 86
Figura 48 - Fachada do Teatro após a restauração 86 Figura 49 - Pórtico encontrado na prospecção do prédio 86 Figura 50 - Pórtico de entrada restaurado 86 Figura 51 - Forro antigo encontrado após o início da obra 87 Figura 52 - Forro restaurado 87 Figura 53 - Antigo galpão da estação de gás de Belém, em seu local original 87 Figura 54 - Desmontagem do galpão 87 Figura 55 - Galpão restaurado e adaptado para ser uma sala de espetáculos no Parque da
Residência, em Belém-PA
88
Figura 56 - Antiga residência dos Governadores do Pará antes do restauro 88 Figura 57 - Antiga residência dos Governadores do Pará após o restauro 88 Figura 58 - Capa do livro “Arquitetura Escolar Paulista – Restauro” 89 Figura 59 - Capa do livro “Patrimônio Cultural Paulista” 89 Figura 60 - Escala métrica incorporada ao levantamento arqueológico fotográfico 90 Figura 61 - Escala métrica incorporada ao levantamento arquitetônico fotográfico 91 Figura 62 - Representação esquemática da fotogrametria 92 Figura 63 - Igreja de São Miguel Arcanjo no Rio Grande do Sul 97 Figura 64 - Restituição fotogramétrica da fachada da Igreja de São Miguel Arcanjo no Rio Grande do
Sul
97
Figura 65 - Museu Paranaense em Curitiba 98 Figura 66 - Ortofoto da fachada do Museu Paranaense em Curitiba 98 Figura 67 - Restituição fotogramétrica do Museu Paranaense em Curitiba 98 Figura 68 - Castelo Garcia D’Ávila na Bahia 99 Figura 69 - Restituição fotogramétrica do Castelo Garcia D’Ávila 99 Figura 70 - Espectro Eletromagnético 101 Figura 71 - Kouros Getty, atestado pela fotografia ultravioleta como autêntico. 104 Figura 72 - Kouros falso que ao ser submetido a radiação ultravioleta revelou possuir uma cabeça
feita de gesso.
104 Figura 73 - Adoração dos Pastores 107 Figura 74 - Radiografia da pintura representada na Fig. 73, em que é visível uma pintura subjacente
representando o Pentecostes
107
Figura 75 - Adoração dos Magos 107 Figura 76 - Radiografia da pintura representada na Fig. 75, que mostra uma pintura subjacente
tendo como temática a Nossa Senhora do Rosário
107
Figura 77 Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVIII. A metade da esquerda apresenta o estado em que a obra encontrava-se em 1975; no lado direito a pintura apresenta-se parcialmente limpa, após o início da restauração
108
Figura 78 - Radiografia da pintura representada na Fig. 77, em que são observáveis duas pinturas subjacentes.
108
Figura 79 - Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVII, visível após o levantamento da pintura do século XVIII ilustrada na Fig. 77.
108
Figura 80 - Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVI, visível após o levantamento das pinturas dos séculos XVIII e XVII representadas, respectivamente, nas figuras 77 e 79.
108 Figura 81 - Etiqueta que não era possível ler à luz visível. 110 Figura 82 - Fotografia com auxílio do infravermelho, que identificou o rótulo da tinta como Rouge de
Venise preparado por Paul Denis
110
Figura 83 - Microfotografia de uma amostra de calcário tratada com Paraloid B72 e Dri film 104 111 Figura 84 - Amostra analisada 112 Figura 85 - Microfotografia da seção polida da amostra do azulejo 112 Figura 86 - Esquema em CAD da microfotografia apresentada na Fig. 85 112
RESUMO
O trabalho aborda a contribuição da documentação fotográfica histórica e cientifica de arquitetura para a preservação do patrimônio histórico. Traz considerações acerca da história da fotografia na Europa e no Brasil, focando em especial a fotografia de arquitetura, e sua importância como fonte documental para o estudo das transformações urbanas e arquitetônicas das cidades modernas. Enfoca também a aplicabilidade técnica da fotografia como auxiliar em levantamentos arquitetônico-topográficos e no acompanhamento de obras de restauro, bem como, no diagnóstico de degradações do patrimônio, a partir da combinação da técnica fotográfica com instrumentos especiais para obtenção de imagens, como o equipamento de raio-X, de radiação ultravioleta, de radiação infra-vermelha, de microscopia e de fotogrametria. E finalmente, trata da utilização da fotografia como uma importante fonte de pesquisa, enquanto suporte de memória e detentora de múltiplas informações visuais.
PALAVRAS-CHAVES: Fotografia, Conservação e Restauro, Patrimônio Histórico, Arquitetura
ABSTRACT
The work refers to the contribution of scientific and historical photographic documentation of architecture for the preservation of historical patrimony. It brings considerations about the history of photography in Europe and Brazil, focusing in particular on the photograph of architecture, and its importance as a source document for the study of urban and architectural transformations of modern cities. Also focuses on technical applicability of photography as an aid in architectural-topographical surveys and monitoring of works of restoration and, in the diagnosis of degradation of the patrimony from the combination of photographic technique with special instruments to obtain images, as the equipment X-ray, ultraviolet, infrared radiation, microscopy and photogrammetry. And finally, this use of photography as an important source of research, while support for memory and holder of multiple visual information. KEYWORDS: Photo, Conservation And Restoration, Patrimony History, Architecture
11
O Trampolim da Paria de Icaraí – RJ
Fonte: Vasquez, 2202b.
1 INTRODUÇÃO
Antes do surgimento da fotografia, as imagens do mundo nos
chegavam através da subjetividade de pinturas e desenhos. Essa representação
do real estava vinculada a capacidade artística de alguns poucos privilegiados. O
advento da fotografia veio conturbar esse quadro, apresentando-se como “a
imitação mais perfeita da realidade” (DUBOIS, 1993, p. 27). A pretensa
objetividade fotográfica causou, na sociedade do século XIX, entusiasmo, repulsa,
medo e admiração.
Desde o início, muitos viam a fotografia como uma imagem técnica,
um simples instrumento de registro, resultado da ação de um artefato mecânico,
que reservava um papel secundário ao fotógrafo, relegado ao papel de simples
manipulador do equipamento. Por outro lado, outros a viam como a mais perfeita
forma de representação artística, que libertou a pintura de sua busca obsessiva
pela reprodução perfeita do real. O fato é que a fotografia, considerada ou não
como arte, já nasceu com um caráter de reprodutibilidade, símbolo da era
industrial, um período efervescente de descobertas científicas e técnicas que,
décadas mais tarde, transformariam completamente o modo de viver do homem
ocidental.
12
A rapidez do registro, e a facilidade de reprodutibilidade da
fotografia, proporcionaram a sociedade moderna “conhecer” realidades que, até
então, eram desconhecidas. A fotografia se popularizou em retratos e
especialmente nos cartões postais de vistas de cidades e de monumentos. Isto
transformou a arquitetura em um dos temas preferidos dos fotógrafos, inicialmente
pela sua imobilidade, em um tempo em que a técnica exigia longos períodos de
exposição e, posteriormente, pelo seu poder expressivo e documental.
Fotografia e arquitetura passaram então a possuir estreitas relações,
sendo a fotografia um dos principais meios de registrar as mudanças e
permanências da arquitetura. Entretanto, a fotografia não se presta somente a ser
testemunha visual da história de um determinado edifício ou cena urbana, isto
ocorria antigamente, quando não se havia despertado para os benefícios da
técnica na elaboração de levantamentos arquitetônicos e diagnósticos precisos de
edificações.
O presente estudo apresenta as aplicações da técnica fotográfica
tanto na documentação de intervenções restaurativas em edificações de caráter
histórico-cultural como no diagnóstico de lesões ou alterações em bens móveis e
imóveis, assim como no levantamento e cadastramento de monumentos e bens
culturais.
Dividido em três capítulos, inicialmente, o estudo mostra como surgiu
a produção da fotografia histórica de arquitetura. Em seguida, aborda a utilização
da imagem fotográfica em pesquisas de cunho cientifico e, finalmente, discorre
sobre a aplicabilidade da técnica fotográfica nas atividades de conservação e
restauro do patrimônio histórico.
No primeiro capítulo, percorre-se a formação do acervo documental
fotográfico de arquitetura, surgido a partir dos primeiros registros em que as
paisagens naturais dividiam lugar com as edificações. Posteriormente, mostra-se
como a arquitetura passa a ter o papel destacado nas lentes dos fotógrafos,
promovido pelo rápido crescimento e transformações das cidades. Descreve
também a evolução da técnica e do repertório dos fotógrafos, especialmente
relacionado a fotografia de arquitetura, esta entendida como o registro do edifício
isolado, de conjuntos ou de vistas urbanas.
13
No segundo capítulo, discorre-se sobre a importância da utilização
da fotografia como fonte documental, enfocando a possibilidade do emprego
dessa técnica em pesquisas de cunho científico. Mostra a partir de que momento
a iconografia fotográfica passou a ter relevância para a história, assim como, as
ciências sociais e a arte tem utilizado as imagens fotográficas em suas pesquisas
científicas.
No terceiro capítulo, aborda-se a utilização da fotografia como
importante instrumento técnico e científico no diagnóstico, inventário e registro de
intervenções em monumentos históricos. Evidencia como a fotografia tem sido
vista por restauradores e técnicos que exercem atividades relacionadas à
proteção do patrimônio cultural. Demonstra a utilização de fotografia aliada a
tecnologias especiais como o raio-X, o infravermelho, o ultravioleta, a
microfotografia e a fotogrametria na conservação, proteção e restauro de bens
culturais.
Para tanto, o estudo reuniu uma ampla bibliografia relacionada a
história da fotografia, da fotografia de arquitetura e de sua utilização em pesquisas
de cunho científico. Buscou diversos exemplos de procedimentos restaurativos
que utilizassem a fotografia como base documental histórica, como registro dos
processos restaurativos, auxiliar no levantamento arquitetônico ou no diagnóstico
de danos ou intervenções desconhecidas para demonstrar.
14
Cartão postal do Teatro da Paz em Belém-PA
Fonte: Vasquez, 2002
2 ARQUITETURA E FOTOGRAFIA
O século XIX foi berço de transformações nunca vistas que
alteraram completamente o modo de viver e de pensar do homem oitocentista.
Esse clima de inquietação propiciou avanços técnicos em praticamente todos os
ramos do conhecimento humano. A Revolução Industrial desencadeou uma série
de descobertas que modificaram o modo de produção, afetando diretamente a
estrutura da sociedade e das cidades. As máquinas a vapor substituíram a força
humana nas fábricas, tornando-as mais produtivas. A aristocracia assistia, assim,
o surgimento de uma nova classe que enriquecia vertiginosamente, buscando o
status e o poder dos aristocratas: a burguesia.
A fotografia nascida no século XIX, e testemunha de todo essa
efervescência cultural, artística, estética, social, política, econômica e tecnológica
foi um dos meios de divulgação desse período, acompanhando as transformações
urbanas desencadeadas pela chegada da modernidade e pela utilização dos
novos materiais.
2.1 As Transformações Urbanas e o Olhar da Arquitetura
A arquitetura do século XIX refletiu a confusão que a sociedade
vivia:
15
“Esta arquitetura do século XIX afigura-se como um campo privilegiado para a compreensão de uma sociedade que, dividida entre o peso da tradição e a velocidade das transformações rumo ao futuro, buscava sua própria identidade e imagem. Esta arquitetura não ficou estranha ao impasse, nem à margem do processo através do qual a sociedade burguesa buscou afirmar-se; processo em que o passado aparece como uma referência permanentemente investigada. Ao contrário, pode-se até dizer que a arquitetura desempenhou um importante papel na definição de valores e de plásticas que moldariam a sensibilidade estética desta sociedade” (CARVALHO e WOLFF, 1998, p.133-134).
Dessa forma, a arquitetura precisou se ajustar aos novos conceitos
de morar, estudar, divertir-se, deslocar-se, enfim, às novas hierarquias sociais,
aos novos hábitos e aos novos conceitos de educação, justiça e saúde pública.
Esta nova ordem gerou novos espaços e formas de morar: os palácios em
versões reduzidas foram ocupados pela burguesia e surgiram novas edificações
como hotéis, cassinos e passeios públicos:
“Para cada um desses edifícios foi necessário criar uma imagem, e o passado funcionou como um manancial de referências. Mais que isso, propiciava a busca de expressões arquitetônicas que, de alguma maneira, integrassem o presente com o passado; que possibilitassem, através de formas já conhecidas, a aceitação do novo. O principal impasse artístico deste momento resulta da questão da conciliação entre passado e presente, arte e técnica, e artesanato e reprodutibilidade industrial”. (CARVALHO e WOLFF, 1998, p.134)
Assim, esse cenário de transição, originado pelo processo de
mudança e renovação da sociedade, propicia na arquitetura uma reflexão sobre
sua prática e teoria, que produz o surgimento de duas correntes distintas, uma
voltada para o resgate de escolas do passado, insistindo na produção artística
artesanal e, outra utilizando formas concebidas nos limites técnicos e estruturais
dos novos materiais.
A primeira corrente acreditava que a produção mecanizada e em
série, destruía a arte, que só seria salva utilizando-se formas artesanais. Na
prática, esse pensamento desencadeou uma série de procedimentos que se
reportariam à estética e a técnica de diferentes períodos da Idade Média e da
tradição clássica. O conceito de clássico nessa perspectiva engloba tanto a arte
greco-romana, quanto a arquitetura produzida a partir do Renascimento.
16
Um dos grandes representantes desse movimento foi o francês
Eugène E. Viollet-le-Duc, o arquiteto via no estilo gótico a síntese entre arte e
técnica. Acreditava que as obras que estavam sendo produzidas não estavam
em consonância com as reais necessidades de seu tempo, sendo muito mais uma
mistura de vários estilos, com identidade perdida. Sonhava com uma arquitetura
que seguisse o movimento intelectual e material de sua época. Para ele,
compreender os princípios das construções góticas e sua lógica estrutural, seria
essencial para a produção dessa nova arquitetura. Viollet-le-Duc (1996, p. 4)
criticava duramente os pastiches que reviviam estilos e formas do passado sem
se preocupar com as causas que os determinavam, por isso, condenava essas
arquiteturas que eram repetidas apenas por seus efeitos plásticos.
Com base neste mesmo pensamento, outro arquiteto que combateu
veementemente a industrialização foi John Ruskin. Afirmava que ela era
opressiva, alienante, desumanizante e, portanto, contrária à arte. Sua crítica à
arte foi também a crítica à sociedade. Acreditava que a questão central do
desenraizamento e desnaturação do homem moderno estava na divisão de
trabalho, gerado pela industrialização. Alegava que os homens não eram feitos
para trabalhar com a precisão dos instrumentos, porque para serem precisos e
perfeitos estariam se desumanizando.
Segundo ele, a verdadeira escravidão era aquela originada pelo
desejo de perfeição, isto sufocava o espírito humano, reduzia sua inteligência e
amarrava a uma máquina um corpo vivo. Afirmava que só o trabalho feito pelas
mãos humanas era capaz de dignificar e exprimir “livremente tanto a sua força
quanto sua fraqueza, o que resultará necessariamente na imperfeição típica do
gótico” (Ruskin, 1996, p. 4), imperfeição essa tão admirada por ele.
John Ruskin acabou por lançar as sementes do movimento Arts and
Crafts, influenciando Willian Morris e uma geração que pretendia reviver a
produção artesanal, por entender que a produção mecanizada gerava produtos
feios e decadentes (COLIN, 2000, p. 170).
17
Embasados em teorias distintas, John Ruskin, na Inglaterra, e
Viollet-le-Duc, na França, acreditavam que, através do resgate do passado,
especialmente do estilo gótico, surgiria uma nova arquitetura.
A École des Beaux-Arts de Paris, fundada em 1806, também
acreditava no resgate do passado para a elaboração de uma nova arquitetura,
contudo, tinha, em sua base de formulação teórica, os preceitos encontrados na
arquitetura clássica (MOURA FILHA, 2000, p. 51). Esse ícone da formação
acadêmica de significativa parcela de arquitetos europeus e americanos no século
XIX, também era contrária à industrialização.
Contudo, nem todos os arquitetos do período concordavam com a
premissa de que o passado deveria ser a fonte de inspiração para a criação de
uma nova ordem arquitetônica. Nesse bojo, surgiu então uma segunda corrente
arquitetônica que acreditava que apenas uma arquitetura limpa e despojada, cuja
forma estivesse ligada à função e às necessidades da era industrial que emergia,
e que utilizava os novos materiais e os avanços tecnológicos, podia representar
seu tempo. Surgiram fábricas, mercados, galpões, pontes, viadutos e estações
ferroviários, construídos com materiais como o ferro e o vidro, que criavam
desenhos e formas jamais imaginadas anteriormente.
O ferro tornou-se um dos símbolos dessa arquitetura que permitia a
reprodução em larga escala e, por causa de sua grande resistência a
compressão, as dimensões das peças foram reduzidas, tornando-se muito mais
esbeltas do que aquelas erguidas em tijolos ou pedras. Os edifícios construídos
em ferro foram largamente utilizados para curtas ocasiões, por isso possuíam
certo caráter de provisoriedade. Os maiores exemplos de edifícios construídos
para durações específicas foram os pavilhões de exposição, que facilmente eram
montados e desmontados. Essas edificações poderiam ser remontadas em
qualquer lugar, quantas vezes fossem necessárias. O Palácio de Cristal (Fig. 1),
projetado por Paxton para a Grande Exposição Internacional de Londres em
1851, foi o grande exemplo dessa arquitetura pré-fabricada e desmontável:
18
“O projeto de Paxton, todo ele em vigas de ferro e vidros transparentes, era seis vezes maior que a Catedral de Saint Paul e pretendia ser erguido no Hyde Park em apenas vinte e duas semanas, como de fato foi, para que a exposição fosse inaugurada na data prevista”. (TURAZZI, 1995, p.44)
Figura 1 – Interior do Palácio de Cristal, em Londres – 1851
Fotografia: John Mayall Fonte: Turazzi, 1995, p.167
Essa arquitetura, no entanto, foi vista com restrições por muito
tempo, especialmente por sua característica de efemeridade, aliada à alta
reprodutibilidade e à aversão de seus construtores em seguir as escolas
correntes, preferindo muito mais utilizar a forma ligada à função do que a padrões
estéticos. Esses edifícios foram duramente criticados pela burguesia que não os
considerava fruto do gênio arquitetônico, nem tampouco monumentos passíveis
de expressar os desejos de ostentação da classe e de sua época.
Apesar dos embates, Silva (1987, p. 26) acredita que uma das
causas da coexistência dessas duas correntes arquitetônicas deu-se por razões
de cunho econômico, pois uma parcela dessa nova classe enriquecida, que
emergiu, esforçou-se “por convencer a todos sobre o paraíso que seria o mundo
servido pelos produtos industriais de baixo custo”. No entanto, esse tipo de
arquitetura foi muito mais tolerado por ser uma inovação técnica do que por sua
pretensão estética.
19
Não é de se estranhar que o estudo da relação entre fotografia e
arquitetura seja recente, visto que, até bem pouco tempo a arquitetura executada
no século XIX não era reconhecida como arte e tampouco a fotografia possuía o
crédito de fonte documental consistente.
2.2 O Invento fotográfico
Desde os remotos tempos da origem do homem, enquanto ser
simbólico e único produtor intencional de imagens, foi conferido ao artista à
capacidade de reproduzir a natureza tal como esta lhe aparecia, ou alterá-la
segundo seu desejo. Essa capacidade adquirida pelo artista foi denominada por
muitos de dom e, concedeu ao pintor, como também ao escultor, deter uma
aptidão que os outros seres normais não possuíam: imitar a realidade e, ao
mesmo tempo, poder modificá-la.
Assim, o mundo era um espelho, visto através da ótica do artista.
Contudo, segundo Dondis (1991, p. 12), com o aparecimento da câmera
fotográfica no século XIX, tudo isso em todas as suas formas acabou-se. A
câmera vai constituir-se no último elo de ligação entre a capacidade inata de ver e
a capacidade de relatar, interpretar e expressar o que vemos.
A fotografia, diferente das outras manifestações artísticas até aquele
momento, surgiu dentro do sistema industrial, revolucionando o contexto da
produção artística. Essa nova concepção da realidade conturbou o mundo cultural
e artístico europeu, para uns a fotografia era a imitação mais perfeita da
realidade. Para outros, a fotografia matou o desenho e a pintura, porque se opôs
à obra de arte, produto do trabalho, do gênio e do talento natural do artista
(DUBOIS, 1993).
20
Embora as primeiras tentativas de fixar uma imagem num suporte
duradouro remetam ao início de século XIX, na Europa, e a invenção da fotografia
esteja creditada ao francês Louis Mande Daguerre, em 1839, a técnica nasceu de
dois princípios básicos, já conhecidos pelo homem há muito tempo: a câmara
escura e a existência de materiais fotossensíveis, substâncias a base de sais de
prata, que se sensibilizam ao contato com a luz.
Por essa razão, diversos pesquisadores defendem a idéia de que a
fotografia não foi descoberta por um único inventor, ela foi a síntese de diversos
experimentos e inventos, que manifestarem em conjunto no início do século XIX.
A câmara escura foi a primeira descoberta importante para a
fotografia. Ela seria um espécie de quarto estanque à luz, que possuía um orifício
de um lado e a parede à sua frente pintada de branco. Quando um objeto era
posto diante do orifício, do lado de fora, sua imagem era projetada invertida sobre
a parede branca (Fig. 2). O conhecimento dos seus princípios óticos é atribuído,
por alguns historiadores, ao filósofo grego Aristóteles (ABRIL CULTURAL, 1978,
p. 10).
Figura 2 - Esquema de uma câmara escura Fonte: http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/index.html
Durante a Renascença, a câmara escura recebeu o acréscimo de
uma lente no orifício, a fim de melhorar a qualidade da imagem, assim ela passou
a ser utilizada pelos artistas para captar imagens para pintá-las depois. Em 1573,
o astrônomo e matemático florentino Egnatio Danti, em “La perspecttiva di
Euclide”, aperfeiçoa a câmara escura utilizando um espelho para reinverter a
imagem.
21
A figura 3 mostra a ilustração de uma câmara escura sendo usada
por um pintor, que dentro dela, vê e desenha com facilidade as imagens de fora
que são projetadas nelas. A figura 4 demonstra o aperfeiçoamento do invento,
com a inserção de um jogo de lentes e espelho, transformando-a em um
mobiliário, e facilitando o desenho de observação de modelos.
Deste modo, munida desses avanços tecnológicos, a câmara
escura, começou a se tornar cada vez menor, até se transformar em algo portátil
(Fig. 5). No século XVII, reduzida ao tamanho de uma caixa, podia ser facilmente
carregada e foi muito utilizada por artistas como auxiliar de pintura (ABRIL
CULTURAL, 1978, p. 10).
Contudo, mesmo que a câmara escura possuísse a capacidade de
formar uma imagem satisfatoriamente controlável, não conseguia estabilizar a
imagem obtida. Assim, muitos de seus usuários buscaram um modo de fixar as
imagens de maneira permanente. Meta que só seria alcançada mais tarde com o
desenvolvimento da química.
Figura 3 - Grande Câmara Escura em forma de liteira de 1646, construída em Roma por Athanasius Kircher
Fonte: Oka & Roperto, 2002.
Figura 4 - Câmara escura em forma de mesa, 1769 Fonte: Oka & Roperto, 2002.
Figura 5 - Câmara escura tipo caixão com lente e espelho Fonte: Oka & Roperto, 2002.
22
Em 1604, o cientista italiano Ângelo Sala, observou que o composto
de prata escurecia quando exposto ao sol. Ele acreditava que o calor era o
responsável por este fenômeno. Mais de cem anos se passaram até que em
1727, o professor de anatomia Johann Schulze, da Universidade Alemã de Adolrf,
demonstrou que os cristais de prata halógena se transformavam em prata
metálica negra, ao receberem a luz, e não o calor como se acreditava (OKA e
ROPERTO, 2002).
Quem conseguiu pela primeira vez fixar uma imagem em um
substrato satisfatoriamente, foi o francês Joseph Nicéphore Niépce. A imagem foi
obtida da janela de sua casa, em 1826, a partir da exposição à luz de uma placa
de estanho com betume branco da Judéia, por aproximadamente oito horas. Esta
imagem é considerada a primeira fotografia da história (Fig. 6).
Figura 6 - Primeira fotografia de Niépce em 1826, França
Fonte: Oka & Roperto, 2002.
Niépce batizou esse processo de Heliografia, ou Escrita do Sol.
(ABRIL CULTURAL, 1978, p. 11). Nesse mesmo ano, associa-se a outro cientista,
Louis Jacques Daguerre, que também pesquisava maneiras de registrar e fixar
imagens na câmara escura. Em 1835, Daguerre descobriu que uma imagem
podia se revelar com o vapor de mercúrio, reduzindo a minutos o que levava
horas na exposição das placas.
“Conta a história que uma noite Daguerre guardou uma placa sub-exposta dentro de um armário, abrindo o armário, Daguerre constatou que a placa havia adquirido uma imagem de densidade bastante satisfatória, tornara-se visível. Em todas as áreas atingidas pela luz o mercúrio criava um amálgama de grande brilho, formando as áreas claras da imagem. Após a revelação, agora controlada,
23
Daguerre submetia a placa com a imagem a um banho fixador, para dissolver os halogenetos de prata não revelados, formando as áreas escuras da imagem. Inicialmente foi usado o sal de cozinha, o cloreto de sódio, como elemento fixador, sendo substituído posteriormente por Tiosulfato de sódio (hypo) que garantia maior durabilidade à imagem. Este processo foi batizado com o nome de Daguerreotipia (OKA e ROPERTO, 2002, p.9).
Contudo, Daguerre só divulgou o invento em 1839, na Academia
Francesa de Ciências, em Paris. Tornou-se reconhecido pela invenção e, por
causa disso, foi agraciado com uma pensão vitalícia do governo francês
(BUSSELLE, 1999, p.31).
Na Inglaterra, em 1841, Willian Henry Fox Talbot patenteou uma
nova forma de trabalhar com o registro fotossensível, o negativo.
“No ano de 1835, Talbot construiu uma pequena câmara de madeira, com somente 6,30 cm², que sua esposa chamava de ‘ratoeira’. A câmara foi carregada com papel de cloreto de prata e, de acordo com a objetiva utilizada, era necessário de meia a uma hora de exposição. A imagem negativa era fixada em sal de cozinha e submetida a um contato com outro papel sensível. Desse modo, a cópia apresentava-se positiva sem a inversão lateral. A mais conhecida nos mostra a janela da biblioteca de abadia de Locock Abbey, considerada a primeira fotografia obtida pelo processo negativo/positivo” (OKA e ROPERTO, 2002, p.13).
Talbot foi o responsável pelo primeiro processo fotográfico que
permitia a reprodutibilidade de um mesmo original, chamado de Calotipia. Em
1844, publicou o primeiro livro ilustrado com fotografias do mundo, “The pencil of
Nature”, com um total de 24 talbolitos originais.
O processo que veio a seguir foi chamado de Colódio Úmido,
inventado pelo inglês Frederick Scott Archer, em 1851. O inconveniente dos
processos por colódio era a utilização obrigatória de placas úmidas, que gerava a
necessidade de sensibilizar, expor e revelar a chapa de vidro no menor espaço de
tempo possível.
24
Em 1871, o médico inglês Richard Leach Maddox, usou nitrato de
prata em gelatina de secagem rápida. A placa seca de gelatina conservava a
emulsão fotográfica para uso após a secagem e aumentava a sensibilidade dos
haletos de prata, tornando a fotografia, finalmente instantânea. Rapidamente
surgiram várias indústrias para fabricar as placas secas de gelatina. (BUSSELLE,
1999, p. 32-33).
Os aperfeiçoamentos do processo fotográfico permitiram que o inglês
George Eastman, em 1888, emulsionasse o primeiro filme em rolo da história,
usando a sua câmera KODAK nº 1. O novo tipo de câmera projetada por Eastman
era leve e pequena, que carregava um rolo de papel para 100 exposições (OKA e
ROPERTO, 2002).
Esta técnica que possibilitou ao fotógrafo receber seus negativos,
cópias positivas em papel e a câmera com um novo rolo de 100 poses, tornaram
todos os processos anteriores obsoletos. Utilizando o slogan "Você aperta o
botão, nós fazemos o resto", a Kodak, tornou-se uma gigantesca empresa,
pioneira no avanço técnico da fotografia.
No contexto brasileiro, é importante destacar o trabalho
desenvolvido pelo francês Hercules Romuald Florence, em São Paulo. O francês
chegou ao Brasil em 1824. No período de 1825 a 1829, participou, como
desenhista, da expedição científica “Langsdorff”, que percorreu o Rio de Janeiro,
Mato Grosso, Grão Pará e São Paulo, para registrar a fauna e a flora brasileira.
(MONTEIRO, 2001, p.10).
Florence pesquisava fórmulas alternativas de impressão gráfica, por
meio da luz solar, em razão da falta de recursos na época. Queria reproduzir
graficamente as notas musicais que transcrevera de sons dos pássaros
brasileiros, estudados durante a expedição Langsdorff. Motivado por suas
experiências, chegou ao que chamou de “photographie”, palavra derivada do
grego photos que significa luz e grafhos que quer dizer escrita. Segundo Oka e
Roperto (2002) a descoberta da “photographie” aconteceu em 1832, anos antes
da descoberta de Daguerre.
25
2.3 Origens da Fotografia de Arquitetura
Ao iniciar esse sub-tema, é importante salientar, que ao utilizar-se o
termo fotografia de arquitetura, estar-se-á remetendo aos vários elementos
arquitetônicos e urbanos presentes na iconografia da cidade, tais como
edificações isoladas, conjunto de edifícios, elementos e equipamentos urbanos, a
relação entre eles e destes com o entorno e, inclusive, as vistas urbanas.
“ A arquitetura é arte, certamente; mas também é muito mais do que arte. É obra de um artista, mas ao mesmo tempo, é obra e testemunho de uma sociedade. É criação intemporal, mas só inteligível num tempo concreto e, em grande parte, como desafio às leis. É, em cada caso, uma obra singular porém, ao mesmo tempo, resume séculos e séculos de conquistas”. (EDICIONES DEL PRADO, 1996, p. 10)
Turazzi (1995, p. 15-16) em seus estudos descreve que no início da
fotografia, por volta dos anos de 1840, o tempo de exposição necessário para
realização de um daguerreótipo era de quinze minutos ao sol. O próprio Daguerre
considerava esta característica, como a principal barreira para a difusão de seu
invento, na arte de retratar pessoas. A imobilidade era um imperativo técnico tão
fundamental para o fotógrafo, que David Octavius Hill chegou a retratar seus
clientes em um cemitério, para que nada perturbasse o longo tempo de exposição
necessária para a nitidez e exatidão da imagem.
A arquitetura como criação do homem, traduz um sentimento de
permanência, de fixação, diferente da essência humana que é efêmera,
passageira. Talvez, por isso, a fotografia tenha utilizado desde sua gênese o
registro de edificações. Carvalho e Wolff (1998, p. 131) comungam dessa idéia,
acrescentando que essa imobilidade da arquitetura facilitava a fixação da
imagem, em um momento em que a técnica fotográfica exigia tempos de
exposição prolongados. Em contrapartida, a arquitetura utilizou-se do meio
fotográfico para divulgar e reproduzir com maior fidelidade sua nova imagem. As
autoras ressalvam que “a arquitetura é hoje conhecida, divulgada e interpretada
através de imagens fotográficas, assim como sua concepção é, em grande
medida, condicionada por uma percepção, também fotográfica.” (CARVALHO e
WOLFF, 1998, p. 133).
26
Assim, os registros de arquitetura, que tradicionalmente eram
realizados através do desenho, passam a contar com o novo recurso da
fotografia. Contudo, é importante destacar que a expressão do projeto de
arquitetura, da idéia, da proposta de realização, continuaria tendo no desenho seu
meio essencial de representação.
Robinson e Hershman citado por Carvalho e Wolff (1998, p. 138)
afirmam que quando os fotógrafos se interessaram pela arquitetura, o desenho
arquitetônico estava num de seus momentos mais dinâmicos. Na época,
pesquisas apontavam para um afastamento da linearidade e severidade que lhe
eram característicos, para um desenho que criasse uma ilusão de
tridimensionalidade e de uma atmosfera real, explorando recursos como o uso de
luz e sombras.
Dentro dessa intenção de captar melhor as estruturas
arquitetônicas, podemos afirmar que houve uma complementação entre as
fotografias e desenhos, em que ambos se beneficiaram. Nas imagens
fotográficas, havia a inspiração nas composições cujo enquadramento, distância
do objeto e ponto de vista do observador, remontavam a desenhos de fachadas e
perspectivas. Enquanto que os desenhos de arquitetura tentavam com o auxílio
da fotografia, aprimorar a expressividade e fidelidade de seus detalhes.
(CARVALHO e WOLFF, 1998).
Viollet-le-Duc (sd) citado por Carvalho e Wolff (1998, p. 139), por
exemplo, enalteceu as possibilidades da fotografia em revelar detalhes das
estruturas e de fornecer documentos de estados sucessivos de obras em
andamento. “(...) Nas restaurações nunca será demais, pois frequentemente
descobre-se no exame de uma prova fotográfica aquilo que não se havia notado
sobre o próprio monumento.” Para ele, na atividade de estudo e documentação, o
desenho foi superado pelo realismo e fidedignidade da fotografia.
27
John Ruskin, no princípio de sua carreira enaltece e se manifesta
positivamente quanto às potencialidades da fotografia para o registro fiel dos
monumentos existentes. Contudo, mais tarde, baseado em sua visão irredutível
em oposição à indústria, enquanto prejudicial à arte, é que situam suas críticas a
fotografia. Além de entender que em algumas imagens, havia a perda de precisão
informativa em zonas sombreadas.
“Com o século XX, as técnicas de reprodução atingiram um tal nível que estão agora em condições não só de se aplicar a todas as obras de arte do passado e de modificar profundamente seu modos de influência, como também de que elas mesmas se imponham como formas originais de arte.” (BENJAMIN, 2000, p.224)
Além disso, em primeiro lugar, com relação ao original, a reprodução
técnica surge como mais autônoma. Na fotografia, por exemplo, ela pode
ressaltar aspectos do original que escapam ao olho e só podem ser apreendidos
por uma câmera que se mova livremente para obter diversos ângulos de visão.
Em segundo lugar, a técnica pode transportar a reprodução para
situações nas quais o próprio original jamais poderia se encontrar. Ou seja, sobre
a forma de fotografia, ela permite aproximar a obra do espectador: assim a
catedral pode abandonar o seu espaço real para ir ao encontro de qualquer
pessoa.
No tocante as imagens fotográficas do século XIX, onde a
arquitetura comparece como tema central, complementar ou acessório, apesar de
toda a dedicação dos fotógrafos, que precisavam compensar a limitação técnica
do invento com imaginação, sensibilidade e audácia, pois:
“Para alcançar a reprodução fiel de seu objeto, o fotógrafo do século XIX precisou escolher criteriosamente o ponto a partir do qual a tomada seria realizada, a iluminação e os efeitos decorrentes de Iuz e sombras. Essas condições eram consideradas associadamente àquelas impostas pela pouca mobilidade dos equipamentos e às limitações das emulsões químicas que fixavam o tempo de exposição. Uma única chapa demandava um esforço considerável e um conhecimento bastante amplo dos recursos técnicos à mão e, ainda, de seus efeitos no resultado final da imagem. A fotografação do espaço interno da arquitetura, por exemplo, foi um passo duramente conquistado” (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 143).
28
Nas décadas seguintes ao invento, os fotógrafos buscaram recursos
dos desenhos arquitetônicos para expressar realismo nas imagens arquitetônicas,
utilizaram tomadas em perspectivas que possuíam a característica de conceder
massa e volume às estruturas. A tendência da fotografia de arquitetura desse
período sugeria muito mais uma influencia herdada do desenho técnico que das
artes plásticas.
Se o desenho nesse momento buscava expressar a arquitetura com
realismo, a fotografia detinha este recurso técnico, pois estava associada ao mito
da objetividade da representação, acreditando que ela teria o poder de reproduzir
automaticamente a aparência visual do mundo. A fotografia de arquitetura,
inspirada nos desenhos arquitetônicos, trouxe para perto, imagens de um mundo
longínquo, permitindo que se pudesse observar diversos edifícios que seriam
impossíveis naquela época.
O registro da paisagem urbana, entendida como intervenções
humanas no meio físico, resultando em uma ação coletiva, em contrapartida, foi
realizado, basicamente, de duas formas: um fragmentário e o outro panorâmico.
O primeiro registrava pequenas parcelas do espaço, como o edifício
isolado ou detalhes dele. As fotografias privilegiavam a espacialidade
tridimensional dos edifícios, o enquadramento frontal a altura do pedestre, os
planos de uma face, evitando-se assim distorções nas fachadas dos edifícios (Fig.
7). Vistas que intencionavam proporcionar a leitura exata e cuidadosa do que era
retratado, propiciando o reconhecimento do caráter fidedigno e até científico da
reprodução.
O segundo retratava a relação entre os edifícios, seus entornos e o
espaço público. A cena urbana é retratada muitas vezes de locais onde se
permite visualizá-las de uma ótica externa, afastada. O posicionamento da
câmera no nível dos olhos de um pedestre, por exemplo, propiciou uma
experiência de induzir o observador da imagem a sensação de penetrá-la, como
se estivessem no espaço retratado (Fig. 8)
29
Figura 7 – Biblioteca Imperial do Louvre, em Paris
Fotografia: Edouard-Denis Baldus Fonte: Carvalho e Wolff, 1998
Figura 8 – Pátio da École des Beaux Arts, Paris Fotografia: Charles Marville
Fonte: Carvalho e Wolff, 1998
30
Assim, conforme Carvalho e Wolff (1998, p. 151) a escolha dos
elementos a serem incluídos ou omitidos das fotografias de arquitetura, fossem
elas do edifício isolado, do detalhe arquitetônico ou dos conjuntos, estava
relacionado diretamente com as intenções do fotógrafo. Ressaltando sua
capacidade de síntese e de criação.
Como as principais fontes do imaginário do arquiteto da época, as
revistas e manuais especializados, se dedicavam a publicar apenas os desenhos
de projetos. Para o arquiteto, a fotografia tornou-se um arcabouço de
conhecimento e utilidade. Servia para fazê-lo conhecer monumentos em
diferentes partes do mundo, construídos em períodos e com técnicas diversas,
colaborando para diversificar sua visão de mundo. Isto fez do arquiteto um dos
mais ávidos colecionadores de fotografia.
O surgimento dos Álbuns Fotográficos e do cartão postal serão
quem realmente vai revolucionar o imaginário dos arquitetos, enquanto fonte de
inspiração, interesse particular por conhecimento de seu universo referencial,
importante aliado para o desenvolvimento de sua profissão. Tanto os álbuns,
quanto o cartão postal abordados mais adiante.
2.4 Fotografia de Arquitetura no Brasil
A história da fotografia de arquitetura brasileira ainda caminha para
ter suas páginas escritas:
“muitas pesquisas, que buscam reconstituir passos significativos da história da fotografia no contexto da cultura brasileira, têm sido realizadas. São estudos que recuperam acervos, identificam profissionais e que traçam panoramas gerais sobre a participação da fotografia na história do Brasil. As fotografias, assim resgatadas, são analisadas em primorosos estudos por seu caráter pioneiro, por suas características técnicas e para a recomposição da imagem de um país que, muito transformado, não existe mais. As fotografias antigas, que enfocam as estruturas urbanas especificamente, têm sido fonte documental extremamente cara a arquitetos e preservacionistas; têm servido de fonte segura para a recuperação parcial dos destroços da ação predatória e demolidora do século XX e permitido,
31
ainda, a compreensão de como se compunham determinados locais das cidades em alguns períodos. São interpretadas, assim, como um acervo de documentos úteis para a história social e da arquitetura, mas não propriamente da história da fotografia de arquitetura no Brasil.” (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 160)
2.4.1 Fotografia no Império
O Brasil conhece o daguerreótipo em 17 de janeiro de 1840, apenas
cinco meses após o anúncio oficial da “invenção”, pelo francês Louis-Jacques
Monde Daguerre feito em Paris. Ele chegou a nosso território através do abade
Frances Louis Compte, capelão do L’Orientale, navio-escola franco-belga que
dava a volta ao mundo e desembarcou na cidade do Rio de Janeiro. Assim,
Compte tirou os primeiros daguerriótipos em território brasileiro, que consistiu em
três vistas da região central da cidade do Rio de Janeiro, o Paço Imperial (Fig. 9);
o chafariz de Mestre Valentim; e o antigo Mercado da Candelária. (VASQUEZ,
2002a, p. 8).
Figura 9 – O Paço da cidade do Rio de Janeiro, 1840 – tirado pelo Abade Compte.
Fonte: Ferrez, 1997
Dom Pedro II, com apenas 14 anos na época, se interessou pelo
processo e, tornou-se o primeiro brasileiro a adquirir e utilizar um equipamento de
daguerreotipia, em março de 1840. O Imperador foi um dos grandes
incentivadores da fotografia no Brasil e, até hoje é considerado como a figura
central da fotografia brasileira no século XIX. Para Turazzi (1995, p. 18), “Ele foi,
na verdade, mais do que um admirador. Foi também adepto, mecenas,
colecionador e, sobretudo, responsável por grande parte do acervo relacionado
ao assunto existente em nosso país”.
32
D. Pedro II, por curiosidade e admiração pela fotografia, foi quem
reuniu a primeira coleção nacional de fotografia do Brasil. Por ocasião de seu
exílio, logo após a instauração da República em 1889, consciente da importância
de sua coleção de fotografias para a nação, ele doou o seu acervo pessoal à
Biblioteca Nacional, no qual reunia mais de 20 mil imagens registradas por
grandes mestres nacionais e estrangeiros.
“Essa coleção resume, melhor do que jamais poderia fazer este humilde escriba, a história da fotografias brasileiras oitocentista. Uma história admiravelmente escrita em imagens pelo próprio imperador Pedro II, o primeiro brasileiro a perceber, ainda infante, que o advento da fotografia era o marco inaugural de uma nova fase na história da humanidade” (VASQUEZ, 2002a, p.42).
Segundo os estudos Vasquez (2002a, p. 12) nos primeiros anos do
século XIX praticamente não existiam vistas do Brasil. Uma das causas era a
proibição mantida por Portugal da divulgação das terras colonizadas para seus
adversários europeus. No entanto, isso não impediu que alguns viajantes e
pintores locais retratassem a colônia e seus encantos. A pintura de paisagens, e
vistas de cidades, intensificaram-se com a chegada da Família Real Portuguesa,
na primeira década do século XIX, e com a Missão Artística Francesa que
desembarcou no Rio de Janeiro em 1816. Até a metade daquele século a
produção pictórica ainda era bastante incipiente. O alto custo e a demora na
elaboração das telas e a pequena produção de gravuras ou estampas, facilitou a
introdução e o estabelecimento da fotografia como uma nova técnica de registro
da realidade.
Turazzi (1995, p. 101) comenta que houve um incipiente
crescimento do mercado fotográfico, no Brasil, por volta de 1844, no Rio de
Janeiro, a cidade mais importante do Império. E o mercado dos retratos de família
ou de personalidades era o mais lucrativo no século XIX.
33
Kossoy (2002, p. 79-81) comunga com a mesma idéia, que no
século XIX no Brasil, o retrato foi a atividade comercial mais representativa para
os fotógrafos. Contudo, ele destaca que existiram outras temáticas que
contribuíram para a “construção” da imagem do Brasil. Dentre esse universo
temático podemos destacar as cenas de obras de implantação de estradas de
ferro (levantamentos topográficos, vistas de estações já terminadas,
assentamento de trilhos, etc.); as transformações urbanas (aberturas de vias
públicas, etc.); industrialização (edifícios industriais, detalhes da produção,
escritórios, etc.) e as obras de engenharia civil (edifícios, pontes, estradas,
remodelações portuárias, etc.).
Turazzi (1995, p. 103) relata que essa fotografia de paisagem, vistas
urbanas e de construções geralmente era realizada sob encomenda de
instituições públicas ou privadas. De qualquer modo, a autora destaca que foi
significativo o numero de fotógrafos que por iniciativa própria atuaram na
realização de registro da paisagem natural ou urbana, constituindo um dos mais
preciosos acervos iconográfico do Império brasileiro.
Inicialmente as fotografias de edificações no Brasil, via de regra, não
registravam a arquitetura isoladamente, essa era sempre acompanhada da
paisagem natural. Com exceção dos edifícios religiosos que, nesse período, já
possuíam importância e magnitude, a composição da arquitetura com a
exuberante natureza sempre era registrada conjuntamente.
Nos anos de 1860, iniciou-se o que se pode considerar um segundo
momento da fotografia de arquitetura nacional. Nessa época, os edifícios
começaram a ser fotografados isoladamente, não importando se eram antigos ou
recém construídos. O espírito renovador começava a ser registrado nas cidades,
especialmente através das novas construções urbanas. Para compor esse
quadro, além das edificações, fotografaram-se demolições, aberturas de vias,
construções de ferrovias, linhas de bondes, praças, entre outras obras realizadas
nos últimos anos do Império.
34
As primeiras cidades brasileiras a serem fotografadas foram
Salvador (Fig. 10), Recife e Rio de Janeiro, por serem os núcleos mais
desenvolvidos na época. Vasquez (2002a, p. 43), destaca ainda a cidade de
Belém como um dos núcleos onde a fotografia teve um crescimento expressivo.
Entretanto, foi sem dúvida no Rio de Janeiro que a produção fotográfica e a
concentração de profissionais encontraram um vasto campo para se
desenvolverem, especialmente por ser essa a sede da Corte, o centro político,
administrativo, econômico e cultural brasileiro.
Figura 10 – Paço Municipal de Salvador – 1870
Fotografia: J. Schleier Fonte: Fernandes Junior, sd.
Segundo Vasquez (2002a, p.14) na segunda metade do século XIX,
que iniciou uma ampla documentação da cidade do Rio de Janeiro de forma
sistemática foi o alemão Revert Henrique Klumb e o francês Victor Frond.
Henrique Klumb foi o pioneiro da fotografia estereoscópica ou
tridimensional, responsável por mais de 300 vistas dos principais monumentos e
logradouros públicos entre 1855 a 1862, sendo também o primeiro a se aventurar
a registrar a imagem do Alto da Boa Vista e da Floresta da Tijuca.
35
O francês Victor Frond fotografou a cidade do Rio de Janeiro (Fig.
11) a partir de 1858, fazendo dela um dos principais temas do primeiro livro de
fotografia realizado na América Latina o Brazil Pittoresco, editado em 1861.
Pontos como a zona portuária, o Mosteiro de São Bento, o Outeiro da Glória, o
Mercado da Cidade, os Arcos da Carioca, a Santa Casa de Misericórdia, a antiga
residência do Imperador a Quinta da Boa Vista, a sede do governo imperial o
Largo do Paço e o Pão de Açúcar. (VASQUEZ, 2002a, p.15).
Na Bahia, sobressai-se a obra do inglês Benjamin Mulock que
fotografou paisagens, igrejas e edifícios públicos entre os anos de 1858 a 1861,
retratando a antiga capital da colônia de maneira inusitada (Fig. 12). Ferrez (1988,
p. 13) relata que:
“Ao fotografar ruas, Mulock tinha o hábito de se colocar bem em frente e no meio do início delas. Não se importava se havia pessoas atravessando o campo da foto, que acabavam por parecer fantasmas: é que ainda não existia o instantâneo”.
Figura 11 – Aqueduto de Santa Teresa e Casario da Lapa – 1859 Fotografia: Victor Frond
Fonte: Fernandes Júnior e Lago, sd
36
Figura 12 – Palácio da Associação Comercial na Bahia – 1860 Fotografia: Benjamin Mulock
Fonte: Ferrez, 1988
Na década de 1860 sobressaiu-se o suíço George Leuzinger que
editou um catálogo contendo cerca de 330 vistas do Rio de Janeiro, Petrópolis,
Teresópolis e Friburgo, que eram comercializadas em diversos formatos (Fig. 13).
Com essa iniciativa, Leuzinger sistematizou a venda desse tipo de fotografia no
Brasil, e inauguram fotos que Vasquez (2002a, p. 18) acredita ter sido as
antecessoras dos cartões postais brasileiros.
Figura 13 – Cais e Mercado da Glória no Rio de Janeiro – 1867
Fotografia: George Leuzinger Fonte: Fernandes Junior e Lago, sd.
37
O alemão Augusto Stahl foi um dos mais criativos fotógrafos
paisagistas do período imperial que “não se curvava às regras clássicas de
composição impostas pela tradição instaurada com a pintura, procurando
representar o mundo com uma nova visão, essencialmente fotográfica”
(VASQUEZ, 2002a, p.16).
Na Província de Pernambuco, Stahl documentou a construção da
segunda ferrovia brasileira, que ligava as cidades do Recife e do Cabo. Registrou
os manguezais, as fazendas do interior e as belezas arquitetônicas e urbanísticas
da cidade do Recife. Deixou imagens do centro do Rio e das regiões de Botafogo,
Jardim Botânico e Catumbi.
O italiano Camillo Vedani é outro destaque entre os profissionais da
época com trabalhos que mostram diversas vistas do Rio de Janeiro como a
Fortaleza de São José na Ilha das Cobras, a Igreja da Candelária com a cúpula
ainda em construção e a vista do Largo do Paço, este último é considerado o seu
melhor trabalho.
“(...) Nessa única imagem ele soube demonstrar todo o seu talento, afiado em anos de prática do desenho, elaborando uma composição irretocável, na qual as linhas diagonais das canaletas embutidas no calçamento dialogam admiravelmente com aquelas formadas pelo prédio do Paço e por outros elementos secundários do enquadramento- uma fotografia que é uma verdadeira aula de perspectiva e composição.” (VASQUEZ, 2002a, p.18 ).
No entanto, um dos mais importantes fotógrafos do Império foi, sem
dúvida, o carioca Marc Ferrez, cuja vasta produção rendeu-lhe a reputação de
fotógrafo especialista em vistas do Brasil. Membro da Comissão Geológica do
Império entre os anos de 1875 e 1877 viajou de norte a sul retratando o Brasil e
fazendo parte do maior projeto de produção de documentação fotográfica de
cunho científico do período imperial. Essa Comissão Geológica era formada por
diversos cientistas sob o comando do professor da Universidade Americana da
Cornell Charles Frederick Hartt e tinha como objetivo a formulação das “bases
para o estudo geológico do Império” (TURAZZI, 2000, p. 19).
38
Fotografou todos os aspectos paisagísticos, urbanísticos e humanos do Rio de Janeiro (Fig. 14). Registrou todas as embarcações que viriam a tomar parte na Revolta da Armada, por ser o único profissional a merecer o título de Photografo da Marinha Imperial. Foi sem dúvida o profissional que mais circulou pelo Brasil durante o século XIX.
Figura 14 – Escola Militar de Botafogo - RJ – 1890
Fotografia: Marc Ferrez Fonte: Turazzi, 2000.
Na província de Minas Gerais documentou em profundidade os trabalhos de mineração. Foi o primeiro fotógrafo a registrar os trabalhos da siderurgia na usina de Boa Esperança, bem como a extração do ouro em mina fechada. No Recife registrou os imponentes navios de dois ou três mastros ali atracados e ainda detalhes dos recifes para a expedição científica Charles Frederick Hartt, que visam subsidiar os trabalhos da Comissão Geológica do Império, em 1875. Em São Paulo registrou o porto de Santos e do Paraná, onde acompanhou a conclusão da estrada-de-ferro Paranaguá-Curitiba em 1879.
Em Belém, na Província do Grão Pará, capturou as imagens das
docas do Reduto, - maior construção local, uma poderosa e esguia estrutura metálica de 53 metros acima do solo - e o recém-construído Teatro da Paz, cuja beleza neoclássica é incontestável e é um dos marcos históricos da riqueza trazida pela exploração da borracha na Região Norte. Também na capital do Pará destaca-se a figura de Felipe Augusto Fidanza, que iniciou suas atividades em 1867 e fotografou importantes monumentos como o Palácio do Governo e a Igreja da Sé. (VASQUEZ, 2002a p.19-20 ).
39
O maior destaque de São Paulo foi o fotógrafo Militão Augusto de
Azevedo, que por cerca de 25 anos de profissão fotografou quase 13 mil pessoas.
Militão encerrou sua carreira em grande estilo com a publicação do “Álbum
comparativo da cidade de São Paulo: 1862-1887”, em 1887, a obra mostra a
evolução urbana sofrida nesse decurso de tempo por São Paulo, que no início
não passava de uma cidadezinha de casas baixas e com poucas dezenas de
ruas.
Os trabalhos desses primeiros profissionais serviram para registrar
todo o lapso de tempo entre o Brasil Império e o Brasil Moderno, sem dúvida,
devem-se a eles os méritos de captar o instante e elevá-los à eternidade.
2.4.2 Os Primeiros Anos da República e a Consolidação da
Fotografia
Foi nos primeiros anos da República que a fotografia de arquitetura,
definitivamente, se consolidou no País. A produção nacional do início do século
XX caracterizou-se por espelhar-se, como anteriormente, nos desenhos
arquitetônicos, registrando imagens em que os edifícios eram fotografados de
modo a destacar as fachadas, seja em vistas frontais ou em perspectivas,
imitando o repertório utilizado na Europa, a partir da segunda metade do século
XIX (CARVALHO e LIMA, 1997, p. 99).
O começo do século XX no Brasil foi marcado pelas grandes
realizações urbanas, baseadas no discurso republicano que queria imprimir nas
velhas e insalubres cidades coloniais a marca do novo regime: uma cidade
renovada, moderna, civilizada (FLEXOR, 1998, p. 113). Para isso, diversas
cidades, como o Rio de Janeiro, Salvador e Belém passaram por drásticas
renovações urbanas que destruíram o antigo tecido das cidades, motivadas pelo
progresso e pela higienização, requeridos pelos ideais positivistas do novo regime
(Fig.15).
40
Figura 15 – Avenida Central no Rio de Janeiro – 1910
Fotografia: Marc Ferrez Fonte: Turazzi, 2000.
Um dos ícones desse período foi o fotografo suíço, Guilherme
Gaensly, cujas fotografias, reproduziam fachadas sem distorções e que eram
obtidas pelo seu posicionamento em torres ou sacadas de edificações. Augusto
Malta também se sobressaiu na produção de vistas cariocas no início do século
XX, e por muito tempo foi o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Figura 16 – Arsenal da Marinha e Zona Portuária do Recife – 1875
Fotografia: Guilherme Gaensly
Fonte: Fernandes Junior e Lago, sd.
41
O carioca Marc Ferrez também teve uma significativa produção nas
primeiras décadas do século XX. Foi ele quem realizou um dos mais admiráveis
serviços de acompanhamento fotográfico de obras no País: entre os anos de
1903 a 1906 foi contratado pela Comissão Construtora da Avenida Central, no Rio
de Janeiro para registrar a implantação do projeto. Nessa incursão foram
fotografados, do projeto á obra pronta, destacando-se as tomadas fotográficas
das fachadas, que reproduziram, com perfeição, os ângulos dos desenhos
arquitetônicos (Figs. 17 e 18)
Figura 17 – Projetos arquitetônicos de edifícios na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1903
Fotografia: Marc Ferrez Fonte: Carvalho e Wolff, 1998.
42
Marc Ferrez foi um dos mais importantes nomes da fotografia
brasileira, ao longo de cinco décadas, um dos únicos fotógrafos que se
sobressaiu, tanto no tempo do Império, quanto nos primeiros anos da República.
Quase todas as inovações por que passou a fotografia ao longo dos anos em que
atuou como fotógrafo (1867 a 1923) puderam ser visualizados em sua produção.
Ferrez experimentou os negativos do colódio úmido, as provas albuminadas, as
placas secas e a autocromia.
Figura 18 – Edifícios concluídos na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1906 Fotografia: Marc Ferrez
Fonte: Carvalho e Wolff, 1998.
43
Essas transformações das cidades brasileiras, em nenhum
momento preocuparam-se com a manutenção de monumentos importantes, já
que no Brasil até aquele momento, não havia a noção de patrimônio histórico. As
primeiras décadas do século XX vêem a valorização da arquitetura vernacular,
quando o movimento neo-colonial quis instituir um estilo ligado à tradição
arquitetônica local.
Nesse movimento, Mário de Andrade, Wasth Rodrigues e Rodrigo
Melo Franco de Andrade contribuíram, sobremaneira, para o desenvolvimento de
um inventário da arquitetura brasileira, lançando as primeiras sementes para a
criação do órgão responsável pela preservação do patrimônio brasileiro, hoje
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Criado em 13 de
janeiro de 1937, com o nome de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – SPHAN, o órgão surgiu para inventariar, fiscalizar, orientar e garantir a
preservação de monumentos e sítios históricos, manifestações culturais, além de
possuir o poder de tombamento desse patrimônio do Brasil.
Malhano (2002, p.139) diz que a fotografia sempre esteve presente
nas ações do Instituto para a catalogação e salvagarda do patrimônio brasileiro.
Em 1939, ao realizar a primeira viagem de inspeção aos monumentos históricos
pelo SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade levou consigo o fotógrafo Erich
Hess. Nas viagens seguintes, realizadas por Rodrigo de Melo Franco e pelos
seus funcionários, para a realização do inventário do acervo cultural brasileiro, a
fotografia era uma das importantes formas de registro e documentação do
patrimônio.
44
2.5 Os Cartões Postais
Com a popularização da fotografia, logo se difundiu a prática de se
colecionar reproduções que variavam de retratos feitos por encomenda, a retratos
de personalidades, vistas de cidades ou lembranças de viagens. O cartão postal
adotou a fotografia e, em seguida, apareceram os colecionadores que
impulsionaram a produção dos ateliês fotográficos e das editoras que
aproveitaram a novidade para lançar diversas coleções especialmente ligadas à
vistas urbanas, reproduções de obras de arte ou a “pessoas importantes” ou
datas comemorativas.
Enquanto fonte de inspiração e referência, as origens do cartão
postal remontam aos cartões de voto, na China no século X e aos billets de visite,
utilizados no Renascimento, onde ambos se prestavam a inscrição de pequenas
mensagens. (ZEYONS apud MIRANDA, 1998, p. 13).
No entanto, a criação do cartão postal ocorreu em Viena, no dia 26
de janeiro 1869, graças ao austríaco Emannuel Hermann que lançou um novo tipo
de correspondência (Fig. 19), mais barata e simples, através de um artigo
intitulado “Acerca de um novo meio de correspondência postal” publicado no
“Neuen Freien Presse”.
“Era um cartão castanho claro, em cartolina dura sem ilustração, trazendo impressas no anverso, em arco, a inscrição “Correspondenz Karte” e o selo de 2 Neukreuger, além do tracejamento para o endereçamento. No reverso, apenas o espaço para a mensagem e a advertência do correio de que não se responsabilizaria pelo teor da correspondência”. (MIRANDA, 1998, p. 13)
Utilizado, em sua gênese, como uma forma simplificada de
comunicação, o cartão postal representou uma revolução no sistema postal
mundial. Na maioria dos países, as correspondências eram pagas pelo
destinatário no recebimento da encomenda. Por vezes, o recebedor recusava-se
a aceitar a correspondência por não poder pagar por ela, já que o preço variava
de acordo com a distância percorrida e, em geral, era alto demais.
45
Figura 19 – Correspondez-Karte, o primeiro cartão postal – 1869
Fonte: Vasquez, 2002b, p. 27
Apesar de ser uma correspondência aberta sua aceitação foi
imediata e, rapidamente se disseminou pelo mundo. Em apenas três meses de
criação, quase 3.000.000 de unidades de postais foram vendidas na Áustria
(VASQUEZ, 2002b, p. 25).
As ilustrações apareceram nos cartões postais no ano seguinte de
sua criação, em 1870, com os cartões de Besnardeau, sobre a guerra franco-
prussiana (MIRANDA, 1998, p.14). No entanto, na Inglaterra as impressões
ilustradas e particulares foram autorizadas apenas em 1894. Até essa data, toda a
produção estava ligada às Instituições Postais Oficiais.
A revolução postal encontrou na expansão dos meios de transporte
um dos maiores aliados na difusão de informações e no deslocamento de
pessoas. As viagens tornaram-se, cada vez mais comuns, deixando de ser
prerrogativa exclusiva da aristocracia.
46
O hábito de viajar consolidou a prática de se enviar cartões, no
entanto, diversos usos contribuíram para a difusão desse tipo de correspondência
no mundo: em períodos de guerra, o postal foi intensamente utilizado como um
instrumento seguro para o envio de noticias a parentes, visto que esse tipo de
correspondência praticamente não ficava retido pela censura. Usava-se para
enviar felicitações por datas festivas, condolências por falecimentos ou
simplesmente para enviar mensagens a amigos, contudo, foram os enamorados
que se destacaram na utilização dos postais em seus primeiros anos de criação.
Inicialmente, a frente do postal era destinada ao endereçamento e o
verso à mensagem. Com o surgimento dos cartões ilustrados, convencionou-se
considerar como parte frontal a face ilustrada e a mensagem passou a dividir,
com o endereçamento, o verso do cartão. A configuração conhecida atualmente,
foi criada por Frederick Hartmann, em 1902, que dividiu o verso do cartão em
duas partes (Fig. 20), deixando a área esquerda em branco para a mensagem e a
direita com um retângulo, no canto superior direito e três linhas horizontais para o
endereçamento (VASQUEZ, 2002b, p. 33).
Figura 20 – Frente e verso do cartão postal da Enseada de Botafogo - 1911 Fonte: Vasquez, 2002b
47
Segundo Vasquez (2002b, p. 56) o postal chegou através do
Decreto n.º 7695, de 28 de abril de 1880, autorizado pelo ministro da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas Manuel Buarque de Macedo, responsável pela
circulação dessa nova forma de correspondência para o Império (Fig. 21). O
cartão-postal ilustrado contendo vistas do Brasil, só é introduzido cerca de 20
anos depois, na série Sud-Amérika, de Albert Aust, de Hamburgo. Impressa no
exterior, essa série chega ao País e é lançada em Recife, Salvador, Paraná, Pará
e Rio de Janeiro.
Nas primeiras décadas do século XX, os postais acompanharam as
transformações urbanas das cidades brasileiras, a reforma de Pereira Passos no
Rio de Janeiro, J. J. Seabra, em Salvador, e Antônio Lemos, em Belém, foram
retratadas pelos fotógrafos e estampadas nos postais. Os governantes
aproveitavam a publicidade para divulgar suas realizações.
A beleza do cartão-postal tornou-o um objeto de colecionismo, que
propiciou logo depois o surgimento dos primeiros álbuns especializados para
armazenar postais, derivados dos álbuns de retratos fotográficos que em décadas
anteriores tinham sido uma coqueluche na Europa.
Figura 21 – Bilhete postal pré-selado, um dos primeiros postais do Brasil – postado a 24/07/1893
Fonte: Vasquez, 2002
48
Figura 22 – Cartão postal da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro – postado a 15/11/1898
Fonte: Vasquez, 2002
Figura 23 – Cartão postal do Ver-o-Peso em Belém – postado a 18/03/1908 Fonte: Vasquez, 2002
49
Figura 24 – Cartão postal da construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro – 1930 Fonte: Vasquez, 2002
2.6 Os Álbuns Fotográficos
Nesse mesmo contexto, surgiram os cadernos criados
especialmente para organizar e guardar as coleções pessoais que eram
chamados de cadernos-álbum. Para Carvalho e Lima (1997, p. 19) as origens do
álbum datam do século XIX. Eles eram ilustrados, inicialmente com ornamentos
apenas nas capas, mas, aos poucos, a decoração foi migrando para o interior de
suas páginas. O álbum, enquanto publicação surgiu com o propósito de reunir
reproduções sobre temas específicos, sobrepondo a imagem visual ao texto (Figs.
25, 26 e 27).
50
Neste trabalho, interessa-nos, sobretudo, os álbuns destinados a
apresentar aspectos de cidade, suas paisagens, construções e transformações.
A idéia de álbum de cidade tem como pressuposto a tentativa de apresentar uma síntese, ou seja, um conjunto articulado daquilo que foi selecionado como representativo dos grupos e lugares urbanos. (CARVALHO e LIMA, 1997, p. 19)
Figura 25 – Álbum Obras do novo abastecimento Figura 26 – Álbum Estrada de ferro do Paraná - 1884 de água no Rio de Janeiro - 1879/1882 Fonte: Turazzi, 2000 Fonte: Turazzi, 2000
O potencial promocional que a fotografia arquitetônica detinha,
também foi explorado por arquitetos, construtores e contratantes. Os álbuns de
Francisco de Paula Ramos de Azevedo são um exemplo de como a fotografia
podia divulgar trabalhos, profissionais e técnicas construtivas (CARVALHO &
WOLFF, 1998, p. 165). A administração pública, por sua vez, encontrou neles um
meio de divulgar suas obras e ações, em prol da promoção pessoal ou para
prestar contas a população de seus atos.
51
Na cidade de São Paulo, o primeiro álbum que retratou as
transformações urbanas ocorridas, a partir da segunda metade do século XIX, foi
o Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo, 1862-1887, de Militão Augusto de
Azevedo, datado de 1887 (Fig. 27). Ele utiliza fotografias produzidas em 1862
como contraponto as novas imagens, registradas em 1887, tendo como referencia
os mesmos locais. (CARVALHO e LIMA, 1997, p. 20).
Figura 27 – Rua Direita – 1862
Fotografia: Militão Augusto de Azevedo Fonte: Fernandes Júnior, sd.
Exemplos como o de Militão Augusto de Azevedo podem ser
encontrados em diversas cidades o país. No Rio de Janeiro, como relatado
anteriormente, Marc Ferrez foi contratado para acompanhar fotograficamente a
obra de construção da célebre Avenida Central. Entre os anos 1903 e 1906, o
fotógrafo fez um dos mais completos trabalhos documentais realizados em obras
no Brasil do início do século XX. (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 166).
52
Segundo Vasquez (2002b, p. 67), as exposições nacionais,
ocorridas no Rio de Janeiro em 1908 e 1922, para comemorarem o centenário da
Abertura dos Portos às Nações Amigas e o Centenário da Independência do
Brasil, respectivamente, também foram marcos significativos na história do cartão
postal e álbuns brasileiros, especialmente pelo número e diversidade de postais
editados (Figs. 28, 29 e 30).
Figura 28 – Exposição Nacional no Rio de Janeiro 1 – 1908
Fonte: Vasquez, 2002b
Figura 29 – Exposição Nacional no Rio de Janeiro 2 – 1908 Fonte: Vasquez, 2002b
Um dos últimos trabalhos, realizados na fase áurea dos postais
nacionais, foi o álbum contendo vistas monumentais de escolas paulistas, lançado
pelo governo de São Paulo, em 1929, para promover a imagem de alta qualidade
na educação pública do Estado e de suas instalações.
53
Figura 30 – Exposição Nacional no Rio de janeiro – 1922
Fonte: Vasquez, 2002b
2.7 A Moderna Fotografia de Arquitetura
O estabelecimento da estética moderna na fotografia ocorreu nas
primeiras décadas do século XX. Na Europa, a fotografia aliou-se aos diferentes
movimentos de vanguarda, em especial ao construtivismo, para questionar o
estatuto da arte na sociedade moderna. Nos Estados Unidos, a fotografia
moderna surgiu a partir de um questionamento interno ao pictorialismo,
inaugurando a discussão sobre a fotografia como linguagem autônoma. O que
parecia ser simples experiências de alguns profissionais resultou numa intensa
atividade questionadora praticada por toda uma geração de fotógrafos.
O olhar modernista abandonou definitivamente os temas ligados à
paisagem natural e bucólica para ir em busca da cidade e da arquitetura
modernas. A nova aproximação da fotografia ao campo artístico dá-se na
exploração dos efeitos de luz e no enquadramento inusitado.
54
Carvalho e Lima (1997, p. 101-104) relatam que a formação dessa
estética surgiu por meio de vários motivos distintos. O primeiro estaria relacionado
à contribuição, nos Estados Unidos, em 1907, do fotógrafo Alfred Stieglitz que
abandonou o pictorialismo, um movimento do final do século XIX contrário a
objetividade da fotografia, que na tentativa de aproximar-se da arte, davam as
fotos aparências de pintura, por meio da manipulação de imagem com materiais
de pintura.
Alfred Stieglitz buscou um tratamento inovador para a fotografia,
procurando produzir imagens cujos aspectos formais e materiais derivavam dos
efeitos produzidos pela luz nas obras. Um dos principais temas que Stieglitz
utilizou foram os arranha-céus de Nova York.
O segundo motivo diz respeito à aproximação da fotografia com o
construtivismo, na Alemanha e na Rússia, um dos principais movimentos de
vanguarda artístico da arte moderna, que eram motivados com a idéia que o
artista podia suprir as necessidades físicas e intelectuais da sociedade como um
todo, relacionando-se diretamente com a produção de máquinas, a engenharia
arquitetônica e com os meios gráficos e fotográficos de comunicação (SHARF,
1991, p.116).
Na Alemanha, na década de 1920, esse contato é feito, através da
adoção da temática dos arranha-céus e da arquitetura moderna, por fotógrafos
amadores e profissionais vinculados à Bauhaus. Pode-se destacar os nomes de
Gerd Balzer e T. Lux Feininger, que trabalham o tema do edifício utilizando a
rotação de eixo, o recorte radicalmente fragmentado, a exploração de luz e
sombras e a tensão produzida pelas linhas obliquas para criarem imagens quase
abstratas.
55
Em Moscou, os fotógrafos da Wchutema, ou Vkhutemas, escola
fundada em 1918, no qual participaram ministrando oficinas de trabalho El
Lissitsky e Alexander Rodchenko, dentre eles, Laszlo Moholy-Nagy abordaram os
edifícios e panorâmicas urbanas através de direções acentuadamente obliquas,
feitas por tomadas de vistas de cima para baixo, rotações de eixo e aproximações
exageradas. Rodchenko classificou esse novo dinamismo composicional de
“nova fotografia”, porque quebrava com o velho ponto de vista clássico da
fotografia, que captava a paisagem a partir do solo e olhando para frente, numa
direção reta (Fig. 32).
Essa nova forma de representação fotográfica, no construtivismo
soviético tinha como base a influência da fotografia aérea. Dubois (1993, p. 265),
diz que a obra fotográfica construída por Moholy-Nagy baseava-se na
“contracomposição”, em que os edifícios eram fotografados de um ângulo superior
que permitia diminuir a cena.
E, finalmente, a terceira causa relaciona-se ao avanço tecnológico
das câmeras portáteis, a partir da metade da década 1930. O surgimento das
câmeras de mão, que não necessitavam do uso de tripé, permitiu maior
versatilidade do fotógrafo na obtenção de novos ângulos e na produção de
fotografias inovadoras. Outras inovações, também, contribuíram para facilitar o
manuseio da máquina como, o aparecimento do filme em rolo, a regulagem na
abertura do diafragma e na velocidade do obturador.
56
Figura 31 – Arranha-céus – 1935 Figura 32 – “balconies” - 1935 Fotografia: Alfred Stieglitz Fotografia: Alexander Rodchenko Fonte: www.masters-of-photography.com/ Fonte: www.masters-of-photography.com/
Para Carvalho e Lima (1997, p.101) os recursos formais,
empregados na linguagem da moderna da fotografia de arquitetura, já eram
encontrados na produção nacional das décadas de 1920 e 1930, assim como, nos
álbuns da década de 1950 da cidade de São Paulo, nos quais é possível
identificar as influências surgidas no início do século XX, na Europa e nos
Estados Unidos, bem como, dos repertórios de fotógrafos do século XIX. As
autoras destacam que, uma das características da estética moderna da fotografia
de arquitetura, que era o de evidenciar o registro do edifício por meio de um
enquadramento inovador, era encontrada nessa produção.
“A subtração do ambiente urbano, a ênfase na plasticidade do edifício em detrimento da percepção do conjunto estrutural, o uso quase abusivo das tomadas fragmentadas, a valorização da altura, o emprego da justaposição, a consciência das possibilidades oferecidas pela composição visual para organização do espaço urbano representado e para a produção de sentido e, finalmente, a tendência ao abstracionismo são procedimentos largamente utilizados neste século, especialmente nas décadas de 1920 e 1930” (CARVALHO e LIMA, 1997, p.101).
57
No Brasil, o movimento fotoclubismo, foi um dos pioneiros na
inovação da linguagem fotográfica brasileira, ocasionando uma profunda
renovação das bases conceituais da fotografia. Os primeiros fotoclubes surgiram
no início do século XX, mas somente, a partir da década de 1930, e que eles
passaram a ter um destacado papel no desenvolvimento e no aprimoramento
técnico dos fotógrafos nacionais. Os principais fotoclubes brasileiros foram o
Photo Club Brasileiro, fundado no Rio de Janeiro em 1923, e o Foto Cine Clube
Bandeirante, fundado em 1939, em São Paulo.
Foi no interior do Foto Cine Clube Bandeirante que a moderna
fotografia de arquitetura brasileira desenvolveu-se com maior intensidade. Em
1950, a crítica de revistas especializadas chamou as produções oriundas do Foto
Cine Clube Bandeirante de Escola Paulista, a partir daí, surgia uma fotografia
urbana em busca da autonomia formal, que chegava aos limites do
abstracionismo, utilizando motivos fragmentados, aproximações exageradas do
objeto, direções oblíquas e imagens com forte contraste de luz e sombra.
Segundo Lima (1997, p.104) os seus representantes foram Eduardo Salvatore,
Gaspar Gasparian, José Reis Filho, Marcelo Giró, Geraldo Barros, German Lorca,
Thomas Farkas, José Oiticica Filho (Figs. 33, 34, 35 e 36), entre outros.
Essa nova visão da fotografia de arquitetura, baseada na estética
moderna, aproximou-se da arte e distanciou-se da objetividade encontrada nas
fotografias históricas, que buscavam o realismo na representação das formas.
Dessa maneira, a fotografia moderna, assim, subverteu a visão
perspectiva do edifício, e estabeleceu uma forte ambigüidade entre figuração e
abstração por meio da geometrização, da ênfase dos ritmos repetitivos de certos
elementos, dos jogos de luz e sombra contrastantes. Estabeleceu-se assim, uma
nova forma da fotografia arquitetônica, que explorava as linhas, os planos, os
detalhes dos modernos edifícios.
58
Figura 33 – Sem titulo Figura 34 – Um que passa - 1953 Fotografia: Gaspar Gasparian Fotografia: Jose Oiticica Filho Fonte: www.itaucultural.org.br Fonte: Acervo Galeria Fotoptica
Figura 35 – Apartamentos – 1974 Figura 36 – Telhados – 1969 Fotografia: German Lorca Fotografia: German Lorca Fonte: www.itaucultural.org.br Fonte: www.itaucultural.org.br
59
Rua Direita, 1862 - SP Fonte: CARVALHO e LIMA, 1998
3 A FOTOGRAFIA COMO TÉCNICA DE PESQUISA
O advento da fotografia produziu uma enorme variedade de
imagens, captadas em diferentes contextos sócio-geográficos, que preservaram a
memória visual de incontáveis fragmentos do mundo, dos seus cenários, de suas
constantes transformações. Essas imagens constituem documentos para a
história da arquitetura, das cidades, da fotografia, bem como, para a história das
sociedades, pois, uma vez desaparecidos os cenários, personagens e
monumentos, sobrevivem os documentos escritos e também os fotográficos.
Contudo, esse amplo acervo de informações visuais, que tem nos
auxiliado para uma melhor compreensão do passado em seus múltiplos aspectos,
ainda encontra-se espalhado nas mãos de particulares, arquivos de empresas
públicas ou privadas, antiquários e em diversas instituições no exterior. Apenas
uma parcela encontra-se em museus, arquivos históricos e bibliotecas, porque
somente a pouco tempo a fotografia alcançou o status de peça de acervo, de
documento.
“Paradoxalmente, os documentos fotográficos, apesar de sua legendária superioridade em relação aos registros verbais, ainda hoje freqüentemente escapam da malha fina da erudição. Os bibliotecários diligentemente preservam minúsculos fragmentos das notas de um escritor, curadores de arte guardam como tesouro até o mais inacabado esboço de um artista; no entanto muitos repositórios culturais contêm preciosas fotografias que jamais foram registradas nos inventários” (GAVIN apud KOSSOY, 2001, p. 29).
60
Somente nas últimas décadas intensificou-se a utilização da
documentação fotográfica nas pesquisas históricas, no entanto, a função das
imagens era a de sintetizar ou ampliar o texto escrito. O significado das imagens
quase não era buscado, em especial, pela dificuldade em se estabelecer
parâmetros para a análise dessa documentação.
Kossoy (2001, p. 30) acredita que ainda há um certo preconceito no
uso da fotografia como fonte histórica ou instrumento de pesquisa. Primeiro de
ordem cultural, porque, apesar de vivermos na “sociedade da imagem”, e sermos
alvos voluntários e involuntários de informações visuais de várias fontes de
comunicação, existe um “aprisionamento multissecular” à tradição escrita como
forma de transmissão do saber. Dada essa tradição institucionalizada, a
fotografia, como documento, ainda é vista com desconfiança e restrições, pois a
primazia da escrita causa receio e insegurança naqueles que estão se adaptando
a esta nova realidade de consumo cultural.
A segunda razão estaria relacionada diretamente com a expressão.
Torna-se difícil se trabalhar uma informação registrada visualmente, porque ela
não é transmitida segundo um sistema codificado de signos, ou cânones
tradicionais, como a comunicação escrita. O autor reforça que um dos agravantes,
nesse caso, é que tanto o pesquisador que trabalha em museus ou arquivos,
como aqueles que os freqüentam ainda resistem em aceitar, analisar e interpretar
esse tipo de informação documental.
Com o alargamento do conceito de documento, a partir do século
XX, a imagem fotográfica foi reconhecida como um novo meio de conhecimento
do mundo. A característica própria da linguagem fotográfica levou esse registro a
ser utilizado em pesquisas como um documento de comprovação de um fato ou
acontecimento. Por outro lado, metodologias para a interpretação da imagem têm
sido desenvolvidas na busca de significações e sentidos para o conteúdo da
imagem tecnicamente reproduzida.
61
A sociologia e a antropologia têm utilizado a fotografia como recurso
de pesquisa, buscando aspectos visíveis, através da descrição ou da narrativa.
Historiadores e profissionais ligados à conservação e o restauro utilizam os
registros fotográficos antigos, especialmente os de arquitetura ou aqueles em que
a edificação e seu entorno subsistem em conjunto, as vistas urbanas, para
explicar transformações ou permanências nos edifícios e nas cidades. Para Leite
(2001, p. 28), esse tipo de estudo favorece uma leitura direta do conteúdo da
fotografia e destaca o ideal realista da imagem, sendo perfeitamente aplicado aos
estudos das transformações urbanas em que as mudanças e as ausências são
identificadas imediatamente.
3.1 A Fotografia como Documento Histórico
Foi a partir da Escola dos Annales, que a História ampliou o campo
do documento histórico, resultando naquilo que Le Goff (2001, p. 29) chamou de
“revolução documental”. Foi essa nova maneira de abordar o conhecimento
histórico, surgido desse movimento que propiciou às gerações subseqüentes de
historiadores rever as antigas concepções e metodologias da disciplina, fazendo
da Escola dos Annales o berço da Nova História (CARBONELL, 1981, p. 153).
Nova História foi a expressão cunhada a partir das influências que
as ciências sociais trouxeram à história, no inicio do século XX, a partir das
discussões entre sociólogos, filósofos e historiadores, dando origem a revista
Annales d’Histoire Economique et Sociale, fundada por Lucien Febvre e Marc
Bloch em 1929 (REIS, 2000, p. 65).
Ao se reportar aos fundadores da Escola dos Annales, Reis (2000,
p. 77), diz que um dos maiores defensores da ampliação do arquivo do historiador
foi Lucien Febvre, que acreditava que a história deveria contar com todos os
“vestígios da passagem do homem”. Defendia que o historiador não poderia se
resignar ao encontrar lacunas, pelo contrário, deveria procurar preenchê-las, não
só com os documentos escritos, mas com qualquer elemento que evidenciasse o
passado e que seu dever era antes de tudo, o de “vencer o esquecimento,
preencher os silêncios, recuperar as palavras, a expressão vencida pelo tempo”.
62
Febvre não concordava com a divisão da disciplina histórica em
História e Pré-História, baseada unicamente na invenção da escrita, porque para
ele, não havia diferença entre o trabalho de um pesquisador, que estudava a
difusão da cerâmica neolítica e aquele que trabalhava com uma fonte estatística,
pois acreditava que as manifestações humanas apenas se diferenciavam na
forma e ambos realizavam estudos históricos semelhantes.
Febvre também era contrário a explicação da História Moderna e
Medieval, baseada somente em documentos escritos, admitindo-se o auxílio da
arqueologia apenas na História Antiga. Não concordava com a ignorância do
historiador, que desconhecia a realidade econômica das sociedades, limitando-se
a conhecer apenas as datas, lugares e nomes de indivíduos, uma história de
grandes homens e grandes feitos.
A Nova História fez com que o campo histórico se alargasse não
havendo mais restrições ao trabalho do historiador. A idéia de “passado histórico”,
que delimitava o que seria passível de pesquisa histórica, era recusada.
“A História Política não seria mais a dimensão privilegiada e a história deve tratar de todas as dimensões do social e do humano: o econômico, o social, o cultural, o religioso, o técnico, o imaginário, o artístico.” (REIS, 2000, p. 79).
Assim, não se admitia mais a simples narração dos eventos
políticos, em uma ordem cronológica e uma evolução linear. A pesquisa histórica
deveria responder a problemas e, a partir deles, o historiador distribuiria suas
fontes, construindo e organizando as séries de dados. Era formulando problemas
e construindo hipóteses que se realizaria uma história verdadeiramente científica.
A tendência de se utilizar os novos documentos como a pintura, a
fotografia e o cinema, auxiliou a aproximação da história a outras disciplinas das
ciências humanas, especialmente, para busca de metodologias adequadas à
análise dessa nova base documental (CARDOSO e MAUAD, 1997, p. 402).
63
3.1.1 A Utilização da Documentação Fotográfica Histórica
Carbonell (1981, p.164) afirma que cada década do século XX
acumulou mais informação do que aquelas reunidas e transmitidas da época da
invenção da escrita até os dias atuais. Documentos são produzidos aos milhares,
quando se pensa que cada criação humana ou da natureza tem seu valor
documental: papéis, louças, músicas, tecidos, fotografias; basta que sirvam como
fonte para a construção do conhecimento científico para o historiador. Para o
autor é a problemática que faz nascer as fontes, por isso, são “praticamente
inesgotáveis”.
Segundo Leite (2001, p. 15), a fotografia histórica caracteriza-se por
ter sido produzida “há algum tempo, com relação ao momento em que é analisada
pelo observador”, essa dificuldade em delimitar a condição histórica de uma
fotografia, nos permitiu considerar o registro fotográfico produzido ao longo do
século XIX e nas primeiras décadas do século XX como fotografias históricas.
Apesar de não ter sido tratada como fotografia histórica, a produção originada a
partir do movimento moderno até os dias atuais também é uma importante fonte
documental pela inovação técnica e estética.
A produção fotográfica brasileira resultante de mais de um século e
meio de registros é significativa, especialmente aquela relacionada com a
arquitetura e a paisagem urbana e suas transformações, no entanto, o número de
trabalhos científicos sobre o tema ainda é muito restrito.
No que se refere aos estudos da fotografia histórica brasileira, uma
grande quantidade relaciona-se com a biografia e a produção dos fotógrafos,
destacando-se diversos títulos sobre o fotógrafo carioca Marc Ferrez, alguns
deles escritos por Gilberto Ferrez como “O Rio antigo do fotógrafo Marc Ferrez;
paisagens e tipos humanos do rio de Janeiro”, em 1984 e “A fotografia no Brasil e
um dos mais dedicados servidores: Marc Ferrez (1843-1923)”, em 1997.
64
Pedro Karp Vasquez publicou algumas obras relacionadas aos
fotógrafos pioneiros no Brasil. Maria Inez Turazzi em 1995, realizou um
importante estudo sobre a participação da fotografia nas exposições nacionais e
internacionais entre os anos de 1839 a 1889. Algumas publicações surgiram de
exposições, como o livro de Rubens Fernando Júnior e Pedro Corrêa do Lago, “O
século XIX na fotografia brasileira” originado da exposição de 200 fotografias da
coleção de Pedro Corrêa do Lago, ocorrida em Brasília no ano de 2000.
O registro fotográfico também é estudado nos cartões postais.
Entres os autores que abordam esse tema no Brasil destacam-se a obra de Pedro
Karp Vasquez em 2002, que escreveu “Postaes brasileiros entre os anos de 1893
a 1930”; Paulo Berger que referiu-se aos cartões cariocas nas primeiras três
décadas do século XX; Victorino C. Chermont de Miranda que escreveu sobre os
postais paraenses do início do século XX. Os postais paulistas foram retratados
nas obras de João Emílio Geodetti e Carlos Cornejo. Destacam-se também textos
de Boris Kossoy, Nelson Schaponik e Rubens Fernandes Júnior sobre os postais.
Sobre a fotografia de arquitetura destacam-se dois trabalhos, o
primeiro trata das imagens contidas nos álbuns fotográficos produzidos entre os
anos de 1887 e 1954 relativos a cidade de São Paulo, estudadas por Solange de
Lima e Vânia Carvalho, em 1997. Nessa obra as autoras buscaram as relações
existentes entre os registros fotográficos da cidade e a sociedade, acreditando
que as imagens assumiam “funções legitimadoras, reguladoras, compensatórias,
propulsoras e pedagógicas, entendidas como indispensáveis na organização e
reprodução da vida social” (CARVALHO e LIMA, 1997, p.15).
Uma das fontes utilizadas nesse estudo foi a produção fotográfica de
Militão Augusto de Azevedo, em seu “Álbum Comparativo da Cidade de São
Paulo, 1862-1887. Militão ao explicitar as alterações ocorridas no espaço urbano
através de imagens comparativas, inaugurou uma prática extensivamente
utilizada nas duas primeiras décadas do século XX que permaneceu a influenciar
produções sobre o tema até os dias atuais. No recurso comparativo por meio da
fotografia pode-se perceber com maior nitidez a reconstituição do passado,
realizado segundo Carvalho e Lima (1998, p.117) através da materialização visual
do evento, que cria sentidos de continuidade por meio de uma seqüencialidade.
65
O segundo estudo, realizado em 1998 por Maria Cristina Carvalho e
Silvia Wolff, abordou as relações existentes entre fotografia e arquitetura no
século XIX, em um momento em que o mundo vivia o impacto de grandes
transformações advindas da revolução industrial. O texto retrata os embates entre
as formas de representações tradicionais e a nova maneira de registrar a
realidade, surgida com a fotografia. No Brasil, a história da fotografia e da
arquitetura caminharam paralelas, pois a arquitetura sempre foi um dos principais
temas do registro fotográfico. Poucas são as cidades que não tiveram suas
transformações captadas pelas lentes dos fotógrafos. Desse modo, ao se estudar
os pioneiros da fotografia fatalmente deparar-se-á com uma extensa produção em
que a arquitetura, cidade e a natureza são assuntos principais.
3.1.2 Acervo e Conservação
Uma breve reflexão faz-se necessário sobre a sistematização e a
conservação que vem sendo dada a vasta base documental produzida no país
desde o surgimento da fotografia até os dias atuais. Se pensarmos nos vestígios
produzidos pela humanidade ao longo da história, perceber-se-á que a
documentação fotográfica é um artefato recente, no entanto, pela importância que
vem adquirindo como fonte documental, a preocupação com a criação de acervos
sistematizados e com a conservação da integridade dos documentos vem
aumentando.
A busca pela estabilização das imagens e minimização da
degeneração do material não é nova, desde o surgimento da fotografia que
pesquisadores e fotógrafos vêm desenvolvendo técnicas que garantam a
durabilidade do material. Foi graças a essa preocupação que os mecanismos que
permitem o registro fotográfico foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. A
procura de materiais que facilitassem a fixação da imagem e resistissem ainda
mais ao tempo, motivou, por exemplo, a substituição do papel albuminado pelos
papéis com aglutinante de gelatina e colódio.
66
Michelon (1999, p. 24-25) afirma que o objetivo da conservação é o
de prolongar a existência de cada exemplar sem comprometer a sua originalidade
e que ela decorre diretamente do sistema de guarda, recuperação e manuseio
dos originais fotográficos. O conhecimento dos processos fotográficos utilizados
na produção da imagem e suas especificidades são essenciais, para a elaboração
de procedimentos ideais para a guarda do acervo.
Alambert (sd, p. 57) orienta que o arquivamento e a exposição em
locais sem controle de temperatura e umidade relativa do ar podem causar
inúmeras deteriorações ao acervo fotográfico, por isso, os procedimentos
utilizados para o acondicionamento e armazenamento do material devem sempre
levar em consideração as condições ambientais e a natureza física de cada
exemplar. Graças aos cuidados no armazenamento, ainda hoje é possível
encontrar fotografias com mais de cento e vinte anos, em papel albuminado, em
razoável estado de conservação.
No Brasil, destacam-se alguns acervos importantes, como aqueles
presentes na Biblioteca Nacional (Fig. 37) e no Museu da Imagem e do Som (Fig.
38), ambos no Rio de Janeiro. Entretanto, uma grande quantidade de fotografias
antigas, especialmente aquelas produzidas no século XIX e início do século XX,
ainda estão espalhadas nas mãos de colecionadores ou na posse de instituições
que não favorecem o acesso a pesquisadores ou a simples apreciadores da
fotografia.
Para que essa realidade seja modificada, e parte desse acervo
possa ser disponibilizado à pesquisa é necessário que sejam criados locais em
que essa documentação fique adequadamente acondicionada e conte com mão
de obra especializada para seu manuseio e sistematização. O Centro de
Conservação e Preservação Fotográfica da FUNARTE é um exemplo desse local,
sendo um dos únicos que possui uma câmara de refrigeração específica para
guarda de materiais fotográficos.
67
Figura 37 – Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro Fonte: www.geocities.com/rio_cidade
Figura 38 – Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro Fonte: www.acphoto.hpg.ig.com.br
No que tange a sistematização do acervo, a complexidade no trato
desse material não é menor, pois a criação de uma identificação que não restrinja
as potencialidades do documento dentro de um conjunto e o tornem viáveis para
a pesquisa não é tarefa das mais simplificadas. Michelon (1999, p. 25) orienta que
a classificação do acervo deve ser feita por conjunto ou coleção, e que se deve
elaborar fichas catalográficas que dêem conta da singularidade do documento e
da variedade de suas relações no conjunto. Sabe-se, no entanto, que esta não é
uma tarefa das mais fáceis, visto que a classificação do acervo dependerá da
leitura e interpretação da informação visual contida na fotografia.
68
Apesar do objetivo de arquivos e bibliotecas ser o de permitir o
acesso do público as coleções fotográficas, faz-se necessário a consulta racional
dos originais, visto que a integridade dos materiais também está relacionada ao
manuseio deles, isso vem gerando inúmeras discussões acerca da manipulação
dos originais. Zuñiga (1998, p. 331) acredita que certos materiais fragilizados
necessitam de cuidados especiais e manuseio restrito, para isso faz-se
necessário a criação de políticas de acesso restritivo que estabeleça quem
poderá consultá-los. A autora tem noção da polêmica que tais ações podem
gerar, contudo, a preocupação com a preservação do material justificaria essa
restrição do manuseio.
Uma das opções de acesso apontado pela autora seria a criação de
cópias digitais, no entanto, sugere cautela nessa utilização, apontando
ponderações que devem ser levadas em consideração. Uma delas diz respeito à
reprodução, visto que, a reprodução de uma fotografia a partir de um negativo,
por mais semelhante que possa ser de um original, possuirá sempre sutis
diferenças possíveis de identificar. Entretanto, a reprodução por meio digital não
permite essa fácil identificação gerando produtos de qualidades semelhantes.
Outra questão refere-se à facilidade de manipulação das imagens
pelo computador, levando a dúvidas sobre a autenticidade das cópias. A pesar
disso, Zuñiga (1998, p. 334-335) acredita que a facilitação poderá valorizar ainda
mais os originais, e que o acesso às cópias digitais diminuirá a procura por eles,
visto que, segundo a autora a razão da maioria das consultas refere-se à imagem
e não a fotografia como “objeto”.
Leite (2001, p. 39), acredita que a adulteração de uma fotografia por
retoques ou fungos, seu uso indevido ou a degeneração e envelhecimento não
reduzem o seu valor documental, pelo contrário, ampliam “a necessidade de
verificar as maneiras de selecionar, curar, recuperar e decodificar as informações
que séries compostas de imagens podem fornecer ou sugerir”.
69
3.2 Metodologias de Análise e Leitura de Imagens
Na utilização da fotografia, como instrumento de pesquisa, Kossoy (2001, p.
63-76) sugere alguns procedimentos para a recuperação das informações
históricas. Inicialmente deve-se localizar e selecionar as diversas fontes que
serão consultadas, que permitam o conhecimento e a reconstrução do
momento histórico da produção da imagem. Em seguida, investiga-se a
procedência e trajetória da imagem fotográfica que fornecerá subsídios para a
recuperação da história do documento. Posteriormente, realiza-se o estudo
técnico-iconográfico do material, que deverá buscar, tanto a natureza técnico-
material do documento, revelando o contexto e a tecnologia de produção da
imagem, quanto à instância iconográfica que deverá determinar os elementos
icônicos que formam o registro visual.
Leite (2001) em seu livro Retratos de família: leitura da fotografia
histórica, apresenta diferentes abordagens metodológicas para trabalhar com o
registro fotográfico. A primeira se insere entre as pesquisas em que
metodologicamente a fotografia serve como instrumento complementar do texto
escrito, ampliando ou sintetizando conteúdo textual, sendo essa a mais antiga e
mais freqüente forma de utilização da iconografia. Na segunda abordagem, o
significado próprio da imagem fotográfica torna-se o objeto da pesquisa,
buscando-se desvendar o texto visual presente na fotografia.
A autora descreve algumas tentativas de análise da representação
fotográfica, realizadas por Margaret Mead, Gregory Bateson e John Collier. Nos
estudos, os pesquisadores partiram das características externas do material em
busca do contexto de produção da fotografia, tentando identificar quem tinha sido
o fotógrafo, qual era o local, a data, o tipo de material utilizado, o assunto. Em
seguida, procuraram-se as características internas do material, passando-se a
analisar as intenções do produtor ou do colecionador. Posteriormente,
construíram-se séries de fotos de acordo com o objeto do estudo, os locais ou
datas. A autora relata que ocorreram “variações marcantes” na organização inicial
das séries influenciadas, sobretudo, pela formação cultural e profissional dos
pesquisadores e pelos objetos de estudo (LEITE, 2001, p. 31-34).
70
Portanto, de acordo com o procedimento metodológico adotado, as
fotografias podem ser observadas, analisadas e interpretadas isoladamente ou em
seqüências, agrupadas por afinidades em termos temáticos ou por compartilharem
do mesmo contexto espaço-temporal. Isso não excluirá que se obtenham leituras
múltiplas, porque cada espectador interpretará a imagem segundo sua condição
sócio-econômica, cultural e ideológica.
Na antropologia, Collier (1973, p. 104), afirma que a abundância de
fatos em fotografias é tão grande, que para se trabalhar inteligentemente com
elas, é preciso uma seleção das variáveis mais expressivas e um acervo
suficiente de provas para se criar instrumentos para a pesquisa antropológica.
Assim, pode-se interpretar as fotografias medindo, avaliando e comparando todos
os elementos materiais, como artefatos, instrumentos, mobílias, apetrechos e
trabalhos de artes. Para isso, o autor sugere:
1. Elaboração de um inventário para que se ofereça a
oportunidade de se observar e avaliar a qualidade de
informação encontrada nas fotografias. Esse procedimento
permite a observação da fotografia como se ela fosse uma
verificação da memória, e a câmera fotográfica um dispositivo
de controle, que fornece uma estabilização posterior da
experiência real;
2. Construção de estruturas categóricas a partir do material
classificado;
3. Condensação de evidências ou transformação das variáveis
em quadros estáticos, tabelas e diagramas, para a
transformação da imagem em conclusão científica.
71
No campo da arte, no final década de 1980, surgiram no Brasil,
idéias que influenciaram e deram corpo ao entendimento de que a arte não era só
expressão, mas também conhecimento, um comportamento inteligente e também
sensível, eliminando a dicotomia entre cognição e emoção. Essas idéias foram
responsáveis por fundamentar a circulação de novas propostas de ensino de arte
baseadas na própria arte, em sua história, em sua apreciação e na sua produção.
Dentre as novas propostas metodológicas podemos destacar a Abordagem
Triangular de Ana Mae Barbosa, que enfatizava a necessidade de organizar o
ensino de arte visuais através do inter-relacionamento de três eixos norteadores:
a leitura da imagem, a contextualização histórica e o fazer artístico.
A partir do surgimento da Abordagem Triangular, o termo leitura
começou a ser incorporado nos vocabulários dos educadores, bem como
métodos específicos para a apreciação de uma imagem, seja ela, pintura,
desenho, fotografia, propaganda, etc. Segundo Kehrwald (1999, p. 22) o conceito
de leitura seria “um processo de decodificação e compreensão de expressões
formais e simbólicos que envolvem tanto componentes sensoriais, emocionais,
intelectuais, neurológicos, quanto culturais e econômicos”.
Pillar (1992, p. 9) afirma que ao contrário de um texto, uma imagem
possibilita uma infinidade de leituras devido às relações que seus elementos
sugerem. Trata-se de uma construção metalingüística da imagem.
“Não é falar sobre uma pintura, mas falar da pintura num outro discurso, às vezes silencioso, algumas vezes gráfico, e verbal somente na sua visibilidade primária”. (BARBOSA, 1991. p. 19)
Dessa forma, Pillar (1992, p. 9) afirma que comparar imagens
destacando semelhanças e diferenças é um estudo muito enriquecedor acerca da
gramática visual, dos significados que as obras permitem, de sua sintaxe e do
vocabulário próprio de cada linguagem. Essa diversidade de leituras não é
excludente, permitindo que na leitura uma imagem fazendo com que várias
abordagens se interpenetrem, tornando a apreciação mais rica. É importante
então, ressaltar que podemos ler a mesma imagem entre outros modos, a partir
de uma análise gestáltica, iconográfica, iconológica, semiótica, estética, entre
outras.
72
Na leitura gestáltica de uma imagem considera-se os elementos da
linguagem visual, como linha, plano, relevo, textura, cor, volume. Além, do modo
como tais elementos estão estruturados no espaço, ou seja, os aspectos
compositivos da obra.
Na leitura iconográfica, se procura estudar o conteúdo temático ou
significado das imagens como algo distinto de sua forma. Segundo Panofsky
(1982, p. 24) na análise iconográfica tratam-se das imagens, histórias e alegorias
em vez de motivos, pressupõem familiaridade com temas específicos, tal como
são transmitidos por meio de fontes literárias ou obtidos por leitura ou tradição
oral.
A leitura iconológica é um plano mais profundo que a iconografia,
visa ler a atitude que um homem de outra época adota espontaneamente perante
a realidade, não só quando pretende representá-la artisticamente, mas sempre
que atua sobre ela ou sobre ela reflete. Então, a iconologia é um ramo da história
da arte que se ocupa com a representação alegórica ou emblemática de entidades
morais, bem como, da explicação de imagens ou monumentos antigos, de figuras
alegóricas e seus atributos, além de estudar o tratamento dos assuntos em
diversos artistas e épocas.
Na leitura semiótica, se analisaria os signos, símbolos e sinais
presentes na imagem. Esta análise abordaria os sistemas de símbolos e de signos
construídos pelo homem como um texto visual em remissão a outros textos
visuais, uma imagem em relação à diferente autores e épocas. Segundo Ferrara
(1999, p. 227) a semiótica é um instrumento de identificação e de leitura do mundo
moderno nos seus desdobramentos de linguagens e símbolos. São os sinais, as
marcas que os processos de transformação social deixam no espaço e no tempo
contando uma história não verbal que se nutre de imagens, máscaras, fetiches,
dentre outros, que designa uma expectativa, um cotidiano, valores, usos, hábitos e
crenças do homem.
73
Na leitura estética, por fim, seria considerada a expressividade, o
que há de eterno e de transitório, de circunstancial de uma época na imagem a
ser analisada. Essa leitura procura saborear a imagem de modo cognitivo e
sensível, através da cor, luz, formas, destacando-se a disposição destas formas
no espaço e o modo como os elementos se relacionam.
3.3 Fotografia e Documento
A partir da segunda metade do século XIX, o aperfeiçoamento da
técnica de fotografar e da indústria gráfica, possibilitou a multiplicação da imagem
fotográfica. O mundo passou a ser mais “familiar”, podendo o homem conhecer
outras realidades que outrora lhes eram apresentadas unicamente através da
tradição oral, pictórica e, especialmente a escrita. Assim, a fotografia ficou
conhecida como uma espécie de prova, atestando indubitavelmente a existência
daquilo que mostrara.
Os monumentos, habitações, religiões, ou qualquer manifestação humana ou
da natureza poderia ser conhecida em diferentes partes do mundo (Figs. 39 e
40). A câmara fotográfica, gradativamente, foi documentando a transformação
da paisagem urbana e da arquitetura, assim como os hábitos e costumes dos
povos. Esse novo modo de reconhecer o mundo, apesar de fragmentário em
termos visuais, possibilitou uma nova visão do real:
“Microaspectos do mundo passaram a ser cada vez mais conhecidos através de sua cópia ou representação. O mundo, a partir da alvorada do século XX, se viu, aos poucos, substituído por sua imagem fotográfica. O mundo tornou-se, assim, portátil e ilustrado” (KOSSOY, 2001, p. 27) [grifos do autor].
Assim, a popularização da fotografia, no final do século XIX, graças
aos postais e ao desenvolvimento das câmeras portáteis, produziu um grande
número de imagens, captadas em diferentes lugares e tempo. Essas fotografias
são testemunhas de um fragmento do cotidiano de um determinado momento,
portanto, são as memórias de paisagens, pessoas e de suas transformações.
74
“O papel da fotografia é conservar o traço do passado ou auxiliar as ciências em seu esforço para uma melhor apreensão da realidade do mundo... ela é um auxiliar (um ‘servidor’) da memória, uma simples testemunha do que foi” (DUBOIS, 1993, p. 30).
Figura 39 – Monte Paladino em Roma – 1899 Fonte: Abril Coleções, 1998
Figura 40 – Partenon na Grécia – 1869 Fonte: Abril Coleções, 1998
75
A arquitetura, absorvida por este contexto, sempre foi um grande
veio para os fotógrafos, que não se limitaram ao registro de monumentos já
construídos, queriam retratar as fases de execução de novas obras, as
restaurações de edifícios, os detalhes construtivos, a singularidade dos
ornamentos, assim como, retratar a feição da cidade em contraste com as obras
da natureza.
Apesar das constantes discussões, acerca da objetividade na
representação do real, a fotografia deteve o caráter de atestar e autenticar a
existência do objeto que mostrara, o que lhe conferiu um poder de credibilidade,
ausente em qualquer outra obra pictural, tornando a fotografia um testemunho
praticamente irrefutável de registro da realidade.
A documentação fotográfica transformou-se, portanto, num suporte
de memórias, permitindo também uma análise mais detalhada dos elementos não
verbais. Ela possibilitou a abertura de novos meios para compreensão e absorção
de um fato, viabilizando o desenvolvimento de uma análise meramente ilustrativa,
empenhando-se na capacidade de criar por si própria uma narrativa. Assim, dada
à capacidade de “congelar” o tempo, e de renovar-se a cada nova imagem obtida,
a fotografia vem cumprindo com eficiência sua função como um instrumento de
documentação e pesquisa.
3.4 A Fotografia como Fonte ou Objeto de Pesquisa
Apesar de atualmente os registros fotográficos servirem como fontes
e objetos de pesquisas científicas, sendo utilizados por diferentes áreas do
conhecimento, ainda é muito reduzida a bibliografia que possibilite a interpretação
ou leitura da imagem fotográfica. Essa carência se dá, segundo Leite (2001, p.
25) e Barthes (1984, p.16-17), porque a maioria dos autores não escreve sobre o
fenômeno da linguagem fotográfica em si ou da fotografia como imagem, mas
sim, sobre a história da fotografia, da técnica, da biografia de fotógrafos, etc.
76
O registro fotográfico traz consigo informações a respeito de sua produção
material, que evidencia uma técnica específica empregada e de um assunto
escolhido, que seleciona um fragmento específico do espaço-tempo, por isso,
a análise de uma fotografia devia abarcar simultaneamente a instância técnica
e iconográfica. A análise técnica diz respeito às informações acerca do
artefato, ou seja, a investigação das características materiais do documento. A
análise iconográfica relaciona-se com “o aspecto literal e descritivo da imagem
em que o assunto registrado é perfeitamente situado no espaço e no tempo,
além de corretamente identificado” (KOSSOY, 2001, p. 77).
Como qualquer outro recurso de investigação, a fotografia se
caracteriza por ser um recorte da realidade, assim, tanto a documentação verbal,
como a escrita e quanto a fotográfica apresentam limitações que podem ser
minimizadas ao se articular as informações obtidas entre esses diferentes
recursos. Portanto, a análise das fontes fotográficas não terá sentido se não
houver a colaboração de informações contidas nas fontes escritas e em outros
documentos iconográficos. São esses elementos que irão auxiliar na identificação
dos assuntos representados.
Leite (2001, p. 38) trata da reiteração do texto escrito por meio da
iconografia afirmando que eles podem complementar-se ou, ao contrário, ser
completamente diverso um do outro, por essa razão, recomenda cautela nessa
nesse procedimento, porque apesar das imagens necessitarem das palavras para
serem transmitidas, freqüentemente as palavras não conseguem evocar com
exatidão o que as imagens que representam.
77
Para Kossoy (2001, p. 107), o assunto fotografado é apenas um
fragmento da realidade, um aspecto específico, resultado da decisão do fotógrafo
entre diversas outras possibilidades. Para ele uma única fotografia ou um
conjunto delas não teria a capacidade de reconstituir fatos passados, elas apenas
“congelariam” fragmentos de um instante, cabendo ao leitor a capacidade de
procurar entender esse fato. Dessa maneira, a compreensão do conteúdo da
fotografia demandaria um conhecimento prévio da realidade representada na
imagem, uma apurada percepção visual, imaginação, dedução, além da
comparação entre várias imagens.
No entanto, Leite (1993, p. 41) que também estuda a interpretação
da imagem, acredita que as mudanças do mundo visível podem ser alcançadas
por meio da investigação de um conjunto de imagens de um mesmo assunto,
registradas em diferentes momentos. Isso porque apesar da imagem fotográfica
não registrar a passagem do tempo e apenas fixar o recorte da realidade num
instante, ao articular-se diversos fragmentos de um mesmo assunto ao longo do
tempo, poder-se-ia reconstituir sua trajetória.
78
Restituição fotogramétrica da fachada da Igreja de São Miguel Arcanjo - RS
Fonte: Brasil, 1994
4 FOTOGRAFIA E RESTAURO
Intervenções restaurativas são sempre acompanhadas de
discussões acerca de sua validade ou necessidade. Diversas teorias versão sobre
o tema, contudo, um ponto parece ser unânime entre os pensadores: a
restauração é sempre uma prática radical que deve ser evitada, portanto, a
conservação e a manutenção preventiva devem ser as ações corriqueiras nas
práticas de preservação do patrimônio. Notas a este respeito podem ser
observadas na teoria de John Ruskin, publicada inicialmente em 1849, que
adverte
“Tomai atentamente cuidado, com vossos monumentos, e não tereis nenhuma necessidade de restaurá-los (...), a nossa decisão de conservar ou não os edifícios das épocas passadas não é questão de oportunidade ou de sentimento. Nós não temos direito de tocá-los. Não são nossos. Eles pertencem, em parte, àqueles que os construíram, e em parte a todas as gerações de homens que deverão vir depois de nós.” (RUSKIN, 1996, p. 27)
Outro importante teórico de restauro, Camilo Boito (2002) retoma o
assunto indicando que a conservação é uma obrigação de todos, tanto da
sociedade como do governo. Passados quase cem anos da advertência feita por
Ruskin de que a conservação seria a melhor opção para a preservação e
permanência do monumento, a Carta de Atenas, publicada em Outubro de 1931,
comprovou:
79
“Qualquer que seja a diversidade dos casos específicos – e cada caso pode comportar uma solução própria – a conferência constatou que nos diversos Estados representados predomina uma tendência geral para abandonar as reconstituições integrais, evitando assim seus riscos, pela adoção de uma manutenção regular e permanente, apropriada para assegurar a conservação dos edifícios. (CURY, 2000, p. 13)
Foi a partir da publicação da 1ª Carta de Atenas, que a sociedade
moderna definitivamente reconheceu a importância das teorias de restauração
nascidas no século XIX. O documento também agregou à noção de manutenção
preventiva a idéia de que as ações de conservação eram favorecidas pela
utilização do Bem pela sociedade, deste que essa não fosse danosa ao
monumento.
“(...) A conferência recomenda que se mantenha uma utilização dos monumentos, que assegure a continuidade de sua vida, destinando-os sempre finalidades que respeitem o seu caráter histórico ou artístico.” (CURY, 2000, p. 13)
A idéia de utilização como aliada da preservação de um edifício
também sempre foi uma das questões bastante defendida pelos restauradores.
Exemplo disto pode ser observado na obra de Aloïs Riegl (1987) O culto moderno
aos monumentos, publicada em 1903. Nela o restaurador afirmava que abdicar da
utilização potencial instrumental do edifício poderia ser mais degradante ao
monumento do que sua utilização física. Acreditava que a degradação humana
seria menos nociva do que a ação gerada pelo abandono e degradações do
tempo, entretanto, dever-se-ia garantir utilizações compatíveis aos monumentos,
para que a intervenção humana fosse a menos destrutiva possível.
A Carta de Veneza, no 4º e 5º artigo também faz referência à
manutenção contínua e ao uso responsável do Bem,
80
“ Art. 4º A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, manutenção permanente. Art. 5º A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação útil à sociedade; tal destinação é, portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição ou a decoração do edifício. É somente dentro destes limites que se devem conceber e se podem autorizar as modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes”. (CURY, 2000, p. 92)
Apesar da preocupação com a manutenção permanente e o uso
responsável do monumento ser universal, nem sempre a realidade do patrimônio
cultural, especialmente nas cidades brasileiras, consegue manter-se tal que evite
procedimentos restaurativos. Existem momentos em que o estado de conservação
do edifício demanda ações enérgicas, sendo necessário o restauro do Bem.
Decorre daí um dos assuntos mais comentados nas teorias de restauro: a
necessidade de um projeto que concilie o reparo aos danos da edificação e a
manutenção da essência da obra. De John Ruskin a Cesare Brandi, a matéria tem
sido discutida sempre acompanhada de uma apaixonada argüição. De modo
prático ou originando discussões filosóficas, a retórica da restauração tem gerado
uma diversidade de pensamentos e ações ao longo do tempo.
Modernamente duas linhas de pensamento tem reinado nas obras
de restauro: uma que trata predominantemente da tecnologia do restauro e outra
das discussões filosóficas. A primeira linha preocupa-se com a pesquisa de novas
tecnologias para a recuperação dos monumentos e a segunda busca a adaptação
de técnicas antigas para intervir o mínimo possível no edifício. Apesar das
diferenças de procedimentos, em ambas as teses torna-se essencial a pesquisa
histórica e o cuidadoso registro da intervenção.
Sobre esta ótica, a fotografia sempre foi vista como aliada pelos
restauradores e teóricos da conservação e do restauro. Viollet-le-Duc,
contemporâneo do invento fotográfico, já falava da importância da fotografia. Dizia
que mesmo o desenho mais perfeito poderia induzir a erros, pois ele era passível
de omissão,
81
“Com efeito, quando os arquitetos tinham à sua disposição somente os meios comuns do desenho, inclusive os mais exatos, como a câmara clara, por exemplo, era difícil para eles não cometer qualquer esquecimento, não descuidar de certos vestígios poucos evidentes.” (VIOLLET-LE-DUC, 1996, p. 28)
Acreditava que a fotografia produzia “memórias irrefutáveis”, que
poderiam ser consultadas a todo o momento. Afirmava que a fotografia tornava os
arquitetos mais escrupulosos e cuidadosos com os pequenos detalhes dos
monumentos. Para ele, o uso da fotografia jamais seria excessivo, sendo ela
também um instrumento para justificar ações e decisões.
Para os restauradores e arqueólogos a fotografia uniu-se à
iconografia e aos documentos antigos para colaborar na identificação,
comprovação ou contestação de hipóteses levantadas em prospecções, por isso,
tornam-se essenciais nos projetos de restauro, antes como testemunhas do
passado e, depois, como testemunhas da intervenção.
As Cartas patrimoniais, documentos usualmente oriundos de congressos ou
fóruns de discussões em que a preservação era o foco do encontro ou um dos
assuntos relevantes, sempre orientaram à ampla utilização da fotografia nos
projetos de restauração. Exemplo pode ser encontrado no Art. 16 da Carta de
Veneza (CURY, 2000, p. 95) que recomenda o acompanhamento de trabalhos de
conservação, restauração e de escavações ilustrados com desenhos e fotografias
de todas as fases do trabalho, para elaboração de relatórios analíticos e críticos.
A Carta também orienta para que esta documentação seja colocada a disposição
de pesquisadores e se possível publicada.
A Carta do Restauro do Governo da Itália, de abril de 1972, em seu
Art. 8º, recomenda o desenvolvimento de um diário onde todas as fases da
intervenção devem ser registradas e fotografadas. No Anexo B desse mesmo
documento, que discorre sobre restaurações arquitetônicas, recomenda-se que o
projeto de restauro baseie-se ainda “em uma completa observação gráfica e
fotográfica, interpretada também sob o aspecto metrológico, dos traçados
reguladores e dos sistemas proporcionais” (CURY, 2000, p. 157). No Anexo C,
que trata de restaurações pictóricas e escultóricas, novamente recomenda-se que
a obra seja registrada fotograficamente para documentar seu estado antes da
intervenção restaurativa.
82
O registro fotográfico do estado de conservação de uma escultura
localizada no portal do castelo Herten, na Alemanha, em três momentos
diferentes (Fig. 41), é um exemplo de como a fotografia constitui em uma
importante ferramenta para a base documental de edificações históricas.
Na imagem registrada em 1908 percebe-se que a escultura começa
a sofrer danos por estar expostas às intempéries, além de ter perdido parte de um
dos braços. Na fotografia de 1969, é possível visualizar a extensão dos danos na
escultura originados pela exposição ao tempo e à poluição e falta de
conservação. Na imagem, é quase impossível ver o rosto, membros e entalhes da
estatuária pela incrustação de partículas oriundas de microorganismos e
poluentes (KRÄTZIG, 1998). Na foto do ano seguinte, realizada após a
restauração da escultura, percebe-se a riqueza de detalhes da imagem que há
muito tempo não era visualizada pela falta de manutenção da figura.
Figura 41 – Escultura situada no portal do Castelo Herten, na Alemanha, em diferentes épocas Fonte: Krätzig, 1998
83
A fotografia sempre foi um dos principais documentos de registro do
acervo das cidades, tanto que sempre esteve presente no cadastramento e
inventário cultural de cidades e estados brasileiros. O Estado da Bahia foi um dos
pioneiros no inventário de seu patrimônio cultural, assim como na publicação
desse material. Os primeiros volumes foram lançados ainda na década de 1970,
compreendendo os monumentos da capital Salvador e do Recôncavo Baiano. O
restante do estado também teve seu patrimônio catalogado ao longo da década
seguinte. O V volume da série, lançado em 1988 (BAHIA, 1988), referia-se aos
monumentos e sítios do Litoral Sul do Estado. Em meio às informações técnicas e
históricas, a fotografia é um dos importantes elementos de identificação visual do
monumento, além do registro do estado de conservação do Bem no momento da
tomada da foto (Figs. 42 e 43).
Figura 42 – Ficha catalográfica do acervo cultural do litoral baiano - frente Fonte: Bahia, 1988
84
Em projetos de restauração, o levantamento fotográfico é uma das
fases do cadastramento do Monumento ou sítio, assim como, parte da pesquisa
histórico-bibliográfica. A pesquisa permite a análise e compreensão do edifício e
de sua evolução, assim como, permite o estudo comparativo de edificações
congêneres. A análise das fotos e desenhos antigos, assim como, de
documentos, plantas, cortes e demais documentações do edifício original ou das
modificações realizadas ao longo da história do monumento são úteis
especialmente na definição de soluções de caráter técnico.
A restauração da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na cidade
de Anchieta, no Espírito Santo, é um bom exemplo da utilização da
documentação fotográfica como importante ferramenta em obras de restauro no
Brasil. O registro fotográfico das várias etapas da obra fornece um panorama da
intervenção restaurativa. É possível conhecer o estado do monumento antes da
restauração, visualizar as prospecções que embasaram modificações no projeto
Figura 43 – Ficha catalográfica do acervo cultural do litoral baiano - verso Fonte: Bahia, 1988
85
(Fig. 45), a edificação durante as obras de restauração e ainda perceber a feição
final do edifício após a conclusão das obras (Fig. 44).
A utilização da fotografia também fez parte do levantamento
histórico e iconográfico do Bem (Abreu, 1998). A partir da documentação
resultante da obra, técnicos e pesquisadores lançaram uma publicação do
restauro da Igreja (Fig. 46).
Figura 44 – Três momentos da Igreja: Em 1928, sendo restaurada e após a restauração Fonte: Abreu, 1998.
Figura 45 – Vão original encontrado após prospecção arquitetônica Fonte: Abreu, 1998.
Figura 46 – Capa do livro publicado após a restauração da Igreja Fonte: Abreu, 1998.
86
No Pará, a Secretaria de Cultura, para divulgar o trabalho realizado
pelo Governo do Estado, lançou uma série de publicações intitulada de Restauro,
originada do acompanhamento fotográfico das obras de restauração do Teatro
Waldemar Henrique e do antigo Palacete dos Governadores, resultando em dois
luxuosos volumes. O primeiro deles foi lançado em 1997, após a conclusão da
obra de restauração do Teatro Waldemar Henrique. O livro possui um extenso
capítulo intitulado “Documentação fotográfica comentada da restauração” (PARÁ,
1997), contendo as diversas fases da obra. No livro é possível visualizar as
surpresas descobertas com as prospecções arquitetônicas, como o antigo pórtico
de entrada e o forro trabalhado encobertos por obras no local (Figs. 49 e 50).
Figuras 47 – Fachada do Teatro no começo da restauração
Fonte: Pará, 1997.
Figuras 49 – Pórtico encontrado na prospecção do prédio. Fonte: Pará, 1997.
Figuras 50 – Pórtico de entrada restaurado. Fonte: Pará, 1997.
Figuras 48 – Fachada do Teatro após a restauração Fonte: Pará, 1997.
87
O segundo volume, publicado em 2000, retratou a restauração e
revitalização do antigo Palacete dos Governadores, transformado atualmente em
sede da Secretaria de Cultura do Estado do Pará e Parque da Residência. No
livro, o maior capítulo também é destinado a documentação fotográfica da
intervenção. No volume é possível acompanhar a complexa intervenção no local,
como a remontagem de um centenário galpão de ferro fundido, que funcionou
como estação de gás, no século XIX, em Belém (PARÁ, 2000), que deixou seu
local original para se transformar em sala de espetáculos (Figs. 53 a 55).
Figuras 51 – Forro antigo encontrado após o início da obra.
Fonte: Pará, 1997.
Figuras 53 – Antigo galpão da estação de gás de Belém, em seu local original.
Fonte: Pará, 2000.
Figuras 54 – Desmontagem do galpão. Fonte: Pará, 2000.
Figuras 52 – Forro restaurado. Fonte: Pará, 1997.
88
O local além de contar com o Palacete do Governador (Figs. 56 e
57), possuía um coreto e um gazebo. Havia também no local um antigo vagão do
trem Belém-Bragança. Todas essas estruturas foram restauradas e integradas ao
Parque urbano de Belém e podem ser visualizadas no livro publicado pela
Secretaria de Cultura do Estado (PARÁ, 2000).
Trabalho semelhante foi realizado pelo Governo do Estado de São
Paulo, através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE que
transformou em livro ilustrado a ação de preservação e restauro de várias escolas
paulistas intitulado de Arquitetura Escolar Paulista – Restauro (Fig. 58). Na
introdução da publicação destaca-se que:
Figura 56 – Antiga residência dos Governadores do Pará antes do restauro Fonte: Pará, 2000
Figura 57 – Antiga residência dos Governadores do Pará após o restauro Fonte: Pará, 2000
Figuras 55 – Galpão restaurado e adaptado para ser uma sala de espetáculos no Parque da Residência, em Belém-PA.
Fonte: Pará, 2000.
89
“Além das peças gráficas que normalmente compõem os projetos constam dos mesmos os elementos que subsidiaram a proposta apresentada: o histórico do edifício original; o inventário, isto é, levantamento, identificação, documentação gráfica e fotográfica de todos os elementos construtivos do prédio e as especificações técnicas pra recuperá-los.” (SÃO PAULO, 1998a)
Outro relevante trabalho publicado sobre o patrimônio histórico
paulista, foi o livro contendo o inventário de bens tombados pelo Estado de 1968
a 1998, sob a coordenação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT (SÃO PAULO, 1998b). O livro
contém um breve relato sobre cada monumento, o número da documentação
oficial de tombamento e a ilustração fotográfica do monumento. Independente da
simplicidade das informações, na apresentação do livro, o então presidente da
Instituição, Carlos Heck justifica:
“A publicação, que ora oferecemos à sociedade paulista, informa sobre os bens protegidos, fruto destes trinta anos de existência. Esta obra vem, portanto, ampliar o universo dos documentos arquivados no Condephaat, composto de livros de tombo, textos, fotos, desenhos, plantas arquitetônicas, entre outros, que constituem um conjunto importante de informações sobre a memória histórica e a formação da sociedade paulista.” (SÃO PAULO, 1998b)
Tal preocupação, em publicar volumes contendo obras de
intervenções restaurativas ou o inventário ilustrado do patrimônio cultural das
cidades, garante a fotografia um lugar de destaque na preservação de bens
culturais no país.
Figura 58 – Capa do livro “Arquitetura Escolar Paulista –
Restauro” Fonte: São Paulo a, 1998
Figura 59 – Capa do livro “Patrimônio Cultural Paulista” Fonte: São Paulo b, 1998
90
4.1 A Fotografia no Levantamento de Edifícios
A fotografia tem ganhado importância na documentação
arquitetônica de monumentos históricos, no entanto, deve-se utilizá-la
corretamente, com intenção rigorosamente científica, para que não se torne
inoportuna. Em ocasiões em que não se dispõem de tempo para a elaboração
de documentação gráfica, como em edificações em risco de desabamento,
que deverão ser alvo de reparos emergenciais, a fotografia pode ser o único
meio de registro possível.
Segundo Cramer (1986, p. 97), a vantagem da fotografia sobre
outros levantamentos, é que ela registra de maneira rápida e completa todos
os detalhes da edificação, como o material, a cor, etc., por isso, sua utilização
é de extraordinária importância no levantamento arquitetônico e como registro
documental de edificações. A imagem fotográfica complementa a
documentação gráfica, revelando aspectos do material utilizado, técnica
construtiva e outras especificidades, não identificáveis na representação
gráfica.
A arqueologia, a exemplo da arquitetura, há tempos utiliza-se de
fotografias em suas pesquisas científicas. Além de seu emprego como
registro também a utiliza para se ter noção da escala do objeto, para tanto, faz
a incorporação de elementos métricos á imagem, que podem ser desde
trenas, fitas métricas ou escalímetros (Fig. 60).
Figura 60 – Escala métrica incorporada ao levantamento arqueológico fotográfico
Fonte: Albuquerque, 1999
91
Na falta a objetos métricos é possível a utilização de elementos conhecidos como lápis ou canetas esferográficas, para se ter uma idéia do tamanho do objeto, contudo, neste tipo de utilização, não haverá precisão. Cramer (1986, p. 99) orienta para a utilização de um “metro de topógrafo”, que possui diferenciação de cores na régua, facilitando a identificação posterior das dimensões dos elementos (Fig. 61), especialmente no registro de estruturas ou de elementos arqueológicos.
Apesar de sua reconhecida importância em trabalhos de levantamentos arquitetônicos, alguns pontos de vista fotográficos poderão conter distorções que podem dificultar sua leitura, portanto, Docci (1987, p. 256-258), aconselha que nos levantamentos realizados através de fotografia, o eixo óptico da câmera mantenha-se horizontal, para que o objeto fotografado apresente um paralelismo. Na documentação de detalhes de edifícios, texturas e materiais constituintes recomenda a utilização de filme colorido, já a linha geral do edifício aconselha a utilização de filme em preto e branco.
Outra importante utilização da fotografia em levantamentos
arquitetônicos é no acompanhamento de lesões em edifícios. Recomenda-se a
aferição de uma medida inicial nas bordas das lesões com auxílio de elementos
de referência. O acompanhamento do andamento geral da lesão deverá ser
precedido de registros fotográficos regulares.
Figura 61 – Escala métrica incorporada ao levantamento arquitetônico fotográfico
Fonte: Docci, 1987
92
4.2 Fotogrametria
A fotogrametria é a ciência e a tecnologia de se reconstruir o espaço
tridimensional, ou parte do mesmo, a partir de imagens bidimensionais advindas
de sensores que gravam padrões de ondas eletromagnéticas, sem contato físico
direto com o objeto (COELHO, 2002, p. 07). Portanto, trata-se de uma
transformação entre sistemas. Para que ocorra essa transformação, faz-se
necessário a utilização de um conjunto de pontos de controle, expressos no
objeto (Fig. 62). A qualidade dos resultados obtidos está diretamente relacionada
ao número de pontos de controle, portanto, quanto maior for o número de pontos
utilizados maior deverá ser a precisão do levantamento.
Figura 62 – Representação esquemática da fotogrametria
Fonte: Coelho, 2002
Em função da plataforma utilizada, a fotogrametria pode ser
terrestre, aérea ou orbital. Para a arquitetura, interessam os levantamentos
realizados por meio da fotogrametria terrestre, também chamada de fotogrametria
a curta distância, por essa razão, esse estudo restringir-se-á a esse tipo de
plataforma.
93
A fotogrametria digital terrestre é utilizada para a criação de
imagens tridimensionais, com alta precisão, de edificações e monumentos. Seu
emprego vem sendo difundido na documentação de edificações históricas, por
apresentar diversas vantagens sobre os levantamentos tradicionais,
especialmente no que compete ao tempo de realização do serviço, à precisão dos
resultados obtidos e à possibilidade de se medir as deformações de elementos,
favorecendo entre outras coisas, o conhecimento das características geométricas,
a avaliação do real estado de conservação do edifício e barateando o custo
relativo do serviço.
Para Cramer (1986, p. 105), esse tipo de avaliação espacial também
possui a vantagem de não estar limitada a um determinado plano de seção,
previamente definido, e sim a qualquer plano, que poderá ser definido inclusive
posteriormente ao levantamento de campo. Aubin (1992, p. 92) vê diversos
benefícios no levantamento fotogramétrico, afirmando que, através dele, é
possível definir-se a descrição precisa do objeto, de sua estrutura e de suas
deformações, conhecer as linhas que definem a forma dos objetos, além de
demonstrar a especificidade de cada detalhe dos ornamentos.
Apesar das propaladas vantagens que possui em relação aos
levantamentos tradicionais, a utilização da fotogrametria digital ainda é
inexpressiva na documentação e cadastramento dos monumentos de interesse
histórico brasileiros, sendo raros os projetos de restauro que utilizam a tecnologia
ou os profissionais ligados a área que já tiveram contato com essa técnica.
Enquanto nos países europeus, a fotogrametria tem sido largamente
utilizada em levantamentos arquitetônicos, desde de 1970, no Brasil, até a década
de 1980 a utilização da fotogrametria no levantamento e cadastramento do
Patrimônio Histórico era praticamente inexistente, em especial, porque naquele
momento, possuía um alto custo, a produção dos desenhos era demorada e raros
eram os técnicos especializados na área. Atualmente, essa realidade começa a
modificar-se, sendo possível encontrar diversas empresas brasileiras que
trabalham com essa tecnologia, viabilizando tecnicamente e financeiramente a
execução desse tipo de levantamento.
94
Alguns destacados trabalhos têm sido desenvolvidos no país,
contudo, a produção ainda é incipiente se pensarmos no Patrimônio Arquitetônico
existente em cidades como Ouro Preto, Olinda, Recife, Belém e São Luis que
esperam por ser inventariados e cadastrados.
4.2.1 O Surgimento da Técnica
Desde que a fotografia foi inventada, logo se pensou em utilizá-la
para auxiliar nos dispendiosos e exaustivos levantamentos arquitetônicos e
topográficos. O fotógrafo francês Gaspard Félix Tournachon, o Nadar, em 1858,
ao sobrevoar Paris em um balão e tirar as primeiras fotografias aéreas da história,
inaugurou o que mais tarde viria a ser aperfeiçoado e chamado de fotogrametria.
No entanto, foi apenas em 1889 que o alemão C. Koppe lançou o primeiro manual
sobre o tema (COELHO, 2002, p. 10) .
A invenção do aparelho estereocomparador, pelo alemão Pultrich,
em 1901, que permitia a medição das coordenadas de um objeto registrado
através do plano de fotografias (AUBIN, 1992, p. 88), revolucionou a
fotogrametria. Dez anos depois, o austríaco Theodore Scheimpflug criou um
método de retificação de fotografias aéreas, que permitia sua utilização no
mapeamento de superfícies de grande extensão. Posteriormente, esses
dispositivos de retificação foram substituídos por restituidores analógicos, que
permitiam a visão estereoscópica.
Com o surgimento das câmeras métricas pôde-se inserir nas
fotografias informações relativas ao sistema de coordenadas da imagem,
aumentando a acurácia das medições. Na década de 1950, alguns anos após a
invenção do computador, surgiram os primeiros estudos que estabeleceriam as
bases da fotogrametria analítica, que desejava aperfeiçoar o método e substituir
os aparelhos mecânicos pela informatização na realização de cálculos. Contudo,
somente em 1976, no congresso da International Society for Photogrammetry,
foram lançados os primeiros restituidores analíticos.
95
Nos anos de 1980, com o avanço da informática, iniciou-se a
utilização de imagens digitais como fonte primária de dados, entretanto, somente
na década seguinte a fotogrametria tornar-se-ia digital, a partir do
desenvolvimento da informática que criou processadores de dados de maior
capacidade. Os aparelhos fotogramétricos, utilizados atualmente, possuem tal
complexidade que são verdadeiras estações de trabalho, voltadas exclusivamente
para a técnica, sendo chamados de estações fotogramétricas digitais. O
desenvolvimento de novos programas de computador que retificam as imagens e
calculam as distâncias, dispensando a utilização de câmera métrica, simplificou e
barateou a técnica.
Uma das fases mais importantes do levantamento fotogramétrico é a
aquisição de dados, momento que deve ser minuciosamente planejado, para se
evitar erros no processo. A interpretação das fotografias é outra fase que
demanda cuidados, pois, a alta qualidade do produto gerado, é fruto de um
trabalho bem realizado.
É necessário salientar que existe uma ligeira diferença entre a
fotogrametria digital e aquela que utiliza o computador como recurso. A primeira
utiliza-se da informática durante todo o processo de obtenção e processamento
da imagem, a segunda usa o computador na elaboração da saída de dados
digitais, por meio de arquivos de imagem, no entanto, a entrada de dados se dá
de maneira analógica, ou seja, através de fotografias impressas.
4.2.2 Utilização no Levantamento do Patrimônio Histórico
Utilizada para a elaboração de desenhos em escala de paisagens,
edifícios ou qualquer elemento tridimensional com precisão, a fotografia
estereométrica, ou fotogrametria, retrata o objeto através de dois pontos de vista
diferentes. Apesar de ser uma técnica complexa, Gullini (1973, p. 63) acredita
que a fotogrametria oferece um salto qualitativo na documentação de edifícios,
especialmente no que se refere à diminuição de tempo investido, no aumento de
precisão do produto final e na avaliação do estado do monumento. Por isso, em
edificações singulares, a utilização do levantamento fotogramétrico é de suma
importância.
96
Em projetos de restauração ou revitalização de edificações
históricas, uma das maiores dificuldades é a existência de uma documentação
arquitetônica histórica precisa. Por vezes, os edifícios não possuem cadastro das
reformas e acréscimos sofridos ou o projeto original não confere com a situação
atual. Em outros casos, pode-se encontrar desenhos variados de uma mesma
construção e, mesmo a realização de novas verificações na tentativa de
compatibilização do material, pode não produzir informações confiáveis. Em todos
os casos, no entanto, o real estado da edificação não se encontra representado,
fazendo-se necessário a realização de novos levantamentos que forneçam tais
informações.
Cramer (1986, p. 106) acredita que a combinação da realização de
levantamentos tradicionais das plantas arquitetônicas e medições fotogramétricas
das fachadas, trazem vantagens econômicas, especialmente nos casos em as
fachadas apresentam uma multiplicidade de pequenos elementos.
Nos Estados Unidos, a fotogrametria é comumente utilizada em
projetos de restauro, por sua precisão e pela economia de tempo no levantamento
e elaboração de dados. Para o projeto de revitalização do Forney Transportation
Museum, no Colorado, contratou-se uma equipe para executar o levantamento
fotogramétrico que resultou em 23 desenhos, produzidos em 45 dias, com apenas
uma semana de trabalho de campo. Em levantamentos tradicionais,
provavelmente, se precisaria de alguns meses para a execução dos
levantamentos de campo e a elaboração dos desenhos, sendo que os resultados
obtidos possivelmente não teriam a mesma precisão dos levantamentos
fotogramétricos.
No Brasil, alguns projetos-pilotos têm sido desenvolvidos por
instituições ligadas à pesquisa, como na Universidades Federal de Santa
Catarina e no Instituto Militar de Engenharia, para avaliar a eficiência de
equipamentos e softwares, verificar a aplicabilidade no registro de edificações
históricas e aperfeiçoar a técnica. Destacamos, a seguir, exemplos da utilização
da fotogrametria no levantamento de alguns dos mais importantes monumentos
históricos brasileiros.
97
Uma das primeiras utilizações da fotogrametria terrestre em
edificações históricas no País, foi o levantamento realizado na Igreja de São
Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, no início da década de 1980 (Figs. 63 e
64). O trabalho teve como objetivo a análise, documentação e a representação
gráfica das características físicas do monumento, dos processos de degradação e
das diversas intervenções que a edificação havia sofrido (BRASIL, 1994, p. 14).
Figura 63 – Igreja de São Miguel Arcanjo no Rio Grande do Sul
Fonte: www. terra-australis.com.br
Figura 64 – Restituição fotogramétrica da fachada da Igreja de São Miguel Arcanjo no Rio Grande do Sul
Fonte: Brasil, 1994
98
Em Curitiba, o Museu Paranaense teve suas fachadas, e alguns
detalhes internos, levantados pela técnica fotogramétrica, resultando em
restituições fotogramétricas das fachadas e ortofotos do edifício (Figs. 65 a 67). A
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, em
1998, foi alvo de um levantamento fotogramétrico que registrou as fachadas e
algumas dependências internas.
Figura 67 – Restituição fotogramétrica do Museu Paranaense em Curitiba
Fonte: www.esteio.com.br/
FigurFigurFigurFigura 65a 65a 65a 65 – Museu Paranaense em Curitiba Fonte: www.esteio.com.br/
Figura 66Figura 66Figura 66Figura 66 – Ortofoto da fachada do Museu Paranaense em Curitiba
Fonte: www.esteio.com.br/
99
Na Bahia, o Castelo Garcia D’Ávila foi submetido a um dos mais
completos registros fotogramétricos do Brasil, tornando-se referência na utilização
da técnica para a preservação patrimônio histórico e artístico nacional (Figs. 68 e
69). Esse levantamento foi desenvolvido pelo projeto Documentação Precisa de
Sítios Brasileiros, promovido pelo Ministério da Cultura, em parceria com o
Instituto Militar de Engenharia. Segundo o jornal Correio da Bahia, de 17 de
janeiro de 2001, o serviço de fotogrametria digital custou cerca de US$ 5 mil.
Caso fosse realizado nos moldes tradicionais o custo seria cerca de vinte vezes
maior e necessitaria de 6 meses para se efetuar a conclusão dos serviços.
Figura 68 – Castelo Garcia D’Ávila na Bahia
Fonte: www.esteio.com.br/
Figura 69 – Restituição fotogramétrica do Castelo Garcia D’Ávila
Fonte: www.esteio.com.br/
100
4.3 Fotografias especiais
O reconhecimento da contribuição da fotografia para a produção do
conhecimento vem aumentando, especialmente quando utilizada como auxiliar
nas ciências médicas e biológicas e nas ciências exatas e naturais,
destacando-se sua utilização no campo da arquitetura e do restauro, por meio
além da fotogrametria, de fotografias especiais.
“As imagens podem ser gráficas, óticas, perceptivas, mentais ou verbais, sendo que cada uma delas passou a ser estudada independente por uma ciência ou por uma das artes. Assim como na história da arte e a crítica literária procuram estudar as imagens gráficas e verbais, a física, a filosofia, a neurologia, a psicologia e a epistemologia continuam buscando maneiras de estudar as imagens óticas, perceptivas e mentais” (FELDMAN-BIANCO e LEITE, 1998, p. 41-42)
Na análise das obras de arte, especialmente, da pintura, além dos
métodos tradicionais de observações à luz visível, empregados de preferência sob
condições controladas e recorrendo a instrumentos especiais de ampliações como
a lupa binocular, são utilizados também diversos meios de visualização mais
sofisticados como a microscopia, a radiação infravermelha, a radiação ultravioleta,
os raios-X. Todos esses métodos de análise podem ser registrados
fotograficamente, contudo, a técnica fotográfica necessitará do auxílio de
instrumentos especiais para obtenção dessas imagens.
4.3.1 Raio-X, Ultravioleta e Infravermelho
Por conseguir registrar radiações de comprimento de onda
invisíveis ao olho humano, a fotografia tornou-se uma das melhores fontes para
a aquisição de dados experimentais, sendo utilizada para o exame técnico de
obras de arte.
101
As radiações eletromagnéticas possuem um intervalo bem amplo
de comprimentos de onda (Fig. 70). Dependendo de suas fontes, são
representadas graficamente no espectro eletromagnético, como ondas de rádio,
microondas, infravermelha, luz visível, raios ultravioleta, raios-x e raios gama, no
entanto, não existem limites precisos entre as radiações, havendo
sobreposições em certas faixas.
A região das ondas eletromagnéticas que podem ser percebidas
pelo olho humano, ocupa um pequeno segmento das radiações
eletromagnéticas, que ficam limitadas entre 4.000 e 7.000 Å (BARRIO, 1998, p.
287). A zona do espectro, que comumente se utiliza nos exames técnicos de
obras de arte, situa-se próximo do segmento da “luz visível”, onde localizam-se
os raios-X, raios ultravioleta e raios infravermelho.
Figura 70 – Espectro Eletromagnético
Fonte: Barrio,1998
Assim, estudos de fotografias utilizando os raios-X, ultravioleta,
infravermelho, se tornaram verdadeiros documentos que registram o estado de
conservação de obras de arte, revelam a técnica executada pelo artista, o
material utilizado, a presença de microorganismos, alterações de pigmentações,
possíveis alterações ou retoques ou, até mesmo, a detecção da autoria da obra
no caso de suspeitas de falsificações.
102
Contudo, para a manipulação e aproveitamento das radiações faz-
se necessário à utilização de filtros especiais. Para registrar aspectos da luz
visível, utilizam-se diversos filtros coloridos. Os raios ultravioletas são
selecionados com o uso da lâmpada de Wood, os raios-X são modificados com
anteparos metálicos e os raios infravermelhos necessitam de filtros especiais
para serem captados.
4.3.2 Fotografia com Raios Ultravioletas
Os comprimentos de onda, situados em 4.000 e 180-140 Å,
compreendem a região dos raios ultravioletas. Nesta faixa o olho humano não
percebe mais nenhuma sensação de cor. Os raios ultravioletas podem ser :
• Ultravioletas próximos (3.200 a 4.000 Å);
• Ultravioletas médios (2.900 a 3.200 Å);
• Ultravioletas distantes (menos que 2.900 Å).
As radiações que favorecem a degradação dos materiais orgânicos,
como a oxidação de tecidos, a descoloração de pigmentos e o enfraquecimento
do papel estão contidas nas faixas azuis, violetas e nos raio ultravioletas próximos
e parte dos ultravioletas médios. Essa degradação ocorre de forma gradual e
acumulativa, por isso, deve-se ter especial cuidado com a exposição das obras de
artes aos raios ultravioletas. Segundo Barrio (1998, p. 292) a realização de
exames técnicos ou registros fotográficos pela radiação ultravioleta não pode ser
considerada prejudicial às obras, porque o período de exposição à radiação é
curto, no entanto, não se descarta a possibilidade de alterações nos objetos caso
as “operações se prolonguem além do limite recomendado pela prudência”.
Os registros fotográficos, que utilizam os raios ultravioleta, podem
ser de dois tipos: fotografia de ultravioleta e de fluorescência. O primeiro registra
as radiações refletidas pelos objetos que não são visíveis ao olho humano. Nesse
caso, utiliza-se como fonte de radiação ultravioleta lâmpadas de vapor de
mercúrio, com ou sem filtro.
103
Para captar comprimentos de onda na faixa de 3.200 a 4.000 Å,
deve-se utilizar uma objetiva de vidro comum. Lentes especiais, feitas de quartzo,
podem registrar comprimentos de onda num intervalo maior, entre 2.500 a 4.000
Å. Em ambos os casos, deve-se utilizar na objetiva da câmera um filtro especial
que detenha a radiação visível e transmita apenas os raios ultravioletas refletidos.
Esse tipo de registro requer a utilização de filmes de alto contraste.
O segundo caso refere-se à fotografia de fluorescência que registra
as radiações visíveis emitidas pelos objetos. O fenômeno da fluorescência visível
de raios ultravioletas ocorre devido à propriedade que determinadas substâncias
têm de absorver uma parte da radiação ultravioleta, que é invisível e, após uma
rápida transformação física, emitir radiações visíveis ao olho humano.
Para o registro fotográfico, utilizando esta técnica, deve-se fazer uso
de filmes pancromáticos e filtros de cor, para que absorvam a radiação ultravioleta
refletida e transmitam a luz visível da fluorescência. Pode-se, também, utilizar
filmes monocromáticos que registram com maior acuidade certos fenômenos,
dificilmente percebidos pelo olho humano, no entanto, podem ocorrer situações
em que as diferenças entre cores, matizes e tonalidades sejam tão tênues que
não apareçam satisfatoriamente registrados na película.
Pinturas cuja superfície emite fluorescências de cor púrpura, violeta
ou azul claro, aparecem como branco ou cinza muito luminoso na fotografia. As
fluorescências verdes e amarelas são menos ativas, tornando-se mais escuras
nos positivos. A utilização de filtros pode ser de grande valia quando se deseja
destacar uma determinada cor nos registros, entretanto, deve-se ter a noção
exata das interferências que este elemento provoca nas imagens.
As fotografias a cores são bastante eficazes no registro da
fluorescência, especialmente ao se utilizar filmes de alta sensibilidade. Barrio
(1998, p. 317) preocupa-se, no entanto, com a durabilidade, estabilidade e o
arquivamento das fotografias coloridas, que devem ser realizadas com bastante
cuidado para que o acervo torne-se documentação confiável.
104
Para a análise técnica de seis obras do Museu Mineiro, de autoria
atribuída a Manoel Costa de Athayde, sob a coordenação da prof. Marylka
Mendes, utilizou-se o registro fotográfico em infravermelho, raios-X e ultravioleta.
Mendes e Baptista (1998, p. 375) utilizando uma maquina monoreflex (Cânon AE
n), e filtro especial para as fotografias com luz UV, constatou desenhos
subjacentes a pintura e a inexistência de retoques antigos nas obras.
Outro exemplo importante registrado da utilização da fotografia de
ultravioleta foi à autenticação do Kouros (Fig. 71) chamado de “Getty”, comprado
em 1985, pelo Museu J. Paul Getty, nos Estados Unidos. A origem dele foi posto
em dúvida em 1986, quando foi descoberto que o documento que provava que ele
havia pertencido a um colecionador suíço era falso. Submetido então, a uma
intensiva análise com a radiação ultravioleta, nada foi provado quanto à utilização
de utensílios modernos ou de envelhecimento artificial da matéria. Ao contrário de
uma reconhecida falsificação (Fig. 72) também pertencente ao Museu.
Figura 71 – Kouros Getty, atestado pela fotografia ultravioleta como autêntico.
Fonte: Abril Coleções, 1998
Figura 72 – Kouros falso que ao ser submetido a radiação ultravioleta revelou possuir uma
cabeça feita de gesso. Fonte: Abril Coleções, 1998
105
Contudo, a polêmica quanto a autenticidade da peça ainda não se
encerrou, porque para os cientistas a estátua é autentica, graças aos estudos
com ultravioletas, raios-X e infravermelhos, mas para os historiadores de arte a
obra é uma farsa, porque o estilo empregado nos cabelos, nas mãos e pés da
estátua não corresponde ao utilizado no período.
4.3.3 Fotografia com Raios-X
Os raios-X possuem a capacidade de atravessar os corpos opacos a
luz visível e, ao atravessarem a estrutura pictórica podem ser absorvidos por
pigmentos ou materiais, ou alcançar, sem maiores interferências, a placa
radiográfica, resultando em áreas de contrates diferenciadas. A opacidade da
placa relaciona-se diretamente com o peso atômico do objeto, sendo mais opaca
nos elementos que apresentam maior peso atômico.
As radiografias favorecem a observação da estrutura interna das
obras de arte, por isso são essenciais na avaliação do estado de conservação dos
objetos históricos. Na indústria metalúrgica o raio-X é utilizado na detecção de
minúsculos defeitos, fissuras ou inclusões de materiais nas soldaduras metálicas.
A análise das radiografias requer um trabalho especializado para que se evite
erros de interpretação.
Couto (1948, p. 161-167) relata que as fotografias, auxiliadas pelos
raios-X no laboratório do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, permitiram
que em muitas pinturas portuguesas, e estrangeiras fossem, descobertos danos
causados pela ação do tempo ou dos homens. Com auxílio da técnica, pode-se
verificar diversos aspectos técnicos de execução, como a sobreposição de
pinturas anteriores desprezadas pelos artistas em detrimento de uma nova,
identificar características estilísticas de artistas, como também ajudar na
descoberta de falsificações.
106
Os estudos com os raios-X no laboratório surgiram em 1936, por
iniciativas do próprio autor e do físico Manuel Valadares. Adotando o esquema da
National Gallery, de Londres, o laboratório, pouco tempo depois de sua criação já
contava com aparelhos de raios infravermelhos e ultravioletas, além de
microscópios, jogo de lentes, suportes especiais, etc., para a obtenção de
microfotografias.
Segundo Couto (1948, p. 161-167), o trabalho do laboratório não se
limitou apenas à pintura, a modalidade da arte que tem maiores benefícios com a
técnica. A fotografia de raios-X também foi utilizada nas cerâmicas, vidraçarias,
pedra, tecidos, ourivesaria, dentre outros materiais que necessitavam de
pareceres dos especialistas.
Outra experiência na utilização da fotografia de raios-X, para análise
dos materiais artísticos é apresentada por Cruz (1996, p. 83-103), no Instituto
José de Figueiredo, em Lisboa. Dentre os casos mencionados no artigo, ele
destaca a pintura de duas tábuas, provenientes da Capela do Espírito Santo dos
Mareantes, em Sesimbra, e de uma terceira, vinda do Convento da Madre de
Deus, em Vinho, ambas as cidades em Portugal.
Das pinturas da Capela dos Mareantes, uma apresentava a imagem
da Adoração dos Pastores (Fig. 73) e a outra a Adoração dos Magos (Fig. 74),
ambas datadas do século XVI. Após fotografias realizadas em 1985, as duas
revelaram serem pintadas sobre um outro assunto, respectivamente, O
Pentecostes (Fig. 75) e a Nossa Senhora do Rosário (Fig. 76) no qual um
documento, datado de 1553, escrito por D. Jorge Preto quando visitou a Capela,
relatou que ambas ficavam ao altar da capela, ladeando uma escultura da
Santíssima Trindade, confirmando a autenticidade dos achados. A fotografia com
os raios-X, permitiu aos pesquisadores encontrar duas obras que até então eram
consideradas perdidas.
107
����
Figura 73 – Adoração dos Pastores Fonte: Cruz,1996
Figura 74 – Radiografia da pintura representada na Fig. 73, em que é visível uma pintura subjacente
representando o Pentecostes Fonte: Cruz,1996
����
Figura 75 – Adoração dos Magos Fonte: Cruz,1996
Figura 76 – Radiografia da pintura representada na Fig. 75, que mostra uma pintura subjacente tendo
como temática a Nossa Senhora do Rosário. Fonte: Cruz,1996
A terceira tábua, vinda do Convento da Madre de Deus, que
apresentava uma pintura de Nossa Senhora do Rosário (Fig. 77) do século XVIII,
após as análises com fotografias de raios-X em 1977, foram descobertas não
108
uma, mas duas pinturas subjacentes (Fig. 78), contendo o mesmo tema,
atribuídas, respectivamente, aos séculos XVII (Fig. 79) e XVI (Fig. 80).
���� Figura 77 – Nossa Senhora do Rosário, pintura do século
XVIII. O lado esquerdo mostra o estado em que a obra encontrava-se em 1975; no lado direito a pintura apresenta-
se parcialmente limpa, após o início da restauração. Fonte: Cruz,1996
Figura 78 – Radiografia da pintura representada na Fig. 77, em que são observáveis duas pinturas
subjacentes. Fonte: Cruz,1996
Figura 79 – Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVII, visível após o levantamento da pintura do
século XVIII ilustrada na Fig. 77. Fonte: Cruz,1996
Figura 70 – Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVI, visível após o levantamento das pinturas
dos séculos XVIII e XVII representadas, respectivamente, nas figuras 77 e 79. Fonte: Cruz,1996
109
4.3.4 Fotografia com Raios Infravermelhos
Também chamados de radiações caloríficas, os raios infravermelhos
localizam-se na faixa do espectro eletromagnético em que o comprimento da
onda é maior que 7.000 Å. Os raios infravermelhos são registrados
fotograficamente com a utilização de filtros especiais e filmes sensíveis a este tipo
de radiação. Há várias décadas a radiação infravermelha tem sido de utilizada no
exame de obras de arte por poder penetrar nas camadas superficiais da pintura e
atravessar os vernizes e esbatimentos.
Na análise de pintura podem revelar retoques, antigas restaurações,
desgaste, assinaturas ocultas ou desgastadas, além de detectar esboços ou
desenhos subjacentes à pintura (BARRIO, 1998, p.294). O infravermelho é
utilizado também para elucidar dúvidas em obras que não puderam ser
investigados com o auxílio de raios-X e de ultravioletas.
No campo da história da arte, Cruz (1997, p. 04) afirma que
especialmente em obras dos séculos XV e XVI, as fotografias infravermelhas
permitem visualizar recursos estilísticos, bem característicos de cada artista,
especificamente no desenho preparatório subjacente que, de outro modo, ficaria
ignorado. Em geral, faz-se a confrontação dos resultados dos registros obtidos
com a radiação infravermelha e aqueles obtidos com os raios-X, fluorescência
ultravioleta e com a luz visível.
O autor também relata uma experiência da aplicação da fotografia
infravermelha para o exame de objetos no Instituto José de Figueiredo, em
Lisboa. Essa se resumiu no auxílio através da fotografia de infravermelho para a
identificação de etiquetas de tubos de tinta, utilizados pelo artista Columbano
Bordalo Pinheiro (1857-1929). As leituras das etiquetas estavam impossíveis de
serem vistas a olho nu, devido a sujeiras criadas pelos acúmulos de tintas que
escorreram pelo próprio tubo (Figs. 81 e 82).
110
Figura 81 – Etiqueta que não era possível ler à luz
visível. Fonte: Cruz, 1997
Figura 82 – Fotografia com auxílio do infravermelho, que identificou o rótulo da tinta como Rouge de
Venise preparado por Paul Denis Fonte: Cruz, 1997
4.3.5 Microfotografia
É um tipo de técnica fotográfica que, auxiliado por um microscópio
eletrônico, registra pequenos elementos que não são perceptíveis ao olho
humano. Sua atuação é intensamente empregada na medicina, na biologia, na
química. No restauro, a microscopia e a microfotografia são intensamente
utilizados na análise de materiais porosos como pedras, cerâmicas, concreto,etc.
Em seu livro Il restauro della pietra, Lazzarini e Tabasso apresentam
algumas microfotografias, realizadas em diferentes amostras de pedras, para a
avaliação da profundidade de penetração de substâncias para a consolidação
desses materiais (Fig. 83). Mendonça (2002, p. 41-43), também apresenta duas
microfotografias, oriundas de análise microscópica. A primeira refere-se à
presença de sais solúveis no Museu de Arqueologia da Bahia e a segunda refere-
se à análise biológica do mural de Genaro de Carvalho, existente no Tropical
Hotel, em Salvador. Os dois exemplos apresentados demonstram a utilização
dessa técnica como auxiliar no diagnóstico da degradação de materiais no
restauro.
111
Figura 83 – Microfotografia de uma amostra de calcário tratada com Paraloid B72 e Dri film 104
Fonte: Lazzarini e Tabasso, 1986
Sanjad (2002, p. 117) em sua dissertação de Mestrado, realizou uma
série de análise microscópica de azulejos dos séculos XVI, XVII e XIX, das quais
obteve microfotografias da constituição do azulejo. Por meio da microfotografia se
pode dimensionar a espessura das camadas, conhecer a constituição dos
azulejos, como também, evidenciar as irregularidades das peças (Figs. 84 e 85).
Essas imagens serviram de base para a realização do desenho em
escala, realizado com auxílio do aplicativo AUTOCAD (Fig. 86), permitindo o
dimensionamento das peculiaridades encontradas na fotografia como diâmetro de
bolhas de ar e espessura do craquelê na amostra.
112
Figura 84 – Amostra analisada
Fonte: Sanjad, 2002 Figura 85 – Microfotografia da seção polida da amostra do
azulejo Fonte: Sanjad, 2002
Figura 86 – Esquema em CAD da microfotografia apresentada na Fig. 85
Fonte: Sanjad, 2002
113
Convento do Carmo, 1862 – SP Fonte: Carvalho e Lima, 1998
5 CONCLUSÕES
Possuindo pouco mais de um século e meio de existência, a
fotografia revolucionou a representação do mundo visível, gerando um incontável
número de registros que preservaram a memória visual de cenários, personagens
e monumentos.
A arquitetura sempre foi tema recorrente na fotografia, desde o
tempo em que a fixação de uma imagem era demorada e cansativa. No Brasil, a
partir da segunda metade do século XIX, intensificou-se o registro de imagens de
cidades e paisagens naturais. Cidades como Salvador, Recife e Belém foram
fotografadas por diversos profissionais, no entanto, foi no Rio de Janeiro que a
produção fotográfica brasileira desenvolveu-se com maior intensidade.
A República exigiu a construção de uma nova identidade nas
cidades, motivando a renovação urbana. O velho e conturbado centro aos poucos
viu surgir boulevares, grandes monumentos, linhas de bondes, praças
arborizadas, dentre outras realizações. As cidades cresceram e se transformaram,
114
ficando nas fotografias as feições das cidades antigas. Esse rico acervo de
imagens encontra-se espalhado nas mãos de colecionadores, arquivos de
empresas públicas ou privadas, antiquários e em diversas instituições no exterior.
Somente uma parte encontra-se disponibilizada em museus, arquivos históricos e
bibliotecas.
Apesar da reconhecida importância das fotografias como fontes
documentais, ainda existem certas restrições ao seu uso em pesquisas
científicas. Entretanto, essa realidade vem se modificando, pois diversas áreas do
conhecimento vêm utilizando a fotografia como fonte ou instrumento de
pesquisas.
Para os restauradores e arqueólogos a fotografia sempre foi vista
com bons olhos e logo ela integrou-se às fontes tradicionais de estudo. Por
registrar de maneira rápida e completa todos os detalhes da edificação, sua
utilização tornou-se de extraordinária importância no levantamento arquitetônico e
no registro de edificações, complementando a documentação gráfica e tornando-
se uma importante fonte de informações. Tanto que, a partir da documentação
resultante de intervenções restaurativas, muitas instituições transformaram em
livros ilustrados seus projetos e obras de restauração. Nestas publicações, a
fotografia e as imagens gráficas ocupam um lugar de destaque, como na série
restauro, lançada pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará, que transformou
em belos exemplares, as intervenções restaurativas realizadas nos últimos anos
na cidade.
Além do uso tradicional da fotografia no restauro, a inovação
tecnológica criou instrumentos que integraram a fotografia ao levantamento de
edificações, originando técnicas como a fotogrametria digital terrestre, que vem
sendo empregada na documentação de edificações históricas. Esse tipo de
levantamento apresenta diversas vantagens sobre os levantamentos tradicionais,
especialmente no que se refere ao tempo de realização do serviço, a precisão dos
resultados obtidos e o custo relativo do serviço.
115
Nos países da Europa, essa tecnologia vem sendo aplicada nos
levantamentos arquitetônicos desde de 1970, porém no Brasil, apenas
recentemente tem-se utilizado da fotogrametria no levantamento e cadastramento
do Patrimônio Histórico. Um das primeiras utilizações da fotogrametria terrestre
na conservação e no restauro do patrimônio nacional foi o levantamento da Igreja
de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, no início da década de 1980,
comprovando que no País essa técnica ainda não se popularizou.
Outras tecnologias de análise de materiais e de obras de arte se
uniram à fotografia como a microscopia, a radiação infravermelha, a radiação
ultravioleta, os raios-X permitindo desde o conhecimento da técnica aplicada pelo
autor, os tipos de materiais empregados, a detecção de microorganismos, as
alterações de pigmentações, retoques nas obras, etc.
Historiadores, arquitetos e profissionais ligados à conservação e ao
restauro também têm utilizado as fotografias antigas, especialmente as de
arquitetura e de vistas urbanas, para demonstrar as transformações nas
edificações e nas cidades. Além do uso tradicional, novas possibilidades vêm
ampliando a utilização da fotografia na arquitetura. Portanto, a utilização de
registros fotográficos, seja como base documental ou como parte de inventários e
levantamentos arquitetônicos é sempre uma importante ferramenta no
desenvolvimento de ações e projetos que busquem a conservação e a
preservação de nossos bens culturais.
116
6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ABREU, Carol de (org.). Anchieta: a restauração de um santuário. Rio de
Janeiro: 6ª C.R./IPHAN, 1998.
ABRIL COLEÇÕES. Grécia: Templos, túmulos e tesouros. Rio de Janeiro: Abril
Coleções, 1998.
ABRIL CULTURAL. Fotografia: Manual completo de arte e técnica. São Paulo,
SP, 1978.
ALAMBERT, Clara C. d` et al. Conservação: postura e procedimentos. São
Paulo: Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, sd.
ALBIN, Jean-Paul Saint. Le relevé et la represéntation de l’architecture. Paris:
L’inventaire Général, 1992.
ALBUQUERQUE, M. et al. Fortes de Pernambuco: imagens do passado e do
presente. Recife: Graftorre, 1999.
BAHIA, Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. IPAC-BA – Inventário de
proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do litoral sul. Salvador,
1988.
117
BARBOSA, Ana. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos.
São Paulo: Perspectiva/Iochpe, 1991.
BARRIO, Nestor. O exame da fluorescência da pintura. In: MENDES, Marylka e
BAPTISTA, Antônio Carlos (orgs.). Restauração: ciência e arte. 2. ed. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ: IPHAN, 1998.
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio
Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: LIMA, Luiz Costa (Org.). Teoria da cultura de massa. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221-254.
BOITO. Camilo. Os restauradores. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
BRASIL, Ministério da Cultura. Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. 12 ª Coordenação Regional do IPHAN. Remanescentes da Igreja da
Redução de São de Miguel Arcanjo: Levantamento cadastral. Porto Alegre:
Pallotti, 1994.
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Thomson Pioneira,
1999.
CARBONELL, Charles-Olivier. Historiografia. Lisboa: Teorema, 1981.
CARDOSO, Ciro Flamarion e MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os
exemplos da fotografia e do cinema. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS,
Ronaldo. Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. 5 ed. Rio de
Janeiro: Campus, 1997. p. 401-417.
CARVALHO, Maria Cristina e WOLFF, Silvia. Arquitetura e Fotografia no Século
XIX In FABRIS, Ana Teresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,1991. p. 131-172
118
CARVALHO, Vânia e LIMA, Solange. Fotografia e cidade: da razão urbana à
lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954. Campinas:
Mercado de Letras, 1997.
CARVALHO, Vânia e LIMA, Solange. Representações urbanas: Militão Augusto
de Azevedo e a memória visual da cidade de São Paulo. In: REVISTA DO
PATRIMÔNIO. Fotografia. nº 27. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998. p. 110-119.
COELHO, Luiz e BRITO, Jorge. Fotogrametria digital. Rio de Janeiro: Instituto
Militar de Engenharia, 2002.
COLIN, Silvio. Uma introdução à arquitetura. Rio de Janeiro: UAPÊ, 2000.
COLLIER, John. Antropologia visual: a fotografia como método de pesquisa.
São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1973.
COUTO, João. A acção dos físicos e dos químicos nos laboratórios dos museus
de artes. In: Gazeta de Física, Lisboa, vol.1, nº 6, 1948, p. 161-167.
CRAMER, Johannes. Construcción: levantamiento topográfico en la
construcción: medición y reconocimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,
1986.
CRUZ, António João. Aplicações não convencionais da radiação infravermelha no
exame de objectos museológicos. In: Boletim da Associação para o
Desenvolvimento da Conservação e Restauro. Nº 06, 1997, p. 4-5.
________________. Imagens perdidas, imagens achadas: pinturas reveladas
pelos raios X no Instituto José de Figueiredo. In: SIMPÓSIO COMEMORATIVO
DO CENTENÁRIO DA DESCOBERTA DOS RAIOS, 1996, Coimbra. Actas....
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1996, p. 83-103.
119
CURY, Isabelle (org.). Cartas patrimoniais. 2. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.
DOCCI, Mario e MAESTRI, Diego. Il rilevamento architettonico: storia, metodi
e disegno. Bari: Laterza, 1987.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Trad. Marina
Appenzeller. 5. ed. Campinas: Papirus, 1993. (Série Ofício de Arte e Forma)
EDICIONES DEL PRADO. Historia geral da arte: arquitetura I. Espanha, 1996.
FELDMAN-BIANCO, Bela e LEITE, Miriam L. Moreira. Desafios da imagem:
fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas: Papirus, 1998.
FERNADES JUNIOR, Rubens e LAGO, Pedro. O século XIX na fotografia
brasileira. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, s.d.
FERRARA, Lucrecia D’Alessio. Olhar periférico: informação, linguagem,
percepção ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil 1840-1900. Rio de Janeiro:
Mec/Sphan/PróMemória, 1985.
________________. Bahia: velhas fotografia, 1858-1900. Rio de Janeiro:
Kosmos/ Salvador: Banco da Bahia de Investimentos, 1988.
________________. Fotografia no Brasil e um de seus mais dedicados
servidores: Marc Ferrez (1843-1923). In: REVISTA DO PATRIMÔNIO historico
e artistico nacional. Fotografia. nº 26. Rio de Janeiro: IPHAN, 1997. p. 294-357
FLEXOR, Maria Helena O. J. J. Seabra e a reforma urbana de Salvador. In
PROJETO DE COOPERAÇÃO CAPES/COFECUB. Cidades brasileiras:
120
políticas urbanas e dimensão cultural. São Paulo: Instituto de Estudos
Brasileiro/ USP. 1998. pp 108-119.
GULLINI, Giorgio. La fotogrammetria dei monumenti per la storia dell’architettura.
In ATTI DEL SIMPÓSIO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAMMETRIA DEI
MONUMENTI. Fotogrammetria dei monumenti. Lucca: Fiorentina: 1973. pp 63-
88.
KEHRWALD, Isabel. Ler e escrever em artes visuais. In: NEVES, Iara Conceição
Bitencourt. Ler e escrever: compromisso de todas as áreas. Porto Alegre: Ed
Universitária/UERGS, 1999. p. 21-31.
KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ática, 2001.
KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na trama fotografica. São Paulo: atelie
editoril, 2002.
KRÄTZIG, T. A. G. e Marques, A.E. IDEAS – pesquisa sobre a degradação de
materiais pétreos em monumentos históricos. In: MENDES, Marylka e
BAPTISTA, Antônio Carlos (orgs.). Restauração: ciência e arte. 2. ed. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ: IPHAN, 1998, pp 335-353.
LAZZARINI, Lorenzo e TABASSO, Mariza L. Il restauro della pietra. Padova:
CEDAM, 1986.
LEAL, Fernando. Restauração e conservação de monumentos brasileiros:
subsídios para o seu estudo. Recife: Universidade Federal de Pernambuco,
1977. (Série Patrimônio Cultural, 1).
LEITE, Mirian Moreira. Retratos de família: leitura da fotografia histórica. São
Paulo: EDUSP, 2001.
121
__________________. Texto visual e texto verbal. In: FELDMAN-BIANCO, Bela e
LEITE, Miriam L. Moreira (orgs.). Desafios da imagem: fotografia, iconografia e
vídeo nas ciências sociais. 2 ed. Campinas: Papirus, 1998, pp.37-50
MALHANO, Clara. Da materialização à legitimação do passado: a
monumentalidade como metáfora do Estado: 1920-1945. Rio de Janeiro:
Lucerna: FAPERJ, 2002.
MENDES, Marylka e BAPTISTA, Antônio Carlos (orgs.). Restauração: ciência e
arte. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: IPHAN, 1998.
MICHELON, Francisca. A fotografia como fonte para a pesquisa sobre
perspectiva da conservação e a experiência do projeto memória fotográfica de
Pelotas – século XIX. In: ECOS REVISTA. Pelotas: Universidade Católica de
Pelotas, V.3, nº 2, mai/ago/1999. pp. 17-28.
MIRANDA, Victorino. Cartão Postal: Memória de Belém, In Belém da saudade: a
memória de Belém do início do século em cartões postais. 2.ed. Belém:
SECULT, 1998, pp. 10-18.
MONTEIRO, Rosana Honoro. Descobertas múltiplas: a fotografia no Brasil
(1824-1833). São Paulo: FAPESP/Mercado de Letras, 2001.
MOURA FILHA, Maria B. O cenário da vida urbana: a definição de um projeto
estético para as cidades brasileiras na virada do século XIX/XX. João Pessoa:
CT/Editora Universitária/UFPB, 2000.
OKA, Cristina e ROPERTO, Afonso. Origens do Processo Fotográfico.
Disponível em: http://www.cotianet.com.br. Acesso em: 10 mai. 2002.
OLIVEIRA, Mário. Tecnologia da conservação e da restauração. Salvador:
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA/PNUD/UNESCO, 1995.
122
PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia. Lisboa: Editorial Estampa, 1982.
PARÁ. Secretaria de Estado da Cultura. Parque da residência e estação
gasômetro. Belém: SECULT, 2000. (Série Restauro)
________________________________. Teatro experimental do Pará
Waldemar Henrique. Belém: SECULT, 1997. (Série Restauro)
PILLAR, Analice e VIEIRA, Denyse. O vídeo e a metodologia triangular no
ensino da arte. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do
Sul/Fundação Iochpe, 1992.
REIS, José Carlos. Escola dos Annales: a inovação em história. São Paulo:
Paz e Terra, 2000.
REVISTA DO PATRIMÔNIO. Fotografia. nº 27. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998.
RIEGL, Aloïs. El culto moderno a los monmentos: caracteres Y origen.
Madrid: Visor, 1987.
RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. Trad. Odete Dourado. Salvador:
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. UFBA, 1996. (PRETEXTOS, série b,
Memórias, 2).
SANJAD, Thais. Patologia e conservação de azulejos: um estudo tecnológico
de conservação e restauração de azulejos, dos séculos XVI, XVII e XIX,
encontrados nas cidades de Belém e Salvador. Salvador: PPGAU/FA/UFBA,
2002 (Dissertação de Mestrado).
SÃO PAULO a, Secretaria de Estado da Educação. Arquitetura escolar paulista – restauro. São Paulo, FDE, 1998.
SÃO PAULO b. CONDEPHAAT, bens tombados 1968-1998. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1998.
123
SCHAPOCHNIK, Nelson. Cartões postais, álbuns de família e ícones da
intimidade In SERVCENKO, Nicolau (org). História da vida privada no Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, V. 3. p. 424-512
SCHARF, Aaron. Construtivismo. In: STANGOS, Nikos. Conceitos da arte
moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991. pp. 116-121.
______________. Art and photografy. London: Pelikan Books, 1974.
SILVA, Geraldo. Arquitetura de ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1987. TURAZZI, Maria Inez. Marc Ferrez: fotografias de um “artista ilustrado”. São
Paulo: Cosac & Naify, 2000.
_________________. Poses e trejeitos: a fotografia e as exposições na era
do espetáculo (1839-1889). Rio de Janeiro: Rocco, 1995.
VASQUEZ, Pedro. A fotografia no império. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2002a. (Série Descobrindo o Brasil).
_______________. Postaes do Brazil: 1893/1930. São Paulo: Metalivros, 2002b.
VIOLLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Restauro. Trad. Odete Dourado. 3. ed.
Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. UFBA, 1996. (PRETEXTOS,
série b, Memórias, 1).
ZUÑIGA, Solange. Divagações mais ou menos contemporâneas acerca das
coleções de imagens. In: REVISTA DO PATRIMÔNIO. Fotografia. nº 27. Rio de
Janeiro: IPHAN, 1998, pp. 328-334.
www.acphoto.hpg.ig.com.br
http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/index.html