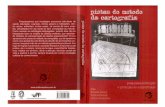cartografia geologica preliminar y geoquímica regional de la ...
FAMÍLIAS E BRASIS: uma cartografia sociosubjetiva
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of FAMÍLIAS E BRASIS: uma cartografia sociosubjetiva
Maria Luiza Marques Cardoso
FAMÍLIAS E BRASIS:
uma cartografia sociosubjetiva
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Psicologia. Orientadora: Dra. Roberta Carvalho Romagnoli Área de concentração: Processos de Subjetivação
Belo Horizonte 2020
FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Cardoso, Maria Luiza Marques
C268f Famílias e brasis: uma cartografia sociosubjetiva / Maria Luiza Marques
Cardoso. Belo Horizonte, 2020.
265 f. : il.
Orientadora: Roberta Carvalho Romagnoli
Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
1. Pesquisa sociológica - Brasil. 2. Famílias - Pesquisa - Brasil. 3. Famílias -
Desenvolvimento - Brasil. 4. Família - Levantamentos - Brasil. 5. Subjetividade.
6. Cartografia - Aspectos sociais. 7. Indígenas. 8. Quilombolas. 9. Violência. I.
Romagnoli, Roberta Carvalho. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. III. Título.
CDU: 392.3(81)
Ficha catalográfica elaborada por Pollyanna Iara Miranda Lima - CRB 6/3320
Maria Luiza Marques Cardoso
FAMÍLIAS E BRASIS: uma cartografia sociosubjetiva
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Psicologia. Área de concentração: Processos de Subjetivação
______________________________________________________________________ Profa. Dra. Roberta Carvalho Romagnoli – PUC Minas (Orientadora)
______________________________________________________________________
Prof. Dr. Jorge Ramos do Ó – Universidade de Lisboa
______________________________________________________________________ Profa. Dra. Estela Scheinvar – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
______________________________________________________________________
Prof. Dr. Danichi Hausen Mizoguchi – Universidade Federal Fluminense
______________________________________________________________________ Profa. Dra. Valéria Freire de Andrade – PUC Minas
______________________________________________________________________ Profa. Dra. Tereza Cristina Peixoto – Universidade Federal de Minas Gerais (suplente)
______________________________________________________________________
Prof. Dr. Bruno Vasconcelos de Almeida – PUC Minas (suplente)
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2020
A todas as pessoas e famílias que, ao participarem deste trabalho, ensinaram-me algo sobre a Vida;
A Roberta, por apostarmos e con-fiarmos na produção de conhecimento nômades;
A Gabriel e Clara Luz, meus pequenos preciosos, que dividiram a nossa vida entre durante e depois do doutorado e que seguem
comigo, sempre;
Ao meu pai, o primeiro feminista que conheci;
À minha família, aquela que compreendo em sentido amplo e amoroso, e a cada um e a cada uma que faz parte dela e que me
apoiou nesta empreitada;
A Heloísa, Federico, Sophia, Margarida, Jorge, Estela e Valéria, por me indicarem a potência de uma escrita.
Nossa vida intelectual é decididamente mal construída. A epistemologia, as ciências sociais, as ciências do texto, todas têm uma reputação, contanto que permaneçam distintas. Caso os seres que você esteja seguindo atravessem as três, ninguém mais compreende o que você diz. Ofereça às disciplinas estabelecidas uma bela rede sociotécnica, algumas belas traduções, e as primeiras extrairão os conceitos, arrancando deles todas as raízes que poderiam ligá-los ao social ou à retórica; as segundas irão amputar a dimensão social e política, purificando-a de qualquer objeto; as terceiras, enfim, conservarão o discurso, mas irão purgá-lo de qualquer aderência indevida à realidade - horresco referens - e aos jogos de poder. O buraco de ozônio sobre nossas cabeças, a lei moral em nosso coração e o texto autônomo podem, em separado, interessar a nossos críticos. Mas se uma naveta fina houver interligado o céu, a indústria, os textos, as almas e a lei moral, isto permanecerá inaudito, indevido, inusitado.
(Latour, 1994, p. 11)
RESUMO
Este trabalho aposta em um mapeamento cartográfico de diversas linhas que têm,
historicamente, participado da produção dos arranjos familiares brasileiros e dos processos de
subjetivação que os acompanham. A proposta de trabalhar com “linhas” é inspirada nas
contribuições teóricas e metodológicas de Gilles Deleuze e Felix Guattari, bem como de seus
intercessores. Propõe-se, por isso, uma análise de famílias que não parte de uma percepção da
família como “interior”, mas procura inseri-la no diagrama das forças sociais e das relações de
poder que tem se configurado no Brasil e em suas relações com a realidade mundial. Considera-
se que, nesse contexto, certas condições de possibilidade para a emergência de modos de existir
individuais, familiares e coletivos são traçadas. O exercício cartográfico inclui uma
investigação de campo com diferentes famílias pertencentes ao que se denominou Coletivos de
Pertença: povos indígenas originários; comunidades quilombolas; famílias de classe média
urbana; famílias moradoras de ocupações em periferias urbanas; famílias ricas econômica e
politicamente. Objetiva-se, com o trabalho cartográfico, articular a realidade das famílias
investigadas às dinâmicas macro e micropolíticas que as atravessam e que atravessam, ainda, a
própria autora deste trabalho.
Palavras-chaves: família; cartografia; processos de subjetivação; agenciamentos sociais.
ABSTRACT
This work focuses on a cartographic mapping of several lines that have historically participated
in the production of Brazilian family arrangements and the processes of subjectivation that
accompany them. The proposal to work with "lines" is inspired by the theoretical and
methodological contributions of Gilles Deleuze and Felix Guattari, as well as their intercessors.
It is proposed, therefore, an analysis of families that does not start from a perception of the
family as "interior", but seeks to insert them in the diagram of social forces and power relations
that has been configured in Brazil and in its relations with the world reality. It is considered
that, in this context, certain conditions of possibility for the emergence of individual, family
and collective ways of existing are traced. The cartographic exercise includes a field
investigation with different families belonging to what was called Collectives of Belonging:
indigenous peoples; quilombola communities; urban middle-class families; families living in
occupations in urban peripheries; economically and politically wealthy families. The objective
of the cartographic work is to articulate the reality of the families investigated to the macro and
micropolitical dynamics that cross them and that also cross the author of this work.
Keywords: family; cartography; subjectivation processes; social agencies.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
Abcam Associação Brasileira dos Caminhoneiros
BC Banco Central do Brasil
Fiei Formação Intercultural para Educadores Indígenas
Funai Fundação Nacional do Índio
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MPF Ministério Público Federal
OIT Organização Internacional do Trabalho
OMS Organização Mundial da Saúde
ONU Organização das Nações Unidas
OPAS Organização Pan-americana de Saúde
PAC Programa de Aceleração do Crescimento
PBH Prefeitura de Belo Horizonte
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
SUMÁRIO
1 EM UM MOMENTO DE SUSPENSÃO ........................................................................... 10
À beira do colapso............................................................................................................... 10
Diagramas contemporâneos............................................................................................... 19
Processos de subjetivação e famílias ................................................................................. 21
Uma concepção rizomática de família .............................................................................. 24
Segmentações, fugas, agenciamentos ................................................................................ 26
2 UMA PESQUISA CARTOGRÁFICA .............................................................................. 38
Dispositivo de pesquisa ....................................................................................................... 41
Os encontros com as famílias ............................................................................................. 45
Encontros e estranhamentos .............................................................................................. 53
A escrita na / da pesquisa ................................................................................................... 56
3 ESTRANHO ESPELHO..................................................................................................... 63
Em busca de uma “família normal”? ............................................................................... 63
A família moderna .............................................................................................................. 66
Estado moderno, famílias modernas ................................................................................. 88
Ainda somos famílias modernas? (homenagem a Bruno Latour) .................................. 93
4 DESCOBRIR O BRASIL ................................................................................................. 104
Uma viagem pela(s) América(s)....................................................................................... 104
desCobrir terras e corpos................................................................................................. 111
A formação histórica de [modelos de] famílias no Brasil .............................................. 121
Precisamos de pobres? ..................................................................................................... 134
Os outros ............................................................................................................................ 143
Coexistências ..................................................................................................................... 154
5 FAMÍLIAS NO SÉCULO XXI ........................................................................................ 156
Velhas e novas configurações familiares ........................................................................ 156
Famílias sob o Controle .................................................................................................... 167
Linhas da desigualdade .................................................................................................... 181
6 SUBVIVENTES E UMA MÁQUINA DE GUERRA..................................................... 193
Em uma borda deste mundo ............................................................................................ 193
Arranjos para existir ........................................................................................................ 196
Agenciar uma máquina de guerra .................................................................................. 205
7 UM DIA, DEPOIS DE AMANHÃ (CONSIDERAÇÕES FINAIS) .............................. 222
Diante de um inimigo invisível ........................................................................................ 222
“Um outro fim de mundo é possível?” ............................................................................ 240
POSFÁCIO: HAVERÁ FLORES EM BADLANDS? ....................................................... 249
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 250
10
Capítulo 1
EM UM MOMENTO DE SUSPENSÃO
À beira do colapso
24 de maio de 2018, 13:08h. Após uma peregrinação incansável encontro gasolina em
um bairro a seis quilômetros da minha casa. Os postos de combustível próximos não têm mais
o que vender desde as primeiras horas da manhã e estão fechados. No posto, o preço da gasolina
cerca de 30% mais alto e a enorme fila de automóveis que se estende pelas ruas nos arredores
do estabelecimento esnobam as poucas alternativas do momento: abastecer ali ou correr o risco
de deixar o carro parado a algumas quadras com o tanque completamente vazio. Entro na fila.
Inserida no fluxo de espera, a fome pelo almoço ainda não comido somada à ansiedade por
precisar chegar a um evento na universidade torcem minhas vísceras. Apenas a movimentação
dos vendedores ambulantes, saídos sabe-se lá de onde e chegados ali sabe-se lá como, a ofertar
aos motoristas na fila uma infinidade de quinquilharias, serviços e alimentos distrai-me um
pouco. Face de um Brasil que se move, em grande parte, à margem das organizações e tutelas
do Estado, os ambulantes parecem encontrar outros modos de funcionar e articular-se diante da
situação, enquanto eu experimento a paralisação desta forma de existir estudada, empregada e
motorizada que é a minha e que usualmente reina a entupir com seus carros as ruas e avenidas
das metrópoles, mas que agora assiste estupefata à suspensão dos fluxos que percorrem os
milhões de quilômetros de rodovias, estradas, avenidas e ruas que se entrecruzam e cobrem de
asfalto as veias logísticas do Brasil1.
A paralisação começara no dia 21 de maio por decisão das associações de caminhoneiros
autônomos, insatisfeitos com a oscilação diária do preço do diesel ao gosto das determinações
do mercado e com a incidência de taxas e impostos que reduziam o valor líquido recebido pelos
fretes contratados. Agora, em seu quarto dia, a greve contava com a adesão de caminhoneiros
de empresas transportadoras, o que somava mais de um milhão de caminhões parados (Goy,
2018). Bloqueios em rodovias e estradas espalhavam-se por vinte e quatro estados e pelo
1 Além das ruas e avenidas que compõem os municípios e povoados, o Brasil conta com uma rede de 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias, sendo este o principal meio de transporte de cargas e passageiros do país (Confederação Nacional de Transporte, 2018).
11
Distrito Federal, inviabilizando a circulação por essas vias. Nesse contexto, não apenas a
gasolina para carros particulares ia se escasseando, também o combustível para o transporte
público de passageiros, para ambulâncias, para a aviação, para a distribuição de medicamentos,
alimentos, mantimentos e produtos em geral.
Passo quase duas horas na fila a ler as reportagens sobre a greve na internet do celular e
a escutar as notícias no rádio do carro: declarações de membros do governo, de entidades de
representação empresarial e das associações de caminhoneiros; análises de especialistas de
diferentes áreas; entrevistas com cidadãos a favor e contra a paralisação; apresentação de
pesquisas e estatísticas; informações “em tempo real” sobre o desenrolar da situação e suas
consequências. O que me chega enquanto a fila de carros se move lentamente expõe a
complexidade da rede de instituições e dos jogos de forças que compõem não apenas a situação
deflagrada com a greve, mas a própria organização política-econômica-jurídica-logística do
país. A frase contumaz do presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam),
José da Fonseca Lopes, é repetida à exaustão pelas emissoras no rádio: “se o governo não
atender ao que estamos pleiteando vai parar o país”. Lopes parece saber que paralisar os fluxos
é atacar politicamente todo o sistema tal como ele se configura em sua dinâmica contemporânea
e em suas condições de controle.
No final do dia, após cumprir os compromissos na universidade, percorro a cidade a
acompanhar o marcador do nível de combustível no tanque do carro e a contar os quilômetros
rodados até chegar, exausta, a uma festa de aniversário onde iria buscar meus filhos. O avô da
anfitriã, juiz aposentado especialista em direito econômico, desabafa comigo: “Esses
caminhoneiros vão quebrar o país... Não pode deixar! O governo tem que zelar pela ordem, tem
que enviar as Forças Armadas para cercar os que estão bloqueando as rodovias. Ninguém entra,
nada entra, ninguém sai. Eles não aguentam muito tempo.” Também entre os caminhoneiros
ressoa o clamor por intervenção militar disseminado por alguns de seus membros (Senra, 2018).
Para estes, no entanto, a intervenção deveria ser contra o governo e a corrupção incrustrada no
Estado. As posições divergentes sobre quem é o inimigo da nação – trabalhadores insurgentes
ou os gestores do Estado – parecem-me menos reveladoras das questões que sustentam o
colapso atual do que o consenso sobre a solução para a situação: o poder bélico das Forças
Armadas. De minha parte, inquieto-me com outra questão: o que precisa mesmo ser salvo?
A noite chega com a notícia de um acordo entre o governo e os caminhoneiros. Na
balança a aprovação pela Câmara dos Deputados da isenção dos impostos PIS e Confins sobre
o diesel e uma lista de concessões do executivo federal: redução de 10% no preço do diesel nas
12
refinarias por 30 dias e criação de um programa de subsídio após esse período; desoneração da
alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel até o fim
do ano; promessa de estabilidade de 30 dias entre os reajustes do preço do diesel nas refinarias;
compromisso de atualização trimestral pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da tabela de referência do frete dos serviços de transporte de cargas realizados pelos
caminhoneiros autônomos; compromisso de diálogo do governo federal com os estados para
implementar o fim da cobrança de pedágio sobre o eixo suspenso em caminhões vazios; anúncio
do presidente de que vai negociar com os secretários estaduais de fazenda uma redução nas
alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Mas o dia seguinte amanhece com a manutenção da greve. Impassível, o presidente da
Abcam esclarece que, mesmo com a assinatura do acordo por algumas das lideranças
envolvidas, a paralisação só terminaria quando os termos pactuados fossem publicados pelo
presidente Michel Temer no Diário Oficial. Este, por sua vez, convoca as Forças Armadas,
alegando grave perturbação da ordem causada pelos bloqueios e pela intransigência dos
caminhoneiros. Todavia, nem o acionamento do exército, nem a queda do principal índice da
bolsa de valores brasileira, arrastado pelas perdas sucessivas e substanciais no valor das ações
da Petrobrás, nem as acusações de locaute2 alardeadas pela mídia e geradoras da abertura de
dezenas de inquéritos pela Polícia Federal, nem os decretos de estado de emergência e de estado
de calamidade pública feitos por várias cidades em todo o país comovem os caminhoneiros,
cuja paralisação iria durar mais seis dias.
Apesar da escassez ou falta de alimentos e consequente aumento nos preços dos
produtos alimentícios remanescentes, do risco de desabastecimento de água potável em
algumas localidades por falta de insumos para o tratamento, da falta de combustível nos postos
das grandes metrópoles, do cancelamento de voos nos aeroportos, da redução do transporte
público nos centros urbanos, da suspensão das aulas em escolas, instituições do ensino técnico
e superior e de provas públicas, da suspensão de procedimentos em hospitais e clínicas por falta
de medicamentos, da paralisação parcial dos serviços de entrega e correios, a população, em
2 O locaute, do inglês lock out, é uma prática proibida por lei no Brasil e implica na “paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados”, conforme o artigo 17 da Lei 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, previsto na Constituição Federal de 1988. No caso da paralisação dos caminhoneiros, encabeçada pelas associações de autônomos, que não possuem vínculo empregatício com transportadoras, a suspeita de locaute foi aventada, considerando a existência de interesse de empresas de forçar a redução do preço do diesel para seu benefício direto, o que, todavia, não chegou a ser comprovado.
13
sua imensa maioria, apoia a greve3 e seguirá apoiando até o fim. Além disso, outras categorias
de trabalhadores vão, ao longo dos dias, aderindo à paralisação, ocupando ruas e avenidas nas
cidades e inviabilizando os trânsitos locais: motoristas de vans escolares, motoristas de Uber,
motoristas de trator e de caçambas da construção civil, carreteiros, motoboys. Produtores
agrícolas de algumas regiões e parcela dos próprios petroleiros também entram em greve.
Minha vida cotidiana é atravessada pelas reverberações da situação. No dia 25 as
atividades que deveria cumprir na universidade são suspensas, assim como as aulas na escola
dos meus filhos. Preocupada com a escassez de alimentos, resolvo arriscar-me no
supermercado. No percurso pelas ruas do bairro Buritis onde moro, conhecido por sua
movimentação cotidiana de veículos que lhe dão a fama de um dos piores trânsitos da capital
mineira, uma calmaria me faz duvidar se a multidão de quase 30 mil moradores4 ainda
permanece ali. Ao chegar no supermercado, entretanto, a paisagem quase desértica das ruas dá
lugar ao seu oposto: uma multidão de pessoas afoitas enche seus carrinhos e os guardam nas
filas que crescem nos caixas. A cena me compele a uma urgência de levar dali o que conseguir
diante da possibilidade de dias tenebrosos por vir, quando o desabastecimento poderia levar à
efetiva falta do mínimo para suprir as necessidades básicas de uma família ou, ao menos, à falta
do que estamos acostumados como mínimo, como necessidades, como básico e como família
dentro da cultura capitalista contemporânea.
Resisto, com uma longa respiração, ao impulso de correr para as gôndolas do
supermercado e arremessar no carrinho os produtos que parecerem importantes para garantir
minha estabilidade existencial neste modo de vida. Paro e observo a correria à minha frente,
imagem que me dá a sensação de estar em um filme abestalhado sobre o fim do mundo. É certo
que, se os caminhoneiros resolvessem parar todo o transporte que diariamente percorre a imensa
malha rodoviária brasileira por sessenta ou noventa dias, sem a reposição dessa mão de obra
pelas autoridades competentes, as compras feitas naquele supermercado só poderiam sustentar
a imensa maioria de seus proprietários e suas famílias por um tempo menor do que o necessário
para uma nova estabilização do sistema com outras estratégias logísticas de distribuição dos
fluxos de combustíveis, alimentos, medicamentos e tudo o mais que muitos milhões de
brasileiros consomem cotidianamente. Rio-me ao constatar que as poucas hortaliças e o jovem
3 Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, no nono dia de greve dos caminhoneiros e divulgada no dia 30 de maio, aferiu que 87% da população brasileira apoiava a paralisação e 92% considerava as reivindicações dos caminhoneiros justas (Gielow, 2018). 4 O Buritis, bairro de classe média alta do município de Belo Horizonte, tem população estimada, a partir do Censo 2010, de 29 mil habitantes (Portal População, 2018).
14
pé de manga que ainda não deu frutos plantados na minha casa não podem ser uma solução para
o problema e que, na verdade, não estou preparada para um colapso como esse.
Nos dias seguintes estou temporariamente dispensada de viver o paradoxo de uma rotina
que, por um lado, exige alta velocidade na execução de tarefas e na busca de solução para as
múltiplas demandas que pipocam no cotidiano e, por outro lado, obriga-me a permanecer com
o corpo docilmente estagnado por horas nos engarrafamentos que já há alguns anos atingem
diariamente cerca de 100 quilômetros na Região Metropolitana de Belo Horizonte (Macedo,
2015). Escolho deixar o tempo escorrer calmamente enquanto permaneço em casa com o corpo
e os afetos disponíveis para minhas crianças. Mas a chegada frenética de mensagens e notícias
pelo computador e pelo smartphone me mantém conectada com as altas velocidades e os
espaços hiperpovoados desta época. A certa altura, pergunto-me como seria paralisar também
os fluxos que chegam pelo ciberespaço: excluir a infinidade de aplicativos digitais que me
informam sobre o clima, o trânsito, os trajetos, a disponibilidade de transporte público, o saldo
bancário, o fechamento da fatura do cartão de crédito; remover a inscrição nas páginas de e-
commerce, nos aplicativos de contratação de transporte privado ou de vagas de estacionamento,
nos endereços de e-mail e nas redes sociais; desinstalar o sistema virtual de gestão acadêmica
da universidade; cancelar o pacote de assinatura de TV, telefone fixo e internet; doar meu
smartphone, meu Ipad e meu computador... Um alívio libertário insinua-se por um segundo ou
dois dentro de mim antes da ponderação de que dificilmente conseguiria manter o emprego
como professora com as práticas pedagógicas e a gestão das avaliações e do aprendizado dos
alunos cada vez mais virtualizadas. Pondero ainda que sem o computador, o smartphone e o
tablet, com suas memórias digitais somadas à memória da “nuvem” no Google Drive, eu só me
lembraria de alguns poucos números de telefone e do trajeto até os locais que já conheço bem,
além de perder os milhares de arquivos de documentos, fotografias e vídeos que são o registro
mais extenso e detalhado que possuo de minha própria história. Como viver sem essa bagagem
de dados e sem os códigos de acesso, de gestão, de consumo e de identidade que me colocam
como cidadã de um mundo que é também virtual? Com uma ponta de assombro, essa questão
me remete às previsões que Eric Schmidt e Jaren Cohen, figuras importantes da Google, fizeram
sobre o mundo digital e a conectividade cibernética planetária: no futuro (que parece já ter
começado), aqueles que não quiserem ter perfis virtuais, sistema de dados online ou
smartphones serão considerados pelos governos como “pessoas ocultas”, suspeitas de que seu
isolamento do ciberespaço está ligado a algo que têm a esconder e maior propensão a violar
15
leis, sujeitando-se, por isso, a restrições de deslocamento, a vistorias rigorosas em aeroportos,
entre outras normas antiterrorismo (Schmidt & Cohen , 2013).
Consternada diante da parte virtual deste mundo, aceito os fluxos de mensagens,
notificações e dados que me chegam e que envio em minhas janelas digitais. Na parte concreta,
a paralisação dos caminhoneiros exige, por sua continuidade, que meu carro seja deixado na
garagem e que a circulação pela cidade seja feita de outras formas, alternativas também ao
transporte público, cuja frota a rodar havia sido reduzida. Entro então em rodízios de carona
com amigos em viagens sempre divertidas e resgato a bicicleta como opção de transporte,
aproveitando os dias ensolarados para viver uma outra relação com o espaço-tempo da cidade.
Uma relação mais próxima do que está a acontecer aqui e ali nas casas, praças e ruas e mais
interativa, uma vez que ela permite a aproximação e o diálogo com os outros que também estão
no espaço. Meu corpo, acostumado a submeter-se à inércia de seguir as velocidades da caixa
de ferro, vidro, borracha, plástico e outros derivados de petróleo que é um automóvel,
experimenta conexões em espaço aberto, imprevisível, cheio de aromas e sons diversos,
distantes do perfume regular do ar condicionado e do barulho constante do motor.
Com efeito, o colapso instaurado pela greve propicia novos arranjos, diferentes dos
modos usuais de circular, cuidar, relacionar-se ou mesmo respirar para muitos milhões de
brasileiros. Além de esquemas de carona promovidos em todo Brasil, chegam-me notícias de
refeições coletivas, de grupos solidários e espontâneos para a doação de produtos e
medicamentos e do compartilhamento entre vizinhos dos frutos de suas árvores, de verduras e
legumes de suas hortas, de ovos de suas galinhas. Vejo ainda relatos nas redes sociais da alegria
que muitos estão experimentando ao caminhar, correr, andar de bicicleta, patins e skate pelas
ruas sem medo de atropelamento ou de agressão por parte de motoristas estressados e certos de
sua prioridade nas vias urbanas. Em São Paulo, maior metrópole das Américas5, o Sistema de
Informações de Qualidade do Ar da Companhia Ambiental (Cetesb) anuncia a redução pela
metade da poluição atmosférica com o prolongamento da greve, que em seu oitavo dia permitia
que essa capital tivesse a qualidade do ar considerada boa em todas as estações de medição
(Agência Brasil, 2018).
No dia 30 de maio a greve termina, dois dias após a publicação no Diário Oficial das
medidas provisórias prometidas pelo presidente Temer aos caminhoneiros. O desbloqueio das
5 Segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 2018 o município de São Paulo tinha população estimada de 12.176.866 habitantes (IBGE, 2018a).
16
estradas e rodovias, bem como o reabastecimento paulatino dos postos de combustíveis,
supermercados e farmácias faz a rotina do Brasil começar a volta à normalidade. É o fim do
caos gerado pela greve e a retomada do caos habitual gerado por estratégias e mecanismos de
produção, distribuição e consumo que, por um lado, são extremamente dependentes de asfalto,
borracha, petróleo e seus derivados para estar em pleno funcionamento e que, por outro, são
marcados pela distância entre o que se produz e a vida dos consumidores que pouco sabem
sobre como e onde são cultivados os alimentos e feita a grande parte dos produtos que
consomem. Essa retomada da normalidade traz um peso adicional para a população: a conta do
acordo firmado com os caminhoneiros envolve o aumento da carga tributária para vários setores
da economia, o que aumenta o custo de vista, mas preserva os ganhos dos acionistas da
Petrobrás mesmo com a redução do preço do diesel (Portal Contábeis, 2018).
Não comemoro o retorno à minha “rotina normal”. Do ponto de vista do funcionamento
instituído historicamente no Estado brasileiro, é com um misto de impotência e indignação que
me coloco algumas questões: Depois do ocorrido, o governo não vai rever a quase exclusividade
do modelo rodoviário para o transporte no país? Uma vez demonstrado o colapso que uma
paralisação dos fluxos pelas estradas e rodovias pode causar, não seria prudente estudar outras
possibilidades de transporte, quiçá mais baratas e viáveis, como o ferroviário e o fluvial? Quem
sabe revalorizar a produção local, facilitando a logística de distribuição e estreitando os laços e
a confiança entre quem produz e quem consome, pode ser uma prioridade econômica? Por que,
desde a mais tenra idade, as crianças, especialmente os meninos, são instigados a desejar
carrinhos? Quando mesmo adquirir um carro (e outro e outro e outro, cada vez mais caros e
mais bem equipados) se tornou símbolo de realização pessoal, ascensão social e virilidade
masculina? Por que a conta do acordo com os caminhoneiros deve incidir sobre os produtos
consumidos pelo povo, pesando mais sobre os que são mais pobres, ao invés de incidir sobre,
por exemplo, os lucros dos empresários? Não estou deslocada em minhas inquietações? Eu não
tenho coisas mais relevantes para enfocar para escrever uma tese sobre famílias?
Do ponto de vista pessoal, a fissura causada pela greve permitiu-me experimentar um
cotidiano mais leve e demorado. Não considerei esses dias como uma antecipação de férias,
momento de descanso tutelado pela legislação (ainda) em vigor no Brasil. Foi, ao contrário, o
colapso difuso de instituições, normas e mecanismos de controle que fizeram emergir arranjos
não tutelados, que exigiram improvisos e que permitiram encontros com outros possíveis, outro
tempo, outra suavidade. Agora, com a volta à rotina, não acho consolo para uma ponta de
desespero que transborda diante da iminência da exaustão que logo acometerá meu corpo, meus
17
pensamentos e minha disponibilidade. Lembro-me das palavras de Friedrich Nietzsche
(1882/1998) sobre a perda da dignidade do pensamento, escritas na segunda metade do século
XIX e tão atuais: “parece que trazemos na cabeça uma máquina que trabalha sem cessar e que,
mesmo nas condições mais desfavoráveis, continua a trabalhar” (p.19). De fato, sinto-me
inserida em um canhão que me lança, em alta velocidade, nesta maneira de funcionar para a
qual, há tempos, não encontro mais sentido. Enquanto atualizo na agenda os compromissos
cotidianos e encaixo a multidão de imprevistos que devo resolver, mais questões se me
apresentam: Por que essa sensação de non sense me acomete, eu que sou um exemplar
suficientemente bem-sucedido e privilegiado das aspirações atuais dos humanos deste mundo?
Por que não consigo me conciliar com essa maneira de existir hegemônica, apenas aceitando
de bom grado as condições de minha época e colocando nas mãos de Deus o destino que nos
foi reservado? Quando mesmo o colapso começou?!
Se voltarmos um pouco no tempo, para o ano 2001, escutamos a música lançada pela
dupla de cantores sertanejos Gean e Giovanni: “Com os braços de ferro eu conduzo a nação,
por entre o asfalto e os buracos do chão, porque o Brasil para sem caminhão”. Quase vinte
anos de 2018 a dupla cantava a dependência brasileira do transporte rodoviário e insinuava
ainda as condições precárias (com o perigo adjacente) das estradas do país. Essa realidade foi
se configurando décadas antes, principalmente a partir de 1950, quando a construção de
rodovias e estradas tornou-se prioritária nos investimentos e políticas do governo do presidente
Juscelino Kubitscheck e nos anos da Ditadura Militar (1964-1985), com o paulatino abandono
da grande malha ferroviária que o Brasil já possuía e o descaso com o enorme potencial
hidroviário de então6. A aposta no modelo rodoviário para o desenvolvimento industrial do país
com uma produção automobilística nacional culminou com o sucateamento das ferrovias e sua
privatização nos anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como mostra
Fernanda Regaldo (2013), as linhas de ferro brasileiras servem hoje basicamente a grandes
empresas que extraem minérios, produzem grãos ou biocombustíveis. Os trens brasileiros, que
chegaram a transportar em viagens intermunicipais e interestaduais mais de 100 milhões de
passageiros por ano, transportam atualmente cerca de 1,5 milhão/ano. Os 11 mil quilômetros
de linhas férreas que estão sendo utilizados (dos quais apenas 3 mil de forma plena) contrastam
com os mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias hoje em operação no Brasil. Rodovias
que custam caro, não apenas pelo alto custo de construção e manutenção de uma malha tão
6 Conferir a síntese histórica do transporte no Brasil: Planos Nacionais de Viação, as leis, decretos, portarias e outros promulgados desde o período colonial até 2014 (Brasil, 2014).
18
extensa, mas também em virtude dos elevados impactos socioambientais, pouco contabilizados
nos cálculos oficiais. “Para transportar cada tonelada de carga por mil quilômetros, consomem-
se, por ferrovia, 10 litros de combustíveis, enquanto por rodovia são 96 litros. E estima-se que,
a cada ano, morram no Brasil cerca de 12.000 pessoas em acidentes rodoviários envolvendo
caminhões” (Regaldo, 2013, p. 47).
Além do transporte de carga e passageiros entre municípios e estados brasileiros,
também as cidades se tornaram extremamente dependentes das vias de asfalto. A partir de um
interessante estudo da Associação Nacional de Transporte Público (ANTP), Roberto Andrés
(2018) mostra que a cidade de São Paulo em 1950 possuía a mesma população de Belo
Horizonte em 2010 – cerca de 2,4 milhões de habitantes – e mesma área territorial. Contudo,
em 1950 São Paulo tinha 70 mil automóveis particulares, enquanto Belo Horizonte possuía
cerca de 1,4 milhão em 2010. Andrés (2018) mostra que, com o mesmo número de pessoas e a
mesma extensão territorial, a cidade de São Paulo de 60 anos atrás não ficaria paralisada com a
greve dos caminhoneiros como Belo Horizonte ficou em 2018, pois, ao invés da enxurrada de
carros nas ruas, tinha mais de 600 quilômetros de trilhos, sobre os quais circulavam bondes com
tarifas populares, baixa poluição e pouquíssimos acidentes.
A mudança nas prioridades políticas e nos cálculos oficiais para uma retomada de
investimento na malha ferroviária indicaria um movimento de revisão da dependência do
transporte rodoviário para as veias logísticas do país. Isso possivelmente significaria um avanço
socioambiental, com redução de custos, de perdas (das vidas às mercadorias) e de danos ao
meio ambiente. Entretanto, preciso admitir que, mesmo com tal avanço, o colapso ainda
assombraria nossas vidas, uma vez que o problema não se circunscreve apenas às questões de
estrutura viária e gerenciamento logístico dos fluxos de pessoas e mercadorias por um país. Se
a greve dos caminhoneiros no Brasil tencionou especialmente este ponto, tal tensão reverberou
em uma rede muito mais complexa que compõe o nosso modo de vida atual e cujo colapso
iminente parece provocar as multifacetadas manifestações, greves, insurreições e movimentos
que têm pipocado aqui e ali pelo mundo ao longo deste século – dos anarquistas do comum aos
populistas da extrema-direita e da esquerda burocrática; dos socialistas democratas aos
ultraliberais; dos pós-capitalistas aos capitalistas verdes e destes aos negacionistas das
mudanças climáticas; das lutas feministas e LGBT+ aos grupos de resgate da tradicional família
cristã; dos zapatistas no México, das guerreiras curdas do YPG na Síria e dos Coletes Amarelos
franceses às milícias fisiológicas do Estado brasileiro; dos ecologistas aos terraplanistas.
19
Não apenas uma gama tão diversa de movimentos sociais parece indicar as inquietações,
desafios e as faltas de respostas diante do nosso modo de vida, também do ponto de vista
subjetivo os sinais de falência existencial insinuam-se nas estatísticas oficiais. No relatório
Depression and other common mental disorders, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
detalhou o crescimento nos casos de depressão, com mais de 320 milhões de pessoas
acometidas pela doença em 2017, em suas variadas formas de manifestação (OMS, 2017). Isso
fez com ela se tornasse a principal causa de incapacidade em todo o mundo (Organização Pan-
americana de Saúde [OPAS], 2018). Comumente referida como “a doença do século XXI”, a
depressão resulta de um desinvestimento psíquico na vida que se mantém ao longo do tempo e
pode acontecer em diferentes graus (de leve a grave). Entre seus sintomas estão sentimento de
tristeza recorrente; rebaixamento do humor; redução da energia vital e fadiga mesmo após um
esforço mínimo; alteração na capacidade de concentrar, decidir e dedicar-se às atividades; perda
de interesse; redução da libido; redução da capacidade de experimentar o prazer; alterações no
apetite, perda ou ganho de peso sem dieta ou atividades específicas; insônia ou hipersonia;
agitação ou lentidão psicomotora; sentimentos de inutilidade, indignidade, culpa em relação a
si mesmo; pensamentos sobre morte; ideação suicida. Em linhas gerais, a depressão parece
escancarar a falta de sentido vivenciada por um indivíduo para perseverar em sua existência.
De fato, se me assalta a sensação de non sense diante da maneira de existir hegemônica destes
tempos, parece que não estou sozinha...
Diagramas contemporâneos
A greve dos caminhoneiros foi um dos diversos acontecimentos que produziram
instabilidade (social, política, ambiental) no Brasil durante o desenvolvimento deste trabalho
de doutorado, entre 2016 e 2020. De minha parte, vivenciei a greve como um momento de
suspensão do modo dominante como nossas vidas têm sido organizadas, conectadas,
experimentadas. Modo que remete ao projeto civilizatório capitalista moderno que se
globalizou e cujos diagramas de forças sociais-subjetivas conectam-se a todos os viventes desta
época, ainda que de diferentes maneiras e intensidades. Considerando a proposta deste trabalho
– cartografar as conexões entre esses diagramas e as realidades e arranjos de diferentes
famílias brasileiras –, começar com o relato dessa greve intenta dar destaque à oportunidade
que ela abriu para mim. Com efeito, a suspensão viabilizada pela greve tornou-se uma
20
oportunidade para pousar o olhar e acompanhar, em uma espécie de distanciamento e
desaceleração forçados, o modo de existência que reina veloz, frenético, intenso com o turbilhão
de eventos, demandas e agenciamentos que nos compõem. A greve mostrou-se, para mim, um
interessante analisador7 desta época.
A greve catalisou questões que vinham me acompanhando desde a entrada no doutorado
dois anos antes: Como acabamos por chegar à situação em que nos encontramos? O que faremos
de agora em diante? Quais serão as possibilidades de vida de nossas próximas gerações? As
transformações ambientais produzidas pelo modo de vida moderno e que têm deteriorado as
condições naturais do planeta são reversíveis? Quais condições sociais e subjetivas são
necessárias para empreender projetos de produção, consumo e relações humanas mais
sustentáveis, potentes e alegres, em contraposição à crescente falta de recursos naturais e de
sentido que se difunde na atual civilização global? Como as famílias, tão importantes para
educar seus membros diante das normas, hábitos e padrões instituídos socialmente,
consideradas como “a base da sociedade”, têm lidado com os desafios de nosso tempo? Em que
medida elas sustentam e reproduzem as lógicas, valores e práticas hegemônicas e, por outro
lado, que invenções e resistências elas têm construído diante do sofrimento e das misérias que
também compõem o modo de vida atual?
Essas questões são colocadas neste momento em que uma profunda crise abala o projeto
civilizatório que a modernidade capitalista construiu e que, por cerca de quinhentos anos, tem
sustentado através de contínuas mutações que hoje configuram o que Gilles Lipovetsky (2004)
chamou de hipermodernidade8. Essa crise tem implicações ambientais, culturais, geopolíticas e
subjetivas de dimensões jamais enfrentadas antes. Trata-se, como afirmou Bruno Latour (2014),
de uma crise indissoluvelmente “natural” e “cultural”, ambiental e civilizacional.
7 O conceito de analisador, tal como concebido a partir das contribuições de Felix Guattari (1972/2004) para a Análise Institucional, envolve deflagrar em um campo de análise-intervenção algo (um acontecimento, um dispositivo, um agente) que provoca análise, que explicita elementos de uma dada realidade. André Rossi e Eduardo Passos (2014) frisam que há uma dupla faceta do analisador: expressar uma problemática; causar um desvio, permitir deslocamentos diante da realidade que estamos a vivenciar. 8 Há diferentes posicionamentos em relação à terminologia que melhor define a atualidade. Há autores que defendem que entramos em uma nova era, a pós-moderna. Outros, aos quais me alinho, consideram que as transformações que de fato se processaram, especialmente a partir da segunda metade do século XX, não modificaram de forma substancial as lógicas e determinantes do projeto civilizatório moderno. Para Lipovetsky (2004), o que se observa é que essas lógicas se acentuaram. De minha parte, escolho chamar de modernidade capitalista o processo histórico que começa a nascer nos séculos XI e XII na Europa e hoje assume dimensões planetárias, conforme discuto ao longo deste trabalho.
21
Vivemos mudanças das condições ambientais e climáticas com sérios impactos nos
recursos disponíveis para a sobrevivência dos seres humanos (e não só deles) no planeta. Como
admitia o relatório mundial das Nações Unidas sobre desenvolvimento dos recursos hídricos de
2016:
A escassez de água provavelmente limitará as oportunidades de crescimento econômico e criação de empregos decentes nos próximos anos e décadas. [...] A redução da disponibilidade de água irá intensificar ainda mais a disputa pela água por seus usuários, incluindo a agricultura, a manutenção de ecossistemas, assentamentos humanos, a indústria e a produção de energia. Isso afetará os recursos hídricos regionais, a segurança energética e alimentar, e potencialmente a segurança geopolítica, provocando migrações em várias escalas. Os potenciais impactos nas atividades econômicas e no mercado de trabalho são reais e possivelmente graves. (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], 2016, p. 04)
Do ponto de vista cultural, vivemos um momento em que a modernidade, com seu
projeto embasado na racionalidade de um sujeito individualizado e autocentrado, enfrenta uma
crise generalizada. Não obstante a efetivação planetária desse projeto civilizatório, assiste-se à
falência de sua capacidade de se justificar (Drawin, 1998). As consequências ético-políticas
dessa falência são ainda imprevisíveis e o atual crescimento de discursos e figuras públicas que
defendem atitudes xenofóbicas, racistas, machistas, fundamentalistas, autoritárias e, em última
instância, fascistas traça um horizonte de possibilidades sombrias.
Nesse contexto, a greve dos caminhoneiros mostrou-se, em alguma medida, como um
acontecimento exemplar da crise que enfrentamos. No plano subjetivo, ela escancarou a
dependência de indivíduos e famílias (não apenas em termos econômicos e políticos, mas
também afetivos) da organização e do controle dos Estados, bem como das logísticas de
produção, distribuição e consumo do Capital, vivenciados com um grau de angústia, de medo
e de despreparo que merecem ser olhados mais de perto.
Processos de subjetivação e famílias
Ao apontar para a crise atual, cumpre considerar o duplo papel dos processos de
subjetivação: por um lado, foi necessário produzir uma subjetividade capaz de sustentar o
projeto civilizatório moderno e suas atuais condições de organização; por outro lado, qualquer
transformação efetiva desse projeto exige que novos modos de subjetivação sejam
configurados. Nesse cenário, pareceu-me necessário analisar o papel das famílias. Afinal, como
consideram psicólogos, psicanalistas e psicossociólogos, a família é um grupo primário
22
privilegiado para a mediação indivíduos-sociedades que se torna, por isso, um importante vetor
nos processos de subjetivação. Muito se aprende na família, desde a mais tenra idade, sobre as
maneiras historicamente construídas de desejar, sentir, perceber, relacionar-se, pensar,
trabalhar, tornar-se, enfim, humano.
A antropologia, por sua vez, mostra a importância da família nas mais diversas
sociedades. Em seu viés estruturalista, os estudos antropológicos frisam o papel fundamental
do parentesco para o funcionamento social nas sociedades ditas primitivas, sociedades sem
Estado. Sem Estado, os laços de parentesco são o elo fundamental que organiza as relações
sociais (Sarti, 1992). Todavia, quando consideramos as sociedades modernas, em que os
Estados-nação, apesar de suas variações “internas”, se articulam em um único mercado
capitalista global, qual é o lugar da família? Ela não perdeu importância, mas ganhou outros
contornos e conexões no jogo de forças de nossa época.
Antes de refletir sobre esses enlaces da família, ou melhor, das famílias com seu tempo-
espaço histórico, é importante marcar uma questão que aparecia com frequência quando eu
explicava a alguém a proposta deste estudo: “Mas o que você entende por família?” Essa
pergunta mostrava um frequente pressuposto implícito nas expectativas de quem me
questionava: o pressuposto de que, para investigar famílias, eu deveria saber a priori do que se
tratava. Tive que lidar com a frustração (e a preocupação) que constantemente tomava conta
dos que esperavam a clareza de uma concepção de família na qual tudo o que fosse visto na
realidade deveria ser rebatido. Minha resposta, tão evasiva quanto sincera, era: “eu não sei...”.
Como psicóloga e professora da disciplina Psicologia Institucional, lembro-me da
importância que Regina Benevides de Barros (2002) e Heliana Rodrigues (2005) – duas
referências institucionalistas na história da psicologia brasileira – dão à prática de
problematizarmos o que parece natural aos olhos da maioria, desnaturalizando modelos
instituídos socialmente e assumindo seu caráter histórico. Nesse sentido é que eu respondia não
ter, a priori, uma resposta sobre o que compreendia como família, ainda que reconhecesse a
existência de um modelo de família que foi se configurando e se tornando dominante na
modernidade, qual seja a família nuclear nos moldes burgueses composta por um homem e uma
mulher casados e seus filhos, organizados em relações de poder, de desejo, de afetos específicas,
como veremos adiante.
Ao invés de tomar esse modelo como um “operador comparativo” para o que
concretamente pode ser observado nas configurações e funcionamentos de diferentes grupos e
23
arranjos familiares, assumo aqui um outro movimento: projetá-lo no rizoma social, garantindo
assim as modulações, as variações e os ajustes pelos quais ele passa ao ser efetuado na
micropolítica cotidiana. Modulações, variações e ajustes que, muitas vezes, acabam por fazer
com que o que se configura é já outra coisa, uma diferença em relação ao que o modelo projeta.
Assumo ainda que é preciso considerar que a dominância de qualquer modelo não quer dizer
exclusividade. No caso do Brasil, para estudar famílias é importante considerar, por exemplo,
o papel histórico que a família patriarcal extensa desempenhou (e ainda desempenha em alguma
medida) para a produção das relações, práticas, discursos, mecanismos de controle e de sujeição
que atravessam as famílias concretas. Por fim, assumo a existência de arranjos familiares que
fogem (traçam linhas de fuga) dos modelos e que dificilmente podem ser (salvo por meio de
uma violenta operação simbólica e ou institucional) associados a eles.
Um outro aspecto a destacar nesta empreitada é que empreender um olhar transversal –
entre as famílias e os diagramas sociais – não é uma tarefa fácil, especialmente em virtude do
modo como as ciências e sua produção de conhecimentos se estruturaram majoritariamente ao
longo da modernidade, ou mesmo antes dela. De fato, recebi uma formação como psicóloga
sustentada, em grande medida, por segmentações, separações, dicotomias: sujeito versus social;
interioridade versus exterioridade; sujeito individual versus família versus sociedade... Nesse
cenário de produção de conhecimentos, muitos dos estudos sobre famílias que tradicionalmente
compõem o campo da psicologia priorizam análises das famílias “em si mesmas”, enfocando
as interações e os vínculos (conscientes e inconscientes) entre seus membros e o contexto
familiar em sua interioridade.
De outro modo, a proposta aqui colocada envolveu pensar as configurações e os arranjos
familiares em sua relação rizomática com os processos sociais e os processos de subjetivação
vivenciados neste tempo histórico. Acompanho, nesse sentido, as ponderações de Roberta
Romagnoli (2003) de que a família:
possui um plano de composição plural e multifacetado, que sustenta tanto movimentos e estagnações, quanto forças ativas e reativas, que se exercem não só dentro da família, mas também nas redes sociais. Forças que o grupo acolhe, envia, produz e que o produzem, e nas quais não devemos considerar somente suas dimensões interiores (p. 25).
Do ponto de vista metodológico, construí um dispositivo composto por visitas a
diferentes famílias que toparam participar do estudo, procurando priorizar o encontro com seu
cotidiano e os agenciamentos que aí se processam. No próximo capítulo apresento esse
24
dispositivo. Antes no entanto, é importante esclarecer os diferentes conceitos a que refiro:
rizoma, diagrama, linhas de fuga e outros.
Uma concepção rizomática de família
Diante do desafio de não circunscrever o meu olhar e a minha escuta de pesquisadora
ao que se passa “dentro das famílias” – não tomar as famílias como interioridade, bem como
evitar delimitá-las em relação a tudo o mais que se passa “fora” delas –, proponho uma
concepção rizomática de família, inspirada em dois dos pensadores integrantes do Movimento
Institucionalista que há um bom tempo me acompanham em meus estudos e práticas como
psicóloga e professora – a dupla formada por Gilles Deleuze e Felix Guattari.
Meu primeiro encontro com Deleuze e Guattari aconteceu há vários anos, quando eu
ainda era estudante de psicologia. Em meados do curso, um colega assentou-se ao meu lado em
um intervalo entre as aulas e mostrou-me um livro de capa preta da editora portuguesa Assírio
Alvim cujo título era O Anti-Édipo. “O que você acha?”, perguntou-me com um meio sorriso
no rosto. Ele sabia que estávamos em uma graduação em psicologia orientada em grande
medida pelos estudos psicanalíticos e que eu gostava (ainda gosto) da psicanálise. Não dei a
meu colega o contentamento de me ver, como eu até hoje suponho que ele desejava, vociferando
contra o que, à primeira vista, parecia uma blasfêmia teórica. Respondi-lhe com uma pergunta
seca: “É bom?”. E ele abriu o sorriso, já se levantando e pegando o livro das minhas mãos: “É
ótimo”.
No dia seguinte, com o livro emprestado da biblioteca da universidade, comecei a
leitura. Lembro-me de ter a estranha sensação de que as palavras no papel corriam mais rápido
que meu pensamento. A minha desconfiança inicial deu lugar à surpresa e, ao cabo de algumas
páginas, soltei uma gargalhada. Não que não estivesse a levar à sério o livro e os autores; é que
a seriedade – esta sobriedade que se espera para o tratamento dos assuntos e questões
importantes – não estava ali. Tempos depois entendi que se tratava de uma escolha ético-política
(que também é sempre uma escolha estética): tratava-se de produzir uma máquina, um livro-
máquina, capaz de montar e desmontar imagens, entendimentos, afetos e, com isso, produzir
deslocamentos de verdades e práticas que se arraigaram historicamente em nosso modo de
existência e que resultaram em vidas despotencializadas, vidas miseráveis em muitos sentidos,
25
vidas tristes. Esse primeiro encontro com o livro foi como me colocar em movimento, foi como
uma dança. E eu adoro dançar.
Desde o primeiro contato até hoje, esses autores têm me acompanhado de diferentes
formas. Aqui, quando me proponho a discutir sobre as conexões das famílias contemporâneas
com os diagramas sociais atuais e com os processos de subjetivação capazes de manter ou
transformar o modo de vida hegemônico, alguém poderia me contrapor: “Mas buscar as
contribuições de Deleuze e Guattari para falar da família, justo dela?!” Essa hipotética pergunta,
que eu mesma me faço, leva em consideração o fato de que esses pensadores travaram n’O Anti-
Édipo uma verdadeira batalha contra a “sagrada família”, tida como o território privilegiado
para a repressão subjetiva nos moldes capitalistas-burgueses “sob o jugo do papá-mamá”
(Deleuze & Guattari, 1972/2004, p. 52). A essa pergunta, a resposta que encontro é: “Ninguém
melhor!” Isso porque a batalha de Deleuze e Guattari tem como alvo a universalização
dogmática de uma configuração familiar, que tem data de nascimento histórica e precisa ser
compreendida como tal. A sua batalha é contra a institucionalização da família nuclear burguesa
como modelo hegemônico que marcou e certamente ainda marca os modos de subjetivação
privilegiados da modernidade capitalista. Família cujos impactos subjetivos não podem ser
desconsiderados, especialmente para aqueles que têm nela a sua experiência familiar. Contudo,
sua consideração não pode significar sua naturalização, o que encobre sua origem histórica. Seu
entendimento como algo natural, como fato a-histórico acaba por tomar essa configuração
familiar como imutável e alheia às transformações sociais. De outro modo, é necessário ir além,
ou melhor, para “fora” desta família, um movimento que aqui empreendo em um duplo sentido.
Primeiro, cumpre considerar que a família nuclear tal como configurada na modernidade
por pai-mãe-filhos, bem como os complexos, traumas e repressões produzidos “dentro” desse
círculo familiar e envoltos pela triangulação edípica precisam ser conectados aos outros
elementos – econômicos, políticos, estéticos, científicos, tecnológicos, ambientais – que
também compõem o contexto de produção das subjetividades modernas. A compreensão da
família nuclear “em si mesma” tem produzido análises que cavam um abismo entre os dramas,
os problemas (também as forças e as invenções) familiares e tudo o mais que se passa além dos
muros do lar. Todavia, não é o caso de buscar as influências do “mundo exterior” no grupo
familiar, como se este possuísse limites precisos em relação à complexa rede que conecta fluxos
e forças, palavras e corpos, sentidos e práticas das vidas humanas. Uma das importantes
contribuições de Deleuze e Guattari é exatamente a produção de um modo de pensar a realidade
que procura se descolar dos dualismos, tais como dentro versus fora ou família versus social.
26
Um modo que é capaz de considerar, por exemplo, que o fortalecimento social da família
nuclear moderna só foi possível em um diagrama de forças (uma máquina abstrata na sua
terminologia) em que outros fluxos sociais como o capitalismo, as lógicas dos aparelhos de
Estado modernos e os valores burgueses também estavam em jogo e funcionavam de forma
entrelaçada.
O segundo sentido do movimento para fora da família moderna envolve considerar a
coexistência de outras configurações, arranjos, vínculos, alianças que, para quem os vive,
funcionam como uma família, mesmo quando esta fracassa em rebater os ditames do modelo
nuclear moderno. Fracasso que não significa necessariamente o adoecimento do grupo e das
pessoas, mas implica outros modos de funcionar, de se relacionar, de se aliar, de amar, de
transar, de desejar, de agir, de compartilhar (n)o mundo. Nesse contexto e seguindo as
contribuições de Deleuze e Guattari, a proposta aqui não é buscar as regularidades ou as
estruturas invariantes, passíveis de serem identificadas em qualquer família. De outro modo,
trata-se de considerar que qualquer regularidade ou estrutura, de uma família a outra, já é em
alguma medida outra coisa, quando pensamos que nunca são os mesmos elementos nas mesmas
conexões e velocidades que compõem um arranjo familiar. Isso não significa assumir o
pressuposto de que, como toda família é diferente, cada uma irá se organizar de maneira
particular e única, o que acaba por nos jogar em um relativismo que só permite olhar para
qualquer diferença como totalidade. Ao invés das totalidades, aqui aposto nas multiplicidades
para delinear uma concepção rizomática de família. Para tanto, acompanho a teoria das
multiplicidades que Deleuze e Guattari apresentam especialmente em Mil Platôs: capitalismo
e esquizofrenia 2, articulada ao rizoma como imagem de pensamento (Deleuze & Guattari,
1980/1995).
Segmentações, fugas, agenciamentos
Para delinear uma concepção rizomática de família é preciso reconhecer, desde já, que
as divisões, separações, agrupamentos, oposições, dicotomias estão presentes na realidade
humana; fazem parte do modo como organizamos nossos pensamentos e vivenciamos nossos
corpos. Como disseram Deleuze e Guattari (1980/1996b), “o homem é um animal segmentário”
(p. 83). Segmentamos nossas casas em cômodos e funções; segmentamos as cidades através de
27
ruas e em regiões valorizadas ou abandonadas, centrais ou periféricas; segmentamos as
empresas, conforme os processos, os protocolos, os setores, os cargos, os produtos. Esses
autores traçam três tipos de segmentação da realidade: as segmentaridades binárias, orientadas
pelas grandes oposições dualistas, tais como as classes, os gêneros, as idades; as
segmentaridades circulares que definem circunferências cada vez mais extensas – o indivíduo,
a casa, o bairro, a cidade, o país, o continente, o planeta; as segmentaridades lineares que nos
movem de uma etapa a outra, de um estágio ao outro, do berço doméstico para a creche, da
creche para a escola, desta para uma formação educacional suplementar e específica, da
formação para um estágio e daí para um trabalho e assim por diante, continuamente. As linhas
de segmentaridade ora circunscrevem indivíduos e grupos, ora fazem um mesmo indivíduo ou
grupo passar de um segmento a outro. Os diferentes tipos de segmentação funcionam
imbricados, um passando pelo outro, reforçando-se.
As linhas de segmentaridade estabelecem, em um nível que Deleuze e Guattari
(1980/1996b) denominam molar ou macropolítico, as visibilidades e os enunciados, as
estruturas e as determinações que procuram ditar as maneiras como os diferentes componentes
da realidade devem ser organizados, separados ou ajuntados, hierarquizados, nomeados,
utilizados, valorizados, ignorados ou destruídos. Essas linhas, ao segmentar, visam definir
pertenças e exclusões, visam homogeneizar e capturar em relações fixas e totalizantes a vida e
tudo o que nela se desloca. É nesse nível molar que se estruturam os modelos que ambicionam
recobrir as famílias, determinando os modos como elas devem se formar e funcionar, definindo
os que podem integrá-las legitimamente, estabelecendo os papeis e as funções adequadas para
cada integrante, bem como suas relações com os outros elementos e estruturas sociais.
Há, no entanto, toda uma micropolítica que também se faz sempre presente: “tudo é
política, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica” (Deleuze &
Guattari, 1980/1996b, p. 90). No nível micropolítico uma outra espécie de linhas de
segmentaridade se processa, atravessando sociedades e indivíduos tanto quanto as
segmentaridades molares. Trata-se de linhas moleculares com suas velocidades, direções e
intensidades próprias. Como assinalou Deleuze em seus Diálogos com Claire Parnet, essa
segunda espécie de linhas “não têm o mesmo ritmo que nossa ‘história’” (Deleuze & Parnet,
1998, p. 145). É assim que as hierarquias de gênero e de idade, os papeis destinados ao marido
e à mulher, as orientações para a boa educação e carreira dos filhos, a maneira como o espaço
doméstico deve ser dividido e ocupado, entre tantas outras formatações que atravessam os
arranjos familiares precisam lidar com ajustes, variações, adaptações que as diversas famílias
28
realizam em suas realidades específicas. Ainda que embebidas das determinações molares
acerca das distribuições de papeis, tarefas e poder, as famílias produzem variações em seu
funcionamento micropolítico. Toda uma micropolítica de afetos, identificações, disputas e
práticas cotidianas se compõe e funciona ao mesmo tempo (e não necessariamente no mesmo
sentido) que as normais sociais historicamente estabelecidas sobre como ser uma família.
A segmentaridade molecular opera por linhas flexíveis com sua grande capacidade de
inserção e difusão nos diversos contextos, o que sempre exige ajustes, torções,
redimensionamentos que essas linhas estão aptas a fazer. Não que elas sejam pequenas, mais
pessoais ou íntimas, pois elas têm força coletiva e podem se propagar em grandes extensões.
Tampouco trata-se de considerá-las melhores por serem mais maleáveis, uma vez que sua
flexibilidade pode servir à molecularização dos segmentos duros, lá onde eles, por si só, não
conseguem alcançar. E, por vezes, elas acabam por atuar com ainda mais endurecimento. Como,
por exemplo, nas situações em que, ao efetuar as lógicas patriarcais existentes no diagrama das
forças sociais e subjetivas que se formaram na modernidade, o “pai de família” as tensiona a
tal ponto que acaba por perpetrá-las de forma violenta contra sua esposa e filhos.
Todavia, há casos em que os movimentos moleculares não completam, difundem,
ajustam, tensionam as segmentações molares. Há casos em que eles são capazes de promover
rupturas e furos, de arrastar os fluxos “como se alguma coisa nos levasse, através dos
segmentos, mas também através de nossos limiares, em direção a uma destinação desconhecida,
não previsível, não preexistente” (Deleuze & Parnet, 1998, p. 146). Nesses casos, nasce uma
linha de fuga que, mesmo se ela começa pequenina, consegue passar pelos segmentos, escapar
das forças centrífugas dos aparelhos de Estado, desajustar-se das totalizações. Essa linha é
capaz de promover, mesmo quando ainda imperceptível, a produção do Novo, tais como novas
maneiras de amar, de promover alianças, de compreender e distribuir os papeis familiares. A
linha de fuga opera novas conexões, acena para uma nova história. Ainda aqui, especialmente
aqui, é preciso evitar os dualismos: “as fugas e os movimentos moleculares não seriam nada se
não repassassem pelas organizações molares e não remanejassem seus segmentos, suas
distribuições binárias de sexos, classes, partidos” (Deleuze e Guattari, 1980/1996b, p. 90).
Assim, para uma análise rizomática de famílias, é preciso assumir as conexões, os
acoplamentos, as batalhas entre as diferentes linhas que compõem os diagramas das forças
sociais. Está tudo aí: um rizoma. Suas guerras, multipolares e complexas, são talvez mais
potentes e vitais que nossos sonhos lineares de paz... Quanto ao rizoma, é nele que as diferentes
espécies de linhas podem existir de forma imanente. À medida que as linhas se conectam, se
29
cruzam, se interpõem, lutam, elas vão dando o tom, os contornos, os ritmos, as sensibilidades
que se efetuam em uma configuração histórica, sempre em movimento.
Deleuze e Guattari (1980/1995) propõem, na introdução a seus Mil Platôs, o rizoma
como imagem do pensamento e da realidade. Na botânica, o rizoma é uma extensão de caule
que une sucessivos brotos, numerosas ramificações com crescimento multidirecional,
subterrâneo ou aéreo, tal como a grama que recobre uma planície ou a trepadeira acoplada a um
muro. Difícil determinar seu começo e prever seu fim.
Ao propor o rizoma como imagem do pensamento e da realidade, Deleuze e Guattari
(1980/1995) assumem um posicionamento filosófico-político: não devemos mais acreditar em
árvores porque já sofremos muito. A realidade e o pensamento ocidentais, das ciências naturais
às ciências humanas, passando pela filosofia, pela política, pela economia, pela sexualidade,
foram estruturados, em grande medida, de modo arborescente. As segmentações e
estratificações produzidas pelas lógicas arborescentes são, com efeito, operações muito
profundas que, como pondera François Zourabichvili (2004) em seu Vocabulário de Deleuze,
estriam a sensibilidade, a percepção, a capacidade de afetar-se, o pensamento, encerrando a
multiplicidade das experiências em formas prontas e hierarquizações, inclusive de recusa e luta.
A árvore, como imagem do pensamento, funciona a partir de um centro unificador do
qual brotam as ramificações. O pensamento arborescente estabelece sistemas hierárquicos,
centros de significação e modos privilegiados de subjetivação; determina pertenças e exclusões,
traça polaridades e estruturas. Fundadas nesse tipo de pensamento, muitas das teorias, análises
e intervenções com famílias na modernidade acabaram por definir modelos e parâmetros de
normalidade familiar; acabaram por justificar hierarquias e submissões nos seios das famílias;
acabaram por avaliar como adoecidas, disfuncionais ou inadequadas as famílias incapazes de
funcionar a partir do eixo unificador que conceberam. Sustentaram ainda a imagem do Uno (na
figura do patriarca, no primeiro trauma da infância, na primeira experiência de satisfação do
bebê, na relação primária com papá-mamá e noutros) como o fio condutor para tudo o que se
passa nas relações nas famílias e nos processos de subjetivação de seus membros.
Deleuze e Guattari (1980/1995) destacam, no entanto, que o próprio cérebro é mais uma
erva que uma árvore. A erva é rizoma, assim como a grama e a trepadeira. Como imagem do
pensamento e de maneira diferente das árvores,
o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um dos seus traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir nem ao Uno, nem
30
ao múltiplo. Ele não é o Uno que se torna dois, nem mesmo que se tornaria diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não é um múltiplo que deriva do Uno, nem ao qual o Uno se acrescentaria (n+1). Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do qual o Uno é sempre subtraído (n-1). (Deleuze & Guattari, 1980/1995, p. 32)
Zourabichvili (2004) considera que, como método de compreensão da realidade, o
rizoma é antes um antimétodo. Seus “princípios ou características aproximativas” parecem ser
mais bem compreendidos como regras de prudência, como estratégias de desvio, como
ferramentas de luta contra os dualismos, contra o endurecimento das segmentações e do poder,
contra a captura e a reintrodução da árvore e do Uno no pensamento. “O mínimo que se pode
dizer que não é fácil manter-se nesse ponto” (p. 99). Trata-se, como pondera Eduardo Viveiros
de Castro (2015), “de um ‘prodigioso esforço’ para pensar o pensamento como uma atividade
outra que a de reconhecer, classificar e julgar” (p. 115).
Atividade que não pode ser equiparada às análises dialéticas da realidade. Não se trata,
por exemplo, de considerar que a segmentaridade dura e a segmentaridade flexível, duas
espécies de linhas, estabelecem entre si uma relação dialética a partir da qual uma terceira
espécie de linha se formaria como síntese das anteriores. Não se trata de oposição, mas de
mistura: as linhas ora se coadunam e se fortalecem em certo funcionamento, ora se distanciam
e travam suas batalhas. Nessa dinâmica, o que se transforma são os próprios termos em
conexão: não é A versus B que produz C como síntese, mas A com B que, em conexão, se
tornam A’ e B’ e assim por diante. E é ainda por isso que é sempre possível a terceira espécie
de linha, com suas rupturas e fugas que nascem entre as outras duas linhas, como derivação
inusitada, como novo campo de possíveis que transforma tudo em outros termos.
Nesse cenário, há uma escolha ético-política ao se empreender uma análise da realidade
(das famílias inclusive): percorrer as linhas mais do que identificar as formas e suas oposições,
acompanhar as conexões heterogêneas mais do que afirmar as essências e as identidades, o que
não abranda o rigor e a atenção, mas os colocam em um outro plano, imanente. O que importa
são as composições, os agenciamentos.
Ao considerar uma família como agenciamento, em suas múltiplas conexões, mais
importante do que se perguntar qual seria a essência da família ou quais seriam os critérios para
se detectar sua normalidade ou sua estabilidade, mais importante é se perguntar como uma
família funciona: “Em conexão com o que [ela] faz ou não passar intensidades, em que
31
multiplicidades [ela] introduz e metamorfoseia a sua”? (Deleuze & Guattari, 1980/1995, p. 12).
E ainda: Qual a velocidade e a intensidade dos diferentes tipos de linhas que nela se agenciam?
Como ela assume, produz, faz proliferar sejam os segmentos, sejam as fugas? Ademais, em
uma perspectiva rizomática, uma família concebida como agenciamento só pode ser pensada
em suas conexões com outros agenciamentos e com as forças que os compõem.
Ao explicar o que seria um agenciamento em Kafka para uma literatura menor, Deleuze
e Guattari (1975/2003) consideram que este possui dois lados: ele é, ao mesmo tempo, um
agenciamento maquínico de desejo e um agenciamento coletivo de enunciação. Um
agenciamento é maquínico porque a vida é produção, que se faz por acoplamentos, junções,
encaixes, circuitos e curtos-circuitos. Produção cuja força conectiva dos heterogêneos
elementos da realidade está no desejo. Não há agenciamento sem desejo que o produza, ao
mesmo tempo que o desejo sempre funciona inseparável dos agenciamentos. “O desejo nunca
é uma energia pulsional indiferenciada, mas resulta ele próprio de uma montagem elaborada,
de um engineering de altas interações” (Deleuze & Guattari, 1980/1996b, p. 93). Tudo em um
agenciamento se move por causa do desejo, força vital. Tudo do desejo corre, endurece, repete,
encena, luta, transa, inventa nos agenciamentos em que se acopla. Sigmund Freud (1980) foi o
grande precursor das análises sobre esse funcionamento agenciado do desejo, cujas conexões
não dependem das intenções de uma consciência como central de controle e disciplina. Todavia,
a psicanálise que ele fundou acabou por encerrar o desejo nos ditames de um inconsciente
individual obcecado com as projeções, as triangulações, as identificações com as figuras (ou
funções) parentais e acabou por direcionar a força produtiva do desejo rumo ao alinhamento na
cadeia significante e ao buraco negro da Falta. Boa parte da luta de O Anti-Édipo (Deleuze &
Guattari, 1972/2004) foi para restituir ao desejo sua competência produtiva e maquínica não
restrita a um sujeito individual e suas representações. Sujeito que, vale marcar, mais do que o
“dono” do desejo é um dos produtos históricos do agenciamento (de desejo) de nossa época,
tanto quanto a família – nuclear, edípica, privatizada – que contribui fortemente para sua
produção9.
Além da maquinação desejante de corpos heterogêneos, um agenciamento é composto
por um arranjo de enunciados. Ao indicar os enunciados, isso não significa focalizar sujeitos
9 Vale retomar que não é que os autores de O Anti-Édipo não acreditem na existência de uma triangulação edípica e todas as suas consequências sociais, subjetivas, desejantes; o que eles não acreditam é na ambição psicanalítica e política (afinal, o que melhor para o capitalismo do que um sujeito submetido a uma falta existencial?) de universalizar um certo funcionamento do desejo e um certo modo de subjetivação.
32
de fala, frases ou proposições, nem a cisão do ato de enunciar em dois lados do uso da
linguagem (consciente e inconsciente), em dois sujeitos (sujeito do enunciado e sujeito da
enunciação) como propôs Jacques Lacan (1998) a partir da linguística. Trata-se de compreender
a natureza e a função dos enunciados nos agenciamentos (não nos sujeitos e seu inconsciente
individual, nem tomando o agenciamento como Sujeito). Essa compreensão abrange os
conteúdos linguísticos, bem como elementos rítmicos, musicais, sonoridades e expressões de
diferentes ordens. A força dos enunciados é antes coletiva: eles existem como engrenagens de
um tal agenciamento e interessam especialmente por sua capacidade de proliferação e de
conexão com corpos, coisas, desejo.
Nesse sentido, é interessante a transformação por que passa o uso da palavra gossip no
Reino Unido no decorrer da modernidade capitalista. Silvia Federici (2017) destaca que essa
palavra, utilizada até então para significar “amiga”, passou a ser dita com conotações
depreciativas e referindo-se à fofoca entre mulheres. Isso ocorre à medida que o agenciamento
social muda na Europa, bem como a posição feminina nele. Dissemina-se a ideia de que uma
“boa mulher” deveria corresponder à esposa e mãe submissa ao marido, discreta, recatada e
dedicada aos seus afazeres no lar. Mulheres mais independentes, que andavam sozinhas pelas
ruas, que se reuniam e conversavam muito com outras mulheres, que questionavam ou se
impunham diante dos homens (pais, maridos e outras autoridades masculinas) tornaram-se
objeto de condenação moral ou mesmo de punição estatal. Federici (2017) lembra que “na
Europa da Era da Razão, eram colocadas focinheiras nas mulheres acusadas de serem
desbocadas, como se fossem cães, e elas eram exibidas pelas ruas” (p. 203).
Com efeito, há em todo agenciamento jogos de forças, relações de poder. No livro
elaborado como uma homenagem póstuma a Michel Foucault e a seu método (“é como se,
enfim, algo de novo surgisse depois de Marx”), Deleuze (1986/2005) afirma que um
agenciamento é um dispositivo concreto biforme (conteúdo e expressão) que efetua um
diagrama, máquina abstrata. Essa afirmação tem aqui um interesse prático: para compreender
como um agenciamento funciona é preciso olhar para as forças que lhe configuram a existência,
o diagrama. A partir de Foucault e sua análise do poder, Deleuze explica: “O que é o diagrama?
É a exposição das relações de força que constituem o poder” (p. 46).
Em Vigiar e Punir, Foucault (1975/1999) traça uma análise original do poder que se
difere das teses tradicionais. Deleuze (1986/2005) organiza essas teses em seis postulados e, a
partir de cada postulado, esclarece como a perspectiva foucaultiana se distancia deles. O
primeiro postulado é que o poder é tradicionalmente compreendido como propriedade de um
33
indivíduo, um grupo ou uma classe que o teria conquistado. Contudo, o poder é mais uma
estratégia do que uma propriedade; o poder não é algo a ser apropriado, ele deve ser exercido.
O segundo postulado, de que o poder é localizado no aparelho de Estado, é contraposto a uma
percepção do poder como uma prática difusa, que não é feita apenas pelo Estado e nem a partir
dele. Ao contrário, é o próprio Estado que se configura a partir de um conjunto de engrenagens
e focos de poder que se situam em diferentes níveis do campo social. Há toda uma rede de
micropoderes difusos, diagonais mais do que verticais, que deve ser compreendida em sua
microfísica cotidiana. No terceiro postulado há a ideia de que o poder estaria subordinado a
uma infraestrutura produtiva, como propôs o marxismo tradicional. No entanto, as relações de
poder não devem ser compreendidas em posição de subordinação a outras relações “mais
determinantes” como as econômicas, ou mesmo em relação de exterioridade com o que se passa
em outros aspectos da vida social. O poder se exerce de forma imanente, sem causa ou
unificação transcendente, ele é difuso, está por todos os lados. O quarto postulado envolve a
consideração de que o poder seria uma essência e um atributo dos que o possuem (os
dominantes), o que os distingue dos dominados. Todavia, o poder é operatório; ao invés de
atribuível a uma pessoa que o exerce sobre outras, o poder está nas relações, ele é a relação,
um conjunto de relações de força. Quinto, o postulado da modalidade defende que o poder age
por violência, através da repressão, ou por ideologia, através do encobrimento da realidade por
narrativas mistificadas. Ainda que a violência exista de fato, ela deve ser vista como um
resultado concreto de uma relação de poder, ela é efeito dessa relação. Na perspectiva
foucaultiana, o poder produz realidade e verdade antes de reprimir ou ideologizar – é preciso
que a repressão e a ideologia sejam sempre compreendidas em um agenciamento concreto no
qual elas operam e não o contrário. Por fim, o postulado da legalidade afirma que o poder seria
fundamentado na lei, seja a determinada pelos vencedores da guerra, seja a que precisa ser
imposta em nome da paz. A Lei, o fundamento jurídico, traçaria um modelo homogêneo para
justificar a legitimidade dos que exercem o poder. Mas, mesmo com a lei e sob seu domínio,
todo um conjunto de estratégias continua aqui e ali a configurar e reconfigurar as forças que
compõem os agenciamentos sociais.
Nesse sentido, a família em sua configuração nuclear moderna não foi o resultado
exclusivo da reforma protestante ou dos nascentes valores burgueses entre o século XVI e XIX.
Como veremos de maneira mais detalhada adiante, ela surgiu do encontro de diferentes forças
sociais e foi finalmente institucionalizada, ganhando proteção legal e difundindo-se pela rede
composta por diversas instituições – na igreja, na escola, na empresa, na telenovela, nas
34
políticas públicas – como modelo hegemônico de família. Se no século XIX na Europa a família
composta pelo pai patriarca e provedor, pela mãe amorosa e cuidadora do lar, pelos filhos
educados dentro de casa e pela escola, se essa família era vista como a “família normal”, alguns
séculos antes as extensas linhagens medievais, a criação costumeiras das crianças em diferentes
casas e misturadas ao mundo dos adultos, a socialidade solidária das terras comunais produziam
um outro diagrama de forças, outras relações de poder, em que a família nuclear e privatizada
no lar não tinha a mesma expressão e a mesma força social – outras composições familiares,
outros modos de apoio e proteção se impunham.
A difusão da família nuclear moderna como agenciamento privilegiado no diagrama das
forças sociais do século XIX não pode ser compreendida apenas pelos vínculos e processos
(edípicos e outros) que se processavam dentro de casa. É preciso compreender que esse
agenciamento familiar (como qualquer agenciamento) existe conectado às demais relações,
processos, fluxos que compõem certo momento histórico. Assim, os cercamentos capitalistas
que privatizaram as terras pela Europa e destruíram a socialidade comunitária; a difusão das
lógicas disciplinares pelo campo social e a consolidação da escola como instituição privilegiada
para disciplinar as crianças; a multiplicação de leis e práticas nos Estados europeus que
restringiram os direitos e a liberdade das mulheres à medida que o capitalismo e a burguesia
ascendiam socialmente; estes e outros processos foram fundamentais para a configuração da
família moderna. Vale dizer: não se tratou da emergência de uma força unificadora
transcendente, de um centro de poder que organizou esses processos sociais. O diagrama deve
ser entendido como “causa imanente não-unificadora” que estende as relações de forças
presentes em um certo período da história por todo o campo social, não por cima, mas pelo
próprio tecido dos agenciamentos que produz (Deleuze, 1986/2005).
O diagrama é, na leitura deleuziana, um mapa intensivo compostos por linhas de força,
relações de poder que ligam os diversos pontos do campo social e além dele (as forças nunca
são apenas humanas), em direções que não se resumem ao vertical e ao horizontal, são antes
transversais, diagonais móveis que atravessam níveis, ultrapassam limiares. Suas relações são,
em verdade, probabilidades de interação, são virtuais, potenciais, instáveis, embora sejam reais,
pois podem se efetuar e ganhar consistência nos agenciamentos concretos. O diagrama é, assim,
uma máquina abstrata10. Se os agenciamentos se comunicam através do diagrama de forças,
dando materialidade e expressão a este, essa comunicação se faz sempre produzindo
10 Sobre o conceito de máquina abstrata, conferir as conclusões de Mil Platôs: “Regras concretas e máquinas abstratas” (Deleuze; Guattari, 1980/1997b).
35
transformações no próprio diagrama, o que reverbera também nos agenciamentos e os desloca.
Além disso e ao mesmo tempo, o diagrama nunca se repete da mesma forma nos diferentes
agenciamentos. Linhas moventes, encontros e devir são mais condizentes do que a estabilidade
da Verdade ou do Sujeito com o que, de fato, se passa na história.
Os movimentos entre os agenciamentos e suas relações com o diagrama remetem a um
aspecto fundamental das propostas de Deleuze e Guattari: sua teoria das multiplicidades. A
multiplicidade não é um ente, uma essência, uma unidade. A noção de unidade só pode aparecer
“quando se produz numa multiplicidade uma tomada de poder pelo significante” (Deleuze e
Guattari, 1980/1995, p. 16). As multiplicidades não têm qualquer relação com o Uno, não são
uma derivação deste: não são múltiplos do um ou mesmo acréscimos a ele (n+1). As
multiplicidades precisam ser tratadas como substantivo. A compreensão de seu funcionamento
exige que as unidades, as formas e os segmentos, que as identidades e as equivalências, que a
taxinomia e seus critérios de inclusão-exclusão classificatória, que todos eles sejam projetados
no rizoma como imagem do pensamento: aqui o Uno funciona apenas como aquilo que deve
ser subtraído para que se vislumbre as multiplicidades em sua potência (n-1).
É que as multiplicidades são a diferença “em si”. Como coloca Deleuze (1968/1988) em
Diferença e Repetição, a diferença não é o diverso; ela é aquilo pelo qual um dado é dado como
diverso. A diferença é “esta irredutível desigualdade que forma a condição do mundo” (p. 286).
O que se liga através das relações de força no diagrama são multiplicidades, que se acoplam
para formar os agenciamentos concretos. Mas, ao acoplarem-se e à medida que aumentam,
diminuem ou modificam suas conexões, as multiplicidades mudam necessariamente de
natureza. Suas conexões são, por isso, sínteses disjuntivas (ou disjunções inclusivas) que fazem
com que cada “coisa” vá se diferenciando de si mesma à medida que se associa e se posiciona
nos agenciamentos. Como frisa Viveiros de Castro (2015), a síntese disjuntiva é o movimento
da diferença enquanto tal: um movimento centrífugo que permite à diferença escapar do atrator
circular da contradição e da superação dialéticas e escapar de diferir-se apenas sobre um fundo
(essência ou estrutura) invariante. Aqui, a diferença é antes positiva que opositiva, é antes
aliança de heterogêneos que conciliação de contrários. O enfoque é o devir, pois “não são as
relações que variam, são as variações que relacionam: são as diferenças que diferem” (p. 123).
Considerar as multiplicidades como o elemento primeiro dos agenciamentos tem uma
implicação prática: “é a natureza em seu conjunto, a multiplicidade ramificada das espécies
vivas que atestam um escalonamento ou uma livre comunicação de problemas e divisões
resolventes que remetem em última instância ao ser unívoco como a Diferença” (Zourabichvili,
36
2004, p. 105). O mundo é antes complicação entre seres e espécies; alianças intensivas entre
multiplicidades; implicação de fragmentos, afetos, ritmos e fluxos do que sua unificação e
repartição bem delimitada em segmentos e identidades.
Considerar as multiplicidades como o elemento primeiro dos agenciamentos tem ainda
uma implicação ético-política: a produção de conhecimentos sobre o mundo e seus viventes,
sobre os agenciamentos e suas configurações históricas deve operar entre as ciências menores,
nômades que rompem o vínculo sedentário entre saber-poder-Estado (Deleuze & Guattari,
1980/1997b).
Assim, para a produção de conhecimentos nômades assumo a importância de renunciar
à ambição que a ciência moderna estabeleceu de se produzir saberes, desenvolver métodos e
adotar posturas como pesquisador(a) que viabilizem (ao menos, é o que se sonha) o encontro
com a Verdade, estável e unificadora. De outro modo, o que proponho é um trabalho de
pesquisa que intenta acompanhar a vida em sua complexidade e processualidade com o intuito
de empreender análises capazes de mapear linhas, forças, fluxos, devires, multiplicidades em
seu funcionamento movente e em constante transformação.
Vale assinalar que essa postura científica não é menos rigorosa. Seu rigor está
exatamente no preparo ético-político do pesquisador para assumir a realidade como
exterioridade; para utilizar seus métodos e arcabouços conceituais como ferramentas
disponíveis que podem ou não servir diante de certo contexto ou problema de pesquisa,
exigindo, em muitos casos, a invenção como estratégia de conexão com a realidade; para aceitar
que uma ciência nômade não está destinada a tomar um poder, uma vez que se subordina “às
condições sensíveis da intuição e da construção” (Deleuze & Guattari, 2016, p. 41).
Por fim (ou para começar), esclareço que, do ponto de vista metodológico, adoto a
cartografia, método proposto por Deleuze e Guattari (1980/1995), para a produção das
estratégias de pesquisa. De uma maneira ilustrativa, posso dizer que o trabalho cartográfico
envolveu aqui manter “um olho no peixe e outro no gato”, ou seja: estudar tanto o diagrama de
forças do tempo histórico atual quanto acompanhar os processos que viabilizam sua efetuação
(com as variações, ajustes e fugas) em famílias brasileiras e suas conexões com agenciamentos
concretos. A seguir, apresento a proposta de pesquisa cartográfica deste trabalho, bem como as
escolhas e questões que permearam a construção do campo de investigação.
38
Capítulo 2
UMA PESQUISA CARTOGRÁFICA
Apanho o celular sobre a mesa. Abraço o aparelho com os dedos e gentilmente
desbloqueio a tela. Abro o WhatsApp. Ensaio escrever uma mensagem para Roberta, mas aperto
o botão para bloquear com a velocidade de quem leva um susto. É que minhas mãos estão
mudas neste momento... Solto o celular enquanto um incômodo que parece nascer no estômago
escala o meu corpo. O incômodo transborda pelos olhos, enquanto estes buscam uma imagem,
uma figura, um detalhe que seja para consolá-los. Finalmente fecho os olhos e ponho-me
imóvel. Há sempre esta esperança de que tudo se acalme se não fazemos nada. Em vão. O
desconforto apenas cresce, atravessa as paredes do estômago, distribui-se pelas vísceras
vizinhas. Ele comprime os pulmões ao mesmo tempo que acelera o coração. Levanto-me da
cadeira em busca de alguma coisa para me socorrer. Decido fazer um chá. Deixo o celular e o
computador sobre a mesa. Enquanto me afasto, talvez eles me observem com compaixão.
Volto para a mesa algum tempo depois, munida do chá e do que consegui encontrar de
força de vontade e de coragem para persistir no trabalho mesmo depois das exaustivas horas
que já havia passado pensando e ensaiando uma escrita em frente ao computador. Enquanto eu
balanço o infusor de chá com camomila dentro da caneca com água quente, penso no
descompasso entre o que estou a fazer e o que um dia já imaginei sobre a vida de pesquisadora.
Cresci com a imagem dos cientistas e pesquisadores como pessoas centradas, muito
inteligentes, profundas conhecedoras de seu campo de estudos, aptas a lidar com grandes
questões e desafios com obstinação e sangue frio. Assisti, no cinema, a genialidade e a
competência que se sobressaiam como as características privilegiadas dos cientistas retratados
pela indústria cinematográfica nas últimas décadas do século XX. Essa imagem prevalecia
mesmo quando pesquisadores e cientistas possuíam um toque de desajeito bem humorado, uma
certa ingenuidade, excentricidade ou mesmo loucura que davam à sua figura um pouco desta
humanidade imperfeita, estranha, ambivalente que, afinal, compõe todos nós. Foram
inesquecíveis para mim as aventuras do destemido e incansável arqueólogo Dr. Henri Jones Jr.
criado por Steven Spielberg e George Lucas no filme Indiana Jones. E ainda o estilo exótico
do genial Dr. Emmett Brown, um dos personagens principais do filme Back to the Future, bem
39
como a coragem da equipe científica composta pelos paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e
pelo matemático Ian Malcolm que visitam a ilha habitada por dinossauros criados a partir de
DNA pré-histórico em Jurassic Park.
Ao mesmo tempo, na “vida real” assisti ao dia-a-dia dos meus pais, ambos
pesquisadores – um cientista nuclear e uma professora universitária de química –, que pouco
compartilhavam com as filhas pequenas os desafios, os problemas, a dureza, a frustração, a
solidão que também fazem parte das vivências subjetivas de um pesquisador, como vim a saber
tempos depois. Ao longo da minha infância, o que vi de suas práticas profissionais foram os
laboratórios recheados com instrumentos, ferramentas e materiais, as enormes máquinas e seus
sons imponentes, os líquidos se transformando em gases, os corredores frios, os jalecos brancos
decorados com o nome e a titulação do proprietário, os rostos sérios e compenetrados dos outros
pesquisadores que, ao ver os olhos curiosos de uma criança que acompanha o pai ou a mãe no
ambiente de trabalho, informa-a com a expressão facial que tem mais o que fazer.
Se a minha infância já se foi há algumas décadas, vale assinalar que nos dias atuais
persiste, no imaginário do senso comum, uma percepção similar da figura do pesquisador. Em
um estudo publicado em 2017 sobre a percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, a
maior parte dos entrevistados (50%) indicou que os cientistas são “pessoas inteligentes que
fazem coisas úteis à humanidade”, enquanto uma parcela bem menor (14%) os definiu
como “pessoas comuns com treinamento específico” (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos,
2017, p. 68).
No meu caso, quando eu me tornei uma professora universitária, vi dissipar o glamour
diante da prática cotidiana de lecionar, estudar, pesquisar. É certo que são necessários rigor e
competência para desenvolver qualquer pesquisa, o que demanda da enorme maioria dos
pesquisadores variados estudos, o aprendizado prático com outras experiências, além de muita
dedicação para atender às exigências do trabalho que nunca se resumem às “aventuras no
campo”, abrangendo relatórios, prestações de conta, atividades burocráticas e outras que
consomem bastante tempo e paciência. Ademais, nas ciências humanas, sociais e da saúde,
nossos estudos envolvem um contato direto com “objetos” que são tão humanos quanto o
próprio pesquisador, o que torna as relações de pesquisa ainda mais complexas.
Enquanto observo a caneca de chá charmosa ao lado do computador, eu compreendo
racionalmente todas essas questões. Mas isso pouco me adianta para apaziguar a angústia que
dá cambalhotas em minhas vísceras, deixando uma terrível sensação de mal-estar. À medida
40
que bebo o chá de camomila, percebo que suas propriedades calmantes estão, de fato, muito
aquém do volume de ansiedade que parece percorrer cada pequena parte do que se passa sob
minha pele. É que agora, cumpridos pouco mais de dois anos do doutorado e concluída a
primeira fase das investigações de campo, instalou-se em mim uma sensação de paralisia, um
sentimento de despreparo, uma enorme confusão mental diante da grande riqueza e diversidade
de informações, relatos, registros, anotações que estão abrigadas no computador que continua
a me olhar da mesa, impassível. Além das informações produzidas e registradas, por se tratar
da proposta de realizar um trabalho cartográfico para a produção de conhecimentos nômades,
este estudo ainda envolve abrir espaço para a multiplicidade de afetos vivenciados nos
diferentes encontros que tive durante a pesquisa: encontros com livros, artigos, ensaios,
reportagens; participação em eventos acadêmicos, artísticos, populares; encontros com
pesquisadores, professores e estudantes de doutorado de diferentes áreas; conversas com
lideranças comunitárias e de movimentos sociais, artistas, mestres de saberes tradicionais;
visitas e encontros com membros de diferentes famílias. Tal abertura é importante em uma
cartografia para que aos afetos sejam dadas passagens nas vivências ao longo dos encontros,
conversas, visitas realizadas e também, de modo fundamental, no trabalho analítico e na escrita.
Finalmente consigo ligar para Roberta. Como minha orientadora, ao longo de todo o
processo de doutorado, ela nunca se esquivou do (árduo) trabalho de me acompanhar, refletir
conjuntamente, amparar ou mesmo consolar. Mais uma vez, sua experiência e doçura me
acalmam. Pesquisar não é uma tarefa fácil. Em uma proposta cartográfica em que é necessário
renunciar à ambição de buscar a estabilidade e a unificação da Verdade, em que o percurso de
pesquisa envolve acompanhar a vida em sua complexidade e processualidade com o intuito de
empreender análises capazes de mapear linhas, forças, fluxos, devires, multiplicidades em seu
funcionamento movente e em constante transformação, a tarefa, por vezes, pareceu-me grande
demais. Ou melhor, distante demais do modo como fui ensinada a pesquisar dentro dos moldes
hegemônicos da ciência moderna. Como a própria Roberta escreveu em outro momento:
Com certeza, os paradigmas emergentes e a cartografia ainda constituem desafios para nós, pesquisadores formados dentro de uma tradição moderna, acostumados a fragmentar, a racionalizar e a perseguir a verdade. Esse é um campo em construção, que combate uma lógica da racionalidade hegemônica na pesquisa. (Romagnoli, 2002, p. 171)
Trata-se, como ela ressalta, de um exercício que envolve, ao mesmo tempo, desapego
às formas acadêmicas instituídas dominantes e a ousadia de se aventurar na criação de um
dispositivo capaz de ligar a pesquisa com a vida (Romagnoli, 2002). Enfim, lembro que gosto
de aventuras. Recobro as forças. Meus dedos se aguçam em busca das teclas do computador.
41
Dispositivo de pesquisa
A escolha da cartografia baseou-se primeiramente em sua importância para o
pensamento rizomático proposto por Deleuze e Guattari (1980/1995). A cartografia é um dos
princípios do rizoma e envolve a construção de mapas que permitem a conexão de elementos e
planos da realidade. Mapas que devem permanecer abertos e conectáveis a partir de qualquer
uma de suas dimensões; mapas desmontáveis, reversíveis, aptos a transformar-se
constantemente e a adaptar-se conforme trilhados por diferentes indivíduos, grupos ou
formações sociais. O mapa é diferente do decalque, uma vez que este último visa à construção
de um modelo representativo, eixo genético ou estrutura profunda, sob o qual a realidade deve
ser rebatida para ser compreendida. O decalque remete, em última instância, ao Uno: “um mapa
tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre ‘ao mesmo’” (Deleuze &
Guattari, 1980/1995, p. 21). A cartografia visa, assim, promover investigações capazes de
sustentar a realidade em sua complexidade, evitando reduções e simplificações do que é em si
heterogêneo e processual.
A escolha da cartografia considerou ainda que esse método tem sido desenvolvido por
uma gama de pesquisadores brasileiros contemporâneos oriundos do campo da psicologia, mas
não apenas dele, como aponta Cintra et al. (2017) ao fazer uma revisão integrativa do método
cartográfico. Como afirma Virgínia Kastrup (2007), esse método vem sendo utilizado nos
estudos sobre subjetividade, possibilitando investigar os processos de produção subjetiva.
A autora considera que “a cartografia é sempre um método ad hoc” (Kastrup, 2007, p.
15). Por ser ad hoc, a construção do como fazer uma pesquisa cartográfica depende dos
objetivos da investigação, das condições e dos recursos para seu desenvolvimento, das apostas
e experiências dos pesquisadores, do contexto da pesquisa e, ainda, das relações que vão sendo
construídas entre os pesquisadores e os demais participantes em cada estudo. Assim, uma
pesquisa cartográfica não trabalha com categorias dadas a priori, externas ao campo de
investigação. Ela envolve a construção de um mapa para cada percurso investigativo. É
necessário criar um dispositivo de pesquisa a cada vez.
A noção de “dispositivo de pesquisa” é aqui inspirada nas considerações que Deleuze
(1996) faz em O que é um dispositivo? a respeito do uso desse conceito por Foucault em sua
42
analítica do poder. Foucault refere-se a dispositivo principalmente em suas obras Vigiar e Punir
(1975/1999) e História da Sexualidade 1: a vontade de saber (1976/1988). Mas é em uma
entrevista concedida em 1977 e intitulada Sobre a história da sexualidade que o filósofo
explicita o que compreende pelo termo: “[o dispositivo] engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. (...) O dispositivo é a rede
que se pode estabelecer entre estes elementos” (Foucault, 1989, p. 244). Nele, as relações entre
os variados elementos formam “um tipo de jogo” em que posições e funções vão se modificando
conforme as relações de poder e de saber se estabelecem, se reproduzem e se transformam.
Nessa perspectiva, Foucault (1989) afasta-se do estruturalismo, assumindo que um dispositivo
não tem um fundo estático e definitivo. Na verdade, é justamente sua capacidade de mutação
que o torna eficaz: a articulação entre seus diversos elementos produz efeitos que incidem no
próprio dispositivo, produzindo ajustes e transformações no modo como os elementos se
organizam.
A partir das propostas foucaultianas, Deleuze (1996) considera que um dispositivo é
composto por diferentes tipos de linhas. Essas linhas são vetores que conectam e articulam
forças, corpos, palavras e coisas, estabelecendo certos funcionamentos e práticas, certas
maneiras de existir, certas posições diferenciais entre sujeitos e entre instituições. Há as linhas
de visibilidade e as linhas de enunciação que constituem regimes a distribuir o visível e o
invisível, bem como o enunciável e o indizível, a cada momento, nos arranjos do dispositivo.
Trata-se de modos de iluminar e de dizer que não se referem a objetos e sujeitos dados de
antemão; são esses modos que, ao dar visibilidade e ao nomear, fazem nascer os sujeitos, as
coisas e sua história. Há ainda, por todo o dispositivo, as linhas de força que estabelecem as
conexões entre o ver e o dizer, que produzem jogos de poder-saber e que mantém sujeitos,
palavras e coisas em uma incessante batalha por sua afirmação. Por fim, há as linhas de
subjetivação, sempre a se fazer, a se territorializar e a fugir do dispositivo. Trata-se de vetores
que conseguem escapar ao jogo de forças do dispositivo e se tornam capazes de promover uma
nova construção de “si próprio” (soi). Essas linhas deflagram, com isso, um processo de
individuação, a emergência de um novo modo de existência que provoca brechas, fissuras,
mutações ou mesmo a produção de um novo dispositivo.
Nessa perspectiva, a noção de dispositivo estabelece uma mudança de orientação do ato
de pesquisar: desloca-se do valor dado ao universal e ao eterno para a importância de se
apreender a processualidade da vida, as mutações e a produção do novo que sempre se anuncia
43
como linha de subjetivação. De fato, Deleuze (1996) salienta que, em um dispositivo, há sempre
um duplo movimento: do que somos e logo não seremos mais; e do que vamos nos tornando.
Há sempre, em um dispositivo, história e devir.
Vale assinalar que, na obra deleuziana, dispositivo e agenciamento são certamente
conceitos próximos, senão sinônimos em alguns momentos. Como citei no capítulo anterior,
Deleuze (1986/2005) afirma que todo agenciamento é um dispositivo concreto biforme
(conteúdo e expressão)11. Dentro de uma proposta rizomática de família, propus considerá-la
como um agenciamento. E agora intento utilizar dispositivo para referir-me à composição das
estratégias de pesquisa. Trata-se de uma diferenciação cujo objetivo aqui é considerar a
possibilidade de construção intencional dos dispositivos de pesquisa, cujas estratégias
escolhidas pelo pesquisador visam promover a articulação entre vetores de visibilidade,
enunciação e força – uma pequena máquina de fazer ver, fazer falar, fazer pensar capaz de
explicitar os jogos de força presentes no contexto da pesquisa. Capaz de acompanhar ainda,
além do que já está dado, as linhas de subjetivação e sua potência de produção do novo na
realidade estudada.
Diferentes estratégias podem promover um dispositivo de pesquisa: entrevistas
individuais ou em grupo; visitas guiadas a organizações e comunidades; a observação do
cotidiano do campo investigado; o mapeamento de documentos e imagens; a apresentação
coletiva de filme, documentário ou texto como analisador de certo tema ou problema social; a
participação em um jogo virtual e nas conversas a seu respeito; a realização de oficinas que
privilegiem modos expressivos diferentes do verbal (expressões plásticas, corporais e outras);
a vivência de uma dramatização; os registros (memórias e afetos) do pesquisador em seu diário
de bordo da pesquisa; ou mesmo a combinação dessas e de outras estratégias convocadas pelo
campo. Contudo, não é possível garantir, de antemão, que qualquer estratégia funcione como
um dispositivo na pesquisa, que certo procedimento concreto (entrevistar, observar, dramatizar)
acople-se aos agenciamentos do campo dando efetiva visibilidade e voz aos elementos e aos
jogos de força presentes, bem como acompanhando os caminhos e conexões que aí se anunciam
como linhas de subjetivação. Como afirmam Laura Barros e Virgínia Kastrup (2009), o trabalho
com dispositivos implica o pesquisador no processo de acompanhar seus efeitos e não apenas
colocá-los para funcionar.
11 Sobre o uso dos termos dispositivo e agenciamento nas obras de Deleuze e Foucault, bem como as inspirações mútuas para o desenvolvimento desses conceitos por cada filósofo, ver Pellejero (2016).
44
Para produzir o dispositivo desta pesquisa, escolhi um arranjo de estratégias e
experiências que envolveu:
1) encontros com livros, artigos, ensaios, reportagens que, de diferentes maneiras, me
contavam sobre o que estava a se passar em nossas dinâmicas sociais, culturais,
econômicas, políticas, tecnológicas, ambientais etc.;
2) encontros com minha orientadora, com outros professores e estudantes de doutorado
em disciplinas, grupos de pesquisa e seminários, o que viabilizou debates e reflexões
coletivas, bem como o compartilhamento de experiências, de problemas e questões dos
estudos, de percepções sobre o mundo e seus desafios contemporâneos;
3) encontros proporcionados pela participação em eventos acadêmicos, artísticos,
populares ao longo de todo o doutorado, cujo critério de escolha para minha presença
era sua possível potência de experimentação de outras maneiras de pensar e sentir;
4) encontros com pesquisadores de diferentes áreas (antropologia, história, ciência
política, geologia, gestão ambiental, comunicação social, filosofia, além da própria
psicologia), com lideranças comunitárias e de movimentos sociais, com artistas, com
mestres de saberes tradicionais, os quais denominei “informantes-chaves da pesquisa”
e que tiveram, nas conversas que tive com cada um, o papel de me ajudar a pensar sobre
esta investigação a partir de seus campos de conhecimento e atuação, bem como de suas
cosmovisões;
5) encontros com membros (todos ou alguns) de diferentes famílias, com visitas às suas
casas sempre que possível, com o intuito de conhecer seus funcionamentos familiares,
de permitir a minha aproximação de seus cotidianos, de interagir com os membros, de
resgatar suas histórias, de entender os agenciamentos aos quais estão conectados.
Esse dispositivo procurou dar visibilidade: ao diagrama de forças e aos múltiplos
agenciamentos deste tempo histórico; às visões e estudos que têm sido desenvolvidos sobre
família; aos modos como famílias brasileiras têm se conectado às forças sociais e às condições
concretas com que se arranjam em suas relações, variações e invenções. Como dito no capítulo
anterior, a proposta envolveu manter “um olho no peixe e outro no gato”, procurando identificar
tanto o diagrama de forças do tempo histórico atual quanto acompanhar sua efetuação (e suas
variações, ajustes e fugas) em famílias concretas e suas conexões sociocomunitárias e
subjetivas; seguir tanto as segmentações sociais em suas composições molares quanto sua
45
molecularização a nível micropolítico, e ainda as linhas de fuga empreendidas, aqui e ali, por
famílias e pelos agenciamentos de que fazem parte.
Os encontros com as famílias
Para os encontros com as famílias, o primeiro ponto foi a definição dos critérios para
selecionar as famílias que seriam convidadas a participar do estudo e a encontrar-se comigo
(um, vários ou todos os membros). Encontros que deveriam ocorrer em suas casas sempre que
possível. Diante da proposta da pesquisa foi importante tentar garantir a diversidade de famílias
participantes, o que envolveu considerar diversas origens étnicas, costumes, condições
econômicas e socioculturais. A escolha das famílias atentou-se ainda para a diversidade de
vínculos e alianças entre os membros, incluindo famílias compostas por um homem e uma
mulher casados e seu(s) filho(s), mas não se restringindo a esse tipo de configuração. Afinal,
como ressalta Scheinvar (2006), famílias constituídas por mães solteiras, por parentes que
assumem a responsabilidade pelas crianças, por casais separados, entre outros arranjos, podem
ser formas coesas de organização familiar, embora não se enquadrem no modelo hegemônico
de família de nossa sociedade.
Desse modo, escolhi buscar por grupos familiares pertencentes a diferentes tipos do que
denominei Coletivos de Pertença: 1) povos indígenas originários; 2) comunidades quilombolas;
3) famílias de classe média urbana; 4) famílias moradoras em ocupações nas periferias dos
centros urbanos; e 5) famílias ricas econômica e politicamente. O campo de investigação contou
com membros de famílias brasileiras residentes em Minas Gerais, estado onde o doutorado se
desenvolveu12.
A escolha das famílias orientou-se, do ponto de vista metodológico, pela técnica Snow
Ball Sampling (em português, Amostragem em Bola de Neve) como estratégia para acesso aos
diferentes Grupos de Pertença e famílias integrantes deles. João Osvaldo Dewes e Luciana
Nunes (2013) explicam que a Bola de Neve utiliza a ligação entre membros de uma mesma
população para, a partir de um(s) dos membros, obter a indicação de algum(s) de seus
12 A pesquisa contou com a participação de Ana que, pouco depois de completar a maioridade conforme as leis brasileiras, integrou-se a uma família indígena que vive no Parque Nacional do Xingu (Mato Grosso). As outras famílias participantes desta pesquisa têm a maior parte de seus membros morando em Minas Gerais.
46
integrantes. Através da indicação por parte de um indivíduo de outro(s), e assim
sucessivamente, é possível conseguir o contato com um conjunto de pessoas integrantes do
coletivo selecionado, em um formato que se assemelha a uma bola de neve que acumula flocos
ao rolar e que, por isso, cresce. Trata-se de uma estratégia de “recrutamento em cadeia”13 que
se inicia pela identificação das “sementes” que devem ter conhecimento da população alvo da
pesquisa (Albuquerque, 2009). A partir da semente, começa o processo da bola de neve que
acontece em ondas:
Esses primeiros indivíduos são considerados a onda zero. Inicia-se o processo pedindo a cada semente que indique o contato de n outros indivíduos que eles consideram ser membros da população-alvo. A onda um é formada pelos contatos indicados pelos indivíduos da onda zero que fazem parte da população-alvo e que não fazem parte da onda zero. A onda dois é formada pelos contatos indicados pelos indivíduos da onda um que fazem parte da população-alvo e que não fazem parte da onda zero nem da onda um. O processo segue até que o tamanho de amostra desejado seja alcançado ou então quando uma nova onda não produza um determinado número de contatos novos. (Dewes & Nunes, 2013, p.12)
Escolhi como ponto de partida (onda zero) pedir a ajuda de alguns dos informantes-
chaves com quem conversei. Pedi a eles que me indicassem contatos de integrantes dos
Coletivos de Pertença acima definidos, que conheciam em virtude de seus estudos, práticas,
inserções sociais. Consegui diferentes indicações e, a partir delas, conheci as famílias que
integraram este estudo.
Quanto ao número de famílias cujos membros participaram da pesquisa, o que posso
dizer é que foram em torno de 15 famílias. Isso porque algumas das famílias participantes e
seus modos de funcionamento dificilmente podem ser enquadrados no que se entende
hegemonicamente por família. Com efeito, seus arranjos, se pensados apenas nos moldes da
família nuclear moderna, deveriam ser repartidos e reorganizados resultando em outro cálculo
do número de participantes. Seja como for e considerando o caráter qualitativo aqui assumido,
a quantidade de famílias mostra-se menos importante do que o modo como estas contribuíram
para a construção do estudo.
É importante lembrar, em consonância com a perspectiva rizomática de família
apresentada, que esse modo não priorizou um mergulho investigativo nas dinâmicas das
famílias “em si”, nem partiu de uma análise de cada família como interioridade como
13 Em pesquisas que pretendem realizar um tratamento estatístico/probabilístico com inferências e generalizações a partir de uma amostra significativa de uma população, Albuquerque (2009), bem como Dewes e Nunes (2013) sugerem a técnica Respondent-Driven Sampling, que utiliza de ponderação matemática na Amostragem em Bola de Neve. Aqui, no entanto, pelo caráter qualitativo cartográfico da pesquisa, a Bola de Neve tal como foi empregada atendeu à proposta de investigação.
47
frequentemente ocorre em estudos sobre famílias no campo da psicologia. De outro modo, a
proposta de incluir o “fora” envolveu a consideração não apenas das identidades, conjuntos,
entidades, estruturas – tudo isso que delimita unidades (sujeitos, famílias) como um “em si”,
mas também e sobretudo, a consideração das multiplicidades que compõem as conexões entre
indivíduos, famílias, comunidades, grandes segmentações e modelizações sociais, aparelhos
estatais, lógicas políticas e econômicas e outros. Consideração que implica um trabalho de
análise transversal.
O conceito de transversalidade foi pensado por Guattari (1986) a partir das questões que
permeavam sua atuação clínica-institucional, em especial no hospital psiquiátrico de La Borde.
Ao pensar a dimensão da transversalidade, ele propõe a superação dos dois eixos que se
estabeleceram como modos hegemônicos de organização da realidade: a pura verticalidade com
as hierarquias e determinações daí advindas e a simples horizontalidade com seus conjuntos
homogêneos de pertença e equivalência. Para Guattari (1986) o uso vertical da informação
acaba por produzir assujeitamentos que impedem práticas que convoquem a autonomia. Já a
comunicação horizontal não pressupõe em si mesma partilha e pode se afastar da dimensão
coletiva ao se restringir a aproximações e trocas apenas homogêneas. A transversalidade
pretende superar os dois eixos, estabelecendo conexões e trocas entre heterogêneos,
composições entre multiplicidades capazes de fazer aflorar processos inéditos e engendrar
novas realidades (Simonini & Romagnoli, 2018).
Nesse sentido é necessário assumir o caráter de intervenção da pesquisa cartográfica,
uma vez que, para os cartógrafos, pesquisar não envolve interpretar o mundo ou representá-lo,
“mas acima de tudo trata-se de produzir o mundo, construir realidade” (Ferracini, Lima,
Carvalho, Liberman & Carvalho, 2014, p. 228). Trata-se de produzir uma operação de
transversalização que intervém na organização vertical-horizontal da realidade (Passos &
Barros, 2009). Isso possibilita a flexibilização das linhas que se endurecem nesses dois eixos e
permite que multiplicidades ganhem visibilidade e possam ser enunciadas. Como dissemos em
outro trabalho, na pesquisa cartográfica:
sustentar a transversalidade é produzir uma diferença em todos os envolvidos, produzindo deslocamento, processos de subjetivação que se fazem transversalmente, unindo estados, situações, ligando elementos distintos, associando subjetividades. A transversalidade produz alianças e passagens entre territórios estratificados que se sustentam pela reprodução; ela desestabiliza e constrói passagens inventivas, mundos outros. (Cardoso & Romagnoli, 2019)
Para iniciar os processos de transversalização no contato com as famílias organizei
alguns pontos que considerei pertinentes para me orientar durantes os encontros, em uma
48
espécie de “roteiro aberto”. A partir dos pontos do roteiro, procurei seguir as considerações
sobre o que cada grupo familiar considerava como família – quais vínculos, afetos, alianças,
acordos, territórios, corpos, discursos compunham a sua referência ao seu próprio arranjo e sua
rede de apoio sociocomunitária. O roteiro ainda procurava acompanhar conexões que as família
estavam a produzir com os valores e as práticas socialmente difundidas pelo modelo dominante
de família de nossa época; com os modos de produção, distribuição, comunicação e consumo
do capitalismo atual; com os aparelhos de Estado tal como instituídos no Brasil; com o modo
de subjetivação que se sagrou hegemônico no projeto civilizatório da modernidade capitalista
e que têm difundido maneiras privilegiadas de pensar, trabalhar, desejar, sentir, relacionar-se.
Tratou-se de um roteiro aberto, já que, como uma bússola para meu trabalho cartográfico, esses
pontos marcavam um direcionamento inicial. Com efeito, em uma pesquisa cartográfica é
fundamental permanecer permeável aos acontecimentos e experiências vividas no campo.
Tive que lidar durante os encontros com as famílias com constantes fugas do roteiro.
Por exemplo, com a interrupção da conversa com uma dona da casa pelo conflito entre seus
filhos que entraram gritando na sala onde estávamos. Em outra oportunidade, vivi uma
experiência singular de compartilhamento de afetos que só ocorreu depois que o roteiro tinha
sido concluído e a disponibilidade para outros encontros abriu-se na conversa: a senhora que
me recebia em sua casa, de origem indígena, resolveu “visitar” comigo a sua aldeia, localizada
em outra parte do país, através das fotografias, recortes de revista e cartas que juntas
vasculhamos. Outra vez acabei sendo convidada, de forma inesperada, a participar de uma
reunião comunitária e a ajudar nas atividades, o que não envolvia diretamente as famílias que
eu pretendia visitar. Em todos os casos, meu roteiro era o começo de conversas e experiências
que ganhavam sempre outros contornos.
* * *
Como dito anteriormente, o trabalho cartográfico envolve assumir uma postura diferente
do que tradicionalmente se difunde nas práticas investigativas da ciência moderna marcadas
pela divisão entre sujeito e objeto e pelo papel de observador neutro e imparcial do cientista:
Diferente do método da ciência moderna, a cartografia não visa isolar o objeto de suas articulações históricas nem de suas conexões com o mundo. Ao contrário, o objetivo da cartografia é justamente desenhar a rede de forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de suas modulações e de seu movimento permanente. Para isso é preciso, num certo nível, se deixar levar por esse campo coletivo de forças. Não se trata de
49
mera falta de controle de variáveis. A ausência do controle purificador da ciência experimental não significa uma atitude de relaxamento, de “deixar rolar”. (...) O desafio é evitar que predomine a busca de informação para que então o cartógrafo possa abrir-se ao encontro. (Barros & Kastrup, 2009, p. 57)
Trata-se de uma postura ético-política importante. No caso desta pesquisa, ela envolveu
admitir o encontro das minhas experiências, estudos e condições de vida com realidades
socioeconômicas, culturais, comunitárias muito diferentes. Nesse percurso, admito a
necessidade de certa organização, que procurou, entretanto, sustentar os processos e as relações.
Foi preciso, por isso, construir um plano comum que viabilizasse tal encontro.
Virgínia Kastrup e Eduardo Passos (2013) indicam que o plano comum é fundamental
para a construção compartilhada de uma pesquisa cartográfica. Inspirados nas contribuições do
filósofo François Jullien, os autores afirmam que o comum é um conceito político que porta um
duplo sentido: pertencimento e partilha. O pertencimento implica conectar-se pela diferença.
Implica promover, através do dispositivo da pesquisa, linhas que conectem elementos e grupos
em sua heterogeneidade, ao invés de procurar seu agrupamento pela identidade, pela
semelhança e pelo homogêneo. Já a partilha não se refere à divisão da realidade em domínios
específicos, à operação de demarcação de territórios privatizados, pois, quando isso ocorre “[...]
assiste-se à inversão de sentido, a derrapagem do comum pela via de um ‘comunitarismo’
proprietário, privatista, excludente” (p. 269). Os autores dão como exemplo dessa lógica
excludente e privatista a ideia de que é preciso ser uma mulher negra para poder falar sobre
mulheres negras, ou ser cego para falar sobre cegueira:
Embora seja importante para a pesquisa contar com a participação daqueles que podem falar de dentro da experiência, limitá-la àqueles que possuem essa precondição não é de modo algum garantir seu sucesso. [...] Apostar nos pontos de vista próprios ou particulares é confundir o comum com o homogêneo. Nesse caso, o espaço de partilha da comunidade mais reparte do que faz participar, já que sua atividade inclusiva tem como contraparte a exclusão do não semelhante. (Kastrup & Passos, 2013, p. 269)
O trabalho de partilha deve ser então uma operação inclusiva: participar na diferença,
através da diferença. Afinal, se problemas raciais e de gênero acometem, antes de tudo,
mulheres negras, por outro lado, trata-se de problemas cuja força analisadora pode (co)mover
todos os participantes de uma pesquisa, inclusive não negros e não mulheres. Por isso, a prática
das pesquisas cartográficas deve envolver o preparo do pesquisador para promover a
transversalidade e suas conexões rizomáticas na produção de conhecimentos. O que, como
adverte Guattari (1986), envolve assumir o risco “[...] de ter de se confrontar com o nonsense,
com a morte e com a alteridade, risco esse relativo à emergência de todo fenômeno de sentido
50
verdadeiro” (p. 102). Janice Caiafa (2007) aponta para a potência desse estranhamento, que
introduz irregularidades, desvios na continuidade do pensamento e da vida: “é esse atrito que
impulsiona o pensamento, que traz novidade” (p. 148).
Nesta pesquisa, o (com)partilhar incluiu as visitas às casas das famílias e encontros com
seus membros, mas não se restringiu a esses contatos, uma vez que todos os outros encontros
(dos livros aos informantes-chaves) foram importantes para a composição de um trabalho,
digamos, geográfico-afetivo: apresentar diferentes conexões que me (co)moveram – sempre um
misto de afetos-e-movimentos (do pensamento inclusive) – ao longo do trabalho. Nesse cenário,
vale destacar a importância do corpo e sua uma abertura para (co)mover-se através dos
encontros.
Em sua leitura de Espinosa, Deleuze (2002) retoma uma célebre frase daquele filósofo:
não sabemos o que pode um corpo. Trata-se de assumir que a potência do corpo ultrapassa o
conhecimento que nossa consciência e nossa vontade têm sobre ele, bem como os “[...] mil
meios de mover o corpo, de dominar o corpo” (p. 23). Em sua Ética, Espinosa (1677/2009)
propõe o paralelismo entre corpo e alma/mente, divergindo das propostas que tradicionalmente
concebiam a alma em posição de transcendência e controle sobre o corpo. Em uma perspectiva
monista e imanente, afirma que “alma e corpo são uma só e mesma coisa concebida ora sob o
atributo do pensamento, ora sob o da extensão” (Parte III, Proposição II, escólio, p. 200).
Paula Jesus (2015) assinala que, para Espinosa, o poder de um corpo está em sua
disposição para ser afetado. Ao ser afetado pelo encontro com outro corpo, ocorre uma mudança
no estado de nosso corpo e nossa mente. As afecções (affectio) oriundas do encontro com outros
corpos produzem afetos (affectus) que podem aumentar ou diminuir nossa potência. Os
encontros produzem, assim, uma flutuação de nossa capacidade de agir, de pensar, de desejar:
tornamo-nos mais potentes e mais atuantes, ou menos potentes e mais passivos de acordo com
os encontros e experiências que vamos vivenciando. Dessa flutuação depende nossa força vital
para perseverar, a qualidade ética de nossa existência (Sawaia, 2009). Mas perseverar na
existência não significa lutar pela sobrevivência a qualquer custo, pois nesse caso “nós
depreciamos a vida: nós não vivemos, mantemos apenas uma aparência de vida, pensamos
apenas em evitar a morte” (Deleuze, 2002, p. 33). Perseverar na existência envolve a disposição
de nosso corpo e nossa mente para encontros com outros corpos que nos afetem de modo a
aumentar nossa capacidade de agir e pensar no mundo.
51
Em uma pesquisa cartográfica, a importância do corpo no processo da investigação de
campo envolve manter sua disponibilidade para afetar-se e comover-se, movendo com isso e
ao mesmo tempo o pensamento. O que amplia o horizonte de reflexões do pesquisador e
intensifica sua capacidade de produção de mundos, como assinalam Ferracini et al. (2014).
Assim, “cartografar é mergulharmos nos afetos que permeiam os contextos e as relações que
pretendemos conhecer, permitindo ao pesquisador também se inserir na pesquisa e
comprometer-se com o objeto pesquisado, para fazer um traçado singular do que se propõe a
estudar” (Romagnoli, 2009, p.171).
Como sustentar a disponibilidade do corpo-pensamento para os encontros no campo é
uma pergunta a ser feita. Tal como não há um modelo de dispositivo de pesquisa pronto a priori,
também o preparo de cada pesquisador envolve, a meu ver, as experiências e recursos
construídos ao longo de sua história, bem como as estratégias singulares escolhidas para a
conexão com o campo. De minha parte e nesta pesquisa, aproveitei, além dos estudos teóricos
e metodológicos e das experiências em outras pesquisas cartográficas, os aprendizados
desenvolvidos ao longo de vários anos em que pratiquei dança contemporânea e atuei em um
grupo de Contato-Improvisação. Nesse grupo havia todo um treinamento para “a espera”. Em
improvisações em dança realizadas em espaços públicos como praças, parques, estações de
metrô, deveríamos manter o corpo atento aos fluxos e acontecimentos que se sucediam pelo
espaço; e deveríamos mantê-lo disponível para acompanhar/intervir sempre que nosso corpo se
(co)movesse para tanto. Nesse contexto, era interessante observar como as intervenções que
ocorriam a partir dos afetos eram muito mais potentes e significativas (capazes de produzir
sentido para os que as presenciavam) do que aquelas em que algum bailarino decidia apenas
pela consciência14 realizar alguma intervenção no espaço.
A essa experiência, somou-se a imersão que realizei, durante o doutorado-sanduíche em
Lisboa, Portugal, no c-e-m (Centro em Movimento). Desde a década de 1990, o c-e-m tem se
ocupado em promover diálogos e produções que conectam Arte (em diversos suportes), Ciência
(em diferentes campos do conhecimento) e Sociedade15. Desde 2005, o c-e-m procura produzir
linhas de formação, ação e criação que conectam corpo-e-cidade. A partir de 2010, no quinto
ano de trabalhos contínuos nos diversos bairros de Lisboa, denominados Pedras D’Água,
14 Como afirma Deleuze (2002), a consciência não é o mesmo que o pensamento, que a ultrapassa. Como “central de controle” a consciência recolhe os efeitos dos encontros, mas quando ela os reduz à compreensão que consegue ter deles, condena-nos “a ter apenas ideias inadequadas, confusas e mutiladas, efeitos distintos de suas próprias causas” (p. 26). 15 Conferir o histórico e as atividades desenvolvidas pelo Centro em Movimento em www.c-e-m.org.
52
iniciou-se uma publicação anual que apresenta as abordagens e experiências junto às diversas
realidades encontradas no espaço público da cidade de Lisboa a cada edição do projeto, além
de apresentações artísticas, mostras de vídeos, laboratórios, conferências, conversas, bailes,
ajuntamentos festivos itinerantes, visitas guiadas relacionadas às propostas de cada ano. Desde
2017, o trabalho com a cidade de Lisboa ampliou-se com a documentação entre-cidades, com
colaboração de vários lugares do Brasil, Argentina e Europa.
Nesse centro de formações e atuações artísticas, pude realizar um mergulho em algumas
das práticas do c-e-m de forma concomitante e complementar aos estudos realizados na
Universidade de Lisboa. Em especial, a prática da Escrita na Rua permitiu-me o exercício
semanal de estar na cidade de Lisboa em diferentes espaços e condições, bem como o de
escrever nessa situação e a partir dela – a Volta da Escrita, realizada a partir de um trabalho
corporal para tanto – o que enriqueceu meu preparo para a inserção no campo de pesquisa e,
como pontuo adiante, para a escrita dos diários de campo e da própria tese.
Em boa medida, esses aprendizados reverberam as ponderações de Sílvia Tedesco,
Christian Sade e Luciana Caliman (2013) sobre a realização de entrevistas (e aqui de visitas)
na perspectiva cartográfica, que requerem que “a escuta e o olhar se ampliem, sigam para além
do puro conteúdo da experiência vivida, do vivido da experiência relatado na entrevista, e
incluam seu aspecto genético, a dimensão processual da experiência” (p .301). Somam-se ainda
às reflexões de Kastrup (2007) sobre a atenção do cartógrafo, especialmente quando assumimos
que essa atenção é um exercício corpo-e-mente em que a “inteligência do corpo” – sua
capacidade de afetar-se de múltiplas maneiras – é tão importante quanto nossa atividade
cognitiva-mental.
Sobre a atenção no ato de pesquisar, Kastrup (2007) indica a proposta de Deleuze em
seu Abecedário (1994) de se ativar uma “atenção à espreita” – flutuante, concentrada e aberta.
A autora lembra que, como a atenção flutuante proposta por Freud para o psicanalista durante
o processo de análise, a atenção à espreita deve se despir da seleção prévia, pois “[...] ao efetuar
a seleção e seguir suas expectativas, [o analista ou, aqui, o pesquisador] estará arriscado a nunca
descobrir nada além do que já sabe; e, se seguir as inclinações, certamente falsificará o que
possa perceber” (Freud apud Kastrup, 2007, p. 16). É certo que Freud referia-se à escuta durante
o trabalho analítico e que, no caso de uma pesquisa, em especial a que aqui apresento, há a
demanda por uma atenção mais ampla do que a auditiva, envolvendo o trabalho ativo e
concomitante do conjunto dos sentidos do corpo do pesquisador que percebe e intervém. Então,
nessa perspectiva ampliada, empreender a atenção à espreita exigiu um trabalho de
53
desprendimento da atenção seletiva em prol de uma prontidão corporificada, em que estar atento
significa deixar-se afetar e seguir as linhas expressivas (verbais, corporais, plásticas) que
ganham consistência dentro da dinâmica dos encontros.
Encontros e estranhamentos
A apresentação feita sobre a pesquisa cartográfica, com os diferentes aspectos que
fizeram parte efetiva deste trabalho, procurou sustentar não somente as intensidades e o
encontro com a diferença, mas também o plano de organização e suas segmentações que
também fazem parte.
A vivência desta pesquisa esteve permeada também por angústia, por confusão mental,
por paralisia, por atropelos totalizantes e, quando bem acolhidos, esses efeitos “negativos” do
estranhamento produzido em nosso corpo-pensamento pelo encontro com a diferença e com as
multiplicidades não são contraproducentes. Ao contrário e para lembrar uma assertiva de
Zaratustra, “é preciso ter ainda o caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante”
(Nietzsche, 1885/2018, p. 11).
Foi assim que encarei, sentindo um misto de vertigem e graça, um comentário do
primeiro integrante da família do quilombo que visitei. A visita foi em sua casa em Belo
Horizonte, antes da minha ida ao quilombo situado na região sul da Serra do Espinhaço em
Minas Gerais. Estávamos a conversar sobre sua família, quando pergunto a Diego16 se poderia
ir visitá-la no quilombo. Olhando-me com seriedade, ele me responde que achava que sim, que
eu poderia ir, mas previne-me que a minha visita seria uma tarefa trabalhosa, porque sua família
era bem grande.
Segura da minha própria compreensão sobre o que é uma família, rio-me por dentro com
a preocupação de Diego. Sua família poderia ser mesmo maior e tudo bem, pois visitá-la fazia
parte do investimento na pesquisa. A título de organização pergunto quantos eram afinal os
membros de sua família. “Ah, é umas 300 pessoas”, ele responde como quem procura atualizar
mentalmente seus cálculos. Diante da resposta, não consigo segurar a expressão de perplexidade
que toma conta do meu rosto. Penso que isso era realmente demais e uma ponta de desespero
16 Nome fictício. Os nomes de todos os integrantes das famílias que cito ao longo deste trabalho foram alterados em respeito ao sigilo proposto pela pesquisa, conforme orientação do Ministério da Saúde para investigações com seres humanos.
54
assalta meu coração enquanto pondero comigo mesma que teria muito trabalho. Mesmo uma
cartógrafa disposta a encontrar e a acolher a diferença tem os seus limites... Limites que, nesse
caso, não se referem ao trabalho de visitar 300 pessoas e, sim, à dificuldade de conceber uma
família tão numerosa e tentacular. Ampliar a minha compreensão de família era o verdadeiro
trabalho a ser feito.
Em outra oportunidade marco um encontro com uma família indígena. Apesar de sua
aldeia ser na região nordeste de Minas Gerais, um casal estava em Belo Horizonte para
participar da Formação Intercultural para Educadores Indígenas (Fiei) ofertada pela Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)17. Marcamos na própria
universidade o que, para mim, já era algo inusitado, uma vez que, nas minhas lembranças do
ambiente acadêmico, este pouco havia acolhido a participação de indígenas como indígenas.
Confesso que a alegria pela experiência me impediu de imaginar como seria de fato o encontro.
Fui assim munida de poucos preparos.
Ao chegar, vejo o casal que me aguarda na lanchonete da Faculdade de Educação. Peço
à mulher, Sandra, para escolher um local que considera adequado para nossa conversa. Ela se
vira para marido Iraí que está ao lado e para a neta que os acompanha e conversa com os dois.
A conversa é em outra língua, a sua língua, cuja sonoridade, ritmo, encadeamento eram muito
diferentes do que estou acostumada a ouvir. Não que eu não estivesse acostumada a escutar
línguas estrangeiras, pois eu estava. E ficava usualmente confortável em escutá-las e, por vezes,
conversar nelas. Mas, naquele momento, o que era realmente estranho é que a língua posta para
funcionar ao meu lado não era de outro lugar, país ou nacionalidade, ainda que fosse uma língua
de um outro mundo, de uma outra maneira de existir e que habitava o mesmo território que eu,
este que foi chamado Brasil.
Estranho isso de ver uma família brasileira que me deslocava de minha própria terra e
das instituições (inclusive da linguagem) que nela aprendi a me (re)conhecer. Essa sensação
acompanhou-me enquanto Sandra me indicava o local para nos alojarmos: o chão próximo a
uma árvore no jardim da faculdade, onde ela e seu marido se assentavam de forma muito
17 A Formação Intercultural para Educadores Indígenas é um curso de licenciatura que ocorre na UFMG no contexto do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas e é voltada para a formação de professores indígenas que atuarão nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio nas aldeias. O curso procura integrar à educação formal as várias formas de uso da língua pelas comunidades indígenas, respeitar as especificidades de cada povo e articular conhecimentos tradicionais e conhecimentos acadêmicos.
55
confortável. O conforto dos dois deixou-me mais à vontade. Assentei-me também, próxima,
ajeitando as minhas coisas no chão, enquanto Sandra abria sua sacola e tirava um tecido
colorido que foi se transformando em um vestido enquanto conversávamos (em português para
que eu pudesse entender). Sua neta – uma garotinha dos seus cinco anos – acompanhava curiosa
toda a conversa, atenta aos meus gestos e falas. Fico sabendo que ela não entende o português
e só o aprenderá na adolescência. Pouca vezes meu corpo compreendeu tão bem o conceito
deleuze-guattariano de desterritorialização: esse processo que acentua a ambivalência de nossa
relação com a terra. Desloca-nos das conexões profundas com o que compreendemos como
nossa “terra natal” – território mais existencial que geográfico, que dá visibilidade ao que nos
é familiar e vinculante, que marca os limites em relação ao outro como diferença, que nos
protege do desconhecido e do caos – para o encontro com o Fora, com “o espaço liso do
nomadismo” (Zourabichvilli, 2004, p. 46). Desta vez, tratou-se de fazer emergir na minha terra
natal uma parcela destas tantas multiplicidades que, por razões geopolíticas, econômicas,
religiosas, culturais, foram invisibilizadas na nossa história.
Esses encontros somaram-se a muitas outras experiências vividas durante a
investigação. Por certo, nem todos os encontros da pesquisa produziram afetos e deslocamentos
movidos pela possibilidade de experenciar o Novo. Por vezes o que acabou por me afetar foi a
reprodução, evidente ou discreta, do que já somos ou do que se espera que sejamos – as
segmentações e os modos de subjetivação hegemônicos que também nos compõem. Foi assim
quando convidei uma família de artistas para participar da pesquisa. Antes do convite, conheci
Dani e uma moça que, eu supus, era sua namorada pelos beijos e carícias que as vi trocar. As
duas estavam juntas em diversos eventos artísticos que eu frequentava. Contudo, algum tempo
depois de conhecê-las, encontro Dani acompanhada de um homem que ela me apresenta como
seu marido. E, em uma terceira oportunidade, encontro com os três, juntos em um evento.
Diante desse arranjo peculiar para a normalidade contemporânea, considerei que valia convidar
essa família para uma conversa. Pedi a um amigo comum, que estava a me ajudar na pesquisa,
para perguntar a Dani sobre a possiblidade de sua família conversar comigo no contexto da
pesquisa. Com a abertura da moça, perguntei a ela se eu poderia visitar a sua casa. Claro que
podia, ela me autorizou. No dia marcado e, desta vez munida de muitas expectativas para
conversar com um trio amoroso – um trisal, ao invés de casal, como acabei por nomear –, fui à
casa de Dani. Na mesa posta no jardim, uma garrafa de café, água fresca e pães de queijo
estavam gentilmente à minha espera. Em torno da mesa, três cadeiras... Cadeiras que abrigaram
a mim, a Dani e seu marido, enquanto eu escutava histórias e reflexões sobre a sua vida de
56
casal. Nenhuma palavra sobre a outra moça, apenas uma breve ponderação dos dois sobre os
desafios da monogamia. Às vezes é assim, ainda que sempre o silêncio nos diga muitas coisas...
A escrita na / da pesquisa
Durante todo o processo de pesquisa, o registro das atividades, encontros, experiências,
bem como das sensações, afetos, reflexões e ideias foi muito importante. Esse registro abrangeu
tanto aspectos objetivos do que se passou (como a data de uma ida ao campo, as pessoas
presentes em uma visita, os documentos levantados) quanto aspectos menos precisos, mais
ligados às impressões, intuições, apostas. Ele foi feito através de anotações, desenhos e colagens
em alguns cadernos de capa dura que me permitiam escrever em pé, assentada ou mesmo em
movimento. Após o trabalho no c-e-m, escolhi trabalhar com cadernos contendo apenas folhas
brancas, uma vez que estes eram marcados pela ausência das costumeiras linhas horizontais
que, de alguma forma, determinavam um sentido para a escrita. Na folha branca, meus registros
passaram a funcionar efetivamente à maneira de mapas, com notas em diferentes direções e
linhas conectivas por todos os lados, como eu gostaria de experimentar. Além dos cadernos, as
conversas foram gravadas, alguns documentos copiados e registros fotográficos realizados18.
Todo esse material compôs meus diários de campo.
A escrita desses diários levou em consideração que o compromisso ético-político da
cartografia não se esgota nas propostas e conduções das práticas de investigação no campo da
pesquisa. A escrita é elemento fundamental que deve manter a potência das experiências, dos
encontros, da rede de afetos e das produções do plano comum, bem como as invenções e
transversalidades que ocorreram no campo. Também no momento da escrita é importante não
tomar os participantes da pesquisa como meros objetos e explicitar no texto a construção do
conhecimento a partir de um plano comum. Ela deve considerar ainda contradições, conflitos,
enigmas, problemas que também compõem o processo de pesquisar e, que muitas vezes, vão
permanecer em aberto mesmo com a conclusão do estudo (Barros & Kastrup, 2009).
Nesse sentido, cumpre resgatar as contribuições de João Paulo Macedo e Magda
Dimenstein (2009) para o trabalho de registro e de elaboração dos relatórios de pesquisa,
artigos, dissertações e teses que se orientam pelo método cartográfico. Esses autores propõem
18 A documentação da pesquisa seguiu o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Minas e pelo CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) sob CAEE n. 76647617.1.0000.5137.
57
uma escrita inspirada nos hipomnemata tal como trabalhados por Foucault (1983/1992) ao
refletir sobre as práticas de si na antiga Grécia.
Os hipomnemata eram uma prática de registro escrito entre os gregos que, em cadernos
pessoais, anotavam fragmentos de obras, citações, conversas, ações, experiências vividas,
reflexões, ideias, debates, entre outros. Esses registros “constituíam uma memória material das
coisas lidas, ouvidas ou pensadas; ofereciam-nas assim, qual tesouro acumulado, à releitura e à
meditação ulterior” (Foucault, 1983/1992, p.135). Como destaca esse filósofo, eles formavam
uma espécie de matéria-prima para a produção de textos mais elaborados, tais como os tratados
em que se apresentavam argumentos para lutar contra defeitos humanos ou enfrentar situações
difíceis.
A escrita nos hipomnemata tinha uma importante função ético-política ligada ao cuidado
de si. Ao invés de estabelecerem verdades gerais e abstratas nas quais se deveria crer,
configuravam uma prática capaz de promover a reflexão sobre o dito, o lido ou o feito em sua
força de verdade local e de autoridade tradicionalmente constituída naquele contexto,
reconhecendo, ainda, seu valor de uso a cada circunstância. Como assinala Foucault
(1983/1992) “a escrita como exercício pessoal praticado por si e para si é uma arte da verdade
constrativa; ou mais precisamente, uma maneira refletida de combinar a autoridade tradicional
da coisa já dita com a singularidade da verdade que nela se afirma e a particularidade das
circunstâncias que determinam seu uso” (p. 141).
Macedo e Dimenstein (2009) ressaltam que, nesse exercício de escrita, há a
transformação da verdade em ethos, uma vez que a experiência da escrita se estabelece como
um elemento de treinamento ou de governo de si com “função etopoiéitica” importante na
cultura grega antiga. Para esses autores, a escrita funcionava como prática processadora daquilo
já estabelecido e praticado cotidianamente de modo a afirmar, reinscrever ou criar elementos
de constituição de si, marcando, assim, a potência de experimentação da escrita e de sua
combinação singular. Nesse sentido, os hipomnemata seriam uma ferramenta através da qual
se pode refletir e transformar o que foi visto, escutado, lido e experimentado. Ferramenta que
permite a apropriação de elementos do vivido para alimentar a constituição de novos modos de
si.
A partir dos hipomnemata, Macedo e Dimenstein (2009) ponderam, contudo, que os
textos acadêmicos, nos quais se incluem os diários de campo, mas também relatórios de
pesquisa, artigos, monografias, dissertações e teses, frequentemente se distanciam do exercício
58
praticado nos hipomnemata. Em busca da neutralidade e da representação objetiva da realidade
que tradicionalmente sustentam as ciências maiores ou ciências de Estado em sua razão
sedentária (Deleuze & Guattari, 1980/1997b), esses textos acabam por se distanciar da vida, em
especial quando se limitam a confirmar postulados e construtos teóricos já referendados sobre
a vida, incapazes de se abrir para uma produção ética-estética que acione a potência de
experimentação da escrita diante da vida.
Todavia, vale assumir que, mesmo para aqueles que se propõem a trabalhar com a
cartografia, esse desafio de abertura e experimentação sempre se coloca, já que (lembro mais
uma vez) os pesquisadores, inclusive nas Ciências Humanas, Sociais e nas Artes, têm sido
formados nos moldes tradicionais de ciência e suas metodologias. Se aqui ouso “misturar”
minhas experiências em dança e meu mergulho artístico nas práticas da Escrita na Rua do c-e-
m, trata-se de uma aposta na riqueza de se transversalizar minha formação, estudos e
experiências dentro dos moldes acadêmicos com práticas e aprendizados que, a meu ver,
potencializariam meu corpo-pensamento para os encontros ao longo da pesquisa e para uma
escrita sobre eles.
Cabe admitir, ademais, que na produção dos diários de campo, que são de uso pessoal
do pesquisador, é sempre mais fácil uma escrita nômade e criativa do que na produção de uma
tese. Nesta, o exercício da escrita torna-se algo mais delicado e comprometido, pois envolve
outros encontros: o encontro com outros trabalhos e estudos sobre o tema da pesquisa e sobre
o que mais se passa no momento histórico de sua produção; e o encontro com os leitores –
outros pesquisadores, a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.
Para o exercício da escrita da tese, contei ainda com a importante contribuição dos
aprendizados adquiridos nos Seminários de Escrita e Leitura coordenados pelo Prof. Dr. Jorge
Ramos do Ó na Universidade de Lisboa durante o doutorado-sanduíche em Portugal. A
participação semanal no Seminário suscitou-me uma série de reflexões, das quais gostaria de
destacar a seguinte: Como uma escrita pode ser produzida em sua potência para (re)inventar
mundos, para apresentar o novo, para deslocar um pesquisador dos saberes epistemológicos,
teóricos, metodológicos que foram assimilados durante sua formação e se sedimentaram nas
formas como compreende a vida e realiza suas práticas investigativas? Ou ainda, como
empreender uma pesquisa e sua escrita como atos de criação? Não se trata de uma tarefa fácil,
especialmente diante da infinidade de exigências burocráticas, dos critérios de produtividade e
das determinações instituídas. De todo modo, a partir dessas perguntas, gostaria de destacar
59
duas questões que me mobilizaram ao longo do estágio doutoral e que contribuíram para minha
pesquisa e para a escrita desta tese.
A primeira envolve as relações que o pesquisador e sua escrita podem estabelecer com
o que mais se produz e se pensa em seu tempo histórico. A segunda envolve a tarefa de tornar
os dados produzidos e o processo vivenciado na pesquisa acessível a seus possíveis leitores.
Para a primeira questão, parece-me importante considerar a capacidade performativa da
linguagem. Há diferentes maneiras de se empreender uma escrita e, em alguma medida, ela é
sempre construída em uma língua com suas condições históricas de sociabilidade. Como já
postulava Roland Barthes (1953/2006) em O Grau Zero da Escrita, é através da língua que a
História se mantém unida e familiar. Deslocar-se pela linguagem em busca da composição que
encontra o papel como suporte e a escrita como criação exige que o pesquisador assuma sua
própria língua e suas próprias condições históricas como horizonte inicial a partir do qual pode
apresentar suas investigações e análises. Mas é preciso ir além. Não se trata de buscar uma
ruptura radical, cujo destino último é encontrar o incomunicável ou a loucura. Também não se
trata, como adverte Barthes (1953/2006, p. 27), de fixar-se em uma “escrita intelectual” que
tem a pretensão de uma “proclamação coletiva” e que, por isso, já não compromete o autor, seu
passado e suas escolhas; uma escrita como um sinal econômico “[...] graças ao qual o escritor
impõe a sua conversão sem traçar nunca a história dela” e encontra a imagem tranquilizadora
da salvação coletiva como motivador para suas produções intelectuais. De outro modo, é
preciso implicar-se com aquilo que nos constitui enquanto sujeitos humanos – a história de
nossa época, nossa língua, nossas experiências – para nos depararmos com as forças e relações
que ora empurram o pensamento para a repetição, para a linearidade, para as pertenças e as
polarizações que as segmentam, ora nos permitem vislumbrar outras conexões possíveis,
performar uma escrita que, ao transformar a nós mesmos, já compõe um outro mundo possível.
Nesse sentido o estudo de outros pensadores é muito importante para nos ajudar a
produzir uma escrita embebida de “solidariedade histórica”, conforme expressão de Barthes
(1953/2006), capaz de arrastar o pesquisador e sua escrita para um encontro singular com sua
época e as questões a acometem. Uma escrita capaz de produzir uma espécie de espelhamento
do que somos, ao mesmo tempo que deve produzir um estranhamento diante dessa
familiaridade. Estranhamento que, tomando em consideração as contribuições de Julia Kristeva
(2017), pode ser aguçado por uma pergunta: minha escrita tem aptidão para a revolta? Revoltar-
se para essa autora envolve instaurar um dispositivo de rememoração do que somos: produzir
uma re-volta de nossa história capaz de se deparar com o que dela se endurece e nos cristaliza.
60
Diferente de uma lógica linear de história, a aptidão para a re-volta envolve mergulhar sobre si
mesmo e sobre a História que nos constitui em um retorno que assume as possibilidades de
experimentação, invenção, transformação. Isso implica que o pesquisador, longe de ambicionar
uma escrita absolutamente original, reescreva-se no encontro com sua pesquisa, procurando a
singularidade no encontro de si e da investigação com a vida.
Quanto à segunda questão, sobre a tarefa de tornar os dados produzidos e o processo
vivenciado na pesquisa acessível para seus possíveis leitores, acompanho as reflexões de
Kastrup e Passos (2013) ao considerar que a cartografia deve realizar uma prática de tradução.
A tradução coloca o pesquisador entre línguas e experiências: as da pesquisa (o que envolve o
próprio pesquisador, os demais participantes e as produções realizadas no plano comum da
pesquisa) e as do leitor (em verdade, os múltiplos leitores possíveis). O pesquisador situa-se
como entre duas margens de um rio e a tradução torna-se uma prática de travessia.
Kastrup e Passos (2013), inspirando-se em François Jullien, William James, Daniel
Stern, Claire Petitmengin e Vinciane Despret, consideram a tradução como uma zona de
aventura em que o problema da fidelidade não é o cerne da questão. Para eles,
traduzir é realizar a passagem de uma língua a outra, sem que haja uma língua por trás, que pudesse funcionar como ponto de vista externo, garantido ou afastado. [...] Se não há correspondência de princípio, como conceber a passagem? Não podemos contar com invariantes que abririam para uma universalidade supostamente dada. Temos, ao contrário, que encontrar ou produzir equivalentes. Nos termos da pesquisa cartográfica, a equivalência produzida não é sinônimo de correspondência, mas se dá como sintonia no plano das forças. (Kastrup & Passos, 2013, p. 274)
Um aspecto importante envolve considerar como produzir equivalências que permitam
a conexão entre os diferentes mundos – os da pesquisa e os de seus leitores. Como essa proposta
de tradução cartográfica não envolve uma explicação a partir de analogias ou semelhanças
apontadas a partir de um campo de equivalentes já dado, externo e universal, traduzir torna-se
um trabalho de conexão de diferenças, de se traçar um caminho comum entre multiplicidades,
línguas, conhecimentos. Kastrup e Passos (2013, p. 276) afirmam que, à maneira de Despret, a
tradução envolve “coloca à prova”, o que “[...] significa que traduzir é experimentar e fazer
experimentar” um plano de conexões capaz de (co)mover territórios existenciais a criar novas
possibilidades de perceber a vida e seus desafios. Nessa perspectiva, é preciso que a escrita,
inclusive a acadêmica, mantenha a potência de inacabamento, intuição, suspeita e invenção dos
hipomnemata.
61
A partir dessas considerações, esta tese não se esmera em ser conclusiva, sob o risco de
se fechar sobre si mesma. De outro modo, aposto na potência de assumir também as aberturas,
as inconclusões, os afetos, as experimentações, os vazios de sentido que fazem parte das
experiências de pesquisar a vida em sua processualidade. Uma tal escrita deve tornar-se
acessível ao ser compartilhada em sua dimensão sensível, o que permite ao leitor tornar-se
sensível, afetado pela experiência. “Enfim, traduzir é acrescentar sentido, aqui entendido como
ampliação da sensibilidade de cada um” (Kastrup & Passos, 2013, p. 276).
Por derradeiro, vale esclarecer que as análises e a escrita desta tese foram sendo
elaboradas como mapas, traçados com as linhas percorridas nas experiências e aprendizados no
campo, nos registros, documentos e escritos nos diários de campo, nos estudos teóricos e nas
outras vivências que permearam de alguma forma o contexto da pesquisa. Sem ambições
totalizantes, homogeneizantes ou estruturantes das realidades cartografadas, os mapas intentam,
antes de tudo, indicar direções, campos de possíveis. Procuram tecer costuras das minhas
experiências, afetos, reflexões e conexões enquanto pesquisadora com o plano comum
produzido pelo compartilhamento viabilizado através dos diversos encontros ao longo do
trabalho. Mapas que, eu espero, consigam permanecer abertos, sensíveis e conectáveis em suas
múltiplas dimensões com outros estudos, propostas, experiências.
63
Capítulo 3
ESTRANHO ESPELHO
Em busca de uma “família normal”?
Parei em frente ao prédio no coração de Belo Horizonte para a primeira conversa com
Patrícia. Estava na esquina da avenida Afonso Pena com a rua Rio Grande do Norte, em uma
das regiões mais valorizadas dessa capital. Segundo ela me contou posteriormente, o prédio
havia abrigado uma secretaria do estado até 2006 quando, com a inauguração da Cidade
Administrativa de Minas Gerais, sua sede foi transferida para este local. Desde então o prédio
permanecia praticamente vazio até que, em setembro de 2017, cerca de 200 famílias sem teto
ocuparam e se distribuíram pelos andares do edifício. No entorno, agências bancárias para
clientes exclusivos, elegantes prédios comerciais e a vista da Serra do Curral – o cartão postal
da cidade – na subida da avenida Afonso Pena faziam com o que os atuais ocupantes do prédio
a que me dirigia destoassem das condições de vida da alta classe média que historicamente
habita a região.
O portão de entrada do prédio estava trancado com uma corrente e um cadeado, ainda
que fosse possível ver o seu interior através das grades. Do lado de fora, acenei para um homem
assentado atrás de uma mesa a alguns metros da entrada. Ele levantou-se e veio até a porta.
Enquanto caminhava, reparei que seu biotipo franzino contrastava com os olhos firmes e a
postura ereta. Recebeu-me com um rosto opaco, sem sorrisos, e perguntou-me o que eu queria
ali. Expliquei-lhe que havia marcado de conversar com Patrícia. Apesar de não morar ali, ela
se encontrava no local para uma reunião de lideranças dos movimentos de luta por moradia da
cidade. O homem pediu-me um minuto e sumiu pelo pátio do andar térreo do edifício. Voltou
pouco depois com a chave na mão. Abriu a porta e me mostrou a ficha de registro de entradas
e saídas que eu deveria preencher. Após finalizar o documento, indicou-me a “sala da
administração”, onde deveria aguardar por Patrícia.
Subi as escadas localizadas no centro do pátio e segui para a sala. Nela um conjunto de
mesas alinhadas de uma parede a outra separavam um espaço interno, destinado aos
responsáveis pela administração, das cadeiras da recepção. Duas moças assentadas na parte
64
interna conversavam e orientavam uma terceira que relatava a situação de violência doméstica
que estava vivenciado. Cumprimentei as três e assentei-me ao lado, escutando a conversa. A
moça que se queixava apresentou-se como Isabela. Era uma mulher negra muito magra cuja
expressão e marcas na face lhe conferiam a aparência de ter mais idade do que possivelmente
tinha. Isabela afirmava apanhar e sofrer ameaças com frequência. Antes do doutorado, havia
coordenado uma pesquisa sobre violência intrafamiliar e o discurso da moça espelhava
elementos de outras histórias que havia escutado ao longo daquela investigação. Entretanto, a
violência ali narrada estava a ser perpetrada por uma outra mulher.
Isabela conta-me que vivia com a companheira há oito anos e que ela era o amor de sua
vida, ainda que muito ciumenta e possessiva. Explica que, por isso, as duas brigavam muito e
a outra mulher acabava agredindo-a sempre que a situação “saía do controle”. As moças da
administração refletiam sobre a aplicação da Lei Maria da Penha19 para o caso, enquanto Isabela
oscilava entre escutar os conselhos e argumentar que não daria conta de fazer nada contra sua
companheira, pois não sabia viver sem ela, de quem parecia depender econômica e
emocionalmente.
Escutar essa situação de violência doméstica, que é mais visível entre casais
heterossexuais, deixou-me em alguma medida surpresa. Apesar dos meus estudos sobre
violência doméstica, nunca havia me deparado presencialmente com uma situação daquelas.
Com efeito, na pesquisa mencionada20, havíamos mapeado apenas situações de violência
cometidas por homens contra mulheres, crianças e adolescentes. Além disso, senti uma ponta
de decepção ao me deparar com uma forma violenta de amar em uma relação em que eu suponha
ser mais possível viver o amor de maneiras inventivas. Mas viver outros modos de amar exige
mais do que a assunção de preferências sexuais diferentes da heterossexualidade tal como é
exercida de forma dominante em nossa sociedade.
Em sua História da Sexualidade, Foucault (1976/1988) argumenta que as práticas
sexuais, a experimentação do prazer e de forma mais ampla as relações amorosas e alianças
conjugais são orientadas, em grande medida, pelas relações de forças que compõem os
dispositivos sociais (ou os agenciamentos, na concepção de Deleuze e Guattari, 1975/2003). As
19 A Lei n. 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, ficou conhecida como “Lei Maria da Penha” em homenagem a uma mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes, deixando-a paraplégica, e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres. O texto legal foi resultado de um longo processo de discussão entre entidades da sociedade civil e poder público e criou mecanismos que visam prevenir, punir e coibir a violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres. 20 Conferir o percurso e as reflexões produzidas pela pesquisa em Cardoso (2019).
65
práticas sexuais e amorosas devem ser, assim, compreendidas atreladas às condições históricas
de cada época e de cada povo. No caso de Foucault (1976/1988), seu enfoque se dá nas práticas
corporais e discursivas que permeiam a sexualidade e que são permitidas, instigadas,
invisibilizadas ou proibidas pelos jogos de poder e pela produção de saberes que marcam as
sociedades capitalistas modernas a partir do século XVII.
Essas sociedades foram (e ainda são em boa medida) caracterizadas, entre outros, por
valores, condutas, apostas e práticas que formaram a burguesia como classe social e, nesta, o
modelo da família nuclear composta pela figura masculina do marido-pai provedor e patriarca,
pela figura feminina da esposa-mãe amistosa e cuidadora, e pelos filhos do casal. A partir desse
modelo nascido na burguesia europeia e difundido nas diferentes classes e lugares por onde o
capitalismo moderno se estabeleceu ainda que com ajustes e adaptações, consolidou-se um
modo hegemônico de se firmar alianças conjugais, de se amar, de se constituir famílias. Modelo
que se firmou também em solo brasileiro e que mesmo no terço final do século XX ainda
espelhava o arranjo familiar “casal com seus filhos” na maior parte das residências brasileiras21.
Se as linhas que compõem esse agenciamento familiar privilegiado são mais evidentes
em famílias cuja composição se assemelha ao modelo instituído, cumpre considerar que seu
formato, bem como suas segmentações, hierarquias, lógicas e práticas atravessam, em maior
ou menor grau, todos os arranjos familiares destes tempos, inclusive aqueles compostos por
duas mulheres. Maria Rita Kehl (2003) pondera que, mesmo em grupos que historicamente
contestaram a hegemonia da família nuclear e militaram por maior liberdade sexual e novas
formas de relação afetiva e familiar, tais como os movimentos feministas, homossexuais e
jovens, há casais vindos desses grupos que, ao se formar, acabam por reproduzir os padrões,
comportamentos, relações de poder em busca de uma “família normal” em conformidade com
esse modelo. Isso dá visibilidade à sua força na composição dos agenciamentos familiares
concretos, atravessando a sensibilidade, os desejos, os afetos e as práticas inclusive de muitos
dos que, de forma consciente e racional, militam por outros arranjos e relações.
É prudente afirmar que a grande maioria dos arranjos familiares organizados nos moldes
nucleares burgueses não funcionam através de agressões, ameaças e abusos entre seus
21 Conferir nesse sentido os dados do IBGE analisados por Berquó (1998). Já durante a primeira quinzena do século XXI a presença majoritária da composição pais com filhos foi superada pela somatória de outros arranjos domiciliares – especialmente casais sem filhos, famílias monoparentais e indivíduos morando sozinhos. Ainda assim, o conjunto “casal com filhos” permanece o tipo mais comum de arranjo domiciliar. Como mostra estudo do IBGE (2014), de 2004 a 2013 houve redução de 7% na proporção dos casais com filhos (de 50,9% para 43,9%) do total de arranjos familiares.
66
membros. Por outro lado, é importante considerar que houve, em sua construção histórica, a
estruturação de hierarquias que definiram lugares e papéis diferenciados para homens e
mulheres na relação conjugal e familiar, com a concentração de poder nas mãos masculinas.
Poder que, por vezes, descamba em relações violentas e abusivas por parte do marido ou
companheiro. Se isso não é uma norma absoluta e há relações em que são as mulheres que
violentam os homens, sua incidência é muito menor do que o contrário (Krug et al., 2002).
Seja como for, o que acionou minha atenção ao escutar a história de Isabela, eu que
estava na Ocupação para outra finalidade diferente de acompanhar sua conversa com as
administradoras do local e que me vi repentinamente envolvida no diálogo, foi o fato de que as
palavras, a postura, os medos contidos na descrição do relacionamento de Isabela com sua
companheira acoplava-se às lógicas, padrões e hierarquias desse modelo familiar, apesar de
suas óbvias diferenças em relação à sua composição (homoafetiva no caso). Aquelas mulheres,
enquanto casal, reproduziam o modelo nuclear hegemônico, de uma forma que acabou por
distendê-lo até seu exercício abusivo, até à violência de uma parceira sobre a outra. Parecia
haver uma “paixão”, não apenas entre Isabela e sua companheira, mas pelo modelo que elas,
mesmo com suas especificidades, perseguiam. Perseguiam violentamente.
Quanto ao modelo a que me refiro, é preciso analisá-lo de uma forma, digamos,
genealógica22 para entender algumas questões: Quais relações e jogos de poder produziram-no
e o sustentam em nosso tempo histórico, impondo-o com tanta força inclusive para famílias que
nunca vão “caber” nele e que, ainda assim, o desejam? Quais suas linhas de segmentaridade?
Quais pertenças, papeis, práticas, discursos, hierarquias que, ao serem traçados, o configuram?
Como se constituiu, afinal, a “família moderna”?
A família moderna
Gostaria de partir de algumas das reflexões apresentadas pelo historiador Phillipe Ariès
(1960/1986) em seu livro História Social da Criança e da Família. Essa obra é considerada por
muitos como seminal nos trabalhos sobre a construção do conceito de infância na passagem do
período medieval para a modernidade e é tida como importante referência em diferentes campos
22 Inspiro-me para essa análise genealógica, no método proposto por Michel Foucault. Sobre este, conferir a trajetória sobre a genealogia em Foucault proposta por Flávia Cristina Lemos e Hélio Rebello Cardoso Júnior (2009).
67
de saber como na história e na sociologia da infância e da família, bem como nos estudos sobre
as relações sociais da criança desenvolvidos em áreas como a educação e a psicologia.
Ariès (1960/1986) postula que, para compreender a família moderna, é necessário
diferenciar dois grupos distintos, ainda que concêntricos, que organizaram as famílias no
período anterior – a Europa medieval. Nesta, havia “a família ou mesnie, que pode ser
comparada à nossa família conjugal moderna, e a linhagem, que estendia sua solidariedade a
todos os descendentes de um mesmo ancestral” (p. 211). Acompanhando George Duby, ele
considera que as configurações familiares de então envolveram processos de dilatação ou
contração que ora englobavam toda a linhagem, ora restringiam-se a um casal e sua prole. Essas
dilatações ou contrações familiares estavam ligadas às garantias e à proteção dadas pelo Estado:
em momentos de menor força do Estado, a linhagem, com sua extensa rede de indivíduos
ligados em maior ou menor grau por laços de sangue, tornava-se uma forma de proteção de seus
integrantes contra ameaças de outros grupos. A prevalência da linhagem “[...] correspondia a
uma necessidade de proteção, do mesmo modo como outras formas de relações humanas e de
dependências: a homenagem de vassalo, a suserania e a comunidade aldeã” (p. 212).
A linhagem agregava seus membros sob a referência de uma autoridade ancestral. Um
de seus importantes aspectos era a indivisão do patrimônio, o que desprovia os descendentes de
independência econômica enquanto os ascendentes estivessem vivos e, mesmo após sua morte,
a linhagem ainda detinha direitos sobre o conjunto do patrimônio – a laudatio parentum
(Ariès,1960/1986). A partir dos séculos XIII e XIV, no entanto, a intensificação do comércio e
as mudanças que vão se processando na produção e circulação de mercadorias, nas trocas
monetárias e na acumulação de riquezas, bem como o fortalecimento do poder dos monarcas e
de sua capacidade de promover a segurança pública acabaram por produzir a contração da
família e sua delimitação no laço conjugal e sua descendência direta, em especial na burguesia
nascente e interessada em ter mais autonomia social.
Ariès (1960/1986) esclarece que essa nova configuração familiar não abandonou,
todavia, a autoridade que havia sido dada, século antes, à figura masculina. Ao contrário, essa
figura aumentou sua autoridade e poder, fazendo com que a mulher e os filhos se submetessem
a ela de forma mais rigorosa:
A partir do século XIV, assistimos a uma degradação progressiva e lenta da situação da mulher no lar. Ela perde o direito de substituir o marido ausente ou louco... Finalmente, no século XVI, a mulher casada torna-se uma incapaz, e todos os atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça tornam-se radicalmente nulos. Essa evolução reforça os poderes do marido, que
68
acaba por estabelecer uma espécie de monarquia doméstica" (Perot apud Ariès, 1960/1986, p. 214).
Contudo, Ariès (1960/1986) adverte que a contração do grupo familiar sob a autoridade
paterna por si só não foi suficiente para configurar a família nuclear moderna. Foi necessário o
seu entrelaçamento com outras mudanças sociais que se processaram até o século XIX, quando
a família nuclear tal como hoje a conhecemos se consolida como referência social. Entre essas
mudanças estão: 1) a institucionalização da escola como lugar privilegiado para a educação de
crianças e adolescentes, o que acabou por modificar as relações e os laços entre pais e filhos;
2) o fechamento das casas para a convivência social mais ampla e, dentro destas, a segmentação
dos espaços domésticos.
Durante a Idade Média até por volta do século XV, as famílias tinham o costume de
enviar suas crianças, meninos e meninas com idades entre sete e nove anos, para outras famílias,
onde em geral permaneciam até atingir de 14 a 18 anos. Nestas famílias, as crianças e os
adolescentes realizavam diversos serviços através dos quais esperava-se que adquirissem as
“boas maneiras”. Esperava-se que, no novo ambiente, “[...] aprendessem as maneiras de um
cavaleiro ou um ofício, ou mesmo para que frequentassem uma escola e aprendessem as letras
latinas. Essa aprendizagem era um hábito difundido em todas as condições sociais” (Ariès,
1960/1986, p. 229). O aprendizado infanto-juvenil ocorria, assim, pela participação das crianças
e adolescentes na vida cotidiana dos adultos nos mais diversos ambientes, mesmo naqueles que
foram taxados, posteriormente, como inapropriados para crianças. Havia meninos trabalhando
em ateliês ou servindo à mesa nas casas, atuando nos exércitos, ou brincando misturados aos
adultos em tavernas. Dentro dessa lógica de transmissão de conhecimentos, não havia lugar
para a escola, que se destinava basicamente à formação religiosa. Quanto à família, o valor para
seus membros era antes moral e social – a honra do nome e o patrimônio para os mais ricos, o
apoio material das aldeais ou das casas dos senhores para os mais pobres – do que sentimental.
A progressiva substituição do aprendizado realizado através da convivência cotidiana
das crianças com os adultos pelo aprendizado institucionalizado na escola mudou esse
panorama. Tal mudança envolveu o trabalho de eclesiásticos e juristas que, ainda raros no
século XV, foram tornando-se cada vez mais numerosos e influentes nos séculos XVI e XVII
e “[...] lutaram com determinação contra a anarquia (ou o que lhes parecia então ser a anarquia)
da sociedade medieval, enquanto a Igreja, apesar de sua repugnância, há muito se havia
resignado a ela, e incitava os fiéis a procurar sua salvação longe deste mundo pagão, no retiro
dos claustros” (Ariès, 1960/1986, p. 276). Eles propunham uma “verdadeira moralização da
69
sociedade” e a escola passou a ser vista como peça fundamental para efetuá-la. Passou-se a
admitir que a infância era um momento especial para o desenvolvimento espiritual, moral e
social das pessoas; era preciso cuidar dessa etapa como diferente das demais e o
desenvolvimento infantil necessitava de um “regime especial”, de um lugar especial – a escola.
A escola, por sua vez, acabou por aproximar os pais de seus filhos e responsabilizá-los
de forma mais direta pela educação destes. Mesmo quando as crianças e adolescentes eram
enviados para escolas distantes de seus lares, seu afastamento não tinha o mesmo caráter e não
durava tanto quanto o do aprendiz, e seus pais estavam mais próximos, levando-lhes dinheiro e
provisões periodicamente. Além disso, e este é um aspecto importante, à medida que a escola
vai se fortalecendo institucionalmente ao longo dos séculos XVII e XVIII, os teóricos sobre a
educação escolar passam a abordar “[...] os deveres dos pais relativos à escolha do colégio e do
preceptor, e à supervisão dos estudos, à repetição das lições, quando a criança vinha dormir em
casa” (Ariés, 1960/1986, p. 232). Nesse processo, a família vai se concentrando em torno das
atividades e aprendizados dos filhos, promovendo relações mais próximas entre seus membros.
Difunde-se a ideia de que os pais devem ser “guardiães espirituais dos filhos”, assumindo a
responsabilidade por estes diante de Deus.
Vale pontuar que a institucionalização da escola não se deu da mesma forma para toda
a população infantil. Ela foi destinada primeiramente aos meninos das famílias burguesas. A
alta nobreza permaneceu fiel à antiga forma de aprendizagem para sua prole, bem como os
artesãos e sua forte tradição da transmissão do ofício aos aprendizes. As meninas destas classes
permaneceram, de maneira geral, por mais tempo sendo educadas pelos costumes nas próprias
casas e, muitas vezes, em casas alheias. E as crianças pobres só muito tempo depois tiveram
acesso à escola e a seu processo institucionalizado de aprendizado. Ainda assim e mesmo que
aos poucos, a escola foi se consolidando como aparelho de Estado privilegiado para a educação
das crianças e adolescentes em todas as classes sociais.
Paralelamente à institucionalização da escola, é preciso considerar as mudanças que
foram se processando na casa das famílias, em especial nas grandes casas, urbanas e rurais, dos
comerciantes e produtores burgueses que se firmavam socialmente. No século XVII, essas casas
eram espaços de convivência, compartilhamento, trocas, negociações, celebrações com
vizinhos, amigos, apadrinhados, parceiros de trabalho, empregados. Essas casas, de fato,
possuíam uma função pública e estavam sempre muito povoadas. Nelas, dificilmente alguém
conseguia ficar sozinho por algum tempo e as experiências de intimidade e privacidade que
hoje sustentam o funcionamento das famílias nucleares ainda não existia.
70
Foi preciso que os educadores moralistas dos séculos XVII e XVIII se empenhassem na
tarefa de valorizar a separação entre a vida familiar e o restante da vida social bem como, dentro
dos lares, valorizar a separação entre a intimidade do pequeno grupo familiar (pais e filhos) e
sua interação com os empregados domésticos, que passaram a ser considerados nocivos para a
correta educação das crianças. Ademais, ainda que Ariès (1960/1986) não o diga, essas
segmentações entre vida pública versus vida privada, espaço da família versus espaço dos
negócios e do trabalho possivelmente se relacionam também com as lógicas e práticas
industriais que estavam se instaurando pelo mundo capitalista, colocando a fábrica e seus
negócios em outro local que não a casa. Com efeito, a separação entre público e privado parece
estar inserida em processos sociais mais amplos. Seja como for, “a reorganização da casa e a
reforma dos costumes deixaram um espaço maior para a intimidade, que foi preenchida por
uma família reduzida aos pais e às crianças, da qual se excluíam os criados, os clientes e os
amigos” (Ariés, 1960/1986, p. 267). Nessa família, a esposa deixou de ser tratada como
madame e passou a ser referida como “mamãe”, tanto pelos filhos como pelo marido. Questões
como a saúde, a educação e a conduta das crianças passaram a ser acompanhadas e reportadas
entre os pais.
* * *
É de forma muito breve, quase enigmática, que Ariès (1960/1986) faz referência à
situação da mulher – esposa e mãe – no processo de configuração da família nuclear moderna
que apresenta. Nas duas páginas do livro em que ele aborda o assunto, indica que “a partir do
fim da Idade Média, a capacidade da mulher entrou em declínio” (p. 213). E mesmo na extensa
análise que ele faz da iconografia de família entre os séculos XVI e XIX, nas quais de forma
recorrente aparece a diferenciação entre as representações do homem como o chefe da família
em sua virilidade e sucesso, figura central nas imagens, e as representações da mulher como a
cuidadora dos filhos, usualmente colocada ao lado, atrás ou abaixo do homem23, tal
23 Ariès (1960/1986) descreve, entre outras, a estampa produzida por Humbelot-Huard: “no gabinete do pai, um rico negociante em cuja casa se amontoam fardos de mercadorias e se alinham pastas de processos. O pai faz suas contas, com a pena na mão, ajudado pelo filho que se mantém atrás; a seu lado, a mulher cuida da filha pequena”. E a gravura de Guerard na qual “o pai – mais moço do que na gravura de Humbelot-Huart – mostra pela janela o porto, o cais e os navios, fonte de sua fortuna. Dentro do aposento, perto da mesa onde ele faz suas contas e onde estão pousadas sua bolsa, algumas fichas e um ábaco, sua mulher nina um bebê de cueiros e cuida de outra criança vestida com uma túnica” (p. 209).
71
diferenciação é pouco abordada. Prevalece a análise sobre a família nuclear em seu conjunto e
a ênfase na infância como etapa específica do desenvolvimento humano, diferente do mundo
adulto.
No entanto, vale resgatar um questionamento colocado por outro historiador, Eric
Hobsbawm (2009), que analisa o funcionamento da família burguesa no século XIX em seu
livro A Era do Capital: por que a sociedade capitalista que se consolidava nesse período,
empenhada em garantir a igualdade formal de direitos e oportunidades, bem como uma
economia sustentada pela livre iniciativa competitiva e uma política mais democrática e liberta
do conservadorismo e dos privilégios da nobreza, por que essa mesma sociedade apoiou-se em
um modelo de família que negava todos esses ideais? “A estrutura da família burguesa estava
em direta contradição com a sociedade burguesa. Dentro dela a liberdade, a oportunidade, o
nexo do dinheiro e a busca do lucro individual não eram a regra” (p. 244). Como regra, a família,
constituída por uma aliança monogâmica, “[...] era uma autocracia patriarcal e um microcosmo
da espécie de sociedade que a burguesia como classe (ou seus porta-vozes teóricos) denunciava
e destruía: uma hierarquia de dependência pessoal” (p. 245).
Com efeito, os vínculos do núcleo familiar burguês valiam-se de uma atualização do
patriarcalismo que nasceu antes dos processos que culminaram na institucionalização do
capitalismo. Se o patriarcado na Europa é mais antigo, cabe ressaltar ele que ganha contornos
próprios no capitalismo e nas famílias burguesas, cujo modelo acaba por reverberar por todo o
tecido social. Nesse contexto, a dependência – econômica, moral, jurídica, política – que esposa
e filhos possuíam em relação ao homem, responsável por prover o lar, bem zelar e responder
por este, não apenas se mantém, mas se aprofunda. À mulher cabia, como o “bom anjo da casa”,
dedicar-se aos trabalhos domésticos, cujas competências e conhecimentos deveriam ser
inferiores aos do marido, “pois as mulheres precisam ser dominadas, e a verdadeira dominação
é da mente” (Tupper apud Hobsbawm, 2009, p. 244).
É certo que nas famílias mais ricas, diferentemente dos burgueses de classe média, a
esposa, para ser uma verdadeira lady, deveria contar com empregadas (mulheres pobres em sua
esmagadora maioria) que faziam o trabalho doméstico sob seu comando. A doméstica,
moradora da casa dos patrões, vivia em um regime de internato, tendo seu tempo e seu corpo
inteiramente disponíveis para os mandos (e desmandos) de sua senhora, por vezes, por toda
uma vida. Essa relação, embora de trabalho e com o recebimento de um salário, envolvia um
vínculo em que a hierarquia por dependência pessoal acabava por se instalar: “Desde o uniforme
que usava até a carta-testemunho de boa conduta e ‘caráter’ sem a qual era impossível conseguir
72
novo emprego, tudo simbolizava uma relação de poder e dominação” (Hobsbawm, 2009, p.
245). Em todo caso, o homem, marido, pai e patrão permanecia sempre no topo desta hierarquia.
Apesar de se sustentar em valores e práticas que eram contraditórios com a liberdade e
a igualdade defendidas pelos burgueses, a família nuclear conseguiu justificar-se socialmente
através de discursos que argumentavam a necessária conciliação entre a vida livre, competitiva
e em busca do sucesso e do lucro para os homens na esfera social, e a vida recatada, subserviente
e dependente para a mulher ou mulheres (senhora e empregadas) na esfera íntima e privada do
lar. A pureza e a harmonia dentro do núcleo familiar deveriam ser garantidas pela mulher como
um bálsamo diante das lutas a serem empreendidas pelo homem para a conquista de riquezas e
prestígio social através de seu esforço, retidão moral e dedicação pessoal ao trabalho e ao
sucesso. Difundiu-se socialmente a ideia de que era necessário um lar calmo e acolhedor,
proporcionado pela mulher como uma figura mais frágil e incapaz para as tarefas de luta e
conquista, para fortalecer e cuidar dos “guerreiros” a quem era exigido viver em um mundo de
livre mercado e competição. A crença nesta complementaridade de papeis e na importância da
harmonia no lar parece ter justificado suficientemente a desigualdade entre os valores que eram
defendidos para a vida pública e para a vida privada familiar.
Entretanto, a pureza e a harmonia sonhadas para os lares burgueses esbarraram, também
elas, em contradições. A sexualidade (sempre mais complexa que o sonho amoroso romântico
e que o enfoque reprodutivo da moral puritana) foi certamente um problema. De fato, em uma
sociedade em que, ao mesmo tempo, havia o grito por igualdade formal e livre competição e
um modelo familiar que advogava pela fidelidade e pureza do ato sexual, circunscrito à relação
duradoura (“para sempre”) entre um homem e uma mulher casados, a sexualidade tornou-se
objeto de muitas controvérsias, repressões e vigilância (autovigilância inclusive), ainda que
tenha sido indiretamente muito instigada24. A hipocrisia tornou-se, por isso, uma das
características marcantes do mundo burguês, onde as vidas duplas e as traições, que ameaçavam
o sonho de harmonia do lar (e suas posses adjacentes), acabavam por ser veladamente
autorizadas e toleradas, prioritariamente para o homem (Hobsbawm, 2009).
Além disso, cumpre avaliar se o argumento socialmente difundido de que cabia à mulher
o cuidado para a harmonia e a pureza do lar burguês, se esse argumento justifica a maneira
24 Hobsbawm (2009, p. 241) ressalta que o elemento sexual no mundo burguês era “uma extraordinária combinação de tentação e interdição”. O corpo era quase todo coberto por tecidos, deixando pouca coisa à vista. “Ao mesmo tempo, e nunca tanto quanto nas décadas de 1860 e 1870, todas as características sexuais secundárias eram enfatizadas grotescamente: cabelos e barbas nos homens, cabelos, seios e ancas nas mulheres”.
73
como essa harmonia devia ser alcançada: através da submissão e dependência da mulher em
relação ao marido. Hobsbawm (2009, p. 246) indica que “[...] não havia evidentemente nada de
novo na estrutura da família patriarcal baseada na subordinação da mulher e filhos”. O fato é
que essa estrutura não apenas se reproduziu nas nascentes sociedades capitalistas, mas
aumentou a submissão e a dependência das mulheres em relação a outras épocas, justo nessa
sociedade que defendia valores como liberdade e autonomia. O autor aventa a possibilidade de
que a submissão e a dependência das mulheres em relação aos homens nas famílias burguesas
estariam ligadas a um exercício doméstico de reprodução das desigualdades de classe. Um
exercício de dominação sobre as classes e os sujeitos “inferiores” que deveria ser aprendido
desde o núcleo primário privilegiado que é a família.
Os estudos marxistas, aos quais Hobsbawm se alinha, privilegiaram historicamente os
conflitos e as contradições de classe, enfocando a exploração e a dominação da classe dos
capitalistas sobre a classe operária. O próprio Karl Marx pouco menciona em seus estudos as
transformações impostas pelo Capital (com o apoio dos Estados) às condições de vida e à
posição social das mulheres e destas nas famílias. Marx (1867/2013) defende que a existência
do Capital foi possível graças a uma acumulação primitiva que não foi gerada pela poupança
dos ricos, como era dito em grande medida pela economia política da época, mas por um
complexo processo histórico que destituiu os trabalhadores de suas terras e de seus meios de
produção e sobrevivência, transferindo-os para as mãos dos capitalistas. Ele focaliza seus
estudos nos trabalhadores assalariados europeus, embora reconheça que a colonização, com a
pilhagem e o controle monopolista das “novas” terras, suas populações e recursos, foram
importantes para a acumulação e o sucesso do capitalismo. Quanto às mulheres, sua análise as
abrange dentro da população operária em geral, ainda que não se furte em destacar, por
exemplo, as lutas para a redução da jornada de trabalho das mulheres (assim como das crianças).
Marx (1867/2013) cita a lei fabril adicional de junho de 1844, que passou a vigorar em setembro
desse ano na Inglaterra: “Ela acolhia uma nova categoria de trabalhadores entre os protegidos:
as mulheres maiores de 18 anos. Estas foram equiparadas aos adolescentes em todos os
aspectos, seu tempo de trabalho foi limitado a 12 horas, o trabalho noturno lhes foi vetado etc.
Pela primeira vez, a legislação se viu compelida a controlar direta e oficialmente também o
trabalho dos adultos” (p. 247).
Ainda que a equiparação das mulheres aos adolescentes pela lei pareça algo mais
próximo de uma infantilização da condição feminina do que o reconhecimento de suas
especificidades, é possível inferir que esse controle direto do Estado em meados do século XIX
74
sobre o trabalho das mulheres operárias tenha se fundamentado no reconhecimento de que, além
da jornada do trabalho para o mercado, essas mulheres tinham um outro importante conjunto
de tarefas a cumprir, inclusive em favor do próprio Capital: as tarefas ligadas a cuidar, nutrir,
revigorar e viabilizar a reprodução da força de trabalho em seus lares, para as quais em geral
não foram (e não são) remuneradas.
Com efeito, muitas mulheres mais pobres assumiram as tarefas domésticas e de cuidado
com os filhos, aceitando a dominação masculina no lar, e ainda participaram ativamente de
muitos ramos de atividades industriais e capitalistas que cresciam nesse período. Nas fábricas
têxteis inglesas, por exemplo, Hobsbawm (2000) constata que em 1838, do total de operários
empregados, 23% eram homens e 77% eram mulheres. Por um lado, a necessidade do trabalho
feminino fora do lar advinha da necessidade de que esse tipo de trabalho remunerado
contribuísse para que a família atingisse o montante necessário para sua subsistência. Por outro
lado, a mão de obra feminina, tanto quanto a infanto-juvenil, era mais barata, aumentando o
interesse dos capitalistas nos ramos em que era utilizada para garantir “[...] uma elevada
transferência dos rendimentos do trabalho para o capital” (Hobsbawm, 2000, p. 65).
Nesse cenário, é preciso destacar que as lutas, os estudos e as propostas contra a
exploração das mulheres trabalhadoras detiveram-se sobremaneira em uma visão (que incluiu
Marx e seus sucessores) de que sua exploração pelo Capital ocorria especialmente como classe
operária. De modo geral, as tarefas domésticas eram (e ainda são em boa medida)
compreendidas como uma vocação natural das mulheres a ser usufruída pela família. E quando
uma mulher recebia remuneração por essas tarefas, como no caso da empregada responsável
pelos serviços domésticos e ou de cuidado com as crianças, esse trabalho era considerado uma
“profissão inferior” mal remunerada25.
Discussões sobre a importância de se realizar análises das segmentações de classe
articuladas às segmentações de gênero nas sociedades capitalistas modernas (e dos impactos
dessas articulações sobre as famílias) só ganharam maior visibilidade a partir da década de
1970, com o fortalecimento dos movimentos feministas. Entre os diferentes trabalhos desses
movimentos, aqui destaco as reflexões de Sílvia Federici (2017) em Calibã e a bruxa, que
revisita o processo de transição do feudalismo para o capitalismo enfatizando a grande
25 Para se ter uma ideia, no Brasil, apenas em 2015, cerca de dois séculos depois do período a que estou me referindo, as empregadas domésticas (mulheres, em sua enorme maioria) viram ser promulgada a Lei Complementar 150 de 01/06/2015 que assegurou uma melhor equiparação entre os direitos dessas trabalhadoras e os de outras categorias.
75
importância que o trabalho reprodutivo exercido de forma quase sempre gratuita pelas mulheres
teve para a acumulação primitiva do Capital.
A autora frisa que a importância desse trabalho reprodutivo “invisível” para a
consolidação da sociedade capitalista precisa ser conectada à relevância social que a mulher
adquire como “anjo do lar”, cuidadora, recatada, dócil e submissa ao homem, dono e patrão na
família. Tratou-se de um longo e contundente processo que, entre os séculos XV e XIX,
envolveu significativas mudanças na realidade de grande parte das mulheres europeias, com a
destituição de direitos destas, com a restrição de suas possibilidades de trabalho e redução dos
ganhos destes advindos, com a implantação de um controle biopolítico e disciplinar sobre seus
corpos, com a desvalorização social de sua liberdade e autonomia. Esse processo foi
multiplicando uma série de práticas discursivas, de aparatos jurídico-policiais, de condições
materiais que aprofundaram a sujeição e dependência das mulheres em relação aos homens, ao
modelo nuclear de família e às tarefas reprodutivas que deviam desempenhar.
Um dos relevantes aspectos desse processo envolveu o deslocamento de boa parte das
propriedades na Europa das mãos dos clérigos, dos nobres e da grande massa de pequenos
produtores rurais para concentrá-las nas mãos de comerciantes e produtores capitalistas que
passaram a cercar e a limitar o acesso às propriedades adquiridas.
Como analisa Maurice Dobb (1946/1983), os novos proprietários dificilmente
mantinham os mesmos vínculos estabelecidos pelos antigos senhores com os camponeses e
outros trabalhadores que tradicionalmente estavam vinculados às terras. Essa concentração de
propriedades acabou por incluir terras que, no período feudal, eram consideradas campos
abertos (open-field system) de uso comum e terras comunais que protegiam as famílias
camponesas a elas ligadas das más colheitas em virtude das diferentes faixas de terra a que se
tinha acesso. Terras que viabilizavam ainda uma gestão comunitária, mais democrática e
solidária de seu uso, e possuíam um importante papel na socialidade das famílias, sendo o
espaço onde eram realizadas festas, jogos e eventos comunitários. As mulheres, “tendo menos
direitos sobre a terra e menos poder social, eram mais dependentes das terras comunais para a
subsistência, a autonomia e a sociabilidade” (Federici, 2017, p. 138). Com os cercamentos das
terras, boa parte das redes de cooperação e socialidade foram desfeitas, o que tornou muitas
famílias camponesas e, em especial, as mulheres ainda mais vulneráveis. A falta de acesso à
terra, a outros bens comuns e ao apoio comunitário foi uma importante brecha histórica para o
aumento da subordinação das mulheres aos homens e para sua captura pelo controle dos
Estados.
76
Além disso, o exercício de trabalhos remunerados por mulheres foi se tornando
paulatinamente menos valorizado, ao mesmo tempo que a participação de mulheres em muitas
atividades passou a ser mal vista. Federici (2017) assinala que “no século XIV, as mulheres
recebiam metade da remuneração de um homem para realizar a mesma tarefa; mas, em meados
do século XVI, estavam recebendo apenas um terço do salário masculino (que já se encontrava
reduzido) e não podiam mais se manter com o trabalho assalariado, nem na agricultura, nem no
setor manufatureiro” (p. 151). E completa, esclarecendo que no mesmo período “as mulheres
haviam perdido espaço inclusive em empregos que haviam tradicionalmente ocupado, como a
fabricação de cerveja e a realização de partos” (p. 182). As mulheres que necessitavam ou que
queriam trabalhar tinham dificuldades para encontrar atividades diferentes das que
historicamente eram consideradas “trabalhos femininos” com baixa remuneração: fiandeiras,
tecelãs, bordadeiras, amas de leite, alguns trabalhos rurais e o emprego doméstico, que se tornou
a principal ocupação feminina. Tornou-se ainda uma prática costumeira que as mulheres que
recebiam remuneração por seu trabalho a entregassem ao “homem da casa”. Esse cenário
acabou por inviabilizar a autonomia financeira das mulheres trabalhadoras e aprofundou sua
sujeição e dependência em relação aos homens.
Também as mulheres mais ricas perderam na Europa do século XVI e seguintes muito
de sua autonomia, uma vez que se disseminou a normativa de que o marido deveria ser o
representante legal e o administrador dos bens da família. A esposa passou a necessitar da
autorização do marido ou da justiça para que seus atos fossem reconhecidos e tidos como
válidos pelo Estado. De fato, o processo de sujeição e dependência femininas atravessou as
diferentes classes sociais: “Enquanto na classe alta era a propriedade que dava ao marido poder
sobre sua esposa e seus filhos, a exclusão das mulheres do recebimento de salário dava aos
trabalhadores um poder semelhante sobre suas mulheres” (Federici, 2017, p. 194). Em todos os
casos, o casamento e a procriação tornaram-se a verdadeira carreira feminina e sua incapacidade
de sobreviver sozinha era algo quase certo.
A família nuclear vai, assim, ganhando espaço como o locus adequado para uma mulher.
A Reforma Protestante foi importante nesse processo, uma vez que enfatizou a família como
algo sagrado. Diferente da Igreja Católica medieval que via na castidade e na dedicação
espiritual as verdadeiras formas de salvação, a Reforma valorizou a reprodução quando
realizada em um ato sexual sacramentado pelo casamento. Some-se a isso o interesse que as
monarquias absolutistas vão tendo, cada vez mais, no governo de sua população, com a
preocupação em impedir o decréscimo populacional. Com isso, diversos países europeus
77
adotaram medidas pró-natalidade, mas que não envolveram um incentivo, como ocorre hoje em
alguns países, à procriação. De outro modo, tratou-se de um duro combate estatal aos métodos
contraceptivos que as mulheres usavam durante a Idade Média, à interrupção da gravidez, ao
abandono e à morte de crianças e à realização de sexo fora do casamento. As estratégias de
vigilância e punição nesse combate geralmente focalizaram a conduta feminina e o controle
sobre o corpo das mulheres (Federici, 2017). Por exemplo, no século XVI, países europeus
passaram a criminalizar a prostituição, o que incidia basicamente sobre as prostitutas com
poucos efeitos sobre os clientes homens.
Através desses processos, a mulher foi sendo circunscrita à esfera doméstica.
Disseminou-se, nesse contexto, a ideia de que uma “boa mulher” deveria corresponder à esposa
e mãe passiva, recatada e zelosa com sua casa e família, sempre pronta a ajudar, apoiar e
concordar com o marido. Aquelas mulheres que não se enquadravam neste modelo de
feminilidade foram objeto de duras de críticas, condenação moral ou mesmo forte repressão e
punição estatal: mulheres que questionavam ou se impunham diante dos maridos, mulheres que
não se entusiasmavam com os serviços domésticos, mulheres vaidosas, desbocadas, luxuriosas,
mulheres que gostavam de andar sozinhas pelos espaços públicos, mulheres que se reuniam
muito com outras mulheres, mulheres que exerciam sua sexualidade fora das determinações de
procriação e de submissão ao homem. Todo um quadro social-estatal de perseguição e de
severas punições instaurou-se contra essas mulheres, produzindo, conforme Federici (2017),
uma verdadeira caça às bruxas.
Quando as penas degradantes e os suplícios foram sendo eliminados da paisagem social
no fim do século XVIII e começo do XIX e a prisão, tal como descreve Foucault (1975/1999),
ganha seu lugar como modo exemplar de punição, as mulheres haviam passado por quase três
séculos de depreciação social, incapacitação jurídica, controle biopolítico e punições
disciplinares e estavam, por assim dizer, docilizadas (para utilizar o termo desse filósofo). No
século XIX grande parte das mulheres, em todas as classes sociais, reproduziam em maior ou
menor grau os moldes da família nuclear, como afirma Ariès (1960/1986). Para todas elas, havia
um bem-sucedido (e naturalizado) controle sobre seus corpos e suas funções reprodutivas,
incrementado pela vigilância e análise sobre suas condutas exercida cotidianamente pelas
próprias famílias e ainda pelas escolas, igrejas, hospitais, fábricas e outros26.
26 Indico aqui os conceitos foucaultianos que apresento adiante, ainda que (sobretudo porque) esse filósofo não se deteve em análises específicas sobre o biopoder e sobre a incidência dos dispositivos disciplinares em relação às mulheres e sua capacidade reprodutiva. Aqui, escolho não me aprofundar
78
Se isso se passa nesse período de consolidação do capitalismo, é preciso ponderar, como
insinua Federici (2017), que não se trata de coincidência. Para ela, o próprio corpo tornou-se
para as mulheres o que a fábrica significou para os operários: a materialidade da exploração de
sua força vital para a acumulação do Capital. Para as mulheres mais pobres, isso envolveu dar
a vida e revigorar cotidianamente a mão-de-obra trabalhadora. Para as mulheres burguesas, isso
envolveu seu uso para a manutenção da unidade do sistema de propriedades e empresas entre
famílias aliadas, através de casamentos adequados e da produção dos descendentes que
pudessem seguir os negócios da família. Como Hobsbawm (2009) mostrou, também a formação
de novas, por vezes necessárias, alianças entre famílias mais ricas envolviam o casamento da
mulher: como nos casos em que o recebimento do dote tirava a família da noiva do sufoco ou
quando a necessidade de homens de negócios dinâmicos e competentes não era suprida entre
os membros da família, demandando a chegada de um noivo com essas características no
complexo de negócios da família.
Enfim, quando olhamos para a família moderna, é necessário não invisibilizar o fato de
que a sua institucionalização como modelo familiar envolveu, além da proximidade entre pais
e filhos, além de uma amorosidade mais expressa e praticada entre eles, além da presença e dos
cuidados com as crianças dentro de casa, ela envolveu uma divisão sexual do trabalho. Divisão
que se sustentou pela limitação das oportunidades de trabalho para as mulheres fora do lar, pela
restrição de seus direitos e a submissão deles à tutela de outrem e por um grande controle sobre
suas condutas. Não eram exatamente “os adultos” que se dedicavam integralmente aos trabalhos
domésticos e aos cuidados com as crianças, mas as mulheres. A elas, a modernidade capitalista
destinou prioritariamente as atividades reprodutivas, a serem exercidas em casa, sem
remuneração e, claro, sem reclamação.
* * *
Um outro ponto que gostaria de abordar a partir do trabalho de Ariès (1960/1986) é que
a família enfocada por esse autor é a família burguesa e a moralidade a que ele se refere foi
nas críticas colocadas por teóricas feministas de que Foucault, mesmo ao se embrenhar em uma História da Sexualidade, esquivou-se de considerar de forma aprofundada as diferenças de gênero. Ainda assim é importante considerar que as segmentações de gênero não podem ser invisibilizadas quando consideramos os diagramas de forças que configuraram os agenciamentos das sociedades capitalistas e a configuração hegemônica das famílias modernas.
79
aquela construída em torno dessa família. Como ele próprio afirma, a família nuclear foi
“originariamente um fenômeno burguês” (p. 278). O fato dessa configuração familiar ter se
sagrado hegemônica na modernidade capitalista, acompanhando a ascensão econômica e
política da burguesia e a difusão dos valores que esta vai consolidando socialmente, não deve
excluir outros processos, outros elementos, outros arranjos que também compuseram a
realidade europeia daquele período.
Nesse sentido, é preciso fazer uma ressalva quando observamos a ênfase dada pelo autor
à construção da infância como etapa diferenciada da vida adulta. Para ele, tal diferenciação foi
promovida por um processo de moralização encabeçado por teóricos que passaram a indicar a
escola como o lugar privilegiado de educação das crianças e adolescentes para as famílias
burguesas. Esses teóricos teriam contribuído ainda para a disseminação da ideia, nessas
famílias, de que os pais deveriam zelar diretamente pelo cuidado com seus filhos, o que
envolvia não apenas acompanhar os afazeres escolares e vigiar o comportamento das crianças
e adolescentes, mas também separá-los da “má influência” do mundo exterior e, especialmente,
das pessoas de classe inferior, inclusive as que lhes serviam como empregados. Para Ariès
(1960/1986), é nesse clima de zelo do par parental com os filhos que foi sendo construído um
funcionamento mais sentimental, com maior afetividade entre os membros da família.
Entretanto é preciso se perguntar: onde estavam as crianças mais pobres enquanto as crianças
burguesas iam para a escola e eram cercadas de cuidados em casa?
Não é suficiente indicar que elas permaneceram sendo educadas à moda medieval, pelos
costumes, se consideramos que a sociedade estava a mudar para todo mundo com a
institucionalização do capitalismo na Europa. As crianças das classes mais baixas vivenciaram,
tanto quanto os adultos dessas classes em particular e todos os indivíduos e grupos de modo
mais amplo, o mesmo processo de transição das feudalidades para o capitalismo e de
implantação de um outro projeto civilizatório. Se para as crianças burguesas esse processo
envolveu a nucleação e privatização de suas famílias, bem como o aprendizado e a
disciplinarização através da escola de forma pioneira, para as crianças vindas das famílias de
servos, artesãos, pequenos proprietários rurais e outros trabalhadores esse processo significou
um duro movimento de expropriação de suas terras, de suas condições ancestrais de trabalho e
de sua vida comunitária. Significou assistir à implementação de novos processos produtivos
que reduziram drasticamente as terras destinadas ao modo de produção para a subsistência, que
extinguiram os antigos contratos de servidão, que sucatearam a produção artesanal e que
80
instauraram a agricultura, a fábrica e o comércio capitalistas, multiplicando as lógicas do
trabalho assalariado.
Nesse contexto, as crianças mais pobres acompanharam uma mudança radical nas
condições de sobrevivência de suas famílias. Agora, camponeses, pequenos proprietários,
artesãos, entre outros, estavam lançados na condição de trabalhadores “nus”,
desterritorializados, desprendidos dos códigos e lógicas feudais, e “prontos” para vender sua
força de trabalho por um baixo salário (Deleuze & Guattari, 1980/1997b). É preciso considerar
que as crianças e adolescentes também perderam seus vínculos e a pertença aos antigos códigos
e restaram, também eles, “nus” diante das demandas do Capital. Muitos foram cooptados como
força de trabalho para as fábricas, para as minas e para a agricultura capitalista. Força de
trabalho que, ressalte-se, era mais barata do que a de um homem adulto e, por isso, mais
vantajosa para os donos do Capital, quando a atividade podia ser executada por um corpo de
qualquer idade ou mesmo quando era melhor executada por crianças.
Marx (1867/2013) não se cansou de detalhar as muitas lutas de homens e mulheres
trabalhadores para que limites à jornada de trabalho fossem fixados pelos Estados: “Assim que
a classe trabalhadora, inicialmente aturdida pelo ruído da produção, recobrou em alguma
medida seus sentidos, teve início sua resistência, começando pela terra natal da grande indústria,
a Inglaterra” (p. 245). Aí, data de 1833 a primeira lei que procurou coibir a exploração
desmedida do trabalho infantil. Antes dela, “[...] crianças e adolescentes eram postos a trabalhar
(were worked) a noite toda, o dia todo, ou ambos, ad libitum [à vontade]” (p. 245). As
determinações dessa lei, certamente insuficientes e que exigiram (e ainda exigem) muitas lutas
posteriores, envolviam a proibição do emprego de crianças menores de nove anos e a limitação
da jornada de trabalho a oito horas para crianças entre 9 e 13 anos e a doze horas para
adolescente entre 13 e 18 anos, em algum período entre cinco e meia da manhã e oito e meia
da noite, com uma hora e meia de intervalo para almoço. Quanto à escolarização das crianças
pobres, Marx (1867/2013) destaca que não faltaram capitalistas a ponderar se havia real
necessidade da frequência escolar dessas crianças, uma vez que seu destino era trabalhar como
operários em tarefas repetitivas.
Nesse contexto de exploração do trabalho infanto-juvenil, como salienta Klein (2012),
também nasceram preocupações das classes trabalhadoras com a proteção das crianças e
adolescentes e foi dada importância ao seu desenvolvimento com características e fragilidades
diferentes dos adultos. Sem marcar uma dualidade que exigiria uma indicação de qual criança
– aquela capturada pela escola e pela família nuclear burguesa, ou aquela capturada pela fábrica
81
– influenciou de forma mais contundente a preocupação com a infância e o modelo de família
na modernidade, opto por considerar o agenciamento desses diferentes componentes e suas
posições diferenciais no diagrama das forças sociais. Se sua visibilidade não é certamente a
mesma, é importante admitir que funcionam conectados.
* * *
Há, por fim, um terceiro ponto nas reflexões de Ariès (1960/1986) que gostaria de
resgatar para tecer algumas considerações a respeito. Esse historiador se pergunta, nas
conclusões de seu livro, como é possível falar de um triunfo do individualismo na modernidade,
quando “[...] toda a energia do casal é orientada para servir aos interesses de uma posteridade
deliberadamente reduzida? [...] Toda a evolução de nossos costumes contemporâneos torna-se
incompreensível se desprezamos esse prodigioso crescimento do sentimento da família. Não
foi o individualismo que triunfou, foi a família” (p. 273).
Ariés (1960/1986) marca claramente uma oposição: individualismo versus sentimento
de família. No entanto, vale perguntar se a família moderna não é um eficiente agenciamento
de produção de subjetividades individualizadas exatamente porque está permeada por uma forte
carga afetiva entre seus membros e por uma grande dedicação dos adultos (principalmente das
mulheres) para a criação dos filhos. Cumpre perguntar também por que a individualidade, o
individualismo, o sujeito individualmente considerado são assuntos tão importantes dentro dos
valores modernos.
No curso A tecnologia política dos indivíduos, Foucault (1988/2004) apresenta uma
questão que, a seu ver, caracterizou um novo polo de reflexão para a atividade filosófica a partir
do século XVIII e que poderia ser assim colocada: “o que somos nesse tempo que é o nosso?”
(p. 301). Como esse filósofo ressalta, nosso tempo é marcado por uma antinomia entre, de um
lado, o indivíduo como sujeito de direitos e liberdade e, de outro, a ordem e o controle da
totalidade social ambicionados pelos Estados modernos. Esta é possivelmente uma das grandes
batalhas de nossos tempos.
O sujeito individual, animado pela possibilidade de ter igualdade e liberdade
formalmente garantidas pelo Estado, sagrou-se a grande figura histórica que foi se configurando
com a institucionalização do capitalismo e com o crescimento da nova classe burguesa e suas
ambições de primazia política e cultural. Não apenas o trabalhador, mas o sujeito político
82
também está nu. Ele legitima-se juridicamente com as propostas e a racionalidade iluministas
do século XVIII e sua aposta no Estado de Direito contra o poder dos monarcas absolutistas e
a hegemonia da Igreja sobre os costumes. As revoluções sociais que daí se seguem neste século
e no seguinte deixam como legado a ruptura final com os laços e as lógicas feudais27.
A valorização (e a produção) do sujeito individualizado, autocentrado, autônomo, capaz
de autodeterminar-se está presente em propostas e produções de diferentes campos de saber e
de práticas modernos. Em suas variações, da filosofia às ciências jurídicas, das artes às
pedagogias, da economia aos esportes, da política às ciências da saúde física e mental, há a
valorização da individualidade, da privacidade, da intimidade, da racionalidade, da vocação,
competências e méritos pessoais, bem como a difusão de práticas discursivas que propõem o
respeito à liberdade do Homem e sua capacidade de escolha. Contudo, é preciso considerar que
o indivíduo não emerge como a restauração da condição ontológica do Homem depois de
séculos de repressão pela “idade das trevas” medievais, como muito já se defendeu28. O
indivíduo, tal como a modernidade, suas ciências, sua política e sua economia o reconhecem e
o valorizam, tem data de nascimento histórica. Se não podemos ignorar sua importância para
os processos de subjetivação atuais e para os saberes que se produzem sobre eles, é importante
considerar também como seu sucesso social e seu sonho de se tornar uma categoria universal
27 Conferir a análise que Hobsbawm (2009) faz sobre as revoluções de 1848 que, apesar de sua brevidade histórica, logo vencidas pela Restauração, trouxeram importantes consequências sociais: “Mesmo os pesados e ignorantes camponeses da Itália do sul, na grande primavera de 1848, cessaram de patrocinar o absolutismo” (p. 40). 28 Sobre a consideração da Idade Média como idade das trevas e do atraso histórico, vale lembrar o contraponto defendido por José Carlos Rodrigues (1999, pp. 19 e segs.) de que o “empobrecimento semiológico da Idade Média – procedimento que consiste em desqualificá-la para, sobre esta desqualificação, fundar a ilusão de superioridade do conhecimento que pensa poder abarcá-la” é uma atitude que procurou garantir a supremacia das lógicas, sensibilidades e funcionamentos das sociedades capitalistas modernas. Na visão de mundo moderna, “aqueles séculos constituiriam uma espécie de território de barbárie, noite de mil anos, floresta de pedra, idade das trevas, período da história em que nada ou quase nada culturalmente relevante teria acontecido. Tempo em que tudo o que fosse virtude pelo prisma das ideias capitalistas simplesmente inexistiria”. No entanto, esse antropólogo destaca que, se repararmos de outro ângulo, veremos que a Idade Média teve, “ao contrário, um grande crescimento de populações, um fervilhar de movimentos e de trocas entre tribos e povos que se cruzavam e interinfluenciavam. Descobriremos imensa dilatação dos espaços ocupados, homens se estabelecendo nos mais diversos pontos da Europa, vindos de fora e aí lançando raízes. Verificaremos enorme florescimento de cidades, dos pequenos burgos às grandes aglomerações. Saberemos das grandes viagens para a Ásia e África, das aventuras de pessoas que foram longe e que retornaram com ideias e imaginários enriquecidos e multiplicados. Visitaremos catedrais, castelos, fortificações, grandes prédios que são obras de arte, sínteses de uma visão de mundo, obras nas quais não há um milímetro em que não se possa ver a concretização artística dos usos, das concepções, do imaginário sagrado ou cotidiano”.
83
para todos seres humanos estão relacionados com as condições históricas que lhe dão a
possibilidade de existência neste período.
Um primeiro ponto é que, acoplados aos sonhos de liberdade e igualdade (a fraternidade,
o terceiro pilar retórico das lutas modernas, nunca veio muito ao caso...), os processos de
individualização têm raízes nas exigências produtivas concretas do modo de produção
capitalista que se institucionaliza na modernidade. É como indivíduo que o homem pode se
tornar um assalariado, cuja retribuição em dinheiro pelo trabalho é medida pela produtividade
de seu corpo em uma certa quantidade de tempo. É como indivíduo que ele poderá ser mais
bem vigiado, treinado e controlado; que ele será premiado segundo suas potencialidades, ou
corrigido e punido por desviar-se da normalidade. É, enfim, como indivíduo que os Estados e
o Capital vão considerar os seres humanos – qualitativamente em si mesmos e
quantitativamente como membros da população. Assim, no mesmo período em que a família
nuclear burguesa se configura e se institucionaliza como modelo adequado de arranjo familiar,
emerge a demanda por um certo tipo de sujeito histórico, uma subjetividade individualizada,
produtiva e dócil. Essa subjetividade vai sendo produzida por um conjunto de técnicas e táticas
que se disseminaram na modernidade empregadas pelos aparelhos de Estado e nas mais diversas
instituições sociais.
Essas técnicas e táticas foram denominadas por Foucault (1973/2002) de disciplinas.
Em uma série de conferências realizadas no Brasil em 197329 e a seguir de forma mais detalhada
em seu livro Vigiar e punir, lançado em 1975, Foucault apresenta seus estudos sobre a
implantação dessas técnicas e táticas, partindo do estabelecimento da prisão como forma
privilegiada de punição penal. Aqui, o que cumpre destacar das análises foucaultianas acerca
das sociedades disciplinares é que a prisão se mostra como instituição exemplar para todo um
conjunto de estratégias de vigilância e controle que acabam por se difundir em diversas outras
instituições, com o intuito de acompanhar de perto as pessoas individualmente consideradas,
procurando adequá-las às lógicas sociais, subjetivas e econômicas da modernidade capitalista.
Foucault (1975/1999) cita a prisão de Walnut Street, inaugurada em 1790 nos Estados
Unidos. Trata-se de um lugar ao mesmo tempo de confinamento e trabalho obrigatório em
oficinas. O produto do trabalho dos presos deveria contribuir para o custeio de suas despesas e
ainda garantir um salário que lhes assegurasse a reinserção moral e material quando saíssem do
29 A série de cinco conferências, proferidas por Foucault entre 21 e 25 de maio de 1973 no Rio de Janeiro, foi organizada no livro A verdade e as formas jurídicas (2002).
84
cativeiro. Os detentos deveriam permanecer constantemente ocupados, cada instante dos dias
era destinado a alguma atividade. No entanto, a reclusão por si só era considerada incapaz de
aprimorar os comportamentos. Era preciso que os detentos também se empenhassem em alterar
seus comportamentos e salvar suas almas corrompidas, seguindo as determinações da
administração do presídio. Uma série de práticas de controle do tempo, dos corpos e das
disposições dos prisioneiros, individualmente considerados, visavam transformar a
subjetividade destes. Essas práticas exigiam a vigilância contínua pelos agentes penitenciários,
cuja observação dos detentos deveria ser detalhadamente registrada. “Esse controle e essa
transformação do comportamento são acompanhados – ao mesmo tempo condição e
consequência – da formação de um saber sobre os indivíduos” (p. 145). Construído dia após
dia, esse saber permitia classificar os presos menos em razão de seus crimes que de suas
disposições, instaurando um microtribunal cotidiano que não parava de julgar aqueles já
condenados.
Ainda no campo jurídico-penal, Foucault (1973/2002) salienta que no século XIX as
grandes reformas empreendidas nos sistemas penais valorizaram o papel das circunstâncias
atenuantes, mais ligadas às características individuais dos acusados do que ao dano social
objetivamente causado pelo crime. Valorizaram também a periculosidade da pessoa do
criminoso como aspecto a ser considerado em seu julgamento, na condenação, na determinação
da pena e ainda na execução desta na prisão. Instaura-se, nesse contexto, uma lógica que desloca
a investigação criminal do tipo inquérito que procura entender o que ocorreu e os impactos
sociais causados (o que foi feito? quais as consequências?) para um novo tipo de investigação
– o exame, cujo objetivo é evitar que algo ocorra. O exame se processa por vigilância contínua,
a partir da qual é possível construir, como em Walnut¸ um saber sobre quem se vigia, definir
sua periculosidade, atuar não pelo que se fez, mas pelo que se pode fazer. Essa lógica é
encarnada em um tipo especial de arquitetura: o panoptismo proposto por Bentham e lembrado
por Foucault (1973/2002 e 1975/1999). As prisões panópticas amplificam o olhar do agente
penitenciário encarregado da vigilância. Do alto de sua torre colocada no centro do presídio, o
agente é capaz de examinar cada detento individualmente, de forma a acompanhar todos os seus
movimentos o tempo todo.
O que nos interessa, neste trabalho, é que esse olhar e essa vigilância sobre cada
indivíduo, sobre suas disposições, sua periculosidade, suas potencialidades não vão se
restringir às prisões, mas espalhar-se por todo o tecido social. São impressionantes as
semelhanças na descrição que Foucault faz da prisão de Walnut Street e de um tipo de fábrica
85
que foi implementada em larga escala no século XIX na França, na Suíça, na Inglaterra, nos
EUA. Foucault (1973/2002, pp. 108 e segs.) destaca que essas fábricas, só no sudoeste da
França, empregaram mais de 40.000 operárias no ramo têxtil em regime de confinamento. As
internas residiam nas fábricas e deveriam ter o mínimo contato possível com o “mundo
exterior”, devendo se dedicar somente ao trabalho e ao cuidado religioso. Seus dias eram
rigorosamente organizados e vigiados, da hora de se levantar até a hora de dormir. Inclusive os
domingos, destinados ao descanso e ao cumprimento do dever religioso, estavam sempre sob
vigilância.
Além das prisões e fábricas panópticas, todo um sistema de vigilância, controle e
correção instaurou-se também em escolas, orfanatos, centros de formação, quartéis, conventos,
casas de acolhimento. O confinamento, com a permanência contínua das pessoas no
estabelecimento, torna-se comum em boa parte dessas organizações. Nas organizações que não
podiam sustentar o confinamento, diversas técnicas de vigilância, controle, correção, punição e
premiação foram sendo desenvolvidas. Em todas, um objetivo comum: os mecanismos de
vigilância e seus microtribunais de punição dos desviantes e de premiação das condutas
exemplares balizam, para a massa dos indivíduos, as condições da normalidade: do que é
normal e do que anormal, do que é correto ou não, do que se deve ou não fazer. E há ainda
nesse período a disseminação de instituições destinadas a confinar os casos a serem mais
rigorosamente penalizados, corrigidos ou tratados: os hospitais, os hospitais psiquiátricos e as
próprias prisões.
As técnicas e estratégias disciplinares estabelecem um controle e um poder sobre os
indivíduos que não se resume nem se destina aos aparelhos de Estado. As disciplinas operam
de forma muito eficiente no singelo orfanato, no grande presídio, no reconhecido colégio
interno, na oficina do subúrbio. Elas atravessam as redes institucionais intraestatais, ainda que,
obviamente, o Estado muito se beneficie delas.
É nessa rede de micropoderes disciplinares que um novo modo de subjetivação, que
produz o sujeito individualizado, espalha-se à medida de que o capitalismo se consolida. Sua
produção através da vigilância e do confinamento não têm, como objetivo primordial, excluir
os desviantes, doentes, criminosos, ainda que isso também seja feito; o objetivo desse modo de
subjetivação é incluir os indivíduos, ensinando-lhes os comportamentos adequados. As
estratégias e técnicas utilizadas visam, com efeito, disciplinar os corpos, higienizando-os para
que permaneçam saudáveis e moralmente adequados e docilizando-os para que constituam uma
força de trabalho capaz de suportar a rotina das fábricas, a execução das tarefas repetitivas, a
86
duração das jornadas de trabalho, a vigilância, as exigências, a pressão e as metas produtivas
de supervisores, diretores e homens de negócio. “O corpo só se torna força útil se é ao mesmo
tempo corpo produtivo e corpo submisso”, diz Foucault (1975/1999, p. 29). Além do controle
dos corpos, as disciplinas devem também garantir que os homens aceitem colocar à disposição
o seu tempo, fazendo com que o tempo da vida, o máximo possível desse tempo, se torne tempo
dedicado ao trabalho e aos aprendizados para este.
É assim que nasce historicamente, tendo como eixo de suas forças a Europa que se
capitaliza, o indivíduo moderno – um modo de subjetivação individualizado, disciplinado,
dócil. Alheio às pertenças coletivas medievais que fixavam as pessoas e as famílias a uma certa
terra e aos direitos dos senhores sobre essa terra e seus habitantes, esse modo de existência
convoca os sujeitos a oferecerem seu tempo, seu corpo, suas habilidades aos aparelhos de
produção, orientando ainda seu desejo para consumir – das mercadorias às imagens e sonhos –
o que estes mesmos aparelhos têm a oferecer.
A família nuclear moderna se dissemina nesse contexto social em que a rede de
micropoderes está a atuar em diferentes aparelhos, estabelecimentos e instituições,
implementando estratégias e técnicas disciplinares que instauram uma vigilância contínua sobre
os indivíduos com o intuito de adequá-los – de normalizá-los, nos termos de Foucault
(1973/2002) – conforme os ditames das sociedades capitalistas nascentes. Como vimos, as
disciplinas atuaram de forma muito eficiente espalhadas por essa rede, incidindo em
estabelecimentos como as escolas, a polícia e os presídios. Ariès (1960/1986) já havia escrito,
quinze anos antes de Foucault publicar Vigiar e Punir, que “[...] a escola confinou uma infância
outrora livre num regime disciplinar cada vez mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX
resultou no enclausuramento total do internato” e admitiu que “[...] a família e a escola retiraram
juntas a criança da sociedade dos adultos” (p. 277).
Nesse contexto, o processo de privatização e nucleação da família na modernidade
articulou-se, em boa medida, com as lógicas disciplinares de confinamento, vigilância e
controle. A família, agora mais isolada da rede de socialidade ampla, passou a atuar também de
forma disciplinar, exercendo uma contínua vigilância sobre seus membros. Isso é bastante claro
em relação às crianças e adolescentes: cobradas pelas escolas, as famílias deviam não apenas
acompanhar as tarefas escolares, mas também observar de perto os comportamentos dos filhos,
reforçando atitudes tidas como adequadas e punindo prontamente os desvios de conduta.
Também em relação aos adultos, as lógicas disciplinares e o maior confinamento em casa
promoveram uma autovigilância que acabou por produzir forte repressão da livre expressão e
87
desejo subjetivos (repressão que permeia certamente a sexualidade, mas não se restringe a ela),
ao mesmo tempo que todo um conjunto de hábitos, práticas e relações – normalizadas,
controladas, higienizadas – era instigado e difundido pelas próprias famílias, por outras
instituições e aparatos estatais30 (Foucault, 1976/1988). Esse processo acabou por colocar a
família moderna no epicentro de muitos traumas e sofrimentos subjetivos, como Sigmund Freud
(1980) tão bem analisou em sua obra. Kehl (2003) lembra que foi do seio das famílias nucleares
mais bem estruturadas nas lógicas burguesas na Viena do século XIX que chegaram os
primeiros pacientes para Freud e que foi a partir da análise da relação familiar desses pacientes
que a psicanálise foi fundada, investigando a produção de um mal-estar que Freud associou às
restrições sexuais impostas especialmente às mulheres; à claustrofobia da convivência
doméstica; à fixação dos filhos em uma posição de objeto de um amor materno excessivo, visto
que esse amor era a única fonte de satisfação afetiva e erótica para muitas mulheres; à disputa
permanente entre os filhos, tanto pelo amor da mãe quanto pela herança simbólica do pai.
Assim, cabe assinalar o lugar da família moderna na institucionalização da rede de
micropoderes disciplinares e na produção do modo de subjetivação que passou a vigorar
socialmente. Ela se tornou um importante agenciamento capaz de ensinar os comportamentos
adequados para que cada um pudesse ser aprovado na escola, ser um bom aprendiz na oficina,
ingressar com boa produtividade no mercado de trabalho, ser uma esposa amorosa e dedicada
e, quiçá, alcançar reconhecimento, prestígio social e riquezas. Objetivos que a família moderna
sempre louvou, dedicando-se de forma obstinada e dócil para sua produção.
Parece-me, pois, que a nucleação e a privatização, inclusive dos afetos, na família
moderna acompanham ao invés de se contrapõem aos dispositivos disciplinares. A
individualidade e, no seu extremo, o individualismo não podem ser tomados como opostos a
esse tipo de família, mesmo se consideramos que, em muitas delas, sua configuração construiu
laços afetivos que mantiveram seus membros próximos, com apoio mútuo, por toda a vida.
Com efeito, os laços familiares do tipo nuclear moderno, agora confinados ao espaço doméstico,
mostram-se mais propícios para a produção de sujeitos individualizados do que os laços
vivenciados em outros arranjos familiares, épocas e povos em que o parentesco, as alianças e
as redes de apoio e proteção são mais amplas e transversais.
30 No caso brasileiro, é interessante notar o papel que a medicina social exerceu no processo de higienização e normalização das famílias, especialmente as residentes nos centros urbanos que se industrializavam no século XIX, como abordo a seguir.
88
Estado moderno, famílias modernas
Abordei acima a importância que a família ganha, à medida que ocorre sua nucleação e
privatização modernas, como agenciamento preferido para a implementação das estratégias
disciplinares de docilização e normalização de seus membros em prol de sua inserção nas
lógicas capitalistas que se institucionalizam socialmente. Assim, as famílias que se estruturam
nos moldes burgueses, isolando-se das redes de socialidade mais ampla e exercendo uma
vigilância contínua e detalhada sobre seus membros, passam a priorizar em seus núcleos a
produção de modos de subjetivação adequados para sua inserção bem-sucedida nas lógicas de
produção, trabalho, acumulação e consumo do projeto civilizatório capitalista. Todavia, não é
apenas neste nível micropolítico, circunscrito ao trabalho de subjetivação cotidiana nos moldes
capitalistas, que podemos enxergar a importância da família.
É possível considerar que, de diferentes maneiras, as sociedades com Estado sempre se
importaram com as famílias. Como aparelho de captura31 e vinculação dos sujeitos sob sua
administração e soberania, os diferentes tipos de Estados atentaram-se para a eficiência das
famílias (entendidas aqui em sentido amplo de modo a agregar suas diferentes configurações
históricas) em firmar laços e vínculos morais e ou afetivos, em tecer redes de alianças e de
parentesco que agregam, cuidam, protegem, mas também submetem, exigem, conformam ou
mesmo punem seus membros. Ter as famílias a seu favor mostrou-se sempre importante para
os aparelhos de Estado que constantemente procuraram, conforme suas necessidades, firmar
esta “parceria público-privado”, para dizer em termos contemporâneos.
Donzelot (1977/1980) analisa como as pretensões absolutistas dos reis durante o
capitalismo imperialista (o autor enfoca particularmente as pretensões da monarquia francesa
durante o Antigo Regime) alinharam-se com o modelo de família hegemônico daquele período.
Um modelo de família calcado na autoridade do chefe de família, seu patriarca, que responde
por seus membros diante do Estado e da sociedade. Na França, o chefe da família deveria
garantir a fidelidade de seus familiares e agregados à ordem pública, além de prestar
contribuições ao Estado através do pagamento de impostos, de trabalho (corveias) e de homens
(milícias). Como contrapartida, o Estado deixava o chefe de família livre para agir e decidir
sobre seus membros – os casamentos e carreiras dos filhos, os trabalhos e serviços a serem
prestados por parentes e agregados, as alianças a serem firmadas – e para punir quando
31 A análise dos Estados como aparelhos de captura é feita por Deleuze e Guattari (1980/1997b).
89
considerasse necessário em nome das obrigações e da honra familiar. Tal poder discricionário
do chefe da família era ainda reforçado pelo apoio dado pelo Estado, tal como através da cartas
ao prego familiares (lettres de cachet de famille) que os patriarcas enviavam ao monarca
pedindo ajuda em questões relacionadas à sua parentela. “O Estado diz às famílias: mantende
vossa gente nas regras da obediência às nossas exigências, com o que podereis fazer deles o uso
que vos convier e, se eles transgredirem vossas injunções, nós vos forneceremos o apoio
necessário para chamá-los à ordem” (Donzelot, 1977/1980, p. 46).
Todavia, à medida que as lógicas capitalistas se desenvolvem na França, essa parceria
precisa ser ajustada para as novas questões, demandas e problemas que surgem, especialmente
a partir do século XVIII. Por um lado, na classe burguesa, a maior mobilidade social e maior
independência econômica propiciadas pela institucionalização do capitalismo acabou por fazer
com que os membros das famílias se submetessem menos ao poder do patriarca e questionassem
a arbitrariedade de decisões e punições por ele implementadas ou requeridas ao poder público
através das cartas ao prego. Por outro lado, as dificuldades econômicas e a perda do apoio
comunitário para muitas famílias mais pobres aumentaram a solicitação por auxílio estatal e
transformou mendigos suplicantes em sujeitos perigosos, organizados em gangues que exigiam
pagamento para não destruírem propriedades (Donzelot, 1977/1980).
Após a Revolução Francesa e diante das questões sobre a organização do Estado,
pendulam dois eixos de aspirações sobre o papel do aparelho estatal: em um eixo, há as
aspirações liberais do ponto de vista econômico e que apostam na organização da sociedade em
torno da propriedade privada, da liberdade individual e da família como célula apoiadora-
reguladora para o sucesso individual; no outro eixo, há os entusiastas por um Estado capaz de
assumir o papel de dar assistência, trabalho, educação e saúde aos cidadãos, independentemente
das pertinências familiares. “A família se encontra, assim, projetada no cerne do debate político
mais central, já que estava em jogo a definição do Estado” (Donzelot, 1977/1980, p. 46). A
relação das famílias com o Estado está, pois, atravessada por questões mais amplas e que
envolvem ainda a importância que a arte de governar a população vai ganhando para a
configuração dos Estados modernos.
Foi Foucault (1978/2008) quem detalhou os movimentos próprios aos Estados-nação
modernos em prol da implantação de uma arte de governar a população – um Estado
“governamentalizado”. Inicialmente, ele destaca que o século XVII viu aumentarem
publicações e teorias sobre a arte de governar um Estado que reivindicam uma mudança do
enfoque dado até então na legitimidade dos laços do soberano com seu território e com a
90
população que nele habita32. Nesse momento o enfoque passa ser a própria população que habita
os territórios em que a soberania se exerce. As transformações sociais por que passa a Europa
e sua configuração cada vez mais capitalista contribuem para que se imponha uma problemática
econômica para a arte de governar. O mercantilismo, fruto da conjugação de dois fluxos de
interesse – por um lado, os interesses dos comerciantes burgueses em promover tanto a proteção
quanto a expansão de suas atividades comerciais e produtivas e, por outro, os interesses dos reis
em ter recursos para crescer seus exércitos, aumentar seu tesouro e fortalecer sua supremacia
política – assume papel fundamental nesse processo. Na Europa, o mercantilismo passou a
colocar a questão da população como princípio da dinâmica do poder do Estado e do soberano.
A população passou a ser vista como um elemento fundamental que fornecia a mão de obra
para a agricultura e para as fábricas, evitando as importações e garantindo a balança comercial
favorável. Para tanto, a população deveria ser gerida através de todo um aparato regulamentar
estatal que visava impedir a emigração, atrair os imigrantes, beneficiar a natalidade, proibir o
ócio e a vagabundagem, definir o que devia ser produzido, por quais meios e com qual
retribuição em salário (Foucault, 1978/2008). Nesse contexto, o mercantilismo pode ser
considerado a primeira racionalização do poder estatal como prática de governo.
Contudo, para Foucault (1978/2008), a gestão mercantilista da população ainda a toma
como o conjunto dos súditos que devem ser submetidos ao soberano, através da imposição de
cima de leis e normas. Foi preciso que a questão da população fosse colocada sob outros termos
para que uma arte de governar sustentada por estratégias biopolíticas, tal como hoje a
conhecemos, fosse institucionalizada. Foi preciso que os súditos se tornassem um fluxo de
pessoas a serem arregimentadas por um novo regime econômico e semiológico.
Com a expansão demográfica do século XVIII na Europa, que se liga aos fluxos
monetários, agrícolas e industriais cuja produção e circulação vão se intensificando neste
momento, há a emergência de problemas específicos da massa populacional que exigem que
ciências como a estatística procurem compreender as especificidades e regularidades próprias
32 Na Europa, esse processo se inicia, com o enfraquecimento dos laços feudais, seguido pelo fortalecimento do poder real e das monarquias nacionais. Nos séculos XV e XVI inicia um processo em que a questão territorial desloca-se dos limites dos feudos para as fronteiras das nações onde o poder do rei pode ser exercido. A soberania nacional passa a figurar como aspecto central para a legitimidade do poder do monarca. Foucault (1978/2008) mostra como a questão-chave para o soberano era proteger a relação que possui com o território sob seu comando e com os súditos que ali habitam. Para o príncipe interessava prioritariamente proteger não o território ou seus súditos, mas o laço que os unia. O enlace do monarca com o território e seus habitantes se dava de forma transcendente, uma imposição “de cima” e ainda distante da população, o que muda quando o Estado se governamentaliza.
91
da população, ou de parcelas desta, em suas relações com o ambiente natural e social, com os
meios de produção, com o próprio corpo. Não somente através de leis, mas também, e talvez
com ainda mais importância, através de táticas e estratégias de gestão. É nesse cenário que o
Estado se “governamentaliza”. Formam-se os “Estados de governo”: Estados-nação que
certamente se preocupam com sua soberania e sua legitimidade, mas que a sustentam em nome
da gestão de seu povo através de um tipo de governo que visa melhorar o destino das
populações, garantir sua saúde, ampliar a duração de sua vida, organizar as relações destas com
o território nacional e a riqueza do Estado. Há aqui a emergência da economia política como
uma ciência privilegiada de governo; e da polícia como instituição de intervenção e controle
cotidianos (Foucault (1978/2008).
Nesse cenário configura-se uma estratégia de poder que Foucault (1978/2008) denomina
biopoder e que se consolida socialmente em dois movimentos: de um lado, os indivíduos são
considerados dentro dos processos biológicos do conjunto para análises e intervenções em
níveis mais gerais que envolvem a massa populacional e que são realizadas através de
estratégias biopolíticas; de outro lado, é preciso atuar em profundidade, nos detalhes de cada
existência, através das estratégias disciplinares de controle e docilização dos indivíduos
abordadas acima. Como Foucault (1976/2005) explicou em seu curso Em Defesa da Sociedade:
“Num caso, trata-se de uma tecnologia em que o corpo é individualizado como organismo
dotado de capacidades e, no outro, de uma tecnologia em que os corpos são recolocados nos
processos biológicos de conjunto” (p. 297). Essas tecnologias se articulam, ainda que operem
em diferentes níveis, para a implementação do biopoder e suas estratégias de produção do modo
de subjetivação individualizado.
A família é colocada, nesse contexto, como o relé fundamental para a arte de governar,
para a gestão da população: ela se torna instrumento privilegiado a partir do qual as questões
populacionais – saúde, consumo, educação, trabalho – podem ser trabalhadas e o controle
biopolítico pode ser exercido. Para tanto, fez-se necessário reconfigurar a relação das famílias
com os Estados de forma a estabilizar a nova ordem política fora das lógicas absolutistas e em
sintonia com os interesses econômicos liberais da burguesia que se firma como classe política
determinante. A partir das contribuições de Donzelot (1977/1980), é possível considerar que os
grandes desafios nesse processo foram:
1. De que modo se pode resolver a questão do pauperismo e da indigência, conjurando o perigo que representam os discursos que fazem, do aumento das prerrogativas do Estado, o único meio de consegui-lo, em detrimento do livre jogo econômico (Malthus, Gérando,
92
Villermé)? 2. Como reorganizar disciplinarmente as classes trabalhadoras, cujos antigos vínculos de comensalidade e de vassalagem não as atrelam mais à ordem social, mas que subsistem aqui e ali sob formas que servem muito mais como pontos de resistência à nova ordem (as corporações, os tecelões da cidade de Lyon, etc.), e, em outros casos, desaparecem dando lugar a uma irresponsabilidade total da população, a qual se torna incontrolável e frágil por causa da morbidez reinante e do nascimento das cidades industriais (De la Farelle, Frégier, Cherbulier)? O problema é tanto mais delicado porquanto não pode ser resolvido como o foi sob o Antigo Regime, através de uma repressão pura e simples, já que a economia liberal necessita da instauração de procedimentos de conservação e de formação da população. (Donzelot, 1977/1980, p. 50)
A implicação da família especialmente no molde burguês, nuclear e privatizado, que se
difunde no século XIX, será uma importante solução para os desafios colocados. Essa
implicação foi possível dentro da produção de um agenciamento social que envolveu o
crescimento das entidades filantrópicas e da medicina higienista. Conforme Donzelot
(1977/1980), para analisar a atividade filantrópica que cresce no século XIX, é preciso tomá-la
não como uma atividade apolítica desenvolvida por entidades privadas bem-intencionadas que
ambicionam contribuir para a solução de problemas sociais; é preciso tomá-la como uma
atividade que acaba por despolitizar as questões sociais, mantendo as intervenções realizadas
por essas entidades no campo social a uma distância ótima dos interesses liberais que estruturam
o Estado nesse período e que reclamam para que este não se exceda nos gastos com a solução
de problemas sociais. Em especial, o autor destaca a função moral dessas entidades, que passam
a inculcar nas famílias a importância da realização, por estas, de uma poupança para lhes
garantir “autonomia” em relação ao Estado – o que seria moralmente desejável – nas situações
de necessidade. Ademais, o Estado passou a contar com os estudos e as medidas propostas pela
medicina higienista para garantir a salubridade, a saúde, a educação da população dentro das
exigências de uma sociedade capitalista industrial e da preservação do espírito liberal. As
intervenções estatais passam a enfocar não a punição dos indivíduos, mas a implementação de
estratégias biopolíticas para a “adaptação positiva” deles ao regime capitalista industrial-liberal,
ensinando-lhes as medidas de higiene, o cuidado com o corpo e sua docilização, os
comportamentos e a moralidade adequados: “é somente nesse sentido que os higienistas
incitarão o Estado a intervir através da norma, na esfera do direito privado” (Donzelot,
1977/1980, p. 46).
A família nuclear é, nesse contexto, convocada a atuar em prol da disciplinarização dos
seus membros de forma conectada às estratégias biopolíticas dos Estados e aos interesses
liberais do Capital. Ela é tomada como a célula responsável pela educação, higiene, saúde e boa
conduta de seus membros, bem como pelo seu engajamento no trabalho e sua prosperidade
93
econômica; é indicada ainda como responsável pela poupança dos recursos que devem ajudar
o grupo familiar nos momentos necessários. Com isso, Donzelot (1977/1980) pondera que a
família se torna não apenas um ponto de apoio importante, mas também um alvo para a
recondução das normas e interesses estatais na esfera privada.
Ainda somos famílias modernas? (homenagem a Bruno Latour33)
Neste momento, devo parar as costuras que estou a fazer para colocar-me algumas
questões que podem estar rondando na cabeça dos leitores: Por que, afinal, fazer este percurso
histórico sobre a família moderna? Já não estamos vivenciando outras configurações que
tornariam seu modelo obsoleto? E mais, aborda-se um processo histórico ocorrido na Europa,
um outro continente. Não é o caso de considerar as características próprias do contexto
brasileiro? Vejamos...
* * *
Quando cheguei, o evento já tinha começado. Os convidados estavam reunidos no
jardim interno da mansão cuidadosamente preparado para recebê-los. Passei atenta entre as
mesas do fundo para não fazer nenhum barulho e atrapalhar o pronunciamento do candidato.
Assentei-me e silenciei o celular. No pequeno palco montado no jardim, o candidato esmerava-
se no discurso para lançamento de sua campanha ao senado federal. Ao fundo de sua imagem,
a chegada do pôr-do-sol entre as montanhas compunha um cenário espetacular. Penso que a
cinegrafista que filmava o evento e o chefe da campanha deveriam estar saltitantes por dentro
com um fim de tarde tão lindo como plano de fundo da fala emocionada que exibiam em uma
live no Youtube e no Instagram. Observo ainda, em uma das laterais do jardim, uma comprida
mesa que abrigava quitutes, louças e flores organizados em formatos geométricos. A toalha
sobre a mesa estava posta de um jeito que as minhas avós, se estivessem ali, certamente iriam
elogiar. A atmosfera era solene e requintada.
33 Refiro-me, em especial, às reflexões desse pensador híbrido – sociólogo, filósofo, antropólogo e educador transdisciplinar – no seu livro Jamais fomos modernos e sua proposta de realizar uma “antropologia de dentro” da cultura ocidental e seus próprios exotismos, incoerências, cisões, inconstâncias (Latour, 1994).
94
A anfitriã acompanha o discurso atenta, mas, a certa altura, vira-se discreta para mim e
me indica, com um dedo e um sorriso, a mulher loira assentada em uma cadeira próxima à
minha. Deve ser Paula, suponho, que estava a escutar o discurso balançando suavemente uma
das pernas, cruzada sobre a outra. Ali era a oportunidade combinada para conhecê-la e convidá-
la para participar com sua família desta pesquisa. Vestida com um terninho de corte elegante e
bem ajustado em seu corpo magro, com saltos altos da mesma cor da roupa e com brincos que
se destacavam no look e compunham com uma maquiagem cuidadosamente desenhada em seu
rosto de traços delicados, Paula realmente parecia cumprir o que a anfitriã havia me dito sobre
ela: “Ela é... tipo perfeita! É linda, educada, tranquila. Está sempre serena e bem humorada.
Acho que nunca a vi brava... E está sempre bem vestida, maquiada e com o cabelo impecável,
mesmo se você encontra com ela às sete da manhã! Nos conhecemos na escola dos nossos
filhos”. O rótulo da perfeição, por si só, acionou a minha atenção e aceitei a indicação.
Depois daquele evento, onde pouco consegui estar com Paula, marquei uma conversa
com ela em sua casa. Foram necessárias algumas remarcações até conseguir um horário que,
no entanto, não contaria com a presença do marido. Como ela justificou, seria difícil a
participação dele, que passava a semana toda em Brasília em suas atividades como parlamentar
no congresso nacional e que, nos fins de semana, queria apenas ficar em casa descansando.
Explica-me que a família só saia do descanso em casa nos fins de semana para ir à igreja nos
domingos à noite ou para participar de algum evento social ou familiar importante.
No dia agendado, sou recebida pela própria Paula na porta de sua casa grande e
silenciosa em um condomínio de luxo. Apenas o latido dos cachorros corta o vazio de sons.
Tenho a sensação de que as coisas ali pouco se mexem e só o fazem depois dos devidos cálculos.
Passo pela ampla garagem que, como Paula me explica, foi preparada para “virar” salão
de eventos e receber encontros da igreja, festas das crianças e outros, pois a família “gosta muito
de receber”. Paula me acompanha até a sala onde iríamos conversar, situada ao lado da garagem
e apartada da casa. Enquanto ela fala ao telefone, observo a composição muito organizada e
limpa do ambiente. Sua decoração e a luz sob medida lembram-me as imagens das revistas do
ramo.
Paula está com seus cabelos cuidadosamente penteados, saltos altos e as unhas
vermelhas. Uma maquiagem discreta destaca sua pele clara. Assentamos na mesa uma de frente
para a outra. Aceito a oferta de um copo, ou melhor, uma taça de água. Começamos a nossa
conversa e Paula me explica como conheceu e se casou com o marido Lourenço. Ele foi o seu
95
primeiro namorado, quando ela tinha 16 anos. Foi uma união “meio arrumada” entre famílias
do interior mineiro, mas que despertou o seu interesse. Casou-se com ele aos 20 anos, virgem.
Explica que às vezes as pessoas lhe dizem que ela se casou muito nova e que, por isso, não
“aproveitou a vida”, mas que, para ela, isso – casar jovem e tornar-se mãe e dona de casa – é a
aproveitar a vida: “eu amo ser mãe, ser esposa, ser dona de casa”. Ainda assim, continuou os
estudos após o casamento para conquistar a formação em um curso superior. Paula lembra que
viveu a pressão social, que ela acha ainda maior para as mulheres atualmente, de ter uma
graduação. A escolha do curso atendeu ao desejo do pai, que queria que ela estudasse e se
formasse para seguir os negócios da família. O sonho do pai tornou-se o dela, como me conta,
até que, logo após a formatura, engravidou de seu primeiro filho e acabou por não seguir a
profissão, nem trabalhar com o pai. Com orgulho afirma que o casamento já tem quase duas
décadas de uma união que “está melhor a cada dia”.
Ao longo da conversa, escuto em detalhes uma rotina familiar que começava às cinco
da manhã, com a meditação de Paula para o encontro com Deus. Às seis, começavam suas
atividades. Primeiro, acordava os três filhos, cujas idades estavam em 10, 13 e 15 anos, para se
arrumarem e irem para a escola. Sua dinâmica diária, com o marido em outra cidade, envolvia
acompanhar as tarefas escolares e estudos das crianças; realizar atividades físicas, bem como
acompanhar as dos três filhos; cuidar da saúde (com consultas médicas, odontológicas,
checkups rotineiros) de todos; gerenciar as atividades dos quatro trabalhadores da casa na
limpeza e organização do espaço doméstico, na manutenção do jardim, no cuidado com as
roupas, na preparação das refeições. Estas deveriam “ser saudáveis”, já que os próprios filhos
pediam por “comidas fitness”, como carne grelhada e salada. Cuidava ainda dos cachorros.
Além das atividades domésticas, a rotina de Paula envolvia reuniões escolares, encontros para
almoçar com amigas e a participação em vários eventos e grupos da igreja.
Sou apresentada à rotina com seus dias e horários específicos. Devaneio por um instante
sobre a chegada do momento em que Paula vai me surpreender contando, com humor, a
ocorrência de algum desvio na programação rotineira ou um acontecimento ao acaso. Nada
disso. Ritmos, tarefas, sensibilidades, tudo está devidamente organizado e bem executado. Até
os sonhos e projetos futuros estão assim. Sonhos e projetos que, para ela e o marido, centram-
se nos filhos: que eles cresçam diante de Deus, que eles se tornem adultos bem-sucedidos
profissionalmente, que tenham caráter e que realizem casamentos bem-estruturados. Insisto em
procurar uma brecha e pergunto sobre o que ela pensa das experiências que os filhos poderiam
ter até o casamento. Paula cresce a coluna e firma os olhos em mim, explicando-me que ali era
96
um lar cristão e que, por isso, conversava muito com os filhos, levava-os a eventos de jovens
da igreja para que valorizassem, como ela, a pureza sexual. Por ela, os filhos deveriam esperar
o encontro com o(a) escolhido(a), a consumação do casamento e, aí sim, a vivência de
experiências sexuais.
Ainda que não fosse exatamente essa a minha pergunta, com a qual intencionava mais
conhecer aberturas para variados acontecimentos e encontros que não fossem previamente
muito programados, escuto Paula com todo o interesse e, devo admitir, alguma surpresa. Tinha
conhecimento de campanhas religiosas em favor da iniciação sexual apenas com o cônjuge. E
entendia os argumentos, especialmente porque eu mesma fui criada em um “lar cristão” e
acompanhei, em boa parte da minha infância e adolescência, a rotina diária de missas de uma
avó, de cultos da outra e de vários eventos religiosos das duas, além dos muitos planos delas
para que a minha vida sustentasse, como as suas, o casamento indissolúvel, a importância da
pureza e do recato das “boas moças para casar”, o empenho na escolha de um marido bem-
sucedido, íntegro e temente a Deus, bem como a realização subjetiva de ter filhos saudáveis e
bem educados. Diante de Paula, a surpresa brotava entre meus pensamentos: tinha a sensação
de ter voltado no tempo para escutar uma das lições das minhas avós que, quando as escutava
décadas atrás, já me soavam de tempos ainda mais antigos e distantes. Destes tempos que relato
neste capítulo e que apareciam ali, diante de mim, como um estranho espelho. Com efeito, o
agenciamento familiar de Paula conseguia efetuar, de forma bem eficiente, o modelo nuclear
moderno com componentes que, pensava eu, já não eram valorizados por aqui. Sua condição
socioeconômica e a maneira como conseguia reproduzir as linhas de segmentaridade desse
modelo faziam como ela fosse mesmo “perfeita”. Ao menos, nesse sentido.
Contudo, se a família de Paula é exemplar, é possível afirmar que as famílias atuais são
atravessadas, ainda que de diferentes maneiras e em graus variados, pelas linhas que compõem
a configuração familiar nucleada, patriarcal e orientada pelos valores burgueses, que permanece
como modelo hegemônico, mesmo quando consideramos suas transformações e ajustes do
início da modernidade capitalista até hoje.
Em artigo que analisa as transformações das famílias brasileiras no início do século
XXI, Kehl (2003) abre suas reflexões indicando uma das queixas que os psicanalistas mais
escutavam em seus consultórios e que se referia ao desejo de “ter uma família normal”:
Adolescentes filhos de pais separados ressentem-se da ausência do pai (ou da mãe) no lar. Mulheres sozinhas queixam-se de que não conseguiram constituir famílias, e mulheres separadas acusam-se de não ter sido capazes de conservar as suas. Homens divorciados perseguem uma segunda chance de formar uma família. Mães solteiras morrem de culpa porque
97
não deram aos filhos uma “verdadeira família". E os jovens solteiros depositam grandes esperanças na possibilidade de constituir famílias diferentes – isto é, melhores – daquelas de onde vieram. (Kehl, 2003, p. 163)
Nos primeiros anos do século XXI quando o artigo de Kehl (2003) foi publicado e
mesmo hoje, já na entrada dos anos 2020, o modelo nuclear burguês de família ainda orienta os
sonhos de união e procriação, bem como amarga as desilusões de muita gente. Como postula
Romagnoli (1996), é importante considerar a força dessa família como construção simbólica,
que emerge como parâmetro, como critério de medida de valor para as relações afetivas e
sexuais, para a definição de papeis e para o estabelecimento de hierarquias, alianças, escolhas,
o que se estende até os dias atuais. Assim, as reflexões tecidas neste capítulo intentaram dar
visibilidade a algumas das linhas que se costuraram no processo de institucionalização desse
modelo familiar. Busquei, com isso, produzir um traçado que certamente foi feito à minha
maneira, com destaques específicos, o que não significou a desconsideração de que muitos
elementos, processos e conexões (por exemplo, outras configurações familiares que existiram
e existem de forma concomitante ao formato nuclear que se sagrou dominante) acabaram por
ficar de fora do traçado feito.
Ademais, é importante ponderar o modo como as diferentes famílias concretas são
atravessadas pelo modelo nuclear moderno em suas variações. Em linhas muito gerais, gostaria
de pontuar duas possibilidades de atravessamento desse modelo: em famílias que conseguem
efetuá-lo de maneira suficientemente (o que nunca quer dizer totalmente) bem-sucedida; e
famílias que, apesar de orientarem-se e perseguirem esse modelo não conseguem, por diferentes
razões, efetuá-lo tal como gostariam. Ao marcar essas duas possibilidades, é importante frisar
que isso não exclui outros arranjos e possibilidades, nem intenta achatar as diferenças.
Quanto à família de Paula, pode-se dizer que esta consegue conformar-se ao modelo
instituído de forma suficientemente eficaz. Por outro lado, sua família não é a única e não faltam
aquelas que, ao efetuar esse modelo, endurecem ainda mais suas segmentações, procurando
coibir práticas e arranjos sociais que, ao longo do século XX e XXI, o ajustaram, por exemplo,
à valorização social dos estudos das mulheres e à independência financeira destas. Tal como o
bispo fundador de uma das mais importantes igrejas pentecostais do Brasil declarou em 2019:
a mulher não deve avançar nos estudos e conquistar uma profissão que a qualifique e ou a
remunere melhor que o esposo, pois cabe a este ser o “cabeça” da família. Ele ainda lamentou
que atualmente se ensina as mulheres para serem independentes e estudadas (Soares, 2019).
Nesse esteira, é possível citar também o movimento das #tradwifes. Iniciado no Reino Unido
98
há algumas décadas e contando atualmente com centenas de milhares de adeptas de diferentes
países nas redes sociais, as #tradwifes, que compõem grupos como o britânico The Darling
Academy34, militam pela valorização e resgate, pelas mulheres, de uma vida recatada e bem
comportada, dependente do que o homem provedor lhe concede para a gestão da casa, dedicada
ao lar, ao cuidado com os filhos e aos agrados cotidianos do marido.
O que cumpre destacar aqui é que se conformar ao modelo nuclear moderno de família
(ou a qualquer modelo), efetuando com rigor e eficiência o modo de subjetivação que ele
propõe, nunca é uma tarefa fácil. Todo modelo é, de fato, uma estratégia biopolítica de controle
social e sujeição subjetiva.
Ao final da conversa com Paula, quando eu já guardava as coisas e me preparava para
ir embora, seus dois filhos mais velhos ligam. A caçula havia chegado há pouco com sua roupa
de balé. Pelo telefone, a conversa de Paula com os filhos parece tensa; ela aumenta o tom de
voz enquanto repete, insistente, a palavra “não”. Ao desligar, e com uma respiração profunda,
ela explica-me que ficava preocupada com o excesso, pois os filhos já tinham feito atividades
físicas a tarde toda e agora, no cair da noite, queriam ir para a academia para fazer musculação.
“Eu tenho medo, porque eles ficam muito nisso... isso de manter a forma a todo custo, bulimia,
essas coisas”. Essa cena remeteu-me ao que vivenciei em uma visita a outra família, também
com recursos – financeiros e simbólicos – para sustentar sua conformação bem-sucedida ao
modelo familiar moderno-burguês. Eu participava do almoço com o casal, enquanto os filhos
comiam em seus quartos. Durante a sobremesa, quando o marido se ausenta da sala para atender
o celular, Renata confidencia-me que, por ela, comia todo o doce, mas que não podia, pois já
estava acima do peso. Pondero que ela não me parecia gorda de modo algum. Mas Renata não
se convence e comenta que preferia “se segurar” nos dias da semana. Depois, reduzindo
suavemente o volume da voz, admite que gosta de “se entupir de comer” e, por isso, começou
a usar um remédio ótimo para reduzir o apetite e ajudá-la a se conter: “muita gente tá tomando,
depois de comer muito como gostamos”. Finalmente, olhando-me como quem encontra alguma
identificação, afirma que eu também podia conseguir o remédio se quisesse, que ela me passaria
o contato de uma médica amiga sua que faz as receitas. Assim, eu poderia comprar as doses do
medicamento por cerca de R$700,00 para uns três meses, guardá-las no refrigerador e injetá-
las conforme necessário. Como não encontro o que dizer, apenas agradeço e anoto o nome do
remédio.
34 Conferir: https://www.thedarlingacademy.com/
99
Nesses duas circunstâncias, penso que boa parte dos estudos e perspectivas da psicologia
me orientaria a considerar as dificuldades individuais daquelas pessoas e ou daquelas famílias
para lidar com os limites impostos pela Lei, pela Cultura, pela Existência. Todavia, além desse
enfoque nos embates, sofrimentos, limites e questões de sujeitos e famílias individualmente
considerados, é interessante assumir que qualquer modelo é coercitivo e quanto mais suas linhas
se endurecem em segmentações rígidas, estanques e intransponíveis, mais ele acaba por
produzir mecanismos de escape, de insubordinação, de negação, mesmo que pela via do
excesso... de comida, de atividade física, de violência... Como afirmou Erving Goffman
(1961/1974) referindo-se ao funcionamento das Instituições Totais, mas que podemos ampliar
para pensar o nível molar da realidade tal como proposto por Deleuze e Guattari (1980/1996b):
“Sempre que se impõem mundos, se criam submundos” (Goffman, 1961/1974, p. 246). Em
outras palavras, não se trata de um problema somente individual e que, por isso, não deveria
ser tratado apenas como tal conforme a psicologia ainda não se cansou de fazer.
Nesse sentido, cumpre considerar também que, se esses mecanismos individuais e
coletivos de escape, insubordinação, negação amenizam as sujeições e atrapalham as ambições
normalizadoras das linhas de segmentaridade, isso frequentemente provoca reações dos
mecanismos de controle instituídos (nos sujeitos, nas famílias, nas instituições, nos aparatos
estatais) que, na modernidade, passaram a convocar as forças sanitárias (o remédio, o médico,
o psicólogo) e ou as forças judiciárias e policiais (formais e informais) para retomar a
normalidade, consertar os desviantes, punir os transgressores. Ou ainda, como a burguesia
moderna tanto sustentou: assume-se uma aparência hipócrita de normalidade, como se mesmo
diante de um corpo entupido de medicações, diante do filho bastardo e renegado pelo patriarca,
diante do abuso de álcool, outras drogas ou de exercícios físicos, entre outros, nada demais
estivesse a acontecer que merecesse ser explicitado como um drama familiar (Hobsbawm,
2009).
Além disso, conformar-se a um modelo com suas segmentações é também um exercício
moral, cujas respostas às questões colocadas pela Vida em sua complexidade devem ser
encontradas dentro dele ou a partir dele. E, por ser coercitivo, muitas vezes o modelo tem
dificuldades em promover, ao invés do julgamento moral, um preparo ético-político35 para que
os sujeitos se relacionem com a diferença como diferença, com a multiplicidade como
multiplicidade. Amparados pelas determinações, padrões, segmentações instituídas pelo
35 Para essa distinção entre moral e ética, inspiro-me nas ponderações de Deleuze (2002) a partir da filosofia monista de Espinosa (1677/2009).
100
modelo, os sujeitos têm dificuldades em encontrar (ou inventar, se necessário) respostas que
não estejam a priori em seu repertório e que poderiam ser melhores dos que as que já conhecem
para potencializar a Vida.
Em um momento da conversa com Paula, pergunto sobre o contato que sua família tem
com outras famílias, especialmente aquelas que são bem diferentes deles. Ela pensa por um
instante e recorda-se da família de uma amiga que conheceu em um grupo de oração e que
morava em um dos municípios periféricos na Região Metropolitana Belo Horizonte, em uma
situação de maior vulnerabilidade econômica. Paula e o marido a tinham ajudado a construir a
casa própria. A mulher, mãe de sete filhos, era casada com um homem que, na opinião de Paula,
era terrível: muito agressivo, espancava as filhas. “Eu não consigo entender. [...] Ela é uma
mulher nobre, sabe? Firme com Deus, temente, íntegra, honesta e vive como esse homem”.
Pergunto, então, o que ela acha que a amiga poderia fazer para sair dessa situação. Paula reflete
um pouco e me explica que a Bíblia fala que a mulher tem o direito de ficar livre se for
repudiada, mas que a Bíblia também fala muito a favor do casamento e que Jesus ensina o
perdão. “Eu não sei... caso difícil de analisar. Eu fico querendo que ele morra!”. Seguro meus
olhos que querem arregalar e contenho minhas mãos que, no susto, já começavam a fazer o
Sinal da Cruz. Sei que sua resposta é uma saída, uma saída inclusive sustentada pelas lógicas
cristãs que se enlaçaram ao capitalismo moderno: dizendo de um jeito brasileiro popular, “só
Deus na causa” para definir os destinos dessa família e dar uma solução correta para o caso.
Todavia, não consigo deixar de me perguntar se essa solução transcendental, por assim dizer,
efetivamente resolve o problema, ou se apenas o invisibiliza, contribuindo para a dissimulação
das lacunas, das falhas, das contradições do modelo instituído, que demandariam o encontro
com novas respostas para uma solução eticamente orientada para a Vida.
É preciso dizer, ademais, que existem muitas famílias que não têm condições materiais
e simbólicas para se conformar suficientemente bem ao modelo hegemônico de família. Em
outras pontas do diagrama das forças sociais, separadas pelos fossos construídos por
segmentações de classe, de gênero, de raça etc., suas vidas são marcadas por outras urgências
e necessidades, ainda que persigam a concretização desse modelo. Como no caso de Isabela,
referida no início deste capítulo, que acabou por implementar, de uma forma um tanto distorcida
e violenta, traços, padrões, discursos, relações hierárquicas da família nuclear moderna.
Muitas famílias veem-se, com efeito, distantes das possibilidades concretas de efetuar,
por exemplo, a figura feminina da “legítima #tradwife” como descrita acima, mesmo se assim
o desejam. O sonho da “Rainha do Lar” não é exclusivo de mulheres que podem concretizá-lo;
101
ele está difundido inclusive, e mesmo que de modo muito sutil, entre muitas mulheres que
trabalham fora de casa. Mulheres que frequentemente acabam por realizar uma dupla jornada
de trabalho (dentro e fora do lar) recheadas de culpa, frustração, agressividade e exaustão diante
de sua impossibilidade concreta de se dedicar “devidamente” à criação dos filhos, aos afazeres
do lar ou aos cuidados consigo mesma para se manter desejável para o marido. Essas mulheres
são atravessadas por valores sociais que persistem até hoje e que, conforme assinala Rago
(2004), estavam presentes na moralidade social brasileira no início do século XX:
O que mais chama a atenção quando tentamos visualizar o passado da mulher trabalhadora não é o discurso de vitimização, tão enfático e recorrente na imprensa operária –que procurava, em geral, “formar” o trabalhador, conscientizando-o e chamando-o para a luta revolucionária. O que salta aos olhos é a associação frequente entre a mulher no trabalho e a questão da moralidade social. No discurso de diversos setores sociais, destaca-se a ameaça à honra feminina representada pelo mundo do trabalho. Nas denúncias dos operários militantes, dos médicos higienistas, dos juristas, dos jornalistas, das feministas, a fábrica é descrita como “antro da perdição”, “bordel” ou “lupanar”, enquanto a trabalhadora é vista como uma figura totalmente passiva e indefesa. Essa visão está associada, direta ou indiretamente, à vontade de direcionar a mulher à esfera da vida privada. [...] Muitos acreditavam, ao lado dos teóricos e economistas ingleses e franceses, que o trabalho da mulher fora de casa destruiria a família, tornaria os laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as crianças cresceriam mais soltas, sem a constante vigilância das mães. As mulheres deixariam de ser mães dedicadas e esposas carinhosas, se trabalhassem fora do lar; além do que um bom número delas deixaria de se interessar pelo casamento e pela maternidade. (Rago, 2004, p. 489)
Nesse cenário e até hoje, há (muitas) mulheres que, diante das exigências ou mesmo do
desejo de realizar trabalhos remunerados fora de casa, vivem essa realidade com a sombra da
culpa a rondar seus corpos, sua sensibilidade, suas relações, respaldando-se, para tanto, na
referência subjetiva da Mulher tal como construída pelo modelo capitalista burguês. É ainda
um exercício minoritário de mulheres e homens que compreendem e praticam os laços
familiares, bem como as tarefas de dentro e fora de casa de outras maneiras, procurando
construir novas possibilidades afetivas para si, para os filhos, para seus arranjos familiares.
Exercício que precisa lidar (especialmente ele) com as resistências, os boicotes, as forças sociais
e subjetivas que emergem contra si.
Por fim, é certo que o contexto brasileiro possui suas especificidades e sua história que,
de diferentes maneiras, se desloca da história da família nuclear dos “países desenvolvidos”.
Suas características perpassaram o processo de seu ingresso no “mundo civilizado” ocidental
moderno e envolvem os contornos próprios desta nação mesmo agora em que vivenciamos um
“capitalismo mundial integrado” conforme termo cunhado por Guattari (1986).
102
De uma maneira geral, o marco inicial da história do Brasil (e das famílias brasileiras)
é a chegada da expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500 no continente e
a instauração da Colônia nestas terras. Se não havia uma história brasileira – sequer o nome
Brasil – à maneira da historiografia moderna antes da colonização portuguesa, havia certamente
gente, famílias e muitas histórias por aqui... E esse é também um aspecto a considerar quando,
a seguir, abordo o descobrimento do Brasil e algumas das especificidades históricas, culturais,
subjetivas de suas famílias.
104
Capítulo 4
DESCOBRIR O BRASIL
Uma viagem pela(s) América(s)
Meu queixo cai à medida que me aproximo daquele tanto de azul. Acho que nunca vi
um lago desta cor, rodeado por uma paisagem que parecia estar ali olhando as lhamas e outros
animais há muito, muito tempo. Em minha boca semiaberta entra o vento frio do altiplano; ele
faz um rodopio sobre a língua e alcança os dentes que se incomodam com o choque térmico.
Lembro-me que estamos em janeiro, na região tropical da América do Sul, ainda assim
mantenho as mãos dentro das luvas. Olho em volta e pondero que as pessoas dali pouco
conhecem de verão, ao menos, do verão de poucas roupas, das testas brilhantes pelas gotículas
de suor, do vento que parece o sopro morno de um grande deus.
Nesta beira de lago homens e mulheres têm os rostos redondos e a pele de um marrom
avermelhado como jambo. Seus olhos acompanham um contorno que lembra amêndoas. Seus
cabelos negros e lisos dançam com o vento, quando não estão arrumados em longas tranças e
sob um chapéu, à moda de muitas mulheres locais. Demoro-me a observar duas senhoras
assentadas sobre uma mureta com suas saias vermelhas; chapéus redondos equilibram-se
pendidos para um lado em suas cabeças, enquanto seus dorsos estão protegidos por mantas
bordadas com muitas cores.
Penso, com uma ponta de nostalgia doída, que ali ainda existiam indígenas, povos
originários que transitavam pelas ruas da cidade de Copacabana, em uma das margens do rio
Titicaca na Bolívia. Nessa outra Copacabana, diferente da praia de mesmo nome que eu estava
acostumada a frequentar no coração do Rio de Janeiro no Brasil – uma metrópole apressada e
orgulhosa de sua modernidade, que pouco conta sobre seus habitantes mais antigos –, fiz este
sonho de olhos abertos e com coração tão magoado quanto ingênuo, um sonho de que em algum
lugar das Américas a vida ainda restava livre da colonização.
É certo que o sonho durou pouco. O tempo suficiente para a chegada de outros turistas
(além de mim) que fizeram com que as duas senhoras pulassem da mureta e fossem oferecer
aos recém-chegados para posarem em fotos com eles, em troca de algum dinheiro. Quanto a
105
mim, foi somente tempos depois que consegui algum consolo nas palavras de Claude Lévi-
Strauss. Em seus Tristes Trópicos, esse antropólogo pondera sobre a impossibilidade de sua
ambição de encontrar terras virgens em que um outro mundo ainda existisse, além do mundo
moderno ocidental que, afinal, tornou-se globalizado. “Não há mais nada a fazer: a civilização
já não é essa flor frágil que se preservava, que se desenvolvia a duras penas em certos recantos
abrigados de um torrão rico em espécies rústicas [...] A humanidade instala-se na monocultura;
prepara-se para produzir civilização em massa” (Lévi-Strauss, 1955/2000, p. 35). Conta-nos,
nesse sentido, sua experiência em Lahore, no Paquistão, um local que, em meados do século
XX, ainda permanecia “envolto em prestígios pela lenda”:
Um quilômetro de avenida conduz a uma praça de vilório de onde partem outras avenidas margeadas por raras lojas: farmacêutico, fotógrafo, livraria, relojoeiro. Prisioneiro dessa vastidão insignificante, meu objetivo já me parece inatingível. Onde está esse velho, esse verdadeiro Lahore? [...] Irei por fim agarrá-lo nessas ruelas sombrias onde devo encostar-me nas paredes para dar passagem aos rebanhos de carneiros com a lã tingida de azul e rosa, e aos búfalos - cada um do tamanho de três vacas - que nos empurram amáveis, mas, com frequência maior ainda, aos caminhões? [...] Também de vez em quando, é verdade, por alguns segundos, por alguns metros, uma imagem, um eco vêm à tona do fundo das eras: na ruela dos bate-folhas de ouro e de prata, o carrilhão plácido e límpido que produziria um xilofone tocado distraidamente por um gênio de mil braços. Saio dali para logo cair em vastos traçados de avenidas que cortam de maneira brutal os escombros (devidos aos tumultos recentes) de casas de quinhentos anos, mas tantas vezes destruídas e reformadas que sua inefável vetustez não tem mais idade. (Lévi-Strauss, 1955/2000, p. 35).
É preciso admitir que, no Paquistão ou na Bolívia, e mesmo para os povos indígenas
amazônicos mais preservados do contato com o “homem civilizado”, o mundo acabou por
tornar-se um só, descoberto pelo capitalismo moderno. Mas tal globalização ao mesmo tempo
econômica e cultural não foi uma tarefa fácil, como diriam os jesuítas que primeiro aportaram
nas Américas. Houve (e ainda há) uma parcela de mundo, um conjunto de linhas, um bocado
de afetos e sonhos que não cessam de procurar outros contornos, conexões, produções que
acabam por resistir, por distender, por abrir brechas, por inventar em meio a esse mundo
globalizado. Há sempre toda uma micropolítica que flexibiliza as segmentações e há ainda as
linhas de fuga, como diriam Deleuze e Guattari (1980/1995), mesmo quando se exige a
conformação, a obediência e o silêncio. Na mesma Copacabana boliviana que conheci no início
dos anos 2000 narra Eduardo Galeano (1982/2011) em suas Memórias do Fogo um
acontecimento passado em 1583:
(...) A chuva metralha a multidão que se reuniu para recebê-los. Francisco Tito Yupanqui entra com ela no santuário e a descobre. A sobem ao altar. Do alto, a Virgem de Copacabana abraça todos. Ela evitará as pestes e as penas e o mau tempo de fevereiro. O escultor índio talhou-a em Potosí e de lá ele a trouxe. Quase dois anos esteve trabalhando para que ela nascesse com a devida formosura. Os índios só podem pintar ou talhar imagens que imitem os modelos europeus
106
e Francisco Tito Yupanqui não pretendeu violar a proibição. Ele se dispôs a fazer uma virgem idêntica à Nossa Senhora da Candelária, mas suas mãos modelaram este corpo do altiplano, amplos pulmões ansiosos de ar, torso grande e pernas curtas, e esta larga cara de índia, de lábios carnudos e olhos amendoados que olham, tristes, a terra ferida. (p. 229)
* * *
Não é possível isolar o processo de institucionalização do capitalismo na Europa do que
se passou nas Américas com a chegada dos europeus e a colonização que estes aqui
implementaram. Como assinala Federici (2017), nos dois continentes “[...] populações inteiras
foram expulsas de suas terras pela força, houve um empobrecimento em grande escala e
campanhas de ‘cristianização’ que destruíram a autonomia das pessoas e suas relações
comunais” (p. 380). Em alguma medida, é possível aventar a hipótese de que, antes de colonizar
as Américas, uma espécie de colonização e de assujeitamento já se processava no coração da
Europa com o crescimento das lógicas do Capital.
No caso das Américas, contudo, há um contundente choque de mundos com a chegada
dos europeus nessas terras. Lévi-Strauss (1955/1988) narra uma anedota sobre a dúvida que
acometeu tanto os nativos americanos quanto os recém-chegados europeus sobre a humanidade
do outro – europeu ou índio – com quem se deparavam pela primeira vez. Os colonizadores
espanhóis enviaram, durante as primeiras décadas de 1500, comissão atrás de comissão com o
objetivo de determinar a natureza dos índios. Enquanto isso, os índios de Porto Rico se
empenhavam em capturar brancos e submergi-los em água até a morte e, nas semanas seguintes,
vigiar os corpos dos afogados para saber se iriam ou não entrar em estado de putrefação. Dessas
duas estratégias de investigação sobre a natureza do outro, Lévi-Strauss (1955/1988) considera
que “os brancos invocavam as ciências sociais, enquanto os índios confiavam mais nas ciências
naturais; e enquanto os brancos proclamavam que os índios eram animais, estes se contentavam
em suspeitar que os primeiros eram deuses”. E o antropólogo conclui com uma dose de ironia:
“a ignorância igual, o último procedimento era certamente mais digno de homens” (p. 78,
tradução minha).36
Viveiros de Castro (2015) retoma essa anedota para destacar que Lévi-Strauss viu nesse
“conflito de antropologias” o fato “[...] de que uma das manifestações típicas da natureza
36 “Los blancos invocaban las ciencias sociales, mientras que los indios confiaban más en las ciencias naturales; y en tanto que los blan cos proclamaban que los índios eran bestias, éstos se conformaban con sospechar que los primeros eran dioses. A ignorancia igual, el último procedimiento era ciertamente más digno de hombres”.
107
humana é a negação de sua própria generalidade. Uma avareza congênita, que impede a
extensão dos predicados da humanidade à espécie como um todo, parece ser justamente um
desses predicados” (p. 35). Ele prossegue, a partir da conclusão irônica de Lévi-Strauss,
arrematando que “[...] a despeito de uma igual ignorância a respeito do outro, o outro do Outro
[do índio] não era o mesmo que o outro do Mesmo [o europeu]” (p. 36).
Quanto aos europeus que, no fim das contas, sagraram-se, entre os ignorantes a respeito
do outro, aqueles que venceram na imposição de sua cosmovisão, vale destacar que essa
cosmovisão tem, em grande medida, seu berço no que Federici (2017, p. 383), acompanhando
as reflexões de Seymour Philips, chama de “sociedade persecutória” da Europa medieval, “[...]
alimentada pelo militarismo e pela intolerância cristã, que olhava o ‘Outro’ principalmente
como objeto de agressão”. A consideração de que o outro indígena era um animal, uma besta
selvagem, um canibal, um ser oriundo de uma raça monstruosa ou um adorador do diabo
perpassava “modelos etnográficos” a partir dos quais os europeus ingressaram no Novo Mundo,
modelos que proporcionaram “[...] o filtro com que missionários e conquistadores interpretaram
as culturas, as religiões e os costumes sexuais da população que encontraram”. Além disso,
ao definir as populações indígenas como canibais, adoradores do diabo e sodomitas, os espanhóis respaldaram a ficção de que a Conquista não foi uma busca desenfreada por ouro e prata, mas uma missão de conversão — uma alegação que, em 1508, ajudou a Coroa espanhola a obter a benção papal e a autoridade absoluta da Igreja na América. Tal alegação também eliminou aos olhos do mundo, e possivelmente dos próprios colonizadores, qualquer sanção contra as atrocidades que pudessem cometer contra os índios. (Federici, 2017, p. 383)
Lévi-Strauss (1955/1988) relata que, em uma célebre comissão espanhola para analisar
a natureza dos índios – a dos monges da Ordem de São Jerônimo – os colonos responderam um
questionário sobre sua opinião a respeito da capacidade dos índios de viverem por si mesmos.
Todas as respostas foram negativas. O testemunho de Ortiz, diante do Conselho das Índias em
1525, é esclarecedor sobre essa opinião geral de “[...] que os índios comem carne humana; que
não têm justiça; que andam nus, comem pulgas, aranhas e vermes crus... Não têm barba e, se
por uma casualidade elas crescem, apressam-se em cortá-las” (Ortiz apud Lévi-Strauss,
1955/1988, p. 77, tradução minha) 37. A conclusão a que chegaram as comissões dos
colonizadores foi a de que, para os índios, melhor seria tornarem-se homens escravizados a
permanecerem animais livres e irracionais. Nesse sentido, diante dos esforços de Frei
37 “Señalando que los indios comen carne humana, no tienen justicia; van completamente desnudos, comen pulgas, arañas y gusanos crudos... No tienen barba, y, si por casualidad les crece, se apresuran a cortársela”.
108
Bartolomeu de Las Casas e sua histórica luta pela dignidade dos indígenas, o que envolvia
suprimir os trabalhos forçados a que eles estavam sendo submetidos, muitos colonos
mostravam-se mais surpresos do que revoltados, sem entender por que os índios não podiam
servir-lhes como bestas de carga (Lévi-Strauss, 1955/1988).
Mesmo quando se considera que durante a colonização, especialmente em seus
primórdios, difundiu-se de forma paralela à “visão negativa” sobre os índios, uma visão mais
otimista que os descrevia como seres inocentes, generosos e acostumados a viver sem muitas
exigências laborais, ainda assim é preciso considerar a incapacidade dos europeus em
reconhecer os índios como seres humanos, os quais deveriam passar por um processo de
conversão civilizatória aos moldes cristãos e dentro das lógicas da nascente sociedade
capitalista moderna. Deveriam mudar seus nomes, vestir seus corpos, abdicar de seus deuses,
práticas religiosas e rituais, abandonar seus costumes sexuais, submeter-se ao batismo,
compreender o pecado, aprender a culpa, assumir o valor do trabalho árduo, mesmo se o
trabalho a ser feito era alheio às suas necessidades e era exercido em favor do enriquecimento
de outrem.
E ainda nos casos em que havia a pretensão dos europeus de firmar uma parceria com
os índios, a imposição dos valores dos primeiros deveria sustentar a relação (e hierarquização)
de poder. Eleanor Leacock (1981/2019) resgata uma experiência ocorrida com os Montagnais-
Naspaki, um povo nativo do vale do rio São Lourenço no Canadá, a partir do diário do padre
Paul Le Jeune, um missionário jesuíta investido em cristianizar os nativos da “Nova França”.
Desde o século XVI, o povo Montagnais vinha sendo assediado pelos europeus que chegaram
com a colonização e queriam colocá-los como parceiros para a caça e comércio de pele,
especialmente a pele de castor muito usada na fabricação de chapéus na Europa. Em 1632, os
franceses firmam-se como os colonizadores da região, expulsando os ingleses e estabelecendo
seu trabalho missionário sob a liderança de Le Jeune.
Leacock (1981/2019) relata que Le Jeune ficou chocado com o modo de vida dos
Montagnais, que eram nômades e priorizavam os vínculos coletivos; que não possuíam uma
organização política hierarquizada, nem uma autoridade centralizada de comando, distribuindo
as tarefas e responsabilidades entre homens e mulheres que as exerciam com boa autonomia;
que não educavam suas crianças através do castigo e da punição das desobediências e erros,
tratando-as de forma muito amorosa; que possuíam relações conjugais mais livres, podendo
divorciar-se caso algum dos parceiros assim desejassem e podendo, homens e mulheres, ter
relações sexuais com outros antes e depois do casamento. Em um dos relatos de seu diário, o
109
missionário conta um diálogo que teve com um Montagnais, no qual é possível observar o
choque entre modos de subjetivação tão diversos:
Eu disse a ele que não era honrável para uma mulher amar outro homem salvo seu marido e que estando esse pecado entre eles, ele mesmo não saberia com segurança que o filho que estava ali presente era, de fato, seu. Ele, então, respondeu: “Vocês não têm juízo. Vocês, franceses, amam apenas seus próprios filhos, mas nós amamos todas as crianças de nossa tribo.” Eu comecei a rir, percebendo que ele filosofava à moda dos cavalos ou das mulas. (Le Jeune apud Leacock, 1981/2019, p. 87).
Le Jeune investe em um programa para “civilizar os Montagnais”, estabelecendo quatro
pontos fundamentais para que esse povo se tornasse “educado no conhecimento de Deus”:
realizar um assentamento permanente dos índios e abolir sua vida nômade; formar um chefe
masculino principal para a tribo que fosse reconhecido como tal; conseguir educar as crianças
à moda francesa, retirando-as dos “costumes selvagens”; instituir a estrutura familiar europeia,
com a autoridade masculina, a monogamia, a fidelidade feminina e a eliminação do divórcio.
Leacock (1981/2019) destaca que o processo de conversão dos Montagnais aos valores
cristãos e às lógicas europeias conseguiu ser, em boa medida, bem-sucedido, promovendo uma
crescente distância entre os índios que se tornavam catequizados e os “não convertidos” que se
mantinham fieis aos seus saberes e a seu modo de vida tradicional e eram cada vez mais
perseguidos por isso. Para a antropóloga, o assédio dos comerciantes de pele, que ofereciam
aos índios mercadorias, utensílios, armas e bebidas alcóolicas até então inexistentes nas
Américas em troca de sua dedicação e parceria para a produção e o estoque de peles a serem
levadas para a Europa foi muito importante nesse processo. Isso permitiu a infiltração das
lógicas da economia de mercado em um sistema produtivo que funcionava para fins da
subsistência de todo o grupo, provocou a incitação e o consequente aumento de guerras,
introduziu o uso (e o abuso) de álcool. Esse novo cenário acabou por fragilizar práticas
ancestrais de cooperação e liberdade, por corromper os valores dos montagnais-naskapi e a ética
interpessoal bem como a partilha de tudo o que os grupos produziam entre seus membros. Além
disso, a introdução dos comerciantes e missionários no cotidiano dos nativos trouxe o terrível
flagelo causado por doenças até então desconhecidas por estes.
É possível dizer que, junto com sua visão de mundo, seus interesses econômicos e sua
ambição de ocupar as terras ameríndias exercendo nestas sua soberania política, os
colonizadores disseminaram por todo o continente o adoecimento e a morte através de uma
gama de enfermidades infectocontagiosas, como a varíola, a tuberculose, a catapora, o sarampo,
a caxumba, para as quais as populações indígenas não tinham defesa imunológica e se tornaram,
110
por isso, extremamente vulneráveis. No contexto colonial, a alta mortalidade dos nativos era
explicada “racionalmente” pelos colonizadores que a concebiam como um castigo de Deus
pelos comportamentos selvagens, promíscuos, demoníacos e pelas crenças bestiais dos índios,
o que só reforçava seu empenho de subjugação, escravização e conversão dos indígenas
(Federici, 2017).
As estatísticas e as conclusões dos historiadores variam até hoje sobre o número de
habitantes nas Américas antes da chegada dos europeus e do percentual de nativos que
morreram a partir da colonização – adoecidos, assassinados ou mesmo suicidando-se diante da
“nova vida” que lhes era imposta. David Stannard (1992) considera que houve um verdadeiro
holocausto nas Américas.
Dentro de não mais que um punhado de gerações desde seu primeiro encontro com os Europeus, a vasta maioria das pessoas nativas do Hemisfério Oeste havia sido exterminada. O ritmo e a magnitude de sua eliminação variou entre os lugares e ao longo do tempo, mas há anos demógrafos da história têm descoberto, em sucessivas regiões, taxas de decrescimento populacional pós-Colombiano entre 90 e 98% com tal regularidade que, no geral, um declínio de 95% tornou-se uma regra prática. (...) A destruição dos Índios das Américas foi, de longe, o maior ato de genocídio da história mundial. (Stannard, 1992, Prologue, p. X, tradução minha)
38
E após os primeiros tempos da colonização nas Américas, as políticas de parceria e de
maior tolerância com índios “socializados” foi sendo abandonada e cada vez mais substituída
por políticas de imposição violenta e de forte discriminação étnica. Federici (2017) assinala
que, à medida que a Conquista avançou, houve um endurecimento das relações, deixando de
haver espaço para acordos e negociações que abrandassem o peso das imposições dos
colonizadores e da destruição sobre os modos de existir dos nativos e sobre a própria vida dos
que, entre estes, procuravam resistir. Cumpre destacar que, ainda assim, as populações nativas
resistiram (e ainda resistem) de muitas maneiras à colonização e às lógicas capitalistas que lhes
foram impostas.
No Brasil, com a chegada dos portugueses, o destino das populações nativas não foi
diferente do extermínio, da escravização e da obstinada luta dos europeus, especialmente os
38 Within no more than a handful of generations following their first encounters with Europeans, the vast majority of the Western Hemisphere's native peoples had been exterminated. The pace and magnitude of their obliteration varied from place to place and from time to time, but for years now historical demographers have been uncovering, in region upon region, post-Columbian depopulation rates of between 90 and 98 percent with such regularity that an overall decline of 95 percent has become a working rule of thumb. (...) The destruction of the Indians of the Americas was, far and away, the most massive act of genocide in the history of the world.
111
religiosos, por sua conversão cristã e, com isso, sua “humanização” como ocorreu no restante
do continente americano. É certo, por outro lado, que nas diferentes regiões das Américas os
povos indígenas possuíam características próprias (os modos de vida eram muito diferentes nas
populações que viviam nos Estados imperiais Inca e Maia dos modos das populações indígenas
nômades que habitavam os territórios que hoje são Brasil e Paraguai, por exemplo) e mesmo
em uma mesma região não é possível ignorar a heterogeneidade de seus habitantes e modos de
vida. Além disso, o próprio processo de colonização teve suas diferenças e especificidades nas
diversas partes do continente.
Se o processo de colonização capitalista moderno, em suas segmentações econômicas,
políticas, culturais, subjetivas, cobriu como uma nuvem de gafanhotos os territórios e as vidas
do que se chamou (do que os europeus chamaram) de América, conforme esse breve sobrevoo
procurou indicar, é importante frisar que se tratou de colonizar Américas (e Áfricas e Ásias e
Oceanias, além dos próprios povos europeus...). Ou seja, e para lembrar as propostas
decoloniais de Aníbal Quijano (1993), em cada condição específica o processo de colonização
se colocou de maneira distinta, ainda que seja contra todas as formas de exploração e de
dominação que se deva lutar.
desCobrir terras e corpos
Conta-nos Darcy Ribeiro (1995/2014) que o litoral do que, em seguida, foi chamado
Brasil, presenciou o encontro de dois mundos. Para os nativos, que receberam a chegada dos
navios europeus como um acontecimento espantoso, o mundo era uma dádiva de deuses bons,
rico em recursos para a pesca, para a caça, para o plantio de todos aqueles que aqui chegassem;
era um lugar em que se podia fruir e viver com honra e generosidade, em que se podia admirar
a beleza de existir. Já para os recém-chegados da longa jornada ultramar a vida era permeada
de tarefas e obrigações que exigiam muito trabalho: fosse em nome da rendição de seus pecados
e do peso que carregavam pela culpa de uma vida marcada irremediavelmente pela perdição,
fosse em nome do lucro e do que consideravam prosperidade – uma acumulação de metais
preciosos, bens, propriedades e poder em relação a outras pessoas. Aos olhos desses recém-
chegados, os índios e as índias, com sua beleza e vigor, “[...] tinham um defeito capital: eram
vadios, vivendo uma vida inútil e sem prestança. Que é que produziam? Nada. Que é que
amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse
112
viver” (Ribeiro, 1995/2014, p. 41). Ainda assim, diversas alianças começaram a ser firmadas
entre os nativos e os recém-chegados. Ribeiro (1995/2014) indica a importância do que chama
cunhadismo nas primeiras décadas da colonização. O cunhadismo era uma prática indígena de
construção de vínculos familiares. Ela consistia na criação de laços de parentesco com um
homem externo através de seu casamento com uma das mulheres do grupo. Ao se casar, o
homem se aparentava como todo o grupo, ganhando pais, sogros, irmãos, cunhados, filhos e
genros – homens e mulheres que se tornavam, assim, seus parentes. Muitos europeus que
chegaram na costa brasileira firmaram casamentos e tornaram-se cunhados dos índios. Como
era possível, dentro das tradições indígenas, que um homem realizasse vários casamentos, estes
funcionaram para os europeus “[...] como uma forma vasta e eficaz de recrutamento de mão de
obra para os trabalhos pesados” (p. 73), trabalhos que serviam à exploração dos recursos
naturais, sua estocagem e proteção antes de serem exportados para a Europa. Para os índios,
seus cunhados europeus eram uma fonte de ferramentas de metal, adornos, espelhos e outras
mercadorias que eram consideradas bens preciosos pelos nativos.
O cunhadismo foi fundamental, segundo Ribeiro (1995/2014), para o primeiro momento
da criação do Brasil, porque permitiu que os primeiros (e poucos, em comparação com o
número de nativos) europeus que chegaram estabelecessem uma rede de apoio dos índios,
produzissem “criatórios de gente mestiça” e firmassem os primeiros assentamentos coloniais.
Contudo, as alianças entre europeus e indígenas através desse relação de parentesco diminuíram
com o tempo. Com efeito, essas alianças começaram a ameaçar a hegemonia portuguesa nas
terras recém-conquistadas, visto que os índios se aparentavam também com outros europeus,
como franceses e espanhóis, que começaram a configurar importantes redes de aliança e
criatórios de gente franco-indígena ou hispânico-indígena no Brasil. Além disso, o interesse
dos indígenas em aparentar-se com os europeus foi diminuindo à medida que seu desejo pelas
mercadorias ofertadas por estes tornava-se menor, ao mesmo tempo que aumentavam as
exigências para o trabalho requerido pelos cunhados estrangeiros e seus choques culturais. E
ainda, essas alianças causavam horror nos missionários que começaram a chegar na segunda
metade do século XVI, uma vez que envolviam a assunção e prática, pelos europeus, de muitos
dos hábitos e costumes indígenas. Sobre João Ramalho, um famoso cunhado português dos
índios, o chefe da primeira missão jesuíta no Brasil, Manuel da Nóbrega, escreve: “Tem muitas
mulheres. Ele e seus filhos andam com irmãs e têm filhos delas, tanto o pai como os filhos. Vão
à guerra como índios e suas festas são de índios e assim vivem andando nus como os mesmos
índios” (Nóbrega apud Ribeiro, 1995/2014).
113
Nesse cenário, a Coroa portuguesa decidiu, para preservar seu domínio, dividir as terras
brasileiras em capitanias a partir de 1532, doadas a grandes senhores portugueses, agregados
ao trono e com fortuna para implementar o povoamento e incrementar a produção da colônia.
Pouco depois, no entanto, insatisfeita com os variados destinos das províncias formadas,
algumas tendo fracassado, a Coroa decide implantar um Governo Geral. O primeiro
governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, chegou em 1549, trazendo mais de mil pessoas, a
maioria degradados condenados a sair de Portugal. Com ele vieram ainda os jesuítas.
Com a implementação das capitanias e com a chegada do governador-geral, há um
aumento da escravização dos índios, inclusive das mulheres indígenas. Todavia, mesmo
escravizadas, o ventre dessas mulheres manteve-se uma importante fonte de gestação da gente
brasileira mestiça, visto que quase não vieram mulheres solteiras da metrópole para se casar e
formar família com os homens “bons e ricos” que aqui se firmavam. “Essas pouquíssimas
portuguesas pouco papel exerceram na constituição da família brasileira” (Ribeiro, 1995/2014,
p. 79). Assim, seja pelo estabelecimento do cunhadismo, seja pela escravização e uso sexual
das índias, ou mesmo em outros arranjos, elas foram responsáveis por gestar “[...] uma vasta
prole mestiça, que viria a ser, depois, o grosso da gente da terra” (Ribeiro, 1995/2014, p. 49).
Do ponto de vista dos índios, logo após a chegada das primeiras naus de europeus, eles
apostaram em um contato pacífico e generoso com aquelas outras gentes de além-mar.
Entretanto, pouco depois perceberam que os recém-chegados ambicionavam ocupar suas terras,
destruir seus costumes e usá-los como animais de carga, escravizando-os para os trabalhos sob
o mando dos colonos ou subjugando-os para sua cristianização nas mãos dos missionários
religiosos. Do outro lado, os jesuítas que aqui aportaram louvavam o heroísmo lusitano contra
os povos indígenas. Ribeiro (1995/2014) cita um trecho do poema De Gestis Mendi de Saa,
escrito em 1560 pelo Padre Anchieta, que assim descreve a bravura de Mem de Sá,
administrador colonial enviado pela Coroa portuguesa:
Quem poderá contar os gestos heroicos do Chefe À frente dos soldados, na imensa mata: Cento e sessenta as aldeias incendiadas, Mil casas arruinadas pela chama devoradora, Assolados os campos, com suas riquezas, Passado tudo ao fio da espada. (Anchieta apud Ribeiro, 1995/2014, p. 45)
Ribeiro (1995/2014) pondera, no entanto, que “apesar do projeto jesuítico de
colonização do Brasil nascente ter sido formulado sem qualquer escrúpulo humanitário, tal foi
114
a ferocidade da colonização leiga que instalou, algumas décadas depois, um sério conflito entre
os padres da Companhia [de Jesus] e os povoadores dos núcleos agrário-mercantis” (p. 48).
Também as doenças vindas com os europeus contribuíram para produzir um enorme
decrescimento populacional entre os nativos. Os missionários passaram, com isso, a ver a
população indígena em declínio, escravizada e em sofrimento como “[...] criaturas de Deus e
donos originais da terra, com direito a sobreviver se abandonassem suas heresias para se
incorporarem ao rebanho da Igreja” (p. 49). Tal incorporação envolvia ingressar nos
aldeamentos39 ligados às missões jesuítas. Mas, ao retirar os índios de suas aldeias e concentrá-
los nas missões, negando-lhes a prática de seus costumes, exigindo que trabalhassem para os
padres ou servissem nas guerras contra os índios hostis, os jesuítas acabaram por se tornarem
ainda mais letais para os indígenas, ao vitimá-los com as pragas que eles próprios, ainda que
sem intenção, transmitiam aos nativos concentrados (Ribeiro, 1995/2014).
Se a Coroa portuguesa, autoproclamada dona das terras brasileiras, apoiou formalmente
os missionários e seu engajamento religioso, por outro lado, ela nunca impediu que os colonos
investissem em “guerras justas” contra índios hostis, arredios ou apenas resistentes à
evangelização para escravizá-los, já que estes persistiam em manter-se como “bestas
selvagens”. Como acrescenta Ribeiro (1995/2014), após dois séculos de colonização, quando
os conflitos entre colonos e jesuítas se intensificaram e os aldeamentos destes permaneciam
apartados dos interesses comerciais da Coroa para a colônia, Portugal decidiu acabar com as
missões e retirar os padres jesuítas do Brasil. Os padres repassaram, então, a coordenação das
missões aos colonos ricos ligados ao então Secretário de Estado do Reino português, Marquês
de Pombal, deixando os índios nas mãos dos grandes donos de terra e de suas lógicas mercantis-
exploratórias.
Pombal instituiu uma nova política para os índios, fundamentando-a em sua avaliação
de que os índios permaneciam “selvagens” e apartados da cultura colonial, em razão do
isolamento dos aldeamentos e aldeias promovidos pelas missões jesuítas. Sancionou, assim,
uma série de medidas com intuito de absorver os índios nas lógicas, práticas e valores que
sustentavam a colonização, dentre elas, os incentivos aos enlaces matrimoniais mistos entre
índios e portugueses: “Pelo alvará de 4 de abril de 1755 firmou-se o compromisso de que os
contraentes e descendentes das uniões com os índios, além de estarem livres de ‘infâmia’,
39 Como explica Anziolin (2013), a partir de uma tradição historiográfica que remonta ao século XIX, o termo “aldeamento” refere-se a ocupações que mantiveram e ou mantém relações com missionários religiosos e com as tradições coloniais; o termo “aldeia” refere-se às povoações propriamente indígenas.
115
ficavam habilitados a receber terras, empregos e outras honrarias” (Moreira, 2015, p. 18). A
política pombalina impôs ainda o uso geral da Língua Portuguesa e procurou intensificar o
comércio e ampliar as prestações de serviços dos índios para a produção colonial portuguesa.
Definiu também a abertura e disponibilização de terras indígenas para contratos de
aforamento40, firmando vilas e freguesias nos antigos aldeamentos. O objetivo dessas medidas
era promover o contato interétnico, descolando os índios de sua condição étnica específica e
aumentando, com isso, o processo de “civilização” dos nativos (Moreira, 2015). Esperava-se,
com isso, fortalecer a massa populacional da colônia em prol dos interesses mercantis-
exploratórios da metrópole.
Ribeiro (1995/2014) considera que, com o fechamento das missões jesuítas e entrega
dos aldeamentos para fazendeiros privados e para missões mais submissas aos interesses de
exploração colonial dos índios, bem como com a adoção das medidas de integração dos índios
(e suas terras) na civilidade dos colonizadores, a condição de muitos índios piorou, uma vez
que fazendeiros e missionários passaram a arrendá-los. Eles eram então alugados e utilizados
até à exaustão: “Esse desgaste humano do trabalhador cativo constitui uma outra forma terrível
de genocídio imposta a mais de um milhão de índios” (Ribeiro, 1995/2014, p. 94).
Por sua vez, Caio Prado Júnior (1942/1971), em seu clássico Formação do Brasil
Contemporâneo, destaca o processo de miscigenação produzido pelas políticas pombalinas. Se
os povos indígenas viveram historicamente em grande tensão entre os interesses dos colonos
em escravizá-los, os interesses dos missionários em catequizá-los como homens livres e os
interesses da Coroa em inclui-los no processo colonizador (além, obviamente, de seus próprios
interesses), a partir da expulsão dos jesuítas e a implementação das novas políticas por Pombal,
viabilizou-se a ampliação da mestiçagem biológica e a “aculturação” dos índios. Vânia Moreira
(2015) pondera, todavia, que “a suposição de tal linha historiográfica é a de que o índio
sobrevivente – isto é, os ‘restos da raça indígena’ que não pereceram em meio às guerras, às
chacinas, às epidemias e à superexploração do trabalho – transitava dessa condição à de ‘massa
geral da população’, por meio da miscigenação biológica e da aculturação” (p. 19). Para a
autora, contudo, a implementação das políticas pombalinas não ocorreu de forma uniforme pelo
40 Através de um contrato enfitêutico, o aforamento foi utilizado como instrumento de povoamento, na medida em que as autoridades podiam conceder terras consideradas patrimônio público para promover sua ocupação territorial, estimular a produção local e aumentar as rendas governamentais com a cobrança do foro.
116
vasto território brasileiro. Ademais, deve-se considerar como os próprios índios lidaram com
os casamentos mistos e com o contato mais intenso com a sociedade colonial:
Apesar de os casamentos mistos facilitarem os processos de homogeneização cultural, deve-se avaliar com cautela o impacto da miscigenação no processo de desorganização da vida social dos grupos indígenas e como fator de sua absorção pelo mundo colonial. Como sobejamente têm demonstrado a historiografia e a antropologia, os grupos étnicos e suas fronteiras não desaparecem, necessariamente, pela maior mistura biológica e cultural. (Moreira, 2015, p. 19)
As alianças matrimoniais sempre foram um elemento importante nas sociedades
indígenas. No Brasil, mesmo com a diversidade de regras e cerimônias ligadas ao casamento,
raramente este era uma questão que envolvia apenas os cônjuges, sendo frequentemente
considerado um enlace que abrangia suas famílias e mesmo seus grupos (Melatti, 2007). Nesse
contexto, Moreira (2015) destaca que os casamentos entre índios e não índios geraram
diferentes formas de inclusão e adaptação social (tal como o cunhadismo descrito por Ribeiro
(1995/2014) e abordado anteriormente), tendo sido o principal meio de incorporação dos
europeus nas sociedades indígenas.
Se a valorização pública dos casamentos mistos foi vista por Pombal como a
possibilidade de “[...] incentivar a miscigenação entre índios e portugueses para aumentar a
população de homens e mulheres livres e aportuguesados no mundo colonial”, por outro lado,
é preciso considerar que, “a despeito das expectativas reinantes na Corte”, muitos grupos
indígenas acabaram por promover o movimento inverso, ou seja, atenuaram a imposição dos
valores e normas difundidas pelos colonizadores, implementando casamentos em que seus
valores, costumes e interesses próprios eram respeitados, por exemplo, viabilizando o controle
do “[...] acesso dos não índios às terras da vila, demarcadas em nome dos índios e de seus
descendentes” (Moreira, 2015, p. 19).
Seja como for, vale destacar o papel da mulher indígena para a constituição do Brasil,
que se deu de diferentes maneiras, como através de sua escravização e a procriação de
mamelucos também escravizados e submetidos à exploração colonial; e através dos casamentos
mistos que ora penderam para a integração dos mestiços na cultura dos colonizadores,
“civilizando-os”, ora tenderam a propiciar uma maior preservação dos costumes e práticas
indígenas. Nesse sentido, resgato um estudo coordenado pelo geneticista Sérgio Pena (2002).
O estudo procurou, a partir de linhagens de cromossomos Y e de linhagens de DNA
mitocondrial, analisar as patrilinhagens (paternidade ancestral) e as matrilinhagens
(maternidade ancestral) de brasileiros brancos do final do século XX, cuja amostra contou com
a maior parte do material genético obtido de pessoas integrantes das classes média e média alta.
117
Como resultado, o estudo mostrou que “a imensa maioria (provavelmente mais de 90%) das
patrilinhagens dos brancos brasileiros é de origem europeia” (p. 25). Por outro lado, as
matrilinhagens dos brasileiros brancos mostraram-se de origem europeia em apenas 39% dos
casos. 33% eram de origem ameríndia, enquanto 28% de origem africana. Como reconhece o
autor, “a presença de 60% de matrilinhagens ameríndias e africanas em brasileiros brancos é
inesperadamente alta e, por isso, tem grande relevância social” (p. 27). Afora o restante da
população brasileira, esse estudo mostra que, do ponto de vista genético, nem os brasileiros
brancos escapam, em sua maioria, de uma ancestralidade mestiça...
Não obstante, vale considerar que, se essa realidade é constatada do ponto de vista
genético, isso nunca significou uma mistura étnica e racial do ponto de vista sociocultural que
viabilizasse o sonho de uma “democracia racial” no Brasil41. De outro modo, houve e ainda há
segmentações e hierarquizações nas relações sociais que colocaram os modos de subjetivação,
de configuração de famílias e de socialização dos europeus (especialmente aqueles bem-
sucedidos nas lógicas do capitalismo e do cristianismo) como privilegiados para “aculturar” –
um misto de homogeneização e de produção de desigualdade – o “povo brasileiro”.
Além disso, o estudo de Pena (2002) mostra que é preciso considerar um outro elemento
para a configuração do Brasil: os negros que, com o decréscimo das populações nativas das
Américas e com a resistência e a fuga destas da “domesticação” colonial, foram trazidos da
África durante três séculos para assumir postos de trabalhos como escravos, especialmente nas
grandes fazendas de monocultura para exportação e na exploração das minas de ouro e outros
metais. Diferente dos ameríndios que há muito habitavam as Américas e aqui haviam construído
suas cosmovisões, desenvolvido suas habilidades e estabelecido suas condições naturais e
sociais de existência, os africanos foram trazidos “nus” de sua terra natal – retirados de seus
códigos culturais, de suas pertenças sociais e familiares, de suas segmentações culturais;
41 Aqui, opto por não discutir o conceito de raça a partir do elemento genético, assumindo a importância dos processos sociais e subjetivos tanto para a produção de (e autoidentificação em) uma raça e ou etnia, especialmente em um país em que as classificações raciais sustentam-se mais por critérios de cor e certas características fenotípicas do que por conhecimento da origem ancestral. Nesse contexto, considero pertinente apontar a mistura genética do povo brasileiro em consonância com aqueles que consideram que o enfretamento do preconceito e da discriminação envolvem um debate acerca da desigualdade social que articula uma complexa rede de elementos e segmentações, que incluem as classificações raciais e étnicas, mas vão muito além delas. Ainda assim, não desconsidero o papel dos movimentos sociais e produções teóricas que enfocam a importância de se garantir a visibilidade e a proteção dos que sofrem com as segmentações que produzem divisões (e desigualdades) em torno de aspectos raciais e étnicos.
118
restaram como um corpo sozinho e desprotegido, com sua força de trabalho disponível para
realizar as mais diversas (e não raro, degradantes) atividades em troca de sua sobrevivência.
Ribeiro (1995/2014) afirma que os negros trazidos da África vieram de variados povos,
especialmente da costa ocidental desse continente. Os costumes e línguas eram diferentes entre
esses povos, o que inviabilizava sua fácil comunicação e ainda mantinha, em território africano,
uma série de disputas e hostilidades entre grupos, o que acabou por facilitar a captura e
escravização de integrantes de um grupo por rivais e sua oferta aos mercadores que os
repassavam aos europeus nos portos no litoral.
Apresado aos quinze anos em sua terra, como se fosse uma caça apanhada numa armadilha, ele era arrastado pelo pombeiro – mercador africano de escravos – para a praia, onde seria resgatado em troca de tabaco, aguardente e bugigangas. Dali partiam em comboios, pescoço atado a pescoço com outros negros, numa corda puxada até o porto e tumbeiro. Metido no navio, era deitado no meio de cem outros para ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio da fedentina mais hedionda. Escapando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado como um cavalo magro. Avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava à terra adentro, ao senhor das minas ou dos açúcares para viver o destino que lhe havia prescrito a civilização: trabalhar dezoito horas por dia, todos os dias do ano. [...] Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém – seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos -, maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Esta era sofrer todo o dia o castigo diário das chicotadas soltas, para trabalhar atento e tenso. (Ribeiro, 1995/2014, p. 107)
A diversidade de línguas e culturas dos negros trazidos para o Brasil, bem como a
política de evitar a concentração de escravos oriundos de um mesmo povo nas mesmas
propriedades, contribuiu para que a eles restasse se incorporar à cultura local, aprendendo o
português para conseguirem se comunicar com seus capatazes e entre si. Acabaram, com isso,
contribuindo para aportuguesar o Brasil. Ademais, viram-se compelidos a aprender a viver nas
condições da terra, bem como da sociedade e da cultura que já estavam sendo em gestadas pelas
conexões entre europeus e índios e que, para eles, envolvia a condição de escravos extraídos de
seus modos de vida tradicionais e destinados a atender os interesses de seus senhores e
capatazes, e não os seus próprios, sua família ou comunidade. Ainda assim, componentes
genéticos e culturais – como sua cor de pele, os traços de seus rostos, o tipo de cabelo, sua
musicalidade e suas danças, seu gosto e estilo culinários, além de elementos de suas línguas, de
suas religiosidades e de seus costumes –, foram sendo introduzidos de forma silenciosa, mas
perseverante e continuada, ao longo dos séculos e acabaram por contribuir para o “[...]
amálgama racial e cultural brasileiro” (Ribeiro, 1995/2014, p. 102). Como vimos, a
matrilinhagem africana constituía quase 30% da ancestralidade materna dos brancos brasileiros
119
do final do século XX (Penna, 2002). O que mostra a importância também do ventre africano,
mesmo escravizado, para a produção do povo brasileiro. No entanto, a entrada dos negros, suas
caraterísticas e costumes, sua força de trabalho e seu ventre não ocorreram da mesma maneira
em todo o Brasil, nem ao longo do tempo.
Os negros africanos vieram em grande medida para suprir a necessidade de mão de obra
na economia brasileira agrária, colonial e depois imperial. Seus fluxos migratórios
modificaram-se à medida que a demanda por escravos foi mudando econômica e
geograficamente. Reginaldo Prandi (2000) assinala que, entre meados do século XVI e meados
do século XVIII, os negros foram importados da África tendo como principal destino os
engenhos de açúcar do nordeste brasileiro. Com o início da exploração do ouro em Minas
Gerais, acentua-se o fluxo de negros para o sudeste.
Ao longo da história agrícola colonial, o crescimento das atividades agrícolas correspondeu sempre a um maior afluxo de escravos. Foram a mão-de-obra dos campos de fumo e cacau da Bahia e Sergipe, além da cana-de-açúcar; no Rio de Janeiro foram destinados aos plantios de cana e mais tarde de café; em Pernambuco, Alagoas e Paraíba eram indispensáveis aos cultivos de cana e algodão; no Maranhão e Pará trabalharam no algodão; em São Paulo, na cana e café. Em Minas, além da mineração, trabalharam, mais tarde, nas plantações de café, também cultivado no Espírito Santo. Também estavam presentes na agricultura do Rio Grande do Sul e na mineração de Goiás e Mato Grosso. Em todos os lugares foram os responsáveis também pelos serviços domésticos, organizados no complexo casa-grande e senzala. (Prandi, 2000, p. 55)
Mas, no século XIX, os processos de urbanização e industrialização no Brasil
contribuíram para o crescimento da inserção dos negros no ambiente das cidades, em uma nova
forma de exploração de seu trabalho: “os escravos ofereciam suas habilidades profissionais a
quem delas precisava, recebendo pagamento em dinheiro, destinado ao senhor do escravo, no
todo ou em grande parte” (Prandi, 2000, p. 55). Ficaram conhecidos como “escravos de ganho”,
realizando atividades que outros negros – escravos libertos por seus proprietários ou
emancipados pelo governo em virtude de seu tráfico ilegal – também faziam, tais como
carregadores, pequenos mercadores, barqueiros de cabotagem, produtores de víveres, artesãos,
amas de leite, empregados domésticos, cuidadores, encarregados de serviços públicos.
As lógicas e relações dos engenhos rurais, sustentadas pelo binômio casa-grande e
senzala42 e que mantinham o negro como peça apartada, presa, vigiada e silenciada no
funcionamento sócio-político e cultural (embora isso nunca ocorra de forma absoluta), são
42 Esse binômio foi difundido nos estudos sobre a história do Brasil e sua organização familiar, política e econômica no período colonial a partir da obra de Gilberto Freyre (1933/1999) Casa-Grande & Senzala, que abordo a seguir.
120
diluídas nos meios urbanos. Nestes, os escravos ganham maior liberdade, conseguem ampliar
suas relações sociais e construir maiores vínculos entre si. Os escravos de ganho, com maior
possibilidade de circulação e autorizados a viver em habitações coletivas, junto com negros
libertos e emancipados, acabaram por se organizar em coletivos mais próximos de suas origens
linguísticas e culturais africanas, formando associações de compatriotas, agrupamentos étnicos
e entidades que celebravam tradições orientadas ou inspiradas por suas culturas originárias,
mesmo quando realizadas de formas dissimuladas em virtude das determinações culturais
dominantes. A chegada de africanos diretamente para o contexto urbano no último período da
escravidão brasileira possibilitou o contato com línguas e costumes mais preservados, o que
ampliou a identificação de etnias e nações que, no início da colonização, haviam sido diluídas
pela inserção difusa dos escravos nas senzalas rurais.
Prandi (2000) destaca que a maior integração entre os negros – escravos e livres,
africanos e descendentes (diretos ou mestiços) – permitiu a consolidação de elementos culturais
que se tornaram importantes nos agenciamentos sociosubjetivos mais amplos do país, entre
eles, as religiões afro-brasileiras. “Nas diferentes grandes cidades do século XIX surgiram
grupos que recriavam no Brasil cultos religiosos que reproduziam não somente a religião
africana, mas também outros aspectos da sua cultura na África” (Prandi, 2000, p. 60).
Quanto aos negros trazidos para compor a mão de obra dos meios rurais, que
representaram a maior parte da ocupação do vasto território brasileiro no período colonial e
imperial e que, afinal, receberam mais negros do que os centros urbanos, é comum indicar seu
confinamento nas estruturas dos engenhos e sua participação no funcionamento da socialidade
destes a partir de sua conformação nas senzalas, de sua subjugação e esfacelamento
sociocultural e da exploração de sua força de trabalho escravizada. Ainda que, em boa medida,
esses escravos tenham sido compelidos a se incorporar como escravos individualizados à
cultura colonial, isso não pode ser lido como uma aculturação de sujeitos que, uma vez
escravizados e retirados de sua terra e cultura, tenham se transformado em uma “tábula rasa”
passiva. Como lembram Petrónio Rodrigues e Flávio Gomes (2013), muitas foram as maneiras
dos escravos resistirem aos desígnios que lhes foram impostos pelos senhores de engenho. Essas
maneiras envolveram contestação, acomodação, conflitos e a produção de novos
agenciamentos. Para alguns envolveu ralentar o tempo e o ritmo das tarefas diárias, para outros
envolveu constituir famílias e manter-se em contato mesmo quando separados em diferentes
fazendas. Existiram os que cultivavam roças nas parcelas de terras e no tempo a eles destinados
por seus senhores e que vendiam seus produtos nas feiras locais para ter mais autonomia. De
121
forma mais combativa, ocorreram insurreições, emboscadas e assassinatos de feitores e
senhores. Houve também as fugas que, em vários casos, resultaram no nascimento e
crescimento dos quilombos compostos por ex-escravos e seus descendentes.
Os quilombos foram compreendidos em muitos estudos brasileiros a partir de duas
visões – uma que enfoca a resistência cultural promovida por eles, e outra que salienta o caráter
de resistência econômica contra as lógicas da monocultura escravocrata. Nos dois casos, o
quilombo é assumido como um lugar marginal, que vivia em isolamento (e por isso se
preservava) da vida dos engenhos e das vilas que a estes se ligavam. Contudo, Rodrigues e
Gomes (2013, p. 9) destacam que “um dos aspectos fundamentais que marcaram os quilombos
foi a formação de micro comunidades camponesas”, que se fixavam a distâncias não muito
longas de onde pudessem acontecer trocas mercantis. Por isso, os quilombos integraram-se, em
alguma medida, às economias e às práticas sociais de seu entorno, tendo contato com os negros
cativos que vendiam seus produtos nas feiras locais, roceiros libertos, pequenos arrendatários,
artesãos, indígenas, comerciantes diversos.
Assim, há uma significativa inserção de negros africanos no Brasil submetidos às
lógicas, valores e práticas escravocratas estabelecidas nos grandes engenhos de monocultura
para exportação, como há também toda uma socialidade difusa e micropolítica, menos visível
aos olhos do plano de organização colonial e mais ligada a modos de subjetivação que foram
se tecendo entre as misturas dos diferentes povos que aqui se encontraram. Modos que ora
reforçaram, ora flexibilizaram, ora fugiram e transformaram as lógicas, estruturas,
segmentações dominantes da colonização.
A formação histórica de [modelos de] famílias no Brasil
Não obstante a diversidade sociocultural que permeou o Brasil em seus primeiros
tempos e não obstante a multiplicidade de linhas de socialização e subjetivação que se formaram
e se conectaram entre elementos vindos de variados povos e seus modos de vida, é necessário
dizer que um modelo de família se sagrou hegemônico: a família patriarcal extensa43,
43 Escolho usar o termo “família patriarcal extensa” como forma de diferenciá-la da “família nuclear moderna” que, como vimos no capítulo anterior, é também uma família que se organiza dentro de lógicas patriarcais, ainda que o patriarca, neste caso, circunscreva seu poder de mando e controle ao um núcleo muito mais reduzido de pessoas (esposa, filhos e, em alguns casos, empregados). Vale lembrar que o patriarcalismo é anterior ao capitalismo e à colonização empreendidos a partir da Europa, presente nos clãs medievais que, com os devidos ajustes, aproximam-se da família patriarcal extensa instituída aqui,
122
organizada a partir das lógicas e relações centradas no funcionamento das grandes fazendas e
sua produção para exportação.
Essa família envolvia não apenas o casal e seus filhos “legítimos”, mas um conjunto
muito mais extenso de pessoas que estavam inseridas na dinâmica dos engenhos e das vilas que
a eles se ligavam, tais como outros parentes, afilhados, filhos bastardos, agregados, noras e
genros, escravos e até mesmo concubinas. O comando era centralizado na autoridade do
patriarca – o proprietário das terras, das riquezas, da produção, dos escravos, das decisões
econômicas e políticas. As grandes mansões em formato de sobrado representavam sua Casa-
Grande – “[...] símbolo desse tipo de organização, núcleo para onde convergia toda a vida
econômica, social e política da região, de forma mais ou menos ordenada. Sua área de influência
englobava a atuação da Igreja, do Estado e todas as outras instituições sociais e econômicas”
(Teruya, 2018, p. 4).
A grande referência para os estudos sobre a família patriarcal do período colonial no
Brasil é o clássico Casa-Grande & Senzala de Gilberto Freyre (1933/1999), que destaca a
configuração político-econômica do país em torno dessa organização familiar-social. Para esse
autor e toda uma gama de teóricos que o seguiram, a institucionalização da família patriarcal se
explicava pela própria estrutura colonial. Com propriedades que cobriam grandes extensões de
terra e sem um Estado que conseguisse se impor ao seu poder local, os patriarcas acabaram
assumindo o papel/lugar de comando nas dinâmicas regionais e nas relações mais amplas com
a Igreja, com a Coroa e com a rede de comércio inter-regional e internacional.
Nesse contexto, as relações da parentela com o “seu” patriarca marcavam o lugar, o
papel e as condições de mobilidade e de poder (ou submissão) de cada um: esposa, filho
“legítimo”, parente, compadre, capanga, escravo e outros. Ana Sílvia Scott (2009) pondera que
os laços familiares eram elásticos, construídos não apenas através do parentesco biológico,
como também “[...] através dos laços baseados nas alianças matrimoniais, nas relações de
compadrio e na ‘economia do dom’, que funciona através da lógica dos atos de dar e retribuir,
constituindo relações de ‘amizade desigual’ que as diferentes esferas de poder legitimavam” (p.
25). Os interesses do grupo extenso composto por parentes, amigos, protegidos e dependentes
organizava, em boa medida, as dinâmicas sociais na colônia.
Contudo, como ressalta Eni Samara (2002), diferentes estudos que se fortaleceram do
final do século XX em diante mostram que as famílias extensas do tipo patriarcal, que
à moda brasileira.
123
organizaram a vida comunitária e regional em torno das grandes fazendas, especialmente no
nordeste brasileiro, não foram a configuração familiar mais comum em muitas partes do país,
mesmo no período colonial.
Mariza Corrêa (1981) mostra que, dentro da própria dinâmica dos engenhos açucareiros
– o lugar privilegiado da família patriarcal extensa – havia diversos trabalhadores que não se
conformavam na dinâmica casa-grande e senzala e que tinham relações mais livres em relação
aos patriarcas. Era o caso dos técnicos “mesteres” de açúcar que trabalhavam como assalariados
livres nos engenhos. Nas redondezas, havia ainda: os lavradores e suas famílias que arrendavam
pedaços de terra improdutiva de algumas fazendas para cultivo, sem vínculo direto com os
produtos para exportação; os artesãos; os pequenos agricultores de tabaco, de algodão e de
gêneros alimentícios que os cultivavam em suas propriedades, muitas vezes sem mão-de-obra
escrava e contando apenas com seu pequeno grupo doméstico44. E na outra “ponta” do processo
para a exportação do açúcar, ou mesmo do tabaco e outros, havia os trabalhadores que atuavam
no escoamento dos produtos, nas vias de transporte e nos portos, bem como aqueles que
atuavam no controle fiscal para a Coroa. A presença de portos, estaleiros, armazéns, casas de
comércio, hospedagens e outros demandou a formação de aglomerados urbanos, cujo
funcionamento e relações possuíam muitas especificidades em relação ao que se passava nas
fazendas. Para Corrêa (1981), se Gilberto Freyre tivesse se atentado a esses outros personagens
presentes na dinâmica da produção exportadora colonial, “[...] a composição da sociedade
colonial da costa Bahia-Pernambuco teria uma tonalidade bem diferente” (p. 8).
Além disso, não é possível homogeneizar o que se passava nos grandes engenhos do
nordeste com suas estruturas fincadas de modo sedentário à terra com o que se passava na vida
mais dinâmica e nômade dos que se embrenhavam nas terras do centro-sul do Brasil. Samara
(2002) cita, como exemplo, a descoberta do ouro em Minas no final do século XVII que
transformou esta região em um novo polo de colonização no coração do sudeste brasileiro. Esse
polo atraiu pessoas de origens diferentes em busca de oportunidades e enriquecimento ao longo
do século XVIII. Ali, a vida urbana era mais intensa, havia maior oferta de atividades e os
controles eram mais difusos. Muitas mulheres exerciam atividades econômicas e chefiavam
famílias, uma vez que havia a demanda para a produção em domicílio, como a manufatura de
tecidos, que podia ser realizada em casa e podia ser feita sob a coordenação da mulher com a
44 Isso, sem contar as aldeias, aldeamentos, quilombos e pequenos aglomerados urbanos para trocas comerciais que, como vimos anteriormente, também existiam difusos pelo país e funcionavam de forma paralela (o que não significa totalmente isolada) à estrutura dos engenhos.
124
ajuda dos filhos, parentes e agregados para engrossar a renda familiar. Eram ainda frequentes
uniões familiares informais. Nesse cenário mineiro, a cidade de Vila Rica tinha, em 1804, 45%
dos domicílios chefiados por mulheres (Samara, 2002).
Em São Paulo, mesmo com o fortalecimento das grandes fazendas produtoras de café
após o auge do ciclo do ouro e do diamante em Minas e Goiás, a região possuía o histórico
nômade dos bandeirantes, possuía núcleos urbanos crescentes e tinha fazendas mais modestas
que não raro contavam com trabalhadores livres no lugar de escravos. No contexto paulista e,
em especial na cidade de São Paulo, o censo feito no início do período imperial (1836) mostra
que a maior parte dos domicílios eram compostos por famílias nucleares de até quatro membros
e que as famílias com muitos membros, agregados e escravos configuravam apenas 26% dos
domicílios. Essa realidade, para Samara (2002), não podia ser muito diferente do que se passava
no fim do período colonial. Se é preciso considerar a dinâmica social da cidade e as influências
exercidas nessa dinâmica pelos núcleos extensos da elite paulista, ainda assim, tal dinâmica não
pode ser simplesmente equiparada à realidade rural dos engenhos.
Quanto à própria região nordeste, Teruya (2018) assinala que o sertão pecuário pouco
foi abordado nos estudos sobre as famílias do período colonial, que se centraram na família
patriarcal extensa das grandes fazendas como a referência familiar e social desse período. O
sertão acabou sendo considerado um “mundo meio selvagem” distante (e supostamente menos
influente para “a família brasileira” que os) engenhos mais próximos do litoral.
Não cumpre aqui realizar um aprofundamento nas diferenças regionais brasileiras, nem
é o objetivo deste trabalho detalhar um rigoroso estudo historiográfico. O que ressalto, a partir
do que foi colocado, é que, se a família patriarcal extensa vingou como o modelo da família
brasileira, é preciso compreender as implicações sociosubjetivas dessa afirmação.
Há que se reconhecer que a família patriarcal extensa se transformou, de fato, no modo
de socialização e subjetivação que se sagrou hegemônico no período colonial. Seu modelo,
tomado como parâmetro e referência, traçou importantes segmentações culturais; definiu um
olhar sobre a normalidade ou anormalidade das diferentes relações; mobilizou o desejo, a culpa,
o poder e as punições45. Orientou papéis e forças políticas, tanto macro como micropolíticas. O
poder desse modelo familiar no diagrama das forças sociais e seu papel nas análises históricas
produziram um dualismo estratégico em favor das elites econômicas, dos homens patriarcas (ou
45 Corrêa (1981) mostra, por exemplo, que esposas adúlteras e filhas que não conseguiam oferta de dote para casamento eram punidas pelos patriarcas, comumente encaminhadas para casas de recolhimento onde passavam o resto de suas vidas.
125
aspirantes a isso) e dos valores culturais cristãos-coloniais. Esse dualismo colocou, de um lado,
a “família definida como normal” e, do outro lado e por contraste, a grande “massa amorfa e
anônima” que precisava ser disciplinada, aculturada, vigiada dentro dos padrões dominantes
(Corrêa, 1981). Ademais, essa família alçou um lugar simbólico para as análises e para as
reconstruções teóricas sobre a história da família, do povo e da nação brasileira, que acabaram
por ater-se ao funcionamento, aos laços e à dinâmica familiar extensa da elite rural escravocrata,
considerando-a como eixo analítico para o restante dos laços, configurações e relações que
permeavam a dinâmica de um país tão extenso e multifacetado.
Apesar do papel hegemônico da família patriarcal extensa por um longo período e da
existência de vários de seus componentes até hoje46, é preciso abordar um deslocamento
histórico que se processou no Brasil a partir do século XIX em direção à família nuclear
burguesa. Como vimos no capítulo anterior, esta família foi se configurando e se tornando a
referência dentro de um longo processo de transformações socioculturais, econômicas,
tecnológicas, estatais, subjetivas ocorrido, de forma pioneira, na Europa a partir do século XIV
e que viabilizou a produção histórica da modernidade capitalista e, nesta, do privilégio da
família nuclear e privatizada. Processo que, é bom lembrar, ocorreu graças, entre outros, ao
“casamento” entre os mercadores e produtores que cresceram e se fortaleceram na Europa e as
terras “livres” descobertas nas Américas. Ainda que imposto por um dos lados, esse casamento
viabilizou ingredientes fundamentais para a institucionalização do capitalismo: a apropriação e
a exploração de uma “natureza grátis”47 e sua gigantesca fonte de matérias-primas e terras; a
imposição da escravidão a um enorme contingente de seres humanos; a abertura de um mercado
consumidor colonizado. A colonização das Américas permitiu o crescimento de uma oligarquia
burguesa poderosa na Europa, próxima aos monarcas e monopolista do comércio exterior.
Desde o início, esses mercadores-navegadores obtiveram grandes lucros com a exploração das
novas terras e seus recursos48. Com o crescimento da produção industrial, inicialmente na
46 Nesse sentido, é interessante observar o modo como muitos familiares ainda se referem aos idosos de seu grupo em grande parte do Brasil, ou mesmo a forma como os mais velhos são referidos e tratados em eventos sociais. Com frequência, é possível observar, por exemplo, cumprimentos cercados de reverência ao “senhor” e à “senhora”, não raro acompanhados do pedido de sua benção. Isso mesmo quando os idosos são vivenciados cotidianamente como um peso ou um estorvo para as famílias, que não sabem onde enfiá-lo, nem como lidar com as fragilidades e questões próprias do envelhecer. 47 O termo “natureza grátis” para se referir à apropriação dos recursos naturais das Américas e em outros locais em prol do capitalismo é utilizado pelo historiador estadunidense Jason W. Moore (2017). 48 Dobb (1946/1983) afirma que os lucros giravam entre 100 e 300%. Em alguns casos, como a expedição de Vasco da Gama, a carga que aportou em Lisboa correspondia a 60 vezes o custo da expedição.
126
Europa e depois em outros países, a colonização viabilizou ainda um fluxo de matérias e
materiais para a produção industrial a preços baixos e facilitou o escoamento dos produtos
manufaturados. Marx (1867/2013) defende que a existência do capitalismo foi possível graças
a uma acumulação primitiva gerada por um complexo processo histórico que destituiu as
pessoas de suas terras e de seus meios de produção e sobrevivência, transferindo-os para as
mãos dos capitalistas. Se isso ocorreu na Europa como esse autor detalha, isso ocorreu também
(e Marx o indica) nas Américas, por vezes de forma mais cruel.
Nesse cenário, o Brasil foi acoplado às lógicas capitalistas modernas desde o século XVI
com seu descobrimento e colonização pelos europeus. Aqui, o funcionamento nos moldes
coloniais e a organização geopolítica e social que se impôs acabaram por viabilizar a
configuração das famílias detentoras das terras e das riquezas de modo mais próximo ao das
famílias medievais europeias, com clãs compostos de extensa parentela. Além disso,
estabeleceu-se uma rede de escravos e trabalhadores ligados a esses clãs sob a autoridade do
patriarca. Entretanto, a partir do século XIX e ao longo do século XX, com os fluxos migratórios
e o crescimento urbano, com a industrialização que vai ganhando corpo e com as lógicas
disciplinares e higienistas que acompanham esses processos, um novo modelo de família, “mais
moderno” digamos assim, passa a ser valorizado: a família nuclear.
* * *
A urbanização e a industrialização são consideradas importantes fatores no Brasil para
a nucleação e privatização familiares dentro das lógicas afetivas, econômicas e disciplinares da
modernidade capitalista. É a partir desses processos que os valores burgueses e a consolidação
dos controles biopolíticos do Estado se institucionalizam no país.
Como vimos, é preciso considerar os aglomerados urbanos que se formaram no Brasil
ao longo do período colonial e sua importância, ainda que relativa, na tessitura geopolítica do
país naquele momento, cuja população vivia, em grande medida, no meio rural. Em Minas
Gerais, um exemplo citado, a descoberta do ouro transformou essa região em um polo no século
XVIII, que atraiu muitas pessoas e desenvolveu cidades, tanto no entorno das minas quanto nas
vias de transporte até o litoral. Mesmo após o declínio da atividade extrativa, algumas cidades
se firmaram, conforme indica Ralfo Matos (2012), como territórios populosos, capazes de
promover a diversificação de suas atividades econômicas e consolidar mercados dinâmicos de
127
gêneros agrícolas, de tecidos e roupas, de artigos em couro e metais, entre outros. Nesses
centros urbanos cresceu a insatisfação com as políticas de exploração predatória da metrópole
portuguesa, os abusos políticos e as altas taxas e impostos. As políticas da Coroa ambicionavam
deixar o Brasil em uma forte situação de dependência, proibindo, por exemplo, o
estabelecimento de fábricas e manufaturas nos centros urbanos brasileiros49, ao mesmo tempo
que as ideias de progresso e desenvolvimento capitalistas, bem como as inspirações iluministas
chegavam no país, fortalecendo o desejo de independência.
No contexto dessas cidades do período colonial, as configurações familiares não
conseguiam reproduzir o modelo hegemônico da família patriarcal extensa, existindo muitas
famílias de poucos membros, famílias efetivamente nucleares (pais com seus filhos), famílias
lideradas por mulheres, entre outras. Mas essas famílias, ainda que diversas em relação ao
modelo de referência, eram atravessadas por ele, comparavam-se e orientavam-se pelas
dinâmicas, valores e práticas que eram difundidas a partir das famílias patriarcais dos engenhos.
Já no século XIX, o Brasil passa por grandes transformações: sua independência (1822);
a instauração da República (1889); as alterações em grande parte dos vínculos de trabalho com
a abolição da escravatura (1888); os movimentos migratórios para a região Centro-Sul do país.
Esses processos se costuram e vão mudando o panorama social, político e econômico do país.
Eles aceleram a formação de uma sociedade de caráter mais urbano-industrial. Com isso, o
modelo de família valorizado socialmente também muda.
Enquanto o Brasil permaneceu uma colônia, a política estatal estava vinculada a uma
metrópole distante e seus interesses eram marcados pela exploração predatória dos recursos do
país. E a dinâmica da agricultura para exportação, sustentada pela escravidão, abria poucas
brechas para investimentos mais volumosos em outros processos produtivos. O fim da
escravidão colocou milhares de ex-escravos disponíveis para o trabalho assalariado e acabou
por liberar investimentos para outras atividades (Matos, 2012). Some-se a isso, os processos
migratórios que se intensificaram na segunda metade do século XIX e primeira metade do
século XX. Processos que envolveram tanto emigração nordestina para o Centro-Sul desde a
severa estiagem dos anos 1877-1879, quanto a chegada de famílias camponesas de diferentes
49 A rainha D. Maria I baixou em 5 de janeiro de 1785 um Alvará que proibia o funcionamento de fábricas e manufaturas no Brasil, argumentando que, com o desenvolvimento das fábricas e manufaturas, os colonos deixariam de cultivar e explorar as riquezas da terra e de fazer prosperar a agricultura nas sesmarias, descumprindo o acordo firmado quando as terras foram doadas pela Coroa portuguesa. Só poderiam existir manufaturas têxteis que produzissem tecidos rústicos para vestimenta dos escravos e empacotamento de produtos.
128
países europeus, estimulados especialmente pela cafeicultura paulista. Samara (2002) ressalta
que a imigração para o sudeste ocorreu em proporções superiores às possibilidades de trabalho
no campo, o que favoreceu o crescimento da população urbana e a diversificação de atividades,
com “[...] múltiplas formas de trabalho domiciliar e temporário” (p. 5).
Além disso, a independência e, em seguida, a proclamação da República fizeram
emergir um Estado brasileiro que, atuando “por si só”, vai paulatinamente fortalecendo
estratégias biopolíticas para o controle da população. Como vimos, dois tipos de mecanismos
sustentam essas estratégias de governo: as táticas regulamentadoras da população e as
tecnologias disciplinares de controle e docilização dos indivíduos (Foucault, 1979/2008).
No Brasil, estratégias de governo efetivamente envolvidas com análises e intervenções
econômicas-científicas para gerir a população só começam a ganhar volume com a chegada da
Corte portuguesa e, de forma mais contundente, com os processos de urbanização e
industrialização que se processaram a partir da segunda metade do século XIX com a
proclamação da República e a ambição dos governantes nacionais em “modernizar” o país.
Nesse contexto cresce uma elite econômica ligada aos novos ramos industriais-comerciais e
orientada mais por valores burgueses urbanos do que pelo familismo patriarcal.
As estratégias biopolíticas se disseminam aqui junto com a difusão de práticas
disciplinares que vão produzindo novos contornos, valores e posturas nas diversas instituições
sociais tais como as escolas e igrejas, e também nas famílias. Como vimos no capítulo anterior,
as famílias, dentro das lógicas de nucleação e privatização nos moldes burgueses, tornaram-se
um elemento social fundamental para a disciplina e a docilização dos indivíduos. Vejamos
como, em linhas gerais, isso se processou no Brasil.
Maria Ângela D’Incao (2004) conta que, antes do século XIX, o “requinte” estava longe
de marcar o cotidiano da população urbana brasileira, considerada vagabunda e perturbadora
para as elites locais e para os administradores da Coroa portuguesa no país. Ela conta, a partir
das crônicas de Luiz Edmundo, que o Rio de Janeiro do século XVIII era desorganizado, com
as ruas sendo utilizadas pela população e pelos moradores das casas sem limites definidos. Das
casas, que tinham as ruas como sua extensão, jorrava a água residual usada pelos moradores,
espalhando mau cheiro, sujeira e contribuindo para as doenças que pipocavam nos aglomerados
urbanos. Até o século XIX o Brasil não possuía leis públicas que regulamentassem a limpeza e
o uso das cidades, o que começa então a mudar. D’Incao (2004) relata que, nesse período, Rio
129
de Janeiro e Olinda começam a criar uma legislação e a estabelecer um controle maior sobre o
uso das cidades.
Os espaços para o abate de animais domésticos e para a lavagem de roupas, as fontes centrais, bem como os terrenos para criação de animais e locais para cortar lenha foram reduzidos ou transferidos do centro das cidades para a periferia. (...) Autoridades públicas limitaram o “mau uso” da casa e tenderam a estabelecer uma nova atitude em relação às ruas, agora consideradas “lugares públicos” e que por isso deveriam manter-se limpas. Com isso, o lugar público ganha, então, um significado oposto ao do uso particular. Claro que para a rua atingir seu novo status muitas restrições são impostas à população. O espaço urbano, antigamente usado por todos em encontros coletivos, festas, mercados, convívio social etc., começa a ser governado por um novo interesse, qual seja, “o interesse público”, controlado pelas elites governantes (D’Incao, 2004, p. 188).
Também no início do século XIX são abertas as primeiras Escolas de Medicina do país,
na Bahia e no Rio de Janeiro. Nesse cenário, chega aqui a medicina social, trazendo novas
concepções sobre higiene e saúde que pouco a pouco se espalham entre as famílias mais
abastadas e vão sendo assumidas com novas medidas pelo poder público. As medidas estatais
ampliam a inserção dessas novas concepções de higiene e saúde para famílias das diferentes
classes sociais e contextos.
É certo que, antes da atuação da medicina social, a administração pública já havia
tentado exercer um controle sobre as cidades e suas populações, especialmente com o contínuo
crescimento destas. Mas a estrutura colonial e sua engrenagem jurídico-policial, que enfocava
basicamente a punição de comportamentos inadequados, pouco conseguiram ordenar o meio
urbano e implantar medidas eficazes. Como mostra Jurandir Freire Costa (1979/1989) em
Ordem médica e norma familiar, foi o saber médico, aliado ao surgimento do Estado brasileiro
“independente” e aos interesses da elite local, que mudou as estratégias de abordagem da
população. As estratégias da medicina social passaram a mobilizar o interesse das pessoas e das
famílias em cuidar de sua própria saúde física e mental; elas procuraram promover a higiene, o
asseio e a organização dos espaços privados, enquanto os agentes do Estado se propunham a
garantir a ordem e a salubridade nos espaços públicos. Nesse cenário, a saúde da população
tornou-se, ao mesmo tempo, uma política de Estado e uma prática de autocuidado e vigilância
disciplinar nas famílias.
Costa (1979/1989) destaca que, “[...] valendo-se dos altos índices de mortalidade infantil
e das precárias condições de saúde dos adultos, a higiene conseguiu impor à família uma
educação física, moral, intelectual e sexual, inspirada nos preceitos sanitários da época” (p. 12).
Essa educação conseguiu alterar os costumes e hábitos familiares em favor da valorização do
130
cuidado higiênico do corpo e de uma educação moral que representasse comportamentos
“civilizados” – disciplinados, polidos, comedidos à maneira da burguesia europeia.
Como vimos, durante o período colonial existiram famílias nucleares, ou seja, formadas
por pais e seus filhos. Contudo, essas famílias dificilmente podem ser pensadas dentro das
lógicas higiênicas, disciplinares, normalizadoras calcadas nos valores burgueses. A valorização
da familiar nuclear moderna envolveu transformar o núcleo familiar pais-filhos em uma
configuração privilegiada que deveria, ainda, seguir os moldes capitalistas disciplinares mais
ligados às lógicas industriais e higiênicas. As famílias que primeiro mobilizaram as estratégias
higiênicas foram as famílias da elite brasileira, cada vez mais urbana e industrial.
Como na Europa, são as famílias que assumem o estilo de vida da burguesia que vão
“dar o tom” do novo modelo familiar. São elas que conseguem se encaixar e reproduzir os
novos valores preconizados. São elas que conseguem promover o fechamento do espaço
privado da casa e manter-se à distância do restante “do povo”. São elas que passam a se
preocupar com o controle higiênico da sexualidade que deveria ser restrita a práticas “normais”
nos moldes monogâmicos heterossexuais, e com o papel reprodutivo e educativo dos pais para
que suas proles fossem saudáveis. São elas que colocam o amor romântico como fundamento
para a união entre casais e para a sustentação do casamento e da família. Embasadas no discurso
médico-higiênico, essas famílias promovem novo sentido à privacidade e à intimidade, bem
como à educação e ao cuidado individualizado.
Cumpre salientar que tal reconfiguração familiar foi possível, além da difusão dos
preceitos da medicina social e dos valores burgueses inspirados nos europeus “civilizados”,
graças à maior mobilidade e autonomia de membros das famílias da elite, viabilizadas pelas
novas ofertas de estudos, trabalhos e investimentos nos meios urbanos, que garantiram maior
independência econômica e residência autônoma para a formação de núcleos familiares
menores. Assim, os membros das famílias abastadas puderam não apenas adaptar-se ao
contexto mais urbano, como também afastar-se das lógicas e controles que os mantinham
vinculados aos laços extensos sob o mando do patriarca rural. Puderam constituir núcleos
familiares mais focados no que se passava no âmbito doméstico e nos vínculos entre o casal e
seus filhos.
Nesse cenário, é importante lembrar que a família que vai se estruturando de forma
nuclear e privatizada não rompe com as lógicas patriarcais, mas reconfigura a hierarquia sob o
comando do homem para o pequeno grupo da família. Emerge o patriarca burguês que deve
131
garantir o sustento, a ordem e a prosperidade de seu núcleo familiar para o desenvolvimento
saudável e a educação moral, intelectual e sexual dos filhos. À mulher, cabe o papel da esposa
zelosa e submissa, cuidadora dos filhos e do marido. Como afirma Teruya (2018), a nova
configuração de família, nuclear burguesa, tomada como privilegiada no contexto social
brasileiro a partir do século XIX, manteve “[...] a moral patriarcal como medida” (p. 10).
Em termos jurídico-legais, a legislação da República consolidou a figura masculina
como o chefe da família. Desde o Código Civil de 1916, passando pelas Constituições Federais
a seguir (1934, 1946, 1967 e 1969), a legislação manteve a chefia e a responsabilidade legal
nas mãos do pater familias: era o homem que detinha “[...] o direito de fixar o domicílio da
família; o direito de administrar os bens do casal e, finalmente, o direito de decidir em casos de
divergência” (Romagnoli, 1996, p. 65). A posição jurídica da mulher era de “colaboradora do
marido”50. Além disso, as leis e a justiça brasileiras enfocavam a “família legítima”, aquela
formalmente constituída nos termos da lei e que assumia a indissolubilidade do casamento51,
pouco considerando os agrupamentos familiares “de fato”, informais e alternativos ao padrão
legal.
Dentro dos lares, como ocorreu na Europa52, aqui também a criança, seu cuidado e
educação vão ganhando centralidade na sensibilidade, nos afetos e nas práticas da família
nuclear. O casamento, apoiado no amor romântico, deveria promover uma base estável e
duradoura onde o casal poderia procriar em segurança e, uma vez produzidos os filhos,
tornarem-se pai e mãe “higiênicos", dedicados ao desenvolvimento e educação dos filhos. O
sexo fora do casamento passa a ser mal-visto, por seus perigos de prole ilegítima e de doenças
infecciosas. Uniões endogâmicas, por interesse ou realizadas entre cônjuges com grande
diferença etária, tão em voga na colônia, passam a ser mal-vistas pelo risco de não gerarem
indivíduos sadios e adequados aos padrões sociais (Romagnoli, 1996).
É importante frisar, nesse contexto, a mudança que vai se processando nas relações entre
família e Estado. Durante o período colonial, viveu-se um tensionamento constante entre os
50 Romagnoli (1996) pondera que o direito ao voto, ampliado para as mulheres na Constituição de 1934, criou uma situação paradoxal: a mulher passou a ser cidadã plena em relação ao direito de escolha dos representantes no Estado, mas era considerada incapaz quando casada, uma vez que era o marido que respondia legalmente por ela. 51 É a partir do final da década de 1970, com a institucionalização do divórcio no país, que a indissolubilidade do casamento é extinta. Quanto à igualdade dos gêneros e à ampliação da proteção legal da diversidade de famílias, esse processo ganha força a partir da Constituição de 1988. Essas questões são abordadas no próximo capítulo. 52 Conferir a análise feita no capítulo anterior.
132
interesses das extensas famílias rurais com seu poder local exercido sob o comando dos
patriarcas e os interesses da administração estatal ligada à Coroa portuguesa. Nesse contexto,
as famílias eram, como mostra Costa (1979/1989), objeto de ações basicamente repressivas-
punitivas dos aparelhos de Estado por comportamentos inadequados, insubordinação ou
contestação das determinações reais. No final do período, com o crescimento dos centros
urbanos e fortalecimento dos movimentos pela independência do país, a tensão cresce ainda
mais. A seguir, a formação do Estado nacional, acoplada à medicina social, mudaram esse
panorama.
Enfatizando o papel do Estado como cuidador da pátria e da saúde de seus cidadãos, a
medicina social contribuiu de forma decisiva para a tranformação da percepção e das relações
das famílias com o Estado. Há uma “nacionalização”, nas palavras de Romagnoli (1996), do
universo familiar, que passa a assumir a importância da higiene e da disciplina no cotidiano das
famílias para a produção de indivíduos saudáveis que garantissem um bom futuro para a nação:
“amar à pátria torna-se sinônimo de saúde, de instrução e de organização, e consequentemente,
famílias saudáveis formavam um Estado saudável!” (p. 55). Nesse cenário, a criança é içada ao
lugar de trunfo da nação e deve fazer parte dos investimentos do Estado e das famílias. A estas,
cumpre cuidar do desenvolvimento de suas crianças e adolescentes, buscar-lhes boa educação
e acompanhar seu desenvolvimento individual. Sustentados pelo discurso higiênico disciplinar,
o Estado e as famílias passam a apostar que os filhos deveriam “[...] ser bem criados e esbanjar
saúde, para desta maneira participar do progresso de sua pátria” (Romagnoli, 1996, p. 56).
É difundido o argumento de que “os avanços da medicina” representaram melhoras
substanciais para as condições de vida da população e que isso não pode ser desconsiderado.
De fato, é possível dizer que a medicina, entre outros saberes e tecnologias que se
desenvolveram com as ciências modernas, proporcionaram um aumento na expectativa de vida;
reduziram adoecimentos, epidemias e pragas; aumentaram o controle e a eficácia dos
tratamentos de várias doenças; melhoraram em muitos aspectos os meios urbanos. Contudo,
essas afirmativas precisam ser projetadas nos agenciamentos concretos que compuseram e
compõem as diversas realidades do nosso país. É necessário destacar que os saberes
tecnocientíficos são sempre implementados de forma atrelada aos jogos de poder que com eles
se institucionalizam. Nesse caso, eles produziram uma grande dependência de pessoas e de
famílias em relação às suas normativas, a seus padrões de normalidade e à ingerência estatal –
médicos, mas também outros profissionais da saúde, da educação e do âmbito assistencial mais
amplo que se vinculam às políticas (e polícias) de Estado tornaram-se responsáveis por
133
disseminar esses saberes e fiscalizar a adequação familiar e subjetiva a eles. Acompanhando
Costa (1979/1989), é possível ponderar que a própria eficiência científica da higiene funcionou
como auxiliar na política de transformação dos indivíduos em função dos interesses do recém-
inaugurado Estado nacional brasileiro em exercer um controle biopolítico sobre sua população.
Além disso, naquele período e até hoje, se os padrões higiênicos e disciplinares tornaram-se
uma importante referência da normalidade de famílias e indivíduos, para boa parte da população
brasileira é apenas como referência e numa perspectiva de autocontrole de seus corpos, desejos
e condutas que esses saberes e suas possibilidades de intervenção clínica-social chegam. Dito
em outras palavras, se esse modelo efetua-se socialmente, é apenas em sua distância especular
que ele se concretiza para grande parcela dos brasileiros, que não têm o acesso concreto e
adequado aos serviços especializados da medicina, psicologia, pedagogia e outros.
Nesse contexto, cumpre marcar a importância do processo de industrialização do país
que se fortalece ao longo do século XX. À medida que as ofertas de trabalho oriundas da
industrialização no país se ampliam, observa-se um forte êxodo rural e a imigração para os
centros urbanos industriais, especialmente do sudeste. Isso aumenta o número de pessoas e
famílias que se inserem concretamente nas lógicas higiênicas e disciplinares. Sobretudo, a
dinâmica industrial aumenta a dependência desses indivíduos em relação ao sistema capitalista-
estatal, suas prioridades, investimentos e escolhas.
Por fim, gostaria de marcar dois pontos.
O primeiro é que o modelo nuclear, privatizado e burguês de família acabou por se
tornar uma importante referência no Brasil. Como pondera Kehl (2003), em trabalho a que me
referi no capítulo anterior, na entrada do século XXI muitos brasileiros sonhavam em ter “uma
família normal” nesses moldes. Projetavam sua própria família, bem como os “desajustes” e
“desvios” desta nesse modelo que se sagrou hegemônico no país e acabou sendo naturalizado
por razões morais, políticas e econômicas. Modelo que nos anos 2020, como vimos, ainda
orienta os sonhos, bem como amarga as desilusões de muita gente.
O segundo ponto é que, como procurei apresentar, mesmo que em linhas muito gerais
(o que sempre corre o risco de deixar muita coisa de fora e de indicar apenas de forma
superficial aspectos importantes), o Brasil, como as Américas, foi se constituindo por uma
mistura de gentes, de cosmovisões, de agenciamentos familiares. Mistura que não foi e nem
pode ser “achatada”, mesmo quando reconhecemos a presença de segmentações que, com seus
padrões e hierarquias, traçaram modelos, discursos, práticas que se tornaram dominantes. A
134
diversidade escapole, resiste, adapta-se, inventa e transforma por todos os lados e isso sempre
deve compor um trabalho cartográfico.
Precisamos de pobres?
Eu não sei o que é passar fome. Não me refiro, obviamente, a algum jejum feito por
motivos médicos, nem à fome que assalta as vísceras quando estou eventualmente atrasada para
o almoço em virtude, por exemplo, do engarrafamento no trânsito ou de uma reunião de
trabalho. Refiro-me à dúvida lancinante se haverá alimento para nutrir meu corpo e sustentar
minha força vital de forma suficiente pelo dia de hoje, ou de amanhã, ou até o fim da semana
ou do mês. Refiro-me a não ter nada, ou quase nada, além dessa dúvida e de pouca margem de
movimentação no diagrama das forças sociais, de escassos recursos materiais, financeiros e
simbólicos, de precárias condições afetivas, familiares e coletivas que garantam algum amparo
ou confiança. Que garantam, ao menos, o que comer com dignidade.
Essas questões passam pela minha cabeça enquanto volto para casa após a visita à Celma
em seu imóvel em uma região periférica de Belo Horizonte. Celma mora hoje cercada pelos
filhos e netos com suas casas dentro de uma das ocupações em processo final de regularização
perante o Estado e a Justiça. Até chegar ali, sua história foi marcada pelo limiar da subvivência
– limiar da fome, do medo, do estreitamento de saídas diante da vulnerabilidade e do
sofrimento. Por muito tempo, sua família precisou conviver com a morte constantemente à
espreita.
A palavra “subvivência” me veio à cabeça para nomear condições de vida, ou melhor,
de subvida, a que muitas pessoas e famílias têm sido submetidas na modernidade capitalista.
Lembrei-me de uma passagem das Estórias Abensonhadas do escritor moçambicano Mia Couto
(1994): “[...] a mulher, subvivente, somava tanta espera que já esquecera o que esperava” (p.
20). Como entendo, cabe aos subviventes essa existência pálida de sonhos, apostas e
possibilidades de conexão com o modo de existência dominante. Ou mesmo, em casos
extremos, resta-lhes o esmagamento de suas existências, quando consideradas pelos homens de
Estado um estorvo de somenos importância. São subviventes aqueles cuja posição no diagrama
das relações de poder empurra-os para habitarem um sub-lugar, marcado pela ausência de
pertença, em diferentes dimensões. No momento contemporâneo, como veremos, há uma
pertença marginal destinadas aos subviventes, que são colocados em uma posição de acesso ao
modo de vida hegemônico basicamente como força produtiva em trabalhos mal remunerados,
135
inconstantes e sem perspectivas de ascensão econômica ou social. Pode-se dizer, para lembrar
as análises de Marx (1867/2013), que eles e elas (mais elas do que eles, vale destacar) acessam
o modo de vida dominante basicamente como “exército de reserva”. Sua posição no diagrama
das relações de poder exige que funcionem à margem, com acesso a direitos que o Estado se
propõe a garantir de formas muito limitadas e desde que permaneçam nos territórios a eles
destinados (as periferias), como indicou Edson Passetti (2006).
No caso de Celma, trata-se de uma mulher de origem indígena. Seus nove filhos
cresceram em meio às investidas de fazendeiros sobre as terras de seu povo que se situam no
sul da Bahia e ao descaso das autoridades para coibir os ataques e as invasões. Com frequência
precisavam se esconder no mato para sumir das vistas dos fazendeiros que, se os percebessem,
tentavam matá-los. Se esse tipo de prática – o assassinato de povos originários para a conquista
de suas terras – nasceu com a própria formação do Brasil, o relato de Celma refere-se a essa
realidade no adiantar dos anos 1980 e início da década de 1990, quase quinhentos anos depois
do início de seu descobrimento53.
Em 1995 Celma decidiu deixar seu aldeamento e “tentar a vida” em Belo Horizonte,
exausta das constantes ameaças de morte que não conseguia acostumar-se a sofrer. Ameaças
que não vinham somente dos fazendeiros, mas também da falta do que comer. Por vezes, os
fazendeiros incendiavam as terras com o intuito de forçar seu povo a se retirar delas. Por vezes,
o que era plantado nas roças não resultava em alimentos suficientes para todos, especialmente
com o escasseamento das chuvas e diminuição do fluxo dos rios nos fins do século XX. Por
vezes, seu marido, que ia às feiras nas redondezas para vender parte do que fora produzido de
forma a conseguir dinheiro para comprar outros itens necessários para a subsistência da família,
acabava por usar o que havia arrecadado exclusivamente para consumir bebidas alcóolicas.
Celma conta-me que passou tanta fome e tanto medo de que seus filhos e ela mesma morressem
de fome que ainda hoje seu sonho mais frequente, quando dorme à noite, é a (re)vivência da
angústia pela ausência de alimentos: “Eu sonho mais é com o sofrimento que passei lá na roça,
da fome. Da terra tá seca e a gente tá plantando e esperando ainda nascer. Aí no sonho eu penso
assim: vou [ter que] esperar três meses pras coisas começar a dar...”.
53 A realidade da violência e do assassinato contra povos originários devido à cobiça por suas terras persiste até hoje, oscilando entre momentos de aumento da violência e momentos de redução. Isso está ligado, em grande medida, à postura adotada pelo Estado em cada época, mais a favor de maior proteção desses povos e suas terras ou mais a favor dos interesses econômicos de setores empenhados em usar as terras para a implementação de práticas exploratórias e ou produtivas nos moldes capitalistas.
136
Em sua saída do aldeamento, Celma levou consigo o dinheiro suficiente para uma
viagem só de ida para Minas Gerais e, como única companhia, sua fé no Deus católico que os
jesuítas há muito haviam apresentado a seu povo. Seus filhos, todos eles, inclusive a caçula
com quatro anos, precisaram ficar com o pai, de quem se separou, e com outros parentes, apesar
de seu medo de que morressem de fome. Celma não tinha qualquer outro recurso que não fosse
para seu trajeto individual até Belo Horizonte. Ela conta-me da angústia, da culpa e da dor de
“deixar” os filhos, mas pondera: “não podia levar para não sofrerem junto comigo”.
Ao lembrar de sua chegada na capital mineira sem qualquer apoio familiar-comunitário,
Celma avalia: “dei muita sorte, Deus foi muito bom pra mim”. Isso porque ela conseguiu um
emprego no dia em que chegou. Começou a trabalhar como empregada doméstica e a ganhar
R$100,00 mensais54. Trabalhando como doméstica, levou três anos para juntar dinheiro
suficiente para que suas filhas mais novas pudessem vir morar com ela em um porão que
adquiriu em um bairro industrial e periférico de Belo Horizonte. A vinda de todos os seus filhos
e filhas foi um processo que durou 17 anos. Escuto sua história e repito, fitando-a com os olhos
tristes: “Dezessete anos...”.
Esse processo vivenciado por Celma e sua família é tão antigo quanto o Brasil. Vale
lembrar que os integrantes dos povos originários, nomeados “índios” pelos europeus, foram
convocados à missão de se “humanizar” à maneira dos colonizadores, desde a chegada destes,
para conseguirem melhorar suas condições de vida – diga-se, para melhorar conforme o modo
de viver dos colonizadores. Tal “humanização” como homem, branco, ocidental, cristão,
capitalista, burguês, moderno sustentou-se e sustenta-se, até hoje, a partir do pressuposto que
esta é a melhor ou mesmo a única maneira desejável de ser humano. Por outro lado, é certo que
os benefícios dessa humanização nunca foram os mesmos para todos. Pelo contrário: esse modo
de subjetivação sempre exigiu a inserção de grande parcela de pessoas e famílias em posições
de vulnerabilidade no diagrama das forças sociais, marcadas pela precariedade material,
simbólica, financeira, política, identitária, social. Com efeito, para a quase totalidade dos
“outros” (os não brancos que deveriam se humanizar), seu destino nesse modo de vida foi e
permanece sendo a condição de pobres, quando não de miseráveis.
Como argumentaram Eduardo Viveiros de Castro e Débora Danowski em entrevista à
jornalista Eliane Brum (2014), os índios foram impelidos historicamente a se assumirem como
pobres – pobres de educação, de cultura, de religião, de recursos técnicos e tecnológicos, de
54 Valor do salário mínimo em 1995.
137
oportunidades, de individualidade, de capacidade cognitiva – para poderem se inserir no modo
de vida capitalista e hegemônico. A história do Brasil foi um processo de conversão dos índios
(e dos negros e de outros considerados não-brancos) em pobres. Suas terras e pertenças foram
retiradas, sua língua e religião foram coibidas, seus costumes e cosmovisão foram
demonizados; restaram-lhes sua força de trabalho e seu empenho individual para aprender a ser
como o homem branco, estimulados por narrativas que asseguravam que os que se
comportassem adequadamente, como cidadãos honrados e honestos, mesmo que em condições
de pobreza, se tornariam brancos um dia. Com isso, muitos “[...] deixam de ser índios, mas não
conseguem chegar a ser brancos” (Viveiros de Castro apud Brum, 2014, s/p).
Esses pensadores ressaltam que, mesmo hoje, predomina no Brasil a visão evolucionista
e assimilacionista de que os índios necessitam evoluir para ser “como nós”. Tal visão tem
marcado historicamente grande parte das políticas sociais do Estado brasileiro para os povos
originários e para todos que são considerados como Outro – os “diferentes de nós” – que, por
isso, foram (e são) considerados pobres por esse modo de vida.
Ao ver o Outro essencialmente como pobre, aqueles que se consideram detentores da
cosmovisão e do modo de vida desejável assumem a tarefa histórica de emancipar o Outro da
pobreza, tirá-lo dessa condição. Contudo, como frisa Viveiros de Castro (apud Brum, 2014,
s/p), “[...] invariavelmente, esse movimento tem você mesmo como padrão. Você não se
modifica, você modifica o pobre. Você traz o pobre para a sua altura, o que já sugere que você
está por cima do pobre”. Além disso, esse movimento homogeneíza os Outros; toma-os todos,
não obstante suas diferenças, como pobres. Pobres que precisam adequar-se às lógicas
familiares, educativas e produtivas modernas e adotar sua relação predominante de
propriedade-uso-consumo-descarte das coisas, dos rios, das terras, dos instrumentos, dos
alimentos, dos medicamentos, entre outros.
Em janeiro de 2020 o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, expressou, em
pronunciamento em que anunciou o vice-presidente Hamilton Mourão como chefe do Conselho
da Amazônia, seu contentamento porque percebia que o índio brasileiro estava evoluindo e
tornando-se cada vez mais “um ser humano igual a nós”. Declarou ainda seu desejo que o índio
se integrasse cada vez mais na nossa sociedade e se assumisse como dono de sua terra indígena
(ainda que, é bom lembrar, as alianças familiares, os laços sociais e as relações com a terra
sejam, para esses povos, diferentes das nossas concepções de sociedade e de propriedade
privada, o que o presidente parece desconhecer ou desconsiderar).
138
Cumpre destacar que essa postura não está restrita a políticas de governos com perfil
ultraconservador como as do presidente Jair Bolsonaro. Parcela considerável dos políticos,
intelectuais e lideranças intitulados progressistas e ligados a “ideologias de esquerda” assumem
percepção e postura semelhantes diante dos Outros. Durante os governos de Luís Inácio Lula
da Silva e Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre os anos 2003 e
2016, as políticas do Estado para os povos tradicionais foram orientadas pela importância do
progresso e da evolução da sociedade brasileira rumo ao Bem-Estar Social para todos, o que
envolvia emancipar os pobres dessa condição. Isso fica evidente nos slogans dos dois mandatos
de Lula como presidente (2003-2006 e 2007-2010): “Brasil, um país de todos” e “Brasil, país
rico é país sem pobreza”, respectivamente. Como Lula defendeu várias vezes, as políticas de
desenvolvimento social e de crescimento econômico do Estado brasileiro deveriam realizar uma
“reparação histórica aos pobres” através da conciliação entre, de um lado, o aumento da renda
e do consumo das famílias pobres e, de outro, o apoio substancial a investimentos de
empresários, empreiteiros, instituições financeiras e outras. Essas políticas foram também
seguidas por Dilma, cuja visão sobre os povos indígenas foi bem resumida pela liderança Sônia
Guajajara em entrevista a João Fellet:
A Dilma acha que temos que comprar, consumir e fazer cooperativas para ter dinheiro. Ela pensa que, para ficarmos bem, ter qualidade de vida, precisamos ter bens, chuveiro quente, casa de alvenaria. Nas grandes obras [do PAC], às vezes oferecem às comunidades algum dinheiro, achando que vão resolver os problemas. Mas para o indígena o dinheiro acaba sendo um ponto de conflito, porque não temos o costume de lidar com ele. Não temos essa coisa de acumular riquezas. Nossa lógica e nosso modo de vida são outros. O que a maioria dos indígenas nas aldeias quer é tranquilidade. Qualidade de vida para nós é liberdade, e liberdade é ter nossos territórios livres de ameaças e invasões para produzir sem destruir, como fazemos milenarmente. (Guajajara apud Fellet, 2014, s/p).
Nesse contexto, é preciso se questionar se os outros, enquanto Outros, são mesmo
pobres, para melhor compreender os mecanismos que os produzem nessa condição. O governo
de Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que foi continuado por Dilma
com o intuito de fazer “[...] o Brasil ingressar no rol dos países desenvolvidos” (Lula da Silva,
2010). O paradigma que orientou as bilionárias obras de infraestrutura do PAC seguiu a
concepção colonial de que os povos indígenas são obstáculos ao desenvolvimento que devem
ser removidos como indígenas e reinseridos no Brasil dentro das lógicas civilizadas. É
exemplar, nesse sentido, o processo de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará,
que atingiu as cabeceiras do rio Xingu e o Parque Indígena do Xingu e exigiu que dezenas de
milhares de índios fossem deslocados para dar lugar ao lago da usina. Para o deslocamento
realizou-se um processo de cooptação dos indígenas da região para que vissem o
139
empreendimento como um evento positivo para sua realidade. Em uma comunicação publicada
pela Universidade de São Paulo (Unifesp), Ana Cristina Cocolo e Celina Brunieri (2014) deram
voz a integrantes do Projeto Xingu que explicaram que diversas comunidades firmaram-se
contra as obras, mas outras aceitaram receber um “benefício” da empreiteira responsável pela
obra, no valor de 30 mil reais por mês. Com esse dinheiro, adquiriram diversos produtos como
eletrodomésticos, motores, barcos, alimentos industrializados, o que acabou por desorganizar
os modos produtivos e as relações comunitárias: muitas famílias reduziram atividades como
plantar, caçar, pescar e isso desestruturou as trocas comunitárias, diminuiu sua relação com a
terra e os tornou mais dependentes da “ajuda civilizada”.
O evento citado deflagra como o contato forçado com as lógicas civilizatórias do
capitalismo moderno e sua efetuação pelo Estado brasileiro continuam a ter complicadas
consequências sobre os modos de subjetivação, os arranjos familiares e as formações
comunitárias dos povos indígenas. Nesse caso, povos amazônicos até então mais preservados
da ingerência dos “brancos” foram empurrados para a vulnerabilidade que o empobrecimento
dentro das lógicas capitalistas produz para os Outros. E aqueles que resistem acabam, muitas
vezes, colocados na marginalidade, criminalizados ou exterminados por se recusarem a se
inserirem nesse modo de vida55.
No âmbito desta pesquisa, se Celma e sua família acabaram por se inserir no modo de
vida moderno, alocando-se como pobres em um grande centro urbano, cumpre assinalar que eu
contatei outras famílias indígenas no processo desta pesquisa. Famílias que, vivendo em suas
aldeias e aldeamentos, procuram resistir como podem às múltiplas pressões para se civilizar à
maneira capitalista moderna, como seus pobres. Famílias que, tal como Sônia Guajajara
pondera acima, não desejam aderir a muitos dos aspectos e lógicas do modo de vida
hegemônico, mesmo se resistir não seja também uma tarefa fácil. Nesse sentido, retomo um
pouco da história do povo de Sandra e Iraí referidos anteriormente56 – os Maxakali ou, em sua
autodenominação, os Tikmũ’ũn.
55 Conforme compilado de Gallardo (2013) de dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso a média de assassinatos de indígenas no Brasil foi 20,8 mortes por ano. Nos governos seguintes, de Lula e Dilma, e com a ênfase em suas políticas desenvolvimentistas assumidas por grandes empresas privadas, houve um aumento considerável do número de assassinatos de indígenas, perfazendo uma média de 54 mortes por ano. 56 Conferir no capítulo 2 deste trabalho.
140
Ailton Krenak conta, em entrevista a Amanda Massuela e Bruno Weiss (2019), sobre o
os Maxakali que vivem na região do vale do Mucuri, em Minas Gerais. Como o seu próprio
povo Krenak (e tantos outros), os Maxakali sofreram um processo histórico de destituição de
suas terras com a derrubada das matas por mineiros e fazendeiros, para “[...] fazer garimpo e
botar boi”: “Os nossos parentes Maxakali continuam até hoje cercados por todas aquelas
fazendas, sendo moídos por aquela violência colonial em volta deles. Mas 90% deles não falam
português e se negam a aprender português” (Krenak apud Massuela & Weiss, s/p.). A
manutenção de sua língua original e as restrições ao aprendizado e uso do português pelos
Maxakali estão inseridas em um conjunto de estratégias desse povo para manter-se vivo à sua
maneira, sustentando a criação de um mundo para habitarem, de forma “paralela” ao mundo
habitado pelos modernos e modernizados. Estratégias que, no entanto, não blindam esse povo
do contato e das interferências com o modo de vida hegemônico no Brasil.
Durante um momento de conflitos entre famílias Maxakali em 2005, alguns grupos
foram pressionados a sair de suas aldeias e, com isso, partirem do território a eles destinado
pelo Estado brasileiro. Esses conflitos entre os grupos e suas estratégias por vezes violentas, de
acordo com Rodrigo Barbosa Ribeiro (2008), compõem a cosmovisão e os rituais desse povo,
bem como a função da guerra e do nomadismo em seus modos de vida. Entretanto, é necessário
sublinhar que tais conflitos “internos” não podem ser desconectados da supressão de territórios
e de condições adequadas para seus modos de vida, gerados pelo desmatamento e pela
exploração socioambiental capitalista. Nesse cenário, entre os que partiram, a família de Sandra
e Iraí assentaram-se com mais famílias em outro local, sob a mira e ataques de fazendeiros.
Precisaram do apoio do Estado para se reestruturar. Isso porque fora dos territórios demarcados,
os povos indígenas veem-se surrupiados de sua relação originária com a Terra e deparam-se
com as lógicas privatistas e segmentárias que se apropriaram e cercaram, desde os tempos
coloniais, as “nossas” terras pelo país.
Sandra e Iraí contam-me que o novo território definido pelo poder público para que
pudessem estruturar sua aldeia possuía pouco mais de 100 hectares para abrigar, em 2018, cerca
de 500 pessoas. Boa parte desse território é composto por montanhas e matas de preservação.
Explicam que sua comunidade sofre com isso e que nem os governantes, nem a população que
vive nas cidades entendem: cercados por matas preservadas e montanhas, eles não podem usar
uma quantidade de terreno suficiente para produzir alimentos em uma roça que baste para todos
na aldeia e seus rituais. Pergunto se recebem alguma assistência do Estado. Sandra esclarece
que sim e que não podem recusar as cestas básicas que recebem. Mas informa que, ainda assim,
141
“nós passa fome, porque a gente tem que plantar numa roça pequenininha. A Funai [Fundação
Nacional do Índio] leva cesta [básica], mas a cesta não é suficiente pra nós, porque ela não é
saudável pra nós e não é dos nossos rituais também”.
De fato, os produtos disponibilizados para esses indígenas (não só para eles) foram
definidos conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania do governo federal,
cujo padrão de cesta básica conta com oito tipos de alimentos produzidos dentro de lógicas
agroindustriais com o uso de agrotóxicos e, em boa parte, processados57. Não são
disponibilizados mandioca, milho, batata doce, banana e outros vegetais in natura fundamentais
para os rituais da etnia, ao mesmo tempo que eles não podem plantá-los em quantidade
suficiente. Eles não têm, ainda, livre acesso em seu território a águas naturais de rio, o que
aumenta os desafios para a sobrevivência de seus modos de vida – não apenas pela
indisponibilidade de recursos suficientes para a roça e para pesca, mas também para a realização
de seus rituais que têm o rio como componente fundamental. Pergunto como tentam solucionar
essa questão e escuto uma verdadeira saga para acessar o rio da propriedade do fazendeiro
vizinho que chegou a colocar cerca elétrica para que eles não passassem em suas terras.
Vale pontuar que não se trata, do ponto de vista ético-político, de deixar qualquer um –
dos “nossos” ou dos Outros – à mercê da própria sorte quando é possível proteger e
potencializar sua existência. Por isso, o apoio dos aparelhos de Estado e de sua força política,
econômica, social podem ser importantes e necessários em diversas circunstâncias. Há que se
ver sempre quais as conexões, flexibilizações, ajustes são necessários e feitos nas relações com
esses aparelhos em cada caso. Desta vez, o apoio dado permitiu que o grupo de famílias
dissidentes, família de Iraí e Sandra inclusa, se reorganizasse em um novo território. Contudo,
esse apoio do Estado parte do pressuposto de que eles são pobres e que, por isso, resta-lhes
depender da assistência alimentar e financeira do Estado. Por outro lado, como também me
contam, recebem uma assistência à saúde que é respeitosa com seus costumes, com um médico
que visita a aldeia uma vez por semana. Além disso, alguns dos membros da aldeia estão tendo
a oportunidade, como Iraí e Sandra, de participar da Formação Intercultural para Educadores
Indígenas (Fiei) ofertado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) para a formação de professores indígenas, de forma a conseguirem integrar seus
saberes e práticas tradicionais à educação formal.
57 Conferir a composição do padrão federal de cesta alimentar básica em: http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/cestas-de-alimentos/composicao-das-cestas-de-alimentos
142
Seja como for, as conexões e a ingerência das forças econômicas, políticas, ambientais,
culturais, subjetivas do capitalismo são muito grandes. Entre os efeitos dessas forças, em
novembro de 2015, territórios e comunidades Maxakali foram impactados, mesmo que de
forma indireta, pelo desastre socioambiental provocado pelo rompimento da barragem do
Fundão no município de Mariana, onde estavam alocados resíduos do processo de extração de
minério de ferro de montanhas de Minas Gerais pela empresa Samarco Mineração S/A. Entre
as consequência desse desastre, ocorreu a contaminação do Rio Doce, o que inviabilizou o uso
de sua água por diversas comunidades indígenas que direta ou indiretamente estavam ligadas a
ele. Definido como o maior desastre ambiental do Brasil, envolvendo o extermínio de toneladas
de peixes, a contaminação da água por onde o fluxo de rejeito passou, além da morte de 19
pessoas, o Ministério Público Federal (MPF) assim o descreveu:
O colapso da estrutura da barragem do Fundão ocasionou o extravasamento imediato de aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica, entre outros particulados, outros 16 milhões de metros cúbicos continuaram escoando lentamente. O material liberado logo após o rompimento formou uma grande onda de rejeitos. (...) Em sua rota de destruição, à semelhança de uma avalanche de grandes proporções, com alta velocidade e energia, a onda de rejeitos atingiu o Córrego de Fundão e o Córrego Santarém, destruindo suas calhas e seus cursos naturais. Em seguida, soterrou grande parte do Subdistrito de Bento Rodrigues. (...) Após percorrer 22 km no rio do Carmo, a onda de rejeitos alcançou o rio Doce, deslocando-se pelo seu leito até desaguar no Oceano Atlântico, no dia 21 de novembro de 2015, no distrito de Regência, no município de Linhares (ES). (MPF, 2015, s/p)
“O rio adoeceu”, disseram na época diferentes lideranças indígenas. Três anos depois,
em janeiro de 2019, outro rompimento de barragem, outro desastre, mais destruição. A
barragem de rejeitos de Córrego do Feijão da mineradora Vale S/A se rompeu em outro
município de Minas Gerais, Brumadinho, liberando cerca de 14 milhões de toneladas de rejeitos
de minério de ferro e contaminando o rio Paraopeba e seu entorno, além de matar quase 270
pessoas. Nessa época, eu estava em Lisboa, no último mês de meu doutorado-sanduíche. De
longe e pelas redes sociais, acompanhei a tristeza e a indignação de Sandra diante de mais esse
desastre e seu impacto sobre povos indígenas, como os pataxós.
No mês seguinte, quando retornei ao Brasil, tentei contatar Sandra algumas vezes, sem
resposta, o que inviabilizou a visita que havia planejado fazer a sua aldeia e família tão logo
retornasse ao Brasil. Escutei o seu silêncio e não encontrei outro caminho senão respeitá-lo.
Silêncio que só foi quebrado uma vez, quando Sandra me enviou uma carinhosa mensagem,
desejando-me um bom Ano Novo para 2020. Como disse em outro momento deste trabalho,
sempre o silêncio nos diz muitas coisas...
143
Os outros
Após quase duas horas de viagem, orientada pelo Waze, localizei a estrada de terra para
ter acesso à comunidade quilombola. Fui sozinha, acompanhada apenas da orientação de Diego:
“vá quando quiser, é só chegar”. Assim o fiz. Após cruzar um pequeno trecho de mata, passei
pela porteira da entrada. Segui por mais alguns metros até conseguir estacionar o carro ao lado
de uma das casas e saí do automóvel procurando esboçar ares de quem sabia o que estava
fazendo. Contudo, os olhares curiosos que brotaram por todos os lados, diante da minha figura
um tanto exótica para o cotidiano do local, fizeram a vergonha aparecer sorrateira, subindo
quente pelo meu pescoço. Por um lado, eu sabia que as pessoas ali estavam acostumadas a
receber “os de fora” como turistas e visitantes na comunidade. Por outro lado, não era nessa
posição que eu desejava chegar ali.
Aproximei-me de um menino e perguntei por Binho, quem iria me receber. O menino
apontou sem palavras para um banco de tora de madeira instalado embaixo de uma grande
mangueira, onde algumas pessoas conversavam. Pus-me a caminhar em direção ao banco,
prestando pouca atenção em meu corpo. Acho que não queria reparar no coração acelerado,
nem na frouxidão das pernas que seguiam mais por obediência do que por determinação. Mas
caprichei no sorriso e enchi os pulmões de ar para chegar pronta para desejar um “boa tarde”
consistente para o grupo. Ao me escutarem, pararam a conversa. “Tarde”, um deles me
respondeu e pôs-se, juntos com os demais, em silêncio, à espera. E foi com o resto do ar que
me restava nos pulmões que consegui perguntar: “O Binho...?”
“Sou eu”, um deles respondeu, abrindo um sorriso e fazendo com que minhas costelas
finalmente relaxassem e os pulmões se enchessem de novo com ar. Explico-lhe que estava ali
orientada por Diego, seu irmão, e pergunto, certa da resposta positiva, se ele sabia que chegaria
naquela tarde. Pensativo, Binho me responde que o irmão não havia falado nada com ele, não.
Eu insisto se ele não tinha sido informado sobre mim, minha pesquisa ou sobre a minha ida
naquele dia. “Num tô sabendo de nada...”, responde, já completando: “Mas aqui, não tem
problema, você pode ficar lá em casa se quiser. É simples, mas nós sempre dá um jeito!”. A
senhora que acompanhava a conversa ao lado solta uma gargalhada e comenta: “Pode ficar lá,
moça! Esse daí acolhe todo mundo, até bandido ele deixa entrar na casa dele. Tem este casal
que tá lá agora. Eles são amigos de quem mesmo, Binho? Vieram para ficar uma semana e estão
lá já tem quase um mês!”, a senhora continua, atualizando a gargalhada. E eu, um tanto sem
graça: “Eu só vou ficar dois dias...”, como se isso tivesse alguma importância ali. Enquanto
144
agarro-me às reticências do meu comentário, outra senhora aproxima-se do grupo e pergunta-
me se quero almoçar, que ainda tem comida que dê para mim. Agradeço, pois já tinha almoçado.
Deixo a vergonha e a falta de jeito escorrerem pelos pés; assento-me no banco e entro na
conversa que está, percebo, sinceramente disponível, tanto quanto o almoço, para minha
participação.
Daquele momento em diante, devo admitir, foram dias intensos. Ao mesmo tempo que
tudo ali parecia mover-se em um ritmo mais tranquilo e cadenciado do que a aceleração que a
rotina da vida em uma metrópole me impunha, eu fui lançada em uma espécie de zigue-zague
existencial, sendo levada de um lugar a outro, de uma pessoa a outra, de uma opinião a outra,
entre tantos pedidos e perguntas, entre muitas gargalhadas e casos, dos conflitos à importância
do coletivo, do bar ao fogão à lenha, da conversa no terreiro ao alto da montanha, de caminhadas
a passos rápidos à travessia do rio, das brincadeiras das crianças à escuta respeitosa dos velhos
e sua voz da tradição. Demorei alguns meses para digerir as experiências, afetos, informações.
Um dos aspectos que me marcou foi o estranhamento que brotou em mim com os
pedidos que muitos fizeram, ao me apresentar como psicóloga, de que eu “desse um jeito” em
fulano ou ciclano; que eu ajudasse a manter a união do grupo; que eu fizesse uma reunião com
todos para “consertar” as rixas. Eu já estava acostumada com pedidos de ajuda à psicóloga que
eu também sou e sempre soube lidar bem com esse imaginário de que um psicólogo consegue,
por si só, consertar alguém. Mas ali uma sensação de desconforto rendeu-me várias semanas de
afetação-reflexão até compreender que, na verdade, não havia nenhum problema com o pedido
daquelas pessoas e sim com o meu preparo teórico-metodológico e humano para ajudá-las (se
fosse mesmo o caso de fazê-lo em algum momento) considerando as lógicas, arranjos,
sensibilidades delas, bem diferentes das minhas. Retomando a ponderação de Viveiros de
Castro (2015), posso dizer que os humanos (o que me inclui) têm sempre algo de mesquinharia
quando devem compartilhar sua humanidade (seus saberes inclusos) com um Outro cuja
maneira de existir é muito distinta, a ponto de não encontrarem pontos seguros de identificação
e sim a Diferença... No final das contas e a partir da análise da minha implicação com o processo
da pesquisa58, acabei por comemorar o estranhamento vivido como uma oportunidade de
encontro – sempre difícil e potente – com o outro enquanto multiplicidade capaz de ampliar o
que até então me parecia todo o real possível.
58 Sobre o conceito de implicação e sua importância para atuações orientadas pelo Movimento Institucionalista e, em especial, sua prática na pesquisa-intervenção cartográfica, conferir Romagnoli (2014).
145
Dentre os pontos que produziram estranhamento está a própria concepção de casa ou de
lar em suas importantes sutilezas. Nesta comunidade as pessoas compreendiam, quando eu
perguntava sobre “a sua casa”, que a minha referência era o imóvel onde mantinham seus
pertences pessoais e realizavam atividades como dormir, cozinhar, banhar-se, lavar as roupas,
estudar, assistir à TV. Entretanto, o modo como funcionavam cotidianamente distanciava-se
das maneiras como eu estava acostumada a compreender e a viver uma casa.
É que estou acostumada, ao pensar em “casa”, a formar uma imagem do espaço
doméstico bem delimitado e fechado, onde a intimidade e a privacidade são vividas como algo
fundamental, precioso, cujo acesso não deve ser dado a qualquer um ou de qualquer jeito.
Aprendi que a entrada de “gente de fora” nesse espaço deveria ser feita tanto considerando
quem pretendia entrar, quanto considerando se a casa estava devidamente organizada, limpa,
decente para ser exposta a outros. Nesse sentido, lembro-me das exigências de uma das minhas
avós que, morando no interior de Minas Gerais, recebia-me com frequência para passar as férias
escolares. Em sua casa, todas as vezes que eu queria convidar uma amiga ou amigo para ir lá,
antes de sua autorização, precisava contar-lhe em detalhes as credenciais pessoais e familiares
que compunham a identidade da pessoa. Ainda nesse sentido e já no contexto desta pesquisa,
escutei uma piada feita por uma das informantes-chaves que estava a me ajudar na busca por
famílias da classe média urbana. Enquanto conversávamos sobre essas famílias, ela brincou
que, quando perguntamos às mulheres da classe média como vai sua casa, “elas geralmente
respondem que está tudo bem. Você só não pode ir lá!”. Ou seja, não se deve fazer uma visita
a essas casas sem aviso para não se deparar com uma dinâmica cotidiana frequentemente mais
confusa, conflituosa, bagunçada, suja, improvisada do que os padrões higiênicos modernos
preconizam e que devem ser assunto da intimidade e da privacidade familiar, tornando-se
muitas vezes motivo de vergonha e constrangimento quando publicizado.
Na comunidade quilombola, por sua vez, percebi que o visitar acontecia junto com o
cuidar, o fazer, o trabalhar, o construir, o discutir, o brigar, o plantar, o rezar, o descansar, enfim,
este emaranhado de processos e fluxos cotidianos que não encontravam limites precisos entre
espaço doméstico e espaço público, diluindo experiências sociosubjetivas como a privacidade
e o privado. O terreiro central da comunidade era vivido como uma importante extensão das
casas, um espaço familiar e comum, fundamental para todos. Além disso, como ressalta Peri,
que trabalhava em Belo Horizonte e ia para sua casa na comunidade nos feriados e férias, não
havia delimitações – como muros ou cercas – entre as casas, que apenas raramente eram
mantidas fechadas e trancadas. De fato, um membro da comunidade podia, sem muitas
146
cerimônias, entrar em outras casas para contar alguma notícia, pedir um utensílio ou ferramenta,
aproveitar uma refeição.
Ao escutar o funcionamento comunitário, lembro-me da escolha estética de Lars von
Trier para seu filme Dogville (2003). A fazenda onde se passa a trama tem o cenário composto
principalmente por marcas no chão, como uma planta arquitetônica que desenha os limites das
casas e demais estabelecimentos. No cenário do filme não há paredes ou muros, o que dá plena
visibilidade para o espectador do que se passa “na intimidade” dos moradores do local. Ao
mesmo tempo, o cenário escancara a força social e subjetiva das divisões, separações,
segmentaridades, mesmo se (ou exatamente porque) elas são tornadas propositalmente
invisíveis. No quilombo que estou a visitar, sinto-me no movimento oposto: as paredes das
casas não inviabilizam as continuidades e o trânsito comum. Diego estava certo ao dizer que
sua família tinha umas 300 pessoas, afinal, os espaços comuns como o terreiro eram tão
importantes na composição familiar e para os processos de subjetivação quanto as casas, que
pouco continham os fluxos do coletivo.
Nesse sentido, foi interessante meu encontro com Rosana durante a visita. Ela havia
estudado psicologia comigo e, logo após a conclusão do curso, havia se casado com um dos
membros daquela comunidade e passado a viver ali. Animo-me ao ver seu rosto conhecido
aproximando-se junto com o fim da tarde, no dia de minha chegada. Vou ao seu encontro, um
reencontro, com uma saudade que acabava de brotar. Após abraços e sorrisos, pergunto-lhe,
curiosa, como estava a sua vida ali. “Mudei-me daqui”, ela respondeu-me prontamente,
enquanto eu tentava disfarçar a frustração com a notícia. “O que aconteceu? Você se separou?
Veio para trazer as crianças?”, pergunto. Ela sorri e confirma que sim, que tinha se separado de
certa forma. Depois explica que foram muitos anos morando na comunidade, que continuava a
se sentir parte daquele lugar, mas esclarece, em tom de confidência: “É difícil, aqui não tem
isso de você ter a sua casa pra você. É um entra e sai o tempo todo. Uma briga começa lá
embaixo e de repente está dentro da sua casa. E as pessoas se metem muito nas vidas umas das
outras... Eu não fui criada assim, tenho dificuldades com esse jeito. Daí preferi arrumar uma
casinha aqui perto [com o marido e os filhos]”. Não teço comentários. Afasto-me acompanhada
da ponderação de que, seja aonde for, é sempre preciso produzir, continuamente, arranjos e
ajustes para uma existência.
Quanto aos “de fora”, aprendo que o respeito e o acolhimento de “qualquer um” eram
atitudes ligadas à honra e à educação tradicionalmente praticadas pela comunidade. Como
Diego já havia me explicado: “fazemos o bem sem olhar a quem”. O costume da comunidade
147
era manter-se aberta, mesmo para aqueles que visitam “achando que a gente é museu” ou os
que querem apenas pedir rezas e bençãos. Nesse contexto, o critério de Binho para receber em
sua casa quem ali chegava poderia ser simploriamente (se isso for pouco) resumido: ir com a
cara da pessoa. Era algo mais intuitivo-afetivo do que calcado em uma análise das credenciais
identitárias da pessoa: sua origem familiar, étnica ou racial, suas condições socioeconômicas,
seu nível educacional, sua religião, seus antecedentes morais, sua rede de influências. Se há
riscos nessa abertura e acolhimento de outros, desconhecidos, com critérios possivelmente
arbitrários para os padrões capitalistas identitários com que eu estou acostumada, ali parecia
contar mais receber bem, considerando a oportunidade concreta ou potencial de um bom
encontro à maneira de Espinosa (1677/2009). Do mesmo modo, a ocorrência ou iminência de
maus encontros produziam, como em algumas histórias que me foram narradas, um tipo de
agenciamento guerreiro – uma máquina de guerra, diriam de Deleuze e Guattari (1980/1997b)
– capaz de unir rapidamente as forças individuais e coletivas do grupo para fazer “correr com
o sujeito” que se portava de forma a ferir a integridade, as crenças, os costumes, os modos de
vida de um(a) ou todos da comunidade. Se não havia discriminação a princípio, não havia
ingenuidade afinal.
Não se trata de afirmar que ali não existiam linhas de segmentaridade a recortar, dividir,
agrupar, hierarquizar, excluir... Como disseram Deleuze e Guattari (1980/1996b), “o homem é
um animal segmentário” (p. 83). As segmentações, bem como os conjuntos de pertença, as
formas, as estruturas e as identidades que elas instituem, fazem parte dos diversos
funcionamentos sociais e de parcela importante da compreensão humana acerca da realidade.
Por isso, havia também nesse quilombo segmentações articuladas em jogos de poder-saber que
davam mais voz a uns que a outros, que distinguiam diferentes linhagens e os descendentes de
cada uma, que deflagravam hierarquias, rixas, conflitos, contradições. Nina, uma das senhoras
mais queridas por toda a comunidade, me explica que não sabe como as rixas começaram, mas
há constantemente disputas “de quem é o melhor”. O que lhe causava preocupação: temia que
o vínculo comunitário se diluísse com a morte dos mais velhos, cuja liderança sustentava a
prioridade do coletivo e o respeito entre os membros como eixos fundamentais da socialidade
comum. Sem a emergência até então de lideranças mais novas capazes de apaziguar as disputas
e de indicar caminhos diversos das lógicas individualizantes que não paravam de chegar “cada
vez mais” através dos equipamentos tecnológicos, dos aprendizados nas escolas, das ida dos
jovens para cidades e áreas mais urbanizadas, do contato com os turistas que os visitavam, Nina
tinha o temor de que o agenciamento solidário que funcionava na comunidade e que articulava
148
o cuidado coletivo, a proteção comunitária e as práticas e costumes tradicionais fosse
desarticulado.
De minha parte, concordo que, neste momento histórico, estamos todos conectados,
ainda que de maneiras diferentes, às linhas de força do capitalismo que se sagrou bem-sucedido
em abraçar o mundo inteiro e embrenhar-se até nos menores recônditos da Terra. Nesse cenário,
corremos de fato o risco do endurecimento (ainda maior) do modo de subjetivação dominante
que, sustentado pelos donos do poder econômico e pelos tentáculos dos aparelhos de Estado,
tem produzido na(s) humanidade(s) uma grande monocultura existencial e civilizatória
capitalista moderna. Uma monocultura competente em neutralizar os efeitos dos encontros
entre multiplicidades que compõem as forças do mundo, em capturar as forças vitais a seu
serviço e em reduzir as experiências subjetivas para sua conformação em sujeitos
individualizados e suas identidades privatizadas (Preciado, 2018). Não obstante, é sempre
possível acompanhar processos moleculares de produção de desvios, ajustes, fugas, ousadias e
invenções. Os quilombos historicamente são uma efetuação concreta desses processos. Em
grande medida e não obstante as preocupações de Nina, eu os percebo ativos nessa comunidade.
Em outro momento, ao pé do fogão de lenha na casa de Binho, um casal do sul do país
que visitava o quilombo escuta a minha conversa com alguns membros da comunidade sobre
suas composições familiares. Durante a conversa ponho-me a desenhar no caderno uma espécie
de árvore genealógica ao melhor estilo arborescente, iniciada com o nome do casal que, com os
filhos, havia iniciado a comunidade. Os visitantes, estudantes de Comunicação Social,
empolgam-se com a ideia de plotar um grande banner para a comunidade com a apresentação
das linhagens familiares e divisões que veem nascer no papel. Enquanto isso, esforço-me para
rastrear as redes de afetos, de apoio e de aliança que existem na comunidade “fora” do traçado
verticalizado das descendências familiares que se insinuam no desenho. Como argumentei
anteriormente, a cartografia procura dar visibilidade à multiplicidade de linhas, arranjos e
componentes presentes em uma realidade pesquisada.
Nesse contexto, o meu desenho inicial parecia indicar uma formação familiar que
lembrava as tradicionais famílias patriarcais extensas. No entanto, as conexões com outros
componentes daquela e de outras conversas e com o zigue-zague existencial que vivenciei no
quilombo deram visibilidade a outras lógicas, sensibilidades, práticas, relações de poder. Um
outro desenho acabou se formando... Entre seus componentes, destaco a liderança assumida
pelas mulheres mais velhas e pelo papel feminino fundamental no cotidiano da comunidade.
De fato, eram as mulheres que conduziam os rituais religiosos, que eram convocadas para
149
dirimir os conflitos, que selavam importantes decisões e acordos. Eram as mulheres que
estavam autorizadas a cuidar da cozinha comunitária e que realizavam boa parte das atividades
– da arrumação da casa ao corte e carregamento da lenha para o fogão e ao roçado do terreiro.
Eu, que me tornei humana através de processos de subjetivação implicados na produção
de um corpo feminino delicado, frágil e contido, devendo manter a voz sempre a meio tom e
expressar-me com serenidade, preenchi-me de emoção e deslumbramento ao presenciar a
altivez e a força das vozes e dos corpos das mulheres daquele quilombo. Diego já havia alertado,
antes da minha visita, que eram as mulheres que encabeçavam as discussões e brigas, com
enfretamentos públicos, enquanto “a gente [os homens] não pode falar nada”. Durante a visita,
em uma das conversas, Tânia reclama dos homens dali que “são muito mimados”. Argumenta
que eles são criados para esperar que as mulheres resolvam as coisas, tomem os
encaminhamentos, realizem os serviços, ajudando apenas quando são convocados. Explica que
as mulheres, por sua vez, são criadas para “limpar a bunda deles até eles ficarem velhos”. “E a
nossa? Se nós sapecou59, nós se virou sozinha”. Pergunto-lhe porque então ela e as outras
mulheres não criavam as moças mais jovens e as meninas para serem diferentes, para terem
outras relações com os homens dali. Tânia, como quem escuta uma heresia, retruca: “Mas como
nós passa por cima dos velhos?! Nós temos uma líder ali. (...) Toda a vida ela mandou. Ai docê
falar [mal] dos homi, ela não deixa”. E explica que mesmo as mulheres que saíam para trabalhar
nas fazendas e outros serviços nas redondezas, ao chegar, eram convocadas pela matriarca para
fazer várias atividades que os homens que tinham ficado na comunidade poderiam ter feito,
mas não tinham sido demandados para tanto. Binho, que me acompanha na conversa com Tânia,
pondera: “Mas elas num deixa... Elas são bruta pra trabalhar!”.
Ao vivenciar o desenrolar dessa conversa admiro-me com um tal funcionamento que
não consigo definir nas linhas que (re)conheço de machismo e feminismo. Ali, são as mulheres
que, assumindo uma posição de comando e referência, demandam que elas mesmas trabalhem,
atuem, controlem para, nas palavras de Tânia, “mimar” os homens. Certamente seria necessário
aprofundar-me, o que valeria uma nova pesquisa, para conseguir acompanhar as nuances e a
complexidade desse arranjo. Seja como for, a força da condução feminina mostrou-se
inegavelmente respeitada pelos homens, mesmo nas circunstâncias em que eles estavam em
maior número ou demonstravam mais força física. Entre as consequências, havia uma grande
dependência masculina em diferentes circunstâncias. Como Diego me conta, quando a
59 Sapecou aqui significa ter tido assaduras.
150
matriarca se acidentou e perdeu a autonomia de conduzir tarefas domésticas como cozinhar,
seu marido ficou por dois dias sem comer à espera da esposa para servir-lhe à mesa, até
consolar-se de que precisava encontrar outra saída.
Diego, que já havia morado e visitado diferentes cidades, comenta que, mesmo com sua
experiência, ainda achava estranho ver um homem liderando. Sobre as mulheres da sua
comunidade, além da força e da voz, destaca que muitas delas são “caranguejeiras” que, como
esse tipo de aranha, permanecem sozinhas por opção: interessam-se por um homem quando
querem ter um filho dele e com ele ficam até conseguirem engravidar. Depois vão-se embora,
cuidar de sua vida e da criança. De modo diverso das lógicas patriarcais que historicamente
definiram o homem como o senhor responsável pela voz e pelas decisões familiares e que, com
o advento da urbanização e industrialização capitalistas, sagraram-no como o dono e patrão
também na esfera doméstica nuclear, aqui outros contornos e laços tecem boa parte das relações
entre homens-mulheres-filhos-famílias. Há mais autonomia das mulheres em relação à proteção
e ao sustento familiar promovido por homens, uma vez que elas são responsáveis por assumir
grande parte das tarefas produtivas e decisórias. Além disso, há a importante rede de apoio das
outras mulheres da comunidade para o cuidado cotidiano com as crianças. Se ali há mulheres
que desejam e praticam um funcionamento de “caranguejeiras”, isso não pode ser desconectado
de um agenciamento sociofamiliar que abre espaço para a sua efetuação.
* * *
Sigo em meu zigue-zague existencial, disponível para a cartografia e, neste momento,
preciso deslocar-me da experiência relatada acima para acompanhar uma linha de
segmentaridade que me remete a um movimento muito diferente, de atualização de estratégias
lógicas e práticas coloniais que, nos dias atuais, atravessa a realidade de um outro quilombo.
Deste, tomo conhecimento na casa de Paula, que me foi indicada para esta pesquisa por sua
“perfeição” como mulher e como família. E, de fato, Paula mostra-se bem-sucedida na tarefa
de efetuar os padrões, práticas, lógicas instituídas pelo modelo nuclear moderno60. Por isso
mesmo, insisto em conversar com ela sobre “outras famílias” que ela avalia como muito
diferentes da sua. Em certo momento, ela se lembra das doações que o marido e ela fazem para
60 Conferir as reflexões que teço a respeito no capítulo anterior.
151
um quilombo na Bahia. Explica que envia as doações no Natal e que chegou a visitar o quilombo
uma vez. Seu contato começou por causa da igreja que, sediada em uma cidade próxima,
estabeleceu uma filial no quilombo, levando “muita coisa boa praquelas pessoas”: cursos
profissionalizantes, o ensino de costura para as mulheres, a inscrição de famílias em um projeto
de doação de casas da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). “Deu muita dignidade. O
povo lá, eles são muito gratos aos que fazem essa evangelização lá”. Pergunto-lhe sua opinião
sobre as famílias desse lugar e Paula lembra de um caso de “um homem casado, assim,
amasiado com uma mulher e amasiado com a irmã da outra”. E pondera que “tem umas coisas
bem diferentes... Mas aí quando eles têm o encontro com Jesus, Jesus entra e vai mudando.
Muda o coração da pessoa. Então essas perversidades... essas coisas vão assentando. Isso é
ensinado a eles lá pelos missionários”.
Refiro-me a uma linha de segmentaridade que atualiza lógicas e práticas coloniais,
porque a relação de um homem com duas mulheres é avaliada a partir de valores morais que
traçam a normalidade de uma certa maneira “certa” de se firmar relações conjugais e a
“perversidade” de outras, conforme os valores cristãos trazidos pela colonização. E lembro-me,
por outro lado, das pesquisas de Reginaldo Prandi (2000) sobre o funcionamento tradicional da
família iorubá na África. O autor descreve que essa família africana tem uma organização
familiar poligínica com um chefe masculino para o grupo, suas esposas e seus filhos. O grupo
familiar extenso habita residências coletivas com áreas comuns de cozinha, lazer, trabalho
artesanal e armazenamento. As residências são formadas por espécies de apartamentos
contíguos, um abrigando o chefe do grupo, sua esposa principal e seus filhos, os outros
abrigando as demais esposas e filhos. Toda a família cultua o orixá do chefe masculino, a
divindade ancestral herdada de sua linhagem paterna e que deve ser assumida por todos os
filhos. Cada mulher cultua o orixá de seu pai, que é também cultuado pelos filhos conforme sua
descendência materna. Nessas famílias extensas, há ainda o culto a diferentes entidades e de
diferentes formas, uma multiplicidade de cerimônias, ritos e deuses, que envolvem orixás
familiares e outros, ligados à comunicação entre mundos, à proteção da comunidade mais
ampla, à adivinhação, aos ancestrais comuns de homens e de mulheres. Nas lógicas dessas
famílias, a vida religiosa e demais práticas cotidianas funcionam entrelaçadas, compondo uma
cosmovisão que orienta hábitos, relações, discursos, percepções, hierarquizações que permitem
(e valorizam) o relacionamento de um homem com mais de uma mulher.
Não se trata de advogar a favor ou contra esse funcionamento iorubá, que certamente
tem seus conflitos, contradições, sofrimentos, como todos os funcionamentos humanos os têm.
152
Nem é possível dizer que a família do quilombo citada por Paula funciona como os iorubás
africanos, ou mesmo que esse relacionamento específico produz bons ou maus encontros para
quem está a vivê-lo. A referência que faço aos iorubás visa considerar que, dentro das lógicas
desse agenciamento familiar africano, a relação de um homem amasiado com duas mulheres
dificilmente seria tomada como “perversidade” tal como Paula a percebe. A afirmação desta,
tão segura quanto sua postura enquanto conversa comigo, não pode ser compreendida
desconsiderando-se sua posição privilegiada no diagrama das forças sociais em operação, seu
“lugar de fala” historicamente construído e a sua assunção de um modelo transcendente para
avaliar, medir, julgar os Outros.
Suponho que Paula ficaria abismada, tanto o padre Le Jeune ficou, ao ouvir de mulheres
Montagnais a explicação sobre porque elas não se importavam que um homem tivesse mais de
uma esposa: como em sua comunidade o número de mulheres era superior ao número de
homens e não seria correto que somente uma parte das mulheres pudesse se satisfazer
sexualmente, casar, ter filhos, participar de uma família, melhor que um homem admitisse mais
de uma esposa e assim todas poderiam ser satisfeitas (Leacock, 1981/2019).
E Paula possivelmente receberia com pesar o que me conta Ana. Quando era jovem, em
2001, ela mudou-se para uma aldeia no alto Xingu onde viveu por cinco anos, sendo adotada,
por assim dizer, por uma família indígena que a acolheu em sua morada e costumes. Ana analisa
que, hoje em dia, os mais jovens estão assumindo o casamento apenas entre um homem e uma
mulher pelas dificuldades de subsistência nas condições atuais da aldeia e pela crescente
influência do cristianismo. Ainda assim, há vários casamentos de um homem com mais de uma
mulher. Segundo ela, muitas mulheres gostam que seu marido tenha outras esposas para assim
dividirem as atividades domésticas e a prática sexual com o marido, o que as deixa mais livres
para que possam ter relações com outros homens. É comum o casamento de irmãs com o mesmo
homem, o que permite a estas permanecerem juntas de bom grado na mesma família.
* * *
Por fim e retomando o que eu disse em outros momentos deste trabalho, as linhas de
segmentaridade não são efetuadas apenas pelos “legítimos” representantes das lógicas e padrões
familiares implementados pela colonização capitalista moderna. Essas linhas atravessam
pessoas e famílias por todo o rizoma social. Nesse sentido, resgato uma outra experiência vivida
153
ao longo desta pesquisa: minha participação em um dos cursos de formação transversal em
Saberes Tradicionais oferecido pela Faculdade de Educação da UFMG. Na oportunidade,
algumas mulheres, mestras em culinária e construção indígena, compartilhavam com os alunos
do curso algumas das técnicas e recursos para a arquitetura, a pintura e a produção de alimentos
conforme suas práticas tradicionais. Em um dos momentos do evento, assento ao redor do fogão
montado com tijolos e lenha junto com uma das mestras e uma professora da UFMG. As duas
conversam enquanto a mestra prepara o café à maneira de seu povo. A professora comenta que
não sabe fazer café. A mestra olha-a com ternura e diz que vai ensiná-la, porque é muito
importante que uma mulher saiba fazer o café. A professora retruca: “Na minha casa quem faz
o café é meu marido, não preciso aprender. A senhora é que tem que aprender: marido é que
deve fazer café de manhã. Ele faz, eu acordo e já está tudo pronto!”, responde a professora.
Contudo, à medida que o espanto ocupa o rosto da mestra, levantando suas sobrancelhas e
soltando-lhe o queixo que deixa sua boca semiaberta, a professora arrefece o tom: “Bom, no
resto do dia, sou eu quem faz as coisas em casa....”. Mas a mestra está absorta, como quem
precisa resolver um problema grave: “Quanto tempo tem isso? Trinta anos?! Ah, mas tá na hora
de mudar!”
Não é possível inferir uma relação direta entre a situação que narro acima e as
segmentações impostas pelo patriarcado moderno e sua difusão através da colonização. Ainda
assim, se esse diálogo está autorizado a acontecer nos dias atuais, vale avaliar se isso não se dá
exatamente pela força social difusa de seu modelo de família, cujas linhas reverberam em
diferentes agenciamentos.
A partir das considerações de Quijano (2000), posso dizer que a colonização não se
sustentaria como um processo de exploração econômica e domínio político, não fosse todo o
trabalho difuso e insistente, munido de diferentes estratégias em cada contexto, para a
incorporação de seus modos de subjetivação e de organização familiar que, como pano de
fundo, dividiram os humanos a partir da segmentação fundamental da raça como critério para
estabelecer o Nós (e o Eu) versus os Outros. Modos que, com as atualizações feitas ao longo
dos últimos séculos, conseguem persistir e que, por isso, deveriam ser de absoluto interesse
para as produções teóricas e para as intervenções socio-clínicas da psicologia, muitas vezes
ainda focadas no sujeito em sua individualidade...
154
Coexistências
No prefácio de Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1980/1995) defendem a tarefa de se
realizar uma “história universal da contingência”61 e, em cada caso, perguntar-se onde e como
se faz tal encontro, assumindo que “[...] encontramo-nos diante de todas as espécies de
formações coexistentes” (p. 8). O exercício aqui proposto envolveu, acompanhando esses
pensadores, indicar a coexistência de modos de vida heterogêneos que não podem ser reduzidos
ou conformados uns nos outros, sob o risco de se achatar toda multiplicidade. Modos que ora
se aproximam, ora se distanciam, ora se chocam, ainda que existam nesse mesmo tempo
histórico e conectem-se a linhas de segmentaridade que atravessam a todos. Nesse contexto, ao
invés de rebater a realidade em um modelo transcendente, arrisquei-me nesta delicada e
complexa tarefa de assumir a imanência dos diferentes processos e encontros, arranjos e
conflitos, sofrimentos e transformações. Nesse cenário e em busca de sustentar a produção de
conhecimentos nômades, não tive (e não terei nos capítulos que se seguem) a pretensão de
delinear um modo de vida próprio aos quilombos, aos indígenas, aos indivíduos que habitam
os centros urbanos, seja nos seus nichos privilegiados ou em suas periferias precarizadas. O que
aqui espero ter proporcionado aos leitores é a visibilidade das aproximações e distanciamentos,
das composições e estranhamentos que me afetaram.
A seguir e procurando manter a mesma perspectiva analítica, enfoco os componentes,
linhas, configurações que perfazem algumas importantes especificidades e agenciamentos do
momento contemporâneo que tem perpassado as famílias e, em especial, as famílias do Brasil
e suas conexões com a dinâmica planetária. O que envolve considerar as atualizações do
capitalismo, dos aparelhos de Estado, dos processos de subjetivação e suas conexões com os
arranjos familiares.
61 Em seu livro O Anti-Édipo, primeiro tomo da díade Capitalismo e Esquizofrenia lançado em 1972, Deleuze e Guattari analisam as conexões históricas entre as configurações sócio-políticas e os processos de subjetivação a partir da sequência tradicional Selvagens-Bárbaros-Civilizados. Em Mil Platôs, o segundo livro da díade, de 1980, eles abandonam essa sequência e assumem a importância de se dar visibilidade à coexistência, em nosso tempo histórico, de diversas formações sociais e processos de subjetivação.
156
Capítulo 5
FAMÍLIAS NO SÉCULO XXI
Velhas e novas configurações familiares
Folheio os cadernos em que fiz as anotações das visitas às famílias e das conversas com
os informantes-chaves, com os diversos registros de afetos-pensamentos que daí brotavam.
Procuro o que se destaca sobre as famílias nestes tempos contemporâneos. Espero. Aprendi
com a dança contemporânea e mais profundamente no c-e-m (Centro em Movimento de Lisboa)
que a espera é uma arte que agrega paciência e persistência, que exige resistir aos anseios da
precipitação, que envolve a disponibilidade atenta para o encontro. Espero.
Uma lembrança, enfim, brota. Mas não é a emergência de um momento intenso ou
inusitado dos encontros da pesquisa. O que me chega é uma música lançada em 1976, composta
por Belchior e que conheci interpretada pela voz deslumbrante de Elis Regina. Cantarolo a parte
que arrebata meus pensamentos, apoiando-me no desânimo de que é isso que me vem neste
momento: “Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo, tudo o que
fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos
pais”.
A repetição também faz parte, penso ao final. Por isso, olhar os agenciamentos
familiares atuais implica assumir as linhas de segmentaridade que persistem, nascidas em outros
tempos e com os endurecimentos que se mantém, bem como as atualizações e as transformações
que se processam. Como dito, é preciso assumir a coexistência de agenciamentos, cuja
multiplicidade de composições exige que qualquer compreensão seja, ao mesmo tempo,
histórica e geográfica, considerando as contingências, as probabilidades, as possibilidades, as
condicionalidades, os acasos, os imprevistos, a relatividade (Deleuze & Guattari, 1980/1995).
Nesse sentido, chega-me à memória a experiência que tive como professora de História
da Psicologia por alguns anos na universidade. Lembro-me que quase todos os alunos, cursando
o primeiro período de um curso de graduação universitária, traziam uma visão da história como
um varal de roupas, ou melhor, como um varal-linha do tempo em que datas e fatos históricos
“brotavam” e eram organizados de forma linear e sucessiva. Essa visão acabava por predominar
na sala de aula, carregada das ambições modernas de conceber a história como um processo
157
evolutivo contínuo, rumo ao progresso da humanidade a partir de seu projeto civilizatório,
tomado como o mais bem acabado, emancipatório, libertador. De minha parte, procurava trazer
para a sala uma outra imagem do pensamento, do mundo, da história: a perspectiva rizomática.
Nela, as linhas que compõem a história são múltiplas e suas direções, contornos, intensidades,
ritmos, velocidades, encontros são muito variáveis, ou ainda, são pura variação – tanto umas
em relação com as outras, como em relação a si mesmas, a cada momento, a cada configuração.
Agora e assumindo a mesma perspectiva, posso dizer que não se trata de acompanhar a
“evolução da família” – um antes e um agora da Família. Ainda somos como nossos pais, avôs
e ancestrais mais antigos – colonizadores e Outros – embaralhados em agenciamentos
heterogêneos e coexistentes que se compõem no Brasil. Se me apliquei anteriormente em
abordar a família nuclear moderna que foi germinada na Europa e difundiu-se como modelo
junto com a expansão do capitalismo, e se indiquei a consolidação desse modelo familiar no
Brasil a partir dos processos de urbanização e industrialização, conectando-o às famílias
patriarcais extensas que as precederam62, se assim o fiz, foi por vislumbrar sua força e poder
ainda hoje nos diagramas sociais. Do mesmo modo, se procurei cartografar arranjos e
funcionamentos familiares e socioculturais de Outros que também compõem histórias nestas
terras é porque eles fazem parte, com suas linhas, velocidades, sensibilidades, importâncias.
Ademais, olhando para a hegemonia do modelo nuclear moderno ao longo dos últimos
séculos e enfocando as questões, desafios, processos, configurações próprias do momento atual,
é possível afirmar que muita coisa mudou, inclusive para esse modelo.
Um aspecto que merece destaque envolve as transformações na posição das mulheres
nas relações de poder, no diagrama das forças sociais contemporâneas. É certo que, ao longo
de toda a modernidade, houve lutas das mulheres. Não à toa, como analisa Federici (2017), uma
extensa lista de mulheres foram caçadas e punidas como desbocadas, rebeldes, libertinas,
desonradas, bruxas... Em específico, o século XIX assistiu à intensificação das lutas das
mulheres trabalhadoras inseridas nas dinâmicas de produção do Capital para melhorar suas
condições de trabalho, especialmente diante de “suas” (naturalizadas como suas)
responsabilidades com o trabalho reprodutivo doméstico. Nesse século deu-se também o início
do movimento sufragista que visava garantir o direito ao voto nas eleições para as mulheres e
62 Peço licença pela linearidade da afirmação... Ela não tem o intuito de indicar uma suposta evolução, nem a extinção dos arranjos extensos. Apenas indico a configuração hegemônica primeiro de um e depois do outro arranjo no contexto brasileiro.
158
o reconhecimento da importância de sua participação em cargos políticos63. Com as lutas das
trabalhadoras e as lutas pelo direito ao voto feminino, as mulheres começam a ganhar as ruas,
a se manifestar e a discutir entre si sobre seus direitos, ampliando o número daquelas que
passam a sair – do ponto de vista físico e psicológico – do confinamento ao espaço restrito do
lar. Mas foi no século XX que se tornaram mais evidentes os impactos desses movimentos na
posição social das mulheres e nas configurações familiares. É certo que eles variaram no tempo
e em sua amplitude nos diferentes países e regiões, não constituindo, por isso, um fenômeno
único ou homogêneo. Em alguns casos as transformações na posição social feminina
provocaram um maior afastamento dos arranjos familiares do modelo moderno tradicional e
em outros, menos. Aqui destaco alguns pontos desse processo.
Um primeiro ponto foi a gradativa ampliação do ingresso de mulheres no mercado de
trabalho, tanto em número quanto nos cargos ocupados por elas. Durante a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), com muitos homens na linha de frente das batalhas, aumentou a demanda
para que, nos países envolvidos, mulheres assumissem funções e papéis que antes pertenciam
ao mundo masculino. Após a guerra, entretanto, houve um forte movimento social para repor
cada sexo em “seu lugar” e muitas mulheres voltaram para os serviços domésticos. Também
durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) as mulheres ocuparam cargos e realizaram
atividades que eram tidas como masculinas, experimentando a valorização do seu trabalho a
serviço da pátria e sendo recrutadas em profissões que antes lhes eram vedadas. Contudo, mais
uma vez, ao final dessa guerra64, elas foram “[...] convidadas a regressar ao lar e às tarefas
femininas, em nome do direito dos antigos combatentes e da reconstrução nacional” (Thébaud
apud Jesus & Almeida, 2016, p. 12). Ainda assim, as experiências de autonomia e
independência vivenciadas por muitas mulheres nesses períodos reverberaram, em maior ou
menor grau, nos agenciamentos sociais: essas mulheres não apenas experimentaram a
participação em trabalhos antes reservados aos homens, mas tiveram que organizar uma rede
de apoio para seus filhos e aprender a administrar as finanças, calculando investimentos e gastos
para manter suas casas. Experenciaram assim toda uma nova mobilização de seu corpo, de seus
63 Apesar da importância desse movimento, cabe observar que foram necessárias décadas de luta para o reconhecimento da ampla participação política feminina. O Brasil permitiu o voto feminino em 1932 e dois anos mais tarde teve a primeira deputada federal eleita. Na França, o voto feminino foi autorizado em 1944; em Portugal, apenas em 1974 (Covas, 2019). 64 É particularmente interessante a história das creches para o controle biopolítico da condição feminina. Nos EUA, por exemplo, as creches alcançaram durante a II Guerra Mundial 1,6 milhões de vagas financiadas pelo governo federal, mas, após o fim do conflito e com a retirada de recursos públicos, restavam 300 mil vagas nas creches estadunidenses em 1965 (Rosemberg, 1984).
159
afetos, de suas maneiras de existir. Isso provocou, em níveis micropolíticos, deslocamentos de
lugares naturalizados, de discursos instituídos, de percepções endurecidas sobre a vida e sua
própria potência.
Nesse contexto, após a Segunda Guerra, os movimentos feministas se fortalecem em
vários países. Em 1949, Simone de Beauvoir lança O Segundo Sexo na França, uma obra
seminal que difunde questionamentos contundentes acerca da percepção generalizada (os
mitos) sobre a mulher e de seus efeitos sobre a produção de uma certa condição feminina na
modernidade capitalista. Pouco depois a feminista Margaret Sanger, fundadora da Planned
Parenthood Federation of America (PPFA), financia uma pesquisa sobre o uso de hormônios
para a inibição da ovulação em mulheres, coordenada pelo biólogo Gregory Pincus. Dessa
pesquisa nasce a pílula Enovid com poder contraceptivo. Ela é, no entanto, aprovada em 1957
pelo FDA (Food and Drug Administration) apenas para o tratamento de distúrbios menstruais.
Foram necessários quatro anos para que, em 1961, ela fosse aprovada como uma pílula
anticoncepcional, ainda que, como ressalta Marc Dhont (2010), só no início da década de 1970
mulheres solteiras foram autorizadas a utilizá-la nos EUA. Seja como for e, não obstante as
discussões sobre seus efeitos colaterais no corpo feminino, o desenvolvimento da pílula
anticoncepcional e a gradativa aprovação de seu uso em diferentes países permitiu que as
mulheres alcançassem uma importante autonomia sobre seu corpo e sua condição reprodutiva.
Agora era possível que uma mulher escolhesse, com grande eficácia do método contraceptivo
que ela mesma administrava, sobre ter relações sexuais com intuito procriativo ou para sentir
prazer. Tratou-se de uma grande revolução para a moralidade moderna, que se somou aos
debates feministas sobre a repressão social das mulheres e ao aumento do nível educacional
destas. Esses movimentos impulsionaram a saída de um número cada vez maior de mulheres
da condição exclusiva de donas de casa e seu ingresso em diferentes profissões e cargos no
mercado de trabalho, ainda que sua inserção e suas condições de trabalho e remuneração
permaneçam, até hoje, desiguais em relação aos homens65.
O núcleo familiar, tal como concebido nos moldes burgueses modernos, certamente foi
abalado pelas mudanças descritas. A ampliação do ingresso das mulheres no mercado de
65 No estudo Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que, a nível mundial, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho era 26% menor que a dos homens em 2018, uma diferença que se manteve quase a mesma em relação a 1990 (somente 2% menor) (OIT, 2018). Quanto aos rendimentos, o IBGE (2018b) mostrou em seu relatório Diferença do rendimento do trabalho de mulheres e homens nos grupos ocupacionais – Pnad Contínua 2018 que, neste ano, as mulheres brasileiras ainda ganhavam em média 20,5% menos que os homens e eram pior remuneradas em todas as ocupações selecionadas para a pesquisa.
160
trabalho marcou a exigência de novos arranjos para o cuidado com os filhos, especialmente nas
famílias em que não era possível repor o trabalho da mãe-esposa em casa pelo de uma babá e
ou empregada. Como lembra Fúlvia Rosemberg (1984), no final da década de 1960 e início dos
anos 1970 vários países foram marcados por um importante ciclo de expansão das creches. Mas
não apenas isso: houve uma revisão de seu significado, em grande medida graças ao
fortalecimento dos movimentos feministas. “Este período não corresponde apenas, nos diversos
países, a uma expansão das redes públicas e dos recursos alocados, mas a uma nova procura em
compreender essa instituição na sua complexidade psicológica, social, econômica e política”
(Rosemberg, 1984, p. 75). Além disso, para boa parte das famílias e mesmo que os Estados
tenham ampliado suas políticas de apoio, à medida que as mulheres saiam de casa para outros
trabalhos que não o doméstico, foi necessário fortalecer redes de cuidado mais extensas,
envolvendo parentes, vizinhos e outras famílias para garantir o cuidado às crianças e
adolescentes. Estes, com isso, passaram a experimentar, desde pequeninos, uma rede de
socialização e a construção de vínculos afetivos mais amplos que seu pequeno núcleo familiar.
A ampliação das mulheres no mercado de trabalho tornou-se ainda um fator de
fortalecimento da autonomia feminina, uma vez que mais e mais mulheres passaram a possuir
sua própria fonte de recursos. É certo que em muitos casos o salário foi tomado como “ajuda”
ao que recebia o homem – o provedor e patriarca – e por vezes transferido para o controle do
marido dentro da mesma lógica que vimos para muitas trabalhadoras do século XVI. Ademais,
é necessário marcar que o próprio capitalismo se apropriou da inserção das mulheres no
mercado de trabalho. Como afirma Kehl (2003, p. 166), “razões de mercado abriram
oportunidades profissionais para as mulheres e achataram os salários dos pais de família”. Essa
autora marca que isso resultou na perda de poder aquisitivo do salário masculino em muitos
setores, exigindo que a ele se somasse o salário das mulheres para garantir o sustento de um
número cada vez maior de famílias. Nesse cenário, a concentração dos recursos econômicos de
grande parte das famílias nas mãos dos homens está se transformando.
Mas mesmo com mais autonomia, mais poder familiar e mais recursos – salário próprio,
ampliação da rede de apoio comunitário e estatal, movimentos sociais que difundiam novos
discursos sobre as competências e condições das mulheres –, é necessário marcar que a inserção
no mercado de trabalho acabou por resultar em dupla jornada para a grande parte das mulheres,
o que ainda persiste, com o acúmulo de atividades fora e dentro de casa. Na Espanha, por
exemplo, as mulheres dedicavam em 2010 quase o dobro de tempo diário dos homens para as
tarefas do lar (Verne, 2019). No Brasil, em 2018, a taxa de homens que moravam sozinhos e
realizavam as tarefas domésticas era muito próxima à de mulheres nessas condições. Contudo,
161
ao mapear a dedicação dos homens em situação de coabitação na condição de responsável ou
cônjuge, o percentual daqueles que realizavam tarefas domésticas apresentou-se bem menor
(IBGE, 2018c).
Quanto ao vínculo do casal, as mudanças ligadas à relação sexual e à maior autonomia
feminina foram acompanhadas por mudanças jurídicas importantes para as relações conjugais.
Dentre essas mudanças, destaca-se a legislação sobre o divórcio. Em países que seguiam (e
seguem) as determinações católicas tanto na Eurásia e quanto nas colônias europeias, a
instituição do matrimônio tornou-se um sacramento a ser celebrado na presença de um
sacerdote e testemunhas a partir da Contrarreforma e com a promulgação do Concílio de Trento
em 1563. O vínculo sacramentado nesse rito é indissolúvel. Embora a legislação civil sobre o
matrimônio tenha oscilado desde então em diversos países entre momentos de maior abertura
para a separação dos cônjuges ou mesmo para a dissolução do casamento e consumação de
novo matrimônio, e momentos de maior alinhamento ao direito canônico, foi após a Segunda
Guerra Mundial que se difundiu no direito de civil de muitos países do Ocidente a dissolução
definitiva do casamento perante o Estado.
No Brasil a Lei n. 6.515 de 1977 admitiu, pela primeira vez na história do Estado
brasileiro, a dissolução do casamento através do divórcio. Até então, era possível que os
cônjuges se desquitassem, o que encerrava a sociedade conjugal com a separação de corpos e
bens, mas não encerrava o vínculo matrimonial (Beltrão, 2017). Uma das principais
consequências da indissolubilidade do casamento envolvia a situação dos homens e mulheres
que, por diferentes razões, não podiam ou queriam mais a convivência marital. Eles podiam
separar-se através do desquite, mas, com a permanência do vínculo matrimonial, qualquer
relação assumida depois da separação não era legalmente nem moralmente aceita. Conforme
Marlene de Fáveri (2007), havia a expectativa que os desquitados se abstivessem de ter relações
sexuais. Isso impactou sobretudo as mulheres desquitadas, vítimas de grande preconceito e
constante vigilância. Quando se envolviam em novo relacionamento, eram vistas como
concubinas ou amantes de seus companheiros e não gozavam de qualquer proteção legal em
relação às novas uniões. Também os filhos dos casais separados ganhavam o estigma social de
crianças e adolescentes que cresceriam em uma família desestruturada, o que os tornaria pessoas
disfuncionais e traumatizadas (argumento que, apesar de sua grande difusão, sempre
desconsiderou os traumas e sofrimentos dentro das “famílias estruturadas” e diante do
sufocamento dos conflitos e problemas conjugais em prol da manutenção do casamento). Além
disso, os filhos advindos de novas uniões de pais separados eram tidos como “filhos ilegítimos”
(Fáveri, 2007).
162
Com a institucionalização do divórcio e sua crescente aceitação social, o número de
dissoluções de casamentos vem crescendo desde as últimas décadas do século XX, bem como
a formação de novos arranjos conjugais e familiares. Esses novos arranjos têm reverberado a
maior liberdade sexual alcançada nas sociedades capitalistas modernas em suas configurações
contemporâneas. Com efeito, as separações e novas uniões ao longo da vida dos adultos vêm
configurando formações familiares que Kehl (2003) denomina como “famílias tentaculares” –
famílias cujo núcleo privatizado e circunscrito ao casal e seus filhos está dando lugar ao
convívio e ao vínculo afetivo entre homens, mulheres, adolescentes e crianças vindos de
diferentes famílias. “Na confusa árvore genealógica da família tentacular, irmãos não
consanguíneos convivem com ‘padrastos’ ou ‘madrastas’ (na falta de termos melhores), às
vezes já de uma segunda ou terceira união de um de seus pais, acumulando vínculos profundos
com pessoas que não fazem parte do núcleo original de suas vidas” (p. 167).
Além disso, tem crescido ainda casais que optam por não ter filhos, assumindo o vínculo
erótico-afetivo da relação e não o destino procriativo para se constituir uma família. Também
aumenta o número de relacionamentos digamos “alternativos”, que articulam desejos e
produzem vínculos de modos diversos do modelo nuclear moderno, como nos relacionamentos
denominados poliamor. Esses relacionamentos, como esclarecem Santos & Viegas (2018),
envolvem a simultaneidade de relações de seus membros, que são conhecidas e consentidas por
todos os envolvidos. As uniões poliafetivas (entre um homem e duas mulheres ou entre dois
homens e uma mulher, por exemplo) podem abranger a criação conjunta de filhos, a construção
de um patrimônio comum e um vínculo duradouro e estável entre seus membros. Esses
relacionamentos abalam não apenas a lógica nuclear patriarcal, mas outro importante pilar do
modelo nuclear moderno de família: a monogamia.
Nesse contexto, cumpre assinalar o movimento, no final do século XX, pela legalização
e aceitação social do casamento entre pessoas do mesmo sexo e pela possibilidade legal de
adoção por homossexuais. Pessoas do mesmo sexo que conviviam em parcerias duradouras,
marcadas por afeto e projeto de vida em comum, passaram a lutar pelo reconhecimento de sua
união pelo Estado e por sua proteção legal. No Brasil, a Resolução n. 175 de 14 de maio de
2013, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), determinou que os cartórios de todo
o Brasil não poderiam se recusar a celebrar o casamento civil de casais do mesmo sexo, nem a
converter uniões estáveis homoafetivas em casamento. Tal resolução consolidou e unificou esse
entendimento para todos os tribunais de justiça do país, já que até então alguns estados
reconheciam a possibilidade desse tipo de casamento e outros não.
163
* * *
As diferentes famílias que visitei ora efetuam mudanças e ajustes, acompanhando os
movimentos referidos acima, ora mantêm-se distantes desses movimentos por razões diversas.
Sua distância pode estar ligada ao empenho (consciente ou não) em sustentar uma configuração
mais tradicional. Ou, por funcionarem de maneiras historicamente muito diferentes do padrão
nuclear moderno, as transformações acima pontuadas pouco reverberam em seus modos de
existir.
Dentre as famílias visitadas, destaco aqui a experiência de conhecer Ju e Lu. Durante o
trajeto rumo à sua casa, penso que ir ao encontro de um casal composto por duas mulheres
explicitamente formado e reconhecido como tal seria algo improvável se eu estivesse a fazer
essa pesquisa há 40, 50 anos atrás. Nas sociedades modernas, embebidas pelos valores cristãos,
esse tipo de abertura somente se configurou a partir dos movimentos e lutas por reconhecimento
dos direitos das mulheres e homossexuais desde fins dos anos 1960 e nas décadas seguintes e,
até hoje, é permeada de conflitos.
Quando voltamos ainda mais no tempo e consideramos os povos originários do território
brasileiro, seria difícil generalizar a difusão de práticas e alianças homossexuais nas diferentes
etnias indígenas. É certo que a preferência sexual por alguém do mesmo sexo ou mesmo outras
preferências sexuais sempre permearam a história das humanidades, cristãs ou não, com maior
ou menor grau de aceitação e visibilidade nos diferentes agenciamentos sociais. Estevão
Fernandes (2016) compila diferentes registros históricos-etnográficos sobre práticas
homossexuais masculinas e femininas, e mesmo alianças homoafetivas entre indígenas em
diversas etnias desde a colonização do Brasil, ainda que o entendimento dessas relações, nos
registros, tenha ocorrido através do filtro moral dos colonizadores. Por outro lado, lembro-me
do relato de Ana, com quem conversei nesta pesquisa. Em um evento organizado pela escola
de Belas Artes de uma universidade há alguns anos, Ana participava junto com David
Kopenawa66 de uma mesa, em que este foi perguntado por um dos estudantes sobre como eram
as relações homossexuais entre os indígenas Yanomamis. E, para a frustração da vanguarda
artística que estava presente, Kopenawa limitou-se a afirmar, entre surpreso e constrangido, de
que não conhecia esse tipo de relação entre os do seu povo.
66 Davi Kopenawa é um xamã e uma liderança Yanomami. Com Bruce Albert, escreveu o premiado livro A Queda do Céu (2015).
164
Seja como for, neste momento, não é o fato de Ju e Lu serem um casal homoafetivo que
me chama a atenção, ainda que isso não possa ser desconsiderado. O que se destaca para mim
é o modo como elas costuram este e outros aspectos da vida para construir seu agenciamento
familiar, suas conexões comunitárias, suas relações mais amplas com os diversos componentes
sociais, ambientais, subjetivos que atravessam estes tempos. Moradoras de uma ocupação
urbana situada na região oeste de Belo Horizonte, as duas moças me recebem com seus sorrisos
e seus quatro cachorros. “Já foram sete”, comenta Ju enquanto sou conduzida para a sala
aconchegante da casa. Contam-me que foram encontrando os cães pelas ruas, muitas vezes em
condições de muito sofrimento, e acabaram por adotá-los para cuidar deles. A dimensão do
cuidado é, de fato, o que mais me chama a atenção na casa, nas palavras, no relacionamento, na
postura das duas diante de uma vida marcada por muitas lutas cotidianas. Além dos cães, há
várias plantas que compõem o ambiente, cuja exuberância não seria atingida sem o empenho e
a dedicação de quem cuida.
Do ponto de vista das grandes segmentações sociosubjetivas, Lu e Ju seriam
“enquadradas” nas categorias menos valorizadas por nossa formação social atual: são mulheres,
são lésbicas, são negras-mestiças, são moradoras em um terreno ocupado e em disputa judicial
com seus proprietários privados. No entanto, com algum tempo de conversa percebo um
agenciamento familiar que conduz meu corpo-pensamento para atentar-se a outras nuances e
conexões que funcionam de forma transversal às linhas de segmentaridade/identidade que
também fazem parte da vida das duas.
Em algum momento, Ju e Lu contam sobre suas experiências por estarem “estudando
na faculdade”. Elas se mostram conhecedoras de autores e assuntos com que lido
cotidianamente. Acho graça nisso: depois de visitar famílias das classes alta e média dos centros
urbanos, era naquela pequena residência em uma ocupação urbana que sentia maneiras de
perceber, pensar e agir mais próximas das minhas próprias. No entanto, se há aproximações,
percebo também distanciamentos, estranhamentos.
Lembro-me de quando comecei a trabalhar como professora universitária em uma
instituição privada. Na época, incentivados pelas políticas educacionais iniciadas no governo
Lula67, muitos jovens que não podiam sonhar com a possibilidade de ingressar em um curso
67 Em especial, destaco o ProUni (Programa Universidade para Todos). Criado em 2004 pelo governo federal, esse programa oferecia (e ainda oferece, em menor escala) bolsas de estudos em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obter a nota mínima nesse exame. Deve ter renda familiar de até três salários mínimos e satisfazer outros pré-requisitos.
165
superior passaram a ter condições reais de ingresso. Cheguei a encontrar professores que, mais
antigos que eu, reclamavam do déficit cultural e educacional dos “alunos mais pobres” que “não
sabiam nem escrever direito”. De fato, as salas de graduação passaram a funcionar com pessoas
vindas de diferentes lugares e com diferentes recursos – familiares, econômicos, educacionais,
culturais. Certamente um desafio para os professores acostumados a receber basicamente
alunos e alunas oriundos de colégios particulares bem equipados para a formação de seus
estudantes. De minha parte, senti a riqueza de ver nas salas de aula do curso de psicologia, onde
leciono, algo que pouco pude vivenciar em minhas experiências como estudante universitária:
estudar com (ou ensinar a) pessoas que estampavam na sala de aula as múltiplas faces e
desigualdades do Brasil. Pessoas que traziam precariedades, desafios, sofrimentos, lutas,
invenções de seus contextos de vida muito diferentes do meu e de boa parte dos alunos. Não se
tratou da riqueza de encontrar “pobres” na universidade (o que, conforme o projeto civilizatório
moderno, seria um paradoxo); tratou-se da riqueza de encontrar parcelas de Outros apesar da
pobreza econômica e cultural que lhes foi destinada pelo modo de vida hegemônico. Outros
capazes de enriquecer, com novas perspectivas e questões, o que estava a ser produzido na
universidade.
Como muitos dos alunos que tive, Ju e Lu são estudantes que dependem de recursos
públicos para estarem em um curso superior e levam para suas relações no ambiente
universitário as questões, os desafios, as vulnerabilidades que vivenciam em seu cotidiano e
que, em outros tempos, não chegariam com seu corpo e sua voz às faculdades e universidades.
No seu caso, sua dedicação diária para estudar no período noturno lhes exige um deslocamento
pela cidade por cerca de três horas diárias com o recurso que têm (o transporte público oferecido
pelo Estado). Além disso, as duas atuam na creche da ocupação durante o dia, cuidando das
crianças de até seis anos que frequentam o estabelecimento construído em mutirão pelos
moradores. Recebem uma ajuda de custo pelo trabalho – um montante em dinheiro e uma cesta
básica cada – graças a doações de pessoas que apadrinharam a creche. Por serem atuantes, são
respeitadas na comunidade. Mas não é uma posição fácil, elas sabem, e mantêm-se mais
reservadas, conscientes do preconceito que pode brotar a qualquer momento, mesmo dentro
daquela ocupação que historicamente se formou a partir de um agenciamento disposto a acolher
e a proteger mulheres, homossexuais e toda a ordem de desvalidos, vulneráveis e
marginalizados pelas lógicas e pelos poderes dominantes68.
68 Abordo esse agenciamento no próximo capítulo.
166
Durante a conversa com elas, percebo seu exercício cotidiano para conectar os
aprendizados proporcionados pelos estudos universitários com seu contexto de vida. Entretanto,
a certa altura Ju confessa que morar na periferia põe em cheque seu feminismo todos os dias,
pois não sabe o que fazer diante de muitas coisas que presencia, especialmente com as crianças
de quem cuida – como a violência ou o descaso dos pais, ou a falta de preocupação destes em
criar os filhos com empatia para lidar com os outros.
Ademais, chama-me a atenção a maneira como as duas sustentam sua aliança. Em seus
comentários às minhas perguntas, Ju e Lu se posicionam distintamente o tempo todo. Seus
sonhos, seus medos, seus gostos são diferentes e elas falam sem qualquer preocupação em
buscarem um consenso, ainda que, de uma forma muito peculiar, apoiem as reflexões uma da
outra. O que percebo em suas posturas é um raro respeito pelas diferenças em um
relacionamento conjugal. O que não pode ser compreendido como resultado de sua opção
homoafetiva. Como vimos em outro momento deste trabalho, o encontro homoafetivo não é,
por si só, uma afirmação da diferença e de funcionamentos menos projetados nos moldes
hegemônicos de se relacionar e de funcionar como família. Mas, neste caso, percebo uma
prática de escuta e cuidado que, como Ju e Lu vão me contando, acabou por arrastar seus pais
para que novas relações também se tecessem com estes. Explicam que suas famílias tinham
uma visão distorcida sobre pessoas LGBT+, que tinham a convicção de que eram pessoas
arruaceiras, drogadas, que seriam “nada na vida”. Juntas, foram encontrando caminhos para
instaurar diálogo onde este não existia, carinho onde este faltava. Toda uma reconfiguração
micropolítica produzida pelas conexões entre seus próprios sofrimentos e dificuldades, seus
estudos, suas experiências na creche, sua convivência como casal e naquela comunidade. O que
lhes ensinou a “cuidar para não repetir o que nos entristece” e a “não só ouvir, mas escutar” os
outros em suas dificuldades e fragilidades. Relembrando a música que me acompanhou no
início da escrita deste capítulo e ajustando-a ao que me afeta nos contatos com Ju e Lu, eu diria
que sua construção envolveu: produzir outras relações com os pais (e com o mundo) e não ser
como eles.
Não muito distante dali, visitei outra família. Era uma família de classe média, residente
em um apartamento na parte central e mais bem estruturada da mesma regional onde Lu e Ju
moram. Receberam-me em casa Elton, o pai, com a esposa e um dos filhos do casal. A indicação
dessa família foi feita porque era “uma família legal” e porque eles haviam vivenciado algo
inusitado: tinham acertado um jogo de loteria e recebido um prêmio, um montante em dinheiro
que permitiu que comprassem a casa própria e que os dois filhos do casal pudessem estudar na
167
zona sul69 da cidade e fora do Brasil. O mais velho havia, inclusive, firmado residência no
exterior. O mais novo, Gustavo, que estava quase a completar 30 anos, morava com os pais.
Quis conhecer pessoalmente essa família que o acaso tinha sorteado para receber um prêmio
lotérico. Meu informante havia me pedido para deixar que o assunto aparecesse “naturalmente”,
o que, na verdade, não aconteceu. Não falaram nada a respeito. O que se destacou na conversa
com essa família foi a enorme luta cotidiana de Gustavo para proporcionar a seus filhos (ainda
por vir) “tudo o que meus pais me deram”. Se me comovi com as lutas de Ju e Lu, acabei por
me comover ainda mais com a luta de Gustavo. Ele conta-me que seu maior medo na vida é
não dar aos filhos o mesmo padrão que seus pais [e a loteria] lhe deram. Não podendo contar
com a sorte, nem com os recursos que os pais já gastaram com o padrão de vida dado aos filhos,
Gustavo descreve-me uma rotina exaustiva de trabalho em três turnos – com uma empresa de
eventos durante o dia e como professor de línguas às noites e aos sábados. Conta-me que já
dormiu muito bem, mas que as preocupações roubaram sua tranquilidade. Quando lhe pergunto
sobre seu principal sonho, é enfático: conquistar uma boa poupança, imóveis e outros bens
através de seu trabalho e dedicação. Escuto a descrição de uma cruzada individual de encher de
júbilo os melhores educadores moralistas da Europa do século XVII descritos por Ariès
(1978/1986). Esforços e sonhos tão bem conformados aos moldes capitalistas modernos e que,
“apesar de tudo, tudo, tudo, tudo o que fizemos” (para lembrar mais uma vez a canção) empurra
Gustavo para desejar ainda ser como seus pais.
Parece que a mesquinharia humana analisada por Viveiros de Castro (2015)70 não
envolve somente as dificuldades dos humanos em reconhecer os Outros como semelhantes a si
mesmos, mas também a dificuldade em reconhecer a si mesmo como Diferença, uma
multiplicidade...
Famílias sob o Controle
Mudemos um pouco o enfoque para acompanhar as mudanças que se processaram não
apenas nas famílias, mas no próprio plano de organização da modernidade capitalista. Esta,
com efeito, não se desenrolou sem conflitos e contradições.
69 A “zona sul” de Belo Horizonte é a região mais rica da cidade, com um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) bastante elevado (0,914). Conferir: http://www.atlasbrasil.org.br 70 Conferir no capítulo anterior a indicação dessa análise a partir dos estudos de Lévi-Strauss.
168
Ao mesmo tempo que o homem moderno balançava a bandeira em defesa de sua
liberdade e de seus direitos individuais e maravilhava-se com o desenvolvimento de novas
teorias, métodos, técnicas e tecnologias que em diferentes áreas do conhecimento ampliavam
seu domínio sobre a Terra e viabilizavam um controle cada vez maior sobre suas condições de
vida, ele acabou por se deparar com os embates, o sofrimento e a destruição que também eram
produzidos por seu modo de vida. Já no século XIX e ao longo do século XX, esse homem
assistiu ao crescimento das reinvindicações operárias e sua organização sindical contra a grande
exploração da força de trabalho; assistiu às lutas pela independência nos países sugados pelo
colonialismo e pelo imperialismo; assistiu à insistência da desigualdade social em manter-se ou
mesmo aumentar entre classes e nações. Na primeira metade do século XX, ele viu as
revoluções socialistas na Rússia, na China e em outros países e escutou o temor difundido nos
Estados autodenominados capitalistas de que a liberdade e a igualdade formal asseguradas por
estes Estados estavam ameaçadas pelo nivelamento operado pelos Estados Socialistas
Burocráticos. Assistiu também a duas Guerras Mundiais entremeadas por uma grande crise
econômica. Nessas guerras vivenciou a concretização do fascismo de Estado, cujo projeto
contou com a adesão apaixonada de milhões de pessoas, e contabilizou um enorme saldo de
atrocidades e mortes. E mesmo com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) após
a Segunda Guerra Mundial, como o organismo supranacional responsável por zelar pela
proteção dos Direitos Humanos Fundamentais71, ele foi obrigado a conviver com as tensões
geopolíticas causadas pela Guerra Fria e pelas investidas das “grandes potências” em guerras
locais, além da possibilidade real e constante de uma hecatombe nuclear. Essas tensões foram
ainda endurecidas em diferentes países por severos regimes ditatoriais.
Contudo, em meados do século XX, o homem moderno viu nascer diversas
mobilizações populares, movimentos sociais, produções artísticas e teorias nas ciências
humanas e sociais contra o anacronismo das instituições – família, educação, trabalho, religião
e o próprio Estado – que insistiam em produzir suas configurações concretas a partir de modelos
construídos nos séculos anteriores, alheios aos embates sociais desse século. Os movimentos
de contestação culminaram com a chegada do intenso ano de 1968, em que estudantes,
trabalhadores, feministas, negros, ambientalistas, entre milhares de pessoas pelo mundo deram
o tom de multifacetadas reinvindicações que questionaram, de diversas formas, os modos de
vida instituídos e colocaram em pauta lutas pela igualdade de direitos e pela proteção das
71 Conferir neste sentido a histórica Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas em 1948: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
169
minorias. Dentre os lemas que se tornaram icônicos das manifestações deste ano nas ruas de
Paris, em seu Maio de 68, estava: “Sejamos realistas, exijamos o impossível!”, que expressava
o desejo de construção de um outro mundo por vir. Como pontuou Mark Kurlansky (2005),
tratou-se de um ano cujos eventos pelo mundo pareciam encadeados por um dramaturgo,
embora não existissem naquele momento as redes de comunicação de hoje. As conexões entre
as inquietações e as reivindicações por uma nova sensibilidade e por novas formas de existir
correram o mundo, arrebanhando a força produtiva do desejo em diversos países. Suas
reverberações, como propôs Zuenir Ventura (1988), ainda não terminaram. Ou talvez, como
previram Deleuze e Guattari (2016), não tenham ainda sequer efetivamente começado...
Por outro lado, Viveiros de Castro (2015) lembra que houve os que afirmaram que o
acontecimento histórico 1968 “[...] se consumiu sem se consumar, ou seja, que na verdade nada
aconteceu”. Esse antropólogo pondera que as muitas mãos que trabalham pela Maioria (a
grande massa dos crentes no Homem Moderno) sustentam que, se algo aconteceu, tratou-se de
mudanças das quais foi preciso se proteger e que, por isso, a verdadeira revolução se fez contra
o evento-68, consolidando o Império como máquina planetária, “[...] em cujas entranhas
realizam-se as núpcias místicas do Capital com a Terra” e de onde “emana gloriosamente a
Noosfera – a ‘economia da informação’ que nos controla a todos” (p. 99).
O que cumpre salientar, para os fins deste trabalho, é que os movimentos deflagrados
em 1968 se processaram e continuam a reverberar especialmente de modo micropolítico, em
agenciamentos que procuram efetuar novas formas de existir, sentir, relacionar, produzir em
nosso tempo. Agenciamentos minoritários – familiares, comunitários, econômicos, artísticos,
entre outros – que acabam por produzir também ingerências, lutas e ajustes nos agenciamentos
hegemônicos efetuados pela Maioria. Nesse sentido, é possível destacar, entre outros, os
movimentos de lutas das mulheres. Esses movimentos permitiram que novas linhas de
subjetivação se conectassem a muitos arranjos familiares e, como vimos acima, produzissem
novas relações de poder nas famílias, novas formas de amar e se relacionar como família,
firmadas cada vez mais com reconhecimento social ou mesmo com proteção dos aparelhos de
Estado.
Por outro lado, é necessário assumir que a existência desses movimentos não bloqueou
as forças sociais e subjetivas que sustentam o capitalismo mundial e que viabilizaram a
produção de um funcionamento imperial do Capital, a que Viveiros de Castro (2015) faz
referência, seguindo a terminologia cunhada por Antonio Negri e Michael Hardt (2000/2006).
O Império envolve um novo funcionamento social e um novo modo de subjetivação que se
170
processou através de transformações socioeconômicas, político-jurídicas, culturais,
tecnológicas, ambientais, desejantes a partir da segunda metade do século XX.
Esse funcionamento mudou o papel e o funcionamento dos Estados modernos. Negri e
Hardt (2000/2006) referem-se a uma nova forma de economia mundial, em que organismos
nacionais e supranacionais passaram a funcionar em uma lógica unificada que acabou por abalar
a soberania dos Estados-nação. É que, embora unificada, essa lógica exerce seu poder de forma
descentralizada e desterritorializada, atravessando fronteiras e incorporando o mundo inteiro.
Por isso, os autores dividem o capitalismo em dois momentos históricos: um moderno, em que
as lógicas imperialistas produziram a colonização e viabilizaram a expansão do capitalismo
através da segmentação dos territórios colonizados e da exigência de adesão incondicional das
colônias ao modo de vida e aos interesses da metrópole e seus parceiros; e um pós-moderno,
em que as lógicas imperiais passaram a operar de forma transnacional e “[...] as cores nacionais
do mapa imperialista do mundo se uniram e mesclaram, num arco-íris imperial global” (p. 13).
Embora eu considere que as configurações atuais não mudaram de modo substancial em relação
aos primórdios da modernidade – é ainda do Capital que se fala e de suas relações: com os
Estados, mesmo que estes estejam agora mais atravessados pelas ingerências de uma
administração e um comando capitalista global; com a Terra e sua exploração; com um modo
hegemônico de subjetivação calcado na liberdade e no progresso individuais; com as
organizações familiares como núcleo privilegiado para difundir os valores, para formatar a
disciplinarização e para controlar seus membros dentro das lógicas dominantes –, vale
concordar com Negri e Hardt (2000/2006) quando afirmam que os Estados-nação têm agora
que lidar com o fato de que o diagrama de forças que compõe as relações de poder
contemporâneas não está limitado às históricas relações (e conflitos) entre os interesses do
capitalismo e a soberania nacional. O capitalismo, no formato agora imperial, articula-se tanto
em níveis transnacionais quanto locais, articula-se tanto com as instâncias estatais quanto com
entidades da sociedade civil.
Até a primeira metade do século XX, o capitalismo se beneficiou do imperialismo para
sua expansão, pois este permitiu a conquista e a imposição do modus operandi econômico,
político, cultural, subjetivo do Capital nas nações colonizadas, bem como o seu fortalecimento
nos Estados-nação “evoluídos” e dominantes. Contudo, “embora o imperialismo fornecesse as
avenidas e os mecanismos para que o capital penetrasse novos territórios e difundisse o modo
capitalista de produção, também criou e forçou rígidas fronteiras entre os diversos espaços
globais” (Negri e Hardt, 2000/2006, p. 354). Com isso, ele produziu estriamentos que
171
dificultavam e por vezes bloqueavam o livre fluxo de dinheiro, trabalho e mercadorias através
de um único mercado mundial. Para a efetivação desse livre mercado global, foi preciso a
consolidação de um espaço liso (não estriado) em que fluxos descodificados e
desterritorializados pudessem se mover de forma ondulatória, contínua e rápida – como em um
surfe, como propôs Deleuze (1992) ao indicar que a segunda metade do século XX assistiu à
chegada das sociedades de controle.
Deleuze (1992) explica que, a partir de meados do século XX, processa-se a passagem
histórica das sociedades disciplinares descritas por Foucault para as sociedades de controle. Se
naquelas sociedades as lógicas produtivas, bem como as estratégias de vigilância e docilização
para fixar os indivíduos nos aparelhos de produção exigiram o confinamento dentro dos espaços
institucionais (a casa, a escola, a fábrica, a prisão e outros) sob o comando – a polícia, a justiça,
o controle das fronteiras, a alfândega – dos Estados-Nação, agora observa-se o investimento do
Capital em diminuir o enrijecimento das duras fronteiras institucionais e nacionais. Não se trata,
por certo, de liberar a vigilância e diminuir o controle, nem mesmo de diluir os limites
institucionais e nacionais, o que possivelmente permitiria a emergência de um espaço liso como
potência de criação, tal como o afirmaram Deleuze e Guattari (1980/1997b). De outro modo,
tratou-se de construir um “alisamento”, por assim dizer, das fronteiras de forma a garantir a
manutenção e a reprodução do Capital através de novas estratégias produtivas e financeiras e,
sobretudo, novas formas (não mais moldes, mas modulações) de controle de indivíduos,
famílias, comunidades, nações.
Como vimos, as sociedades disciplinares foram fundamentais para a produção de uma
subjetividade individualizada, normalizada e dócil, apta a aderir às exigências produtivas do
capitalismo industrial. Tal produção foi possível através de lógicas de confinamento que
viabilizavam a vigilância e o controle dentro dos espaços institucionais onde o indivíduo podia
ser disciplinado. Nesse cenário, a família nuclear nos moldes burgueses firmou-se como um
importante agenciamento disciplinar, capaz de instaurar uma vigilância (inclusive
autovigilância) sobre seus membros para adequá-los, normalizá-los conforme os ditames das
sociedades capitalistas que se fortalecem.
Todavia, o fechamento institucional – o que inclui o confinamento da família na
intimidade do lar – entrou em crise em meados do século XX, não apenas pela emergência de
novas forças advindas dos movimentos sociais acima citados, mas também porque novas forças
do próprio sistema capitalista começaram a se impor. Dentre estas forças, especialmente com a
crise econômica generalizada após a Segunda Guerra, cabe destacar a inviabilidade do
172
confinamento para as novas apostas de crescimento do Capital. Dizendo de forma simplificada,
foi preciso desconfinar os indivíduos para que, “livres”, pudessem migrar mais facilmente
conforme as demandas produtivas e pudessem circular para ir às compras e consumir de
maneira mais efetiva do que nas situações de maior fechamento institucional. Não se tratou,
como disse, de liberar a vigilância e diminuir o controle, mas de exercê-los de outra maneira,
dentro e fora das instituições, desde a intimidade do lar à circulação pelas cidades. Um controle
a céu aberto, contínuo e difuso, por toda a parte.
Assim, a configuração das sociedades de controle permitiu ao capitalismo: viabilizar
uma distribuição mais flexível da força de trabalho pelos mercados no mundo; selecionar os
investimentos e alocar os recursos onde e quando soe mais rentável; organizar hierarquicamente
os diversos setores mundiais de produção; estimular o consumo através de suas máquinas
comunicacionais; dirigir as manobras financeiras e monetárias de modo a determinar a
geopolítica mundial adequada a seus interesses; exercer o controle biopolítico sobre as
multidões, não mais através das modalidades disciplinares de normalização homogênea, mas
através de uma governança capaz de mapear os indivíduos em suas diferenças e onde quer que
estejam, através de ferramentas tecnológicas de informação-comunicação munidas dos
algoritmos necessários para “acompanhar” e “orientar” o mundo inteiro.
As últimas décadas assistiram à difusão, pelas ruas das cidades, pelas estradas e pelos
estabelecimentos, de câmeras e dispositivos de segurança com sua capacidade de leitura facial,
ótica e de digitais. Multiplicaram-se os drones de vigilância e de caça a criminosos e terroristas,
as tornozeleiras eletrônicas, entre outros equipamentos que compõem o conjunto das máquinas
técnicas-tecnológicas do Controle. Em todos os casos, conectadas pela rede mundial de
computadores, essas máquinas “detectam a posição de cada um” e “operam uma modulação
universal” (Deleuze, 1992, p. 225).
Em particular, vale destacar as máquinas pessoais de comunicação que processam a
circulação ultrarrápida de informações, movimentos, transações, palavras, imagens. Máquinas
que têm se tornando cada vez mais individualizadas, íntimas e móveis. Os smartphones são
hoje exemplares desse tipo de máquina pessoal. Eles nos acompanham por todos os lugares em
nossos bolsos e bolsas. No Brasil, no início de 2019, havia mais smartphones do que seres
humanos: eram 230 milhões de aparelhos que somados a tablets e computadores totalizavam
324 milhões de dispositivos portáteis, enquanto a população do país estava em pouco menos de
210 milhões de habitantes (Meirelles, 2019). Por outro lado, e ao mesmo tempo que são
pessoais, os smartphones, tablets e computadores são máquinas planetárias: permitimos que
173
seus aplicativos tenham acesso, conforme o caso, à câmera do aparelho e à galeria de fotos e
vídeos, às palavras que são mais digitadas por nós, à nossa localização, trajetos, preferências de
compras, aos dados bancários ou do cartão de crédito. Essas informações são aproveitadas no
novo contexto biopolítico do Controle, em que os algoritmos que elas produzem e as redes de
comunicação nas quais elas circulam (explícita ou implicitamente) assumem um papel
fundamental nas estratégias não apenas de vigilância, mas também de vinculação dos
indivíduos a mercadorias, serviços, estilos, narrativas através das propagandas adequadas
(sempre também “adequantes”) para cada perfil72.
Como indicaram Negri e Hardt (2000/2006), essa estruturação biopolítica em redes
comunicacionais não coloca os indivíduos submetidos apenas a um poder transcendente e
localizável, como o eram o gerente na fábrica, o diretor na escola, o inspetor na prisão, o pai na
família. Há agora a sutil integração das subjetividades em controles imanentes e
interconectados. Ao mesmo tempo que as lutas por autonomia e liberdade parecem enfim
ampliar-se em um mundo em que as redes comunicativas deram maior visibilidade às minorias
sexuais, étnico-raciais, etárias e outras, com suas lutas em prol do respeito à diversidade e aos
seus direitos, as estratégias comunicacionais do Controle vão envolvendo cada vez mais os
indivíduos em seus mínimos detalhes e informações. Nesse cenário é sempre preciso ponderar
em que medida os avanços no campo das lutas identitárias e na conquista de direitos por
segmentos minoritários acabaram por fornecer informações importantes para controlá-los de
formas específicas e sutis, ou mesmo para transformá-los em nichos mercadológicos (serviços
específicos para o “público homossexual”, produtos próprios para cabelos de pessoas negras
etc.) e em mão-de-obra mais barata73.
Quanto às famílias, cumpre refletir sobre os modos como elas têm vivenciado tal
realidade. Por um lado, a intimidade e a privacidade familiares têm se mantido como um
importante valor cultural. Mas, ao mesmo tempo, imagens das famílias circulam amplamente
72 Lembro-me, nesse sentido, de um aluno que me contou maravilhado que, pouco depois de conversar com a namorada sobre sua intenção de comprar uma bicicleta, viu pipocar nas páginas que acessava na internet (sites de notícias, nos anúncios do Youtube, no Facebook e até no seu e-mail) propagandas de bicicletas. De forma mais óbvia, basta realizar uma pesquisa no navegador do Google por algum produto para receber por dias ou semanas avisos dos sites de e-commerce sobre esse produto. 73 Veja-se como toda a luta dos movimentos feministas pelo direito de as mulheres inserirem-se no mercado de trabalho não garantiu, até hoje, a paridade de salários e de projeção nas carreiras em relação aos homens em boa parte das empresas. E não produziu a democratização do trabalho doméstico. No Brasil, como mostra pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada): “em 2008, enquanto o trabalhador brasileiro do sexo masculino recebia em média R$ 1.070,00, as trabalhadoras ganhavam R$ 700,00, ou seja, 65% do rendimento dos homens” (Fontoura & Gonzalez, 2009, p. 23).
174
nas mídias sociais, postadas por seus membros ou outras pessoas. Não se trata de uma
contradição, especialmente se consideramos que o que é compartilhado sobre a família com os
“amigos” e “seguidores” nas redes ou mesmo exposto em um perfil público dificilmente
escancara, sem poses e produção, os atropelos, conflitos, problemas que também perfazem os
cotidianos familiares. O que se exibe, em grande medida, são imagens que procuram atestar a
correspondência (na medida do possível) da família aos valores e práticas em voga. Se a família
moderna ambicionou produzir um núcleo amoroso, unido, feliz, bem-sucedido e bem
equilibrado, agora, atestar o sucesso familiar nas redes sociais tornou-se uma prática difundida.
Nesse sentido, as imagens postadas frequentemente envolvem a amorosidade entre membros;
a união do grupo; a felicidade de se estar junto em um encontro comemorativo; imagens do
desenvolvimento das crianças, suas “aventuras” e aprendizados; a conquista escolar do
adolescente; o sucesso do filho “formado”; entre outros. Já os dramas, os conflitos, os
desencontros, as dificuldades (físicas, psicológicas, financeiras e outras), as violências – esses
aspectos têm, regra geral, na intimidade e na privacidade seu devido lugar...
Nesta realidade hiperconectada pelas redes comunicacionais não apenas se exibe
momentos e elementos familiares, mas também se acessa muita coisa. Os algoritmos
informáticos, como hoje se sabe, são programados para privilegiarem o acesso a certos
conteúdos identificados a partir dos padrões de consumo, crenças, hábitos e gostos indicados
pelos usuários, rastreados por curtidas nas redes sociais, por preferências de programação
televisivas ou no streaming e ou pelas palavras digitadas em aplicativos, sites e navegadores
ligados à internet e acessados através dos aparelhos pessoais (smartphones, computadores).
Nesse cenário, a expansão do acesso aos meios de comunicação – dos canais abertos da TV ao
YouTube, Facebook e aplicativos de jogos eletrônicos – acabou por “[...] explodir o isolamento
até mesmo das famílias mais conservadoras, minando a condição que garantia a transmissão
estável de valores e padrões de comportamento entre as gerações” (Kehl, 2003, p. 166). Com
isso, mesmo uma família nuclear que ambiciona seguir os “valores tradicionais” de isolamento
do lar, confinamento da esposa e disciplina dos filhos dificilmente escapa das conexões de seus
membros com o “mundo lá fora” acessado pela internet. Se posso brincar com o termo cunhado
por Kehl (2003), em tempos de globalização informática, todas as famílias são, em alguma
medida, tentaculadas.
Além disso, vale indicar o controle a céu aberto que as tecnologias da informação
passaram a viabilizar para que os membros da família realizem entre si: rastreamento dos
percursos do marido, da esposa ou dos filhos; controle de acesso a aplicativos e bloqueio de
175
conteúdos avaliados como inadequados para os filhos; softwares espiões que, uma vez
instalados no smartphone do cônjuge e ou dos filhos, permitem monitorar as operações feitas
(chamadas, mensagens, sites acessados, aplicativos utilizados) etc. Se a família moderna se
tornou um poderoso dispositivo disciplinar, capaz de vigiar os comportamentos, controlar o
tempo e docilizar o corpo e o desejo de seus membros, agora, com as novas tecnologias
informáticas, muitas famílias parecem também surfar nas modulações do Controle.
Por fim, cabe lembrar o importante impacto das máquinas informáticas de comunicação
na flexibilização do horário e da jornada de trabalho de muitos trabalhadores, o que acaba por
se conectar com a realidade de um número crescente de famílias. Isso porque, para muitos
trabalhadores, o que importa agora é cumprirem com excelência suas tarefas e compromissos
laborais dentro de certos prazos, não importando onde nem quando o trabalhador escolherá
fazê-lo. Se muitos comemoram a possibilidade de “fazer seu horário” ou de trabalhar “mais à
vontade” em casa, isso tem tornado contínua a dedicação laboral. Através do grupo de
WhatsApp da equipe ou do sistema da empresa instalado no computador pessoal do trabalhador,
as demandas, os problemas, as mudanças organizacionais são divulgadas e chegam até ele a
qualquer hora: durante seu jantar em família, seu passeio romântico no cinema, sua aula na
faculdade, seu sono da madrugada, suas férias...
Nesse contexto, o mundo parece ter entrado em uma espécie de achatamento espaço-
temporal em que “tudo” o que acontece (nas famílias, nas empresas, na vida das celebridades,
nos eventos nacionais ou mundiais etc.) pode ser acompanhado em “tempo real” através dessas
tecnologias informáticas-comunicacionais que permitiram, ao longo das últimas décadas,
conexões cada vez mais rápidas e eficientes. Segundo Negri e Hardt (2000/2006), estamos a
experenciar uma suspensão do tempo como se vivêssemos um estado de presente eterno, como
se tivéssemos chegado ao fim da História. Esse estado de presente, no entanto, mostra-se
efêmero, ainda que contínuo. Um estranho paradoxo, já que tudo acontece agora, mas o agora
já nasce obsoleto, exigindo sua constante atualização, como em uma corrida para ficar no
mesmo lugar: mais uma versão do aplicativo precisa ser adquirida sob pena dele parar de
funcionar; mais um modelo de tal ou qual produto precisa ser comprado com suas atualizações
“necessárias”; mais um post precisa ser feito nas redes sociais já que o tempo médio de
visibilidade das postagens dura de alguns minutos a poucos dias antes delas caírem no limbo
do esquecimento informático74.
74 Sobre o tempo de vida útil das mercadorias, é importante assinalar a estratégia da obsolescência programada criada nas décadas de 1920-30 e que se ampliou nestes tempos imperiais. Conferir o
176
* * *
Minha filhinha, com seus seis anos, retruca o irmão mais velho, de oito anos, que a irrita:
“cala a boca, seu merda, cretino, desgraça, cuzão!”. Arregalo os olhos, estarrecida com a frase
que escuto sair da boca da florzinha da minha vida. Levanto-me da mesa da sala onde estudava
para ir ao encontro das duas crianças que brincam em um colchão ao lado. “Onde você aprendeu
a falar assim, filha?”, pergunto simulando um semblante impassível. “Com a Peppa”, escuto
sem entender. “Com a Peppa?! A Peppa Pig? O desenho?! Mas a Peppa não fala assim!”,
pondero. “Fala”, responde a menina. “Fala sim”, reforça o menino. Permaneço incrédula. Eu já
havia assistido inúmeras vezes ao desenho da Peppa e sua família de porquinhos. Era I-M-
P-O-S-S-Í-V-E-L que a Peppa falasse daquele jeito. Insisto: “Mas eu nunca vi a Peppa falando
essas coisas...”. “É a Peppa engraçada que fala”, explica meu filho.
Com essa pista e algum tempo, consigo desvendar o mistério. Deixava as crianças
assistirem à Peppa Pig no Netflix, que disponibiliza 5 temporadas do desenho (2004 a 2011).
Mas, de tanto assisti-los, elas resolveram procurar outros desenhos da Peppa. E encontraram.
No Youtube (que não consigo dizer como aprenderam a entrar e a navegar). Ali assistiam a um
desenho que era mesmo da Peppa, acrescido de outra dublagem recheada de palavrões,
xingamentos, piadas obscenas, discórdias e ironias entre os personagens, além de efeitos
sonoros e edições das imagens. Produzidos por diferentes perfis no Youtube, verifico que os
desenhos contavam com centenas de milhares de visualizações.
Como disse acima, na atual realidade digital, hiperconectada pelas redes informáticas
de comunicação, é possível acessar muita coisa. E o funcionamento “intuitivo” das plataformas
e aplicativos contribui para a facilidade de acesso, inclusive de crianças em processo de
alfabetização. Tomada pela raiva dessa invasão cibernética na minha casa, proíbo o desenho e
retiro da tela de entrada da Apple TV o link para acesso ao Youtube. Foram poucos dias até o
meu menino, que morria de rir da “nova” Peppa, conseguir aprender a reinstaurar a
configuração original do aparelho da Apple, liberando o aparecimento do link para o Youtube
na tela inicial da TV. E, com ele, o acesso aos desenhos editados da Peppa. Respirei fundo e
histórico apresentado por Bulow (1986). Quanto às postagens, o curto período de sua divulgação no Facebook, Instagram, Twiter tem sido objeto constante das estratégias de marketing e suas empresas, como propõe Cavalcante (2017).
177
resolvi mudar a estratégia: foram necessárias várias conversas e propostas para que as crianças
perdessem o interesse em assistir a esses desenhos.
Meus filhos certamente não são uma exceção de acesso à infinidade de vídeos, jogos,
seriados, desenhos, imagens que circulam pelas redes informáticas e que hoje alcançam quase
todos os humanos. No seu caso, a totalidade dos adultos com quem convivem possuem, pelo
menos, um smartphone e um computador pessoal; por vezes mais de um smartphone ou
computador, ou um tablet. Há um ou mais aparelhos de televisão nas casas que frequentam,
além de câmeras de vigilância, sensores de presença e permissão de acesso por reconhecimento
digital em várias dessas casas. Muitas das crianças com as quais se relacionam possuem seus
próprios aparelhos informáticos, contas de telefonia, WhatsApp, e-mail, Youtube, Facebook ou
Instagram.
Nesta pesquisa, todos os contatos que eu fiz, com os informantes-chaves, lideranças e
membros das famílias dos diferentes Grupos de Pertença que elegi (povos indígenas originários;
comunidades quilombolas; famílias de classe média urbana; famílias moradoras em ocupações
nas periferias dos centros urbanos; famílias ricas econômica e politicamente), ocorreram por
WhatsApp. Todos os adultos e várias das crianças com quem conversei em minhas visitas
possuíam seu próprio smartphone. Todas as casas que visitei ostentavam um ou mais aparelhos
de televisão.
Na mansão onde Renata e sua família moram, uma fina televisão de 85 polegadas ocupa
grande parte da parede da sala ao lado da entrada da casa. Quando os visitei e perguntei a
Vaninho, marido de Renata, qual era a coisa mais importante em sua casa, ele não hesitou em
apontar para a TV. Também os filhos indicaram seus respectivos Ipads, além da TV, como as
coisas pelas quais tinham mais apreço em casa. Em outra residência que visitei – o apartamento
alugado pelo casal Wander e Denise, reparei, logo que entrei na casa, uma SmartTV de 55
polegadas que reinava sobre um aparador instalado na parede, também ao lado da entrada.
Durante toda essa visita, a televisão esteve ligada. Segundo o casal, para entreter a filha Elisa,
de 2 anos, enquanto conversávamos. De fato, a menininha manteve-se atenta aos desenhos por
quase duas horas, praticamente imóvel no sofá da sala. Em algum momento da conversa
Wander comenta, achando graça, que, depois que Elisa nasceu, ela “tomou conta da TV”,
querendo assisti-la sempre que está em casa.
Outra visita, desta vez no quilombo. Em verdade, é uma visita-passeio que faço com o
menino Júlio, de dez anos, e Binho. Levam-me para conhecer a sua casa que, para eles, é
178
composta não apenas pelo imóvel onde residem; nem pelo imóvel com a extensão do terreiro
comum do quilombo. Mais do que isso: a casa envolve a mata, o rio, a montanha... Durante o
passeio, paramos para um banho de rio. Ali aproveito para perguntar a Júlio sobre o que mais
gosta e ele me responde que é do rio, dos cavalos e do lugar onde mora. Pergunto então sobre
as brincadeiras que gosta. Recebo uma lista: esconde-esconde, pega-pega seco e na água,
brincar de subir na tábua, pique-cola, soltar pipa, jogar peteca e bola. Ao final, ele cita o celular,
porque gosta de jogar sozinho ou online. Pergunto se ele tem um e recebo um sinal afirmativo
com a cabeça. Júlio comenta que a maioria das crianças têm celular na comunidade. Arrisco-
me a perguntar se ele tivesse que escolher uma coisa ou outra, o que ele preferiria: brincar com
os amigos que moram ali ou jogar no celular. Sem hesitar, ele me responde que prefere o celular.
“Tem certeza?”, insisto. “Certeza absoluta”, o garoto responde. Fico em silêncio por algum
tempo, assentada ao seu lado, observando à nossa frente a água do rio que se movimenta
enquanto suas pequenas ondas refletem, com brilhos coloridos, a luz do sol. Resolvo insistir e
pergunto se ele trocaria participar dos eventos da comunidade para ficar jogando no celular. Ele
me responde que, nesse caso, não trocaria, pois gosta muito de participar e tocar nas celebrações
religiosas e festas. Pondero comigo mesma que devo ter pegado pesado demais, que ficar
jogando durante esses eventos não seria uma escolha para qualquer membro da comunidade.
Contudo, enquanto ainda concluo o meu raciocínio, Júlio completa: “Quase todas as crianças
aprende pra tocar nas festas. Só o Breno, o Tiago e o Marcelo que não... eles só ficam o dia
inteiro no celular”.
Por fim, lembro-me do comentário de Ana sobre a relação dos membros de sua família
indígena e de outros indígenas que conhece, integrantes de diferentes etnias, com as redes
sociais. Ela conta que o Facebook faz parte da vida de boa parte deles: “eu devo ter mais de mil
amigos indígenas no Facebook”, calcula. Dentre esses amigos, muitos postam “de tudo”, até de
questões familiares e pessoais que os expõem muito, inclusive para os olhares dos não-
indígenas. Para Ana, eles não fazem ideia da amplitude da exposição do que é ali colocado.
Nesse cenário, se os aparelhos tecnológicos de informação-comunicação estão por todos
os lados, deve-se considerar que as sutis estratégias de captura e uso dos dados de indivíduos e
famílias pelo Controle também está, mesmo se consideramos que o uso dos dados não é
particularizado e que as fontes primárias não são (ao menos, a princípio) identificadas. Todavia,
a compreensão desse funcionamento não está difundida por todos os lados...
Há alguns anos venho fazendo uma pergunta para meus alunos de Psicologia
Institucional e recebo até hoje respostas semelhantes. A certa altura da disciplina, indago os
179
alunos sobre o quanto nos custa usar o WhatsApp. Quase em uníssono, escuto a resposta de que
esse aplicativo não nos custa nada, que ele é de graça! Questiono como isso é possível para uma
plataforma que atingiu a marca de mais de dois bilhões de usuários (em 2019), transmitindo
mensagens em mais de 60 línguas pelo mundo, fazer essa transmissão de forma segura, eficiente
e, ainda assim, de graça? É certo que sempre existem aqueles alunos que sabem que o Facebook,
proprietário do WhatsApp tem acesso aos perfis dos usuários, mesmo se mantém o anonimato
destes, aproveitando-os para, por exemplo, ser mais assertivo em seus filtros de propaganda
para empresas que compram espaço de anúncio ou conteúdo patrocinado nos outros aplicativos
integrados da mesma empresa. Como disse-me certa vez um aluno, lembrando uma máxima do
marketing: “ah, professora, se o produto é de graça, o produto é você!”.
Com efeito, todos os que utilizam os aplicativos da empresa Facebook (não só dela),
concordam com seus Termos de Uso e Privacidade e, com frequência, acabam por aderir a atual
integração multiplataforma. Mas pouquíssimos são os usuários que leram com rigor esses
Termos. Antes do WhatsApp ser comprado pelo Facebook por U$ 22 bilhões em 2014, a
proposta do serviço móvel de mensagens instantâneas era cobrar dos usuários, após algum
tempo de uso gratuito (um ano), o valor de U$ 0,99/ano como taxa de manutenção da conta. A
justificativa para a cobrança pela empresa envolvia garantir um acesso seguro sem apelos ou
estratégias comerciais. No entanto, o Facebook removeu a cobrança, explicando que não queria
inviabilizar o serviço para os clientes que não tivessem cartão para o pagamento do valor anual.
Seu fundador e CEO, Mark Zuckerberg, informou que estava estudando outras maneiras de
monetizar adequadamente a plataforma (Fabro, 2020).
Acompanho Deleuze (1992) em sua ponderação de que cada sociedade possui seus tipos
de máquinas que “[...] exprimem as formas sociais capazes de lhes darem nascimento e utilizá-
las” (p. 223). Certamente a impressionante difusão mundial dos equipamentos pessoais de
comunicação e informação, bem como das redes sociais só ocorre em sociedades nas quais
essas tecnologias se ajustam bem, em sociedades em que faz sentido promover esse tipo de
comunicação, de exposição e de uso das informações. Por outro lado, cumpre frisar que as
tecnologias em si podem se prestar a diferentes usos e as mudanças nos hábitos daqueles que
as utilizam acabam por mudar também os sentidos, a valorização, a difusão do uso, bem como
os próprios dispositivos. Isso é importante porque, em uma perspectiva rizomática, não faz
sentido analisar aplicativos, plataformas, estratégias como determinantes de certa realidade; é
necessário conectar essas ferramentas a outros componentes sociais e subjetivos para
compreender seu funcionamento, sempre técnico, ético-político, cultural, econômico, subjetivo.
180
Nesse sentido, destaco o interessante uso que a aldeia de Sandra e Iraí fazem das tecnologias
da comunicação a que tem acesso.
Durante nossa conversa, Iraí me pergunta se eu já assisti a algum dos filmes sobre seu
povo que ele produziu. Respondo, um tanto constrangida por minha ignorância, que ainda não.
E pergunto-lhe como é, para ele, utilizar equipamentos de filmagem, bem como realizar a
edição das imagens e sons. Iraí mostra-se muito conhecedor dessas tecnologias, mas explica
que a proposta de fazer os vídeos, sem qualquer financiamento ou apoio para tanto, é para
“clarear o seu povo”, que está no escuro, que não existe para os não-indígenas. O uso dos
equipamentos de filmagem em sua aldeia e a exibição dos vídeos no Youtube só podem ser
feitos respeitando-se os rituais, os costumes, a língua da etnia. Por isso, não podem ser feitos
por qualquer um. Iraí relata o quanto já lutaram e continuam lutando para ter terras suficientes
e acesso livre à água dos rios para poder viver como gostariam, seguindo seus rituais e podendo
produzir a maior parte do que necessitam. Os filmes viraram mais uma estratégia de visibilidade
e luta.
Pergunto-lhe então sobre o acesso à internet e a equipamentos como computadores e
celulares dentro da aldeia, por seus membros. Ele conta-me que foi “mais uma luta” conseguir
colocar uma torre com sinal de internet disponível para a aldeia. Pediu ao prefeito do município
ao qual a aldeia está vinculada para que fornecesse a internet à sua comunidade, mas este
argumentou que não poderia fazê-lo, pois se colocasse a torre de celular, acabaria com a cultura
indígena. Iraí garantiu-lhe: “Não, não acaba assim não, porque tem que saber usar o celular e a
internet. Não vai tirar nada da nossa cultura”. Ainda assim, foi preciso a mediação da Funai,
requerida pelo prefeito. O administrador da Funai posicionou-se, considerando que a aldeia era
soberana para decidir de forma coletiva, em assembleia, o que era melhor para si. Com o apoio
comunitário, a internet foi instalada.
Hoje todos na aldeia têm celular, inclusive as crianças. Estas, no entanto, não jogam,
nem fazem ligações telefônicas. De uma maneira geral, a comunidade usa o WhatsApp para
mandar mensagem em sua língua, porque não falam português. “E [a gente] coloca o canto75,
coloca vídeo e foto do ritual no grupo [de Whatsapp]”, explica Sandra. Com isso, os que estão
fora podem também acompanhar. Iraí explica que se trata de mais uma ferramenta de luta por
visibilidade: “Pode compartilhá mais, sem ferir rituais. Com não-índios também”. E Sandra
completa: “Aí não estamos perdendo cultura, língua, pintura”.
75 Os cantos são um elemento fundamental nas práticas, alianças, rituais deste povo.
181
Pergunto-lhes então por que crianças não jogam se poderiam fazê-lo, já que têm o
celular e a internet. “Porque não gostam de jogar. Gostam é da sinuca que tem na aldeia”.
Gostam da sinuca porque as crianças que vivem na aldeia, por volta de 75, podem ali brincar
juntas em uma dinâmica social em que o exercício de imersão em um game parece não fazer
muito sentido. Mesmos tempos e ferramentas, outras práticas.
Linhas da desigualdade
Quando as famílias que compuseram este estudo entram todas ao mesmo tempo em meu
pensamento, não é apenas a sua diversidade que me chama a atenção, mas também, e de forma
muito contundente, a desigualdade entre elas. A desigualdade implica a produção de linhas de
segmentaridade no diagrama de forças de certa configuração social que conformam hierarquias
e exclusões que transformam a diversidade de modos de vida, de famílias, de cosmovisões em
categorias mais ou menos privilegiadas, controladas ou coibidas. Estudar o Brasil e a
complexidade dos abismos de desigualdade erguidos pela modernidade capitalista entre as
famílias que o habitam não é para principiantes, como já disse o compositor76. Se as
desigualdades sociais foram sendo firmadas ao mesmo tempo que as árvores eram arrancadas
e os minerais extraídos destas terras ao longo da colonização, esta realidade se mantém na
atualidade, agora dentro das lógicas biopolíticas do Controle.
Conforme as matrizes iluministas que orientam o ordenamento jurídico brasileiro, é
possível considerar que a Carta Constitucional de 1988 que rege o Estado brasileiro como uma
República Federativa e o estrutura como um Estado Democrático de Direito prevê a garantia
formal de que todos os brasileiros são iguais perante a lei e cidadãos cuja dignidade como
pessoa humana deve ser respeitada (Constituição da República Federativa do Brasil,
1988/2020). Todavia, quando retomamos o processo de descobrimento do Brasil, constata-se
que o Estado brasileiro se formou graças às desigualdades construídas entre colonizadores
versus colonizados e escravizados. Mesmo com a luta histórica pela redução dessas
desigualdades, especialmente a partir da Constituição de 1988, na prática, o Estado segue
76 Refiro-me à frase de Antônio Carlos Jobim: “O Brasil não é para principiantes”. Jobim a disse em contrapartida ao livro Brasil para Principiantes, escrito pelo húngaro radicado no Brasil, Peter Kellemen. O livro foi lançado em 1961.
182
estruturado em grande medida para garantir os privilégios e os interesses daqueles que
concentram poder econômico, político, administrativo, epistemológico77.
Segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud,
2019), em 2018 o Brasil era a sétima nação mais desigual do mundo, “ganhando” apenas de
África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique, dentre
189 países analisados78. O Brasil ficava em penúltimo lugar, na frente somente do Catar, quanto
à concentração da renda do país nas mãos do 1% mais rico de sua população naquele ano.
Todavia, esse cenário de desigualdades tem se tornado uma realidade que cada vez
menos é “privilégio” do Brasil e de outros países “em desenvolvimento”. Com efeito, o
capitalismo, dentro das lógicas imperiais, tem difundido desigualdades inclusive em países
autodenominados desenvolvidos. Nestes, a desigualdade vem se ampliando internamente desde
que o capitalismo passou a trabalhar para enfraquecer as fronteiras nacionais em favor do
mercado global e de seus principais proprietários e grandes investidores. É assim, mesmo
quando consideramos que houve redução da extrema pobreza e que as condições de vida
melhoraram de uma maneira geral. A concentração da riqueza nas mãos de poucas pessoas e
famílias mostra-se, cada vez mais, como um dos maiores desafios de nossos tempos79.
Para Negri e Hardt (2000/2006), as divisões entre Estados-nação e entre grupos
regionais estão sendo diluídas, fazendo com que “[...] o Norte e o Sul [que] realmente já
estiveram separados por fronteiras nacionais, hoje eles claramente entornam uns nos outros,
distribuindo desigualdade e barreiras ao longo de linhas múltiplas e fraturadas” (p. 357). A
grande parte dos países têm atualmente centros da mais alta tecnologia e produção, têm seus
bolsões de riqueza – condomínios de luxo, shopping centers, prédios empresariais e da
administração pública construídos como fortalezas – que coabitam na mesma região com
condições desprezíveis da produção capitalista. “A geografia de desenvolvimento desigual e as
linhas de divisão e hierarquia não são mais encontradas ao longo de estáveis fronteiras nacionais
77 Os paradigmas e dispositivos que legitimam e efetuam a tributação no Brasil são exemplares nesse sentido. Conferir a análise de Henrique Napoleão Alves sobre o sistema tributário brasileiro (2012). 78 O ranking é construído a partir do Coeficiente de Gini que mede desigualdade e concentração de renda (Pnud, 2019). 79 Conferir os dados sobre as desigualdades globais e as desigualdades internas nos países no relatório produzido pelo Credit Suisse Research Institute (2018). No mesmo ano, a Oxfam fez um alerta às vésperas do encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, sobre a absurda concentração da riqueza mundial ocorrida em 2017: 82% da riqueza produzida em 2017 foi parar nas mãos do 1% mais rico do planeta (Oxfam, 2018).
183
ou internacionais, mas em fronteiras fluidas infra e supranacionais” (Negri & Hardt, 2000/2006,
p. 357).
No Brasil, essa realidade é visível em bizarras paisagens que ostentam o fosso das
desigualdades nessas terras. É assim, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde uma sequência
de muros de tijolos, reboco e placas de cimento compõem uma fina linha de separação concreta
entre as enormes separações econômicas e simbólicas que marcam duas realidades vizinhas: a
dos moradores abastados do bairro Morumbi e a dos moradores economicamente vulneráveis
da favela de Paraisópolis.
As fissuras da desigualdade nas lógicas e no funcionamento capitalistas são possíveis
graças a um conjunto de estratégias biopolíticas. Nesse contexto, destaco a importância das
práticas estatais da Exceção, articulada a um funcionamento socioeconômico em que as crises
parecem eternizar-se. Com efeito, a gestão das populações tem se deslocado da importância
dada, durante a consolidação da soberania dos Estados-nação modernos, à estabilidade e à
universalidade das ações administrativas estatais. A ordem, a normalidade e a previsibilidade
defendidas pelos ordenamentos jurídico-legais modernos como critérios de legitimidade do
Direito e do Estado têm cedido lugar a uma gestão cada vez mais singular, cirúrgica e
excepcional: o Estado de Exceção, como indicou Giorgio Agamben (2004), tem se apresentado
“(...) como o paradigma de governo dominante na política contemporânea” (p. 13).
Agamben (2004) sustenta sua reflexão a partir de Carl Schmitt, quem ele considera o
teórico mais rigoroso sobre o Estado de Exceção do século XX. Schmitt (1922/1996) afirma
que a norma e sua repetição dependem da existência, ainda que potencial, da exceção. São as
situações de exceção, quando ocorre alguma emergência, calamidade ou crise, que demonstram
a importância e a necessidade de um ordenamento jurídico sólido para a existência, como regra,
de um Estado democrático e para que as garantias e os direitos dos cidadãos sejam respeitados.
É porque em certas situações excepcionais a lei é suspensa que se compreende todo o seu valor.
Assim, nos modernos Estados de Direito que coibiram o poder absoluto do monarca, a
lei necessita em alguns momentos que a figura do soberano seja capaz de realizar o papel de
“protetor da lei”. Isso ocorre quando a lei não consegue se sustentar sozinha e exige que medidas
excepcionais sejam tomadas para garantir a Constituição e o poder do Estado, ainda que essas
medidas não estejam limitadas e previstas nas leis e impliquem uma violência “pura”. Para
Schmitt (1922/1996), a suspensão da lei só pode ser feita por aquele que detém o poder soberano
no Estado (seu presidente, por exemplo). “Seguindo a linha de raciocínio proposta por Schmitt,
184
espera-se que o soberano, ao recuperar um suposto poder originário (que é anterior e se
sobrepõe ao poder constitucionalmente reconhecido), possua uma ‘lealdade’ ao interesse
coletivo, reestabelecendo toda a ordem jurídica” (Souza, 2018, p. 41).
Contudo, Agamben (2004), acompanhando os contrapontos feitos por Walter Benjamin
a Schmitt, considera que a tentativa de dar uma “roupagem jurídica” à violência cometida pela
autoridade estatal em um estado de exceção não passa de uma ficção que pretende manter o
Direito em sua própria suspensão como força-de-lei em uma situação que está fora do Direito:
o que de fato “[...] está em jogo é uma força-de-lei sem lei (que deveria, portanto, ser escrita:
força-de-lei)” (p. 61). Essa ausência da lei para a prática da força (mesmo se justificada em
nome da manutenção do próprio ordenamento e da estabilidade do Estado) deve nos interessar
atentamente, segundo Agamben (2004), uma vez que “[...] a criação voluntária de um estado
de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico)
tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados
democráticos” (p. 13).
Agamben (2004) define o aparecimento do Estado de Exceção como regra no século
XX. Certamente pode-se falar dele durante as duas Grandes Guerras, mas também depois
observa-se a crescente frequência e a ampliação da duração desses estados ao longo daquele
século e também no atual. Decretado em nome da Paz, ele se utiliza da violência, fazendo com
que a vida esteja continuamente exposta e vulnerável às mais duras intervenções estatais, cujos
critérios de atuação não estão previamente descritos, autojustificando-se pelas “necessidades
emergenciais” do momento. Esse filósofo mostra como os ataques terroristas em 11 de setembro
de 2001 acabaram por permitir aos Estados Unidos estabelecer uma série de medidas como a
Military Order, promulgada em 13 de novembro daquele ano, autorizando a detenção
indefinida e a realização de processos contra os suspeitos de atividades terroristas em comissões
militares. “Nem prisioneiros nem acusados, mas apenas detainers, são objeto de uma pura
dominação de fato, de uma detenção indeterminada não só no sentido temporal mas também
quanto a sua própria natureza, porque totalmente fora da lei e do controle judiciário” (Agamben,
2004, p. 14). Não apenas os EUA, mas vários outros países têm decretado leis antiterroristas
contra supostas ameaças geopolíticas e assumido posturas de exceção, justificando-as por
diferentes tipos de crise: econômicas, sociais, políticas, ambientais.
Vale salientar que as práticas estatais de Exceção se adequam muito bem ao
funcionamento imperial do capitalismo, administrando as crises que este não se cansa de
produzir. Crises que hoje não podem ser mais lidas como cíclicas, próprias das contradições e
185
imperfeições do sistema que assim iria “evoluir”. O capitalismo se tornou, em grande medida,
“capitalismo de crise”, na terminologia utilizada pelos autores anônimos de Crise e Insurreição
(Comitê Invisível, 2017). As crises acompanham (resultado e oportunidade para) o surfe dos
fluxos de capital, pessoas, mercadorias pelo mundo, justificando aqui e ali o recurso biopolítico
da exceção como técnica de governo e de controle social para vigiar e controlar as pessoas,
coibir insurreições, desmobilizar as reinvindicações, sufocar ou exigir as migrações, desidratar
ou fortalecer líderes e movimentos e, acima de tudo, promover a adesão das multidões
amedrontadas e acuadas às medidas excepcionais adotadas pelos Estados. Desse modo, as crises
já não pretendem chegar a lugar algum, mas visam manter-se como um desequilíbrio que
justifica o Estado de Exceção e tende “[...] a libertar quem governa de toda e qualquer
contrariedade quanto aos meios aplicados” (Comitê Invisível, 2017, p. 28).
Ademais, do ponto de vista imperial, é importante que as estratégias de atuação em
caráter de exceção sejam implementadas não apenas pelos grandes aparatos estatais e seu
poderio jurídico-judicial, policial e militar, mas também pela rede de micropoderes que se
articulam localmente entre instituições, comunidades e grupos sociais. Trata-se, como
mostraram Negri e Hardt (2000/2006), de uma administração fractal que visa controlar os
indivíduos e dirimir os conflitos não pela imposição de um aparelho social único e coerente,
mas pelo gerenciamento das diferenças de forma singular, com as ações necessárias a cada caso:
“[...] apresentar procedimentos específicos que permitam ao regime engrenar diretamente com
as diversas singularidades sociais, e a diferentes elementos da realidade social” (p. 362). Por
exemplo, promover a inserção de um grupo étnico (e sua sabedoria ancestral) no mercado
através do investimento em uma organização não-governamental que a ele se liga; ou
desarticular, através do financiamento do poder bélico de milícias locais, a emergência de uma
rede de produtores integrantes de certa comunidade que se tornaram concorrentes aos produtos
ou serviços fornecidos por grandes empresas. Nesse sentido, o papel e o controle exercido
localmente por milícias, grupos mafiosos, redes empresariais, ou mesmo grupos religiosos e
coletivos identitários, entre outras organizações paraestatais, legais ou criminosas, têm tido
importante papel na administração das diferenças, na inibição ou punição de conflitos, mesmo
quando (sobretudo quando) o Estado, sua burocracia e corrupção, mostram-se menos efetivos
e eficientes.
Se desde os primórdios dos Estados, conforme assinalam Deleuze e Guattari
(1980/1997b), estes funcionam como aparelhos de captura que visam vincular as pessoas, seus
modos de vida e sua força vital sob os domínios da megamáquina administrativa estatal, para
186
os subviventes do capitalismo contemporâneo, sua captura significa serem mantidos à margem
de forma conformada ou, pelo menos, silenciosa e serem convocados somente quando
necessário e dentro de limites estritos, sob pena de receberem a força policial treinada (militar
e psicologicamente) para empurrá-los para seus sub-lugares. Lugares que são definidos por
Edson Passetti como periferias:
Na sociedade de controle a periferia está dentro. Todos são passíveis de captura. Vivemos, então, momentos de periferias que pelo planeta se realizam de maneira pluralista. Temos a periferia formada pela pequena cidade ou conjunto de cidades-dormitório, que acomoda a população que trabalha na metrópole, e que em seu interior vê aumentar as ilegalidades. Outra maneira de periferia-dormitório acontece quando os moradores da pequena cidade ou deste conjunto deslocam-se para trabalhar em novos centros empresariais, abertos em suas proximidades, e que procuram dar conta da contenção do afluxo para a metrópole. (...) Mas há uma terceira, mais intensa, violenta, surpreendente. Pelo menos no Brasil ela se chama favela, no asfalto, no morro, nos alagados. Construídas com papelão, madeira, paus e plásticos, restos de outdoors, tijolos, e erguidas sobre a laje, palafitas ou a rés do chão. Ali estão trabalhadores dos comércios e indústrias legais e ilegais, autônomos miseráveis, serviçais do narcotráfico, pequenas prostitutas, pequenos prostitutos, altos e baixos gigolôs, gente que vai servir na polícia ou no exército, gente que serve pessoas de fino trato, de escolas de samba, de digitação, de escola mesmo, de capoeira, de cultura popular, escola do crime, de negros e não negros, de brancos e não brancos, tudo girando, e no sobe e desce constante. (Passetti, 2006, p. 95-6).
As periferias viabilizam, nas sociedades de controle, práticas de confinamento a céu
aberto, ampliando (e dissimulando) os muros da prisão (Passetti, 2006). Suas estratégias
combinam a vigilância sistemática através dos meios informáticos-comunicacionais com, por
um lado, a repressão policial sempre que necessário e, de outro, com práticas de assistência de
agentes públicos ou da sociedade civil (cidadãos, entidades do Terceiro Setor e empresas)
engajados em garantir condições “dignas” para que os pobres se conformem a viver nas regiões
periféricas. Como analisa Acácio Augusto (2010), uma série de programas sociais e de
segurança pública objetivam imobilizar as pessoas tidas como carentes ou vulneráveis, tendo,
como pano de fundo, “uma política do campo de concentração a céu aberto”, que investe em
manter uma determinada parte da população docilizada através de programas e aparatos que
continuamente “[...] registram, monitoram, permitem, recusam, direcionam, redimensionam a
circulação num espaço delimitado e móvel. E nesse exercício produzem novas subjetivações
afeitas aos controles” (p. 272).
Neste momento que Achille Mbembe (2016) denomina modernidade tardia, a prática da
Exceção pelos Estados se sustenta não apenas pelo biopoder que visa gerir a vida das
populações, ajustando-as e circunscrevendo-as, conforme o momento e nos diferentes casos, às
demandas do Capital. Como esse filósofo argumenta, a prática da Exceção se sustenta também
187
pelo necropoder e suas estratégias de terror, extermínio ou abandono. Mbembe (2016) destaca
a realidade exemplar dessa situação vivida na Faixa de Gaza, uma das experiências mais
dilacerantes da necropolítica contemporânea em sua opinião:
Viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição permanente de “estar na dor”: estruturas fortificadas, postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar; construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos; toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas todas as noites desde o anoitecer ao amanhecer; soldados patrulhando as ruas escuras, assustados pelas próprias sombras; crianças cegadas por balas de borracha; pais humilhados e espancados na frente de suas famílias; soldados urinando nas cercas, atirando nos tanques de água dos telhados só por diversão, repetindo slogans ofensivos, batendo nas portas frágeis de lata para assustar as crianças, confiscando papéis ou despejando lixo no meio de um bairro residencial; guardas de fronteira chutando uma banca de legumes ou fechando fronteiras sem motivo algum; ossos quebrados; tiroteios e fatalidades – um certo tipo de loucura. (Mbembe, 2016, p. 146)
É verdade que, como vimos no capítulo anterior, essas estratégias necropolíticas
estiveram presentes nas lógicas e práticas durante a colonização imperialista, ou mesmo durante
os cercamentos na Europa no processo de institucionalização do capitalismo moderno. Com
efeito, elas não são exatamente novidade. Contudo, agora, elas ocorrem por toda a parte e a
qualquer momento, sempre que uma calamidade, um desastre ambiental, uma insurreição
social, um colapso do mercado financeiro, uma pandemia se insinuam no horizonte. Se a Faixa
de Gaza se mostra como um extremo, quase uma distopia, da ação necropolítica, por toda a
parte e em maior ou menor grau é possível observar sua atuação em dinâmicas de fragmentação
e isolamento dentro e através de territórios, fazendo, como disseram Negri e Hardt (2000/2006),
com que o Norte e o Sul, com que os superdesenvolvidos e os subviventes estejam separados
ainda que vivam lado a lado.
A família, nesse contexto, é propagandeada como a salvaguarda sociosubjetiva. Quando
consideramos o momento contemporâneo, em que os Estados se acoplam ao formato imperial
do capitalismo e atuam através da Exceção justificada por crises que não param de se renovar,
a família é frequentemente colocada como o último refúgio e o único ponto de apoio confiável
diante de tantas oscilações e inconstâncias; um refúgio tomado como núcleo privatizado e
independente das condições externas contra as quais ele deve tentar nos proteger.
Vimos, no capítulo anterior, como o movimento higienista no Brasil caminhou junto
com a configuração nucleada e privatizada de família nos moldes burgueses, em consonância
com o processo de urbanização e, em seguida, de industrialização do país. Nesse cenário, Costa
(1979/1989) destaca a transição ocorrida na postura estatal em relação às famílias: de ações
188
basicamente repressivas-punitivas durante a colonização, o Estado passa a assumir, através da
medicina social que chega no país, um papel de cuidador da pátria e de seus cidadãos, cujos
interesses não estavam descolados das lógicas capitalistas industriais-liberais que eram aqui
implementadas. A família é conclamada a “servir à pátria”, assumindo a importância da higiene
e da disciplina de seus membros para a produção de indivíduos saudáveis para um futuro
também saudável para a nação. Há nessa estratégia a ambição de se produzir um enlace entre
família e Estado que acaba por gerar uma grande dependência, concreta e ou simbólica, das
famílias e seus membros em relação aos aparelhos estatais e aos saberes especializados que
sustentam a nova ordem social estabelecida. Ordem que passou a se preocupar em diagnosticar,
enquadrar, educar, adestrar, tratar ou, nos casos extremos, punir, isolar ou abandonar (o que
pode incluir deixar morrer) aqueles que se mostram incapazes da “normalidade”, seja ela física,
moral, sexual, psicológica, social. Ordem que passou a valorizar um modelo “certo” de família,
colocando sobre as famílias concretas o peso de se adequar a esse modelo.
Atualmente e mesmo que com todas as mudanças por que passaram as famílias nas
últimas décadas, é possível considerar que essa “ordem social”, nas palavras de Costa
(1979/1989), se mantém. De fato, persiste o agenciamento capitalístico-moderno e, com ele,
uma percepção privatizada de família que funciona agora vigiada e instigada pelas estratégias
do Controle. O que cumpre frisar nesse processo é o tratamento estatal dado às famílias que,
por diferentes razões, não conseguem ou não querem concretizar as aspirações hegemônicas;
tratamento que acompanha o fortalecimento das lógicas biopolíticas ao longo do século XX no
país e que, atualmente, utiliza-se das estratégias do Controle que, mais do que acolher, respeitar
e potencializar as famílias em suas diversidades, têm alargado os abismos da desigualdade com
práticas de intolerância, indiferença e polarizações que os acompanham.
Como analisa Scheinvar (2006), as famílias que não seguem adequadamente as
aspirações hegemônicas são consideradas responsáveis por sua “desestruturação”, pelos
“desvios”, disfunções ou problemas de seus membros, sendo instigadas a culpabilizar-se por
questões que, muitas vezes, estão atreladas a fatores e processos muito mais amplos do que as
famílias em si mesmas. Orientado por “políticas preventivas”, o Estado se mune de diferentes
equipamentos (os equipamentos educacionais, médicos e psicológicos, o judiciário, os abrigos,
o cárcere, os conselhos tutelares, entre outros) e de parcerias com entidades e atores da
sociedades civil para, esquivando-se da análise acerca das condições necessárias para que cada
família seja bem-sucedida dentro dos moldes hegemônicos ou para que viva em suas diferenças
de forma suficientemente pacífica com este, “[...] diagnosticam a incapacidade de a família ser
189
família” (Scheinvar, 2006, p. 50). Fora dos moldes, as famílias têm seus saberes e práticas
desqualificados, têm sua competência de cuidado e proteção questionados e sofrem
intervenções que mais as discriminam e estigmatizam do que atuam nas condições sociais que
as levaram a serem alvo da intervenção, fazendo com que, muitas vezes, elas se resignem aos
lugares periféricos que lhes são destinados.
Além disso, as intervenções estatais, bem como as dos parceiros da sociedade civil que
recebem financiamentos públicos ou privados – as organizações do chamado Terceiro Setor
que se mantém, até hoje, a uma distância ótima das ambições da economia liberal e como
salvaguarda do Estado para as demandas sociais80 – são pautadas, em geral, por atuações
individualizadas, particularizadas. Scheinvar (2006) avalia que se trata “[...] cada caso como
único e como se ele se esgotasse em si mesmo, sem propiciar qualquer movimento no sentido
de reverter as condições que os produziram e que continuam a produzir muitos outros casos”
(p. 54). A autora ainda pondera que, em boa medida, os próprios profissionais são tratados de
forma individualizada, considerando suas capacidades e conhecimentos pessoais para lidar e
resolver os casos. As famílias, os profissionais e as questões que os perpassam são absorvidas
em um movimento que privatiza frequentemente os problemas. O que, em última instância,
acaba por justificar, como problemas individuais e familiares, diferentes aspectos imbricados
nas desigualdades produzidas e que deveriam incluir suas facetas sociais, econômicas, culturais,
políticas mais amplas.
Nesse sentido, lembro-me da conversa com Dona Maria, uma senhora de seus 65 anos
que morava sozinha em uma das ocupações urbanas que visitei. Dona Maria foi, possivelmente,
a pessoa mais pobre que conheci ao longo deste trabalho. Pobre conforme o sentido construído
pela modernidade capitalista, muito embora sua sensibilidade e perspicácia tenham me afetado
mais do que suas condições precárias para uma existência. Na conversa, Dona Maria me contou
que, por ser analfabeta, uma equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)81
80 Conferir a análise feita a partir de Donzelot (1977/1980) no Capítulo 3, a respeito do lugar sócio-político que as entidades civis do Terceiro Setor têm desempenhado para concretizar o liberalismo econômico. 81 O CRAS é uma das unidades de atendimento das políticas de Assistência Social do Estado brasileiro. É considerado a porta de entrada dos serviços de assistência para pessoas em vulnerabilidade social, subjetiva, econômica. O CRAS deve promover a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas dentro do território de sua abrangência, viabilizando às pessoas que necessitam o acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social. No CRAS há o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), orientações e acompanhamento para o recebimento de benefícios assistenciais e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
190
havia ido a sua casa e a convencido de frequentar a escola para aprender a ler e a escrever,
podendo, com isso, participar melhor da vida social. Dona Maria passou a frequentar a escola
no período da noite, em uma rotina que começava às três horas da manhã, quando se preparava
para ir trabalhar, e terminava depois das dez horas da noite. Após algum tempo, ela acabou
abandonando a escola porque “eles só queriam que eu copiasse”. Quando a equipe do CRAS
tentou fazê-la retornar às aulas, com um discurso que enfocava basicamente a falta de esforço
de Dona Maria, ela resolveu aceitar a proposta desde que a equipe garantisse uma condição:
que eles quisessem realmente ensiná-la. O que a equipe não conseguiu prometer e acabou por
“abandonar o caso”. Diante da situação, Dona Maria concluiu: “Quanto tempo eu fui na escola
lá e eu num sei escrever meu nome?! Pra que ficar lá então? Trabalhava, chegava morta de
cansada e ia dormir sem tomá banho. Se você copiar o meu nome, eu sei copiar ele, mas as
letras, eu não sei juntar elas... O que adianta ir na escola desse jeito?”.
* * *
Em uma perspectiva nômade e procurando promover uma análise imanente, cabe
considerar que, de diferentes maneiras, há misérias por todos os lados, como há invenções e
potências também. Em um exercício meramente especulativo, imagino o que cada família que
visitei consideraria uma “boa vida” para si. As respostas que me vêm à cabeça são muito
diferentes. Qual delas é a melhor? Qualquer resposta a essa pergunta corre o risco de simplificar
a vida em sua processualidade e em suas contingências. Há problemas, desafios, conflitos e
contradições em qualquer agenciamento. Contudo, isso não deveria nos eximir, enquanto seres
humanos e nas nossas relações com a Diferença, de assumir a importante tarefa ético-política
de avaliar como nossos arranjos sociais e subjetivos produzem desigualdade e sofrimento para
parte dos que os vivem (por vezes, a grande maioria) e também para os Outros, aqueles que
efetuam outras maneiras de existir. Seja como for, o fato é que pude experenciar, nessa
pesquisa, a riqueza das coexistências – há certamente muitos mundos neste.
Finalmente, dentre os diferentes agenciamentos que conheci, gostaria de destacar um
agenciamento composto por pobres subviventes que, colocados sistematicamente à margem e
acompanhados constantemente pela vigilância (e as investidas) das forças policiais do Estado,
acabaram por produzir um arranjo singular de luta e resistência.
191
É sobre ele – uma máquina de guerra, nos termos de Deleuze e Guattari (1980/1997b) –
e suas famílias de que trata o próximo capítulo.
193
Capítulo 6
SUBVIVENTES E UMA MÁQUINA DE GUERRA
Em uma borda deste mundo
O Uber parou e o motorista, conferindo o GPS, me disse um tanto reticente que
havíamos chegado. Parecia preocupado por me deixar sozinha ali. Agradeci timidamente e saí
do automóvel mais envergonhada pela roupa que havia escolhido usar do que preocupada com
o lugar onde estava a chegar. No celular uma mensagem dos amigos com quem tinha marcado
de encontrar avisava: “Estamos quase chegando”. Enquanto esperava, alojei-me sob o toldo de
uma pequena lanchonete ao lado do local onde havia descido do Uber, fugindo do forte sol do
início das tardes de fevereiro, em pleno verão brasileiro. Da sombra observei a entrada da rua
de terra à minha frente. Ela fazia uma curva acentuada e não era possível ver o que se passava
após as primeiras casas construídas de forma simples em cada um de seus lados. Mas a música
que chegava até a entrada da rua, bem como o fluxo de pessoas fantasiadas e por vezes portando
algum instrumento musical que seguiam rua adentro contavam-me que estava no lugar certo:
era dali mesmo que um dos blocos que mais gosto no carnaval de Belo Horizonte iria começar
o cortejo. Este era um bloco que havia surgido com o renascimento do carnaval de rua na cidade
há alguns anos82. Era conhecido por desfilar em lugares desconhecidos de grande parte dos
moradores acostumados a frequentar a região central ou os bairros mais abastados do município.
De fato, o bloco se propunha a explorar regiões pouco óbvias, produzir a festa do carnaval em
vilas, aglomerados e regiões periféricas e mais vulneráveis da cidade, levando até esses locais
pessoas que, de outro modo, nunca estariam ali. As experiências de pular o carnaval neste bloco
sempre foram marcadas por encontros inusitados – um choque de mundos, poderíamos dizer,
coloridos com purpurina e ritmados por marchinhas, samba, samba-rock, funk, axé, entre outros
ritmos e estilos que compõem a vasta produção musical-cultural brasileira. Para mim era sempre
82 O ano de 2009 é considerado um marco no ressurgimento do carnaval belo-horizontino, iniciado por ativistas sociais que, no contexto político e econômico do período, começam a se reunir e a desenvolver estratégias de luta pelo direito à cidade. A luta pela festa e através dela emerge aí com grande importância, multiplicando-se no surgimento de blocos de carnaval e na sua circulação por diferentes regiões do município como forma de dar visibilidade a questões que permeavam a geopolítica e o uso do espaço público. Para um resgate histórico desse movimento, conferir Dias (2015) e Canuto (2017). Sobre a relação entre esse movimento e a história das ocupações urbanas no município, conferir Resende e Bernadet (2019).
194
uma alegria surpreender-me com as paisagens naturais e as comunidades que os organizadores
desse bloco se propunham a dar visibilidade: outras camadas, contornos, funcionamentos que
também faziam parte da capital de Minas Gerais que, neste carnaval de 2018, possuía cerca de
2,5 milhões de habitantes.
Nesse ano, o local escolhido para a partida do percurso do bloco era uma ocupação
urbana situada em uma das bordas da cidade, em um braço de mata que, como eu saberia depois,
era um terreno muito valorizado pela especulação imobiliária. A área originariamente
pertencente ao estado de Minas Gerais havia sido, há alguns anos, “invadida por pobres sem
teto” para o incômodo da polícia e das autoridades do município, ainda que as sucessivas
aquisições privadas do terreno por pessoas com maior poder econômico, feitas antes da
ocupação, tivessem ocorrido de forma irregular. Naquele momento, no entanto, apenas a rua de
terra batida detinha minha atenção. Afinal, estava para entrar em uma vila nunca visitada,
vestida com uma minissaia e um top de biquíni carinhosamente ornamentados com flores
plásticas de girassol e cristais autocolantes, além de glitter e batom vermelho. Estar ali, vestida
assim, era também uma ocupação – auto-ocupação do meu corpo feminino.
A chegada de meus amigos foi acompanhada da alegria pelo encontro e de elogios a
minha fantasia. Contudo, mesmo em um dia de carnaval brasileiro, rodeada de pessoas queridas
que afirmavam seu apoio à minha “atitude”, nunca é fácil desvencilhar-se das próprias amarras
de vergonha e pudor. Amarras construídas a partir de um modo de subjetivação que certamente
não está circunscrito à minha história pessoal, mas funciona difuso no diagrama de forças desta
época e define uma maneira “adequada” de ser mulher. Algumas horas mais cedo, enquanto me
arrumava em casa, essas questões atravessavam meu corpo e inquietavam meu pensamento, eu
que vim de uma família muito tradicional à maneira nuclear burguesa e que, em momentos de
ousadia subjetiva, sempre lembrava das rígidas lições de minha avó materna sobre o que ela
considerava, a partir dos valores instituídos, a boa conduta da mulher cristã. Mas sim, era
carnaval... resisti e saí vestida como estava, sem imaginar que iria encontrar no bloco outras
tantas mulheres com menos medo e menos roupa que eu, corpos femininos de variadas formas
e tonalidades de pele que experimentavam, cada uma a sua maneira, outros modos de
(ex)posição de si. Algumas, acompanhadas de seus maridos, companheiros ou namorados,
assumiram uma certa paridade que distendia as relações de gênero: eles vestidos com bermuda,
sem camisa, com adereços e pinturas carnavalescas; elas de saias ou shorts, também sem camisa
(e sutiã), com adereços e pinturas carnavalescas. E como cada um(a) vive os valores, os padrões,
os hábitos e normas instituídos à sua maneira, conforme o arranjo peculiar que as forças e
195
formas sociais ganham em suas histórias individuais, ainda presenciei o desafio de uma amiga
que precisou urinar em uma parte do percurso do bloco em que não havia casas. Ao escutar o
pedido dela, indiquei uma vala em que poderíamos entrar: de fácil acesso, cercada de mato e
sem visibilidade dos demais, a mim parecia um ótimo local para se urinar sem
constrangimentos. Todavia, a ausência de paredes e de vaso sanitário tornaram-se um drama
existencial para a moça. Com os olhos cheio de lágrimas ela me explicou que precisava mesmo
urinar naquele momento, mas não conseguia... não, naquelas condições. Foi preciso que
algumas de nós entrássemos na vala para apoiá-la – apoiar seu corpo e seus afetos. E foi preciso
esperar vários minutos para presenciar a expressão de agradecimento que tomou o rosto de
nossa amiga, como se uma corrente tivesse se rompido, enquanto seu mijo escorria terra abaixo.
A história do carnaval brasileiro tem uma parcela importante de luta, resistência e
experimentações. Em Belo Horizonte, mesmo com o crescimento do carnaval de rua e sua
transformação de movimento social em evento de massa que atrai milhões de pessoas entre
moradores e turistas, mesmo com a entrada institucionalizada de empresas patrocinadoras e
detentoras dos direitos de venda de bebidas, mesmo com o aumento da ingerência
governamental, há ainda espaço para que blocos menores e marginais existam. Blocos fora do
circuito mercadológico do carnaval e mais livres da atenção estatal, seja a atenção do Estado-
nação e seus tentáculos governamentais, seja a atenção dos microestados que verticalizam e
normalizam as relações entre os que compõem os próprios blocos. Esses pequenos blocos
marginais funcionam como espaços lisos, heterogêneos e autogestionados, abertos para a
participação de qualquer um em sua bateria, porta-estandarte e intervenções artísticas.
Permitem a experimentação prática de outros modos de existir, como mulher inclusive.
Naquela tarde os tambores e demais instrumentos trazidos pelas mãos de quem quisesse
tocar foram se somando e a música ganhou corpo, convocando os demais. Seguimos com o
bloco pelo conjunto das ocupações daquela região. Conversei com moradores, escutei suas
histórias, visitei algumas casas que tinham as portas abertas para quem precisasse usar o
banheiro ou beber um copo d’água. Ao longo do percurso fui sendo afetada pelo acolhimento
daqueles moradores. Havia seu sincero respeito pela diversidade de corpos, estilos, condições
socioeconômicas e experimentações dos que estavam ali a pular carnaval.
Já caia a noite quando chegamos ao destino final do bloco, onde um show de funk
protagonizado pelos artistas da região nos esperava e a dança seguiu noite adentro na quadra de
terra de uma das ocupações. Mas algumas horas depois a polícia chegou, fechando a entrada da
ocupação, lançando bombas de efeito moral, spray de pimenta, balas de borracha e usando
196
cassetetes. Não havia ocorrido qualquer briga ou confusão; não havia denúncia de assédio,
constrangimento ou desrespeito ao longo das várias horas em que o bloco passeou pelas ruas
da região; nenhum incidente durante o evento explicava a brutalidade da polícia, que veio sem
conversa. Eu já havia saído do bloco quando a ação policial ocorreu e deixou vários feridos. O
que se passou? O que havia de tão perigoso naquela pluralidade de famílias que se dispôs a
acolher e festejar com gentes tão diferentes delas, em paz, cada um à sua maneira?
Por um lado, é preciso ter em mente que a emergência histórica das forças militares e
policiais do Estado para combater a violência exige que o Estado, ele mesmo, exerça um tipo
especial de violência que “[...] cria ou contribui para criar aquilo sobre o que ela se exerce, e
por isso se pressupõe a si mesma” (Deleuze & Guattari, 1980/1997b, p. 113). Trata-se de uma
violência “de direito”: se o Estado assume para si o monopólio da violência, exercido por sua
força policial em seu território para o combate aos comportamentos considerados inadequados,
às práticas consideradas ofensivas ou imorais, aos crimes, isso não pode excluir a violência
estrutural que permite a criação desse monopólio estatal. Nesse sentido e no contexto moderno,
a polícia foi historicamente treinada, entre outros, para inibir e subjugar os que são segmentados
como pobres. Estes devem estar sempre sob vigilância e serem mantidos em seu “devido lugar”
– em uma espécie em confinamento a céu aberto como analisou Passetti (2002). Suponho que,
para os homens de Estado, deve ter sido muita ousadia daquelas gentes das ocupações
arriscarem-se a se misturar com vários de “nós” em seu território comunitário, proporcionando
um encontro alegre. Eu já sabia que a alegria e a liberdade, especialmente quando elas
funcionam bem, são sempre temidas pelos homens de Estado, uma vez que este se torna, nessas
condições, obsoleto e desnecessário.
Arranjos para existir
A potência de acolhimento das famílias das ocupações que conheci com o bloco de
carnaval pareceu-me relevante para os objetivos desta pesquisa. Resolvi, por isso, conhecer
melhor a história daquelas comunidades e suas famílias. Como ponto de partida, decidi
conversar com os organizadores do bloco de carnaval. Através de amigos, contatei um dos
organizadores que me passou o telefone de uma liderança das ocupações daquele vale. Por cerca
de um mês fiz insistentes contatos por telefone e WhatsApp até conseguir agendar uma conversa
presencial com Patrícia em uma ocupação na região central da cidade. Ao longo desse processo
197
compreendi que diferentes ocupações do município estavam ligadas por uma rede comum, cujas
lideranças compunham o MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) – coletivo
bem articulado de luta por moradia em Belo Horizonte e em outras cidades do estado e do
país83. A dificuldade de marcar um encontro com Patrícia foi em função de sua grande
dedicação às ações e estratégias que esse coletivo desenvolvia continuamente pela cidade para
encontrar locais que pudessem receber pessoas sem teto e para ajudar as famílias que estavam
em áreas com risco de desocupação ou de enfrentamento com as forças do Estado. O cotidiano
dessa liderança era lutar em favor desses subviventes no modo de vida capitalista moderno.
No encontro, eu explico a Patrícia que, para mim, nosso projeto civilizatório está à beira
de um colapso e que as respostas que os governos e os grandes gestores do mercado global têm
oferecido para sairmos dos problemas e desafios atuais não têm sido suficientemente eficazes.
E que gostaria de investigar como movimentos micropolíticos, ligados especialmente as
estratégias e invenções empreendidas cotidianamente por famílias brasileiras, têm produzido
novas alternativas e saídas para nossa enrascada civilizatória-ambiental. Justifico que a escolha
de buscar famílias integrantes das ocupações foi uma questão de “afeto carnavalesco”: um bom
encontro com as vilas por onde um bloco de carnaval passou, com sua potência de acolhimento
e respeito à diversidade de pessoas que juntas participaram da folia. Com efeito, as relações
com a Diferença têm sido, em muitos aspectos, um dos maiores desafios de nossos tempos e eu
tinha a sensação de que as ocupações tinham alguma coisa a me ensinar sobre isso. Patrícia
sorri e me conta que as ocupações tinham mesmo essa característica de acolher “pessoas muito
diferentes”. Na percepção dela, essas ocupações funcionavam como “um refúgio” para muitas
famílias cujos arranjos destoam em alguma medida dos padrões e expectativas dominantes.
Patrícia e eu escolhemos cinco famílias moradoras de ocupações em Belo Horizonte
ligadas ao MLB e cujas histórias de vida, brevemente contadas por ela, mostraram-se
interessantes para os objetivos da pesquisa. Após meu convite, integrantes de todas as famílias
toparam participar. Abordei anteriormente algumas dessas famílias: contei sobre Celma, suas
lutas no aldeamento indígena onde cresceu e constituiu sua família, seu percurso e desafios para
tentar uma vida melhor na metrópole Belo Horizonte e para trazer seus filhos para morar
consigo; destaquei a experiência de conhecer Ju e Lu e sua aliança permeada pelo cuidado ético-
político consigo mesmas, com o que a vida tem lhes ensinado e com os outros com quem
convivem; mencionei Dona Maria, especialmente seu mau encontro com a escola e uma
83 Há uma diversidade de movimentos que lutam por moradia em Belo Horizonte e no país. Boa parte deles, o MLB incluso, fazem parte no Fórum Nacional de Luta por Moradia.
198
pedagogia de alfabetização para adultos que, em sua opinião, queria apenas que ela soubesse
copiar letras, palavras e frases. Agora gostaria de enfocar a família de Tonho, Suzana e Bianca,
cuja composição tentacular chamou-me particular atenção.
Ao pensar nesta família preciso me lembrar todo o tempo de que, na verdade (ao menos
na verdade conforme os moldes modernos de família), são duas famílias. Famílias que, em
virtude de suas necessidades e condições de vida por um lado, e em virtude da falta de uma rede
de apoio sociocomunitária ou mesmo da assistência estatal por outro lado, acabaram por se unir.
Suzana e Tonho são casados há quase três décadas. Antes de firmarem sua aliança, os
dois já haviam vivido a experiência de um primeiro casamento. Deste, Tonho tinha quatro filhos
e Suzana dois. Sua união gerou um filho comum. Em virtude de um acidente, Tonho tornou-se
paraplégico. Antes de ingressarem no MLB, o casal morava em uma casa alugada na periferia
do extremo norte de Belo Horizonte e, como a aposentadoria por invalidez de Tonho não era
suficiente para o sustento do casal, Suzana precisava trabalhar. Ela conta-me que saia de casa
às 4:30 da manhã para pegar a condução para o trabalho em uma escola. Ao sair, deixava o
portão da casa apenas encostado e o marido assentado em sua cadeira de rodas no alpendre da
entrada, para que ele chamasse alguém caso precisasse de ajuda enquanto a esposa estava fora.
Não podiam contar com a ajuda dos vizinhos que eram pouco cooperativos e, por vezes, hostis.
Um deles chegou a fazer uma denúncia contra Suzana por maus tratos a incapaz, já que ela
deixava o marido cadeirante sozinho uma parte do dia. Mesmo com a notificação do Conselho
Tutelar, Suzana não conseguiu encontrar uma solução diferente de arriscar-se a sair para
trabalhar deixando o marido sozinho – risco que envolvia tanto ser novamente denunciada,
quanto deixar o marido sem o devido amparo. Contudo, além de não possuir laços comunitários
solidários que viabilizassem algum apoio, os próprios filhos também não se dispunham a ajudar
os pais, pois estavam envolvidos em “correr atrás” de encontrar condições para sua própria
subsistência. Suzana frisa como que se sentia vulnerável nesse situação.
Cynthia Sarti (2015) afirma que famílias brasileiras pobres comumente configuram-se
em rede e não em núcleo. Nesse configuração “enredada”, conforme termo da autora, é
impreciso compreender a família como conjunto de pessoas que vivem em uma mesma unidade
doméstica, o que “[...] leva a desconsiderar a rede de relações na qual se movem os sujeitos em
família e que provê os recursos materiais e afetivos com que contam” (p. 28). Todavia, se há
famílias que conseguem criar uma rede de apoio mútuo em virtude de seus contextos de maior
vulnerabilidade socioeconômica, isso não é uma realidade que pode ser generalizada para todos
os arranjos familiares e comunidades pobres. Há solidão e desamparo em muitos casos; não
199
faltam os que não tem ninguém com quem contar, especialmente em uma formação social como
a capitalista moderna, em que o modo de subjetivação dominante privilegia o auto-investimento
(econômico-narcísico) individual, o qual também atravessa e por vezes domina as relações
comunitárias dos pobres.
No caso de Suzana e Tonho, seria possível dedicar-me a uma análise psicofamiliar para
entender como, em uma família com sete filhos adultos, não havia apoio aos pais, o que
envolveria toda uma investigação dos laços de cuidado e proteção no “interior” dessa família.
Contudo, de outro modo, escolho não me aprofundar nesse tipo de análise que frequentemente
as teorias psicológicas fazem com desenvoltura. Provavelmente existem “questões” nos
vínculos familiares que merecem ser trabalhadas, mas, neste momento, opto por olhar o
desamparo desse casal sem circunscrevê-lo à ausência de apoio dos filhos. Para eles, havia
também a ausência de apoio da comunidade, estruturada em moldes privatistas a partir dos
quais indivíduos e famílias enfocam basicamente os “seus” problemas; havia a ausência de
apoio da rede familiar mais ampla do casal que os via como pobres deficientes; havia a ausência
de uma assistência suficiente por parte do Estado.
* * *
Enquanto Suzana está fora a trabalhar, Tonho passa horas sozinho no alpendre,
observando a rua e seu movimento. É uma maneira de se movimentar também. Dali e em um
momento que não consegue precisar, começou a reparar que todas as manhãs, perto das sete
horas, uma moça passava em frente à sua casa com duas crianças pequenas. Reparou que a
criança mais nova, ainda pequenina, não tinha braços nem pernas; era um “pacotinho”
embalado no colo de quem, ele suponha, era a mãe das crianças.
Em um dia de muito calor, Tonho sentia sede quando avistou a moça com as duas
crianças. Ao observá-la passando em frente à sua casa, pediu-lhe ajuda: que ela não reparasse,
mas ele estava com muita sede e queria saber se ela podia entrar, o portão estava só encostado,
ele estava sozinho e não conseguia se mover até à cozinha para pegar um copo com água. A
moça prontamente entrou e buscou um copo com água. E ajudou Tonho a limpar os olhos que
o incomodavam com o calor. Ele ficou muito grato àquela que, como veio a saber, chamava-se
Bianca. As duas crianças, seus filhos, eram Laura e Murilo. Este havia nascido com uma
deficiência genética, sem os braços e as pernas. Todas as manhãs, para trabalhar, Bianca
200
deixava as crianças na creche próxima. Ela morava com os filhos e o marido em um apartamento
alugado no prédio ao lado da casa de Tonho.
Depois daquele dia, todas as manhãs, após deixar as crianças na creche e antes de seguir
para o trabalho, Bianca passava na casa de Tonho para saber se ele precisava de alguma coisa
e o ajudava sempre que necessário. Tornaram-se amigos e Tonho resolveu apresentá-la para a
esposa. A amizade fortaleceu-se, como me conta Suzana: “A gente foi criando aquele laço,
aquela confiança”.
Meses depois, um incêndio no apartamento de Bianca fez com que a relação desta com
o marido, já desgastada, ficasse ainda pior. Este acabou indo embora, deixando-a sozinha para,
por conta própria, sustentar os dois filhos do casal e consertar o apartamento queimado de forma
a torná-lo novamente habitável. Bianca pôde contar com a ajuda de Tonho e Suzana que se
comoviam vendo a amiga sozinha e sufocada com os gastos e as demandas cotidianas, além
dos cuidados específicos com o pequeno Murilo e sua grande dependência da mãe para as
rotinas mais simples. Suzana resolveu fazer uma proposta para Bianca: que ela se mudasse para
a casa do casal com as crianças, já que a vida estava difícil para as duas. Assim, dividiriam o
aluguel e poderiam, juntas, apoiar-se nos cuidados exigidos pelas deficiências de Tonho e de
Murilo, além dos cuidados com Laura. “Aí nós juntou as duas famílias”, lembra Suzana,
estampando um sorriso no rosto. As duas mulheres organizaram uma rotina compartilhada e
intercalada, dividindo as tarefas domésticas e realizando trabalhos remunerados fora em dias
alternados, de modo que havia sempre uma delas em casa para cuidar de Tonho e das crianças.
Bianca tirou carteira de motorista para dirigir o carro de Tonho e Suzana, uma vez que esta
apenas o usava para emergências de deslocamento com o marido. Com isso, o automóvel passou
a ser usado por todos da família ampliada que se configurou.
Com a ajuda de Tonho e Suzana, Bianca ainda conseguiu realizar o sonho de comprar
um lote para construir a casa própria. Ao saber da aquisição do lote por Bianca, seu ex-marido
a procurou. Afinal, ter a própria casa era um desejo que os dois tinham cultivado juntos e, como
ele a convenceu, seria bom retomarem seu vínculo para construírem um barracão para seu
núcleo familiar no lote adquirido por Bianca. Contudo, pouco tempo depois da finalização da
obra do barracão, o marido tornou-se violento com a esposa, controlador, possessivo, paranoico.
Ao saber da situação, Suzana perguntou a Bianca o que valia mais: sua casa ou sua vida. Bianca
elaborou um plano de fuga que foi executado em uma madrugada: “[Ela] pegou as crianças e
fugiu. Chegou na minha casa ao amanhecer, de camisola e descalça com as crianças, sem
conseguir trazer nada, nada consigo. Ela deixou tudo pra trás”, conta-me Suzana. Desde então
201
o arranjo familiar construído por Suzana, Tonho, Bianca e seus filhos fortaleceu-se. As duas
mulheres combinaram que “o que uma conseguir pra uma, consegue pras duas”, como esclarece
Suzana. É assim até hoje, anos depois.
Em 2018, quando visitei a família, Bianca estava trabalhando fora de Belo Horizonte,
enquanto Suzana e Tonho cuidavam de Laura e Murilo. Minha visita ocorreu em uma das duas
casas conjugadas que a família estava construindo com o dinheiro que Bianca enviava
mensalmente. Trata-se de casas próprias, cujos lotes foram conquistados em 2015, com muita
luta. Luta que envolveu ingressarem no MLB para conseguirem sair do aluguel que consumia
uma parcela enorme dos ganhos mensais da família. Participar da ocupação coletiva de um
terreno para tentar um pedaço de terra onde pudessem levantar suas casas com um adulto e uma
criança deficientes envolveu muita dedicação, jogo de cintura e sofrimento, conforme Suzana.
Foi preciso assumir os riscos, apaziguar o medo, preparar-se para viver por várias semanas em
uma situação muito precária em um barraco de lona e sem qualquer garantia de sucesso na
empreitada. Mas a família não encontrou outra saída.
* * *
Celma, cuja história abordei anteriormente, também não encontrou outra saída para
conseguir ter os filhos próximos de si. Também tentou a sorte participando de uma ocupação
três anos antes de Bianca e sua nova família. No caso de Celma, vinda sozinha de seu
aldeamento na Bahia e após mais de 15 anos juntando dinheiro para que todos os filhos e netos
pudessem morar também em Belo Horizonte, viu-se diante da necessidade de ajudar uma das
filhas sem recursos materiais suficientes para fazê-lo.
Em 2011, sua filha Marta separou-se do marido com quem morava em Eunápolis/BA
com as cinco crianças do casal. Sozinha e passando fome, Marta veio com os filhos para Belo
Horizonte. Todavia, o porão onde Celma morava com as filhas mais jovens não tinha condições
de abrigar mais uma mulher adulta e cinco crianças. Por isso, Marta passou a procurar um outro
local para se estabelecer. Sem recursos, acabou por localizar um terreno baldio às margens do
rio onde era despejado o esgoto do bairro da mãe. Ali ela montou um barraco para si e seus
filhos. Porém, foi alertada por uma moradora da região que, no período de chuvas, o aumento
do fluxo de água e esgoto do rio derrubaria seu barraco e poderia matar toda a família. Marta e
a moradora conseguiram convencer o vigia de um terreno que havia sido reintegrado ao
202
município pela Urbel (Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte) que deixasse a moça
construir um barraco ali para abrigar-se com os filhos. O vigia cobrou R$1.000,00 para fazer
“vistas grossas” à invasão do terreno por Marta e à construção de seu barraco. Na primeira
chuva após a construção do barraco, porém, este desmoronou.
Nesse cenário, Celma propôs à Marta que elas se juntassem a um grupo de pessoas sem
casa e sem recursos que estavam a se organizar para realizar a ocupação de um terreno em uma
região próxima, sob a coordenação do MLB. Ao participar e ajudar na ocupação, teriam a
chance de conseguir lotes e construir casas que abrigassem toda a família. Sabiam que seria
uma luta repleta de riscos, mas não vislumbravam outra estratégia para conquistar moradia
digna para a família.
* * *
Era uma noite de abril de 2012. Celma com a filha Marta e os netos juntaram-se às outras
350 famílias organizadas para ocupar o terreno: um braço de mata em uma das bordas da cidade
de Belo Horizonte. Após a entrada no terreno, elas e as demais famílias armaram barracas de
lona para ali ficar até conseguirem construir, cada uma, seu barraco de alvenaria. Esse barraco
só poderia ser feito após autorização do MLB, o que dependia da divisão do terreno entre todos
os grupos familiares que tinham se proposto à empreitada. Cerca de mil pessoas estavam ali.
Contudo, após 21 dias da ocupação, a polícia empreendeu um dos despejos mais
violentos já ocorridos no estado de Minas Gerais. Celma estava dentro da ocupação com os
cinco netos quando a polícia cercou. Marta estava trabalhando e, ao retornar, foi impedida de
entrar; passou várias horas de angústia sem qualquer notícia sobre a mãe e os filhos que estavam
cercados.
Como me contou Patrícia, a primeira liderança do MLB com quem conversei e que
também participou da ocupação, foi uma operação surpresa e sigilosa da polícia, sem mandado
prévio de notificação para desocupação do terreno84. A polícia cercou a ocupação quando boa
parte das pessoas estava fora, em seu trabalho ou na escola. Chegaram retirando tudo o que as
famílias tinham e deixando apenas as pessoas que estavam na ocupação, ao relento. Patrícia
84 O pedido de reintegração de posse na justiça foi feito pelo município de Belo Horizonte, embora o terreno ocupado seja do estado de Minas Gerais. Sem considerar essa “pequena” questão, o pedido foi concedido pela juíza do caso e executado pela prefeitura com o apoio policial.
203
lembra que os policiais constrangeram os que tentavam resistir dentro do terreno com atitudes
como urinar na frente das mulheres e xingar as mães pela situação em que estavam colocando
os próprios filhos. Depois de 24 horas do cercamento e sem qualquer estrutura, o grupo que
resistia decidiu abandonar a ocupação. Dali, foram acolhidos por uma entidade ligada à Igreja
Católica e parte do grupo acampou na porta da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para tentar
demonstrar às autoridades a situação de extrema vulnerabilidade das famílias e pedir alguma
tratativa digna para o caso. Mas o então prefeito da cidade, Márcio Lacerda, nunca os recebeu.
Organizaram então uma segunda ocupação meses depois.
Celma relata que sua filha queria desistir de continuar participando dessa luta devido ao
medo da violência policial. Mesmo com a resistência de Marta, Celma continuou participando
das reuniões do MLB e acabou por incluir outros filhos na luta por melhores condições para
subviver. Eles participaram da nova ocupação. Mais uma vez a polícia cercou o local, mas,
desta vez, as famílias fizeram um cordão de isolamento e impediram a polícia de entrar e retirar
seus pertences, apesar das ameaças e agressões sofridas. Como o segundo terreno era privado
e ninguém entrou com pedido de reintegração de posse imediatamente, a polícia teve que
desmontar o cerco. Patrícia conta-me que as autoridades os “[...] acusaram de esbulho, mas não
existe esse crime em ocupação urbana. Não tinha flagrante de crime algum. Nossos advogados
agiram muito rápido também e nós conseguimos ficar até hoje”.
Patrícia explica ainda que a área escolhida para a ocupação preencheu dois terrenos que
eram inicialmente do estado de Minas Gerais e foram doadas para empresários. Como
contrapartida, esses empresários deveriam utilizar as áreas para a implantação de atividades
produtivas com geração de emprego e renda para a região. No entanto, nada foi construído nos
terrenos que, ainda assim, não foram reintegrados pelo estado. De outro modo, eles passaram a
ser objeto de grande especulação imobiliária, sendo transferidos de um dono a outro até a
aquisição pelos atuais proprietários em valores que giravam em torno de cinco milhões de reais.
Apesar das irregularidades na transmissão dos imóveis, algum tempo após a ocupação, os dois
proprietários (cada um de um terreno) entraram com pedidos de reintegração de posse. Com o
avançar dos processos por vários meses, membros de diferentes movimentos de luta por
moradia uniram-se e ocuparam a sede da PBH até que o prefeito Márcio Lacerda finalmente os
escutassem. Na única oportunidade que o prefeito se reuniu com os membros dos movimentos,
foi acordado o congelamento dos processos judiciais até a regularização da situação de moradia,
em condições dignas, para as famílias daquela ocupação. Em um movimento solidário, as
204
ocupações vizinhas foram incluídas na reinvindicação e conseguiram ter os processos
específicos contra elas também congelados.
* * *
Dentre as ocupações vizinhas que conseguiram ser incluídas no congelamento de seus
processos judiciais de reintegração de posse, estava a ocupação de que participaram Tonho,
Suzana, Bianca e seus filhos. “Dá pra contar um livro! Mas valeu a pena”, lembra Suzana. A
família havia viajado para descansarem após todo o sofrimento vivido por Bianca e os filhos
em virtude da situação de violência doméstica impetrada pelo marido-pai. Foram para o interior
de Minas Gerais, para a casa de uma irmã de Tonho. De lá, foram informados que a ocupação
que estavam aguardando já tinha acontecido. Voltaram rapidamente e procuraram os
coordenadores da ocupação que lhes pediram para irem diariamente lá e ajudarem na
resistência. Em virtude de sua dedicação, foram incluídas e autorizadas a montarem um barraco
de lona no terreno.
“Você precisa ver que penúria, que sofrimento que foi”, lembra Suzana. Passaram várias
semanas na barraca de lona, em que Tonho não conseguia entrar com a cadeira de rodas e
precisava ser carregado. Também Murilo ficava ainda mais vulnerável na barraca. Por isso, as
famílias da ocupação e as lideranças do MLB se reuniram e permitiram que Tonho e as crianças,
sob os cuidados de Suzana, ficassem em outro local, enquanto Bianca se mantinha na barraca
na ocupação, ajudando no funcionamento comunitário e nas estratégias de resistência. Suzana
ia todos os dias à tarde também, para apoiar no que fosse necessário.
Três meses depois, com muita luta, o MLB conseguiu a liberação do terreno para
demarcação dos lotes e autorização para a construção de barracos de madeirite pelas famílias
nos respectivos lotes recebidos. A família de Suzana e Bianca rapidamente teve a liberação para
a montagem de barraco de madeira que permitisse a Tonho entrar com a cadeira de rodas e ali
permanecer com dignidade. As duas mulheres praticamente sozinhas cavaram o buraco, fizeram
a estrutura e armaram dois barracos de madeirite, lado a lado, nos dois lotes que conseguiram
– um para Suzana e Tonho, outro para Bianca e seus filhos. Depois de um ano nos barracos,
juntaram mais forças e recursos e conseguiram transformar um deles em uma casa de alvenaria,
onde eu fui visitá-los. Em 2018, três anos após a ocupação, a casa tinha paredes no tijolo, sem
205
reboco e com poucos acabamentos. “Mesmo assim melhorou muito, porque na madeira nós
passava muito frio”, conclui Suzana.
Agenciar uma máquina de guerra
Nas ocupações, tanto as lideranças quanto os membros das famílias com quem conversei
sabem-se subviventes. Sabem da relação inconstante e dos vínculos frágeis que possuem com
o Estado. Sabem, por outro lado, que sua posição no diagrama das forças sociais não significa
serem ignorados pelos que concentram poder nesse diagrama. Como escutei de Patrícia, “o que
eles [os homens de Estado] gostam é de mandar a polícia atrás de nós”. Por isso, todos com
quem conversei nas ocupações reconhecem a importância do agenciamento montado pelo MLB
para conseguirem se deslocar, ao menos um pouco, da posição de subviventes que lhes foi
reservada pelas lógicas capitalistas coloniais que se sustentam até hoje, com os devidos ajustes,
no Brasil. Como pondera Patrícia, esse agenciamento acaba por fazer circular nas ocupações
uma segunda concepção de família, que abrange o próprio conjunto comunitário em sua
dinâmica, apoio, celebrações e lutas coletivas: “viramos uma espécie de grande família”.
Trata-se de uma “grande família” que acolhe, cuida e se protege inclusive contra as
investidas policialescas do Estado. Mas que também define normas e cobra o respeito a elas em
favor da preservação coletiva, repreendendo e punindo quando o coletivo assim decide. Mesmo
os agenciamentos libertários que se propõem a agenciar pessoas e grupos em modos de vida
mais dignos produzem suas linhas de segmentaridade, seus endurecimentos e relações de poder,
suas estratégias de controle. Neste caso, os segmentos conectam-se com uma interessante
máquina de guerra, cuja potência merece ser olhada mais de perto, como faço a seguir.
* * *
Boa parte das pessoas com quem conversei nas ocupações disseram perceber que, para
muitos dos que moram nos bairros vizinhos às ocupações, especialmente nos bairros mais
estruturados, eles são invasores, vagabundos, famílias desestruturadas e incapazes de, por seu
esforço e progresso pessoal, alcançar uma vida digna e uma moradia própria. Eu mesma escutei
um relato nesse sentido, quando visitei a família de Elton, proprietário de um apartamento na
206
parte mais rica da mesma região. Na conversa perguntei aos membros da família o que achavam
dos vizinhos que moravam nas ocupações. Elton e seu filho Gustavo prontamente se
posicionaram contra as ocupações: “é errado invadir terreno dos outros!”. Elton explica-me que
o problema das pessoas mais pobres é que não têm família, “só a mãe e os filhos”; que são
pessoas que recebem educação ruim, porque só podem estudar em escola pública; que não têm
os pais estimulando para conseguirem emprego; que estão em contato constante com o mundo
do crime. Quando eu pergunto Gustavo se ele participaria de uma ocupação caso não tivesse
outra opção, ele admite que sim, mas lembra que as famílias mais pobres têm a alternativa de
conseguir financiamento através da Programa Minha Casa, Minha Vida e podem pagar,
conforme a faixa de financiamento, em até 30 anos85. Pondera, no entanto, que muitas famílias
não “correm atrás” ou não têm educação financeira para pagar mensalmente o financiamento
conquistado e acabam perdendo o imóvel. Anoto essas reflexões alguns meses antes de
vivenciar uma outra perspectiva. Com efeito, a percepção obtida de uma certa posição
diferencial no diagrama das forças sociais não é necessariamente a mesma se nos encontramos
em uma posição e em um referencial diferentes...
* * *
“Eles querem é que a gente entre no programa ‘Minha casa, minha dívida’ [risos]”,
ironiza uma mulher à espera da reunião. “Olha a gente: mulher, pobre, preta, sem emprego
fixo... não tem como comprovar renda. Eles não tão nem aí pra gente!”, exclama a outra. As
duas mulheres estão assentadas ao meu lado no chão da creche, aguardando o início da reunião.
Continuam a conversa e afirmam que o programa Minha Casa, Minha Vida é a maior burocracia
e a maior enganação. Reclamam que ele oferece apartamentos em “predinhos que não cabe
ninguém” construídos em locais sem infraestrutura comercial (açougue, padaria, mercado,
farmácia) e muito distantes dos centros mais bem estruturados. Locais que, ademais, não
possuem transporte público adequado para garantir a mobilidade dos moradores em diferentes
horários do dia.
85 Gustavo se refere ao programa federal de apoio à aquisição de moradia por famílias de baixa renda. Pelo programa Minha Casa, Minha Vida, famílias com renda familiar até R$ 1.800,00 podem ter o benefício da primeira faixa de financiamento (Faixa 1), com prestações mensais que variam de R$ 80,00 a R$ 270,00 conforme a renda bruta familiar e prazo de até 120 meses para quitação. A garantia para o financiamento é o próprio imóvel adquirido.
207
A conversa é interrompida pela coordenadora que inicia a reunião. “Vocês precisam
saber que o direito é pra todo mundo!”, começa Bárbara, uma mulher forte, bem articulada,
cujos quadris cobertos por um short jeans bem justo parecem dançar enquanto ela movimenta
os braços e encadeia as palavras que saem da boca. Sua pele morena e seus olhos verdes indicam
sua origem mestiça e lhe conferem uma beleza pouco comum. Com firmeza, ela assegura que
“lutar pela moradia da gente não é errado! Se alguém chegar pra vocês e falar que isso tá errado,
não tá errado, estamos lutando por um direito da gente”.
Naquela tarde de primavera, após retornar ao Brasil do doutorado-sanduíche em
Portugal, fui a uma das ocupações para conversar com Cláudia, uma das lideranças do MLB
que acabou por se tornar uma importante conexão entre mim e os desafios, enfrentamentos,
conquistas desse movimento. Através dos meus contatos com ela, por telefone, WhatsApp e
visitas à sua casa, recebi, ao longo da pesquisa, notícias sobre os acontecimentos e eventos nas
ocupações, o que me possibilitou acompanhar as conexões de suas famílias com o agenciamento
guerreiro montado pelas lideranças do MLB e pelas comunidades a ele ligadas.
Ao chegar na ocupação, fui convidada a participar de uma “reunião do movimento”.
Marcada para acontecer na creche comunitária daí a uma hora, não pude recusar o convite: claro
que eu iria, seria um prazer. E assim o fiz, entrando na creche no horário marcado junto com
outras pessoas que também chegavam para a reunião. Eram pessoas de diferentes idades,
algumas sozinhas, outras com suas famílias, crianças e bebês. Assentei-me no chão, pois era
este o caso – ou teria que ficar em pé, ou apoiar-me no beiral das janelas. As mulheres que
estavam no chão ao meu lado receberam-me de forma sorridente. Uma delas me perguntou se
eu estava ali por causa da luta [por moradia]. Expliquei-lhe que de certa forma sim, mas não
lutava por uma moradia para mim – estava ali como pesquisadora, para conhecer o movimento.
Na verdade, já conhecia diferentes aspectos desse movimento e, naquele momento, estava a
experenciar mais um de seus dispositivos. A cada experiência, eu entendia um pouco melhor
sua formação como máquina de guerra e o funcionamento de suas diferentes estratégias: ora
para forçar o Estado a reconhecer seus direitos, ora para inibir a opressão estatal (por vezes
muito violenta), ora para fortalecer e fazer proliferar as multiplicidades que compõem as suas
existências.
Como disseram Deleuze & Guattari (1980/1997b), ao efetuar-se como máquina de
captura e ressonância, o Estado delimita seu interior, abrangendo o que se passa sob suas
estruturas e deliberações. O interior do Estado envolve inclusive suas políticas externas, sua
relação com outros Estados. No entanto, os autores frisam que a formação de qualquer Estado
208
precisa lidar com o Fora, aquilo que se passa além ou aquém dos controles e ingerências estatais.
É possível pensar nas máquinas transnacionais empresariais, civis, artísticas ou religiosas que
podem gozar de grande autonomia de funcionamento e podem atravessar diferentes Estados.
Mas há ainda o Fora que se passa dentro ou nas franjas dos limites estatais. Fora que por vezes
se manifesta nos movimentos minoritários, nos grupos, maltas e organizações marginais que
não se cansam de escapar aos poderes e ingerências estatais; que não se cansam de lutar contra
o Estado; que se propõem a arranjar outras maneiras de existir diante de posições de subvivência
que lhes são destinadas pelos modos de vida hegemônicos.
Uma máquina de guerra é um dispositivo de Fora, ainda que ela possa ser sempre
capturada pelos aparelhos de Estado e colocada a seu serviço. E ela não tem, a rigor, a guerra
como fim. Em geral a guerra se torna o fim último quando a máquina é capturada e
institucionalizada pelo Estado, delegando a esta o papel militar de lutar, coibir, destruir e ou
matar em nome da manutenção dos interesses e estruturas estatais.
No caso das ocupações que visito, sua máquina de guerra agencia-se entre subviventes
de Belo Horizonte para lutar por moradia. Sua finalidade é produzir novas possibilidades de
subviver. Enfim eles não estão mais sozinhos. E este é um importante aspecto de um
agenciamento do tipo guerreiro: a exigência de que seus componentes produzam um complexo
articulado de números. Isso “[...] não implica de modo algum grandes quantidades
homogeneizadas, como os números de Estado ou o número numerado86, mas produz seu efeito
de imensidão graças à sua articulação fina, isto é, à sua distribuição de heterogeneidade num
espaço livre” (Deleuze & Guattari, 1980/1997b, p. 67).
Os números, em um agenciamento guerreiro, são os elementos que compõem a força da
máquina, sua velocidade turbilhonar, seus movimentos estratégicos e seu preparo logístico, sua
capacidade de enxamear e confluir, as condições para sua afirmação e sua vitória. Mais do que
de sujeitos, com suas identidades e dramas, suas vaidades e medos, uma máquina de guerra
demanda o engajamento subjetivo para a produção de um corpo numérico, “espírito de corpo”,
capaz de assumir posições, capaz de compor com outros corpos (humanos e não humanos),
capaz de articular a diplomacia, a espionagem, a retórica, a força. O corpo numérico não é
importante apenas para as situações de combate e enfrentamento; é preciso “um número de
86 O número guerreiro, nômade ou numerante difere-se do número numerado. Este se efetua nos cálculos e abstrações capazes de medir, dividir, estriar o espaço e segmentar pessoas, coisas, fluxos. O número guerreiro “já não é um meio para contar nem para medir, mas para deslocar” (Deleuze & Guattari, 1980/1997b, p. 65). Aqui, deslocar e ocupar.
209
números” capazes de organizar as reservas e os estoques, capazes de promover a manutenção e
o cuidado com as pessoas e as coisas. Gustavo, o vizinho mais abastado das ocupações a que
me referi acima, parece estar enganado em seu argumento: aqueles que se dispuseram a fazer
as ocupações próximas ao apartamento de sua família não o fizeram porque não “correm atrás”
das saídas propostas pelos aparelhos de Estado ou porque não têm educação. Ao contrário, eles
desejaram e se dispuseram a compor um agenciamento guerreiro com todos os seus riscos.
Eles estão dispostos a correr atrás, organizar-se, lutar e, para tanto, precisam efetuar – o que
exige um tipo de educação mais nômade do que a educação sedentária ensinada pelos aparelhos
de Estado – toda uma “[...] ciência da articulação dos números de guerra” (Deleuze & Guattari,
1980/1997b, p. 68).
Bárbara explica, na reunião de que participo na creche comunitária, a importância
numérica para a construção de uma máquina de guerra capaz de ocupar um terreno, transformar
suas destinações já estabelecidas dentro dos braços do Estado e criar um espaço liso87, mesmo
que novos estriamentos venham depois. A princípio, o que conta é somar como número, com
disposição para integrar o coletivo e participar das estratégias que a máquina de guerra coloca
para funcionar. Ela convoca: “a gente tem que tá unido aqui pra gente ter espaço!”.
É sempre preciso persistência para compor um agenciamento guerreiro. Neste caso, os
presentes na reunião são convocados a assumir duas frentes na engenharia que organiza a
máquina guerreira de ocupar. De um lado, implicar-se na montagem da logística da máquina de
guerra; de outro, envolver-se na construção de um corpo com os números necessários e
suficientes para a guerra.
Bárbara conta como funcionaram outras máquinas como a que pretendem formar.
Explica que, para participar em uma ocupação, cada família deve contribuir com R$ 150,00 em
seu ingresso no movimento e com R$ 10,00 por mês até que o processo seja concluído, com
direito a uma carteirinha. O pagamento das contribuições é feito de acordo com as condições e
os prazos possíveis para cada família, com negociações e ajustes sempre que necessário.
“Quando a gente faz a ocupação, o que acontece?”, pergunta. E esclarece que, ao entrar em um
terreno, é preciso que as famílias se distribuam no espaço ocupado para preenchê-lo, armando
barracas de pau e lona onde irão dormir; é preciso fazer a cozinha e o banheiro comunitários; é
87 Um espaço liso é um espaço não estriado, dividido, segmentado ou apropriado. É ainda um espaço que, por uma operação de guerra (como neste caso), é destacado de suas segmentações, retirado dos estriamentos definidos pelos aparelhos de Estado, uma Terra que volta a ser uma terra, por assim dizer. Sobre o conceito de espaço liso para Deleuze e Guattari, conferir as contribuições de Zourabichvilli (2004).
210
preciso levar água, gás de cozinha, mantimentos, materiais elétricos e outros; é preciso montar
a portaria e a segurança do local. Grande parte dos valores arrecadados são para isso, pois “a
primeira coisa que acontece quando a gente entra na ocupação é polícia em cima, né? Como
que a gente vai resistir se a gente não tiver levado nada? Quem é que vai ficar três, quatro, cinco
dias sem comer?”. Destaca ainda a importância dos recursos para a construção da creche
comunitária, especialmente se não há creches próximas para onde as crianças possam ir:
“quando a gente faz a ocupação, tem que fazer a creche logo. Se não, a primeira coisa que eles
[os homens do Estado] fazem é usar as crianças, tirar as crianças da gente”. Além disso, há os
custos até a realização da ocupação, com panfletos, passagens de ônibus e outras estratégias
para difundir o movimento e trazer mais pessoas para compor a máquina guerreira: “A gente
precisa... não tem como... Vocês acham que só este tiquinho de gente que tá aqui hoje dá uma
ocupação?! [...] A gente faz panfletagem, entrega os ‘mosquitinhos’, chama as pessoas. [...]
Porque a gente junto... a gente precisa crescer este grupo para ter força”, conclui Bárbara. Com
efeito, é preciso militar por um povo por vir para que a máquina funcione, é preciso buscar,
como disseram Deleuze e Guattari (1980/1997b, p. 47), “essa sustentação popular”. É preciso
desejar um povo, invocá-lo, contagiá-lo, esperá-lo e acolhê-lo no momento oportuno. A
máquina existe para este povo, mesmo se ele ainda falta.
Como agenciamento nômade, a máquina de guerra é marcada por sua instabilidade, pela
possibilidade constante de que alguns a abandonem ou mesmo de que ela ganhe a adesão de
muitos e uma força impressionante. Cabe frisar que a participação na máquina guerreira aqui
tratada é aberta a qualquer um, ou melhor, a um qualquer. Valho-me da expressão cunhada por
Agamben (1993) em suas proposições para A comunidade que vem. Acompanhando as
reflexões desse filósofo, é possível pontuar que não se trata de considerar que a participação na
máquina guerreira de ocupar é aberta a qualquer um indiferentemente, em especial quando
consideramos o termo latino que se refere ao ser qualquer – quodlibet:
A tradução corrente, no sentido de “qualquer um, indiferentemente”, é certamente correta, mas, quanto à forma, diz exatamente o contrário do latim: quodlibet ens não é “o ser, qualquer ser”, mas “o ser que, seja como for, não é indiferente”; ele contém, desde logo, algo que remete para a vontade (libet), o ser qual-quer estabelece uma relação original com o desejo. (Agamben, 1993, p. 11)
A abertura para a participação a uma pessoa qual-quer na máquina de ocupar não supõe,
assim, um sujeito em sua indiferença ou uma indiferença em relação a quem cada participante
é. De outro modo, trata-se de assumir cada um e cada família participante em sua singularidade
tal como é. Cada pessoa pode se engajar com sua singularidade, e não por causa de certas
211
características que lhe garantiriam a condição de pertença ao conjunto. Qual-quer um pode
participar, tal como é, desde que assuma, desde o início, a importância do engajamento do
desejo. Nesse sentido, Patrícia me explica que podiam participar do movimento famílias as mais
diversas:
As composições familiares são do jeito que elas [as famílias] querem! [...] Não impomos nada. Se querem morar 20 pessoas numa casa, moram. Se quer morar uma, mora. [...] Então tem de tudo numa ocupação. Tem avó que cuida de neto; têm amigos morando juntos; têm muitos casais LGBT. (Patrícia)
De fato, as ocupações organizadas pelo MLB historicamente acolhem muitas pessoas
que não “cabem” no modelo nuclear moderno de família. Há, no entanto, uma limitação ético-
política: todos são bem vindos para somar à luta, mas para consolidar a conquista de um lote
no terreno ocupado qual-quer um deve mesmo necessitar deste como sua única possibilidade
moradia própria. Além disso, pessoas e famílias devem se implicar com o coletivo, dispor-se
como corpo numérico para as ações que irão percorrer o terreno ocupado e lutar por ele. Aqueles
que já têm um imóvel e querem construir mais uma morada no terreno ocupado são expulsos;
aqueles que abandonam a luta sem justificativa também.
Uma das coisas mais difíceis em um agenciamento guerreiro nômade, especialmente
quando consideramos os processos de subjetivação a que os homens e as mulheres submetidos
ao Estado estão acostumados, é conseguir sustentação e duração não sedentárias pelo tempo
suficiente da luta. A pergunta seria: como conseguir manter um funcionamento guerreiro sem
instituir as segmentações, estruturas, burocracias, hierarquias, pertenças, apropriações,
sobrecodificações, conjugações e capturas que fazem brotar um Estado e o consequente
endurecimento das linhas do agenciamento e das relações de poder? Ou ainda: como sustentar
uma máquina de guerra “em si mesma” quando lhe faltam os mecanismos de captura tal como
em um Estado com seus regimes de obediência e servidão? Com efeito, na máquina de ocupar
que aqui abordo, as pessoas só permanecem ligadas a ela porque querem. Podem ir embora a
qualquer momento e se muitas o fizerem, o agenciamento se dilui, a máquina se desmonta. É,
por isso, necessário produzir um outro tipo de agenciamento de desejo, corpos, palavras e
coisas, outras maneiras de pensar e agir, outra sensibilidade que mantenha as pessoas unidas, o
desejo de lutar vivo, a força estratégica presente, o que nunca quer dizer que não existam regras
e segmentações que também fazem parte.
É preciso ainda admitir que a previsibilidade do processo não está assegurada e que
qualquer movimento da máquina, qualquer ação é sempre recheada de riscos e possibilidades
212
de perda. Aqui lembro-me das reflexões do Comitê Invisível (2016) sobre a importância de se
manter viva, a todo momento, a força de um mundo comum. Força capaz de instaurar um
regime de verdade, de abertura e sensibilidade que engaja um povo qual-quer ao que está sendo
construído, mesmo que lentamente. Na reunião, Bárbara explica aos presentes que o processo
de montar uma ocupação pode demorar um, dois, três anos. Semanalmente é feita uma reunião
com os interessados; são feitas também ações para mobilizar novas pessoas e fazer crescer os
envolvidos. A participação é fundamental, uma vez que “cada um conquista o seu pedaço” – na
máquina, no movimento, no terreno. Paulatinamente é importante firmar o grupo com as
famílias que perfaçam as condições qualitativas da máquina guerreira de ocupar: deve-se ter o
número de famílias suficiente e capaz para efetuar as estratégias da luta conforme as
características do terreno; ou então, deve-se encontrar o terreno adequado para o número e as
características das famílias que à máquina se vincularam. Nesse processo, a importância das
lideranças do MLB que voluntariamente permanecem dedicados às lutas por moradia, mesmo
se já conquistaram a sua casa, está nos conhecimentos que detém, nas experiências que já
vivenciaram, nos contatos que possuem, na sua capacidade de articulação estratégica e logística,
no seu papel de sustentar as orientações ético-políticas que não deixam uma ocupação “virar
bagunça”. Elas e eles aprenderam que, antes de ocupar, é preciso organizar a máquina, distribuir
os números, criar o corpo coletivo, preparar a luta, antecipar os riscos. E, mesmo com tudo isso,
há sempre o risco de serem despejados, inclusive com violência: “pode ser que sim, pode ser
que não”, pondera Bárbara, que explica que o movimento não pega a contribuição financeira
das famílias, identifica um lote vazio qualquer e organiza ali a ocupação, correndo o risco da
polícia chegar no dia seguinte cedo retirando todo mundo. Há sempre um criterioso estudo do
terreno:
A gente vai pegar um terreno que a pessoa não paga imposto, que não é de ninguém, o dono não aparece... e a gente vai ter certeza disso. Aí a gente vai, coloca as famílias lá. Pode ser que tenha despejo, mas a gente faz de tudo para não ter. Porque se tem, tudo que a gente construiu hoje, a gente vai perder e vai ter que construir tudo de novo. (Bárbara)
Nesse contexto, há um pacto de confiança fundamental: as famílias organizam-se para
uma ocupação cujo terreno em estudo é mantido em sigilo até o momento de ocupá-lo. Em toda
guerra é prudente manter certos segredos... E quando o momento chega, é preciso colocar a
máquina de guerra para funcionar com sua velocidade turbilhonar, sua capacidade de ocupação
do espaço tornado liso, sua força de resistência. Uma ocupação é montada com barracas de lona
em poucas horas, mas é necessário que as famílias nelas permaneçam por dias ou por meses à
espera de todas as negociações com as autoridades e envolvidos até que o processo de
213
autorização da construção das casas e de regulamentação urbana (como realizar a divisão do
loteamento, abertura das vias de circulação conforme as normas vigentes no Estado, etc.) se
defina. Nesse cenário, junto com o desejo e a força para a luta, há o sol e o calor, há a chuva e
o frio, há o medo e a possibilidade da violência, há a precariedade da moradia, há a instabilidade
do processo – tudo isso atravessando as barracas e suas famílias.
E mesmo quando a ocupação consegue se firmar e os lotes são distribuídos entre as
famílias, mesmo quando as barracas de lona são substituídas por barracos de madeirite ou casas
de alvenaria, mesmo quando alguma estabilidade já foi alcançada, ainda assim, há muito a se
fazer. Patrícia sorri enquanto me conta da conquista da energia elétrica na ocupação onde mora.
Conta-me que foi preciso lidar com muitos enfrentamentos. Inicialmente foi instalado um
“gato” para levar luz às casas, feito por um eletricista que fazia parte da máquina de guerra. O
eletricista fez a lista do material necessário para que a luz fosse retirada de um poste de
iluminação pública próximo com segurança e distribuído entre os moradores no terreno.
Fizeram uma “vaquinha” para arrecadar o dinheiro e executaram o procedimento. A seguir,
começaram a tentar regularizar a iluminação nas ruas e nas casas da ocupação junto à
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), responsável pela fornecimento de energia
elétrica nos municípios do estado. Contudo, Patrícia destaca que a Cemig apenas foi lá para
retirar o “gato” e que, por isso, foi necessária uma mobilização coletiva para produzir um
bloqueio humano de proteção do poste de luz. Grupos de moradores se alternavam em torno do
poste para que os funcionários da Cemig não tivessem acesso a ele e cortassem a energia do
“gato”:
Tivemos que fazer acampamento em torno do poste. A Cemig e a gente. Vocês terão que passar por cima da gente se quiserem desligar. Argumentamos que tinha muita gente que dependia dessa luz e ela [Cemig] não podia cortar! A gente não paga não é porque a gente não quer, é porque vocês não colocam [os padrões regularizados de luz]. (Patrícia)
A luta pela luz durou várias semanas. A Cemig acabou por concordar em colocar a
estação de distribuição elétrica, mas, para tanto, informou que a prefeitura do município
precisava colocar os postes para a iluminação pública, uma vez que isso era de sua competência.
A prefeitura, por sua vez, argumentou que não podia instalar os postes, pois, para tanto,
precisava de um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Vereadores. Já os vereadores
receberam com descaso o pedido e os argumentos dos moradores, informando que não havia
interesse público no caso. A saída encontrada pelo movimento foi juntar moradores dispostos
e invadir a Câmara, ali permanecendo até o projeto de lei ser colocado em discussão. “Saiu
214
gente nossa machucada de lá, mas não tinha outro jeito. Já tínhamos tentado todas as saídas”.
Depois disso, a energia elétrica foi instalada rapidamente.
“Alguns dizem que somos muito radicais, mas a gente teve que ser”, analisa Patrícia em
nossa conversa. Sua expressão sóbria e sincera me mostra que ela não tem expectativas de que
a luta, um dia, possa ser dada por concluída. No caso dos subviventes, é preciso estratégia,
perspicácia e organização constantes contra as necropolíticas que produzem sua miséria ou seu
extermínio. Melhor que suas máquinas de guerra consigam permanecer a postos. Patrícia
conclui: “A luta continua. Agora conseguimos água [...] Para conseguir a água, tivemos que
sequestrar um caminhão pipa que ficou dois dias dentro da ocupação. A Copasa88 viu que a
gente não ia liberar o caminhão e começou o processo de regularização [da distribuição] da
água para a comunidade”.
* * *
Por que falo de uma máquina de guerra? Porque não é possível abordar as famílias das
ocupações que visitei sem ressaltar suas conexões com o agenciamento guerreiro no qual
escolheram ingressar. Agenciamento que atravessa as dinâmicas familiares, inclusive
intervindo nelas quando necessário; que viabiliza uma rede de amparo e proteção, incluindo
cada uma das famílias em um funcionamento que é sempre maior do que elas; que tem força
coletiva suficiente para mobilizar o apoio de moradores de diferentes comunidades, para
conseguir a contribuição de profissionais de diversas organizações e para negociar ou
confrontar os aparelhos de Estado, mesmo quando não conseguem vencê-los ou são reprimidos
por eles. Por isso, qualquer análise das famílias dessas ocupações deve considerar as conexões
destas com a máquina de guerra a qual se vincularam e mantêm relações, mesmo após a
conquista da posse de um lote para a construção da casa própria.
Além disso, conhecer as conexões de famílias com uma máquina de guerra pode
significar o encontro com outras possibilidades de resistir e de existir diferentes das lógicas
sociais, políticas e familiares a que estamos acostumados nestes tempos em que o capitalismo
planetário se beneficia das estratégias do Controle e das práticas de Exceção. Lógicas que,
muitas vezes, acabamos por naturalizar como a única ou a melhor maneira de ser uma família,
88 A Copasa é a companhia de saneamento de Minas Gerais, responsável pela distribuição de água potável e tratamento do esgoto no estado.
215
de construir vínculos com aqueles que vivem em nosso entorno ou de admitir a intervenção
estatal. Com efeito, o sujeito moderno pode aprender muitas coisas com os Outros, tais como
os povos indígenas originários, os quilombolas e os que, segmentados como pobres dentro das
lógicas capitalistas, encontram maneiras guerreiras de deslocar-se da subvivência.
Nesse sentido, como assinalam Deleuze e Guattari (1980/1997b, p. 32), “a máquina de
guerra entretém com as famílias uma relação muito diferente daquela do Estado. Nela, em vez
de ser uma célula de base, a família é um vetor de bando”. Em um agenciamento guerreiro, o
que importa, antes de tudo, é “a potência ou virtude secreta de solidariedade” que faz com que
as famílias interessem-se menos por suas particularidades genealógicas, por seu lugar nas
segmentações sociais, por suas relações com os aparelhos de Estado do que por agir de modo
que as genealogias das famílias (co)movam-se, atravessem-se, componham-se como “corpo de
guerra”.
Ainda assim, é importante reconhecer que as famílias das ocupações que visitei não
funcionam somente como agenciamento guerreiro; elas são compostas, em boa medida, pelas
linhas que sustentam o modo de vida dominante em seus enlaces com o Estado e com o Capital.
Seus sonhos, desejos, lógicas e percepções, suas maneiras de amar e relacionar-se em diferentes
níveis são perpassadas pelo diagrama das forças sociais em vigor. Elas estão, por isso, entre a
máquina de guerra e os ditames, valores, práticas, sonhos que o capitalismo não se cansa de
propagandear através das ferramentas informáticas. Elas estão entre a máquina de guerra e a
vigilância e os confinamentos determinados em nome da Paz pelo Estado. Se sua pertença a
uma máquina guerreira não exclui as conexões com o Estado e o Capital, nem com os valores
familiares e socioculturais dominantes nesta época, por outro lado, permite a emergência de
novas “margens de manobra”, novos acordos, novas alianças e novas forças colocadas em jogo.
Por certo, novas segmentações nascem à medida que um agenciamento guerreiro precisa
institucionalizar uma maneira sedentária de ocupar uma terra para garantir melhores condições
de vida para os que dele fazem parte. No caso da máquina guerreira de ocupar, isso é necessário
especialmente porque ela foi montada em um contexto sócio-histórico em que as lógicas
capitalistas privadas são hegemônicas. Se, por um lado, a organização sedentária da terra
ocupada é necessária para seu reconhecimento pelo Estado e por outras estruturas sociais, por
outro lado, é preciso que os que fazem parte da máquina de guerra estejam atentos aos
constantes riscos de endurecimento das linhas de segmentaridade que instituem e de produção
de hierarquias e privilégios. É preciso que os que fazem parte da máquina de guerra sustentem
216
a potência do Fora que o nomadismo trouxe, mesmo se agora os fluxos nômades precisem
encontrar novos caminhos e velocidades.
Cláudia mostra-me o Termo de Compromisso que todos os maiores de 16 anos que
participam de uma ocupação coordenada pelo MLB precisam assinar, explicitando sua
concordância com o Regimento Interno de sua ocupação. Estudo com atenção as orientações e
normas que estão contidas ali e devem ser respeitadas por todos. Elas versam sobre a
importância da participação de cada integrante; sobre o necessário zelo para a construção de
um ambiente de respeito mútuo e cooperação coletiva; e sobre o modo como moradores e
famílias devem se organizar na ocupação. Para essa organização são formados núcleos de ruas
ou regiões com seus coordenadores – trata-se de uma instância que deve acompanhar de perto
as famílias e deve ser acionada sempre que há conflitos em alguma família ou entre vizinhos.
Há também as comissões de assuntos especiais que devem promover ações ligadas a educação,
limpeza, saúde, cultura, creche, lazer, alimentação, entre outras, para a comunidade. O “órgão
máximo” da ocupação é a Assembleia Geral. Suas decisões devem ser respeitadas e cumpridas
por cada um, sob pena de expulsão da ocupação. O artigo 6º do Regimento determina que todos
devem dedicar parte de seu tempo a atividades coletivas, que são distribuídas levando-se em
consideração as condições de cada um. O Regimento versa ainda sobre as faltas graves que,
uma vez investigadas pelo Conselho Geral da Ocupação, podem ser levadas para análise na
Assembleia Geral que decidirá pela expulsão ou advertência dos que as cometeram. Entre as
faltas graves estão a prática de furtos ou roubos, o abuso de bebidas alcóolicas e outras drogas,
a violência doméstica.
Ao longo da conversa sobre o Regimento, Cláudia me explica a importância da
participação de cada um, dentro de suas condições e recursos específicos. As pessoas que
participam das assembleias e atividades no MLB e que trabalham por um bom ambiente
coletivo ganham prioridade quando é preciso fazer escolhas como, por exemplo, no momento
da escolha de qual lote fica com quem, na definição das primeiras vagas na creche ou no
recebimento de doações quando estas são poucas. Ela me explica: “A gente sempre tenta que
todo mundo receba e do mesmo jeito. Mas às vezes não dá”.
Quanto à regularização das casas junto ao Estado89, Cláudia esclarece que isso envolve
muita negociação. Logo que a ocupação é feita, um cadastro com os dados de todas famílias
89 Essa regularização envolve a definição da área ocupada como Zona Especial de Interesse Social (Zeis) conforme regulamentação do Plano Diretor municipal e as diretrizes do governo do estado. Uma vez a área definida como Zeis, o MLB, junto com os órgãos competentes, define o número, metragem e
217
envolvidas é passado para os órgãos competentes, na tentativa de começar o longo processo
para legalizar a ocupação ou negociar a saída do local ocupado com as devidas garantias de que
todos serão realocados em outro local com dignidade e segurança para firmar sua moradia.
A efetiva permanência no imóvel construído na ocupação é condição fundamental para
a manutenção do direito ao lote e à casa. Nos primeiros momentos da ocupação, quando todos
precisam se implicar para fortalecer a máquina de guerra, quem se ausenta sem justificativa por
mais de três dias é considerado desistente e seu barraco é repassado para outra família.
Nenhuma família pode vender seu lugar na ocupação – seja sua barraca de lona ou o lote cuja
posse é transferida para seu nome, sob pena de ser expulso pelo movimento e ainda ser acionado
judicialmente pela prefeitura. Todos precisam assumir o lote e o barraco construído como seu
lugar de moradia; não é permitido conquistar um lote para ganhar dinheiro vendendo-o depois.
Quando o morador já construiu sua casa de alvenaria e é expulso, falece ou desiste da moradia,
pode reivindicar, mediante a apresentação de notas fiscais e recibos, o valor gasto com material
da família ingressante que é definida conforme sua participação no movimento. E, em todos os
casos, há um critério que o MLB coloca para seus integrantes e para as negociações com os
aparelhos de Estado: que a posse do lote e o direito à casa construída sejam registrados sempre
no nome da mulher de referência da família. O registro em nome do homem só pode ser feito
na ausência de uma mulher (um homem viúvo ou um pai sozinho com seus filhos, por exemplo).
Patrícia já havia me explicado que a experiência tinha ensinado às lideranças do
movimento que as ocupações em geral começam como uma luta das mulheres: “Os homens
vêm depois. É uma luta muito da mulher”. No entanto, sem a garantia do registro em seu nome,
muitas mulheres que retomavam ou começavam um relacionamento durante o processo da
ocupação perdiam o lote e a casa que tinham conquistado caso se separassem do marido,
companheiro ou namorado, uma vez que este acabava invocando seu poder de patriarca sobre
o terreno. Por isso, o movimento adotou, como uma de suas escolhas ético-políticas, agenciar
um especial apoio comunitário para que as mulheres – mulheres pobres e mais vulneráveis a
muitos tipos de violência em diversos níveis – pudessem articular novos arranjos de existir,
inclusive em suas alianças amorosas-conjugais. Patrícia considera que as lideranças do MLB,
mulheres e homens, lutam para que todos sejam respeitados em sua singularidade e
distribuição dos lotes para as famílias participantes, as vias de acesso e circulação interna, as áreas de preservação quando é o caso. Com essas definições, o terreno pode então ser dividido entre as famílias da ocupação que recebem o título de posse. O título é intransferível.
218
necessidades, que as diferentes configurações familiares sejam acolhidas, mas “a gente vai dar
mais apoio a quem precisa mais”.
Ocupação é um negócio que separa as pessoas e separa mesmo, porque é onde a mulher consegue entender que ela não precisa de tá com o outro pela questão da dependência financeira. Aí o número de mulheres que se separa porque sente o apoio do movimento é gigante, é gigante. Posso relatar agora umas dez aqui. Eu sou uma. (Patrícia)
Nesse cenário, os problemas familiares não são tratados como algo íntimo e reservado
aos seus membros. Como pontuei acima, a violência doméstica é uma falta grave que pode
acarretar a expulsão do abusador ou mesmo de toda a família, quando esta é condizente ou
omissa diante da situação violenta. Esta é uma outra escolha ético-política do movimento: tentar
enfraquecer as lógicas machistas difusas em nossa sociedade, principalmente quando elas
descambam na violência intrafamiliar física, psicológica, sexual ou outra.
Esse negócio que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o MLB mete a colher! Relação com os filhos, a gente mete a colher também. Relação de abuso, a gente mete a colher de novo, né? A gente sempre mete a colher. Esse negócio de que, ah, cada um cuida da sua vida não existe, cada um cuida da vida de todo mundo mesmo. (Patrícia)
Esse cuidado da coordenação do MLB sempre envolve, a princípio, conversar com os
envolvidos quando algum abuso, agressão, negligência, abandono é identificado ou se tem a
suspeita de que está ocorrendo. “É preciso entender o que acontece até para ajudar”, como
esclarece Cláudia, que narra a situação de um casal que, ao ser apoiado pelo movimento,
conseguiu sair da dinâmica violenta em que vivia. Nesse casal, “o marido batia muito, mas
muito mesmo, na esposa”. Eles haviam participado da luta em uma ocupação e só tempos
depois, quando já estavam em sua casa de alvenaria, a violência doméstica cotidiana foi
conhecida pela comunidade. Várias mulheres foram conversar com a vítima que, para o espanto
de todas, contou-lhes que achava isso [da mulher apanhar] normal, pois ela vivia assim com o
marido desde o início, quando se casou ainda muito jovem. Cláudia comenta que ficaram sem
saber o que dizer para a esposa, até que uma das presentes perguntou se ela tinha nascido
apanhando. Se não, como isso seria então normal? Deste momento em diante, em conversas
com a esposa e o marido, o grupo de mulheres que se organizou para ajudá-los foi mostrando
ao casal que mulher não nasceu para apanhar. “Fomos ganhando [o casal]. Nunca mais ela
apanhou!”, conclui Cláudia.
Em outros casos, no entanto, as forças que procuram manter as linhas de segmentaridade
já instituídas resistem à sua flexibilização ou transformação. Nesse sentido, Cláudia me conta
219
uma intervenção feita por Patrícia para evitar que uma mulher fosse enforcada por seu marido
dentro de uma das ocupações. Chamada às pressas pelos vizinhos, Patrícia conseguiu libertar a
mulher que, no dia seguinte, acabou indo até sua casa e quebrando a porta da entrada para entrar
e agredi-la, sob a justificativa que Patrícia havia tentado atrapalhar o casamento dela. Algum
tempo depois, com a persistência das agressões sofridas, a mulher procurou a coordenação do
movimento na comunidade que, a partir da abertura dada, conseguiu ajudá-la para que ela se
separasse do marido. “Tem que ter a abertura [da família], se não, a gente não consegue ajudar”,
afirma Cláudia. Quando as situações de abuso, negligência, violência mostram-se rotineiras e
sem abertura para mudança, as lideranças convocam a Assembleia que decide, em geral, pela
expulsão do agressor da comunidade. Cláudia lembra que, em alguns casos, as mulheres
escolhem acompanhar o marido ou companheiro, alegando que não vivem sem ele. Nesses
casos, toda família é retirada.
Nesse cenário, é possível considerar que o compromisso ético-político e as estratégias
comunitárias efetuadas pelos integrantes das ocupações e suas lideranças não eliminam o
machismo, nem a violência que acometem algumas famílias. Ainda assim, eles abrem brechas
e permitem a produção de linhas de fuga em vários casos. E não apenas nas dinâmicas familiares
“em si”. Por vezes, as linhas de fuga atravessam outras segmentações e transformam, por
exemplo, as divisões de gênero no trabalho. É o que aprendo com a ideia de algumas mulheres
do MLB: diante de suas separações ou mesmo da ausência de maridos, companheiros ou
namorados, precisaram aprender a construir elas mesmas as suas casas e se tornaram “mulheres
construtoras”, responsáveis por muitas casas levantadas nas ocupações e em outras vilas e
favelas. Juntas e apoiadas por um grupo de arquitetas formadas, elas compõem hoje o projeto
Arquitetura na Periferia90 que visa capacitar mulheres que querem e ou precisam construir por
si mesmas ou com alguma ajuda de terceiros suas próprias casas.
* * *
Para finalizar, é possível argumentar que um agenciamento guerreiro como o que aqui
abordo só funciona como tal (o que já não seria pouco) até que a ocupação se estabeleça, que
as famílias dividam o espaço, definam posses e pertenças, promovam partilhas e cercamentos,
transformem o espaço liso onde sua força nômade pode agir em espaço estriado e em
90 Sobre o projeto, conferir https://arquiteturanaperiferia.org.br/
220
funcionamento sedentário. Mas, nessa perspectiva, olha-se com olhos de quem encontra apenas
o Estado por toda a parte... Talvez seja necessário empreender o exercício sensível de perceber
o que da máquina de guerra se mantém, de forma transversal ao que se passa enquanto a
comunidade dessas ocupações se forma. Ademais, nenhuma luta termina com as paredes das
casas erguidas, como me ensinaram as lideranças do MLB e que procurei mostrar aqui. É aí que
a luta está começando. Apenas os confiantes em excesso no sonho moderno de que o progresso
irá nos levar ao fim da História; apenas os convictos de que não há ordem possível que não a
promovida, ainda que pela violência, pelos aparelhos de Estado; apenas os seguros de que não
há vida melhor que a prometida pelo Capital, com os enlaces religiosos, culturais, filosóficos
que este foi muito eficiente em promover; apenas estes, mesmo que eles sejam hoje a Maioria,
acreditam que algum dia nossas lutas, conflitos, aprendizados, erros, invenções, ajustes e fugas
irão terminar.
222
Capítulo 7
UM DIA, DEPOIS DE AMANHÃ (CONSIDERAÇÕES FINAIS)
Diante de um inimigo invisível
01 de abril de 2020, 7:36h. Olho pela varanda do meu quarto o dia ensolarado que se
insinua lá fora. Observo surpresa que a neblina acinzentada que escurece a camada de céu mais
próxima do chão não está ali. Acho que nunca havia observado a vista de Belo Horizonte que
tenho o privilégio de ter da minha casa tão limpa da poluição que usualmente recobre a cidade.
Mas, mais do que a imagem, a sonoridade desse dia me chama a atenção: escuto apenas as
cigarras, os grilos e os pássaros que sobrevoam o pedaço de mata tombado pela prefeitura como
área de preservação ambiental ao lado da minha casa. Quase nenhum som vem do lado oposto,
onde máquinas da construção civil usualmente trabalham durante a semana a erguer prédios
residenciais e estabelecimentos comerciais que irão povoar a região próxima de onde moro,
máquinas que começariam a emitir seus zumbidos, roncos e estalos antes das 7:30h da manhã.
Tampouco escuto o motor dos carros que normalmente, nesse horário, passam frenéticos na
avenida a 500 metros daqui. Uma incômoda sensação de que restei sozinha neste mundo me
assalta a alma, faz-me sair rapidamente do quarto e encontrar a expressão assustada de meu
filho ao me ver tão esbaforida logo de manhã. “O que aconteceu, mamãe?!”, ele me pergunta.
Apenas sorrio e o abraço com a gratidão de quem constata que está a salvo da mais concreta
das solidões.
Em uma “situação de normalidade” (para usar um termo muito empregado atualmente
pelos homens de Estado), meu filho com seus dez anos e sua irmã de oito estariam na escola
nesse horário, enquanto eu estaria a me dedicar à escrita desta tese. Contudo, há duas semanas
estamos confinados em casa. Apenas eu saio e isso eventualmente, para ir ao supermercado ou
à farmácia adquirir o que não consigo comprar pelos sites dos estabelecimentos com serviço de
entrega em domicílio. Tal atividade corriqueira agora parece uma verdadeira operação de
guerra, organizada em conformidade com a avalanche de informações recebidas nessas
semanas de parentes, amigos e colegas da área da saúde, conferidas em sites de universidades,
de centros de pesquisa, de entidades públicas e de jornais em que confio. Só saio de casa munida
de máscara e um frasco de álcool em gel para higienizar as mãos no bolso (a bolsa foi deixada
em casa após a primeira semana de confinamento, uma vez que pode encostar nas prateleiras
do supermercado ou no balcão da farmácia). Levo, também no bolso, a lista dos itens que devo
223
comprar anotada em um papel que será descartado ao final da tarefa e o cartão bancário. Não
entro mais nos elevadores dos estabelecimentos, uso as escadas ou as rampas; limpo os
carrinhos de compra com o álcool gel antes de tocá-los; procuro manter a distância das outras
pessoas que também fazem as suas compras, algumas usando máscaras como eu91; tento tocar
apenas no estritamente necessário. Após guardar as compras feitas no porta-malas do carro,
limpo as mãos com o álcool gel, limpo a chave que já toquei. Ao chegar em casa, deixo os
sapatos no carro para que não espalhem pela garagem e pela casa o que tiverem “pegado” na
rua. Ainda limpo os pés no pano com água sanitária deixado na porta. Deixo as compras na
bancada do lado de fora da casa para que tudo seja limpo antes de entrar. Desinfeto as mãos e
as partes que toquei do carro. Tomo banho e ponho a roupa usada para lavar. Finalmente
descanso, exausta de tanta tensão. Pergunto-me se tudo isso é realmente necessário. Consolo-
me, afirmando que estou a fazer o que parece ser o melhor diante de um inimigo invisível, este
minúsculo vírus que pode estar em qualquer lugar e para o qual meu corpo, como o de bilhões
de humanos viventes desta época, não têm ainda defesa imunológica.
Identificado na China no final de 2019 e notificado à OMS (Organização Mundial de
Saúde) em 31 de dezembro desse ano, o vírus – o coronavírus SARS-CoV-2 causador da doença
denominada Covid-19 – alastrou-se em menos de três meses por todo o planeta, tornando-se
uma pandemia de grande impacto global. Provocando desde dores de cabeça, tosse seca, febre,
diarreia e dores pelo corpo até quadros de insuficiência respiratória grave, entre outros
problemas renais e cardiovasculares que exigem a internação hospitalar para apoio de
respiração mecânica ou tratamento em UTIs, o novo vírus tinha infectado, até este início de
abril, mais de 900 mil pessoas em 187 países e causado a morte de quase 46 mil pessoas. E a
curva de contágio mantinha-se em crescimento no mundo.
Em minha casa, confinada, lembro-me da greve dos caminhoneiros ocorrida há quase
dois anos, em maio de 2018, e que havia funcionado para a introdução a este trabalho como um
importante analisador de nossas condições de vida atuais92. Naquele momento eu havia sido
tomada por uma sensação de deslocamento, de distanciamento em relação ao modo de vida
hegemônico que se impunha cotidianamente em minha rotina de vida. A greve me proporcionou
91 No dia 22 de abril entrou em vigou o Decreto n° 17.332/2020 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que passou a exigir, em minha cidade, o uso de máscaras com cobertura do nariz e boca de toda e qualquer pessoa circulando em espaços públicos, em transporte coletivo ou em estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços de saúde e outros. O novo decreto determinou ainda o controle do número de pessoas permitidas dentro dos estabelecimentos conforme a área (uma pessoa a cada 13 m²). 92 Sobre a greve, retomar as reflexões apresentadas no primeiro capítulo.
224
uma outra relação com o tempo e com o espaço, além de novas experimentações: pude deixar-
me ficar em casa com o corpo e os afetos disponíveis para meus filhos, já que as minhas
atividades como professora universitária e as atividades do doutorado haviam sido suspensas,
bem como as atividades escolares das crianças. Além disso, com o carro paralisado na garagem
por causa da falta de combustível nos postos de abastecimento, pude experimentar uma relação
mais próxima das casas, das ruas e das pessoas que circulavam pela cidade, fora da caixa de
ferro, vidro, borracha, plástico e outros derivados de petróleo que é um automóvel. Durante a
greve, acabei circulando mais de bicicleta, intensifiquei os passeios a pé com as crianças,
articulei caronas com amigos para deslocar-me pela cidade, situações que eram fonte de bons
encontros e prazer. Pude experimentar, por isso, outras conexões com a cidade, com as pessoas
e comigo mesma.
Desta vez, no entanto, medidas restritivas de circulação e de aglomeração de pessoas
tanto em espaços públicos como privados, embasadas nas experiências de outros países, nas
determinações dos órgãos de saúde e nas recomendações de vários centros de pesquisa e
especialistas, haviam sido decretadas por governadores e prefeitos em quase todo o território
brasileiro. O objetivo era “achatar a curva epidêmica”, ou seja, conter a rápida expansão da
pandemia da Covid-19 e evitar uma sobrecarga dos sistemas de saúde pelo elevado número de
infectados. Se, por um lado, a permanência em casa tornou-se uma exigência de saúde e boa
parte das atividades rotineiras de quase todas as pessoas foram paralisadas em sua execução
costumeira, por outro lado, essa realidade mais me empurrou para dentro e para o fundo das
demandas e exigências do sistema político-econômico-cultural em vigor do que me permitiu
distanciar dele com a ponta de entusiasmo que havia feito com que eu vislumbrasse, durante a
greve dos caminhoneiros, outras maneiras de existir.
Diferente da greve, agora as aulas não foram suspensas, mas transferidas para o regime
letivo remoto, com suas novas exigências e especificidades. Deparei-me com o fato de que o
cronograma de atividades e toda a preparação para as aulas a serem realizadas dentro da
universidade ao longo do semestre tinham caducado. Ao mesmo tempo, recebia e-mails e e-
mails das chefias lembrando aos professores da universidade que não estávamos de férias e que
deveríamos programar atividades online, postar videoaulas, fazer videoconferências, dar
devolução das atividades feitas, estudar os tutoriais das novas ferramentas de trabalho, elaborar
trabalhos e provas adequados para o meio virtual. Recebia ainda, a qualquer hora, mensagens
de alunos com dúvidas, sugestões, pedidos, ou mensagens que eram somente um desabafo
diante da ansiedade pelo momento, das dificuldades com as novas ferramentas virtuais de
225
ensino-aprendizagem, das incertezas sobre o que irá nos acontecer. De fato, vi minha demanda
de estudos e da escrita para o doutorado misturar-se às novas demandas de trabalho e ainda à
presença ininterrupta das minhas duas crianças confinadas em casa. Não apenas as crianças
estavam em casa o tempo todo, com seu desejo de atenção e carinho, com suas constantes brigas
entre irmãos, com sua vontade de brincar e gargalhar enquanto a mamãe dava aulas síncronas
(em tempo real) e gravava videoaulas; estavam em casa também as suas tarefas escolares. A
escola deles havia adotado um regime remoto com as atividades dos alunos enviadas por e-mail
para seus pais. Como desabafou uma mãe em um grupo de WhatsApp, “as crianças não
conseguem fazer as tarefas que as professoras estão mandando sem a ajuda dos pais!”. Por isso,
eu ainda precisava encontrar tempo e serenidade existencial para ajudar meus filhos em suas
tarefas e em sua insatisfação de “ter que ficar só fazendo ‘para casa’, sem poder brincar com os
amigos da escola”, como retrucavam todas as manhãs. A tudo isso, acrescentaram-se os afazeres
domésticos que tinham ganhado um volume muito maior com toda a higienização dos produtos
e com a permanência dos moradores dentro de casa. Afazeres que, com a ida de Tereza que
morava comigo e as crianças e nos ajudava, para a casa dos seus familiares, restava sob minha
responsabilidade com o apoio dos pequenos. A parte do cuidado e dedicação às crianças
assumida pelo pai tornou-se inviável, uma vez que, com seu trabalho como jornalista no front
de batalha para a cobertura da pandemia, concordamos que o melhor para as crianças era
permanecer mais distante dele e não frequentar a sua casa, apesar da tristeza e da saudade que
isso causava. Também os avós, importante ponto de apoio no meu cotidiano com as crianças,
isolaram-se por causa dos riscos de agravamento da Covid-19 em idosos93.
Além da minha própria rotina, acompanho de perto ou de longe as abruptas mudanças
nas vidas de todo o mundo. Todo o mundo, literalmente. Lembro-me, nesse cenário, das
palavras do líder indígena Ailton Krenak (2020) ao refletir sobre uma solução para salvar o Rio
Doce que foi contaminado por dejetos após o rompimento da barragem do Fundão da
mineradora Samarco em Mariana/MG em 2015, articulando-a à situação provocada pelo
coronavírus:
Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: “A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática. Pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a cem quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida”. Então um deles
93 O coronavírus mostrou-se particularmente perigoso para pessoas acima de 60 anos ou com outras doenças preexistentes (OPAS, 2020).
226
me disse: “Mas isso é impossível”. O mundo não pode parar. E o mundo parou. (Krenak, 2020, p. 12)
* * *
O mundo parou. O mundo parou de formas e em momentos diversos, conforme a
disseminação da pandemia ultrapassou fronteiras regionais, nacionais, continentais e encontrou
características climáticas, demográficas e ambientais específicas. Mas, por todos os lados, a
Covid-19 estremeceu as condições socioeconômicas em virtude da desaceleração ou mesmo
paralisação das logísticas usuais de produção, distribuição e consumo, inibidas pelos medidas
sanitárias de restrição à circulação e à aglomeração de pessoas adotadas pela maior parte das
cidades, estados, países pelo mundo. Os transtornos socioeconômicos causados pela greve dos
caminhoneiros no Brasil em 2018 mostraram-se pequeninos diante da paralisia de muitas das
engrenagens do sistema capitalista em nível planetário94.
À medida que avançava, a pandemia escancarou desigualdades dentro e entre países,
mostrando como as vulnerabilidades econômicas, sociais, sanitárias, subjetivas impactavam
diretamente na maior suscetibilidade de certos indivíduos, comunidades e populações de
desenvolverem quadros graves da Covid-19 ou mesmo morrerem em virtude da doença. Sem o
intuito de esgotar todos atravessamentos e sem desconsiderar fatores como a idade do paciente,
a presença de comorbidades ou de características pessoais que também impactam no
agravamento da doença, é possível citar entre as vulnerabilidades que se tornaram visíveis: a
falta de leitos hospitalares, medicamentos, insumos e profissionais treinados para tratar os
doentes em certas regiões e países; o alto custo de tratamentos médicos em nações, mesmo
“desenvolvidas” como os EUA, que não contam com assistência pública à saúde para toda a
população, o que fez com que muitas pessoas sem recursos e sem convênios privados de saúde
adiassem a procura por cuidados médicos até sentirem acometimentos já avançados com a
doença; o elevado preço de testes confiáveis para detectar a infecção ou mesmo a falta destes,
que acabaram concentrados nos países, estados e cidades com mais recursos para adquiri-los
94 É emblemática, nesse sentido, a desvalorização histórica do petróleo nos EUA. Com a drástica redução da demanda por petróleo em virtude da diminuição da atividade econômica por causa da pandemia da Covid-19, no dia 20 de abril de 2020, o preço do petróleo negociado nos EUA desabou, sendo cotado em valor negativo pela primeira vez na história, com uma desvalorização de 306% (-US$37,63 / barril): os operadores estavam pagando para quem quisesse adquirir seus contratos futuros do petróleo estadunidense diante da falta de espaço para armazenamento do produto no país, o que traria ainda mais prejuízo para produtores e investidores.
227
ou melhor organizados para providenciá-los antes dos demais; as precárias condições de renda
e habitação de um grande contingente de indivíduos e famílias, especialmente em regiões e
países mais pobres, o que inviabilizou, para muitos, a manutenção de um confinamento
doméstico seguro diante da necessidade de sair para conseguir os recursos necessários para o
sustento pessoal e familiar.
Acesso com frequência o boletim atualizado em tempo real pelo Coronavirus Resource
Center da Universidade Johns Hopkins, que mais parece o placar de uma disputa sem
vencedores. Em meados de outubro de 2020, quando faço os ajustes e reflexões finais desta tese
e permaneço com o trabalho na universidade ocorrendo em regime remoto, realizado de casa,
o mapa global de casos de Covid-19 indicava que oficialmente (fora os casos não computados)
o número de vítimas girava em torno de 41,5 milhões de pessoas. Mais de 1,1 milhão haviam
morrido em virtude da doença no mundo até então. O Brasil era o segundo país com maior
número de mortes pela doença (155 mil pessoas), atrás apenas de EUA, que contabilizava mais
de 220 mil mortos (Johns Hopkins University, 2020).
Apesar da frenética busca de centros de pesquisa e laboratórios espalhados pelo mundo
para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas eficientes e seguros contra o coronavírus,
nada tinha se apresentado como uma solução epidemiológica significante até o momento. Ainda
assim, com o avançar dos meses em que a pandemia persiste, há oscilações entre o aumento e
a redução de casos nos diversos países. A Europa, por exemplo, que havia sofrido muito no
início de 2020 com a pandemia e havia visto os casos reduzirem de forma consistente durante
os meses do verão, o que resultou no afrouxamento das medidas de afastamento social e uma
retomada da “vida normal” naquele continente, assistia em setembro e outubro, com a
aproximação do inverno, o regresso da aceleração de contágios por Covid-19 em diversos
países. No Brasil, em outubro, com o avançar da primavera, a curva epidemiológica diminui
lentamente, ainda que seja difícil prever se o número de casos e de mortes irá aumentar adiante.
Ao longo desse período, desde o aparecimento da Covid-19, o mundo acompanha, pelas
redes virtuais de comunicação e informação, as apostas, opiniões, condutas e escolhas macro e
micropolíticas que governantes, lideranças (religiosas, empresariais, partidárias, comunitárias
e outras), especialistas, influencers, bem como famílias e pessoas “comuns” fazem diariamente
diante dos desafios sanitários, econômicos e sociais que se impõem, com suas consequências
individuais e coletivas. Nesse contexto, vejo estourar confrontos entre narrativas – a chegada
da pandemia acabou por escancarar diversos pontos de tensionamento entre cosmovisões,
posicionamentos políticos, ideologias e lugares de fala e de poder nos diagramas de forças
228
contemporâneos. As inquietações, desafios e faltas de respostas que, neste milênio, têm
provocado multifacetadas manifestações e movimentos sociais pelo mundo definitivamente não
entraram na quarentena demandada pela Covid-19. Pelo contrário.
Entre os muitos eventos que competiram pelo lugar de manchete nos jornais ao lado da
pandemia, esteve, em maio de 2020, o assassinato de um homem negro nos EUA, George Floyd,
por asfixia ao ser imobilizado por um policial branco, cujos joelhos esmagavam seu pescoço
enquanto ele suplicava: “I can’t breathe”95. A morte de Floyd provocou violentos protestos em
várias cidades daquele país contra o racismo e a violência policial contra os negros. Protestos
que ganharam força em outros países96 e fizeram ecoar pelas redes sociais a hashtag do
movimento #black lives matter (vidas negras importam). A rebote, atos de supremacistas
brancos também eclodiram, especialmente nos EUA. Outras manifestações populares contra
políticas e medidas estatais também ocorreram mesmo com a pandemia, como as de Hong Kong
e do Chile, iniciadas em 2019 e sustentadas em 2020.
Pipocaram ainda protestos em diferentes lugares contra a “ditadura” sanitária provocada
pela pandemia – contra as orientações e protocolos de especialistas e órgão internacionais de
pesquisa e regulamentação em saúde (universidades e entidades como a OMS); contra a
exigência do uso de máscaras com cobertura do nariz e da boca para a circulação em espaços e
transportes públicos; contra as medidas restritivas da circulação e aglomeração de pessoas;
contra a produção de vacinas imunizantes. Em nome da “defesa dos direitos e liberdades
individuais” ou alegando simplesmente a invenção do coronavírus ou da gravidade da Covid-
19 por “interessados em desestabilizar o mundo”, muitas pessoas não só participaram de
protestos em diferentes países como recusaram-se a admitir a restrição de seus direitos
individuais em prol do benefício social que as medidas sanitárias poderiam significar contra a
doença97. Como pano de fundo, difundiam-se nas redes sociais teorias conspiratórias (como a
criação e disseminação proposital do coronavírus pelo governo da China ou dos EUA para
desestabilizar a economia mundial); difundiam-se “estudos” que mostravam a ineficácia das
95 “Eu não consigo respirar” (tradução minha). 96 No Brasil, esses protestos foram reforçados em junho pela morte de Miguel, uma criança negra de 5 anos, após cair do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, onde sua mãe trabalhava como empregada doméstica. Sem aulas por causa da pandemia, a criança foi levada pela mãe para o trabalho e, quando esta foi passear com o cachorro da residência, ficou sozinho com a patroa da mãe que, incomodada com a reclamação da crianças à procura da mãe, colocou-a no elevador. Ao sair sozinha no 9º andar, a criança subiu em um local sem rede de proteção e despencou. 97 Na Alemanha, dezenas de milhares de pessoas participaram de passeatas em julho e agosto pelo denominado movimento antimáscaras. Na França, diversas pessoas foram agredidas, uma até a morte, após pedirem o uso de máscaras por clientes nos seus locais de trabalho.
229
máscaras de proteção facial ou mesmo o seu perigo para a saúde; valorizavam-se medicamentos
“salvadores” contra a Covid-19, mesmo se a comunidade científica não os reconhecia como tal.
Não bastou o fato de ter que permanecer confinada em casa e, ao mesmo tempo,
hiperconectada com as demandas de trabalho e outras pelos meios virtuais. Eu ainda assistia à
profusão de narrativas e manifestações que aumentavam as polarizações, as contradições, as
intolerâncias, os abismos, as desigualdades e os desafios que o projeto civilizatório capitalista
moderno vem historicamente produzindo e que, neste momento, parecem esquentar junto com
o aquecimento climático no planeta...
* * *
A aparição do minúsculo SARS-CoV-2 tornou evidente que as famílias e seus processos
de subjetivação, mesmo quando precisam isolar-se como agora, estão sempre conectados com
o que se passa “lá fora”. Neste momento, as famílias em sua diversidade vivenciam, em maior
ou menor grau, os ajustes que a máquina capitalista planetária têm feito diante pandemia. Por
um lado, a pandemia acarretou a desaceleração de diversos setores, com consequências como a
perda de empregos, a redução da ofertas de trabalhos para autônomos e a diminuição da renda
de inúmeras famílias. Por outro lado, a pandemia viabilizou o crescimento de outros setores,
especialmente aqueles ligados aos meios virtuais de produção, de prestação de serviços e de
compra e entrega doméstica de produtos, além do mercado financeiro (nada como uma, mais
uma crise, para aguçar a astúcia das previsões e apostas dos investidores). Isto também afetou
as famílias, com consequências nem sempre positivas: como a migração de capitais para os
centros financeiros “mais estáveis” e o consequente o aumento de instabilidade em países
economicamente mais frágeis; a desvalorização cambial e ou aumento de juros em certas
economias diante do aumento do risco de inadimplência de suas dívidas públicas causadas pela
crise econômica resultante da desaceleração sistêmica das molas produtivas; o aumento do valor
cobrado pelas logísticas de entrega de mercadorias. Essas e outras consequências resultaram
em aumento do custo de vida para as famílias, cujos impactos são sempre mais sentidos pelas
famílias mais pobres.
Ao nível micropolítico as famílias precisaram se adaptar ao que começou a ser chamado
“novo normal”. O sonho de muitos moralistas do século XVII, de que a família nuclear nos
moldes burgueses conquistasse seu devido isolamento e proteção do mundo exterior na
230
intimidade e no aconchego do seu lar, em poucos momentos históricos teve condições tão
adequadas para sua realização quanto agora. Com efeito, a pandemia e as medidas de
isolamento social tomadas contra ela resultaram em uma intensificação forçada de
funcionamentos familiares confinados no ambiente doméstico e em um aprofundamento de sua
separação em relação ao espaço público (ainda que as conexões virtuais com o “mundo
exterior” não só tenham permanecido, como aumentado para muitas famílias). Talvez por isso
um outro lado da moeda evidencia-se: evidenciam-se as contradições, as fragilidades, os
conflitos, os sofrimentos e os limites do modelo de família nuclear moderno, deflagrados aqui
e ali de diferentes formas98.
Não faltaram mulheres a expressar nas redes sociais sua exaustão ao perceberem-se
exigidas a cumprir as atividades produtivas de seus trabalhos em home office e cumprir as
atividades reprodutivas dentro de seus lares, tendo que lidar com todos os membros – marido
ou companheiro incluso – o tempo todo (ou quase) em casa, perguntando pelas refeições,
sujando o espaço e as roupas, reclamando da confusão, brigando, demandando atenção e
cuidado. Nesse contexto, muitos conflitos conjugais que pareciam abafados por rotinas de vida
que exigiam que os casais estivessem afastados boa parte de seu tempo, eclodiram com a
reclusão familiar e seu isolamento social. Na China, por exemplo, após a fase mais intensa de
contágio da pandemia e com a estabilização do número de novos casos da doença, o retorno da
população à rotina deflagrou, em diferentes cidades, um aumento dos pedidos de divórcio
(Oswald, 2020).
A chegada do confinamento doméstico trouxe ainda um aumento da violência doméstica
contra mulheres, adolescentes e crianças, perpetrada principalmente por homens em seus lares.
Violência que se intensificou pela oportunidade de ter as vítimas “presas” em casa, atrelada à
cultura patriarcal que, como vimos, é um dos importantes pilares das sociedades capitalistas
modernas, mesmo em suas configurações contemporâneas. Cultura que, em seu endurecimento
machista, sustenta pensamentos, discursos e práticas de que um homem acuado, intimidado,
ansioso, confinado, com raiva ou excitado “precisa” dar vazão a isso e pode acabar fazendo-o
com os mais vulneráveis dentro de sua própria casa. Cultura que está arraigada mesmo em
autoridades que deveriam transformá-la, como demonstrou o então Ministro da Justiça
98 Os aspectos considerados a seguir não excluem as flexibilizações, transformações e invenções que também ocorreram e que potencializaram as relações, aumentaram a autonomia e os bons encontros entre os membros de muitas famílias confinadas em suas residências.
231
brasileiro, Sérgio Moro, em 2019. Durante cerimônia pelos 13 anos da Lei Maria da Penha99 –
lei que visa proteger vítimas de violência intrafamiliar e de gênero – esse ministro afirmou que
os homens talvez agredissem as mulheres porque se sentiam intimidados pelo crescente papel
destas na sociedade. Como se o papel feminino não tivesse sido fundamental até então e como
se um homem, dentro das segmentações sociais estabelecidas pelos papéis de gênero e pelas
relações de poder que os sustentam, tivesse autorizado a transformar sua insegurança com o
papel das mulheres, ou sua ansiedade, raiva ou oportunidade em virtude do confinamento em
violência...
O aumento da violência doméstica fez com que o Fundo fiduciário da ONU de
enfrentamento à violência contra as mulheres (UNTF, na sigla em inglês) postulasse a
manutenção, mesmo durante a pandemia, das medidas protetivas e das equipes de apoio em
países como a Índia e a República Democrática do Congo (ONU Mulheres, 2020). Na
Argentina, pelo menos seis mulheres e meninas haviam sido assassinadas já nos primeiros nove
dias do confinamento doméstico e o número de ligações para as linhas que prestam atendimento
para casos de violência de gênero dispararam (Centenara, 2020). No Brasil, houve aumento
generalizado nos registros de violência doméstica. Em abril, segundo a Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos, as denúncias tinham aumentado 28% (Mugnatto, 2020). Em Minas Gerais,
o Conselho Regional de Psicologia publicou uma Nota Técnica alertando seus profissionais
sobre a situação da violência contra as mulheres durante a quarentena, após duas semanas do
decreto de isolamento social no estado (CRP-MG, 2020).
Ademais, é preciso considerar as situações em que o isolamento do grupo familiar
simplesmente não é possível diante da realidade socioeconômica de muitos. Para diversas
famílias no Brasil, permanecer isolado em casa evitando um convívio social mais amplo é
inviável. Por vezes o próprio contexto familiar é ampliado, envolvendo uma rede de apoio que
não se circunscreve a uma mesma moradia e exige o trânsito de seus membros para o necessário
compartilhamento de cuidados, suprimentos, dinheiro. Por vezes, mesmo estabelecidas em uma
mesma residência, as famílias não podem ter todos os seus membros em isolamento sob pena
de não conseguirem sobreviver. Esta é a realidade das famílias cujo sustento depende do
trabalho de algum(s) de seu(s) membro(s) em serviços considerados essenciais e que, por isso,
não pararam mesmo com os decretos de isolamento social horizontal: empregados de mercados,
farmácias, hospitais, postos de gasolina, por exemplo. Esta é a realidade ainda dos que contam
99 O evento, ocorrido em agosto de 2019, promoveu a assinatura do Pacto para Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres (Chaves, 2019).
232
com os recursos financeiros instáveis, tal como diaristas, vendedores ambulantes, motoristas de
aplicativos, entregadores, entre muitos outros prestadores de serviços autônomos que só são
remunerados pelos dias que efetivamente trabalham. No caso destes, que perfazem milhões de
brasileiros, a situação de fechamento compulsório das atividades não essenciais decretadas a
partir de março por estados e municípios impactou diretamente suas possibilidades de
conseguirem renda. Com isso, suas famílias passaram a encarar a geladeira, a despensa e o
bolso esvaziando-se rapidamente.
Diante dessa realidade, o Estado brasileiro acabou por conceder um auxílio emergencial
para famílias em situação de vulnerabilidade agravada. A primeira proposta, apresentada pelo
governo do presidente Jair Bolsonaro, foi o pagamento de um valor mensal de R$ 200,00. No
entanto, o legislativo federal acabou por aprovar a Lei n° 13.982 de 02 de abril de 2020,
definindo o auxílio emergencial em R$ 600,00 àquele que, cumulativamente, fosse maior de
dezoito anos, não tivesse emprego formal ativo, não fosse titular de benefício previdenciário ou
assistencial, nem beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda,
salvo o Programa Bolsa Família. Para solicitar o auxílio, era necessário ter renda familiar
mensal per capta de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários
mínimos, além de não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. A mulher
provedora de família monoparental obteve o direito de receber duas cotas do auxílio
(R$1.200,00).
Após a promulgação da lei, resolvo ligar para Cláudia, com quem mantinha mais contato
nas ocupações ligadas ao MLB. Quero saber como eles estão lidando com a determinação do
poder público municipal para que todas as pessoas permaneçam em casa, salvo aquelas que
estão trabalhando em serviços essenciais ou as que necessitam adquirir suprimentos ou resolver
alguma emergência de saúde ou segurança desde o dia 18 de março de 2020. Cláudia conta que
as lideranças haviam passado em todas as casas e orientado os moradores a permanecerem nas
residências, evitando a circulação pelas ruas das ocupações e a formação de aglomerações. Diz-
me que, quando podem, as pessoas estão permanecendo em casa. Mas que algumas, que já
tinham poucas condições, “agora é que não têm nada, nada mesmo para comer!”. Pergunto
sobre a cesta básica que a prefeitura estava distribuindo e ela me explica que, para uma família
pequena, a cesta servia, mas que não era suficiente para as famílias maiores. Quanto auxílio
emergencial do governo federal, muitas famílias estavam com dificuldade com o cadastro que
tinha que ser online e elas não sabiam como fazê-lo. E, mesmo para as que rapidamente
conseguiram fazer o cadastro, não havia previsão do pagamento. De fato, o socorro emergencial
233
aos trabalhadores autônomos, informais, microempreendedores individuais e intermitentes sem
emprego fixo e sem benefício previdenciário, seguro-desemprego ou outra fonte de renda
começou a ser feito, e de forma fracionada, mais de 20 dias após boa parte dos decretos de
isolamento social serem promulgados pelo país. Nesse cenário, as comunidades ligadas ao
MLB estavam se mobilizando para arrecadar alimentos e produtos de higiene para os mais
necessitados. Cláudia é seca ao comentar que não podiam contar somente com a assistência das
esferas estatais (municipal, estadual, federal), em geral insuficiente para as necessidades de
grande parte das famílias.
O auxílio começou a ser pago em abril, em cinco parcelas de R$ 600,00 (ou R$1.200,00
para as mulheres provedoras de famílias monoparentais). Paulatinamente, as famílias mais
vulneráveis que acompanhei nesta pesquisa começaram a recebê-lo, o que me causou certo
alívio, ainda que eu considerasse o montante insuficiente diante do custo de vida em Belo
Horizonte. Contudo, meses depois, surpreendo-me com a notícia dos efeitos do auxílio
emergencial na vida das famílias, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil.
Aquilo que eu considerava pouco – como uma família de quatro ou mais membros
poderia viver com R$600,00 por mês, algo equivalente a U$110,00?! – tinha provocado um
efeito significativo para a melhoria nas condições de vida a curto prazo de uma boa parcela das
famílias mais vulneráveis do Norte e do Nordeste do Brasil. Nessas duas regiões, as mais pobres
do país, o recebimento de R$600,00 tornou-se, para muitos, uma fase de bonança ou mesmo de
investimentos (reformas na moradia, aquisição de eletroeletrônicos e outros). Diego Garcia
(2020) destaca que 15 dos 16 estados do Nordeste viu sua economia inflar à medida que as
medidas de isolamento social eram afrouxadas pelas autoridades, fazendo com que os índices
de consumo das famílias ultrapassassem de forma significativa os índices anteriores à
pandemia. Como mostra a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2018d), 41% da população
da região Norte e 44% do Nordeste viviam com menos de R$ 420 por mês.
Após cinco meses de pagamento do valor de R$600,00 por pessoa (ou R$1.200,00 para
mulheres de famílias monoparentais) para todas as famílias brasileiras aprovadas no cadastro
federal, o governo, em nome da austeridade fiscal do Estado, determinou a redução do valor
para R$300,00 por mais três meses. Findo esse prazo, possivelmente as famílias deverão voltar
“se virar” como puderem.
Quanto às famílias participantes deste estudo, suas condições socioeconômicas e seus
recursos para se proteger da pandemia variaram muito. Com efeito, essas famílias vivenciaram
234
de formas muito diferentes a disseminação, os riscos de contágio e os impactos econômicos da
Covid-19. A competência comunitária em garantir um maior isolamento das famílias na aldeia
de Sandra e Iraí e no quilombo de Binho e sua família mostrou-se uma estratégia importante
para evitar uma chegada maciça do vírus, bem como para identificar rapidamente os casos. Na
aldeia da família de Ana, por outro lado, a dificuldade comunitária de organizar-se para o
isolamento social e a falta de informações adequadas sobre a prevenção acabaram por difundir
o vírus, que acometeu muitas pessoas. Ana conta-me que já chorara muito pelos que morriam.
Nas ocupações e mesmo para as famílias de classe média, a necessidade de sair para o trabalho
e conseguir seu sustento mostrou-se a principal forma de contágio, ao mesmo tempo que a
dependência dos serviços públicos de saúde se tornou um fator de apreensão para muitos diante
da possibilidade de lotação dos leitos e da falta de alternativas de cuidado. Os mais ricos, por
sua vez, conseguiram rapidamente ajeitar-se para um funcionamento familiar e laboral a partir
de suas residências, melhorando a velocidade do serviço de internet e adquirindo novos
equipamentos para uma boa comunicação virtual quando isso foi necessário. Sua preocupação
mostrou-se antes com a hiperconexão com as redes de informática, com as crianças e
adolescentes presos em casa sem ter o que fazer e com o excesso de trabalho realizado a
qualquer momento dentro de casa do que com a falta de recursos e condições para tratar a
Covid-19, caso fossem infectados.
* * *
Quando olhamos para este tempo que é o nosso – o dos viventes do início do século
XXI – deparamo-nos com uma série de inquietações às quais, com a entrada da década de 2020,
soma-se a chegada inesperada da Covid-19 diante da qual a humanidade ainda permanece
pasmada. Mas, antes mesmo dessa pandemia, talvez apenas uma longa e silenciosa vertigem
nos restasse como resposta às inquietações de nossa época. As mudanças no equilíbrio
biodinâmico do planeta que levaram milhares de pessoas, especialmente jovens, às ruas de mais
de 150 países em setembro de 2019 para a “Greve Global pelo Clima” anunciam a perspectiva
de um futuro tenebroso causado, entre outros, pelo aquecimento da temperatura média do
planeta, pela poluição dos oceanos, pela redução da biodiversidade e pelos resíduos tóxicos que
vêm se acumulando em grande parte do que consumimos. Perspectiva que, ainda assim, parece
pouco sensibilizar os chefes de Estado para atuarem fortemente no sentido de, ao menos,
235
minimizá-la. Por sua vez, os fluxos migratórios, oriundos de conflitos e guerras, bem como da
escassez de água consumível e de outros recursos naturais em algumas partes do globo, têm
mais acionado a xenofobia nacionalista dos habitantes dos países que recebem os imigrantes
(esta nação é para o seu povo!) do que uma preocupação humanitária em acolher os
desabrigados e rever as condições sistêmicas da axiomática capitalista que sempre relegou aos
povos do Sul (mesmo quando o Sul nasce nos contornos de Paris) as misérias, a poluição e os
lixos provenientes de nosso modo de vida. Também a flexibilização de leis ligadas à proteção
dos trabalhadores, as críticas ao peso orçamentário das previdências públicas, o
desinvestimento em políticas e programas sociais, entre outros, têm aparecido, aqui e ali,
justificados pela persistência das crises econômicas “internas” nos países, diante das quais é
preciso garantir a austeridade dos Estados, o equilíbrio do orçamento e, claro, o pagamento dos
juros das dívidas públicas. Observa-se ainda o enrijecimento polarizado de discursos e
propostas para os desafios e conflitos atuais que parecem mobilizar as pessoas mais para guerras
ideológicas alimentadas pelo ódio do(s) outro(s) lado(s) do que para saídas propositivas e
efetivas para os reais problemas que estamos enfrentando.
Nesse contexto, assinalo três movimentos que parecem colidir sobre nossas cabeças.
Primeiro movimento: as consequências do modo de vida humano orientado para uma
produção, seu consumo e descarte sempre crescentes. Nossa economia, de fato, é medida pelo
crescimento – aumento do PIB, aumento do parque industrial, aumento da safra de grãos,
aumento dos fluxos de capital nos mercados financeiros, aumento dos investimentos em novas
atividades e startups, aumento no consumo das famílias, aumento de vendas nas datas
comemorativas como o Natal, aumento das reservas cambiais, aumento..., aumento... –, como
se nosso equilíbrio civilizatório dependesse de uma linha crescente de exploração do planeta e
de produção de capital, de coisas e de lixo. Esse equilíbrio carrega o paradoxo de acelerar o
desequilíbrio das condições para a vida humana (e não-humana) no planeta.
Douglas Nuccitelli é uma das vozes da climatologia mundial que tem procurado difundir
às pessoas, no senso comum, informações que as ajudem a compreender a escalada do
aquecimento global desde a revolução industrial moderna, com a constante (e crescente)
descarga de poluentes na atmosfera, nos solos e oceanos desde então. Ele divulgou no
reconhecido blog Skeptical Science uma analogia a partir dos estudos publicados por Lijing
Cheng, John Abraham, Jiang Zhu et al. (2020). Nuccitelli (2020) destaca que o calor absorvido
pelos oceanos atingiu um novo recorde em 2019 e o montante de energia acumulada nos
236
oceanos tornou-se o equivalente à explosão de cinco bombas atômicas, como as de Hiroshima,
a cada segundo pelos últimos 25 anos100.
Mesmo que existam os negacionistas (sinceros ou de ocasião) sobre as alterações
ambientais no Sistema Terra, grande parcela dos cientistas especializados tem insistentemente,
e já há um bom tempo, apresentado dados e lançados alertas sobre o desastre ambiental que se
aproxima. Tal como a carta World Scientists’ Warning to Humanity: a second notice publicada
por mais de 15.000 cientistas de 184 países, um manifesto que delineia as perspectivas sinistras
para as condições de vida na Terra em um futuro próximo (Ripple et al., 2017).
Segundo movimento: o funcionamento transnacional do capitalismo, cujos fluxos
financeiros surfam pelos mercados e bolsas de valores e deslocam os investimentos concretos
em busca dos empreendimentos mais rentáveis onde quer que eles estejam. Megamáquina
planetária, o capitalismo atual parece observar apenas de longe e fazendo seus cálculos
estratégicos as crises que não param de exaurir, exterminar e empobrecer pelo mundo, como se
isso não fosse problema seu ou mesmo apresentando-se como parte fundamental da solução101.
Seus grandes (e poucos) donos conseguem movimentar-se mais onipresentes que
qualquer outro deus, acumulando mais riquezas que bilhões de pessoas. Estudo apresentado
pela Oxfam indicava que, em 2018, as 26 pessoas mais ricas do mundo detinham a mesma
riqueza de 3,8 bilhões de pobres, o que equivale à metade da população mundial (Max Lawson
et al., 2019). Essa impressionante desigualdade, após os primeiros meses da pandemia do
coronavírus em 2020, tinha se acentuado ainda mais, conforme diversos relatórios analisados
pela Radio France Internacional e replicados pelo Centro de Estudos Estratégicos (CEE) da
Fiocruz (2020). Os bilionários ligados aos setores de novas tecnologias e digital, bem como à
saúde atingiram lucros excepcionais em virtude da valorização de suas ações no mercado
financeiro. Alegra (2020) destaca que o presidente da Amazon, Jeff Bezos, e o presidente da
Tesla, Elon Musk, adicionaram 60 bilhões de dólares aos seus respectivos patrimônios líquidos
em 2020 e as 500 pessoas mais ricas do mundo atingiram, juntas, a riqueza de U$10,2 trilhões
após seis meses da pandemia pelo mundo, um recorde histórico.
Vários desses ultrarricos se preparam para viver de forma “pós-humana” diante da
100 Nuccitelli (2020) esclarece que o uso dessa comparação visa permitir que a maioria das pessoas, que dificilmente conseguem dimensionar o que significa o aumento de 10 zettajoules por ano na absorção de calor pela Terra, tenham uma melhor dimensão da situação a que estamos submetendo o planeta, nossa espécie e todas as demais. 101 As propostas dos chamados “capitalistas verdes” para os problemas climáticos são representativas desta postura. Conferir: Danowsky &Viveiros de Castro (2017).
237
possibilidade (cada vez mais provável) de que este mundo se tornará um lugar inóspito para a
vida humana (e não só humana) em virtude de uma catástrofe climática, da disseminação de
pandemias que tendem a aumentar com o desequilíbrio ambiental102, do crescimento de
insurreições produzidas por legiões de famintos e miseráveis, da intensificação de guerras entre
nações e regiões do planeta que sempre guardam a faceta monstruosa da possibilidade de uso
dos armamentos nucleares.
O mundo “pós-humano” dos ultrarricos, dispostos a gastar milhões ou bilhões de dólares
para construir sua fortaleza bem oxigenada ou seu cérebro computacional, envolve apostar em
um futuro sustentado pelas tecnologias e pela informática que seja capaz de fazê-los superar as
exigências e fragilidades impostas por nossa condição de animal humano. Como conta o
professor de mídia e tecnologias estadunidense Douglas Rushkoff (2018), em uma reunião com
grandes banqueiros de investimento, estes o perguntaram sobre o futuro das tecnologias. Como
pano de fundo, a preocupação desses investidores pouco tinha a ver com as possibilidades das
tecnologias ajudarem a salvar o mundo; o que eles queriam saber eram as possibilidades das
tecnologias viabilizarem o seu isolamento dos perigos reais colocados pelas mudanças
climáticas, pelo aumento do nível do mar, pelas migrações em massa, pelas pandemias globais,
pelo pânico e pelo esgotamento dos recursos naturais. Para esses investidores, o futuro da
tecnologia deveria viabilizar “blindarem-se” da catástrofe, como se a necessidade de blindagem
já não fosse, por si mesma, uma catástrofe humana e subjetiva.
Com a chegada do coronavírus, os ultrarricos dispararam sua demanda por bunkers -
estruturas ou redutos fortificados, parcialmente ou totalmente construídos embaixo da terra,
feitos para resistir a diferentes condições de guerra ou desastres naturais. Carlos Megía (2020)
ressalta que uma das empresas líderes do setor de bunkers – The Vivos Group – viu suas vendas
aumentarem 400% neste ano de 2020. O diretor-executivo dessa empresa qualifica seu ramo de
negócios, usufruído principalmente pelos CEOs das empresas de tecnologias e investidores
financeiros, como “projeto humanitário épico de sobrevivência” e esclarece que sua equipe está
estudando a construção de um resort de luxo, com apartamentos subterrâneos de cerca de 200
metros quadrados com sistema de filtragem de ar, piscina, academia e até um cinema para a
distração dos moradores enquanto o mundo pode esfacelar-se lá fora (Megía, 2020).
102 Em estudo apresentado em 2015, pesquisadores da Ecohealth Alliance, organização sem fins lucrativos de Nova York que faz mapeamento mundial de doenças infecciosas em parceria com outros pesquisadores, indicou que cerca de um em cada três surtos de doenças infecciosas em humanos está ligado à mudança no uso da terra, como o desmatamento (Daszak apud Fiocruz, 2019).
238
Do outro lado, os bilhões que não têm recursos para produzir sua própria blindagem ou,
pelo menos, seu isolamento nos condomínios cercados por seguranças estão à mercê das crises
de toda ordem – geopolíticas, econômicas, sanitárias, subjetivas, ambientais – que não param
de se suceder e que têm justificado as atuações estatais de Exceção. Atuações que ainda impõem
para uma parcela da população seus resultados necropolíticos – matá-los ou deixá-los morrer.
Com a chegada do coronavírus, a situação de pobreza e extrema pobreza acentuou-se
para milhões de famílias, empurrando um enorme contingente de pessoas para situações de
subvida. No Brasil e diante da chegada da Covid-19 no país, já em meados de março as
lideranças das favelas brasileiras procuravam tornar pública sua preocupação com a situação
das famílias dessas comunidades com alta concentração populacional e com poucas condições
de isolamento. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo que fica
separada apenas por um muro dos luxuosos prédios do bairro vizinho Morumbi, o líder
comunitário Gilson Reis expressou o que tantos ali conhecem sobre a capacidade necropolítica
do Estado brasileiro e diante da propagação do coronavírus: “O que pode acontecer é que vão
crescer tanto os casos [de Covid-19] nas favelas que eles vão trancar as favelas, bota o Exército,
ninguém sai e ninguém entra. E a gente está gritando socorro, para que alguém nos ajude, mas
até o momento estamos sendo ignorados" (Reis apud Guimarães, 2020).
Com efeito, os Estados têm se encarregado de dar um rosto, um nome e, muitas vezes,
uma mão de ferro para efetuar as axiomáticas do Capital. Estados que não se cansam de aceitar
as frequentes acusações sobre a pouca eficiência de suas políticas, programas e estratégias para
bem gerir as nações e melhorar as condições de vida de seus pobres, enquanto escondem,
sorrateiros, a sua grande eficácia em fazer o que realmente têm se proposto por toda a
modernidade e que, mesmo com os ajustes exigidos pelo capitalismo imperial, se mantém:
produzir um agenciamento sedentário que controla (e consome) sua Terra e seu Povo em prol
das elites políticas e econômicas, o que nem os Estados socialistas ousaram de fato extinguir.
Como pondera Scheinvar (2006), ao contrário da ausência de intervenções estatais que o
pensamento neoliberal tem professado de maneira universal contemporaneamente, a presença
forte e decisiva do Estado mostra-se fundamental nas áreas de interesse da ordem burguesa.
“Ou seja, na defesa do mercado, é clara a intervenção do Estado, embora não se assuma
publicamente que esta é a sua única e verdadeira prioridade, aparecendo travestida de
preocupações por justiça e segurança” (p. 51).
Por fim, o terceiro movimento: a enorme dependência material e subjetiva de bilhões de
seres humanos e suas famílias do modo de vida capitalista moderno. Sem a logística de
239
produção e consumo do capitalismo e sem a organização e o controle dos Estados, o caos e a
destruição parecem ameaçar efetivamente as condições de sobrevivência de grande parte da
humanidade. Por outro lado, em seus diferentes aspectos esse modo de vida se sustenta por
causa da dependência material e psicológica que torna indivíduos e famílias, nos níveis mais
primários de sua sobrevivência, vinculados ao bom funcionamento do sistema (Comitê
Invisível, 2016). Os efeitos subjetivos dessa dependência, especialmente dentro das lógicas do
Controle com as mudanças e oscilações que não param de acontecer pelo mundo, não podem
ser ignorados. “[...] a retórica da mudança serve para desmantelar qualquer hábito, quebrar
quaisquer laços, desfazer qualquer evidência, dissuadir qualquer solidariedade, manter uma
insegurança existencial crônica” (Comitê Invisível, 2016, p. 26). Não apenas as identidades
individuais, também as políticas públicas, a economia, as cidades, as relações, tudo deve
permanecer em um estado de modulação e flexibilidade constantes, ajustáveis às exigências das
crises que, antes de serem um fato econômico, são cada vez mais utilizadas como técnica de
governo e como justificativa para intervenções do Estado de Exceção.
E nada é mais poderoso que o medo para desmobilizar as multidões e para fazer a massa
populacional aderir (e até desejar) às mais cruéis políticas de austeridade como a última saída
para sua sobrevivência. O medo da violência, da miséria, do abandono são a força primária que
isola os indivíduos e que cria segmentações (Negri e Hardt, 2000/2006). Ele é, de fato, uma
ferramenta biopolítica de mobilização subjetiva muito eficiente.
Nesse sentido, diante das medidas sanitárias de distanciamento social e de restrição das
atividades econômicas determinados pela pandemia, há os que expressam nas mídias e redes
sociais seu desejo de voltar “a como era antes”, o mais rápido possível e com ainda mais
engajamento e cooperação de todos. Apostam que o retorno da máquina capitalista funcionando
a todo vapor, apoiada pelos Estados e sustentada pela dedicação das famílias, é imprescindível
para se evitar o caos e a barbárie. Muitos temem que a vida seria ainda mais miserável em
qualquer maneira de existir diferente do atual modo de vida dominante, que foi gestado como
fruto do progresso e do domínio do Homem sobre a Terra e divulgado como o ápice de todas
as civilizações. Difunde-se, entre essas pessoas, o argumento de que, de uma maneira geral, as
condições de existência dos humanos melhoraram muito com a chegada da modernidade
capitalista e de seus recursos tecno-científicos, que proporcionaram, por exemplo, o aumento
da expectativa de vida, a ampliação das condições sanitárias e dos cuidados com a saúde, um
amplo acesso a produtos e serviços. Todavia, tal argumento enfoca exclusivamente os seres
humanos inseridos neste modo de vida e nunca com todos gozando dos mesmos benefícios; e
240
justifica que os Excluídos (os povos não modernos ou modernizados) precisam, para
“melhorarem”, inserir-se nesse modo de vida. Quem aposta nesse argumento parece não avaliar
(ou não se importar com) o fato de que, se todas as pessoas vivessem da maneira como o faz
um belo exemplar do modo de vida capitalista moderno – um estadunidense de classe média –
seriam necessários de três a seis planetas Terra fornecendo os recursos para a vida humana, o
que torna o argumento contraditório diante da complexidade dos desafios e problemas oriundos
do estilo de vida do Homem Moderno103. Ademais, é preciso considerar que as segmentações
inerentes ao projeto civilizatório capitalista moderno exigem que uma grande parcela dos
humanos, além de todos os demais viventes do planeta, insiram-se no seu modo de vida como
pobres ou como objeto de uso e consumo dos bem-sucedidos, ainda que (é preciso também
reconhecer) todos estamos em uma enorme enrascada ético-política e ambiental.
“Um outro fim de mundo é possível?”104
Estamos diante da chegada de um fim. A rigor, todos os viventes deste planeta (o planeta
inclusive) nascem fadados a chegar ao fim algum dia, a não mais existir tal como nasceram Ou
se formaram. Seus restos e rastros irão dissipar-se, transformar-se e ganhar outras conexões
que, também elas, tendem, em algum momento mais ou menos distante, a se desfazerem e
refazerem-se. É possível considerar que há muitos fins depois de um fim... probabilidades e
acontecimentos. Talvez, algum dia, tudo realmente acabe. Algo como um apagar das luzes e
um desintegrar dos corpos; algo como o estabelecimento do vazio e do silêncio absolutos em
que apenas o Nada resiste. Mas, como vivente deste planeta e com os recursos do meu corpo-
pensamento, considero que a suposição deste fim me importa menos do que o fim que se
anuncia, cada vez com mais força, para o modo como aprendi a ser humana e que é cada vez
mais engolido por suas contradições, tensionamentos, excessos, imprevistos, com todas as
consequências para humanos, para não-humanos e para o próprio planeta.
103 Sobre o consumo do planeta pelo estilo de vida de um humano moderno “médio”, conferir as análises do economista francês Serge Latouche (1989 e 2009). 104 Frase pichada em um dos muros da Universidade de Nanterre em Paris, em 2016, durante as manifestações contra a reforma trabalhista proposta pelo governo do presidente François Hollande. A justificativa do governo para a reforma era tornar o mercado de trabalho mais flexível para diminuir o desemprego na França.
241
Danowski (2019) indica algumas das “saídas” sociosubjetivas efetuadas diante desse
fim. “É verdade que, diante desse cenário, não são poucos os que buscam e encontram conforto
no pensamento de que algum tipo de ‘salvação’ é possível” (p. 87).
Há, como vimos, os ultrarricos que têm procurado adquirir seus bunkers privados e
seguros para sua salvação, pouco se importando com o que pode acontecer com os outros 99%
dos seres humanos. Eles estão crentes de que seu dinheiro, poder e recursos adquiridos neste
mundo serão o suficiente para perseverarem em qualquer outro modo de vida. Há ainda os
crentes nos avanços tecno-científicos, aqueles que acreditam na capacidade da ciência moderna
de nos tirar, a qualquer momento, da enrascada ambiental-civilizatória em que nos
encontramos. Como se a mesma ciência que, articulada às lógicas racionalistas modernas e às
lógicas capitalistas de produção e consumo, nos trouxe até aqui fosse capaz, por si só, de
reorientar as relações de poder em jogo, os modos de subjetivação hegemônicos, a maneira
como a modernidade capitalista se relaciona com a Terra. Lembro-me, nesse sentido, do
comentário de uma aluna em resposta à minha preocupação a respeito dos riscos da extinção
das abelhas em virtude do uso de agrotóxicos tal como a agroindústria tem feito. As abelhas
são responsáveis por cerca de 90% do processo de polinização para a reprodução vegetal. Com
sua drástica redução, possivelmente não teremos alimentos suficientes para grande parte dos
viventes do planeta, o que inclui os seres humanos. A aluna me tranquiliza, explicando que,
naquela semana, justamente, tinha lido uma reportagem sobre isso e que cientistas já estavam
desenvolvendo uma “abelha robô” a partir da tecnologia dos mini-drones e que estas poderiam
substituir as “outras” abelhas. Pergunto-lhe se a reportagem havia colocado o “custo planeta”
da extração e transformação dos minerais para a produção de milhões de abelhas robôs. Diante
de seu silêncio pensativo, ainda questiono: “Até onde conseguiremos seguir retirando do
planeta, de seu solo, de sua água, de seus animais (inclusive humanos) os recursos para construir
equipamentos e tecnologias que nos permitam nos salvar exatamente das consequências
degradantes dessa própria extração de recursos, tal como temos feito?” Minha aluna responde
com um profundo suspiro e os olhos soltos no horizonte. Ninguém na sala encontra outra
resposta.
Danowski (2019) destaca, por outro lado, os descrentes, negacionistas de toda ordem:
os que preferem “nem pensar nisso” ou não conseguem acreditar que estamos mesmo diante de
um colapso; os que se seguram em teorias conspiratórias, nutrindo-se emocionalmente dos
“fatos” que seu(s) grupo(s) divulga(m) nas redes sociais, para indicar “o inimigo”, em geral
nomeável mas inalcançável, causador do que está acontecendo (um plano do governo chinês,
242
russo ou estadunidense para enfraquecer todos os demais e dominar o mundo, por exemplo); e
os que deliberadamente produzem desinformação para manter negócios, interesses e ganhos a
despeito da nossa condição comum105.
Cumpre lembrar, por fim, dos que, a partir de seus vínculos religiosos, consolam-se com
a crença de que a salvação ocorrerá depois, após a morte desta vida difícil, miserável na Terra.
Há uma vida melhor, muito melhor por vir, em outro lugar.
Em todos esses casos e em muitos outros, junto à crença na salvação, podemos perceber uma descrença, pelos sujeitos e comunidades em questão, em sua capacidade de lidar, aqui e agora, com a situação que os preocupa e os afeta negativamente, ou, se quisermos, uma desconexão entre sua qualidade de agentes e suas ações (Spinoza talvez dissesse: uma separação entre o corpo e aquilo que esse corpo pode). Aliás, essa desconexão não se limita a uma condição subjetiva, de causas psicológicas e individuais (conscientes ou inconscientes), mas nos tem sido antes imposta como peça fundamental de sustentação da economia capitalista industrial baseada no consumo. (Danowski, 2019, p. 89)
Nosso modo de vida, baseado na enorme dependência que temos do sistema capitalista
em suas atuais dimensões planetárias, como dito acima, parece não encontrar mais maneiras
satisfatórias de lidar com este mundo, nem de produzir, aqui e agora, novos modos de existir.
Esta é uma das reflexões de Zé, personagem do filme Fábrica de Nada, de Pedro Pinho (2017).
Filmado em Portugal, o filme conta a luta dos funcionários de uma empresa multinacional de
elevadores, após serem surpreendidos, certa noite, com dois estranhos carregando caminhões
com as máquinas, matérias-primas e computadores da fábrica.
Os trabalhadores resolvem fazer uma vigília para proteger o que conseguiram salvar do
patrimônio da fábrica, mas, no dia seguinte, recebem nova surpresa: ficam sabendo que é a
própria administração da empresa que está a retirar as máquinas para “reajustar postos de
trabalhos” em virtude da crise econômica. Os funcionários percebem que o verdadeiro intuito
da retirada das máquinas é impossibilitar que trabalhem para, com isso, aceitarem negociar as
rescisões dos contratos de trabalho por valores muito inferiores ao que teriam direito. Para isso
não ocorrer, resolvem ocupar a fábrica e vigiar seu maquinário. Precisam ainda ficar em seus
postos de trabalho no horário contratado, mesmo sem fazer nada, para não abrirem brechas
legais para demissões por justa causa. O filme retrata uma luta repleta de tensões e dilemas do
grupo de trabalhadores que consegue resistir por cinco meses, sem receber os salários,
105 Danowski (2019) lembra do chocante exemplo da mega companhia ExxonMobil, que, ao receber os resultados de uma pesquisa científica que encomendara nos anos 1970 e cujos resultados demonstraram a necessidade de imediata redução nas emissões da queima de combustíveis fósseis, não só omitiu a pesquisa como financiou falsas pesquisas que dissessem o contrário.
243
ocupando a fábrica. Luta que atravessa sua vida pessoal, a necessidade de cuidar e alimentar a
família, seus sonhos e medos, ao mesmo tempo que está conectada com aspectos mais amplos
de uma crise econômica que vai demolindo e empobrecendo o entorno da fábrica e além.
A certa altura, os trabalhadores constatam que a administração da multinacional
abandonou a fábrica, bem como esvaziou o escritório central, saindo do país. Nesse cenário, o
grupo percebe-se dono da fábrica sem saber exatamente o que fazer com isso, ao mesmo tempo
que recebe a ajuda de um cineasta francês interessado em fazer um documentário da situação.
Após o contato de uma empresa argentina interessada em realizar uma boa encomenda de
elevadores que poderia, finalmente, garantir a volta da fábrica à operação e o recebimento dos
salários, o grupo é tomado por uma grande euforia que se expressa de forma apoteótica com
um musical. Parece que o filme e sua estória, após mais de duas horas e meia já passadas, vai
enfim se resolver e acalmar tanto os personagens quanto os expectadores. No entanto, uma nova
camada de dilemas e desafios se coloca: Como fazer a autogestão da fábrica pelos próprios
funcionários? Como dividir os salários? É possível suportar que todos irão ganhar o mesmo
tanto, desde o mais especializado ao menos, considerando que cada um é importante para o
funcionamento da fábrica? Quem sabe dimensionar os custos e o valor a cobrar? Como vamos
conseguir crédito para comprar matéria-prima?
Diante da dificuldade coletiva em construir respostas para essas questões e muitas
outras, depois de meses de luta e dificuldades financeiras, Zé trava com o cineasta francês um
dos diálogos mais potentes do filme. Neste, desabafa:
Ninguém ali quer gerir uma fábrica. As pessoas querem qualquer coisa estável. Precisamos de dinheiro para comer! Táis a ver? Para pagar as contas, a escola dos putos106. Ninguém vai ser sujeito histórico que vai derrubar o capitalismo. Por mais nojo que te metas, nós somos isso: nós somos o capitalismo. Esse teu discurso da referência [da experiência da fábrica] para a esquerda europeia, esse discurso de esquerda é a maior merda que existe! Se queres fazer uma divisão no mundo, duns contra outros, não é entre esquerda e direita. É, de um lado, os que tão de acordo com este mundo, os que aceitam isso tudo, e, do outro, os que estão prontos a abdicar do conforto, dos telemóveis107, das viagens à Lua, dos tupperwares. E a notícia triste que tenho pra ti é que ninguém está disposto a abdicar disso. Ninguém tá desse lado. E quanto menos recursos as pessoas têm, mais querem vir pro outro lado, o mais depressa possível. (Zé)
Na cena do filme, catártica ao estilo português, Zé deflagra uma das mais profundas
segmentações sociais: esta que traça a cisão entre a nossa civilização e a(s) outra(s) (não há
somente dois lados, Zé, há vários...). Seu tensionamento talvez esteja principalmente na crueza
106 Meninos em idade escolar. 107 Aparelhos celulares.
244
da constatação de que, diante da enrascada civilizatória-ambiental em que nos encontramos,
está cada vez mais difícil fazer ajustes e negociações, realizar a flexibilização das linhas de
segmentaridade dura, ficar “do lado de cá”. Por outro lado, quem consegue abandonar esse
projeto civilizatório a partir do qual a enorme parte dos humanos viventes neste momento
aprenderam a ser humanos e do qual foram ensinados a ser dependentes? É preciso produzir
novos modos de vida, mas quem está disposto a fazê-lo ultrapassando o limite radical do “outro
lado”, ou, nas palavras de Deleuze e Guattari (1980/1997b), rumo ao Fora?
Se eu posso ensaiar uma resposta, eu diria: Zé, há muitos que já estão Fora, mesmo se
seguem continuamente sendo empurrados para se inserirem e forçados a se empobrecerem de
seus modos de vida para alcançarem o conforto dos celulares, tupperwares e tudo o mais.
Relatório produzido pelo Economic and Social Council da ONU (2015) estimou a existência
de cerca de 370 milhões de indígenas espalhados pelo mundo em 2015. Indígenas que “[...] não
se reconhecem nem são reconhecidos como cidadãos-padrão dos Estados que os engloba e,
frequentemente, os dividem” (Danowski & Viveiros de Castro, 2017, p. 132). Juntos, eles são
mais numerosos que soma das populações de EUA e Canadá e seguem procurando brechas,
refúgios, estratégias e alianças para se manterem como Fora deste modo de vida. Há ainda
aqueles que, delegados às bordas e aos restos de nossa civilização (ainda que sua energia vital
seja imprescindível para que o sistema se sustente enquanto tal), procuram agenciar resistências,
invenções, escapes, suas máquinas de guerra. Porém, Zé, não é mesmo uma tarefa fácil...
Na conversa que tive com Ju e Lu em sua casa em uma das ocupações do MLB em 2018,
eu lhes pergunto sobre a Terra, o que acham dela. É uma pergunta propositalmente ampla, para
a qual escuto a seguinte resposta de Lu: “Ah, a terra aqui da ocupação é muito ruim. Ô poeira!”.
Ela se referia à poeira que o chão de terra batida provocava e que “sujava tudo”. Sempre achei
graça nisso da terra ser suja, ser percebida como mais suja do que toda a estranha química que
usamos para limpá-la de nossas casas e roupas. Química que, em grande medida, acaba por
poluir águas e solos. Enfim, estreito a pergunta e explico a Lu que me refiro principalmente ao
planeta Terra. Olhando-me com desconfiança, Lu confessa que isso [o planeta] não é algo que
lhe passa pela cabeça, porque tem muitas outras coisas perto dela para pensar e resolver. Acho
graça de novo, nisso do planeta, este no qual pisamos e do qual nos alimentamos continuamente,
com seu ar, sua água e os alimentos do seu solo, ser algo mais distante do que as outras questões
cotidianas.
Já no apartamento de classe média alugado pelo casal Wander e Denise, quando lhes
pergunto sobre a Terra, Wander prontamente me responde que ela é muito importante e, por
245
isso, eles estão ensinando à filha Elisa, com seus dois anos, para que se importe com “cuidar do
planeta”. Pergunto-lhes como estão ensinando. Neste momento, o pai pede à criança para que
largue por um minuto a televisão, à qual ela permanecia conectada enquanto nós, os adultos,
conversávamos. A menina escorrega do sofá onde estava quieta há mais de uma hora e corre
para a cozinha, onde o pai a espera. Os dois desaparecem cozinha adentro por alguns segundos.
Quando reaparecerem, o pai traz o sorriso de quem faz uma boa ação e a filha, com um rabo de
olho na TV, segura um pequeno vaso com uma planta ainda menor, fincada solitária em seu
meio. Ao olhar a planta, tenho a impressão de que ela está a se perguntar o que está fazendo ali.
Na visita à casa de Renata, Vaninho e três filhos, em um condomínio de luxo, converso
sobre a experiência deles se mudarem de um apartamento para uma casa cercada por matas de
preservação. Renata explica que se mudou porque Vaninho queria muito e que, com poucos
meses ali, já havia encontrado duas cobras no jardim e um rato na cozinha! Ela me explica que
não gosta desses “invasores” e que queria uma equipe de dedetização toda semana em sua casa
para jogar veneno neles. Penso em perguntar a Renata quem era, de fato, o invasor daquele
ambiente, se é que podíamos colocar as coisas nesses termos. Penso ainda em ponderar se
distribuir veneno por sua casa era a única ou a melhor solução para lidar com outros animais
(além dos próprios humanos). No entanto, permaneço calada e dedicada apenas a registrar o
que escuto. Sei que essa visão da natureza e dos outros viventes deste planeta como nossos
inimigos, salvo quando aprisionados, controlados, consumidos ou domesticados por nós, não
se resume a uns poucos excêntricos; ela faz parte estrutural do projeto civilizatório em que
Renata e eu mesma aprendemos a existir. No meu caso, cresci vendo, nos almoços em família
no domingo na casa de meus avós, o horror aos mosquitos que parecia contaminar todos os
adultos, que se portavam como exemplos sóbrios contra os insetos, a serem seguidos pelas
crianças. À mesa do almoço, meu avô por vezes se assentava com um vidro de Detefon108 ao
lado, para baforar seu líquido em qualquer mosquito enxerido que se metesse com a nossa
comida, considerando como dano secundário o espalhar do veneno sobre os pratos e alimentos.
Mesmo para aqueles sujeitos e famílias que procuram resistir e reinventar-se diante da
vulnerabilidade e da precarização produzidos por este mundo, há sempre o chamado sedutor
para comporem com os bem-sucedidos “do lado de cá”. Há sempre a instigação para que
desejem “[...] vir pro outro lado, o mais depressa possível”, como disse Zé no filme que relato
acima. Nesse sentido, observo as mudanças nas ocupações que acompanhei ao longo da
108 Marca de um inseticida, vendido em um recipiente com válvula spray para difusão do conteúdo.
246
pesquisa. Observo o crescimento dos muros, que se tornam mais altos à medida que as famílias
se estabelecem e, com moradia própria, alcançam uma folga orçamentária. Esses muros isolam-
nas dos vizinhos, bem como das práticas e compartilhamentos comunitários. Em alguma
medida, funcionar conforme as lógicas privatizadas, de forma mais individualizada e
“independente” é sinal de evolução familiar e progresso social para muitos. Ao retomar as
anotações feitas ao longo das visitas às famílias das ocupações, percebo que todas elas, à
exceção de Dona Maria, indicam o sonho (realizado ou por vir) de conseguir comprar de um
carro particular. Nenhuma família indica a melhora do transporte coletivo com políticas de
mobilidade urbana efetivamente acessíveis e bem executadas como um sonho seu, como sinal
de progresso... Como conclui sabiamente Dona Maria: “aqui antes era só canela [das pessoas
que passavam a pé]; agora é só carrão”.
É certo que isso não desmantela a máquina de guerra do MLB, ainda que exija que suas
lideranças se mantenham sempre ativas e atentas, mobilizando corpos e desejos, palavras e
sonhos – novos sonhos – dos que a compõem. Cláudia me explica que “o individualismo que
toma certas famílias” não elimina o senso e o trabalho coletivo da maioria. E “até os
individualistas se aproximam”, quando percebem as conquistas que a comunidade está a fazer
em virtude de suas mobilizações, lutas e conexões.
Assumir e privilegiar as linhas de segmentaridade que compõem nosso modo de vida
ocorrem por todos os lados. Famílias indígenas, quilombolas, famílias das ricas às pobres, há
sempre os que cedem aos enlaces discursivos e práticos que essas linhas produziram e tiveram
muita eficiência em difundir globalmente. Deslocar-se delas, com efeito, envolve sempre mais
do que uma escolha consciente. É preciso, como lembra Suely Rolnik (2018), todo um trabalho
de desmanche das engrenagens coloniais-capitalísticas que operam ao nível do nosso corpo-
pensamento-inconsciente. Esse trabalho implica libertar nossa força vital de um funcionamento
subjugado a “[...] esse seco logocentrismo e seus falsos problemas [...], ao poder da equipe de
fantasmas nascidos da submissão ao inconsciente colonial-capitalístico, que ainda hoje
comanda as subjetividades e orienta as jogadas do desejo” (p. 92).
Nesse cenário e com as forças que estão em jogo, não se trata de simplesmente aceitar
que “estamos fritos” (talvez em um sentido literal). Acompanho Rolnik (2018) em sua
ponderação de que não se trata de sonhar com o suposto gozo de um gran finale apocalíptico,
nem se trata de resignar-se à espera da chegada da passagem gloriosa para o verdadeiro reino
dos homens de bem, seja este qual for. Expectativas que, segundo a autora, são próprias de uma
247
subjetividade reduzida a um sujeito centrado em suas demandas egóicas que, antes e acima de
tudo, espera por sua (própria) salvação e ou satisfação.
Para encontrarmos um outro fim de mundo possível parece fundamental sairmos do
casulo narcísico que a modernidade construiu para seu Sujeito, de forma a encontrar mundos...
a Terra, a Vida, o Outro, multiplicidades, devir. Diante dos desafios que se colocam, é preciso
assumir que estamos – indivíduos, famílias, comunidades, nações e todos os demais viventes
do planeta – no meio. Estamos entre as relações de forças e as linhas que produziram e
sustentam continuamente este mundo. Aqui, procurei acompanhar algumas dessas relações de
força, linhas e conexões que estão sendo produzidas, reproduzidas, desfeitas e inventadas nos
fluxos e nas formas, tanto ao nível macro quanto micropolítico. Em especial, enfoquei as
famílias por considerar sua posição estratégica para os processos de subjetivação, para a
efetuação dos aparelhos de Estado, para a difusão das lógicas, práticas e discursos da
modernidade capitalista, como também para a produção de invenções, de outros mundos, de
máquinas de guerra. No fim das contas, espero ter contribuído com pistas e inspirações.
249
POSFÁCIO: HAVERÁ FLORES EM BADLANDS?
Eis que meu corpo permanece no centro da guerra. Não consigo dizer quais são as
chances de escapar desta massa tão espessa: está no ar e a fumaça me atesta, está no chão e o
asfalto me assegura. Seus ruídos são tão altos que penetram ouvidos, boca, nariz e ânus, fazendo
o corpo vibrar tão rapidamente que só me resta ficar parada. Pelos lábios entreabertos uma gota
de saliva insinua-se, mas para, assustada diante da multidão – de turistas, de automóveis, de
tocos de cigarro, de letreiros luminosos. A risada da moça que balança seu drink no ar em uma
mesa do Café poderia ser um grito de socorro, de quem talvez tema mais a dor do parto do que
um remédio para dormir. Estudo as chances de fuga. Meus pés pedem o contato com a pele nua
da Terra. Meus olhos tentam ajudá-los e põem-se a procurar, afoitos, algo que não seja tão
demasiadamente humano. Mas é do céu que chega a salvação, como um milagre a acontecer no
instante de maior angústia e solidão. Um mira tão precisa quanto improvável faz o pombo em
movimento acertar com um presente da natureza a minha cabeça. E o cocô escorre pelos cabelos
enquanto meus olhos se enchem de lágrimas.
250
REFERÊNCIAS
"Índio tá evoluindo, cada vez mais é ser humano igual a nós", diz Bolsonaro. (2020, 23 janeiro). Notícias Uol. Recuperado a partir de https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/23/indio-ta-evoluindo-cada-vez-mais-e-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro.htm
Agamben, G. (1993). A comunidade que vem. Lisboa: Editorial Presença.
Agamben, G. (2004). Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo.
Agência Brasil (2018, 30 maio). Poluição em SP cai pela metade com paralisação de caminhoneiros. Revista Veja. Recuperado a partir de https://veja.abril.com.br/brasil/poluicao-em-sp-cai-pela-metade-com-paralisacao-de-caminhoneiros/
Agrela, L. (2020, outubro). No ano da pandemia de covid-19, mais ricos ganharam US$813 bilhões. Exame. Recuperado a partir de https://exame.com/negocios/no-ano-da-pandemia-de-covid-19-mais-ricos-ganharam-us813-bilhoes/
Albuquerque, E. M. (2009). Avaliação da técnica de amostragem “Respondent-driven Sampling” na estimação de prevalências de Doenças Transmissíveis em populações organizadas em redes complexas. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), Rio de Janeiro: Fiocruz. Dissertação de Mestrado, 99p.
Alves, H. N. (2012). Tributação e injustiça social no Brasil. Espaço Acadêmico, 12 (133), 69-78. Recuperado a partir de http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/14965
Andrés, R. (2018, 02 junho). Como superar a República Rodoviarista do Brasil. Outras Palavras. Recuperado a partir de https://outraspalavras.net/sem-categoria/como-superar-a-republica-rodoviarista-do-brasil/
Anzolin, A. S. (2013). Aldeias e aldeamentos no século XVI. In BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Recuperado a partir de http://lhs.unb.br/atlas/Aldeias_e_aldeamentos_no_s%C3%A9culo_XVI
Ariès, P. (1960). A história social da criança e da família. (2ª ed.). Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. (Obra original publicada em 1960).
Augusto, A. (2010, jan/jun). Para além da prisão-prédio: as periferias como campos de concentração a céu aberto. Cadernos Metrópole, São Paulo, 12 (23), 263-276. Recuperado a partir de https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/5933
251
Barros, L. P. & Kastrup, V. (2009). Cartografar é acompanhar processos. In Passos, E., Kastrup, V. & Escóssia, L. (Orgs.) Pistas do Método da Cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade, Porto Alegre: Sulina, pp. 52-75.
Barros, R. B. (2002). O Movimento do Institucionalismo e as práticas comunitárias. Anais. I Congresso Brasileiro de Psicologia da Comunidade e Trabalho Social, tomo 2. Belo Horizonte: Rumos Editorial.
Barthes, R. (1953). O Grau Zero da Escrita, Lisboa: Edições 70, 2006. (Obra original publicada em 1953).
Berquó, E. (1998). Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica. In Schwarcz L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil, volume 4: contrastes da intimidade contemporânea. (Fernando Novais, org. coleção). São Paulo: Companhia das Letras, pp. 411-438.
Brasil. Ministério da Infraestrutura (2014). Transportes no Brasil, síntese histórica. Recuperado a partir de https://infraestrutura.gov.br/conteudo/136-transportes-no-brasil-sintese-historica.html
Brum, E. (2014). Diálogos sobre o fim do mundo. El Pais Brasil. Recuperado a partir de https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/29/opinion/1412000283_365191.html
Bulow, J. (1986, novembro). An Economic Theory of Planned Obsolescence. The Quarterly Journal of Economics. Havard College, 101 (4), pp. 729-750. DOI: 10.2307/1884176.
Caiafa, J. (2007). Aventuras das cidades: ensaios e etnografias. Rio de Janeiro: FGV.
Canuto, F. (2017). Da carnavalização do planejamento urbano para Belo Horizonte-para-a-guerra: da política ao Político e vice-versa. Anais Sessão Temática 9: Novos movimentos e estratégias de luta urbana e regional. XVII ENANPUR: desenvolvimento, crise e resistência, quais os caminhos do planejamento urbano e regional? São Paulo, 22 a 26 de maio de 2017. Recuperado a partir de http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%209/ST%209.3/ST%209.3-04.pdf
Cardoso, M. L. M. & Romagnoli, R. C. (2019). Contribuições da cartografia para a produção de uma ciência nômade. Polis & Psique, 9 (3), pp. 6-25. DOI: https://doi.org/10.22456/2238-152X.79933
Cardoso, M. L. M. (2019). As estratégias metodológicas de uma pesquisa sobre a percepção de membros das comunidades de Betim-MG acerca da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. In Cardoso, M. L. M. & Romagnoli, R. C. (org.). Rede em Ação e o enfrentamento da violência intrafamiliar. Curitiba: CRV, pp. 103-128.
252
Cavalcante, I. (2017, 2 novembro). Vida útil das suas postagens nas Redes Sociais, Inbounder: inteligência em marketing digital. Recuperado a partir de https://www.inbounder.com.br/vida-util-das-suas-postagens-nas-redes-sociais/
Centenera, M. (2020, 30 março). El asesinato de una madre y su hija en Argentina enciende las alarmas por la violencia durante la cuarentena. El Pais, Buenos Aires. Recuperado a partir de: https://elpais.com/sociedad/2020-03-30/el-asesinato-de-una-madre-y-su-hija-en-argentina-enciende-las-alarmas-por-la-violencia-durante-la-cuarentena.html
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. (2017). A ciência e a tecnologia no olhar dos brasileiros: percepção pública da Ciências & Tecnologia no Brasil 2015. Brasília, DF: CGEE. Recuperado a partir de https://www.cgee.org.br/documents/10182/734063/percepcao_web.pdf
Chaves, T. (2019, 07 Agosto). Sérgio Moro diz que homens violentam mulheres pois se sentem intimidados. Carta Capital. Recuperado a partir de: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/sergio-moro-diz-que-homens-violentam-mulheres-pois-se-sentem-intimidados/
Cheng, L., Abraham, J., Zhu, J. et al. (2020). Record-Setting Ocean Warmth Continued in Advances in Atmospheric Sciences, 37, pp. 137-142. DOI: https://doi.org/10.1007/s00376-020-9283-7
Cintra, A. M. S. et al. (2017, abr.). Cartografia nas pesquisas científicas: uma revisão integrativa. Fractal Revista de Psicologia, Rio de Janeiro, 29 (1), pp. 45-53. DOI: http://dx.doi.org/10.22409/1984-0292/v29i1/1453.c
Cocolo, A. C. & Brunieri, C. M. (2014). Uma batalha ainda longe do fim: entrevista Projeto Xingu. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Comunicação Institucional. Recuperado a partir de https://www.unifesp.br/reitoria/dci/component/k2/item/1919-uma-batalha-ainda-longe-do-fim
Comitê Invisível (2016). Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo: n-1 edições.
Confederação Nacional de Transporte (2018). Anuário. Recuperado a partir de http://anuariodotransporte.cnt.org.br/2018/Rodoviario/1-3-1-1-1-/Malha-rodovi%C3% A1ria-total
Constituição da República Federativa do Brasil (1988, 5 outubro). (2020). Brasília: Senado.
Corrêa, M. (1981, maio). Repensando a família patriarcal brasileira. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 37, 5-16.
Costa, J. F. (1979). Ordem médica e norma familiar (3ª ed.). Rio de Janeiro: Graal, 1989. (Obra original publicada em 1979)
253
Couto, M. (1994). Perfume. In Estórias Abensonhadas, São Paulo: Companhia das Letras, pp. 20-23.
Covas, A. (2019, 20 agosto). As mulheres foram activistas na guerra, depois voltaram ao lar. Público. Recuperado a partir de https://www.publico.pt/2014/08/20/culturaipsilon/noticia/do-activismo-das-mulheres-na-retaguarda-ate-ao-regresso-ao-lar-1666852
Credit Suisse Research Institute (2018). Global Wealth Report 2018. Zurich: Research Institute. Recuperado a partir de www.credit-suisse.com/publications
CRP-MG. (2020, 02 abril). Nota do CRP-MG sobre violência contra as mulheres e quarentena. Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Recuperado a partir de https://crp04.org.br/nota-do-crp-mg-sobre-violencia-contra-as-mulheres-e-quarentena/?utm_campaign=Boletim+Psico+Online&utm_content=Nota+do+CRP-MG+sobre+viol%C3%AAncia+contra+as+mulheres+e+quarentena+%7C+CRP-MG+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Boletim+Psico+Online+02%2F04%2F20
D’Incao, M. A. (2004). Mulher e Família Burguesa. In Del Priore, M. (org.). História das mulheres no Brasil (7ª ed.). São Paulo: Contexto, pp. 187-201.
Danowski. D. (2019). Mundos sob os fins que vêm. In Dias, S. O.; Wiedemann, S.; Rodrigues, A. C. (Orgs.). Conexões Deleuze e cosmopolíticas e ecologias radicais e nova terra e... Campinas, SP: ALB/ClimaCom, pp. 85-96.
Danowsky, D. &Viveiros de Castro, E. (2017). Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. (2ª. ed.). Florianópolis: Cultura e Barbárie.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1972). O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. Lisboa: Assírio Alvim, 2004. (Obra original publicada em 1972).
Deleuze, G. & Guattari, F. (1975). Kafka, para uma literatura menor, Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. (Obra original publicada em 1975).
Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2 (Vol. 1). São Paulo: Editora 34, 1995. (Obra original publicada em 1980).
Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2 (Vol. 2). São Paulo: Editora 34, 1996a. (Obra original publicada em 1980).
Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2 (Vol. 3). São Paulo: Editora 34, 1996b. (Obra original publicada em 1980).
Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2 (Vol. 4). São Paulo: Editora 34, 1997a. (Obra original publicada em 1980).
254
Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2 (Vol. 5). São Paulo: Editora 34, 1997b. (Obra original publicada em 1980).
Deleuze, G. & Guattari, F. (2016). Maio de 68 não ocorreu. In Deleuze, G. Dois regimes de loucos: textos e entrevistas (1975-1995). David Lapoujade (Ed.). São Paulo: Editora 34.
Deleuze, G. (1968). Diferença e Repetição, Rio de Janeiro: Graal, 1988. (Obra original publicada em 1968).
Deleuze, G. (1986). Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005. (Obra original publicada em 1986).
Deleuze, G. (1992). Conversações (1972-1990). São Paulo: Editora 34.
Deleuze, G. (1994). O abecedário de Gilles Deleuze. Entrevista concedida a Claire Parnet e disponibilizada em português pela Rede Colaborativa STOA da Universidade de São Paulo. Recuperado a partir de http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario%2BG.%2BDeleuze.pdf
Deleuze, G. (1996). O que é um dispositivo? In O Mistério de Ariana. Lisboa: Passagens.
Deleuze, G. (2002). Espinosa: filosofia prática. São Paulo: Escuta.
Dewes, J. O. & Nunes, L. N. (2013). Amostragem em Bola de Neve e Respondent-Driven Sampling: uma descrição dos métodos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Estatística. Monografia, 51p.
Dhont, M. (2010, november). History of oral contraception. The European Journal of Contraception & Reproductive Heath Car, 15, pp. 12-18. DOI: https://doi.org/10.3109/13625187.2010.513071
Dias, P. L. C. (set/dez 2015). The appropriation of streets in Belo Horizonte by contemporary carnival blocks. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 17 (3), pp. 86-103. DOI: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2015v17n3p86
Dobb, M. (1946). A evolução do capitalismo. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Obra original publicada em 1946)
Donzelot, J. (1977). A polícia das famílias. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980. (Obra original publicada em 1977).
Drawin, C. R. (1998). Carlos Roberto. As seduções de Odisseu: paradigmas da subjetividade no pensamento moderno. In Cultura da ilusão. Rio de Janeiro: Contra Capa, pp. 9-36.
Espinosa, B. (1677). Ética (2ª ed.). Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (Obra original finalizada em 1677).
255
Fabro, C. (2020). 6 anos da compra do WhatsApp pelo Facebook: o que mudou desde então. TechTudo. Recuperado a partir de https://www.techtudo.com.br/listas/2020/02/6-anos-da-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-o-que-mudou-desde-entao.ghtml
Fáveri, M. (2007, janeiro/julho). Desquite e divórcio: a polêmica e as repercussões na imprensa. Caderno Espaço Feminino, 17 (1), pp. 335-357.
Federici, S. (2017). Calibã e a bruxa. São Paulo: Elefante.
Fellet, J. (2014, 9 junho). 'Dilma acha que precisamos consumir e ter chuveiro quente', diz líder indígena. BBC News Brasil. Recuperado a partir de https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/06/140607_copa_indios_protestos_entrevista_rb
Fernandes, E. R. (2016, jan/jul). Homossexualidade indígena no Brasil: um roteiro histórico-bibliográfico. ACENO, 3 (5), pp. 14-38.
Ferracini, R., Lima, E. M. F. A., Carvalho, S. R., Liberman, F. & Carvalho, Y. M. (2014, jul.). Uma experiência de cartografia territorial do corpo em arte. Urdimento, 1(22), pp. 219-232. DOI: https://doi.org/10.5965/1414573101222014219
Fiocruz. (2019). Desmatamento pode levar ao aumento de doenças infecciosas em humanos. SaúdeAmanhã. Recuperado a partir de https://saudeamanha.fiocruz.br/desmatamento-pode-levar-ao-aumento-de-doencas-infecciosas-em-humanos/#.XqbuiWhKg2w
Fiocruz. Centro de Estudos Estratégicos. (2020). Por que ricos ficaram mais ricos e pobreza explodiu na pandemia? (Publicado originalmente por Radio France Internacional). Recuperado a partir de https://cee.fiocruz.br/?q=por-que-ricos-ficaram-mais-ricos-e-pobreza-explodiu-na-pandemia
Fontoura, N. O. & Gonzalez, R. (2009, novembro). Aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho: mudança ou reprodução da desigualdade? Mercado de Trabalho. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (41), pp. 21-26. Recuperado a partir de http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4056/1/bmt41_05_NT_Aumento.pdf
Foucault, M. (1973). A verdade e as formas jurídicas. (3ª ed.). Rio de Janeiro: Nau, 2002. (Obra organizada a partir das conferências de Foucault proferidas na PUC Rio, Brasil, em 1973).
Foucault, M. (1975). Vigiar e punir. (20ª ed.). Rio de Janeiro: Petrópoli, 1999. (Obra original publicada em 1975).
Foucault, M. (1976). Aula de 17 de março de 1976. In Foucault, M. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martin Fontes, 2005. ((Obra original publicada em 1976).
256
Foucault, M. (1976). História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988. (Obra original publicada em 1976).
Foucault, M. (1978). Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. (Obra original publicada em 1978).
Foucault, M. (1979). Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008. (Obra original publicada em 1979).
Foucault, M. (1988). A tecnologia política dos indivíduos. In Foucault. M. Ditos e Escritos V: ética, sexualidade, política. Manoel Barros da Motta (Org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 301-318. (Obra original publicada em 1988).
Foucault, M. (1989). Sobre a história da sexualidade. In Microfísica do poder (8ª ed.). Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1983). A escrita de si. In O que é um autor? Lisboa: Passagens, 1992, pp. 129-160. (Obra original publicada em 1983).
Freud. S. Obras Completas. (1980). (Edição Standard Brasileira) Rio de Janeiro: Imago.
Freyre, G. (1933). Casa-Grande & Senzala (35ª ed.). Rio de Janeiro: Record, 1999. (Obra original publicada em 1933).
Galeano, E. (1982). Os nascimentos (Memórias do Fogo, vol. 1). Porto Alegre, RS: L&PM, 2011. (Obra original publicada em 1982).
Galhardo, R. (2013, 07 junho). Assassinatos de indígenas no Brasil crescem 269% nos governos Dilma e Lula. iG São Paulo. Recuperado a partir de https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-06-07/assassinatos-de-indigenas-no-brasil-crescem-269-nos-governos-dilma-e-lula.html
Garcia, D. (2020, outubro). Auxílio emergencial infla retomada nos estados do Norte e do Nordeste. Folha de SP. Recuperado a partir de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/auxilio-emergencial-infla-retomada-nos-estados-do-norte-e-do-nordeste.shtml
Gielow, I. (2018, 30 maio). Apoio à paralisação é de 87% dos brasileiros, diz Datafolha. Folha de SP. Recuperado a partir de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/apoio-a-paralisacao-e-de-87-dos-brasileiros-diz-datafolha.shtml
Goffman, E. (1961). Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974. (Obra original publicada em 1961).
257
Goy, L. (2018, 24 maio). Greve de caminhoneiros autônomos é reforçada com adesão de transportadoras. Folha de São Paulo. Recuperado a partir de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/greve-de-caminhoneiros-autonomos-e-reforcada-com-adesao-de-transportadoras.shtml
Guattari, F. (1986). Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo (3ª ed.). São Paulo: Brasiliense.
Guattari, F. (1972). Psicanálise e transversalidade: ensaios de análise institucional. São Paulo: Ideias & Letras, 2004. (Obra original publicada em 1972).
Guimarães, L. (2020, 18 março). Favelas serão as grandes vítimas do coronavírus no Brasil, diz líder de Paraisópolis. BBC News. Recuperado a partir de https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51954958
Hobsbawm, E. (2000). Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Hobsbawm, E. (2009). A Era do Capital: 1848-1875. (15ª ed.). São Paulo: Paz e Terra.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2014). Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2014. Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado a partir de: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2014/default.shtm
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018a). Brasil, São Paulo, panorama. Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado a partir de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018b). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad Contínua: Diferença do rendimento do trabalho de mulheres e homens nos grupos ocupacionais 2018. Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado a partir de https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/694dba51d3592761fcbf9e1a55d157d9.pdf
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018c). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad Contínua: Outras Formas de Trabalho. Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado a partir de https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24266-mulheres-dedicam-mais-horas-aos-afazeres-domesticos-e-cuidado-de-pessoas-mesmo-em-situacoes-ocupacionais-iguais-a-dos-homens
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018d). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2018. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Recuperado a partir de https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf
258
Jesus, C. C. & Almeida, I. F. (2016, abril). O Movimento Feminista e as redefinições da mulher na sociedade após a Segunda Guerra Mundial. Boletim Historiar, 14, pp. 09-27.
Jesus, P. B. M. (2015, jul/dez). Considerações acerca da noção de afeto em Espinosa. Cadernos Espinosanos, São Paulo, 33, pp. 161-190.
Johns Hopkins University. (2020). COVID-19 Word Map. Baltimore, EUA: Coronavirus Resource Center. Recuperado a partir de https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Kastrup, V. & Passos, E. (2013, maio/ago). Cartografar é traçar um plano comum. Fractal, 25 (2), pp. 263-280.
Kastrup, V. (2007, jan/abr). O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. Psicologia & Sociedade, 19 (1), pp. 15-22.
Kehl, M. R. (2003). Em defesa da família tentacular. In Groeninga G. C.; Pereira, R. C. Direito de Família e Psicanálise: rumo a uma nova epistemologia, Rio de Janeiro: Imago, pp. 163-176.
Klein, L. R. (2012). Cadê a criança do Ariès que estava aqui? A fábrica comeu... In Anais Eletrônicos. IX Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Recuperado a partir de http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/4.26.pdf.
Kopenawa, D. & Albert, B. (2015). A Queda do Céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras.
Krenak, A. (2020). O amanhã não está à venda. (Edição do Kindle). São Paulo: Companhia das Letras.
Kristeva, J. (2017). O Futuro de uma Revolta, Santo Tirso, Portugal: De Facto Editores.
Krug, E. G. et al. (2002). Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde (OMS).
Kurlansky, M. (2005). 1968: The year that rocked the world. New York: Random House Paperbacks.
Lacan, J. (1998). Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Latouche, S. (1989). L'Occidentalisation du monde: essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation planétaire. Paris: La Découverte..
Latouche, S. (2009). Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. São Paulo: WMF / Martins Fontes.
259
Latour, B. (1994). Jamais fomos modernos: ensaio de anrropologia simétrica. Rio de Janeiro: Ed. 34.
Latour, B. (2014, setembro). Position Paper. Colóquio Internacional Os Mil Nomes de Gaia: do Antropoceno à Idade da Terra, Rio de Janeiro, UFRJ. Recuperado a partir de https://osmilnomesdegaia.files.wordpress.com/2014/07/position-paper-os-mil-nomes-de-gaia_port.pdf
Lawson, M. et al. (2019). Public good or private wealth? United Kingdom: Oxfam GB. Recuperado a partir de https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en.pdf
Leacock, E. B. (1981). Mitos da dominação masculina: uma coletânea de artigos sobre as mulheres numa perspectiva transcultural. São Paulo: Instituto Lukács, 2019. (Obra original publicada em 1981).
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). Diário Oficial da União. Brasília.
Lemos, Flavia Cristina Silveira, & Cardoso Júnior, Hélio Rebello. (2009). A genealogia em Foucault: uma trajetoria. Psicologia & Sociedade, 21(3), pp. 353-357. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-71822009000300008
Lévi-Strauss, C. (1955). Nuevo Mundo. In Tristes Trópicos. Barcelona: Paidos, 1988, pp. 75-102. (Obra original publicada em 1955).
Lévi-Strauss, C. (1955). O fim das viagens. In Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 15-45. (Obra original publicada em 1955).
Lipovetsky, G. (2004). Tempo contra tempo, ou a sociedade hipermoderna. In Lipovetsky, G. & Charles, S. Os Tempos Hipermodernos. São Paulo: Barcarolla.
Lula da Silva, L. I. (2010). Discurso de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. Uol, Especiais. Recuperado a partir de https://noticias.uol.com.br/especiais/pac/ultnot/2010/03/29/leia-a-integra-do-discurso-do-presidente-lula-no-lancamento-do-pac-2.jhtm
Macedo, J. (2015, 14 maio). Conheça os 10 recordes de lentidão no trânsito de BH. Jornal Estado de Minas. Recuperado a partir de https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/05/14/interna_gerais,647378/dez-dias-de-caos-no-transito.shtml
Macedo, J. P. & Dimenstein, M. (2009, jan/jun). Escrita acadêmica e escrita de si: experienciando desvios. Mental, 12, pp. 153-166.
260
Marx, K. (1867). O Capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. (Obra original publicada em 1867).
Massuela, A. & Weis, B. (2019, novembro). O tradutor do pensamento mágico. Revista Cult. Recuperado a partir de https://revistacult.uol.com.br/home/ailton-krenak-entrevista/
Matos, R. (2012, jan/jun). Migração e urbanização no Brasil. Geografias, Belo Horizonte 08(1), pp. 07-23.
Mbembe, A. (2016, dezembro). Necropolítica. Arte & Ensaios: revista do PPGAV/EBA/UFRJ, 32, pp. 123-151.
Megía, C. (2020, 3 agosto). Bilionários se preparam para o fim da civilização. El País. Recuperado a partir de https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-03/bilionarios-se-preparam-para-o-fim-da-civilizacao.html#?sma=newsletter_brasil_diaria20200804
Meirelles, F. S. (2019). 30ª pesquisa anual do uso de TI. São Paulo: FGV EAESP. Recuperado a partir de https://eaesp.fgv.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa
Melatti, J. C. (2007). Índios do Brasil. São Paulo: Edusp, 2007.
Ministério Público Federal. (2015). Caso Samarco: apresentação. Recuperado a partir de: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/apresentacao
Moore, J. (2017). The Capitalocene, part I: on the nature and origins of our ecological crisis. The Journal of Peasant Studies. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036
Moreira, V. M. L. (2015). Territorialidade, casamentos mistos e política entre índios e portugueses. Revista Brasileira de História, 35 (70), São Paulo, 17-39. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1806-93472015v35n70006
Mugnatto, S. (2020). Crescem denúncias de violência doméstica durante pandemia. Agência Câmara de Notícias, Câmara dos Deputados do Brasil. Recuperado a partir de: https://www.camara.leg.br/noticias/661087-crescem-denuncias-de-violencia-domestica-durante-pandemia
Negri, A. & Hardt, M. (2000). Império (5ª ed.). Rio de Janeiro: Record, 2006. (Obra original publicada em 2000).
Nietzsche, F. (1882). A gaia ciência, Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1998. (Obra original publicada em 1882).
Nietzsche, F. (1885). Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia de Bolso, 2018. (Obra original publicada em 1855).
261
Nuccitelli, D. (2020). Earth is heating at a rate equivalente to five atomic bombs per second. Skeptical Science. Recuperado a partir de https://skepticalscience.com/earth-warming-5-atomic-bombs-per-sec.html
Organização Internacional do Trabalho. (2018). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. Recuperado a partir de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_619603.pdf
Organização das Nações Unidas. (2017). Depression and other common mental disorders: global health estimates. Recuperado a partir de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf;jsessionid=3D32F12FFA155B1089FD819ED94CDF99?sequence=1
Organização das Nações Unidas. Economic and Social Council. (2015). Analysis prepared by the secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Peoples. Recuperado a partir de https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/036/04/PDF/N1503604.pdf?OpenElement
Organização das Nações Unidas. ONU Mulheres. (2020). Acabar com a violência contra as mulheres no contexto do COVID-19. Recuperado a partir de: http://www.onumulheres.org.br/noticias/acabar-com-a-violencia-contra-as-mulheres-no-contexto-do-covid-19/
Organização Pan-americana de Saúde. (2018). Folha Informativa: depressão. OPAS Brasil. Recuperado a partir de https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5635:folha-informativa-depressao&Itemid=1095
Organização Pan-Americana de Saúde. (2020). Folha informativa: COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). OPAS Brasil. Recuperado a partir de https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
Oswald, V. (2020, 24 março). Coronavírus: após confinamento, cidade na China registra recorde em pedidos de divórcio. BBC News. Recuperado a partir de: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52012304
Passetti, E. (2006). Ensaio sobre um abolicionismo penal. Verve, 9, pp. 83-114.
Passos E. & Barros, R. B. (2009). A cartografia como método de pesquisa-intervenção. In Passos, E., Kastrup, V. & Escóssia, L. (org.) Pistas do Método da Cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade, Porto Alegre: Sulina, pp. 17-31.
262
Pellejero, E. (2016, maio). Entre dispositivos e agenciamentos: o duplo deleuziano de Foucault. Margens Interdisciplinar, 6 (7), pp. 11-22. DOI: http://dx.doi.org/10.18542/rmi.v6i7.2807
Pena. S. (org.). (2002). Homo brasilis: aspectos genéticos, linguísticos, históricos e socioantropológicos da formação do povo brasileiro. Ribeirão Preto, SP: FUNPEC-RP.
Pinho, P. (2017). A Fábrica de nada [filme]. Portugal: Terratreme, 177 min.
Pnud. (2019). Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH): "Além da renda, além das médias, além do hoje: desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI". Nova York: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Recuperado a partir de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_pt.pdf
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pró-Reitoria de Graduação (2016). Sistema Integrado de Bibliotecas. Orientações para elaboração de trabalhos técnicos científicos: projeto de pesquisa, teses, dissertações, monografias e outros trabalhos acadêmicos, conforme a Associação Americana de Psicologia (APA). (2ª ed.). Belo Horizonte: PUC Minas. Recuperado a partir de: www.pucminas.br/biblioteca
Portal População. (2018). População Buritis, Belo Horizonte. Recuperado a partir de http://populacao.net.br/populacao-buritis_belo-horizonte_mg.html
Prado Júnior. C. (1942). Formação do Brasil Contemporâneo (11ª ed.). São Paulo: Brasiliense, 1971. (Obra original publicada em 1942).
Prandi, R. (2000, junho/agosto). De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião. Revista USP, 46, São Paulo, pp. 52-65.
Preciado, P. B. (2018). La izquierda bajo la piel: um prólogo para Suely Rolnik. In Rolnik, S. Esferas da Insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo: n-1 edições, pp. 11-22.
Quijano, A. (1993). El tiempo de la agonia. Entrevista. In Forgues, R. (Org.). Perú, entre el desafío de la violencia y el sueño de lo posible. Lima: Minerva, pp. 287-309.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado a partir de: https://www.uv.mx/jose-marti/files/2018/08/Anibal-Quijano-Colonialidad-del-poder.pdf
Regaldo, F. (2013). Aguardando destino. Piseagrama, Belo Horizonte, 1(5), pp. 46-47. Recuperado a partir de https://piseagrama.org/aguardando-destino/
Resende, D. R. & Bernadet, J. C. (2019, 24 dezembro). Outra Política: o que aprender com BH. Outras Palavras. Recuperado a partir de https://outraspalavras.net/outrapolitica/outra-politica-o-que-aprender-com-bh/
263
Ribeiro, D. (1995). O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. (Obra original publicada em 1995).
Ribeiro, R. B. (2008). Guerra e paz entre os Maxakali: devir histórico e violência como substrato da pertença. São Paulo: Faculdade de Ciências Sociais. Tese. Doutorado em ciências sociais.
Ripple, W. T. et al. (2017, december). World Scientists’ Warning to Humanity: a second notice. BioScience, 67 (12), pp. 1026–1028. DOI: https://doi.org/10.1093/biosci/bix125
Rodrigues, H. B. C. (2005). “Sejamos realistas, tentemos o impossível!” Desencaminhando a psicologia através da Análise Institucional. In Jacó-Vilela, A. M., Ferreira, A. A. L & F. Portugal. (Orgs.), História da Psicologia: rumos e percursos. (2a ed.) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Nau, pp. 515-563.
Rodrigues, J. C. (1999). O Corpo na História. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. DOI: 10.7476/9788575415559.
Rodrigues. P. & Gomes, F. (2013, jul./out.). Histórias dos quilombos e memórias dos quilombolas no Brasil: revisitando um diálogo ausente na lei 10.639/03. Revista da ABPN, 5 (11), pp. 05-28.
Rolnik, S. (2018). Esferas da Insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo: n-1 edições.
Romagnoli, R. C. (1996). Novas Formações Familiares: uma leitura institucionalista. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Dissertação, Mestrado em Psicologia Social. 170 p.
Romagnoli, R. C. (2003). Os encontros e a relação familiar: uma leitura deleuziana. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 55 (1), pp. 21-30.
Romagnoli, R. C. (2009). A cartografia e a relação pesquisa e vida. Psicologia & Sociedade, 21 (2): pp. 166-173.
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicação e a pesquisa-intervenção institucionalista. Psicologia & Sociedade, 26(1), pp. 44-52. https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000100006
Rosemberg, F. (1984). O movimento de mulheres e a abertura política no Brasil: o caso da creche. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 51, pp. 73-79.
Rossi, A. & Passos, E. (2014). Análise institucional: revisão conceitual e nuances da pesquisa-intervenção no Brasil. Revista EPOS, 5(1), pp. 156-181. Recuperado em 13 de agosto de 2020, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2014000100009&lng=pt&tlng=pt.
264
Rushkoff, D. (2018). Os ultra ricos preparam um mundo pós-humano. Outras Palavras. Recuperado a partir de: https://outraspalavras.net/sem-categoria/os-ultra-ricos-preparam-um-mundo-pos-humano/
Samara, E. M. (2002). O Que Mudou na Família Brasileira?: da Colônia à Atualidade. Psicologia USP, 13(2), pp. 27-48. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-65642002000200004
Santos, A. & Viegas, C. (2018). Poliamor: Conceito, Aplicação e Efeitos. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito UFRGS, 12 (2), pp. 369-389. DOI: https://doi.org/10.22456/2317-8558.72546
Sarti, C. (1992). Contribuições da Antropologia para o estudo da família. Revista USP, São Paulo, 3 (1/2), pp. 69-76.
Sarti, C. (2015). Famílias Enredadas. In Vitale, M. A. F. & Acosta, A. R. (org.). Família: redes, laços e políticas públicas. (6ª ed.). São Paulo: Cortez, pp. 31-50.
Sawaia, B. B. (2009). Psicologia e desigualdade social: uma reflexão sobre liberdade e transformação social. Psicologia & Sociedade, São Paulo, 21 (3), pp. 364-372.
Scheinvar, E. (2006). A família como dispositivo de privatização do social. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 58 (1), pp. 48-57.
Schmidt, E. & Cohen, J. (2013). A nova era digital: como será o futuro das pessoas, das nações e dos negócios, Rio de Janeiro: Intrínseca.
Schmitt, C. (1922). Teologia política: quatro capítulos sobre a doutrina da soberania. In Schmitt, C. A crise da democracia parlamentar. São Paulo: Scritta, 1996. (Obra original publicada em 1922).
Scott, A. S. V. (2009, jul./dez.). As teias que a família tece: uma reflexão sobre o percurso da história da família no Brasil. História: Questões & Debates, Curitiba, 51, pp. 13-29.
Senra, R. (2018, 24 maio). Grupos pró-intervenção militar tentam influenciar rumo de greve dos caminhoneiros. BBC Brasil. Recuperado a partir de https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44244583
Simonini, E.; Romagnoli, R. C. (2018, dez) Transversalidade e Esquizoanálise. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, 24 (3), pp. 915-929. Recuperado a partir de: http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/18536/14870. 10.5752/P.1678-9563.2018v24n3p915-929
Soares, I. (2019, 24 setembro). Bispo Edir Macedo diz que mulher não pode ter mais estudo que o marido. Correio Brasiliense. Recuperado a partir de: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/09/24/interna-
265
brasil,789307/bispo-edir-macedo-diz-que-mulher-nao-pode-ter-mais-estudo-que-o-marido.shtml
Souza, D. R. M. de. (2018). Estado de exceção: Giorgio Agamben entre Walter Benjamin e Carl Schmitt. Princípios: Revista de Filosofia (UFRN), 25 (47), pp. 35-58. DOI: https://doi.org/10.21680/1983-2109.2018v25n47ID12733
Stannard, D. E. (1992). American Holocaust: Columbus and the conquest of the New World. Nova York: Oxford University Press.
Tedesco, S. H., Sade C. & Caliman, L. V. (2013, maio/ago). A entrevista na pesquisa cartográfica: a experiência do dizer. Fractal, 25 (2), pp. 299-322.
Temer sanciona reoneração, que aumenta carga tributária (2018, 01 junho). Portal Contábeis. Recuperado a partir de https://www.contabeis.com.br/noticias/37247/temer-sanciona-reoneracao-que-aumenta-carga-tributaria/
Teruya, M. T. (2018). A família na historiografia brasileira: bases e perspectivas teóricas. Anais do XII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP – Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Recuperado a partir de http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/1041
Trabalho feminino e sexualidade, Margareth Rago. In Del Priore, M. (org.). História das mulheres no Brasil (7ª ed.). São Paulo: Contexto,pp. 484-507.
Trier, L. V. (2003). Dogville [filme]. França: Zentropa Enter-teinment. 171 min.
Unesco. (2016). Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, Perugia, Itália: Programa das Nações Unidas para a Avaliação Mundial dos Recursos Hídricos. Recuperado a partir de http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pd
Ventura, Z. (1988). 1968: O ano que não terminou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Verne. (2018). “Eu não ajudo em casa, sou parte da casa”: uma reflexão sobre tarefas do lar. El País. Recupado a partir de https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/16/estilo/1573908882_008969.html
Viveiros de Castro, E. (2015). Metafísicas canibais, São Paulo: Cosacnaify / N-1 edições.
Zourabichvili, F. (2004). O vocabulário de Deleuze, Rio de Janeiro: Relume Dumará.