Falantes do Acre, nossos direitos linguísticos! (2010)
Transcript of Falantes do Acre, nossos direitos linguísticos! (2010)
2 3
Copyright © 2010 Milton Francisco
Revisão: Luisa LessaArte de capa: Fábio Hastenreiter
Patron e Milton Francisco(sobre mapa de Acre em
números 2009)
Tiragem desta edição: 250 exemplares
e-mail do autor:[email protected]
4 5
Ficha catalográfica elaborada pela Bi-blioteca Central da UFAC.
F818f Francisco, Milton Falantes do Acre, nossos direitos lin-
guísticos! / Milton Francisco. – Rio Bran-co : MFS, 2010.
56p. : 23×30 cm.
Inclui bibliografia.ISBN 978-85-911326-0-7
1. Linguística. 2. Política linguística. 3. Línguas indígenas. 4. LIBRAS. 5. Espa-nhol. 6. Línguas faladas no Acre. I. Títu-lo.
CDD: 410CDU: 81'28
6 7
Falantes do Acre: nossos direitos lin-
guísticos! é um convite para pensarmos
a situação linguístico-cultural do Acre,
onde há a presença da língua árabe, do
espanhol, da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) e cerca de 15 línguas indíge-
nas.
De forma crítica, o autor comenta os
direitos linguísticos dos falantes des-
sas línguas: quer o direito ao português
– a língua do Estado –, quer o direito à
própria língua.
Sua leitura é uma visita do leitor a
esse Estado pluricultural e plurilíngue da
Amazônia Ocidental.
Milton Francisco, professor da Universi-
dade Federal do Acre, é mineiro de São
Gonçalo do Pará.
Quarta capa do livro em tinta
8 9
Dedico
João, sobrinho que virou memória
Agradeço
César, Humberto, Luisa Lessa,
Maristela e Selmo, colegas da UFAC
pela leitura e sugestões
As falhas que permanecem
são minhas
10 11
Sumário
Visita ao Acre ................................... 131. Cultura árabe .............................. 172. Español en el Acre ........................ 203. Nossas línguas indígenas ............. 254. Línguas de sinais .......................... 295. Direito à língua do Estado ............ 326. Direito à própria língua ................ 377. Extermínio linguístico ................... 448. Devagar com nossas línguas! ....... 47Seguindo Ramais .............................. 52Bibliografia ...................................... 55
12 13
O Acre, apesar de sua distância em
relação aos principais centros urbanos
do Brasil e de seu relativo isolamento,
conseguiu aglomerar algumas culturas
que hoje ainda se fazem presentes em
seu cotidiano. São elementos culturais
e linguísticos diversos, quer integrantes
dos povos autóctones de suas florestas,
quer absorvidos dos vizinhos bolivianos
e peruanos, quer originários de sírios e
libaneses na segunda metade do sécu-
lo XIX, quer trazidos por brasileiros de
diferentes partes do país, em diferentes
épocas, especialmente da região nor-
deste. A diversidade cultural e linguística
do Acre é bem maior do que o restante
do Brasil sabe.
Visita ao Acre
14 15
Convidamos o leitor a passear, um
pouco, por esse Estado pluricultural e
plurilíngue “meio escondido” na Amazônia
Ocidental. Para tanto, acompanharemos
um flâneur, aquele poeta francês, do fi-
nal do século XIX, andante noturno das
ruas de Paris. Aproveitaremos sua visita
ao Acre de hoje para pensarmos sobre
as minorias linguísticas que aqui vivem.
Ora guiando-o, ora seguindo-o, visi-
taremos nossa cultura, atentando para
nossas línguas. Há a presença, aqui,
da língua árabe, do espanhol e cer-
ca de 15 línguas indígenas, além da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Também, refletiremos sobre os di-
reitos linguísticos da população falan-
te dessas línguas, os quais se dividem
em direito à língua do Estado e direi-
to à própria língua. Na sequência,
pensaremos um pouco sobre o exter-
mínio linguístico ocorrido no Brasil. Por
fim, faremos uma rápida reflexão sobre
a educação indígena implementada no
Acre.
16 17
Ao chegar a Rio Branco, nosso flâneur
se envolve com palavras árabes de razões
sociais do início do século passado,
escritas, por vezes, em alto-relevo, nas
fachadas dos prédios antigos da
cidade. Na atual Rua Eduardo Assmar,
afetivamente Gameleira, às margens
do Rio Acre, e principal área comercial
daquela época, grafaram acima das
portas frontais: CASA DOMINGOS
ASSMAR, fundada em 1907; CASA
FARHAT, fundada em 1912; CASA
YUNES, também fundada naquele tempo.
Mas isso ocorre não só na capital
acreana. Ele se certifica do mesmo
hábito cultural, por exemplo, em
Brasileia, onde se lê, em alto-relevo,
CASA MANSOUR e CASA FLÔR DE
1. Cultura árabe
18 19
BRASILÉIA DE ANTONIO ABRAHÃO
TUMA.
Nosso flâneur, caminhando pelas ci-
dades acreanas, também absorve razões
sociais, com nomes árabes, contem-
porâneas a nós, registra em suas retinas
Drogaria Saad, Edifício Mustafá Zacour,
por exemplo. Observa que os sírio-liba-
neses emprestaram seus nomes, tam-
bém, a órgãos do governo e escolas, como
Fundação de Cultura Elias Mansour, Es-
cola Estadual Georgete Eluan Kalume,
em Rio Branco; Escola Estadual Kairala
José Kairala, em Brasileia; Escola Esta-
dual Joana Ribeiro Amed, em Epitaciolân-
dia; Escola Estadual Clarisse Assef, em
Sena Madureira; Escola Estadual Mustafá
Almeida Tobu, em Cruzeiro do Sul.
Em verdade, esses “nomes comer-
ciais” são registros históricos da presen-
ça dos imigrantes sírios e libaneses em
terras da Amazônia Sul-ocidental. Esses
imigrantes, atenta o historiador, e pro-
fessor da Universidade Federal do Acre,
Carlos Alberto Alves de Souza (2002,
p.69), “foram importantes no comércio
e abastecimento regional, a partir da se-
gunda metade do século XIX, com a ex-
ploração da produção da borracha, aju-
daram a formar cidades e bairros, a criar
costumes locais e a influenciar na cons-
tituição de uma cultura na Amazônia”.
Chegaram, aqui, como a várias locali-
dades do Brasil, em geral, como comer-
ciantes, mas motivados pela dominação
do Império Turco em seus países.
A contribuição sírio-libane-
sa mais visível para a cultura
20 21
acreana provavelmente seja a culinária.
A língua árabe está nos cardápios de ba-
res, restaurantes ou quiosques das pra-
ças eparques. Comem-se por aqui esfiha
aberta, misto árabe, charuto, kafta assa-
da, pão árabe, pasta de grão de bico ou
pasta de berinjela, kibe cru ou kibe fri-
to, tabule, coalhada fresca ou coalhada
seca. Os sanduíches, tipicamente esta-
dunidenses, por vezes, são enriquecidos
pelo sabor árabe.
2. Español en el Acre
Outra presença “estrangeira” impor-
tante é a de bolivianos e peruanos. O Acre
faz fronteira, ao sudeste, com a Bolívia, e, ao
sul, com o Peru. Suas cidades fronteiriças
são Assis Brasil, vizinha a Iñapari (Peru) e
Bolpebra (Bolívia), e Brasileia e Epitacio-
lândia, cidades gêmeas, vizinhas a Co-
bija (Bolívia). Outra cidade fronteiriça é
Plácido de Castro, vizinha a Puerto Evo
Morales, ex-Montevideo, vila boliviana
refundada em maio de 2007 pelo pre-
sidente da Bolívia Evo Morales, após in-
cêndio que destruiu mais da metade das
residências e das lojas comerciais.
Nessas cidades acreanas, a popula-
ção divide os espaços públicos, comer-
ciais e culturais com bolivianos e peru-
anos. Nosso flâneur percebe uma aura
particular constituída do encontro de
duas línguas, seja na modalidade falada
ou escrita. Na fala, o espanhol está pre-
sente nas famílias em que um dos pais
veio do outro lado da fronteira, no aten-
dimento do garçom ou do comerciante
de diferentes lojas, aos clientes bolivia-
nos ou peruanos, em reuniões ocasionais
22 23
do serviço público, em táxis dos países
vizinhos, em canais de televisão e rádio
da Bolívia ou Peru.
Na escrita, o espanhol está nos car-
dápios de restaurantes, em algumas
placas informativas, nos carros bolivianos
ou peruanos e, por vezes, em outdoors.
Em Brasileia e Epitaciolândia, estuda-
-se na Escola Estadual Brasil-Bolívia;
pernoita-se, por exemplo, na PousadaLas
Palmeras ou na Pousada Los Hermanos;
comercializa-se na Varinia Brazil, que
assim saúda: bien venidos hermanos
bolivianos y peruanos, está escrito em
sua fachada.
Em Assis Brasil, a educação presta
homenagem a um ilustre hispano-
falante, com a Escola Estadual Simon
Bolívar. Também, nessa cidade, na
Estrada do Pacífico, que ligará o
Acre aos portos peruanos de Illo e Puno,
leem-se placas de trânsito em português
e em espanhol. Uma delas informa: Es-
trada do Pacífico/Carretera del Pacífico;
outra atenta: El uso del casco es obliga-
torio.
Mas o contato entre essas duas línguas
– nota nosso visitante francês – não ocor-
re, apenas, nas cidades fronteiriças. Em
Rio Branco, por exemplo, são dezenas de
famílias com pai ou mãe vindos da Bo-
lívia ou Peru, com filhos nascidos nes-
ses países ou no Brasil. São crianças e
jovens que frequentam escolas com um
ensino voltado, exclusivamente, para o
falante do português como língua ma-
terna. Em geral, essas crianças e jovens
são bilíngues, falam espanhol com pelo
menos um dos pais e português na esco-
la e na rua. Caso semelhante ocorre em
24 25
Cruzeiro do Sul, no oeste do Estado,
onde os imigrantes são principalmente
peruanos.
Nosso flâneur, quando em Rio Branco,
em outubro de 2007, leu num outdoor: Las
empresas de Bolivia y el Mundo se reunem
en Cobija. Opcionalmente, almoçou na
Galeteria Las Brasas. No camelódromo,
no centro da cidade, comprou das mãos
de bolivianos ou peruanos. À noite,
pediu nalgum restaurante um cebiche,
prato típico peruano, composto de peixe
marinado no limão, legumes, batata-
-doce e macaxeira – ainda que à moda
brasileira.
Outra contribuição cultural relevante, na
formação do Acre, é a dos índios, prin-
cipalmente na culinária e na heteroge-
neidade linguística. Segundo o professor
indígena Joaquim Maná Kaxinawá (apud
Ochoa e Teixeira, 2006, p.36), há no Es-
tado “14 povos indígenas, cada um com
sua língua própria. Essas línguas estão
classificadas em três famílias linguís-
ticas: Aruak, Arawá e Pano. As línguas
da família Pano são aquelas faladas pe-
los Kaxinawá, Jaminawá, Yawanawá,
Shanenawa, Shawãdawa, Poyanawa,
Nukini, Katukina e Kaxarari. As que per-
tencem à família Aruak já são as faladas
pelos Manchineri, Ashaninka e Apurinã.
E as línguas da família Arawá são fala-
das pelos Kulina e Jamamadi.”
3. Nossas línguas indígenas
26 27
Em 2008, havia aqui 15.852 índios,
distribuídos em 11 dos 22 municípios
acreanos (FUNASA, apud ACRE-SEPLAN,
2009, p.25).
Quantificar as etnias e línguas indíge-
nas não é tarefa fácil nem conclusiva.
Outra questão discutível é acreditarmos
que há correspondência um povo – uma
língua. Não é bem assim. Algumas lín-
guas são faladas por mais de um povo.
No Brasil, aproximadamente 180 línguas
indígenas são maternas de 220 etnias,
quase todas reservadas à Amazônia.
Em se tratando das línguas
indígenas, elas estão limitadas quase
que à comunicação entre os índios e
às aldeias. Mas, circulando por Rio
Branco, nosso visitante encontra
alguns “nomes comerciais” em língua
indígena, como Casa Txai, Auto Es-
cola Aquiry, Lava jato Tangará, Drogaria
Tucumã. Ouve dezenas de palavras indí-
genas incorporadas ao cotidiano do por-
tuguês, sem poder correlacioná-las às
línguas de origem. Também conhece os
desenhos indígenas – sem poder iden-
tificar a quais etnias pertencem – que
ornamentam vias públicas, ônibus do
transporte público, placas afixadas pelo
governo, carros do serviço público.
Nas suas andanças pelas cidades
acreanas, nosso flâneur cruza com
índios de várias etnias, pois são apro-
ximadamente 3,8 mil vivendo em áreas
urbanas. Em Rio Branco, por exemplo,
eles estão por volta de 2,5 mil. Em
Cruzeiro do Sul, 500, conforme dados da
Fundação Nacional dos Índios (FUNAI),
ano de 2005. Distante de seu povo, de
suas práticas culturais e da floresta,
28 29
sua tentativa de adaptação à cidade
quase sempre é cheia de problemas.
Um deles são as perdas linguísticas.
Ele encontra, em Rio Branco, com
centenas de índios que deixaram suas
aldeias ainda na infância ou na ado-
lescência. Percebe que, hoje, jovens ou
adultos, esses índios possuem uma com-
petência linguística em português (se-
gunda língua) tão boa quanto aquela
dos rio-branquenses em geral, enquan-
to a competência na língua materna é
limitada, restringindo-se quase que ao
léxico. Reflete em silêncio: parece que
o afastamento prematuro, em relação
a seu povo, por um lado, contribui para
a integração da criança ou jovem índio
à cultura não-indígena, mas, por outro,
determina a perda significativa de parte
da cultura indígena, que havia adquirido
na infância.
Uma língua pode ser apenas oral, sem
escrita, isto é, não possuir uma grafia.
Chamam-se línguas ágrafas. Elas ocor-
rem, principalmente, aonde a colonização
não chegou ou foi menos sanguinária e
menos repressiva do que na costa brasi-
leira, por exemplo.
Uma língua pode ser também “não oral”,
isto é, não ser sonora. Trata-se das lín-
guas de sinais, as quais, como esclarece o
linguista R. L. Trask (2006, p.160): “Uma
verdadeira língua de sinais não é uma
imitação grosseira de uma língua falada;
é uma autêntica língua natural, com um
vasto vocabulário e uma gramática rica
e complexa, e é tão flexível e expressiva
quanto uma língua falada.” Nesse sentido,
as línguas de sinais, portanto, equivalem-
4. Língua de sinais
30 31
-se, por exemplo, ao Manchineri, ao
Kulina, ao português, ao espanhol.
Pelo Acre, nosso flâneur vê surdos se
comunicando em LIBRAS, a Língua Brasi-
leira de Sinais. É uma língua ainda desco-
nhecida da maioria dos brasileiros, nos
seus diferentes aspectos. Por exemplo, a
sua escrita. Conforme a linguista Audrei
Gesser (2009, p. 42-44), a LIBRAS, até há
pouco tempo, era considerada ágrafa.
Mas, desde 1996, a partir da iniciativa
do grupo de pesquisa coordenado por
Antonio Carlos da Rocha Costa, na
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, busca-se a implementação
da grafia da LIBRAS.
A criação dessa grafia é um pro-
cesso complexo e lento, mas é
um bem cultural com implica-
ções positivas para o fortalecimento
e a emancipação linguística do grupo mi-
noritário surdo, atenta Gesser (p.44).
Para eliminar alguns possíveis ques-
tionamentos, sobre a equivalência entre
a LIBRAS e as demais línguas naturais,
como o português ou o Ashaninka, lem-
bramos que se encontram na LIBRAS
algumas das principais características
que opõem as línguas naturais às lín-
guas artificiais (como o esperanto).
A saber: variação regional, adaptação à
situação de comunicação, disponibilidade
para a ampliação constante dos recursos
expressivos (Trask, 2006, p.324).
No Acre, e em todo o Brasil, as pessoas
surdas se comunicam em LIBRAS, en-
tre elas, mas também com pessoas
ouvintes – quem sabe com nosso visitante
francês.
32 33
A língua é instrumento e meio de inser-
ção na sociedade. Todavia, nem todos os
surdos conhecem a “própria” língua.
5. Direito à língua do Estado
Sem que o português perdesse espaço,
a Constituição Federal de 1988 dá
significativa atenção às línguas indígenas
vivas. Nenhuma reparação, impossível.
No entanto, nada menciona sobre as
línguas dos imigrantes, entre eles os vin-
dos da Bolívia ou Peru. Tal “esquecimen-
to”, porém, não é só brasileiro. O
antropólogo mexicano Rainer Enrique
Hamel (1995, p.13-14) nos conta que imi-
grantes e povos indígenas (originários)
são jurídica e linguisticamente tratados
de modo bastante distinto, por exemplo,
nos Estados Unidos e em vários países
europeus ou latino-americanos.
Nossa Constituição determina, no 2º
parágrafo do artigo 210: “O ensino fun-
damental regular será ministrado em
língua portuguesa, assegurada às comu-
nidades indígenas também a utilização
de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.” Trata-se de
uma decisão seguida, por exemplo, pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(9.394/96, art. 32, § 3º).
Em diálogo com a “conquista” e a
“lacuna” constitucionais, consta da
Declaração Universal dos Direitos
Linguísticos (Oliveira, 2003), no artigo
29, 1º parágrafo: “Toda pessoa tem
direito a receber educação na língua
própria do território onde reside.”
Consonante, Louis-Jean Calvet (2007),
34 35
sociolinguista nascido na Argélia e radi-
cado na França, defende que todo cidadão
tem direito à língua do Estado – direito à
alfabetização, à educação nessa língua.
Cabe ao Estado, direta ou indiretamente,
promover o ensino na língua que é de seu
uso, ofertando-o a toda a população.
Noutra perspectiva, respeitar esse
direito é fazer valer o princípio de
territorialidade, segundo o qual, é o
território que determina a escolha da
língua ou o direito à língua (Calvet, 2007,
p. 82). Isso, também, na visão de nosso
flâneur.
No Brasil, esse direito é atendido. Em
todos os municípios há alfabetização
em português. Precariamente, em
muitos casos, é bem verdade. No
Acre, descendentes sírio-libaneses
e filhos de pais bolivianos ou pe-
ruanos, por exemplo, quer nascidos no
Acre, quer nascidos na Bolívia ou Peru,
têm acesso à educação em português.
Quanto aos índios, na maioria das aldeias
do Estado, há ensino em/de português,
ao lado do ensino em língua indígena,
embora o grau de presença da língua
portuguesa seja variável de uma aldeia
para outra.
Esse direito é também das pessoas sur-
das. Nos últimos anos, em algumas es-
colas de Rio Branco, muitos surdos têm
recebido atendimento para que possam
ler em português. Aqueles que são alu-
nos do ensino regular são acompanha-
dos por um intérprete durante as aulas
e, no contraturno, têm aulas em/de por-
tuguês como segunda língua.
Na perspectiva linguístico-educacio-
nal, levar esse direito a sério é, no mínimo,
dar ao indivíduo competência linguística
36 37
e textual em português. É torná-lo, o
quanto possível, capaz de ouvir, falar, ler
e escrever em português, nas mais dife-
rentes situações de comunicação.
Levar esse direito a sério é não pri-
var o cidadão das inúmeras práticas
sociais e possibilidades que exigem, no
caso do Brasil, o uso do português. São
práticas comuns da vida, das mais sim-
ples às mais complexas, como comprar
um bilhete de passagem, ler cartazes e
placas informativas e publicitárias, ler o
jornal da cidade e escrever para a seção
de cartas, compreender o telejornal ou
a telenovela, abrir uma conta bancária,
reivindicar os direitos de consumidor,
requerer à prefeitura municipal alva-
rá de funcionamento de um comércio,
argumentar a favor ou contra a políti-
ca ou economia brasileiras e, por que
não, ler este livro e posicionar-se diante
dele, quer por meio da fala, quer por meio
da escrita.
Adquirir competências textuais na lín-
gua do Estado é indispensável para que
a pessoa acesse a cidadania, a democra-
cia, seus direitos e seus deveres.
6. Direito à própria língua
Calvet (2007) e Hamel (1995) defen-
dem, também, que as minorias linguísti-
cas, e sobretudo elas, têm direito à própria
língua – direito à alfabetização e à edu-
cação em língua materna. Isso significa,
para o grupo de falantes, poder falar e
escrever em sua língua, registrar seus
conhecimentos tradicionais, sua literatu-
ra oral, sua visão de mundo, suas desco-
bertas na cidade ou na floresta.
38 39
E mais, é o direito de o indivíduo iden-
tificar-se com a sua língua, a usá-la em
contextos sociais e políticos relevantes
(como a educação e a administração
pública) e a contar com os recursos
necessários para desenvolvê-la.
Acerca desse direito, consta da Decla-
ração Universal dos Direitos Linguísticos,
no artigo 26: “Toda comunidade linguís-
tica tem direito a uma educação que per-
mita a todos seus membros adquirirem o
pleno domínio de sua própria língua, com
as diversas capacidades relativas a todos
os âmbitos de uso habituais”. E no artigo
41, relativo à cultura: “Toda comunidade
linguística tem o direito de usar, manter
e potencializar sua língua em todas as
formas de expressão cultural.”
O professor Joaquim Maná Kaxinawá
(apud Ochoa e Teixeira, 2006, p.110)
revela ao nosso flâneur o porquê do
direito à própria língua: “falar da
questão linguística é falar da cultura, da
identidade. A identidade original está
na língua, na pintura, nos artesanatos
e nos desenhos que a gente faz. Porque
na língua está toda a cultura: o uso das
ervas, a história dos antepassados, as
músicas que sabemos interpretar, o
que elas realmente estão detalhando.”
Portanto, permitir e promover o uso da
própria língua é permitir a manutenção
daquilo que é mais valioso para um grupo
linguístico minoritário, quer índios, quer
imigrantes, quer surdos.
Sobre esse direito dos índios, as al-
deias do Acre têm ensino na língua ma-
terna. Antes mesmo da Constituição de
40 41
1988, vários povos indígenas se desper-
taram para a importância de manterem
a própria língua e para o risco de perda
que ela corre diante do português. Hoje
contam com assessorias para o registro
e o ensino da língua materna.
Um trabalho pioneiro, com a prática de
escrita em língua indígena, é o projeto
Uma Experiência de Autoria dos Índios
do Acre, iniciado em 1983, pela Comis-
são Pró-Índio do Acre (CPI-AC). São
histórias orais ouvidas dos mais velhos
e reproduzidas por alunos e professores
indígenas – se podemos pensar aqui tão-
somente no produto final, e não neces-
sariamente no processo.
Esse direito deveria ser reconheci-
do diante de todas as línguas do Acre.
No caso do árabe, porém, os descen-
dentes sírio-libaneses que ainda falam
a língua dos imigrantes, em geral, não
a ensinam aos seus filhos. A língua ma-
terna dos filhos e netos é o português.
Não há, portanto, como criar um ensino
em língua materna árabe, não há porque
reivindicar tal direito. Mas, antes de ser-
mos conclusivos, devemos saber dos sen-
timentos linguísticos de seus falantes,
como se organizam, como se distribuem
no Estado.
Quanto ao espanhol, embora seja,
aparentemente, significativa a presença
de hispanofalantes no Acre, ainda não
há mobilização para que haja ensino
nessa língua, em parte devido à falta de
iniciativa dos próprios imigrantes e de
seus governos, mas também do governo
do Estado que os acolhe. Os direitos
linguísticos dos cidadãos acreanos
hispanofalantes não são atendidos.
42 43
Aliás, essa lacuna política está pre-
sente em todos os Estados brasileiros
fronteiriços a los hermanos. O Brasil está
devendo a crianças e jovens hispanofa-
lantes uma educação bilíngue. São filhos
de imigrantes – “agora cidadãos brasi-
leiros” – que têm casa, trabalho e raiz
em nosso território. Dignos, portanto, de
terem sua língua reconhecida como lín-
gua de ensino.
Em contrapartida, no Acre, as pessoas
surdas aprendem ou ampliam sua
competência em LIBRAS. Devagar vão
encontrando interlocutores. Também
nosso flâneur tem aprendido um pouco
dessa língua, com dezenas de surdos
que circulam pela cidade. Vez ou outra,
papeiam no Terminal Urbano de Rio
Branco, enquanto aguardam o próximo
ônibus.
O uso da LIBRAS pelos surdos diz
respeito ao seu direito à cidadania e à
inclusão social que eles conquistam
paulatinamente. Ao usá-la, podem –
e esperamos que de fato possam –
manifestar o que pensam e sentem,
criticar e defender seus pontos de vista.
Isso implica não só o acesso ao ensino de
LIBRAS e a comunicação entre surdos,
mas, também, a comunicação efetiva
entre surdos e ouvintes.
O direito à própria língua vincula-se
ao princípio de personalidade, segundo
o qual os indivíduos de um grupo linguís-
tico reconhecido têm o direito de falar
e escrever em sua língua, independen-
temente do território onde o grupo se
localiza (Calvet, 2007, p.82). Ou seja, o
índio, fora de seu território, já fixado ou
recém-chegado à cidade, também tem
44 45
direito à própria língua. O mesmo vale,
no Acre, para o imigrante hispanofalante
e para o cidadão surdo.
7. Extermínio linguístico
Embora, nos cardápios de lanchonetes
e restaurantes, fachadas dos comércios
ou placas informativas e publicitárias,
ocorra relativa confluência linguística de
árabe, espanhol e línguas indígenas, no
Acre, como em “todo” o território brasi-
leiro, a língua portuguesa é majoritária.
Nosso visitante sabe que o português é
nossa língua oficial e de comunicação,
não há dúvida em seus olhos.
Continua ele sua viagem, também,
com a certeza de que, preferencial-
mente, aportuguesamos palavras “es-
tranhas” ou as substituímos por outra
em português. O que é pior, nem sempre
de sentidos equivalentes. Fazemos isso
sem encontrar qualquer motivo na lín-
gua, pois uma forma é tão boa quanto a
outra – defendem com veemência os lin-
guistas –, e sim na nossa identidade, no
nosso patriotismo, na nossa unidade na-
cional. Muito provavelmente pseudoiden-
tidade, pseudopatriotismo, pseudouni-
dade, porque oculta o Brasil pluricultural
e plurilíngue de fato.
Mas, se no Brasil ocorre o reinado de
uma única língua, é devido ao processo
histórico e político a seu favor. É em-
blemático nesse processo o Diretório
dos Índios, lei de 1758, quando o portu-
guês Marquês de Pombal determinou o
uso exclusivo do português como língua
de ensino no então Estado do Grão-Pará
e Maranhão, em detrimento das línguas
indígenas faladas por grande parte dos
46 47
brasileiros de então. A lei do coloniza-
dor!
Se hoje, no Acre, existem cerca de
quinze línguas indígenas, é, em parte,
devido ao fato de seus falantes estarem
distantes da costa e dos centros já urba-
nizados nos tempos de tal Marquês. Isso
não significa que essas línguas indígenas
tenham ficado livres de repressão, pelo
contrário.
Na mesma categoria do Diretório, já
no século XX, encontra-se a política
de Getúlio Vargas contra as línguas
maternas de milhares de imigrantes e
seus descendentes, sobretudo no sul do
país.
Nutrindo esses dois episódios trágicos
está o fato de essas línguas – indígenas ou
de imigração – não terem sido eleitas pelo
Estado como língua nacional e de serem
línguas de minorias. São de minorias não
necessariamente pelo número de falan-
tes, e sim pelo desprestígio social atribuí-
do a elas. Mas é muito mais do que isso,
o Estado Brasileiro desrespeitou a língua
do seio materno de milhões de brasilei-
ros. Juntos, o Diretório e o Estado Novo
promoveram um extermínio linguístico.
Notícia nada positiva ou agradável a um
flâneur!
8. Devagar com nossas línguas!
Embora a avaliação geral seja de que
a educação intercultural e bilíngue pro-
mova mudanças positivas entre os ín-
dios, esse resultado talvez não seja sem-
pre verdade. O professor Isaac Pinhanta
Ashaninka (apud Ochoa e Teixeira, 2006,
p.112), por exemplo, é cauteloso a esse
respeito: “devemos ter cuidado com o tra-
balho que a escola propõe, pois os alunos
48 49
estão vivendo entre diversas culturas
diferentes, entre diversos conhecimen-
tos e práticas: prática tradicional e práti-
ca escolar teórica, convivendo com cos-
tumes diferentes, línguas diferentes.”
Aqui, Isaac parece atentar para o fato
de, num mesmo tempo, se preocupa-
rem em manter vivos os conhecimen-
tos tradicionais e desejarem adquirir
conhecimentos e tecnologias do mun-
do não-índio. Na verdade, como nosso
flâneur observa, vários povos indígenas
– não apenas no Acre – mesclam, por
exemplo, o cultivo tradicional de alimen-
tos e a pesca artesanal com o uso de
câmeras filmadoras, de microcomputa-
dores e o acesso à Internet.
O receio, entremeado em sua fala, é
salutar e figura como argumento à pos-
tura de que a “cultura do Estado” não
pode se sobrepor à “cultura local”. A
língua nacional e a língua oficial não po-
dem apagar a língua materna minori-
tária nem ser a mais importante no seio
da comunidade bilíngue ou que se quer
bilíngue. No entanto, o “encontro” de
ambas as línguas, dentro dessa comuni-
dade, tende a ser, em geral, de constante
conflito e de ameaça à língua minoritária.
Por isso, é fundamental ouvir a preocu-
pação de Isaac Ashaninka.
Diante da situação de perigo a que
estão submetidas as línguas e culturas
indígenas, cabe aos indivíduos índios
serem vigilantes na implementação das
políticas linguísticas pelo Estado. Nesse
sentido, ao lembrar que a Constituição
Federal faculta aos povos indígenas o
direito de ensinar, nas escolas, o portu-
guês e as línguas próprias, o professor
Joaquim Maná Kaxinawá (apud Ochoa e
50 51
Teixeira, 2006, p.110), em consonância
com o professor Isaac Ashaninka, chama
seus pares para a prática sociopolítica,
em defesa de suas línguas: “Esses dire-
itos devem ser praticados pelos próprios
povos, pelos índios, famílias e comuni-
dades, para que as Políticas Linguísticas
se fortaleçam cada vez mais.” E não pe-
los líderes não-índios, nem mesmo os de
“boa vontade”, porque os cuidados com
qualquer língua implicam o sentimento
linguístico-materno de cada grupo de
falantes, de cada comunidade.
As vozes do professor Joaquim Kaxi-
nawá e do professor Isaac Ashaninka,
anteriormente citadas, apontam para a
relevância que devem ter os sentimentos
de cada povo nas políticas assumidas e
implementadas pelos governos – munici-
pais, estaduais ou federal. Em política lin-
guística, nenhuma decisão pode – ou
não deveria – ser tomada “sem que se
levem em consideração os sentimen-
tos linguísticos, as relações que os fal-
antes estabelecem com as línguas com
as quais convivem diariamente” (Calvet,
2007, p.86). Trata-se de uma orientação
primordial (se queremos realmente res-
peitar os direitos das minorias) nem sem-
pre valorizada pelo Estado ao assumir as
decisões de gabinete – as políticas – e
ao implementar tais políticas. Os falan-
tes ensinam muito ao Estado, se assim
esse o quiser.
Essa postura estatal seria um grande
passo rumo à democracia tão almejada
em nosso país.
52 53
Embora a situação dos índios do Acre
não seja a mais desejável, entendemos
que, devido a suas práticas sociocultu-
rais e “conquistas”, eles podem ensinar
– com as ressalvas necessárias – aos bra-
sileiros hispanofalantes. Isso nos parece
cabível, mesmo sabendo que o ensino em
espanhol está à mercê dos interesses do
Estado e da maioria dos linguistas e in-
telectuais brasileiros.
Se os sentimentos linguísticos desses
hispanofalantes são de que o espanhol,
por exemplo, se torne língua de ensino,
em algumas cidades acreanas ao menos,
e se as decisões do governo (municipais
ou estadual) forem ao encontro desses
sentimentos, podemos, então, vislumbrar
uma promoção do espanhol no Acre.
Seguindo Ramais A propósito, essa promoção não
significaria qualquer ameaça ao
português. Fomentaríamos uma educa-
ção bilíngue, orientados, por exemplo, pe-
lo 3º parágrafo do artigo 23 da Declara-
ção Universal dos Direitos Linguísticos,
segundo o qual “A educação deve estar
sempre a serviço da diversidade linguís-
tica e cultural e das relações harmoniosas
entre diferentes comunidades linguís-
ticas do mundo todo.”
De modo semelhante, poderíamos di-
zer acerca de LIBRAS. Nesse caso, sua
expansão ocorreria em dois eixos: tor-
nar todos os surdos seus falantes e pro-
mover a comunicação efetiva entre sur-
dos e ouvintes (sobretudo atendentes do
comércio ou serviço público).
Se assim se seguir, nos-
so visitante flâneur, quando voltar
54 55
em poucas décadas, se certificará do res-
peito com que o Estado tratou os cidadãos
acreanos surdos ou hispanofalantes.
Poderíamos enfatizar: as políticas lin-
guísticas serão tão exitosas quanto mais
estiverem em consonância com os sen-
timentos linguísticos da população. As-
sim, as políticas devem se inspirar nas
práticas sociais dos indivíduos, devem
ocorrer, preferencialmente, de acordo
com as soluções intuitivas postas em uso
pelo povo (Calvet, 2007). Seria o Estado
e seus parceiros (de decisão e de inter-
venção) exercendo a democracia.
Foi como gesto de respeito ao senti-
mento linguístico dos acreanos que evi-
tamos, aqui, a nova grafia de tal gentí-
lico.
BRASIL. Constituição da República Fe-
derativa do Brasil: promulgada em 5
de outubro de 1988.
—. Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
CALVET, L.-J. As políticas linguísticas.
Tradução I. de O. Duarte, J. Tenfen, M.
Bagno. São Paulo: Parábola, Florianó-
polis: IPOL, 2007. (Na ponta da língua,
17)
GESSER, A. LIBRAS?: Que língua é essa?:
crenças e preconceitos em torno da
língua de sinais e da realidade sur-
Bibliografia
56 57
da. São Paulo: Parábola, 2009. (Estra-
tégias de Ensino, 14)
HAMEL, R. E. Derechos linguísticos como
derechos humanos: debates y perspec-
tivas. Revista Alteridades, n. 5 (10),
p.11-23, 1995.
OCHOA, M. L. P. e TEIXEIRA, G. A. Apren-
dendo com a natureza e conservando
nossos conhecimentos culturais. Rio
Branco: OPIAC e CPI-AC, 2006.
OLIVEIRA, G. M. (org.). Declaração Uni-
versal dos Direitos Linguísticos. Cam-
pinas: Mercado de Letras, ALB; Floria-
nópolis: IPOL, 2003.
SOUZA, C. A. A. História do Acre: novos
temas, nova abordagem. Rio Branco:
Edição do Autor, 2002.
TRASK, R. L. Dicionário de linguagem e
linguística. Tradução Rodolfo Ilari. 2.
ed. São Paulo: Contexto, 2006.
ACRE-SEPLAN. Acre em números 2009.
Rio Branco: SEPLAN – Secretaria de Es-
tado de Planejamento, 2009. Disponí-
vel em http://www.acre.gov.br. Aces-
so em 16 out 2010.
































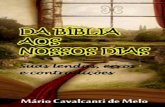




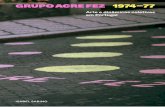


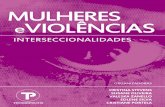




![^_`]ab - DPU – Direitos Humanos](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334d004d2b728420307a0c7/ab-dpu-direitos-humanos.jpg)






