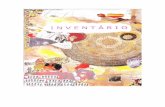faculdade de educação - Repositório Institucional da UFBA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of faculdade de educação - Repositório Institucional da UFBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS
CIÊNCIAS
MARIANA RODRIGUES SEBASTIÃO DE ALMEIDA
EDUCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA:
POSSIBILIDADES E LIMITES DO DIÁLOGO
Salvador
2021
MARIANA RODRIGUES SEBASTIÃO DE ALMEIDA
EDUCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA:
POSSIBILIDADES E LIMITES DO DIÁLOGO
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Ensino, Filosofia e História das Ciências, Universidade
Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de
Santana, como requisito para conclusão do Curso de
Doutoramento.
Orientadora: Profa. Dra. Rejâne Maria Lira-da-Silva
Coorientadora: Profa. Dra. Simone Terezinha Bortoliero
Salvador
2021
SIBI/UFBA/Faculdade de Educação – Biblioteca Anísio Teixeira Almeida, Mariana Rodrigues Sebastião de. Educomunicação e educação científica : possibilidades e limites do diálogo / Mariana Rodrigues Sebastião de Almeida. - 2021. 437 f. : il. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rejâne Maria Lira-da-Silva. Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Simone Terezinha Bortoliero. Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós- Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, Salvador, 2021. Programa de Pós-Graduação em convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana. 1. Educação científica - São Francisco do Paraguaçu (Cachoeira, BA). 2. Educomunicação. 3. Agência Jovem de Notícias. 4. Água. 5. Estudantes - Conhecimentos. I. Lira-da-Silva, Rejâne Maria. II. Bortoliero, Simone Terezinha. III. Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. IV. Universidade Estadual de Feira de Santana. V. Título. CDD 507.2 - 23. ed.
MARIANA RODRIGUES SEBASTIÃO DE ALMEIDA
EDUCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA:
POSSIBILIDADES E LIMITES DO DIÁLOGO
Salvador, 16 de dezembro de 2021.
Tese apresentada como requisito para obtenção do grau de Doutora em Ensino, Filosofia e
História das Ciências, Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de
Santana.
Banca Examinadora:
Prof.ª Drª. Rejâne Maria Lira-da-Silva – Orientadora
Universidade Federal da Bahia
Prof.ª Drª. Simone Terezinha Bortoliero – Coorientadora
Universidade Federal da Bahia
Profª. Drª. Lynn Rosalina Gama Alves – Examinadora Interna
Universidade Federal da Bahia
Prof.ª. Drª. Geilsa Costa Santos Baptista – Examinadora Interna
Universidade Federal da Bahia
Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares – Examinador Externo
Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Diogo Lopes de Oliveira – Examinador Externo
Universidade Federal de Campina Grande
Ao Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica “Ciência, Arte &
Magia”, uma pequena retribuição por todo o trabalho árduo realizado durante esses 16 anos
em defesa da educação.
AGRADECIMENTOS
Eu costumo ser bem clichê nos meus agradecimentos. A frase que eu mais uso é “Esse foi um
trabalho feito a muitas mãos”, por isso acabei de usar aqui de novo. Um trabalho de pesquisa
nunca é feito pelo pesquisador sozinho, ele só fica responsável por uma parte maior do estudo.
Por trás existe uma base e na frente existe suporte para você conseguir terminar o que começou.
Ser doutora para mim não tem quase nada a ver com obter um título. Tem a ver com o processo
formativo que eu vivi durante esse tempo. Foi gratificante, transformador e conflituoso ao
mesmo tempo. Em alguns momentos eu quase me arrependi e pensei: “O que eu estou fazendo
aqui?”. Em outros eu me emocionei e pensei: “É isso!”. Que bom que pude sentir tantas
sensações diferentes, valeu mesmo a pena.
Agradeço a Jeová, o Deus a quem sirvo, por ter me dado poder além do normal para eu enfrentar
as angústias que sempre me acompanham e terminar o que eu comecei: “Para todas as coisas
tenho forças graças àquele que me dá poder” – Filipenses 4:13.
Agradeço à minha amada orientadora, Rejâne Lira, pela confiança que ela sempre deposita em
mim, e por ter me ensinado tanto durante esses 16 anos. Eu sinto um orgulho tão grande de ser
sua orientanda! Vejo muito dela em mim e me sinto privilegiada de fazer parte da sua vida. Não
tenho como listar as coisas que aprendi ao seu lado nem como retribuir por tanto.
Também agradeço à minha amada orientadora, Simone Bortoliero, que sempre viu mais em
mim do que eu sempre achei que podia oferecer. Embora eu nunca tenha lhe dito, sempre me
vi um grãozinho de areia perto de uma inteligência social tão grande como a dela. Mas o seu
amor pelas alunas também é tão grande que perto dela a gente não diminui, só cresce.
Nada eu seria sem o amor da minha família e dos meus amigos, que apoiaram todas as minhas
escolhas até hoje. Em especial, agradeço a meus pais e a meu marido querido pelo suporte
completo nas fases eufóricas e disfóricas, no equilíbrio e no desânimo. Também preciso
direcionar agradecimentos individuais a minha mãe, Diana, minha prima Talita e a minha amiga
Marília, por terem me ajudado em transcrições e fichamentos. “Tô precisando de uma ajuda
sua...”, dizia eu, de fininho, e consegui o que eu queria.
Para a minha família Ciência, Arte & Magia (CAM) escrevo um agradecimento todo especial.
Esse Programa me formou e esse doutorado tão gratificante é dedicado a essa equipe. Agora o
CAM está formando uma doutora que seguiu a trajetória do Projeto desde a Iniciação Científica
Júnior.
Muito Obrigada à comunidade de São Francisco do Paraguaçu, lugar em que já me sinto em
casa, pela recepção, acolhimento, pelos ótimos momentos, pelo árduo trabalho que produzimos
e sobretudo pela amizade que desenvolvemos. Agradeço a Waleska Mota e a Zarah Dalila por
terem compartilhado comigo os mais importantes desses momentos. Hoje essas recordações
aquecem meu coração e me fazem muito feliz!
Por fim, não posso deixar de agradecer ao Programa que já me formou mestra e agora me forma
doutora – Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia, e História das Ciências – dentro
da Universidade a qual tenho orgulho de fazer parte: a Universidade Federal da Bahia. Obrigada
também à Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes), pelo suporte
através da bolsa de doutorado. O auxílio faz toda diferença na vida de um pesquisador.
Muito Obrigada!
Começo por Paulo Freire
Por toda inovação
De juntar outros saberes
Ao campo da educação:
O social, os afetos
E até comunicação
(...)
Foi o Mário* quem forjou
O adjetivo arretado
Que hoje aqui nós usamos
E falamos de bom grado
Educomunicador
É assim que sou chamado
*Kaplún
Trecho do Cordel I ENNA de Jéfte Amorim e Esperantivo
(...) terminem o que começaram, de modo que a sua prontidão para agir seja
completada segundo os recursos que têm à disposição. 2 Coríntios 8:11
SEBASTIÃO, Mariana Rodrigues. Educomunicação e Educação Científica: Possibilidades e
Limites do Diálogo. 2021. Orientadora: Rejâne Maria Lira-da-Silva. Coorientadora: Simone
Terezinha Bortoliero. 437 f. il. Tese (Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências)
– Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021.
RESUMO
Esta Pesquisa, de natureza qualitativa, teve como principal objetivo investigar potencialidades
e limitações de uma intervenção pedagógica educomunicativa que estimulou o diálogo com
estudantes sobre os conhecimentos científicos acerca do tema Água. Foi realizada em São
Francisco do Paraguaçu, comunidade rural quilombola do Recôncavo Baiano, lugarejo que
vivencia diferentes processos relacionados à água: a existência de fontes com valor histórico, a
presença tímida do esgotamento sanitário, a distribuição irregular do recurso nas residências e
a poluição da Baía do Iguape, que recebe as águas da Baía de Todos os Santos e do Rio
Paraguaçu. Para atender ao seu objetivo central, ancorou-se em cinco objetivos específicos, a
saber: compreender os processos socialmente construídos sobre água pelos comunitários;
estruturar uma Agência Jovem de Notícias (AJN) como intervenção educomunicativa; analisar
a construção do diálogo dos jovens com os conhecimentos científicos durante a intervenção;
retroalimentar as percepções previamente compreendidas sobre a temática; e, finalmente,
discutir as potencialidades e limitações do paradigma educomunicativo para o tipo de diálogo
desejado. Para cada uma das fases instituídas, foram utilizados procedimentos metodológicos
específicos: primeiro, para compreender os processos construídos sobre água pela comunidade,
nos apropriamos de princípios da etnometodologia e as estratégias principais foram a
observação participante acrescida da realização de entrevistas informais e semiestruturadas com
jovens, líderes comunitários, moradores e trabalhadores da Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A. A implementação da AJN, por sua vez, caracterizada aqui como uma
atividade de educação não-formal, seguiu o método educomunicativo como eixo vertebrador
do processo, associada aos princípios de uma educação CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade).
Seis jovens participaram dela produzindo textos jornalísticos, fotografias e vídeos sobre água e
esgotamento sanitário, relacionando e refletindo informações obtidas através das pesquisas em
livros, revistas, entrevistas com professores e moradores do povoado. Esta pesquisa gerou duas
instâncias de análise: 1) a interpretação dos processos construídos sobre água pela comunidade;
2) A análise do planejamento e da execução da AJN. Os resultados dão conta de que, embora a
realização de um trabalho desta magnitude apresente uma série de dificuldades relacionadas
principalmente ao espaço escolar e ao papel do educomunicador, os ganhos levantados pela
intervenção, que foi ancorada na investigação, produção, análise crítica, protagonismo
estudantil e criatividade, sugerem uma nova forma de trabalhar ciências com jovens de
comunidades, trazendo os conhecimentos o mais perto possível das suas realidades. Nossa Tese
é que este é o caminho para uma educação científica libertadora que ajude os indivíduos a
transformar a sua realidade através de ações pensadas e bem discutidas.
Palavras-chave: Educação Científica; Educomunicação; Agência de Notícias; Água; São
Francisco do Paraguaçu.
SEBASTIÃO, Mariana Rodrigues. Educommunication and Scientific Education: Possibilities
and Limits of Dialogue. 2021. Advisor: Rejâne Maria Lira-da-Silva. Co-advisor: Simone
Terezinha Bortoliero. 439 p. il. Thesis (Doctorate in Teaching, Philosophy and Science History)
– Faculty of Education, Federal University of Bahia, Salvador, 2021.
ABSTRACT
This qualitative-nature research aimed mainly to investigate potentialities and limitations of an
educommunicative pedagogical intervention that encouraged dialogue with students about
scientific knowledge on the topic Water. It was carried out in São Francisco do Paraguaçu, a
rural Quilombola community of the Recôncavo region of Bahia state, a village that experiences
different processes concerning water: the existence of historically valued springs, the timid
presence of sanitary sewage system, the irregular distribution of the resource in the houses and
the pollution of the Iguape Bay, which receives water from Bay of All Saints and of Paraguaçu
River. To meet its main objective, this study underpinned in five specific goals, namely: to
understand the processes socially built about water by the community members; to structure a
Young News Agency (YNA) as an educommunicative intervention; to analyse the dialogue
construction of young people with scientific knowledge during the intervention; to feedback
previously understood perceptions regarding the topic; and, lastly, to discuss the potentialities
and limitations of the educommunicative paradigm for the type of expected dialogue. For each
of the imposed stages, specific methodological procedures were used: first, to understand the
processes built about water by the community, we apprehended the ethnomethodology
principles and the main strategies were participant observation in addition to carrying out
informal and semi-structured interviews with young people, community leaders, inhabitans and
workers from Bahia Water and Sanitation Company S.A. (business corporation). The
implementation of YNA, in turn, caracterized here as a non-formal education activity, followed
the educommunicative method as the process vertebral axis, associated to the principles of a
STS (Science, Technology and Society) education. Six young people attended it producing
jornalistic texts, photographs and videos about water and sanitary sewage system, relating and
reflecting pieces of information gotten through research in books, magazines, interviews with
teachers and village’s inhabitants. This research resulted in two analysis instances: 1)
Interpretation of the processes built about water by the community; 2) Analysis of the planning
and execution of the YNA. The results show that, although the performance of a work of such
importance presents a range of difficulties related to, mainly, school environment, and the
educommunicator’s role, the gains raised by the intervention, which was underpinned by
investigation, production, critical analysis, student protagonism and creativity, suggest a new
way of working on kinds of science with community’s young people, bringing knowledge as
closer as possible to their realities. Our theory is that this is the path to a liberating scientific
education that helps individuals transform their lives through thoughtful and well-discussed
actions.
Key words: Scientific Education; Educommunication; News Agency; Water; São Francisco do
Paraguaçu.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 Baía do Iguape vista de São Francisco do Paraguaçu............................... 83
Figura 2 Mapa do Vale do Iguape com destaque para suas comunidades
quilombolas..............................................................................................
84
Figura 3 Convento Santo Antônio do Paraguaçu.................................................... 86
Figura 4 Convento Santo Antônio do Paraguaçu.................................................... 86
Figura 5 Convento Santo Antônio do Paraguaçu.................................................... 86
Figura 6 Praça Antônio Sapucaia em São Francisco do Paraguaçu......................... 87
Figura 7 Praça Antônio Sapucaia em São Francisco do Paraguaçu......................... 87
Figura 8 Sede da Associação dos Remanescentes de Quilombo São Francisco do
Paraguaçu – Boqueirão.............................................................................
88
Figura 9 Maculelê e Capoeira na Escola Estadual de São Francisco do Paraguaçu. 88
Figura 10 Maculelê e Capoeira na Escola Estadual de São Francisco do Paraguaçu. 88
Figura 11 Ooteca, espaço educativo em São Francisco do Paraguaçu....................... 89
Figura 12 Mapa da Lagamar do Iguape que destaca a grande área de manguezal..... 90
Figura 13 Barragem do Rio Catu em São Francisco do Paraguaçu........................... 92
Figura 14 Poço artesiano em São Francisco do Paraguaçu........................................ 92
Figura 15 Da esquerda para a direita, Fonte do Love e Fonte do Catônio em São
Francisco do Paraguaçu............................................................................
94
Figura 16 Da esquerda para a direita, Fonte do Love e Fonte do Catônio em São
Francisco do Paraguaçu............................................................................
94
Figura 17 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Embasa em São Francisco
do Paraguaçu............................................................................................
95
Figura 18 Água colhida por João da torneira da sua casa durante a conversa.......... 101
Figura 19 Frente e fundo da EESFP.......................................................................... 126
Figura 20 Frente e fundo da EESFP.......................................................................... 126
Figura 21 Sala da AJN em processo de organização................................................. 129
Figura 22 Sala da AJN após o processo de organização............................................ 130
Figura 23 Sala da AJN após o processo de organização............................................ 130
Figura 24 Sala da AJN após o processo de organização........................................... 130
Figura 25 Estudantes seguram suas canecas e camisas na AJN................................. 132
Figura 26 Cronograma de atividades da AJN discutido e aprovado.......................... 134
Figura 27 Cronograma de atividades da AJN discutido e aprovado.......................... 134
Figura 28 Cronograma de atividades da AJN discutido e aprovado.......................... 135
Figura 29 Oficina de Jornalismo............................................................................... 141
Figura 30 Oficina de Jornalismo............................................................................... 141
Figura 31 Registro do texto de Calebe no bloco de anotações.................................. 142
Figura 32 Jovens vão a campo na Oficina de Fotografia com Celular...................... 146
Figura 33 Jovens vão a campo na Oficina de Fotografia com Celular...................... 146
Figura 34 Jovens vão a campo na Oficina de Fotografia com Celular...................... 146
Figura 35 Fotografias produzidas por Clarissa e Damião na oficina........................ 147
Figura 36 Página da AJN no Instagram..................................................................... 148
Figura 37 Página da AJN no Instagram..................................................................... 148
Figura 38 Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos............................ 150
Figura 39 Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos............................ 150
Figura 40 Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos............................ 151
Figura 41 Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos............................ 151
Figura 42 Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos............................ 151
Figura 43 Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos............................. 151
Figura 44 Vídeo de Clarissa, sobre as fossas usadas em São Francisco.................... 153
Figura 45 Vídeos de Leide e Calebe.......................................................................... 154
Figura 46 Vídeos de Leide e Calebe.......................................................................... 154
Figura 47 Registro de uma das Atividades Surpresa................................................. 157
Figura 48 Convites nominais para a apresentação final da AJN distribuídos
pessoalmente e via WhatsApp para pais, colaboradores, antigos
estudantes e moradores............................................................................
160
Figura 49 Convites nominais para a apresentação final da AJN distribuídos
pessoalmente e via WhatsApp para pais, colaboradores, antigos
estudantes e moradores.............................................................................
160
Figura 50 Apresentação final dos trabalhos produzidos na AJN............................... 161
Figura 51 Apresentação final dos trabalhos produzidos na AJN............................... 161
Figura 52 Apresentação final dos trabalhos produzidos na AJN............................... 161
Figura 53 Apresentação final dos trabalhos produzidos na AJN............................... 161
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Informações dos entrevistados por idade, série e dados adicionais......... 114
Quadro 2 Respostas expressas pelos jovens sobre o Rio Paraguaçu....................... 120
Quadro 3 Lista de descrição dos professores da EESFP, por formação, ano que
leciona e informações adicionais............................................................
126
Quadro 4 Pautas definidas na Oficina de Jornalismo.............................................. 136
Quadro 5 Matérias produzidas na Oficina de Jornalismo....................................... 143
Quadro 6 Fotografias produzidas na Oficina de Fotografia com Celular................ 149
Quadro 7 Vídeos produzidos na Oficina de Vídeos................................................ 156
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
ACCS Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade
AJN Agência Jovem de Notícias
ANA Agência Nacional de Águas e Saneamento
BNCC Base Nacional Comum Curricular
BTS Baía de Todos os Santos
CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras
CAM Ciência, Arte & Magia
CAPS Centro de Atenção Psicossocial
CBH Comitê de Bacia Hidrográfica
CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente
CTS Ciência, Tecnologia e Sociedade
ECA Escola de Comunicações e Artes
EDS Educação para o Desenvolvimento Sustentável
EESFP Escola Estadual de Primeiro Grau São Francisco do Paraguaçu
EF Ensino Fundamental
EJC Encontro de Jovens Cientistas
EM Ensino Médio
EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
ETA Estação de Tratamento de Água
ETE Estação de Tratamento de Esgoto
FCP Fundação Cultural Palmares
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC Jr. Iniciação Científica Júnior
IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Comunicação Pública da Ciência
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MUHNAC Museu Nacional de História Natural e da Ciência
NCE Núcleo de Comunicação e Educação
OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ODS Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
ONU Organização das Nações Unidas
PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PISA Programa Internacional de Avaliação de Alunos
PNRH Política Nacional de Recursos Hídricos
RJC Revista Jovens Cientistas
SNSA Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TIC Tecnologias da Informação e Comunicação
UFBA Universidade Federal da Bahia
UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
UL Universidade de Lisboa
UNEB Universidade do Estado da Bahia
UNIFACS Universidade Salvador
UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco
USP Universidade de São Paulo
SUMÁRIO
TRAJETÓRIA DA AUTORA ....................................................................................... 15
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 22
2 CAPÍTULO 1: POR QUE INSISTIR NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS?
TRÊS RAZÕES QUE JUSTIFICAM ESSA NECESSIDADE ......................... 26
2.1 PRIMEIRA RAZÃO: NÃO ESTAMOS ALCANÇANDO O POTENCIAL
TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA ........................................ 28
2.1.1. Onde estamos errando? ........................................................................................ 30
2.2. SEGUNDA RAZÃO: A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PODE ESTIMULAR O
ESTUDANTE A PENSAR E AGIR SOBRE A SUA REALIDADE PESSOAL
E CULTURAL ........................................................................................................ 33
2.3. TERCEIRA RAZÃO: A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL PODE
COMPLEMENTAR A ESCOLARIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA TRANSFORMADORA ............................................ 37
3 CAPÍTULO 2: EDUCOMUNICAÇÃO: UMA NOVA FORMA DE
CONSTRUIR CONHECIMENTO ..................................................................... 41
3.1. QUEM TEVE ESSA IDEIA? ALGUMAS BASES PRECURSORAS DA
EDUCOMUNICAÇÃO .......................................................................................... 43
3.2. EDUCOMUNICAR: PARA QUÊ NOS SERVIRÁ? ............................................ 48
3.3. EDUCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA O EXERCÍCIO
DA CIDADANIA: COMO? ................................................................................... 52
4 CAPÍTULO 3: ÁGUA: FONTE DE VIDA E DE CONHECIMENTO
CIENTÍFICO ........................................................................................................ 55
4.1. ÁGUA, HUMANIDADE E NATUREZA .............................................................. 57
4.2 O GERENCIAMENTO HÍDRICO NO BRASIL ................................................... 60
4.3. FONTE DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO: A ABORDAGEM DA ÁGUA
NAS DIRETRIZES EDUCACIONAIS .................................................................. 63
5 CAPÍTULO 4: PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA ................. 68
5.1. INTERPRETAÇÃO ETNOMETODOLÓGICA DOS PROCESSOS
CONSTRUÍDOS SOBRE ÁGUA PELA COMUNIDADE ................................... 69
5.1.1 Procedimentos utilizados na interpretação etnometodológica .......................... 72
5.2. IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS COMO
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EDUCOMUNICATIVA ................................. 75
5.3. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ................................................................... 78
6 CAPÍTULO 5: UMA INTERPRETAÇÃO ETNOMETODOLÓGICA DOS
PROCESSOS CONSTRUÍDOS SOBRE ÁGUA NA COMUNIDADE ........... 80
6.1. SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU: UM LUGAR NO MUNDO, BRASIL
PROFUNDO ........................................................................................................... 80
6.1.1 A água em São Francisco do Paraguaçu ............................................................. 89
6.2. OS FATOS SOCIAIS SOBRE A ÁGUA EM SÃO FRANCISCO:
COMPREENDENDO OS DISCURSOS E AS AÇÕES DOS COMUNITÁRIOS
................................................................................................................................. 95
6.2.1. “Problemática” - Sobre a distribuição da água .................................................. 97
6.2.2. “Tem o quê, essa água?” - Sobre o tratamento e o consumo da água
distribuída e o consumo da água de uma das nascentes .................................... 99
6.2.3. “O tratamento lá é natural” - sobre o esgotamento sanitário ........................... 106
6.2.4. Ponderando as discussões apresentadas............................................................. 110
7 CAPÍTULO 6: A JUVENTUDE FRANCISCANA E AS SUAS
PERCEPÇÕES SOBRE A ÁGUA NA COMUNIDADE .................................. 112
7.1. CONHECENDO OS JOVENS ENTREVISTADOS ............................................. 113
7.2. EXPRESSANDO AS PERCEPÇÕES .................................................................... 114
7.2.1. “Cheio de cloro, professora!”: sobre a água em casa e na comunidade .......... 114
7.2.2. “Não vejo tratamento nenhum ali”: sobre o esgotamento sanitário ................ 117
7.2.3. “As coisas que vêm dele”: sobre o Rio Paraguaçu ............................................. 120
7.2.4. Refletindo as percepções ...................................................................................... 123
8 CAPÍTULO 7: A AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS COMO
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EDUCOMUNICATIVA ............................ 124
8.1. DESCREVENDO A AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS .................................... 125
8.1.1 “Taca fogo, professora!” - A escola como espaço de realização da AJN ......... 125
8.1.2 O cronograma de atividades e o fluxo de trabalho ............................................ 131
8.1.3 As oficinas educomunicativas .............................................................................. 135
8.1.3.1.“Eu vou escrever o quê?” - A Oficina de Jornalismo .......................................... 135
8.1.3.2. “Agora já sei por que isso acontece aqui!” - A Oficina de Fotografia com
Celular .................................................................................................................... 144
8.1.3.3. “Não confunda Baía com Bacia!” - A Oficina de Vídeos ................................... 154
8.1.3.4. As Atividades Surpresa ........................................................................................ 156
8.1.3.5. “Esse trabalho vai ser bom para quem?” - A apresentação final ...................... 159
8.1.4 As principais dificuldades .................................................................................... 163
8.1.4.1. “O que você está ganhando com isso?” - Desistências e Permanências ........... 163
8.1.4.2. “Não houve confiança!” - Pedagogia sem autonomia? ..................................... 165
8.1.4.3. Contratempos e Falhas ........................................................................................ 167
8.1.4.4. “Eu me senti sozinha” - Nossas limitações como professores ............................ 169
8.1.4.5. “Essa é da ruim!” - Pedagogia da recompensa ou educação tradicional? ....... 171
CONCLUSÃO ................................................................................................................. 174
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 178
APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas semiestruturadas ........................................ 187
APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas semiestruturadas ................................ 189
APÊNDICE C – Transcrição das conversas informais ............................................... 230
APÊNDICE D – Diário de Pesquisa .............................................................................. 302
ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa ................. 387
ANEXO B – TCLE e de Termos de Uso de Imagem e Voz ........................................ 390
ANEXO C – Jornal Salinha Verde ............................................................................... 424
ANEXO D – Publicações Oriundas da Tese ................................................................. 430
15
TRAJETÓRIA DA AUTORA
Que gratificante poder contar minha história acadêmica e profissional com levíssimas
pinceladas da história pessoal. Me faz ter certeza de que continuo um ser em permanente
construção, que sei muito pouco, que ainda posso aprender muito com outros e que isso é o
mais divertido em todo o processo. Hoje sou Mariana, jornalista, pedagoga, mestra e me
formando doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. No caminho até aqui tem a
experiência de toda uma vida.
Eu estudei os ensinos fundamental e médio no Colégio da Polícia Militar (em Salvador).
Na 6ª série (hoje chama-se 7º ano), o professor Gutemberg, de Língua Portuguesa e Redação,
me fez descobrir minha paixão pela escrita. Naquele momento descobri o que eu queria me
tornar: redatora de uma revista. Isso mudou um pouco no 1º ano do ensino médio quando passei
na seleção para participar do Projeto Ciência, Arte & Magia (CAM), um novo programa não-
formal de educação científica que a Universidade Federal da Bahia (Ufba) estava executando
em parceria com algumas escolas no estado. A minha escola foi uma delas.
O CAM foi criado por três irmãs que acreditavam no estímulo de vocações científicas
para melhorar a qualidade da educação básica – Rejâne Lira, Rosimere Lira e Rosely Lira. Ele
funcionava como um centro avançado de ciências. Nós trabalhávamos lá no horário oposto às
atividades escolares. Fazíamos Iniciação Científica Júnior (IC Jr.). Desenvolvi ali minha
primeira pesquisa: já que eu queria ser jornalista, fiz uma linha do tempo que contava a história
do jornalismo impresso aqui no país.
Associado a isso, também executei meu primeiro experimento, a “sublimação do gelo
seco”. Nunca tinha feito isso na escola. Seguindo a rota de todo pesquisador, comecei a
apresentar esses trabalhos em eventos de ciências para a juventude e até publiquei meu primeiro
artigo. Quando eu aprendi a fazer pesquisa eu troquei o sonho de ser redatora pelo sonho de ser
pesquisadora.
16
Meu primeiro artigo foi publicado no livro A Ciência, a Arte e a Magia da Educação Científica
Na foto à esquerda eu estava apresentando meu primeiro experimento no Centro Avançado de Ciências do Colégio da
Polícia Militar (Dendezeiros). Na foto à direita estou na minha primeira apresentação em um evento científico, a SBPC
Jovem (2006, na Universidade Federal de Santa Catarina).
Não posso me esquecer que enquanto estávamos nesses eventos eu era promovida a
jornalista mirim. Entrevistava os participantes, organizadores, os colegas que me
acompanhavam e até autoridades. Depois arrumava tudo no Pergaminho Científico, o blog do
projeto. Nesse sentido, o CAM me treinou antes mesmo de eu ser uma jornalista de verdade.
Pouco antes de entrar no terceiro ano do ensino médio, ganhei uma bolsa de iniciação científica
júnior pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior do CNPq da
Universidade Federal da Bahia (Pibic/Ufba/CNPq) e comecei a trabalhar com a professora
Simone Bortoliero na Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom). Durante 1 ano pesquisamos
sobre o que os jovens de Salvador liam sobre ciências nos meios de comunicação impressos.
Quando ia para lá fazer minha pesquisa, eu dizia: “ano que vem vou estudar aqui!”.
17
Eu trabalhava como “jornalista” em todos os eventos que participávamos.
Passei no vestibular para jornalismo na Ufba e para pedagogia na Universidade do
Estado da Bahia (Uneb). Eu também amava educação, mas esse sonho ficou para um pouco
depois. Enquanto estudava jornalismo, participei de projetos de iniciação científica e iniciação
à extensão. Por um lado, passei a ser estagiária de jornalismo do CAM, produzindo vídeos,
escrevendo notícias, pensando estratégias de divulgação científica, assessorando os Encontros
de Jovens Cientistas (EJC) e outras ações.
Em um dos anos do curso de graduação também tive a oportunidade de estagiar na
assessoria de comunicação da Fiocruz Bahia, desenvolvendo sobretudo ações de comunicação
interna. Por outro lado, quando estava realizando um trabalho junto com a professora Simone
Bortoliero sobre a construção de conhecimentos científicos a partir da produção de vídeos com
a juventude baiana, conheci e me apaixonei pela Educomunicação.
A Educomunicação me pareceu a oportunidade perfeita para unir as três coisas que eu
amava: comunicação, educação e ciências. No meu trabalho de conclusão de curso em
jornalismo, estudei e me aprofundei no campo para investigar como seria trabalhar sob a
perspectiva desse campo produzindo vídeos dentro de um centro de ciências. Fui orientada pela
professora Simone.
Produzindo vídeos com os jovens durante a produção do Trabalho de Conclusão de Curso
18
Feliz depois de apresentar a monografia na Facom/Ufba.
Nesta fase eu continuava bem decidida a fazer pesquisa. Estimulada pela trajetória no
CAM, prestei seleção para o mestrado no Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e
História das Ciências (PPGEFHC), na época vinculado ao Instituto de Física da Ufba. Foi um
período desafiador, mas ao mesmo tempo de muitos aprendizados. No Programa, todo o
aprendizado era novo para mim, mas a minha proposta de unir educomunicação com ensino de
ciências também era nova para o Programa.
Nos dois anos do curso eu e minhas orientadoras (Rejâne Lira e Simone Bortoliero)
estudamos e tentamos formas de estabelecer essa relação com tudo que tínhamos a disposição:
as pesquisas e práticas que já tínhamos investigado ou desenvolvido, as disciplinas do Programa
e de outros Programas e várias tentativas. Esse esforço resultou na dissertação “Jovens
Escolares do Ensino Médio e a Interpretação de Temas de Ciências: Um Olhar na Perspectiva
da Leitura Crítica de Vídeos”.
No dia da defesa da minha dissertação de mestrado no PPGEFHC/Ufba/Uefs.
19
Durante o mestrado tive uma das experiências mais relevantes da minha trajetória. Fiz
um estágio de aperfeiçoamento em divulgação científica no Museu Nacional de História Natural
e da Ciência da Universidade de Lisboa, em Portugal (Muhnac – UL). Vivi isso com umas das
minhas melhores amigas, também jornalista, Mariana Alcântara. Fomos incentivadas pela
professora Rejâne, que conhecia essa vertente da divulgação científica pelo mundo e achava
que isso poderia agregar à nossa formação.
No Muhnac fomos recebidas oficialmente pela professora Marta Loureço, tutoradas pela
comunicóloga Patrícia Garcia e acompanhadas pelo setor de comunicação e imagem. Vimos
exposições incríveis, observamos a relação das escolas com a divulgação científica presente no
museu e experimentamos desafios: sofremos intolerância em redes sociais pela nossa expressão
em português brasileiro.
Na exposição “Tudo sobre dinossáurios” do Muhnac e no Congresso Literacia, Media e Cidadania no Pavilhão do
Conhecimento de Lisboa com Mariana e a profa. Rejâne.
Depois do mestrado, uma das experiências mais significativas que tive foi ser professora
substituta na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). No campus Senhor do
Bonfim, lecionei durante um semestre para o curso de licenciatura em Ciências Naturais as
disciplinas “Sustentabilidade e Cidadania” e “Tecnologias da Informação e Comunicação no
Ensino de Ciências”. Foi uma experiência muito enriquecedora porque tive contato com
estudantes que estavam adentrando na universidade e outros que estavam saindo dela, num
contexto rural, com suas demandas e particularidades específicas.
Uma coisa bem pontual sobre este concurso que prestei foi que ele era para formação
base em pedagogia com pós-graduação em ensino de ciências. Ainda assim eu tinha certeza de
que tinha condições de ministrar essas disciplinas, que estavam dentro do escopo do que eu
estudava e das minhas experiências formativas. Me inscrevi e fiz o processo seletivo, assim
como outras pessoas de outras formações. Felizmente fui considerada apta para assumir a vaga.
20
Aqui eu já começava a sentir os efeitos de ser formada num curso de bacharelado (comunicação
social) e ter mestrado em ensino de ciências, duas áreas que não eram afins. Isso limitava as
minhas oportunidades em concursos do magistério superior e em outros locais.
Resolvi que era o momento de investir no meu sonho de me aproximar mais do campo
da educação e comecei a estudar pedagogia na Universidade Salvador (Unifacs). Além de
aumentar o meu conhecimento de base da área, isso aumentaria as minhas chances de prestar
concursos para ser professora do ensino superior. No curso de pedagogia me aproximei bastante
do Ensino Fundamental I num estágio da educação básica, e levei várias experiências do centro
de ciências para a escola. Embora desafiadora, foi uma vivência incrível. Nesse meio tempo até
prestei seleção para o doutorado, mas não fui aprovada.
Enquanto isso, a convite da professora Rejâne, comecei a colaborar no Vizinhanças, um
projeto aprovado em 2015 para trabalharmos com a produção de materiais de comunicação
(vídeos, jornal e programas de rádio) na comunidade de São Francisco do Paraguaçu, interior
da Bahia. Ela já tinha realizado trabalhos anteriores nessa comunidade. Em 2015 uma parceria
mais forte com a escola de São Francisco foi firmada através da aprovação desse projeto
financiado pela Pró Reitoria de Extensão da Ufba. Ficamos pelo menos um ano no povoado.
Entendemos sua dinâmica, estabelecemos vínculos com as pessoas, fizemos oficinas de
comunicação na escola e na associação de moradores, improvisamos sessões de cinema na praça
etc.
Trabalhando com a equipe e a juventude em São Francisco do Paraguaçu
21
Mesmo após a finalização do Vizinhanças, a nossa relação com a comunidade não se
findou. Todo semestre a professora Rejâne levava seus alunos da Atividade Curricular em
Comunidade e Sociedade (ACCS) da Ufba para continuar as ações de educação e divulgação
científica no povoado. Enquanto isso, estruturamos juntas meu projeto de doutorado. Eu queria
de todo jeito compreender melhor o que a Educomunicação poderia nos apresentar se a
utilizássemos como método para trabalhar conhecimentos científicos. Me lembro que escrevi
esse projeto no final de 2016, quando estava recém mastectomizada pela retirada de um câncer
na mama direita. Foi uma distração naquele período chato de recuperação. Dessa vez o projeto
foi aprovado e estava à nossa frente mais uma ideia muito bacana para desenvolvermos. Agora
aqui estamos nós, finalizando essa etapa.
Hoje continuo colaboradora do CAM, que mais do que um projeto, se tornou uma
família, e hoje se chama Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da
Bahia. Temos um componente novo, a Revista Jovens Cientistas (RJC), da qual tenho muita
satisfação de ser diretora de redação.
Com parte da equipe CAM no último Encontro de Jovens Cientistas em 2019.
Ainda não consegui ser aprovada num concurso para ser professora universitária efetiva
– coisa que para a qual me planejei e continuo me preparando – nem tenho um trabalho fixo
sem tempo determinado. Ainda assim, tenho consciência de que as coisas são uma construção
e demandam tempo, e concordo com algo que ouvi recentemente de uma amiga, que pelas
circunstâncias que têm se apresentado, não temos alternativa a não ser enfrentar os novos
tempos e aprender novas formas de trabalhar para sobreviver e contribuir.
22
1 INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa de doutorado partimos da premissa de que a educação científica é um dos
caminhos que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida. Isso porque, sendo a
ciência uma linguagem construída pelos homens e mulheres para explicar o nosso mundo
natural, o que ajuda a entendermos a nós mesmos e o ambiente que nos cerca, desenvolvemos
potencialidades que nos tornam capazes de refletir de modo crítico sobre a nossa sociedade,
agindo sobre ela (CHASSOT, 2008; GUERRA, 2012).
Uma pauta de grande importância para os educadores em ciência é renegociar a cultura
da ciência escolar para ir ao encontro das necessidades dos cidadãos deste século. Pensar numa
Educação CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade, mostra-se um caminho promissor, uma vez
que nesta perspectiva, o conhecimento científico está relacionado e integrado com o mundo
cotidiano dos estudantes e é abordado a partir do seu contexto social. O estudante é, então,
auxiliado a construir conhecimentos, habilidades e valores que ajudam nas decisões do seu
próprio espaço (AIKENHEAD, 2009; AULER; DELIZOICOV, 2006; SANTOS;
MORTIMER, 2002).
Atividades de educação não-formal, organizadas fora do sistema formal estabelecido,
porém com objetivos de aprendizagem, podem ser grandes aliados da educação científica rumo
a este propósito. Uma vez que tem como finalidade abrir janelas de conhecimento sobre o
mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais, esse tipo de educação intenciona
resultados bem específicos e um deles é a educação para a cidadania. Pode se concretizar de
formas diversas, desde o aprendizado de práticas voltadas à resolução de problemas coletivos
até atividades de educação midiática, entre outras coisas (GOHN, 2006; MARANDINO, 2017;
SMITH, 2015).
Uma vez que compreender o ambiente que nos cerca é condição primária para transformá-
lo para melhor, um paradigma que se apresenta como renovador de práticas sociais com o
objetivo de ampliar as condições de expressão de todos os seguimentos humanos, em especial
da infância e da juventude, é a Educomunicação. Oriundo da interface entre dois campos
tradicionais – a Comunicação e a Educação – a educomunicação define-se como o conjunto de
ações voltadas ao planejamento e à implementação de práticas destinadas a criar ecossistemas
comunicativos abertos em espaços educativos (SOARES, 2003; SOARES, 2011).
A criação de ecossistemas comunicativos maximiza as possibilidades de expressão e
consequentemente a mobilização para ação e transformação. Tem base na prática Freireana da
23
educação com ênfase no processo. De acordo com Soares (2003), a interdiscursividade, isto é,
o diálogo com outros discursos, é uma das garantias de sobrevivência da educomunicação. É
nas possibilidades e limitações do diálogo entre a educação científica e a educomunicação,
materializando-se nos aspectos de uma educação não-formal em ciências baseada em princípios
de uma educação CTS, que este trabalho se desenvolve.
A intenção é compreender: quando utilizada como método para promover o diálogo de
jovens com conhecimentos científicos, quais oportunidades e quais insuficiências a
educomunicação apresenta? Esta pesquisa integra uma discussão que vislumbra uma relação
ainda pouco estudada – entre a educomunicação e a educação científica – mas que pode
proporcionar experiências inovadoras aos dois campos.
Foi realizada no povoado de São Francisco do Paraguaçu, comunidade rural quilombola
do Recôncavo Baiano, que vivencia diferentes processos relacionados à água e esgoto: a
existência de nascentes com valor histórico, a presença tímida do esgotamento sanitário, a
distribuição irregular do recurso nas residências e a poluição do Rio Paraguaçu. Diante desse
quadro, os objetivos desta pesquisa, de abordagem totalmente qualitativa, são, então, descritos:
GERAL
Investigar potencialidades e limitações de uma intervenção pedagógica educomunicativa que
estimulou o diálogo de jovens com conhecimentos científicos sobre água.
Específicos
- Compreender os processos socialmente construídos sobre água pela comunidade;
- Estruturar uma Agência Jovem de Notícias (AJN) como forma de intervenção pedagógica
educomunicativa;
- Analisar como os jovens constroem diálogos com o conhecimento científico em cada atividade
desenvolvida pela intervenção;
- Discutir quais as potencialidades e quais as limitações do método educomunicativo para os
jovens estabelecerem diálogos com o conhecimento científico sobre água na sua comunidade.
Para que as suas aspirações fossem respondidas, foram utilizados procedimentos
metodológicos específicos. Nos apropriamos de princípios da etnometodologia para
24
compreender os processos socialmente construídos sobre água pela comunidade e utilizamos
como estratégias principais a observação participante acrescida da realização de entrevistas
informais e semiestruturadas com jovens, líderes comunitários, moradores e trabalhadores da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – Embasa (COULON, 1995; 2017; 2020;
GARFINKEL, 2018; GIL, 2008; MANZINI, 1991; 2004; MINAYO, 2009).
O planejamento e execução da AJN, por sua vez, caracterizada aqui como uma atividade
de educação não-formal, seguiu o método educomunicativo como eixo vertebrador do processo,
associada aos princípios de uma educação CTS. Seis jovens participaram ativamente
produzindo textos jornalísticos, fotografias e vídeos sobre água e esgotamento sanitário,
relacionando e refletindo informações obtidas através das pesquisas em livros, revistas,
entrevistas com professores e moradores do povoado (AIKENHEAD, 2009; AULER;
DELIZOICOV, 2006; KAPLÚN, 1987; SANTOS; MORTIMER, 2002; SOARES, 2011).
Diante de todo o trabalho realizado, entendemos que essa tese compõe duas instâncias
de análise: primeiro, uma interpretação etnometodológica dos processos construídos sobre água
pela comunidade. Segundo, uma análise de todo o processo de planejamento e execução da
Agência Jovem de Notícias como intervenção pedagógica educomunicativa que estimulou o
contato de jovens da comunidade com o conhecimento científico sobre água.
Diante da sua magnitude, embora conduzido pela autora, é perceptível que este trabalho
foi produzido a muitas mãos. Por isso a sua escrita não é impessoal, e sim majoritariamente em
primeira pessoa, pois nós pensamos, nós realizamos, eu refleti, eu questionei, eu entendi, nós
decidimos, nós concluímos e assim sucessivamente. Está dividido em oito capítulos que
detalham a sua base teórica e produção.
No Capítulo 1, “Por que insistir na educação em ciências: três razões que justificam
essa necessidade”, são apresentados motivos, incluindo dados, pelos quais ainda precisamos
melhorar o ensino das ciências, e a educação CTS e atividades de educação não-formal são
apresentadas como alternativas.
No Capítulo 2, “Educomunicação: uma nova forma de construir conhecimento”, o
paradigma educomunicativo é apresentado em termos históricos e de como se materializa,
destacando dois dos seus precursores e como pode emergir uma relação entre este campo e a
educação científica.
No Capítulo 3, “Água, Fonte de Vida e de Conhecimento Científico”, dados globais
sobre esse elemento são apresentados, bem como a sua presença em um dos 17 Objetivos do
25
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Alguns números do
gerenciamento hídrico brasileiro também são trazidos e, sobretudo, a presença de água e
esgotamento sanitário é diretrizes educacionais.
O Capítulo 4 apresenta todo o percurso metodológico da pesquisa realizada, explica
suas instâncias de análise e seus aspectos éticos.
O Capítulo 5, intitulado “Uma interpretação etnometodológica dos processos
socialmente construídos sobre água na comunidade”, faz parte da primeira instância de análise
e, depois de tecer uma apresentação detalhada da comunidade estudada, analisa os fatos sociais
sobre água no povoado através das entrevistas informais e da observação participante.
O capítulo 6, “A juventude franciscana e suas percepções sobre água na comunidade”
também inserido na primeira instância de análise, analisa, por sua vez, o que pensam os jovens
de São Francisco do Paraguaçu sobre as questões de água e esgoto que perpassam seu lugarejo.
O Capítulo 7, “A Agência Jovem de Notícias como intervenção pedagógica
educomunicativa” inicia a segunda instância de análise. Detalha todo o processo da Agência
Jovem de Notícias, desde o seu planejamento até cada uma das suas fases de execução, os
resultados alcançados e as dificuldades encontradas.
Nossa Tese é que a Educomunicação, especificamente a estruturação de uma Agência
Jovem de Notícias (AJN) como forma de intervenção pedagógica educomunicativa, como um
espaço não-formal na Escola, sugere uma nova forma de trabalhar ciências com jovens de
comunidades, trazendo os conhecimentos o mais perto possível das suas realidades. Isso porque
é ancorado na investigação, produção, análise crítica, protagonismo estudantil e criatividade.
Este é o caminho para uma educação científica libertadora, que ajude os indivíduos a
transformar a sua realidade através de ações pensadas e bem discutidas.
26
2 CAPÍTULO 1 - POR QUE INSISTIR NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS? TRÊS
RAZÕES QUE JUSTIFICAM ESSA NECESSIDADE
“Quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação
transformadora, tanto mais se “inserem” nela criticamente.”
Paulo Freire –Pedagogia do Oprimido (2018, p.54)
Entendida como uma linguagem construída pelos homens e mulheres para explicar o
nosso mundo natural, a ciência se apresenta como uma das lentes que nos ajudam a entender a
nós mesmos e o ambiente que nos cerca (CHASSOT, 2008). O desenvolvimento científico e
tecnológico está fortemente presente na sociedade contemporânea, desde os mais simples aos
mais complexos aspectos do dia a dia – alimentos, transporte, comunicação, medicamentos etc.
(BRASIL, 2018).
A Declaração sobre Ciência e o Uso do Conhecimento Científico, consolidada em 1999
na Conferência Mundial de Ciência da Unesco, em Budapeste, foi um documento pioneiro que
definiu a importância e as responsabilidades da ciência para com a sociedade. Nele está descrito
que as ciências devem contribuir para fazer com que todos tenham um entendimento mais
profundo da natureza e da sociedade, para consequentemente ter uma melhor qualidade de vida
e um meio ambiente saudável para as gerações presentes e futuras.
Para além disso, a Declaração reforça que “a educação científica é essencial para o
desenvolvimento humano (...) e para ter-se cidadãos ativos e informados” e que para um país
ter a capacidade de atender as necessidades básicas da sua população, a educação científica é
uma estratégia. Isso porque, de acordo com o documento, a essência do pensamento científico
é a capacidade de examinar problemas de diferentes ângulos e buscar explicações sobre
fenômenos naturais e sociais. Então, como parte dessa educação, “os alunos devem aprender a
solucionar problemas e abordar as necessidades da sociedade”.
De acordo com Bizzo (2002), o conhecimento científico, do ponto de vista estrutural, tem
especificidades que o transformam numa ferramenta importante no mundo moderno. São cinco
essas características principais, e são evidenciadas através de a) contradições: toda vez que
aparecem explicações diferentes para o mesmo fato, se está diante de hipóteses rivais. Isso é
importante para o embate de ideias; b) terminologias: são criados termos para sintetizar ideias
complexas, conhecidas por aqueles que dominam determinado ramo. Trata-se de uma espécie
de “código de compactação” para que não sofra tantas influências regionais ou de características
27
de cada época. Também, a c) independência de contexto: que tem a ver com a busca de
afirmações generalizáveis que possam ser aplicadas em diferentes situações; d)
interdependência conceitual, o que significa que, pelo fato de uma teoria basear-se em teorias
anteriores, quando uma delas cai por terra, outras são afetadas; e e) socialização: o
conhecimento científico é socializado tardiamente na vida de todas as pessoas. Diante disso, o
autor enfatiza que não é correta a imagem de que o conhecimento científico pode gerar verdades
eternas e perenes.
A respeito desse assunto, Lopes (1999, p. 108) acentua a necessidade do domínio do
conhecimento científico como sendo necessário justamente para compreender tanto as suas
possibilidades de atuação em nossas vidas quanto os seus limites. Não é necessário ter uma
formação enciclopédica para entender todos os avanços científicos, mas “que estejamos
formados em uma ideia contemporânea de ciência, pronta a se conceber capaz de mudanças e
questionamentos”.
Dessa maneira, ter certa medida de conhecimentos científicos ajudaria na atuação no e
sobre o mundo, aspecto importante para o exercício da cidadania. Para Chassot (2003), a maior
responsabilidade em ensinar ciências é a de procurar que os estudantes se tornem homens e
mulheres mais críticos e, consequentemente, agentes de transformações, para melhor, do mundo
em que vivemos. Foi o que disse Paulo Freire (2018a, p. 38) sobre a consciência reflexiva que
precisa ser estimulada: “Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses
sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la (...)”.
De acordo com Guerra (2012), os conhecimentos e as informações são estratégias
potentes para que o cidadão compreenda e interprete questões e, a partir disso, fundamente sua
decisão e suas ações. Diante dos problemas das sociedades contemporâneas, conhecer
princípios que regem fenômenos da natureza para uma interação mais consciente e sustentável,
além de desenvolver um pensamento crítico sobre os produtos que se originam do
conhecimento científico é um direito do cidadão. Por essa razão, a educação em ciências é
fundamental num cenário de luta pela sobrevivência e pela dignidade.
No entanto, embora a educação científica apareça como uma necessidade desse
desenvolvimento social, é percebido e vivenciado por muitos professores de ciências, além de
pesquisas publicadas, que a maior parte dos alunos não aprende a ciência que lhes é ensinada.
Então, vivemos numa sociedade que depende da ciência sem compreendê-la e isso também
pode excluir, desqualificar e desautorizar cidadãos (CACHAPUZ et al., 2011; GUERRA, 2012;
28
POZO; CRESPO, 2009). Por isso, temos razões que nos justificam insistir na importância dessa
educação.
2.1 PRIMEIRA RAZÃO: NÃO ESTAMOS ALCANÇANDO O POTENCIAL
TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
Em 2018, mais uma edição do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa),
avaliação trienal da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os
resultados angariados pelos estudantes brasileiros em ciências não foram animadores. O
programa avalia desde 2000, nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências, até que ponto
estudantes de 15 anos de idade, próximos ao final da educação obrigatória, adquiriram
conhecimentos e habilidades essenciais para plena participação na vida social e econômica.
A avaliação de Ciências do Pisa teve como base a pergunta “O que é importante que os
cidadãos saibam, valorizem e sejam capazes de realizar em situações que envolvem ciência e
tecnologia?”, e levou em consideração a definição de letramento científico como capacidade e
disposição de “se envolver em questões relacionadas à ciência como cidadão reflexivo (...)
disposta a participar de discussão fundamentada sobre ciência e tecnologia”. Dessa forma, o
exame analisa até que ponto os estudantes conseguem aplicar o que aprenderam em situações
não familiares, tanto no contexto escolar como fora dele. A partir disso foram determinados três
níveis de demanda cognitiva: baixa, média e alta (BRASIL, 2020).
Em 2018, 79 países e 600 mil estudantes participaram do exame. A avaliação revelou que
55% dos estudantes brasileiros não possuem o nível considerado mínimo em ciências para
exercício pleno da cidadania. Nenhum dos alunos alcançou o nível mais alto de proficiência.
Num ranking com os outros países sul-americanos avaliados (Uruguai, Chile, Argentina, Peru
e Colômbia), Brasil, Argentina e Peru ocupam o último lugar na área de ciências, com empate.
Num ranking com todos os países participantes, o Brasil ocupa a 64ª posição na área.
Os resultados não foram muito diferentes das edições anteriores do Pisa. Em 2015, o
Brasil ocupou a 63ª posição em ciências entre os 70 países avaliados. Três anos antes, em 2012,
cerca de 55% dos estudantes alcançaram apenas o nível 1 do conhecimento de ciências, ou seja,
de serem capazes de aplicar o que sabem em poucas situações do seu cotidiano e dar explicações
científicas que são explícitas em relação às evidências (BRASIL, 2013a; 2016).
O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência
(INCT) realizou uma pesquisa recente para mensurar o interesse e as atitudes dos jovens
29
brasileiros entre 15 e 24 anos sobre ciência e tecnologia. Foram ouvidos no ano de 2019 cerca
de 2.200 meninos e meninas residentes em áreas urbanas de 79 cidades de todas as regiões do
Brasil.
Paradoxalmente, os resultados revelaram que, de maneira geral, o interesse dos jovens
em ciência é grande, tanto para homens quanto para mulheres, pertencentes a quase todos os
grupos sociais. No entanto, apenas 5% deles conseguem se lembrar do nome de um(a) cientista
brasileiro(a). Também são poucos (12%) os jovens que conseguem citar o nome de uma
instituição científica que se dedique a fazer pesquisa no país. Também, mais da metade dos
entrevistados erra a maioria de uma série de perguntas básicas de conhecimento científico
(INCT, 2021).
A presença desses jovens em atividades científico-culturais nos 12 meses anteriores à
pesquisa – visitas a parques, jardins botânicos, museus, zoológicos, bibliotecas, participações
em palestras, feiras, olimpíadas, semanas de ciência e tecnologia e outras coisas – foi, de modo
geral, baixa. Bibliotecas (35%) e jardins botânicos ou parques (25%) foram os espaços mais
visitados. O acesso deles à informação sobre ciência e tecnologia via rádios, livros, jornais,
televisão e até mesmo internet também é baixo.
Os cientistas no imaginário dos entrevistados são pessoas carregadas de estereótipos.
Mais de 90% dos jovens afirmaram que cientistas são pessoas criativas, que aprendem rápido e
são organizadas. Grande parte deles também afirmou que cientistas são pessoas que evitam
festas e vida social (77%), passam quase o tempo todo sozinhos (75%), têm poucos amigos
(70%), são esquisitos (64%), em geral não são muito atraentes (54%) e não têm um casamento
feliz (54%).
Embora 84% dos entrevistados considerem que a profissão de cientista seja atrativa ou
muito atrativa, contraditoriamente 93% acredita que seria difícil ou muito difícil alcançá-la. A
falta de reconhecimento e de compensação financeira na profissão estão entre os motivos para
não seguir a carreira. Jovens de regiões mais ricas se consideram aptos a seguir carreiras na
ciência, contudo jovens de regiões mais pobres se queixaram da dificuldade de acesso à
profissão.
Conquanto a maior parte dos dados pareça desanimadora, a pesquisa revelou que a
maioria dos jovens percebe a importância social da ciência e da tecnologia para o país, e que os
benefícios do desenvolvimento científico são maiores do que os riscos. Para eles, os cientistas
30
estão entre as fontes mais confiáveis de informação e os investimentos em ciência devem ser
aumentados ou mantidos e não diminuídos (INCT, 2021).
Esses jovens também demonstraram uma posição crítica e preocupada de apoio à ciência:
acreditam que a população deve ser ouvida antes de tomar decisões importantes e que, por
possuírem conhecimentos que os tornam perigosos, os cientistas podem ser responsabilizados
pelo uso desses conhecimentos (INCT, 2021).
2.1.1 Onde estamos errando?
O Pisa apresenta fatores para contextualizar os resultados dos estudantes brasileiros no
exame. Esses fatores estão relacionados ao ambiente escolar, questões econômicas, sociais e
culturais e caracterizações dos próprios estudantes. Na edição de 2018, cujo foco maior de
avaliação foi a área de leitura, e na de 2015, cujo destaque avaliativo foi a área de ciências,
alguns aspectos revelaram resultados importantes.
No Pisa 2018, o Brasil obteve um dos resultados mais elevados em relação ao tamanho
médio das turmas (36 estudantes) em relação à média geral dos países integrantes da OCDE
(26 alunos). O tamanho da turma é utilizado como um indicador de qualidade da educação, uma
vez que turmas menores otimizam o tempo dos professores, que conseguem dar mais atenção
individual aos alunos e gastam menos tempo na organização da turma. Da mesma maneira, a
média do número de alunos por cada professor nas escolas do país (29 alunos) é muito acima
da média geral dos países da OCDE (13 alunos) (BRASIL, 2020).
A média brasileira também foi baixa em relação às atividades extracurriculares
disponibilizadas pela escola (1,6, sendo 3,0 o melhor resultado) que são entendidas como
fatores que enriquecem o conhecimento e o processo de aprendizagem dos estudantes
(BRASIL, 2020).
O Pisa de 2015, cujo foco principal foi a área de ciências, trouxe um dado animador:
mais de 50% dos estudantes brasileiros participantes reportaram que gostam de ler, têm
interesse ou se divertem quando estão aprendendo tópicos de ciências em geral. A concordância
também foi alta em relação à motivação instrumental para aprender ciências, ou seja, sobre
quanto a aprendizagem de ciências pode ser útil em seus planos futuros. Por exemplo, os
percentuais que conciliaram com afirmativas de que estudar ciências pode melhorar as
perspectivas profissionais foram superiores a 80%. No entanto, essa alta motivação
31
instrumental não se traduziu automaticamente na capacidade de aplicar com sucesso o
conhecimento científico em testes como o Pisa (BRASIL, 2016).
Em relação aos índices de status econômico, social e cultural, numa perspectiva
nacional, estudantes de escolas privadas alcançaram maior índice do que o de escolas
municipais. Além disso, os índices de estudantes das capitais são maiores do que o dos
estudantes dos interiores, e estudantes de escolas rurais têm índices menores ainda. Esses
resultados, grosso modo, apontam que o sistema de ensino no Brasil precisa gerir uma alta gama
de origens socioeconômicas entre os estudantes para que os jovens desenvolvam, de forma
equiparada, as habilidades necessárias ao alcance do seu pleno potencial na vida social,
econômica e cultural (BRASIL, 2016).
Entendemos que uma avaliação como o Pisa pode apresentar vieses. Embora explique
ter como objetivo analisar os conhecimentos do aluno em relação à sua capacidade de refletir
sobre eles e aplicá-los à sua realidade, e não como fragmentos de saber ou de forma isolada, é
certo que há uma escolha de contexto/conteúdo que é aplicada de maneira uniforme para jovens
de diferentes nacionalidades e culturas, que recebem a conhecimento em ciências de formas
diferentes.
No Brasil, por exemplo, ainda que tenhamos um sistema educacional que segue uma
estrutura, há uma diversidade dentro do próprio sistema, a saber, a educação do campo, as
escolas quilombolas, entre outras instâncias. É assegurado a essas esferas pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) que as particularidades da vida de cada região sejam
levadas em conta (BRASIL, 2006).
Contudo, o intuito do Pisa é fornecer dados dos países membros e parceiros estratégicos
(como é o caso do Brasil) para comparação. Por ser uma organização que se dedica ao
desenvolvimento econômico, a OCDE observa fatores que influenciam o campo social, entre
eles o educacional. Os resultados são mais tarde considerados para a criação de padrões
internacionais e políticas públicas específicas para resolver problemas das populações. Por essa
razão é nítido que o exame é uniforme em escala global (OECD, 2021).
Mesmo apresentados os vieses do exame, com seus dados é possível tecer análises sobre
muitos aspectos importantes que influenciam diretamente na qualidade do ensino de ciências e
consequentemente no desempenho dos alunos: o contexto familiar, sobretudo o nível
sociocultural das famílias; o contexto escolar, como recursos, autonomia e disponibilidade de
docentes; o atraso escolar do aluno, as taxas de reprovação, abandono e repetência, aspectos da
32
formação docente, além das divisões entre público e privado, e baixos investimentos públicos
na área educacional. Hoje é a avaliação disponível na área educacional com esse tipo de
informação a nível internacional. Essas informações podem ser consideradas no momento de
discutir e promover ações que contribuam para o desenvolvimento da educação científica no
país (WAISELFISZ, 2009).
Pozo e Crespo (2009) afirmam que boa parte das dificuldades de aprendizagem dos
estudantes em ciências é consequência das próprias práticas escolares de solução de problemas,
que tendem a estar mais centradas em tarefas rotineiras ou delimitadas, com escasso significado
científico, do que em verdadeiros problemas com conteúdo científico. A consequência é que
isso limita a utilidade e aplicabilidade do conhecimento por parte dos alunos e diminui o seu
interesse e motivação pela área.
Para Guerra (2012), o motivo é ainda mais complexo: a ciência que se ensina na escola
básica é de má qualidade. De acordo com a autora, é uma ciência ensinada como autoridade e
desconectada dos outros saberes, ao invés de ser apresentada como uma invenção apaixonante
do Ser Humano. Os estudantes não têm acesso às controvérsias, que são mais interessantes do
que os resultados. Além disso, Aikenhead (2009) e Cachapuz et al. (2011) sugerem que o ensino
transmite visões desonestas, míticas, distorcidas e empobrecidas da ciência, que se afastam
completamente de como são realmente construídos os conhecimentos científicos e isso cria
desinteresse e rejeição por parte de estudantes, se convertendo em obstáculo para a
aprendizagem.
Por exemplo, o ensino transmite uma visão individualista e elitista da ciência, na qual
os conhecimentos científicos aparecem como obras de gênios isolados, ignorando o papel do
trabalho coletivo e de intercâmbio entre equipes. Não se mostra o caráter de construção humana
da ciência, onde também estão presentes erros e confusões. Também perpetua uma concepção
empírico-indutivista e ateórica, que associa o trabalho científico quase exclusivamente ao
trabalho no laboratório, no qual o cientista observa até encontrar “a descoberta” (CACHAPUZ
et al., 2011).
Essa visão ateórica reforça uma visão rígida e infalível da ciência, que é amplamente
difundida entre os professores. Nesta concepção, o método científico é apresentado como uma
sequência de etapas definidas nas quais as observações e as experiências rigorosas
desempenham papel destacado, e os resultados são exatos e objetivos, sem que estudantes ou
professores constatem a limitação deste método.
33
Quando isso acontece, questões do processo de construção científica são ignoradas: quais
foram os problemas que se pretendiam resolver? quais as dificuldades encontradas? Isso
constitui uma visão aproblemática e ahistórica: os conhecimentos científicos são apresentados
sem se referir aos problemas que estão na sua origem. Consequentemente, esses conhecimentos
aparecem de forma arbitrária, não levam em conta a história das ciências e desconhece-se os
obstáculos epistemológicos superados, um fator que é fundamental para compreender as
dificuldades dos alunos (CACHAPUZ et al., 2011).
São dois os caminhos possíveis de se seguir no processo educativo, de acordo com Paulo
Freire (2018c). De um lado, numa educação opressora, os atores sujeitos não dialogam uns com
os outros, e o intuito desta educação é permanecer como está e manter a estrutura social vigente.
Por outro lado, contrária a essa estrutura bancária, está uma teoria da ação revolucionária, com
o objetivo principal da transformação da realidade. Essa transformação acontece quando a
educação é vista como processo de humanização, em que o sujeito tem a possibilidade de ser
mais: mais crítico e mais protagonista na sua sociedade.
É inevitável uma reorientação da educação científica que leve em conta tanto o que
precisa ser ensinado quanto as características dos alunos a quem esse ensino é dirigido. As
demandas sociais e educacionais que esse ensino deve satisfazer também precisam ser
consideradas. Diante desse quadro, tentaremos responder como isso pode ser possível.
2.2 SEGUNDA RAZÃO: A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PODE ESTIMULAR O
ESTUDANTE A PENSAR E AGIR SOBRE A SUA REALIDADE PESSOAL E CULTURAL
Já vimos até aqui que não basta o ensino se reduzir a uma coleção de fatos, conceitos,
leis e teorias como geralmente é apresentado aos alunos. Nesse caso, o que permanece com eles
no final da escola é apenas uma visão reducionista do que é a produção de conhecimento pela
humanidade. Ocorre que os recursos utilizados nas aulas de ciências ainda permanecem
embasados no acompanhamento do livro didático, o que promove um esvaziamento cultural e
o distanciamento da realidade do estudante (CARVALHO, 2009; GUERRA, 2012).
Diante desse quadro, de acordo com Chassot (2003), o ensino deve ser feito numa
linguagem que facilite o entendimento do mundo pelos alunos e alunas e deve formar cidadãs
e cidadãos que, além de saber ler melhor o mundo onde estão inseridos, também devem ser
capazes de transformar este mundo para melhor. A alternativa para concretizar isso é que os
conteúdos sejam instrumentos para leitura da realidade deles e facilitadora da aquisição de uma
visão crítica dessa realidade, para então modificá-la para melhor.
34
Tudo isto é importante… mas nossa relação com o ambiente é mais próxima. O riacho
do nosso bairro, o lixão da vila ou o esgoto sanitário da nossa rua são preocupações
tão (ou mais) importantes que as campanhas pelo não-uso de derivados de
fluorcarbonetos. A cidadania que queremos é aquela que passa a ser exercida através
de posturas críticas na busca de modificações do ambiente natural - e que sejam,
evidentemente para melhor (CHASSOT, 2003, p. 137).
A Declaração sobre Ciência e o Uso do Conhecimento Científico enfatiza que os sistemas
de conhecimentos tradicionais e locais, como formas de entendimento do mundo também
realizam uma contribuição valiosa à ciência e à tecnologia. É necessário preservar, proteger,
pesquisar e promover essa herança cultural e esse conhecimento empírico (UNESCO, 1999).
Por isso, para Delizoicov (2009), entender a tradição cultural em que o aluno está inserido e
permitir que a sua visão de mundo possa aflorar na sala de aula, dando-lhe oportunidade para
perceber as diferentes formas de conhecimento pode facilitar o aprendizado de Ciências
Naturais.
A LDB, principal regulamentação da educação brasileira, enfatiza no seu Art. 1º a
abrangência da educação em todos os “processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Inclusive,
no seu Art. 28, destaca que, em se tratando da oferta de educação para a população rural, por
exemplo, “os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região” (BRASIL, 1996).
Por essa razão, para Pozo e Crespo (2009), os conteúdos e métodos do ensino de ciências
devem levar em conta, além do conteúdo curricular que precisa ser ensinado, as características
dos alunos a quem esse ensino está direcionado e as demandas sociais e educacionais que esse
ensino deve satisfazer. Guerra (2012) ainda assinala que diversas questões devem ser
problematizadas:
O conhecimento científico veiculado na escola tem possibilitado a interação do
estudante com a sua cultura? Na prática dos professores de escolas comunitárias, a
ciência se interconecta com outros saberes? Essas são questões inquietantes e
mobilizadoras para um pensar e um fazer intercambiado pela desconstrução e
reconstrução de nossas práticas cotidianas quando buscamos contribuir para uma
educação democrática emancipadora (GUERRA, 2012. p. 37).
De acordo com Aikenhead (2009), uma discussão urgente para os educadores em ciência
é renegociar a cultura da ciência escolar para ir ao encontro das necessidades dos cidadãos do
35
século XXI. Isso é possível através da implantação de um currículo CTS – Ciência, Tecnologia
e Sociedade. Neste currículo, o conhecimento científico está relacionado e integrado com o
mundo cotidiano dos estudantes de tal forma que espelha os esforços naturais dos estudantes
para darem sentido a esse mundo.
O objetivo central de um currículo CTS está em preparar os alunos para o exercício da
cidadania e se caracteriza por uma abordagem dos conteúdos científicos em seu contexto social.
Sendo assim, o ponto de partida para aprendizagem devem ser “situações-problema”, de
preferência relativas a contextos reais. Além disso, os conteúdos científicos e tecnológicos
precisam ser estudados juntamente com a discussão dos seus aspectos históricos, éticos,
políticos e socioeconômicos. Diante disso, o aluno é auxiliado a construir conhecimentos,
habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis e atuar na solução de tais
questões (AULER; DELIZOICOV, 2006; SANTOS; MORTIMER, 2002).
Através da educação CTS1, a construção de conhecimentos científicos seria acompanhada
da utilização de habilidades e do desenvolvimento de valores como a autoestima, a
comunicação escrita e oral, a tomada de decisão, o aprendizado colaborativo, a responsabilidade
social e o interesse de atuar em questões sociais, como explicam Santos e Mortimer (2002):
Destaca-se, portanto, entre os objetivos, o desenvolvimento de valores. Esses valores
estão vinculados aos interesses coletivos, como os de solidariedade, de fraternidade,
de consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo e de
generosidade. Tais valores são, assim, relacionados às necessidades humanas [...]
(SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 5).
Paulo Freire (2018a) destaca que só é possível ter pessoas verdadeiramente
comprometidas se houver engajamento com a realidade. Por isso, quanto mais um sujeito é
levado a refletir sobre a sua situação e seu enraizamento espaço-temporal, “mais ‘emergirá’
dela conscientemente ‘carregado’ de compromisso com a sua realidade, da qual, porque é
sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais” (FREIRE, 2018a, p.
83).
1 Dentro do movimento CTS há uma corrente mais recente que traz à tona a preocupação com as questões
ambientais e suas relações com a ciência, a tecnologia e a sociedade, dando origem aos estudos CTSA – Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Esta nova percepção centra-se nos aspectos sociais da ciência e tecnologia em
relação aos fatores sociais e às consequências ambientais (FERST, 2013). Neste trabalho, optamos pela utilização
da sigla CTS por acreditarmos contemplar todas as questões e em virtude de ser a referência principal das
bibliografias centrais do nosso interesse.
36
Por essa razão, Aikenhead (2009) defende uma abordagem CTS humanístico-cultural na
educação em ciências, na qual o estudante despertaria para a sua identidade pessoal e cultural,
para as suas contribuições à sociedade enquanto cidadão e para o seu próprio interesse de
possuir um conhecimento científico socialmente útil e significativo. Esse tipo de ensino ajudaria
os estudantes a se tornarem melhores críticos, mais criativos na resolução de problemas,
capazes de tomarem decisões num contexto diário relacionado com a ciência e aumentaria o
seu compromisso com a responsabilidade social.
Para que a ideia se torne possível e concreta, a ciência precisa ser ensinada como um
processo que elabora modelos para interpretar a realidade, mas não como o único. Deve ser
posta em foco como um conjunto de conhecimentos metodologicamente construído, na qual
está inserida a cultura. É preciso enfatizar que ela é histórica, provisória, que é uma atividade
construtiva, dinâmica, com dúvidas e incertezas, uma vez que é uma construção humana.
Inclusive, é importante fazer com que os estudantes participem, de algum modo, do processo
de elaboração desse conhecimento científico (POZO; CRESPO, 2009; GUERRA, 2012).
Ao explicar que um currículo CTS não se limita à construção de conceitos, mas deve
partir de situações-problema relativas a contextos reais, Auler e Delizoicov (2006) e Auler
(2007) correlacionam os referenciais da educação CTS aos pressupostos do educador Paulo
Freire, que tem a leitura de mundo para a transformação social como base da sua ideia
pedagógica. Para que a leitura crítica da realidade proposta pela pedagogia libertadora de Freire
se concretize, é fundamental que os estudantes consigam desenvolver um pensamento crítico
sobre as interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Isso porque a nossa dinâmica
social está cada vez mais influenciada por essa relação.
Freire, de um lado, propõe e pratica uma nova relação entre currículo e realidade local.
Entre o “mundo da escola” e o “mundo da vida”. Estas duas dimensões, praticamente
incomunicáveis na concepção hegemônica de escola, aqui interagem, uma
influenciando a outra. O “mundo da vida” adentra no “mundo da escola”, nas
configurações curriculares, por meio do que este educador denominou de temas
geradores, os quais envolvem situações problemáticas, contraditórias. Estes carregam,
para dentro da escola, a cultura, as situações problemáticas vividas, os desafios
enfrentados pela comunidade local. O mundo vivido, os problemas e as contradições
nele presentes passam a configurar o ponto de partida (AULER, 2007, p. 9-10).
Ainda, de acordo com os autores, pensar e materializar ações de transformação da própria
realidade só é possível depois de refletir e problematizar sobre a história da ciência. Esta não
37
pode continuar sendo vista pelo mesmo prisma: neutra, superior, salvacionista e na perspectiva
do determinismo tecnológico.
Quando projeta um aprender voltado para os problemas contemporâneos, na busca de
respostas para situações existenciais da experiência vivida, a educação CTS associa-se ao que
Freire (2008b) chamou de curiosidade epistemológica, isto é, quando o “querer conhecer algo”
sai da esfera ingênua e se criticiza. O erro epistemológico, por sua vez, está em ignorar essas
experiências como pontos de partida e objetos de problematização. Daí a razão, segundo Auler
(2007), da defesa de currículos mais abertos diante das temáticas contemporâneas marcadas
pela dimensão científico-tecnológica.
2.3 TERCEIRA RAZÃO: A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL PODE COMPLEMENTAR A
ESCOLARIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
TRANSFORMADORA
Tendo em vista que os estudantes vivem num mundo cada vez mais moldado pela ciência,
eles continuam precisando aprender ciência o suficiente para desenvolver estratégias críticas. É
preciso também levar em conta que diversos aspectos influenciam a sua compreensão sobre ela:
a família, os amigos, a escola, os meios de comunicação, o ambiente físico, social e econômico
etc. Se antes o sentido do conhecimento era da escola para a comunidade, hoje é o mundo
exterior que invade a escola (AIKENHEAD, 2009; CHASSOT, 2003).
Diante disso, para Zancan (2000), a tarefa necessária é mudar o caráter informativo do
ensino de ciências para um caráter transformador e criativo:
O desafio é criar um sistema educacional que explore a curiosidade das crianças e
mantenha sua motivação para aprender através da vida. As escolas precisam se
constituir em ambientes estimulantes, em que o ensino de matemática e de ciência
signifique a capacidade de transformação. A educação deve habilitar o jovem a
trabalhar em equipe, a aprender por si mesmo, a ser capaz de resolver problemas,
confiar em suas potencialidades, ter integridade pessoal, iniciativa e capacidade de
inovar. Ela deve estimular a criatividade e dar a todos a perspectiva de sucesso
(ZANCAN, 2000, p. 6).
Uma educação CTS tem o potencial de começar essa transformação, uma vez que se
articula em torno de temas científicos e tecnológicos que são potencialmente problemáticos do
ponto de vista social. Além disso, na discussão desses temas é possível colocar em evidência o
poder de influência que os estudantes podem ter como cidadãos. Dessa forma, eles são
estimulados a participar de forma democrática da sociedade por meio da expressão das suas
38
opiniões, além de perceber o potencial de atuar em grupos sociais organizados, como centros
comunitários, escolas, sindicatos, entre outros (SANTOS; MORTIMER, 2002).
Uma alternativa importante em união à educação CTS rumo a essa transformação pode
ser levada em consideração: ter em conta como atividades de educação não-formal em ciências
podem aproximar os estudantes das suas comunidades e realidades. De acordo com Gohn
(2006), articular a escola com a comunidade educativa de um território é uma urgência e uma
demanda da sociedade atual. Para a autora, isso é possível através de ações dessa educação não-
formal, que “capacita os indivíduos para se tornarem cidadãos do mundo. (...) Sua finalidade é
abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações
sociais” (GOHN, 2006, p. 29).
A educação não-formal se caracteriza como sendo qualquer atividade educacional
organizada fora do sistema formal estabelecido, que esteja destinada a um público específico e
tenha objetivos de aprendizagem. Ocorre em ambientes e situações interativos construídos de
forma coletiva e existe intencionalidade nas suas ações. Por isso, ela pode estar relacionada à
capacitação dos indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de habilidades, ao
aprendizado de práticas voltadas à resolução de problemas coletivos, ao aprendizado de
conteúdo da escolarização formal, à educação midiática, entre outras coisas (GOHN, 2006;
MARANDINO, 2017; SMITH, 2015).
O objetivo desta educação não é substituir ou competir com a educação formal escolar.
Gohn (2006) enfatiza que ambas podem ser complementares por meio de programações
específicas, articulando escola e comunidade educativa localizada no entorno. Elas possuem,
inclusive, o propósito comum de formar cidadãos plenos. No entanto, no caso da educação não-
formal, dependendo da forma e do espaço onde é desenvolvida, existem objetivos que lhes são
bem específicos. Eles podem ser: a) Educação para a cidadania; b) Educação para a justiça
social; c) Educação para direitos (humanos, políticos, sociais, culturais etc.); d) Educação para
a liberdade; e) Educação para a igualdade; f) Educação para a democracia; g) Educação contra
a discriminação; e h) Educação pelo exercício da cultura e para a manifestação das diferenças
culturais.
O exercício dessa cidadania que é produto da educação requer a capacidade de se
manifestar em discussões de interesse comunitário, fator que torna necessário que cada
indivíduo desenvolva o mínimo de pensamento articulado. Então, nesse processo de se tornarem
cidadãos, os jovens precisam ter garantida uma base de conhecimento científico. Por isso, para
que a educação em ciências consiga formar um cidadão reflexivo, a sua proposição deve ser
39
pensada não só em termos de conteúdo, mas também em relação às suas formas de transmissão.
Dessa maneira, o conhecimento acessado será aquele que é socialmente significativo (DRUCK,
2009; TEDESCO, 2009).
Considerando a necessidade de realizar ações que estimulem a curiosidade, o interesse e
que possibilitem investigar, analisar e intervir, uma alternativa instigante e atual para a
educação não-formal em ciências pode ser a criação de práticas que tenham as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) no centro do processo. Não se trata de tê-las no seu uso
instrumental ou como ferramenta, mas inseri-las como potencializadoras do diálogo num
processo de construção de conhecimento.
Hoje, a escola não é mais a primeira nem a única fonte de conhecimento dos jovens. Na
maioria das vezes, não é preciso buscar a informação, pois ela chega primeiro a esse público, e
numa grande diversidade de formatos. Ao terem contato com alguma temática na escola, os
estudantes já trazem referências que talvez tenham visto em meios de comunicação. Diante
disso, na educação científica, a maior necessidade é ter capacidade de organizar e interpretar a
informação para lhe dar sentido e fazer uma assimilação crítica dela (POZO; CRESPO, 2009).
Pensar os meios de comunicação e as TIC como potencializadoras do diálogo no
processo de construção do conhecimento pode ser de grande ajuda para diminuir a passividade
e o desinteresse dos estudantes em muitos casos. Isso porque, de acordo com Paulo Freire
(2018b), quando se intercomunicam em torno de uma realidade, os pensamentos dos alunos e
dos professores ganham autenticidade. Mas para isso não é necessário grande investimento
material. Krasilchik (2009, p. 211) enfatiza que é possível “executar diferentes modalidades
didáticas que não pressuponham material caro e sofisticado, e que sejam realizadas em locais
que não a escola e a sala de aula”.
São muitos os processos que a educação não-formal pode trazer como resultados. Dentre
eles, pelo menos quatro podem contribuir para uma educação científica transformadora: 1) a
construção e reconstrução de concepções de mundo e sobre o mundo; 2) a contribuição para o
sentimento de identidade com uma dada comunidade; 3) a formação para a vida e suas
adversidades (e não apenas para o mercado de trabalho); 4) a aquisição de conhecimentos da
sua própria prática, que os ajudam a ler e interpretar o mundo que os cerca (GOHN, 2006).
Paulo Freire (2018c, p. 81) defende que “só existe saber na invenção, na reinvenção, na
busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com
os outros”. Uma vez que atividades de educação não-formal em ciências são alternativas para
40
estruturar um ensino transformador, ainda mais quando fortalecidas pelos meios de
comunicação e suas tecnologias como potencializadores do diálogo, entendamos então como
concretizar ações desse modelo a partir da compreensão do que é Educomunicação.
41
3 CAPÍTULO 2 - EDUCOMUNICAÇÃO: UMA NOVA FORMA DE CONSTRUIR
CONHECIMENTO
“O antidiálogo não comunica. Faz comunicados. Precisávamos de uma pedagogia da comunicação com a qual pudéssemos
vencer o desamor do antidiálogo.”
Paulo Freire – Educação e Mudança (2018, p.95)
A Educomunicação é um paradigma que tem origem em dois campos existentes: a
Comunicação e a Educação. Embora seja oriundo de uma interface entre aqueles, se apresenta
como um caminho novo para renovar práticas sociais. Faz isso dando voz a todos os grupos
humanos, mas em especial à infância e à juventude. Dessa maneira, o seu conceito central é o
da gestão compartilhada da comunicação, transferindo o protagonismo do agir comunicativo
para os sujeitos sociais, especialmente às crianças e aos jovens (SOARES, 2003; 2011; 2015).
Para conseguir concretizar o seu objetivo, parte de duas proposições: a primeira, a de que
a educação só é possível enquanto uma ação comunicativa, tendo a comunicação como um
fenômeno que está presente em todos os modos de formação do ser humano. A segunda, a de
que toda comunicação, enquanto produção simbólica e transmissão de sentido, é uma ação
educativa. Por isso, esse paradigma de relacionamento entre a Comunicação e a Educação se
dá em qualquer lugar em que isto ocorra: na família, num grupo de amigos, em diferentes
espaços culturais, na interação entre a mídia e seus públicos ou na escola.
O trabalho educomunicativo passeia por várias tendências pedagógicas progressistas, mas
grande parte das ações do campo estão alicerçadas na corrente da pedagogia libertadora: o
indivíduo é um ser crítico; mestre e aprendiz podem desenvolver um trabalho de igual para
igual; a sociedade pode ser transformada à base de uma educação não tradicional (FREIRE,
1983; 2018).
Por sua vez, olhar a Comunicação neste campo é vê-la multidirecional, multipolar e
descentrada. É composta por vozes sociais que circulam em várias direções, conduzindo
múltiplos discursos, ideias, opiniões, saberes e sentimentos. Toda essa rede é operada por
interlocutores que produzem e fazem circular seus discursos, ao mesmo tempo que se apropriam
de outros discursos circulantes (ARAÚJO; CARDOSO, 2007).
A Educomunicação se concretiza na criação de Ecossistemas Comunicativos. Esses
ecossistemas são as relações construídas num espaço a partir do diálogo, levando em conta as
potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias. De acordo com Soares (2011),
42
as pessoas, em qualquer ambiente, seja ele familiar, escolar, cultural ou cibernético, se deparam
com modelos de ecossistemas, convivendo a partir de regras que se estabelecem conformando
determinada cultura comunicativa. No caso da Educomunicação, o diálogo é a metodologia
específica de ensino, aprendizagem e convivência. Esta relação dialógica é dada por algum tipo
de convívio humano com o auxílio de tecnologias.
Característica importante dos Ecossistemas Comunicativos é que eles estarão sempre em
construção. Para que seu objetivo seja alcançado – que é o bom fluxo das relações entre as
pessoas que fazem parte dele e o acesso de todos ao uso adequado das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) – é importante começar as discussões e atividades por pontos
de consenso, como por exemplo, a necessidade de melhorar as habilidades de professores e
alunos no manejo dessas tecnologias.
Entretanto, o uso das TIC não está na Educomunicação apenas como condição técnica do
uso dessas ferramentas. Sua utilização é parte do agir educativo, com vista a alcançar o exercício
da cidadania através da produção de materiais de comunicação e reflexão crítica dos assuntos
trabalhados. A visão do pensamento educomunicativo, de acordo com Soares (2015), é de que
as TIC não apenas cheguem às escolas, mas que lá sejam acolhidas como recursos
indispensáveis para o fortalecimento de uma aprendizagem coletiva e colaborativa. O mais
importante é a possibilidade que essas tecnologias oferecem para a mobilização da comunidade
escolar em torno de temas de interesse coletivo.
Não se trata, pois de educar usando o instrumento da comunicação, mas que a própria
comunicação se converta no eixo vertebrador dos processos educativos: educar pela
comunicação e não para a comunicação. Dentro desta perspectiva da comunicação
educativa como relação e não como objeto, os meios são ressituados a partir de um
projeto pedagógico mais amplo (SOARES, 2003, p. 20).
É por essa razão que no centro desse processo formativo está a questão da relação entre
o ensino, a juventude e o mundo da comunicação. Um dos seus maiores objetivos é o pleno
acesso das novas gerações ao mundo da comunicação e de suas tecnologias, colocado a serviço
do bem comum e da prática da cidadania (SOARES, 2011).
Ao adentrar no universo das práticas educomunicativas, algumas áreas de intervenção se
apresentam como portas de ingresso. Soares (2011, p. 47-48) as classificou como “âmbitos do
agir educomunicativo”. São elas: a) A área da Educação para a Comunicação, que está voltada
para a compreensão do fenômeno da Comunicação, tendo como consequência o estudo do lugar
43
dos meios de comunicação e seu impacto na sociedade; b) A área da expressão comunicativa
através das artes, voltada ao potencial criativo das variadas formas de manifestação artística no
âmbito educativo, como meio de comunicação acessível a todos.
A terceira, e uma das áreas desta pesquisa de doutoramento é c) A área da mediação
tecnológica na educação, que compreende os procedimentos e reflexões do uso das tecnologias
nos processos educativos, garantindo acessibilidade e formas democráticas de sua gestão.
Também d) A área da pedagogia da comunicação, que se mantém atenta à educação formal,
prevendo a multiplicação da ação dos agentes educativos, isto é, professor e aluno trabalhando
juntos. Ainda, e) A área da gestão da comunicação no espaço educativo, com o planejamento e
execução de processos articulados no âmbito das demais áreas de intervenção; e f) A área da
reflexão epistemológica, isto é, estudo sobre a inter-relação Comunicação/Educação, dando
atenção à coerência entre teoria e prática, área esta que também perpassa por esta tese.
De acordo com Soares [20--], dentro de qualquer destas áreas de intervenção, para que
uma ação seja considerada educomunicativa, precisa levar em conta alguns procedimentos: 1)
É necessário planejar ações em contexto – no plano pedagógico das escolas, por exemplo – e
não ações isoladas. Uma ação isolada não modifica as relações de comunicação num ambiente
marcado por práticas autoritárias de comunicação. Também, 2) todo planejamento deve ser
participativo, envolvendo todas as pessoas que são agentes ou beneficiárias das ações – por isso
é tão importante a participação de professores, alunos e membros das comunidades para
desenvolverem planejamentos conjuntos. E 3) as relações de comunicação devem ser sempre
francas e abertas. Aqui, a comunicação é feita para socializar e criar consensos. Qualquer que
seja o processo educomunicativo em andamento, o objetivo principal é sempre o crescimento
da autoestima e da capacidade de expressão das pessoas, como indivíduos e como grupo.
3.1 QUEM TEVE ESSA IDEIA? ALGUMAS BASES PRECURSORAS DA
EDUCOMUNICAÇÃO
O paradigma educomunicativo tem suas bases precursoras na América Latina, nos
movimentos de comunicação voltados às práticas de expressão popular e aos debates sociais.
Entre as décadas de 1960, 1970 e 1980, no ínterim do período das ditaduras militares latino-
americanas que limitavam a liberdade de expressão e pautavam os veículos tradicionais a
direcionamentos que interessavam aos governos vigentes, surgem e se fortalecem os
movimentos de comunicação alternativa. Esses movimentos eram uma forma de interlocução
entre grupos comunitários e todo o conjunto da sociedade e uma maneira de colocar os meios
44
de comunicação a serviço dos interesses populares (MÁRQUES; TALARICO, 2016;
PERUZZO, 2005).
Nessa perspectiva, a comunicação popular constitui-se, em sua origem, como uma
reação ao modelo hegemônico fundamentado na noção mecânica de comunicação
como transmissão de informação de fontes ativas a receptores passivos, perspectiva
orientadora, inclusive, de estratégia expansionista dos Estados Unidos em relação à
América Latina. Os projetos de comunicação popular convertem-se, ainda, em
portadores das insatisfações dos países latino-americanos, para as quais, a
comunicação massiva se constituiu em um dos principais instrumentos para a difusão
e manutenção dos seus projetos políticos (COGO, 1999, p. 32).
Dois nomes constituíram importância histórica neste processo de consolidação de práticas
comunicativas e educativas populares e participativas: o educador Paulo Freire (1921-1997) e
o comunicador Mario Kaplún (1923-1998). As suas reflexões sobre a Educação pela
Comunicação e sobre a Comunicação Popular, respectivamente, criaram raízes sólidas para o
desenvolvimento de um campo que vê nesta interface a saída de muitos grupos populares da
esfera acrítica de exclusão.
Radialista argentino, Mario Kaplún realizou na década de 70 atividades de comunicação
com grupos populares em vários países da América Latina. Foi o criador do termo
“educomunicador”, ao mencionar os voluntários de projetos de jornalismo e radialismo
alternativo. A partir das suas ações, Kaplún elaborou uma reflexão sobre a comunicação
educativa, propondo metodologias de leitura crítica da mídia. Por exemplo, junto a grupos de
camponeses, desenvolveu o método Cassete-Foro. A ideia usava fitas cassetes gravadas dos
dois lados num processo de interlocução entre os grupos organizados (BORTOLIERO, 1996;
MÁRQUES; TALARICO, 2016).
Esquematicamente, o método Cassete-Foro funcionava da seguinte maneira: a) primeiro,
todos os grupos da organização popular recebiam, periodicamente, do centro coordenador, uma
fita gravada em apenas um lado, a respeito de um tema que dizia respeito a todos; b) Após
escutar a fita, cada grupo discutia o assunto, e, chegando às conclusões, gravavam as suas
opiniões do outro lado da fita, retornando-a ao centro coordenador; c) A equipe de
coordenadores escutava todas as fitas e elaborava uma fita coletiva, com base no que foi
discutido pelos grupos; d) A mensagem seguinte, já sobre outro assunto, vinha precedida por
uma mensagem a respeito do assunto anterior, com base nas respostas recebidas.
O método de Kaplún tinha real efetividade comunicativa, uma vez que estimulava a
relação dos grupos entre si, gerando conhecimento recíproco, intercâmbio e diálogo,
independentemente de estarem à distância uns dos outros, até chegar a uma decisão sobre seus
45
problemas comuns. De acordo com Bortoliero (1996), este comunicador estava preocupado em
discutir um modelo de comunicação que representasse os excluídos socialmente. O seu objetivo
era tornar os receptores mais críticos e participativos, garantindo que a cidadania fosse exercida
no processo de recepção de mensagens.
Também era intuito de Mario Kaplún fazer com que esses grupos de excluídos
participassem como emissores dos processos de produção de programas radiofônicos,
televisivos ou de meios alternativos. Essa comunicação estimularia a promoção comunitária e
a educação de adultos. Então, na década de 80, seu Método de Leitura Crítica se converteu em
proposta pedagógica. Com este método, ele buscava a decodificação ideológica das mensagens
e de seus significados simbólicos e culturais. A partir dele, o receptor faz uma análise e toma
posição sobre os meios massivos. O método facilita a compreensão da relação entre emissores
e receptores e o processo de recepção das mensagens (BORTOLIERO, 1996; SEBASTIÃO;
BORTOLIERO; LIRA-DA-SILVA, 2013).
Ao discutir sobre as relações entre Educação e Comunicação, o pensamento de Kaplún
(2001) defende que as duas são uma mesma coisa, visto que educar é sempre comunicar e toda
educação é um processo de comunicação. Para ele, aprender e comunicar são componentes de
um mesmo processo cognoscitivo. Isso porque, se o processo educativo espera que o estudante
se aproprie de conhecimentos, isso será feito de maneira muito mais eficiente se lhe forem
oferecidas possibilidades de comunicação, uma vez que educar é se envolver em um processo
de múltiplas interações comunicativas.
En todas las experiencias de educación popular, esta práctica de la autoexpresión se
ha revelado siempre como un motor fundamental del crecimiento y la transformación
de los educandos. La "ruptura del silencio" es un momento clave de los procesos
educativos. El participante que, quebrando esa dilatada cultura del mutismo que le ha
sido impuesta, pasa a decir su palabra y construir su propio mensaje (sea un texto
escrito, una canción, un dibujo, una diapositiva, una obra de teatro, un títere, un radio-
sociodrama, etc.), en ese acto de comunicarlo a los otros se encuentra consigo mismo
y da un salto cualitativo en su proceso de formación (KAPLÚN, 2001, p. 34).
A publicação do seu livro El Comunicador Popular, na década de 80, representou grande
contribuição para os movimentos populares da América Latina, tendo em vista que é uma
referência para os que atuam com grupos populares. O livro sugere como trabalhar com a
Comunicação Popular através de diversos meios, sejam eles audiovisuais, artísticos ou
impressos.
46
Nesta publicação, Kaplún debruça as suas considerações acerca da codificação e
decodificação de mensagens, dos caminhos e métodos para a participação nesta comunicação,
de problemas que podem atrapalhar esse processo, entre outras coisas. O autor afirma que as
suas reflexões significam uma tentativa de construir uma pedagogia e uma metodologia de
Comunicação Popular, e ressalta que não existem regras fixas, e sim sugestões para uma
comunicação popular eficaz:
1. A de estar al servicio de un proceso educativo liberador y transformador. La
comunidad ha de ir formándose con ella, comprendiendo críticamente su realidad
y adquiriendo instrumentos para transformarla. 2. Ha de estar estrechamente
vinculada a la organización popular. 3. Y ha de ser auténtica comunicación; es
decir, tener como metas el diálogo y la participación (KAPLÚN, 1987, p. 85).
Kaplún sempre argumentou que a comunicação, no contexto educacional, não deve ser
vista apenas como instrumento midiático e tecnológico, mas sim como componente pedagógico
e interdisciplinar no qual converge uma leitura da pedagogia a partir da comunicação e vice-
versa. Todo o seu trabalho tem Paulo Freire e a educação libertadora como referência. Tomando
como base as contribuições de Freire, Kaplún (1987) defende que a função da Comunicação é
prover os grupos de educandos de materiais de apoio que gerem diálogos, ativem a análise, a
discussão e a participação deles.
A concepção educativa construída por Freire constitui-se, para teóricos como Mario
Kaplún e Juan Diaz Bordenave, o ponto de partida para explicitação do conceito de
comunicação popular. Ambos identificam três modelos educativos que são úteis à
análise das experiências de comunicação desenvolvidas no âmbito dos movimentos
sociais: um primeiro, que põe ênfase no conteúdo; um segundo, que enfatiza os
efeitos; e um terceiro, que privilegia o processo. Embora não sejam puros, os três
modelos acabam se mesclando em ações educativas concretas no campo da
comunicação. No entanto, Kaplún não deixa de reconhecer no modelo que privilegia
o processo as possibilidades de participação na comunicação à medida que permite
que emissores e receptores tenham a mesma oportunidade não apenas de responderem
à mensagem recebida e reagirem diante dela, como de gerarem suas próprias
mensagens (COGO, 1999, p. 31).
A concepção de Paulo Freire sobre Educação também foi uma grande inspiradora dos
movimentos de comunicação alternativa que nasceram nas décadas de 70 e 80 na América
Latina, vinculadas a movimentos sociais, sindicais e a comunidades eclesiais de base. De acordo
com Cogo (1999), sua obra se tornou uma referência em projetos envolvendo o uso de meios
de comunicação impressos, radiofônicos ou audiovisuais e na compreensão de práticas
47
comunicativas que incluíam dinâmicas intergrupais, interpessoais e comunitárias – encontros,
reuniões, assembleias etc.
Para Ribeiro (2013), as ideias de Freire tiveram grande impacto nos movimentos de
Comunicação porque estimulavam a quebra de uma lógica de um “emissor que fala para um
receptor que recebe de forma passiva” e incentivavam um processo dialógico e participativo de
leitura crítica. De acordo com a autora, as concepções do educador incitavam a perspectiva
política da Comunicação, em que o oprimido tem o direito de pronunciar a sua voz, dando uma
dimensão crítica, libertadora e horizontal ao processo.
O mundo humano para Freire (1983, p. 67) é um mundo de comunicação: “O que
caracteriza a comunicação enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim
como o diálogo é comunicativo”. Para ele, a comunicação que se faz criticamente não é a que
está na exclusiva transmissão de conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua
coparticipação no ato de compreender a significação do significado. O educador acreditava que
a comunicação midiática é antidialógica, e por isso, incompatível com o termo comunicação.
Por isso, os meios de comunicação são, na realidade, meios unilaterais para dar comunicados a
espectadores passivos.
Esse diálogo, tão enfatizado por Freire (1983; 2018), é definido por ele como o encontro
amoroso dos humanos, que mediatizados pelo mundo o transformam e o humanizam para a
humanização de todos. A sua pretensão, independente de sobre qual assunto se dê, é a
problematização do próprio conhecimento na sua relação com a realidade, para melhor
compreendê-la, explicá-la e transformá-la.
De acordo com o autor, esse estímulo à reflexão e ação dos homens sobre a realidade é
incentivado através de uma educação problematizadora. Essa educação, para ele, “é
comunicação, é diálogo, na medida em que não há transferência de saber, mas um encontro de
sujeitos interlocutores, buscando a significação de significados” (FREIRE, 1983, p. 69).
Através dela, os indivíduos vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo. E o
diálogo é o caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens, uma vez que
é com a palavra que os indivíduos pronunciam o mundo e o transformam. Dessa forma, o
diálogo é uma exigência existencial que tem como fim comum a transformação e humanização
do mundo.
Para Freire (2018c, p. 119-120), então, é “a partir da situação presente, existencial,
concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo
48
programático da educação ou da ação política”. No seu pensamento, “a concepção educativa
que defendemos e que estamos sumariamente colocando como um conteúdo problemático (...),
gira em torno da problematização do homem-mundo” (FREIRE, 1983, p. 83)”. Isso significa
que, independentemente do grupo em que se trabalha, o necessário a fazer é propor aos
indivíduos a sua situação existencial oprimida como problema que o desafia e que lhe exige
resposta, tanto no nível intelectual quanto no nível da ação.
No Brasil, a força angariada pelos movimentos de Comunicação Popular também se
apresentou como resposta à repressão militar e às diferenças socioeconômicas vividas pelo país.
Essas alternativas de comunicação buscavam a emancipação das classes desfavorecidas, o
direito à expressão e à cidadania. Anos mais tarde, pesquisas do Departamento de
Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
(ECA/USP) começaram a apontar de forma mais específica uma união entre os campos da
Comunicação e da Educação, ensaiando o surgimento de um novo campo de intervenção social
(MÁRQUES; TALARICO, 2016; SOARES, 20--).
No final da década de 90, constitui-se o Núcleo de Comunicações e Artes (NCE),
vinculado à ECA/USP, que encabeçou uma investigação sobre a inter-relação
Comunicação/Educação envolvendo 12 países da América Latina e cerca de 170 pesquisadores.
A pesquisa detectou fortes indícios da emergência de um novo campo, então denominado
Educomunicação, sistematizando e definindo o seu conceito. Nesta mesma década (1998), no I
Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação, o conceito de Educomunicação foi
apresentado e discutido fora da universidade (SOARES, 2007).
3.2 EDUCOMUNICAR: PARA QUÊ NOS SERVIRÁ?
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) já afirmava desde a sua
consolidação, em 1996, uma característica marcante da sociedade contemporânea: o apelo
informativo imediato. De lá para cá, cada vez mais o convívio social demanda o domínio da
linguagem através de instrumentos de comunicação e negociação de sentidos. Por isso, ter
capacidade de refletir acerca disso se configura como garantia de participação ativa na vida
social:
No mundo contemporâneo, marcado por um apelo informativo imediato, a reflexão
sobre a linguagem e seus sistemas (que se mostram articulados por múltiplos códigos)
e, ainda, sobre os processos e procedimentos comunicativos possibilitados pelas
formas de linguagem, são, mais do que uma necessidade, uma garantia de participação
ativa na vida social, a cidadania desejada (BRASIL, 1996).
49
Para Martín-Barbero (2000), a informação e o conhecimento são hoje o eixo central do
desenvolvimento social, ainda mais nos países subdesenvolvidos. Mesmo nos países de terceiro
mundo, estamos em sociedades cuja competitividade produtiva depende mais da informação e
do conhecimento do que de máquinas, mais da inteligência do que da força. O conhecimento e
a informação possuem uma centralidade mesmo em países nos quais existem outras
necessidades básicas, como moradia e saúde para minorias.
Tendo isso em vista, argumentamos aqui mais ainda sobre a importância de práticas
educomunicativas. Realizados em espaços formais ou não formais de educação, em formatos
virtuais ou presenciais, os ecossistemas comunicativos intencionam a prática de uma cidadania
participativa, baseada no diálogo, e com uma visão das TIC como recurso indispensável para o
fortalecimento de uma aprendizagem coletiva e colaborativa, uma atenção voltada às
possibilidades que as tecnologias podem oferecer para a mobilização das comunidades em torno
de temas de interesse coletivo (SOARES, 2015; 20--).
No caso da escola, por exemplo, a adoção de tecnologias exige que os educadores
aprendam a mediar com seus estudantes discussões e ações aprofundadas que estimulem o
desenvolvimento de atitudes críticas. O paradigma educomunicativo pode propiciar isso quando
transforma o uso instrumental de aparelhos em sala de aula num uso pedagógico, que trabalhe
competências necessárias e supere uma formação tradicional (SOARES, 2014; 2015). De
acordo com Citelli (2013), a escola convive nos dias de hoje com tipos discursivos construídos
de forma híbrida, com a combinação de diversas formas de linguagem, o que expressa a
realidade de um mundo midiatizado:
A combinação das diversas formas de linguagem aciona sinergias aptas a
retroalimentarem os modos de produzir/receber e disponibilizar as informações e o
conhecimento: o discente e o docente encontram-se permanentemente desafiados por
matrizes como as palavras, as imagens, os sons. As múltiplas potencialidades
codificadoras acompanhadas, em nosso tempo, de facilitadores técnicos que tornam
mais simples a constituição de produtos comunicativos, a exemplo do YouTube, das
telas móveis, da internet, forçam uma reconsideração das formações discursivas
pedagógicas canonicamente associadas ao universo escolar (CITELLI, 2013, p. 1834).
A diretriz normativa educacional atualmente implantada no Brasil é a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Trata-se de um documento que elenca os conhecimentos,
competências e habilidades a serem desenvolvidos pelos estudantes ao longo da sua trajetória
50
escolar. Esse conjunto de competências gerais listados pela Base influenciam tanto os currículos
das escolas quanto a formação inicial e continuada dos professores.
Em virtude de crises político-econômicas vividas pelo Brasil, com consequentes perdas
na educação pública, desde o período de preparação da implementação da BNCC (2017) até
hoje, há diferentes discursos de professores, gestores ou acadêmicos a respeito da sua
construção e adoção como diretriz para os ensinos fundamental e médio. As manifestações
transitam entre concordar com a mudança, com a justificativa de inovação no ensino, até a
discordância, com a justificativa de que a normativa promove uma homogeneização dos
processos educativos e um controle do conhecimento (SOARES, 2018; SELLES, 20212).
Soares [20--] explica que muitos projetos educomunicativos podem estar inseridos em
ambientes que se opõem ao seu ideário. Para o autor, mesmo numa escola em que se adote uma
perspectiva autoritária de educação, ainda é possível introduzir práticas educomunicativas
através de projetos que sejam elaborados para atender determinados objetivos. Essas iniciativas
podem contagiar esses ambientes pelo exemplo e consolidar alianças.
Este trabalho não tem a intenção de analisar o modelo de aprendizagem adotado pela
BNCC. Por ser o atual documento normativo em implementação na educação básica,
destacamos através de quais competências e habilidades apontadas pelo documento são
encontrados espaços para o desenvolvimento de práticas educomunicativas.
Uma parte das competências gerais da educação básica citadas pela BNCC podem se
converter em atividades com dimensão educomunicativa. Entre elas está a utilização de
diferentes linguagens, incluindo visual, sonora e digital, para compartilhar informações, ideias
e sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Também, a compreensão,
utilização e criação de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica nas
diversas práticas sociais, não somente para acessar ou disseminar informações, mas além disso
para resolver problemas enfrentados pela sociedade (BRASIL, 2018).
Ainda, a argumentação baseada em fatos, dados e informações confiáveis, para a defesa
de ideias que promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em todos os âmbitos. Ademais, o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de
2 Informação obtida no pronunciamento da pesquisadora Sandra Escovedo Selles, da Universidade Federal
Fluminense, durante o XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (outubro de 2021), na mesa
redonda “A interação universidade-escola na linha de frente das novas propostas curriculares”.
51
conflitos e da cooperação para valorização de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas
e potencialidades (BRASIL, 2018).
Para Soares (2018), a BNCC incorporou em suas propostas, para além dos conteúdos, a
própria estrutura do discurso dos educomunicadores. No entanto, reconhece que a execução
dessas premissas necessita de outros saberes que não apenas os exigidos dos professores das
disciplinas do ensino fundamental, tendo em vista o seu caráter interdisciplinar. Por essa razão,
o próprio documento sugere que o currículo deve buscar a diversidade de formação e levar em
conta os conhecimentos e valores que os estudantes trazem consigo, sendo necessário estimular
a multiplicidade de vivências e trazer à tona os saberes dos próprios estudantes adquiridos em
sua relação com a cultura midiática.
A Base também pode acionar pressupostos educomunicativos em outras áreas, como na
área de Língua Portuguesa. Através do Campo jornalístico-midiático, propõe a análise crítica e
a produção de textos de mídia; no Campo da atuação na vida pública indica a participação
cívica; no Campo das práticas de estudo e pesquisa, estimula a pesquisa científica e histórica e
no Campo artístico-literário incentiva a criação artística. Também, no decorrer das áreas das
Ciências Exatas, Humanas e da Natureza, sugere a pesquisa, a avaliação de fontes e a análise
de textos de mídia além da produção de textos de mídia para documentação científica (BRASIL,
2018; FERRARI; 2020).
A área de Linguagens é considerada, de acordo com a BNCC, um espaço dedicado às
aprendizagens sobre a conformação dos sujeitos sociais, com o reconhecimento da importância
das diferentes linguagens da Comunicação – da corporal à digital. Desse modo, pode ser um
espaço para que os estudantes participem em práticas de linguagens diversificadas, incluindo
as linguagens visual, sonora e digital, além de ampliar as suas capacidades expressivas em
manifestações artísticas, corporais e linguísticas e aumentar os seus conhecimentos sobre essas
próprias linguagens (SOARES, 2018).
É imperativo possibilitar aos estudantes situações e atividades através dos meios de
comunicação e suas tecnologias, nos espaços educacionais. Na escola, profundas
transformações estão acontecendo tendo em vista uma maior aproximação entre o ensino formal
e a sociedade em movimento. No entanto, é impossível alcançá-las num modelo de ensino
bancário e linear. A aquisição dessas habilidades requer vivências e práticas adquiridas de
forma construtiva, coletiva e solidária em projetos de intervenção dentro de ecossistemas
comunicativos.
52
Essa é uma via de estímulo para que os estudantes queiram interferir na melhoria das
condições de vida da sua comunidade e sentir-se responsáveis em seus papeis cidadãos. É por
isso que a Educomunicação pode ampliar as condições de expressão da juventude como forma
de engajá-la em seu próprio processo educativo. Ela dá ao estudante a possibilidade de construir
um mundo a partir da sua capacidade de se comunicar (SCHNEIDER, 2009; SOARES, 2011;
2018).
3.3 EDUCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA O EXERCÍCIO DA
CIDADANIA: COMO?
Soares (2003) afirma que a Educomunicação inaugura um paradigma discursivo
transverso, com conceitos interdisciplinares, sendo a interdiscursividade, isto é, o diálogo com
outros discursos, a sua garantia de sobrevivência. Por essa razão, o campo trabalha a partir de
uma perspectiva transdisciplinar, incluindo o tratamento de assuntos complexos, os quais
podem se aplicar a questões como saúde, multiculturalismo, ética, meio ambiente entre outros.
Uma vez que o campo de intervenção e pesquisa educomunicativo ainda se estrutura,
também se estruturam algumas das suas relações com outras áreas do conhecimento. Ainda
estão se organizando na área acadêmica investigações estruturadas que associem a
Educomunicação com o ensino das ciências (BIZERRIL, 2011; STEIN, 2011; SEBASTIÃO;
BORTOLIERO; LIRA-DA-SILVA, 2013; DIAS, 2014; LIRA-DA-SILVA et al., 2017; LIRA-
DA-SILVA et al., 2019; FAÇANHA; PORTELA, 2020; MOSER, 2021).
Tendo isso como base, é possível pensarmos que uma educação científica para a
promoção da cidadania pode ser estimulada ao garantirmos à juventude um acesso bem
direcionado, com sentido e propósito, aos meios de comunicação e ao uso dos seus recursos
tecnológicos. Essa construção de conhecimento tendo a comunicação como eixo vertebrador
pode representar uma intervenção transformadora no ambiente em que se vive, o que consiste
numa visão cidadã do mundo ao redor (CALDAS, 2010).
De acordo com Márques e Talarico (2016), essa educação em moldes transformadores,
feita de forma processual, envolve a expectativa de transformação das pessoas e da realidade
social. Embora importantes, os conteúdos não ocupam lugar privilegiado. O que importa é a
criação de maneiras que permitam que o estudante desenvolva habilidades necessárias para
situar-se criticamente em relação àquilo que faz, contribuindo para o desenvolvimento das suas
capacidades intelectuais e para o despertar da sua consciência social:
53
Observa-se, na extensão e na dinamicidade das áreas de intervenção, que a
Educomunicação está cada vez mais longe de restringir-se a determinados sujeitos
coletivos ou determinados lugares sociais ou políticos. Seu foco está na educação pelo
processo e seu campo volta-se a todos os espaços educativos – sejam eles as salas de
aula ou as salas das casas, as praças, centros comunitários, ou simplesmente o espaço
político (e não físico) das relações que se dão no tecido social (MÁRQUES;
TALARICO, 2016, p. 436).
Indispensável para que isso aconteça é o protagonismo do educador junto com o
educando, o que pode se concretizar de várias formas. Os professores contribuem para o
aprendizado cidadão em ciências quando reconhecem que as manifestações discursivas que
tanto se reproduzem nos veículos de comunicação fazem parte do cotidiano dos estudantes, e
ao entender isso, trazem-nos para as suas práticas pedagógicas, transformando-as em atividades
com grande construção de significados.
Como consequência, defendemos a tese segundo a qual uma comunicação
essencialmente dialógica e participativa, no espaço do ecossistema comunicativo
escolar, mediada pela gestão compartilhada (professor/aluno/comunidade escolar) dos
recursos e processos da informação, contribui essencialmente para a prática educativa,
cuja especificidade é o aumento imediato do grau de motivação por parte dos
estudantes, e para o adequado relacionamento no convívio professor/aluno,
maximizando as possibilidades de aprendizagem, de tomada de consciência e de
mobilização para a ação. A essa precondição e a esse esforço multidisciplinar
denominamos educomunicação (SOARES, 2011, p. 17).
Embora Soares (2011) destaque o espaço escolar em sua afirmação, estas possibilidades
podem ser experimentadas em quaisquer espaços educativos, e uma perspectiva de fazê-lo em
atividades de educação não-formal também é pertinente. Seja utilizando os conteúdos dos
veículos de comunicação ou produzindo conteúdos utilizando os recursos comunicacionais em
ambientes escolares ou não escolares, o real exercício da cidadania se torna possível quando se
transforma o estudante em sujeito da ação de construção individual ou coletiva do
conhecimento (CALDAS, 2010; GAIA, 2005).
Um educomunicador, segundo Márques e Talarico (2016), se constitui como um
profissional cuja atuação não se limita à inserção de mídias e tecnologias da comunicação na
educação escolar. Pode atuar junto aos alunos ensinando-os a utilizar as mídias para além do
entretenimento, ajudando-os a planejar e executar ações que auxiliem a organização do espaço
54
educativo interno e também da escola com a comunidade, além de estimular a sua atuação em
programas sociais e socioeducativos.
Crianças e jovens como sujeitos de suas próprias ações de aprendizado poderão dialogar
com conhecimentos científicos de forma crítica e autônoma, reconstruindo-os e reescrevendo-
os. Dessa maneira, uma perspectiva conteudista, construída de cima para baixo, pode dar lugar
a um processo pelo qual o conhecimento é coletivamente produzido e a consciência social pode
ser despertada. Por acreditar nesta proposta, esta pesquisa propõe a investigação de uma
intervenção educomunicativa que estimule o contato de jovens com conhecimentos científicos
sobre água, tomando como base os principais problemas enfrentados pela sua comunidade a
respeito do assunto.
55
4 CAPÍTULO 3 - ÁGUA: FONTE DE VIDA E DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO
“A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber necessário e que me faz certo desta
coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao
saber teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os professores
trabalham. Já sei, não há dúvida, que as condições materiais em que e sob que vivem os educandos lhe condicionam a
compreensão do próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios”.
Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia (2018, p.134)
Condição necessária à existência humana e à sustentabilidade planetária, a água está
ligada a quase tudo no mundo. O desenvolvimento socioeconômico, a manutenção de
ecossistemas saudáveis, a redução da carga global das doenças e o bem-estar das populações
estão diretamente ligados a este bem. O mais recente Relatório Mundial das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, publicado em 2020, destaca o valor crescente
desse elemento: o seu uso mundial aumentou seis vezes nos últimos cem anos e continua a
crescer a uma taxa de cerca de 1% ao ano (UNWATER, 2020; 2021).
A Declaração Universal dos Direitos da Água defende que esse líquido é um patrimônio
do planeta e que cada continente, povo, nação, região, cidade e cidadão é responsável por ele
aos olhos de todos. Por ser a seiva da Terra, sem ela não poderíamos conceber como é a
atmosfera, o clima, a vegetação, a agricultura e a própria cultura. Tendo em vista que ela não é
uma doação gratuita da natureza e possui valor econômico, sendo algumas vezes rara e escassa
em certas regiões, sua proteção constitui uma obrigação moral dos humanos para as gerações
presentes e futuras.
Ainda assim, os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas (ONU) dão conta
de que pelo menos 2 bilhões de pessoas não têm acesso a água potável e 4,5 bilhões não
possuem acesso a saneamento básico. Esses dados demonstram que a escassez hídrica já afeta
quatro em cada dez pessoas. Além disso, 90% dos desastres naturais estão relacionados à água
e 80% das águas residuais retorna ao ecossistema sem ser tratada ou reutilizada. Nestes números
estão sempre as populações mais vulneráveis, étnicas, as mulheres, crianças, refugiados, povos
indígenas, pessoas com deficiências, entre outras.
A luta pelo direito à água e ao saneamento tem marcos históricos desde o século passado,
e aqui são relatados alguns deles. Em 1977, por exemplo, a ONU reconheceu a água pela
56
primeira vez como um direito na Conferência das Nações Unidas sobre a Água. Dois anos mais
tarde, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, o direito à água e ao saneamento foi citado como condição a ser assegurada. No final
da década de 80 (1989), na Convenção dos Direitos da Criança, água, saneamento ambiental e
higiene são afirmados nas medidas a serem garantidas ao público infantil.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento firmou na
Agenda 21 a Resolução da Conferência da Água de 1977, reiterando que o direito à água potável
era uma premissa acordada em comum. Em novembro de 2002, após outros marcos que levaram
a cabo o direito à água e ao saneamento, o Comentário Geral nº. 15 da ONU confirma o direito
à água como direito internacional, enquadrando-o a nível do “direito a uma vida adequada” e
ao “grau de saúde mais elevado possível”, estipulando obrigações aos Estados signatários e
definindo ações necessárias.
Em agosto de 2007, o Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos passa a considerar o acesso à água potável um direito humano. Três anos mais tarde,
em julho de 2010, a Resolução da ONU reconhece formalmente o direito à água e ao
saneamento e que o acesso a ambos é essencial para a concretização de todos os direitos
humanos. Por essa razão, apela aos Estados e às organizações internacionais que disponham os
recursos financeiros, contribuam para o desenvolvimento de capacidades e transfiram
tecnologias de modo a ajudar os países, sobretudo aqueles em desenvolvimento, a assegurarem
água potável segura, limpa, acessível e a custos razoáveis e saneamento para todos.
Em 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou o documento “Transformando Nosso
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, um plano de ação para as
pessoas e o planeta, assinalando a erradicação da pobreza como o maior desafio global e um
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Dentro da Agenda 2030 estão os
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), vigentes por 15 anos a partir de janeiro
de 2016. O ODS número 6, intitulado “Água potável e saneamento”, tem como meta principal
garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos
(ROMA, 2019).
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura
para todos; 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados
e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial
atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de
vulnerabilidade; 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a
poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos
e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não
57
tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura
globalmente; 6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da
água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de
água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o
número de pessoas que sofrem com a escassez de água; 6.5 Até 2030,
implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 6.6 Até 2020,
proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 6.a Até 2030,
ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento,
incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o
tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso; 6.b Apoiar e
fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água
e do saneamento (ONU BRASIL, 2021).
A Assembleia também estabeleceu o período de 2018 a 2028 como a Década
Internacional da Água para o Desenvolvimento Sustentável. O intuito é o de alcançar ações
corretivas que melhorem a gestão do elemento e foquem na oferta e na demanda de quantidade
e qualidade da água, eliminando as causas do abastecimento inadequado, seu uso ineficiente,
sua degradação e a superexploração das reservas subterrâneas (PIRES, 2020).
De acordo com Ribeiro (2014), é necessário resgatar as dimensões culturais,
educacionais, ecológicas e simbólicas da água. Não é suficiente apenas pensar em “recurso
hídrico” numa perspectiva utilitarista, mas sim em uma relação mais sustentável, explorando
os sentidos subjetivos e emocionais para que o desejo de cuidar da água brote de dentro das
pessoas. Esse processo envolve a junção de vários olhares, interconexões e saberes entre
pessoas e instituições que trabalham e se relacionam com o tema.
4.1 ÁGUA, HUMANIDADE E NATUREZA
Uma vez que a água é elemento fundamental para a sustentação da vida, deve ser
discutida e contextualizada em todas as suas dimensões. Para Friedrich (2014), é necessário
pensá-la como bem social e cultural e um direito tanto das pessoas como dos ecossistemas.
Porto-Gonçalves (2011) afirma que a água precisa ser pensada enquanto inscrição da sociedade
na natureza. Por isso, ela pode ser um indicador das relações que os humanos estabelecem uns
com os outros e com o ambiente, contribuindo, inclusive, para revelar a lógica e os valores da
vida social (DE PAULA JÚNIOR, 2014).
Houve uma significativa mudança de sentido na relação histórica do ser humano com a
água, que está diretamente ligada à relação humana com a natureza. Vargas (2006) explica esse
58
processo ao comparar as sociedades pré-moderna e moderna. Na primeira, o homem vive com
a natureza sem a concepção de ser seu dono e os elementos devem ser usados e preservados. A
água é vista como sagrada, origem da vida, fonte de saúde e alimentos, benção ou castigo de
Deus. Dentre os seus campos semânticos estão a ideia de mãe d’água e água que cura e está
associada aos valores de vitalidade, sustentabilidade, respeito e sacralidade.
Símbolo de pureza e fertilidade, de purificação e regeneração, de punição e de benção,
expressão da ira e do amor dos deuses, a água nutre o imaginário de todos os povos.
A sua história aparece envolta em uma aura de mistério, o mesmo que tece as
narrativas da origem da vida. Sabe-se que a sua forma líquida possibilitou a vida, mas
pouco sabemos sobre a excepcionalidade deste momento cósmico. Elemento por
excelência do oculto, a água invoca uma imaginação material voltada para as
profundezas do ser (CATALÃO; MORAES, 2011, p. 39).
Na sociedade moderna, por sua vez, em que o homem está voltado ao domínio da
natureza e ao controle das forças naturais, o desequilíbrio ambiental torna-se um efeito. A água
é vista como recurso natural, fator de produção, forma de transporte e bem econômico. Seus
valores semânticos estão relacionados a recursos hídricos, potabilidade, irrigação, mercado,
crise e guerra de água. Está relacionada aos valores de progresso, conforto, propriedade privada,
extrativismo ou mercado (VARGAS, 2006).
De acordo com Shiva (2006), em comunidades nativas o controle e os direitos coletivos
sobre a água foram os fatores para a sua conservação e recolhimento. Quando criava regras e
limites para seu uso, esse controle coletivo garantia a sustentabilidade e equidade da sua
utilização. No entanto, o processo de globalização tem enfraquecido cada vez mais esse controle
comunitário, entregando os sistemas tradicionais de renovação da água à decadência e dando
lugar à sua exploração privada.
É nítida uma simplificação do sentido dos tratos da sociedade com a água, que se
manifesta na forma instrumental do seu uso. Essa forma utilitarista de relacionamento é
característica das sociedades capitalistas contemporâneas. No período moderno, desmatamento
e mineração destruíram a capacidade das bacias dos rios de reter água, combustíveis fósseis
contribuíram com a poluição atmosférica e com as mudanças climáticas, que tiveram como
consequências tanto as cheias quanto as secas recorrentes. Além disso, a agricultura
monocultora e a silvicultura secaram ecossistemas. Esses fenômenos são resultados diretos de
alterações no ciclo hidrológico (RIBEIRO, 2014; SHIVA, 2006).
Para Ribeiro (2014), é necessária uma ressignificação da água pela sociedade, partindo
para uma relação mais sustentável e cuidadosa com esse elemento. Esta relação estaria
59
embasada, segundo Friedrich (2014), num novo jeito de ser, sentir, viver, produzir e consumir.
Envolve a união de esforços de informação e capacitação para a mudança de conceitos, valores,
sentimentos e crenças guiados pelo cuidado permanente e pela ética, produção de cultura e
tecnologia adequadas e necessárias para a produção sustentável e saudável, adequação de
hábitos de consumo alinhados à sustentabilidade e o estabelecimento de uma relação adequada
entre ser humano e seu meio, tendo a água como ponto focal.
Uma vez que cada ser humano é composto de cerca de 70% de água, esse elemento
pode, segundo afirmam Catalão e Moraes (2011), ajudar a encontrar um caminho que devolva
aos seres humanos a percepção da sua identidade terrena. Ribeiro (2014) defende que falar
sobre a água requer lembrarmos de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir na
relação com ela. Por essa razão, a educação tem sido muito importante para refletir sobre a
construção de novos valores na relação entre humanidade e natureza.
[...] a água não surge apenas como elemento e veículo para geração e manutenção de
vida, mas como fluxo, adaptabilidade e paisagem para contemplação, encantamento e
reflexão. A imagem da cachoeira, cuja beleza inigualável pode ser utilizada para gerar
a energia que move e toca a locomotiva do desenvolvimento, apresenta-se também
como motivo para uma abordagem crítica das formas de desenvolvimento. Que
energia escolhemos para sustentar nosso desenvolvimento humano e tecnológico?
(CATALÃO; MORAES, 2011, p. 41).
Segundo Shiva (2006), existem nove princípios que sustentam uma democracia da água,
na qual o direito à água está protegido para todos os cidadãos: 1) a água é um presente da
natureza, portanto é nosso dever utilizá-la de acordo com as nossas necessidades de
sobrevivência, mantê-la limpa e em quantidade adequada; 2) a água é essencial à vida, todas as
espécies e ecossistemas têm direito à sua cota de água no planeta; 3) a vida está interconectada
pela água através do seu ciclo, por isso precisamos assegurar que nossas ações não causem
danos a outras espécies.
Ainda, 4) a água tem de ser gratuita para as necessidades vitais, pois uma vez que a
natureza a fornece sem custo, comprá-la e vendê-la para obtenção de lucro viola o direito ao
elemento; 5) a água é um recurso limitado e pode acabar, se utilizada de maneira não sustentável
é passível de esgotamento; 6) a água tem que ser conservada, é um dever de todos utilizá-la de
modo sustentável.
Além disso, 7) a água é um bem comum, não pode ser apropriada como mercadoria ou
aprisionada; 8) ninguém tem o direito de destruir ou de utilizar os seus sistemas de forma
60
excessiva, ou ainda de violar o princípio da utilização justa com licenças comercializáveis de
poluição; e 9) a água não pode ser substituída, pois é intrinsecamente diferente das outras
riquezas naturais e não pode ser tratada como mercadoria.
Descrevendo o que atualmente constitui o direito à água e ao saneamento para cada
indivíduo, Riva (2016) sintetiza:
(i) direito de se beneficiar dos serviços de água e saneamento de forma acessível; (ii)
direito de se conectar aos sistemas públicos existentes de distribuição de água e coleta
de saneamento; (iii) liberdade de coleta da água dos cursos naturais e das chuvas para
satisfazer as necessidades pessoais e domésticas; (iv) prioridade para as necessidades
pessoais e domésticas sobre os outros usos – indústria, agricultura, turismo; (v) direito
à informação, à consulta e à participação nas decisões e na gestão da água; (vi) direito
a uma quantidade mínima de água para garantir a sobrevivência (RIVA, 2016, p. 149).
De acordo com Shiva (2006), ao longo da história os direitos da água foram moldados
tanto pelos limites dos ecossistemas como pela necessidade das pessoas. Esse elemento tem
sido tratado como um direito natural – aquele que nasce da natureza humana, das condições
históricas, das necessidades básicas. Nesse sentido, a água não pode ser possuída, apenas usada.
Por ser a água um fator que as pessoas necessitam para a vida, o direito à água é aceito como
um fato natural e social.
Por essa razão, para a autora, a sustentabilidade desse elemento e a sua alocação
equitativa dependem de cooperação entre os membros de uma comunidade. A água precisa
permanecer como um bem comum e necessita de gerenciamento comunitário. No modelo atual,
segundo Riva (2016), a participação direta dos interessados na gestão da água é o que garante
que os problemas sejam melhor compreendidos no tocante às necessidades da população e que
os serviços sejam mais adequados às demandas. Além disso, esse processo reforça a democracia
participativa com a atuação de cidadãos e melhora o acesso a serviços básicos.
4.2. O GERENCIAMENTO HÍDRICO NO BRASIL
No Brasil, os principais usos da água estão voltados para abastecimento, fins industriais,
geração de energia, mineração, irrigação, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Esses usos
têm, cada um, suas particularidades em relação à quantidade e à qualidade do líquido. O Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), criado e instituído a partir da
61
Constituição do Brasil de 1988, é regulamentado pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH)3 (ANA, 2021).
A PNRH tem como fundamentos a premissa de que “a água é um bem de domínio
público” e que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. A bacia hidrográfica4 é a
unidade territorial de implementação da Política e de atuação do Singreh. O Comitê de Bacia
Hidrográfica (CBH) – fórum de debates para tomada de decisões sobre questões relacionadas à
gestão dos recursos de uma bacia específica – também integra o Sistema.
De acordo com Porto-Gonçalves (2011), é preciso pensar a água enquanto território,
tendo em vista que o seu ciclo não é externo à sociedade, ele contém todas as suas contradições.
No contexto da gestão integrada da água, pensar nos ecossistemas como principais provedores
de água pode fortalecer as atitudes de cuidado. Por essa razão, é importante considerar as bacias
hidrográficas como um sistema integrado de água, solo, flora, fauna, que formam uma
totalidade tanto de elementos naturais quanto sociais, interligados de forma dinâmica.
As preocupações com a água devem estar presentes em cada uma das regiões
hidrográficas, e devem estar voltadas à sua captação, armazenamento, tratamento,
dimensionamento da estrutura física em relação à disponibilidade local e regional. É importante
que seja feito um plano correto de monitoramento de qualidade, e que seja estimulado tanto o
uso consciente quanto o reuso do recurso para outros fins. Todas essas etapas devem levar em
conta que cada água é diferente dependendo da sua origem, região, época do ano, infraestrutura
existente, tratamento disponibilizado, armazenamento e manipulação (EMBRAPA, 2018).
Em 2019, a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), órgão central gestor da
PNRH, lançou a sua visão sobre os indicadores brasileiros em relação às oito metas do ODS 6,
propostos pela ONU, sob três eixos principais: 1) abastecimento de água e esgotamento
sanitário; 2) qualidade e quantidade de água e 3) gestão: saneamento e recursos hídricos
(BRASIL, 1997; ANA, 2019).
Os dados indicaram que 97,2% dos serviços de distribuição de água potável utilizados
pela população em seus domicílios é considerado como “gerido de forma segura”. Em relação
à disponibilidade diária de água, 86,7% dos municípios têm água diariamente, o que mostra que
3 Lei n. 9.433 de 8 de janeiro de 1997. 4 O Brasil possui 12 regiões hidrográficas: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico NE Ocidental, Parnaíba,
Atlântico NE Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico
Sul.
62
ter acesso ao serviço de distribuição não garante ter água todos os dias. Além disso, 31% da
população do país vive em sedes que têm baixa garantia hídrica – que enfrentam colapso ou
alerta em períodos de seca – e 41% vive em sedes cujo sistema precisa ser ampliado. Apenas
27% da população vive em municípios que têm o abastecimento considerado satisfatório.
A parcela populacional que utiliza esgotamento sanitário considerado como gerido de
forma segura soma 63,5%, incluindo as fossas sépticas. Os dados também mostraram que
69,3% dos corpos hídricos brasileiros possuíam boa qualidade das águas considerando os
padrões definidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).
O uso da água no país que apresenta as maiores demandas de retirada é a irrigação, com
média anual de 46,2% do total, seguida pelo abastecimento urbano, que corresponde a 23,3%
do total médio anual. No ano de 2015, 46% das cidades brasileiras apresentavam
vulnerabilidades associadas à produção de água e 9% necessitavam de novas fontes hídricas. A
Região Nordeste concentra, proporcionalmente, mais cidades que necessitam de novos
mananciais devido à baixa disponibilidade hídrica da região, principalmente no Semiárido. Na
Região Sudeste, essa necessidade é decorrente das elevadas concentrações populacionais
urbanas.
De acordo com a ANA (2019), os indicadores relacionados aos ODS 6 apresentaram
avanço em comparação ao período histórico avaliado. Suas maiores deficiências estão nos
percentuais de tratamento de esgotos, enfatizando a manutenção de condições que não atendem
mais às demandas e que por essa razão precisam de medidas urgentes. O baixo tratamento de
esgotos apresenta reflexos na saúde da população e na qualidade das águas, representando para
o país um dos maiores desafios quanto ao alcance das metas dos ODS 6 da Agenda 2030.
De maneira geral, o Brasil apresenta uma grande oferta hídrica, mas há diferenças entre
as suas regiões em relação à oferta e demanda de água. O resultado disso é a escassez do
elemento em algumas bacias onde há baixa disponibilidade e grande demanda e abundância
onde há grande disponibilidade e menor consumo. Entre outros desafios estão o crescimento
desordenado das cidades, as desigualdades ambientais e sociais – sentidas sobretudo pelas áreas
rurais – e os conflitos pelo uso da água, que têm se intensificado pelas variações nos regimes
de chuvas e diminuição das vazões em determinadas regiões (EMBRAPA, 2018).
O nordeste brasileiro, por exemplo, tem déficit no balanço hídrico durante quase todos os
meses do ano por causa das suas características: solos rasos e de embasamento cristalino, alta
evaporação e chuvas bastante inconstantes em determinadas regiões, chegando a meses em que
63
a vazão de muitos rios é nula. Os usos hídricos mais significativos, em termos de retirada, estão
relacionados a irrigação e abastecimento urbano (ANA, 2012).
[...] De forma geral, a disponibilidade de água armazenada é razoável, não sendo, no
entanto, bem distribuída no território, apresentando-se algumas vezes impróprias para
o consumo, exigindo a utilização crescente de produtos químicos e de tecnologias
complexas para a sua potabilização. Para muitos nordestinos ainda há dificuldade de
acesso à água, embora também seja constatado que não há uma adequação no padrão
de consumo, ainda caracterizado por desperdício em vários usos (ANA, 2012, p. 114).
Esse déficit é muitas vezes apontado como fator determinante de pobreza e usado para
justificar a construção de grandes infraestruturas hídricas de irrigação para enfrentar o
problema. Ocorre que os grandes reservatórios artificiais que são geralmente construídos –
barragens ou açudes – abastecem grandes centros consumidores, e a população rural
comumente não tem acesso a esse abastecimento. Essa situação mantém uma parte da
população rural nordestina em situação de vulnerabilidade (ANA, 2012).
4.3 FONTE DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO: A ABORDAGEM DA ÁGUA EM
DIRETRIZES EDUCACIONAIS
Ao definir as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes ao
longo da sua trajetória escolar, a BNCC diz que, ao defini-las, reconhece que a educação deve
afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, no sentido
de torná-la mais humana, justa e voltada para a preservação da natureza, “mostrando-se
alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas” (BRASIL, 2018, p. 8).
A Agenda 2030, a qual a BNCC afirma estar em alinhamento, aposta na abordagem da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), que defende ter como intuito a criação
de contextos de ensino e aprendizagem interativos e centrados no educando. Para isso, “requer
uma pedagogia transformadora orientada para a ação, que apoie a autoaprendizagem, a
participação e a colaboração [...] e a conexão entre aprendizagem formal e informal”
(UNESCO, 2017, p. 7). Como abordagem pedagógica, o intuito da EDS está voltado à
motivação dos estudantes para se tornarem cidadãos ativos da construção de um chamado futuro
sustentável. Toma como ponto de partida no processo de construção do conhecimento as suas
experiências e percepções prévias. A ideia é que os educandos sejam capacitados para
questionar e alterar as formas como enxergam e pensam sobre o mundo, e aprofundem a sua
64
compreensão dele. Devem se envolver nas ações e refletir sobre suas experiências em termos
do processo de aprendizagem pretendido e do seu desenvolvimento pessoal.
A Unesco (2017) determina que a EDS deve ajudar os educandos a entender a água como
condição fundamental da própria vida, como parte de muitas inter-relações e sistemas globais
complexos diferentes, e por isso distribuída de forma desigual, além de compreendê-la
embutida em commodities. Precisa fazer com que o estudante se torne capaz de participar de
atividades de melhoria da gestão da água e do saneamento, comunicar-se sobre tudo que
envolve este elemento, sentir-se responsável pela utilização pessoal que faz dele, conseguir
identificar bons padrões de higiene e questionar as diferenças socioeconômicas e de gênero no
acesso à água potável e ao saneamento. Além disso, essa abordagem pretende ajudar o educando
a aprender a contribuir com a gestão desse bem a nível local, economizar água na prática dos
seus hábitos diários e pensar e replicar atitudes que aumentam a qualidade e segurança do
líquido.
Uma vez que a BNCC afirma estar alinhada à EDS, é pertinente fazermos uma
observação mais pormenorizada da abordagem do tema água no documento. Ao fazer isso, é
possível visualizar que água e saneamento atravessam diretamente diferentes áreas da Base,
tanto no Ensino Fundamental (EF) I quanto no EF II. O EF na Base está dividido em cinco áreas
do conhecimento: Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa),
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas (Geografia e História) e Ensino
Religioso. Essas áreas comunicam conhecimentos e saberes de diferentes componentes
curriculares, embora as especificidades dos saberes próprios de cada componente ainda sejam
sistematizadas. Essa sistematização é feita em unidades temáticas, que definem um arranjo dos
objetos de conhecimento ao longo do EF, adequando-se às especificidades dos diferentes
componentes curriculares. Cada objeto de conhecimento se relaciona a um número de
habilidades, que se integram às chamadas “aprendizagens essenciais” que devem ser
asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.
Em Ciências, no 2º ano, na unidade temática de Vida e Evolução, os estudantes têm
como habilidade a ser desenvolvida a investigação sobre a importância da água para a
manutenção da vida de plantas em geral. No 3º ano, estudando Terra e Universo, os alunos
precisam identificar características do planeta Terra, incluindo a presença de água. No 4º ano,
por sua vez, entre as primeiras habilidades de Matéria e Energia está o estudo sobre as
transformações reversíveis e não reversíveis, tendo como exemplo as mudanças no estado físico
da água.
65
Conhecimentos mais específicos sobre o ciclo hidrológico surgem no 5º ano:
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água
para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima,
na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos
ecossistemas regionais (ou locais). (EF05CI03) Selecionar argumentos que
justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a
conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades
cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos
(BRASIL, 2018, p. 341).
No 6º ano, as interações com a água aparecem ao trabalhar misturas homogêneas e
heterogêneas (água e sal, água e óleo, água e areia etc.). Mais tarde, no 7º ano, sob o estudo dos
objetos de conhecimento Diversidade dos Ecossistemas e Programas e Indicadores de Saúde
Pública, as habilidades a serem desenvolvidas estão em, respectivamente, caracterizar os
ecossistemas brasileiros quanto aos seus aspectos, incluindo a quantidade de água, e interpretar
as condições de saúde da comunidade com base em indicadores de saúde, como por exemplo a
cobertura de saneamento e a incidência de doenças de veiculação hídrica. Destacar e avaliar o
uso de geração de energia elétrica através das hidrelétricas e seus impactos socioambientais está
entre as habilidades do 8º ano.
No 2º ano de Ciências Humanas – Geografia – a unidade temática Natureza, Ambientes e
Qualidade de Vida sugere trabalhar diretamente os usos dos recursos naturais (solo e água) no
campo e na cidade, com o intuito de reconhecer a sua importância para a vida e os impactos
desses usos no cotidiano local.
No 3º ano, os estudos sobre água são mais diretos quando iniciadas as discussões sobre
os impactos das atividades humanas: “Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque
para os usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e
discutir os problemas ambientais provocados por esses usos” e “Identificar os cuidados
necessários para utilização da água na agricultura e na geração de energia de modo a garantir a
manutenção do provimento de água potável”.
No 5º ano, o objeto de conhecimento Qualidade Ambiental tem como uma das habilidades
o reconhecimento de algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos,
efluentes industriais, marés negras etc.). O ciclo da água e as diferentes formas de apropriação
dos recursos hídricos são estudados mais detalhadamente nas Relações entre os Componentes
Físico-naturais e Biodiversidade e Ciclo Hidrológico no 6º ano:
66
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no
ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das
bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre
e da cobertura vegetal [...] (EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos
(sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens
e desvantagens em diferentes épocas e lugares. [...] (EF06GE12) Identificar o
consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e
no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos (BNCC, 2018, p.
385).
No 8º ano, estudando sobre as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial
na América Latina, uma das habilidades a ser desenvolvida está voltada para a análise dos
principais recursos hídricos do local (Aquífero Guarani, Bacias do Rio da Prata, do Amazonas
e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes etc.), e discutir os desafios
relacionados à gestão e comercialização da água. O final do 9º ano é marcado pelo trabalho
com a habilidade de analisar cadeias industriais e as consequências dos usos de recursos naturais
e das diferentes fontes de energia (incluindo as hidrelétricas) em diferentes países.
Essa simples observação da abordagem do tema água na BNCC nos ajuda a trazer à tona
considerações importantes. Há uma cobertura básica de assuntos considerados relevantes na
compreensão desse elemento e tudo que o envolve – composição do planeta, manutenção da
vida, estados físicos, ciclo hidrológico, aspectos de higiene, saneamento, doenças de veiculação
hídrica, geração de energia, bacias hidrográficas, biomas etc. No entanto, a maior parte, se não
todas essas perspectivas dentro da Base, parecem enfocar a água apenas como recurso à
disposição. Não é nítido no documento o estímulo a um pensamento ecossistêmico complexo,
interpretando a água como bem cultural e direito não apenas dos seres humanos, mas de todo
ecossistema.
Além disso, não há um incentivo na Base para investigar outras questões fundamentais
que desconstroem a ideia da água como recurso ilimitado e disponível unicamente aos humanos.
É importante que os estudantes sejam estimulados a compreender os processos de gestão da
água em termos locais e a olhar e questionar as diferenças de qualquer natureza que estão
imbricadas no acesso à água ao seu redor e para além dele; que desenvolvam o sentimento de
pertencimento a um ecossistema maior e complexo; e que sejam ajudados a perceber que
também são responsáveis pelos usos que fazem desse elemento.
Se não estimulamos reflexões que coloquem em xeque visões limitadas de temas
complexos como a água, estamos perpetuando uma educação bancária e opressora. Faremos
67
nossos estudantes de simples depósitos de conhecimentos e eles não serão capazes de
desenvolver a consciência crítica resultante da sua inserção como transformadores do mundo.
Essa prática bancária os mantém imersos na realidade opressiva, na qual não conseguem exercer
o seu poder criador para pensar os problemas sociais. Por outro lado, é uma educação
problematizadora que possibilitará uma emersão das consciências que implicará num
desvelamento da realidade. É necessário possibilitar que os estudantes desenvolvam este caráter
reflexivo ao olhar temas complexos como a água, de modo que se sintam seres no mundo e com
o mundo, em suas conexões com outros e num plano de totalidade (FREIRE, 2018c).
68
5 CAPÍTULO 4 - PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
“Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais
metodicamente rigorosa o objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica.”
Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia (2018, p.33)
Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Nela uniram-se os aspectos de uma
educação não-formal em ciências baseada em princípios de uma educação CTS, alicerçadas
pela Educomunicação. Embora aqui estejam demarcadas as suas fases de coleta de dados e
instâncias de análise, sua produção começou muito antes do que aqui está descrito, pois é fruto
de vivências com a comunidade de São Francisco do Paraguaçu, em Cachoeira, na Bahia, e seu
entorno, no passar dos anos, desde 2014.
O objetivo geral desta tese de doutoramento foi investigar potencialidades e limitações
de uma intervenção pedagógica educomunicativa que estimulasse o diálogo de jovens com
conhecimentos científicos sobre água. Para responder a este objetivo maior, os objetivos
específicos do trabalho foram assim descritos: a) compreender os processos socialmente
construídos sobre água pela comunidade; b) estruturar uma Agência Jovem de Notícias (AJN)
como forma de intervenção pedagógica educomunicativa; c) analisar como os jovens constroem
diálogos com o conhecimento científico em cada atividade desenvolvida pela intervenção; e d)
discutir quais as potencialidades e quais as limitações do método educomunicativo para os
jovens estabelecerem diálogos com o conhecimento científico sobre água na sua comunidade.
Para compreender os processos socialmente construídos sobre água pela comunidade,
nos apropriamos de princípios da abordagem etnometodológica. A realização de entrevistas
informais e semiestruturadas foram as estratégias principais para compreender como os
moradores da comunidade estudada, em especial a juventude, interpretam a sua realidade em
relação à água (COULON, 1995; 2017; 2020; GARFINKEL, 2018; GIL, 2008; MANZINI,
1991; 2004; MINAYO, 2009).
Concluída esta primeira parte, seguimos com a implementação de uma Agência Jovem
de Notícias (AJN) como intervenção pedagógica, seguindo o método educomunicativo como
eixo vertebrador do processo (KAPLÚN, 1987; 2001; SOARES, 2003; 2010; 2011; 2015;). A
Agência envolveu a participação de seis adolescentes na realização de oficinas de jornalismo,
vídeo e fotografia e o polo principal de atividades era a escola do povoado.
69
A Agência Jovem de Notícias funcionou ativamente por três meses e gerou matérias,
vídeos e fotografias sobre uso, distribuição e tratamento da água no povoado, esgotamento
sanitário, nascentes e histórias antigas. Os jovens que ficaram até o final das atividades
apresentaram suas produções na escola.
Dadas estas fases, entendemos que essa tese compõe duas instâncias de análise: a
primeira é uma interpretação etnometodológica dos processos construídos sobre água pela
comunidade. A segunda é a análise de todo o processo de planejamento e execução da Agência
Jovem de Notícias como intervenção pedagógica educomunicativa que estimulou o contato de
jovens da comunidade com o conhecimento científico sobre água.
5.1 INTERPRETAÇÃO ETNOMETODOLÓGICA DOS PROCESSOS CONSTRUÍDOS
SOBRE ÁGUA PELA COMUNIDADE
A etnometodologia é o estudo das atividades cotidianas, a pesquisa empírica dos
métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações
de todos os dias. Significa entender o mundo social por meio da análise dos métodos pelos quais
os atores dão sentido à realidade na qual se inserem. A etnometodologia analisa os
comportamentos de senso comum5 que organizam determinada realidade e a tornam
reconhecida pelas pessoas que fazem parte dela (COULON, 1995; GARFINKEL, 2018).
De acordo com Garfinkel (2018), a simples realização cotidiana da vida em sociedade,
no que ela tem de mais óbvio, é o fenômeno de estudo da etnometodologia. Isso porque, embora
as regras sociais tenham caráter imperativo na vida das pessoas, elas dependem de avaliações
contextuais que acontecem a todo o tempo no cotidiano. As pessoas usam o etnométodo, isto é,
os métodos de senso comum, para entender e gerenciar a sua realidade.
A observação atenciosa e a análise dos processos aplicados nas ações colocam em
evidência os modos de agir pelos quais os atores interpretam sua realidade social. Esses modos
de agir são reconhecíveis pelos participantes da sociedade, pois eles usam etnométodos
compartilhados que são construídos em colaboração. É uma espécie de “contrato social
implícito”, coerências mútuas que são criadas e modificadas por essas pessoas (COULON,
1995; GARFINKEL, 2018).
5 Na etnometodologia, o significado da expressão “senso comum” refere-se ao contrato social implícito que
determinado grupo compartilha sobre crenças ou comportamentos. Esse contrato é utilizado pelos membros do
grupo para dar sentido às suas ações cotidianas, seja se comunicar, tomar decisão ou raciocinar. Neste trabalho,
adotamos este significado durante toda a escrita.
70
Ela vai portanto interessar-se pelos métodos que eu e meus semelhantes empregamos,
que nos permitem reconhecer-nos como vivendo no mesmo mundo. [...] Esses
métodos são locais, particulares de uma “tribo”, e não são logo de início legíveis para
um estranho. Designá-los como “etnométodos” significa marcar a pertença desses
métodos a um grupo particular, a uma organização ou instituição local. A
etnometodologia vem então a ser o estudo dos etnométodos que os atores utilizam no
dia a dia, que lhes permitem viver juntos, inclusive de maneira conflitiva, e que regem
as relações sociais que eles mantêm entre si (COULON, 1995, p. 51-52).
Uma característica importante da etnometodologia é que ela não acredita que os
comportamentos e as atividades de um indivíduo sejam diretamente induzidos pela sua posição
social. Ela quer explicar a maneira como os atores percebem e interpretam o mundo, como
reconhecem o familiar e constroem o aceitável. Por isso considera como problema de análise
os métodos pelos quais os membros de uma sociedade tornam observáveis as estruturas sociais
das atividades de todos os dias (COULON, 1995).
Para a etnometodologia as estruturas sociais são constituídas por atividades sociais
estruturantes, que são as práticas, os métodos e os modos de proceder. São essas atividades
estruturantes, que aglutinam as estruturas sociais, o principal objeto de estudo da
etnometodologia. Através da análise das atividades humanas, procura-se estudar os fenômenos
sociais incorporados em nossos discursos e em nossas ações (COULON, 1995).
A etnometodologia possui conceitos-chave, princípios por meio dos quais é possível
fazer uma interpretação das práticas de senso comum e compreender o significado que
produzem. São eles: prática/realização, indicialidade, reflexividade, accountability e noção de
membro.
Prática/realização nada mais é do que a prática vivida, construída no dia a dia pelos
atores sociais e que revelam as regras e procedimentos que são adotados por eles. São as
maneiras de fazer “triviais” que são mobilizadas para que as ações frequentes sejam realizadas
(COULON, 2017).
A indicialidade está ligada à linguagem, compreendendo que a vida social se constitui
através desta. Tomando isso como base, afirma Coulon (1995), é preciso entender que as
palavras só ganham sentido completo quando estão inseridas em uma situação, pois a
significação de uma palavra ou de uma expressão provém de fatores contextuais que vão desde
a história de vida de quem fala até a sua relação com o ouvinte, entre outros aspectos. Palavras
não devem ser tomadas pura e simplesmente como expressões objetivas, e quando coletadas
71
em entrevistas não podem ser consideradas sem que o pesquisador compreenda o contexto em
que foram proferidas.
A reflexividade mostra as práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o
quadro social. À medida que se fala, constrói-se o sentido, a ordem e a racionalidade do que
está sendo feito naquele momento. Descrever uma situação é constituí-la, por isso essas
descrições são a própria essência de quem as descreve. Mas isso não significa que o ator social
tem consciência do caráter reflexivo das suas ações, e por essa razão não se pode confundir
reflexividade com reflexão (COULON, 1995; MACHADO, 2012).
Accountability, ou “relatabilidade”, de acordo com Coulon (1995), significa tornar o
mundo social descritível, relatável, tornar as ações compreensíveis descrevendo-as. É possível,
então, mostrar o sentido dessas ações. O objetivo dessas descrições não é de serem pura e
simplesmente relatórios de ações, mas de mostrar a constituição destas ações, isto é,
compreender por que elas são realizadas de tal forma e como elas “fabricam” o mundo ao redor.
A noção de membro, por sua vez, não se refere somente à pertença ao grupo, mas ao
domínio da sua “linguagem natural”. Uma vez que a pessoa incorpora os etnométodos de um
grupo, exibe naturalmente a competência que o agrega a este e lhe permite se reconhecer e
aceitar. Os métodos dos membros são práticas reais utilizadas por esses indivíduos para darem
coerência aos fatos sociais que ali são mutuamente reconhecíveis (COULON, 1995;
GARFINKEL, 2018).
Como explica Coulon (1995, p. 85), “quando vão para uma pesquisa de campo, os
etnometodólogos (...) se veem obrigados a usar instrumentos de pesquisa”. Os instrumentos
utilizados são variados e vão desde a observação participante até diálogos, estudos de
documentos, de gravações em vídeos, interação com os atores utilizando materiais etc., mas
tudo deve partir de uma primeira observação de campo, a observação dos atores em situação.
A observação levará à descrição: “a primeira tarefa de uma estratégia de pesquisa
etnometodológica é descrever o que os membros fazem” (COULON, 1995, p. 89). Uma vez
que o seu objetivo é mostrar os meios que os membros utilizam para organizar a sua vida social
em comum, a descrição é essencial. Além disso, é fundamental compartilhar com os membros
uma linguagem comum para evitar erros de interpretação. É preciso estar onde tem necessidade
de estar, ver e ouvir o que se pode desenvolver a confiança entre os sujeitos e fazer muitas
perguntas (ZIMMERMAN apud COULON, 1995).
72
É justamente nas informações coletadas que estará o significado dos acontecimentos
observados. De acordo com Coulon (1995), esse significado está evidente naquilo que os
indivíduos dizem quando comentam as suas atividades. Por essa razão, é fundamental descrever
os acontecimentos repetitivos e as atividades que constituem as rotinas do grupo que se estuda,
estando, ao mesmo tempo, numa posição exterior para escutar e ser um participante das
conversações naturais onde emergem as conversações das rotinas deles.
A vida social é metodicamente realizada pelos membros. Nas características dessas
realizações residem as propriedades dos fatos sociais da vida cotidiana: o caráter
repetitivo, rotineiro, padronizado, transpessoal e trans-situacional dos modelos da
atividade social do ponto de vista do membro (COULON, 1995, p. 91).
Para concretizar a interpretação etnometodológica neste trabalho, alguns procedimentos
foram utilizados, a saber: observação participante, entrevistas informais e entrevistas
semiestruturadas (MANZINI, 1991; 2004; GIL, 2008; MINAYO, 2009).
5.1.1 Procedimentos utilizados na interpretação etnometodológica
O primeiro recurso utilizado para proceder com a interpretação etnometodológica foi a
observação participante. Gil (2008, p. 103) a caracteriza como “participação real do
conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”. De acordo
com o autor, o observador assume, em certa medida, o papel de um membro do grupo, e por
isso pode-se definir a observação participante como a técnica que permite conhecer a vida de
um grupo a partir do interior dele mesmo.
Há algumas vantagens na utilização deste procedimento. Os fatos podem ser percebidos
diretamente, sem intermediações, reduzindo a subjetividade que permeia o processo de
investigação social. Além disso, há um acesso mais rápido a dados sobre situações habituais
em que os membros das comunidades estão envolvidos, e uma possibilidade maior de acessar
dados que o grupo talvez considere de domínio privado (GIL, 2008).
A minha observação participante nesta comunidade começou um pouco antes do curso
de doutorado, mais especificamente em 2015. Por ocasião da realização do Projeto
“Vizinhanças”, encabeçado pela Sala Verde da Ufba6 e aprovado pela Pró Reitoria de Extensão
6 https://salaverdeufba.wordpress.com/about/
73
da Universidade, tive a oportunidade de residir cerca de um mês no povoado. O intuito do
projeto era realizar oficinas educomunicativas com os jovens da comunidade, mas a sua
primeira fase foi uma imersão no povoado, que significava compreender o cotidiano dos seus
habitantes e estabelecer relações com esse dia a dia.
Considero que este período faça parte do que eu aqui chamo de observação participante
porque não foi uma fase despretensiosa. Foi necessário viver a rotina da comunidade e tentar
compreender por que ela funcionava daquela maneira – a água é escassa e precisa ser
economizada, as meninas estão sempre cuidando da casa e os meninos estão sempre nas ruas,
alguns se consideram quilombolas e outros não, jogar lixo no chão é um costume, os moradores
não visitam o Convento que é patrimônio da comunidade, a história da vila não é conhecida por
muitos moradores etc.
Esta primeira fase de observação, seguida das atividades educomunicativas do Projeto
“Vizinhanças” e das contínuas atividades realizadas nos anos posteriores, estabeleceram tanto
um vínculo com a comunidade quanto um panorama de uma questão problemática para o
povoado e que poderia ser mais bem compreendida sob seu ponto de vista: o uso e distribuição
da água e o esgotamento sanitário. Essa foi a questão-chave escolhida para tratar neste
doutoramento.
A partir deste direcionamento, a minha observação participante foi apontada às situações
relacionadas a essa questão – o quanto consigo realizar de tarefas que usam água no dia? Quais
horários têm mais água disponível? As pessoas confiam que a água é limpa? Quem costuma
frequentar as fontes para tomar banho ou pegar água? Em quais ruas o esgoto passa na frente
das casas? Todo mundo compra garrafão de água para beber ou preferem usar filtro de barro?
O esgoto cai em qual local do rio?
Para uma melhor compreensão de todo esse processo, o recurso de observação foi
conjugado a entrevistas informais e entrevistas semiestruturadas. As entrevistas podem ser
consideradas como “conversas com finalidade e se caracterizam pela sua forma de organização”
(MINAYO, 2009, p. 64). As entrevistas informais, por exemplo, são caracterizadas por serem
minimamente estruturadas, diferenciando-se de uma simples conversação apenas pelo fato de
que sua pretensão principal é a coleta de dados (GIL, 2008).
De acordo com Gil (2008), a entrevista informal oferece um panorama geral e uma visão
muito mais próxima do problema pesquisado, além de ajudar a identificar aspectos da
74
personalidade dos entrevistados. É um tipo de entrevista bem utilizada quando feita com líderes
formais ou informais, personalidades destacadas na situação em estudo ou informantes-chave.
Realizei as entrevistas informais com cinco pessoas que me ofereceram um quadro muito
mais detalhado e complexo da situação da água e do esgoto na comunidade de São Francisco
do Paraguaçu: Jurandir7, líder comunitário; João, morador da comunidade; Afonso, historiador
autodidata nascido e vivido na comunidade, escritor de um livro sobre o povoado; e Augusto e
Florêncio, moradores da comunidade e trabalhadores da Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A. (Embasa).
Uma vez que a minha ida à comunidade se tornou frequente para apoiar outros projetos
em andamento, essas entrevistas informais aconteceram em diferentes momentos. Com
algumas dessas pessoas me encontrei mais de uma vez e até obtive contato, com certa
regularidade, por meios eletrônicos (mensagens de celular) para mitigar dúvidas que me
acometiam após refletir as conversas. Embora as questões relacionadas à água e esgoto na
comunidade fossem a temática chave das conversas, novos elementos afins ao assunto eram
incorporados à medida que as entrevistas corriam. Ao final, essas conversas acabaram trazendo
também informações sobre conflitos entre os membros do povoado e possíveis soluções para
os problemas em questão.
As entrevistas semiestruturadas, por sua vez, foram realizadas com oito adolescentes de
São Francisco do Paraguaçu, entre 14 e 17 anos, que aceitaram, previamente, participar da
Agência Jovem de Notícias (AJN). Esta entrevista pretendia compreender a presença da água
no dia a dia desses jovens e suas concepções sobre os problemas enfrentados pela comunidade
em relação a isso. Tendo em vista que esses jovens são os atores principais neste trabalho de
doutoramento, essas entrevistas também foram consideradas na interpretação
etnometodológica.
De acordo com Manzini (1991), na entrevista semiestruturada confecciona-se um roteiro
com perguntas principais que são complementadas por outras questões inerentes ao momento
da entrevista. Por ter um roteiro, ela é semiorientada, e o pesquisador, de tempos em tempos,
efetua uma intervenção para evitar divagação, porém dá certo grau de liberdade para o
entrevistado.
7 Os nomes foram mudados. Uma descrição ainda mais detalhada desses sujeitos da pesquisa é feita no referido
capítulo de análise.
75
O roteiro foi construído com 31 perguntas, sendo as seis primeiras relacionadas a dados
pessoais dos jovens (nome completo, idade, série etc.). As demais perguntas foram divididas
em quatro blocos temáticos: água em casa, distribuição de água na comunidade, Rio
Paraguaçu e saneamento básico. Essa organização foi feita no intuito de compreender melhor
cada um dos campos na percepção dos entrevistados, além de seguir uma lógica de iniciar com
questões de mais fácil resposta e seguir gradualmente para questões que possivelmente
exigiriam deles maior elaboração mental (MANZINI, 1991; 2004).
Também foi dada atenção especial na formulação e revisão das perguntas do roteiro. De
acordo com Manzini (1991; 2004), o uso de vocabulário desconhecido pela população alvo
pode comprometer o entendimento das perguntas. Por outro lado, um roteiro com perguntas
bem elaboradas aumenta a possibilidade de acertar nas intervenções, inclusive de melhorar a
abertura em questões momentâneas da entrevista, como acontece numa entrevista
semiestruturada.
Uma forma de estabelecer a fluidez da linguagem do roteiro é utilizá-lo com um pequeno
grupo para que este possa corrigir e adaptar as perguntas para os entrevistados (MANZINI,
1991). Para que isso fosse possível, repassei o roteiro para um grupo de professores de ciências
da educação básica e recebi cinco retornos que me ajudaram no processo de
validação/reestruturação das perguntas. Somente após esse processo as entrevistas foram
realizadas com os jovens na comunidade.
5.2 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS COMO INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA EDUCOMUNICATIVA
Como já discutimos anteriormente, a Educomunicação pressupõe a criação e o
desenvolvimento de ecossistemas comunicativos abertos e criativos através da implementação
de práticas em espaços educativos (SOARES, 2011). Para este trabalho, planejamos e
concretizamos a implementação de uma Agência Jovem de Notícias (AJN).
De maneira geral, as agências de notícias são caracterizadas como veículos de
comunicação que têm como finalidade produzir e distribuir conteúdos que interessem a outros
órgãos de comunicação, sejam jornais, revistas, rádios, tevês, sites, entre outros. Como
distribuidoras de informação, são potenciais disseminadoras de opinião e ferramentas para a
construção de um espaço simbólico por meio da circulação de informações (AGUIAR, 2016;
FERREIRA; BOAVENTURA; MOREIRA, 2017).
76
Outros aspectos inerentes às agências dizem respeito a serem fonte de informação
confiável. Também empregam jornalistas que trabalham na produção de material inédito. Além
disso, se leva em conta a regularidade da produção, a multiplicidade de suportes de material
enviado (texto, foto, áudio, vídeo), a atitude em relação a fontes oficiais, entre outras coisas.
No entanto, cada um desses aspectos envolve limitações operacionais e variam de lugar para
lugar (AGUIAR, 2009; 2015).
Embora nosso intuito não fosse produzir para os meios de comunicação locais ou
nacionais, chamamos esta intervenção pedagógica de Agência Jovem de Notícias tendo em
vista que algumas características deste veículo eram exatamente o que desejávamos para a nossa
prática em planejamento. Primeiro, seríamos um centro produtor de informações e
produziríamos notícias em diversos formatos: textos, vídeos e fotografias.
Também já presumíamos que os materiais produzidos poderiam alimentar veículos de
comunicação como os sites e as redes sociais da Sala Verde da Ufba e do Programa Social de
Educação, Vocação e Divulgação Científica8, além de compor os próprios veículos
comunicacionais da AJN. Essa seria a principal maneira dos materiais alcançarem pessoas da
comunidade e de fora dela, já que o povoado não possui meios de comunicação comunitários,
como rádio ou jornal.
Outro ponto foi o objetivo de construir produtos com informações inéditas e confiáveis
relacionadas a água e esgoto na comunidade. Esses produtos, elaborados pelos jovens do
povoado, assumindo seus papéis de comunicadores, ajudariam a AJN a se tornar um espaço
simbólico aberto de discussão sobre esses e outros assuntos, além de promover diferentes
pontos de vista de atores da vila de São Francisco do Paraguaçu sobre nossa principal temática
de trabalho.
A Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu já era aberta aos
projetos de extensão desenvolvidos pela Ufba na comunidade. Para a AJN, não foi diferente.
Após a apresentação da ideia à gestão e aos professores, a instituição aceitou abrigar a ideia
dentro do seu espaço e cedeu a sala da biblioteca para o desenvolvimento das atividades. Apesar
de ter espaço suficiente, a sala não era constantemente organizada pela escola. Velhos materiais
de papelaria eram esquecidos nesta biblioteca, os livros estavam bagunçados em armários e
prateleiras diferentes. As paredes abrigavam mofo, as estantes se soltavam, dentre os materiais
8 Programa parceiro da Sala Verde da Ufba e divulgador de todos os projetos realizados na comunidade de São
Francisco do Paraguaçu. Também é o programa promotor do Encontro de Jovens Cientistas, evento científico
nacional para estudantes da educação básica. https://encontrodejovenscientistas.wordpress.com/
77
eletrônicos apenas um computador apresentava funcionamento que já estava limitado e as
mesas e cadeiras não ocupavam o espaço de maneira funcional.
Apesar de todas as limitações, o espaço tinha o potencial suficiente que precisávamos
para as nossas atividades. Para Kaplún (1987), precursor da Educomunicação, é possível ter
resultados surpreendentes com recursos pobres e materiais modestos se trabalharmos com
criatividade.
A ideia da AJN foi apresentada de sala em sala para todos da escola, que abriga em
média 130 alunos. Ao falar para todos, solicitei que os que tivessem interessados
comparecessem no turno oposto das atividades para fazer a inscrição. Inicialmente tivemos 16
inscrições, mas a maior parte delas foi feita em conversa anterior com jovens da comunidade
que eu já conhecia. A passagem de sala em sala nas escolas rendeu três inscrições. Em uma
reunião no turno oposto à escola, expliquei as atividades e entreguei a eles os Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido (para a assinatura dos responsáveis) e os Termos de
Assentimento. Dos 16 inscritos iniciais, oito iniciaram as atividades na AJN.
Os oito jovens que iniciaram as atividades tinham entre 14 e 17 anos. Eram cinco
meninas e três meninos. O grupo era diverso em relação à escolaridade: quatro deles ainda
estavam no Ensino Fundamental II – dois no 7º ano e dois no 9º ano – e os outros quatro estavam
no I Ano do Ensino Médio9.
Sendo uma das características de uma agência de notícias a regularidade de produção
(AGUIAR, 2015), sugeri um fluxo de trabalho que foi aceito pelos estudantes e pela escola. As
atividades aconteceriam às segundas-feiras à noite, nas quais todos nós estaríamos reunidos, e
nas terças e quartas nos três turnos – manhã, tarde e noite. Os jovens que estivessem no ensino
fundamental e estudassem pela manhã, compareceriam às tardes e noites. Já os que estivessem
no ensino médio e estudassem pela tarde, compareceriam às manhãs e noites.
No plano de atividades da AJN estavam: organização do espaço, oficinas de jornalismo,
fotografia e vídeo e desafios de produção após as oficinas. Também reuniões de pauta, sorteios
de editor e subeditor da semana, rodas de leitura, jogos de perguntas e respostas, sessão cinema
com discussão e apresentações dos produtos produzidos.
Todo o plano de atividades foi elaborado tendo a Educomunicação como eixo teórico-
prático principal. O intuito foi o de criar um ecossistema comunicativo, isto é, um espaço
9 Uma descrição ainda mais detalhada destes sujeitos da pesquisa é feita no Capítulo 6, tópico 7.1.
78
dialógico levando em conta as potencialidades dos meios de comunicação e suas tecnologias.
No decorrer das atividades, os jovens expressavam suas visões sobre as questões de água e
esgoto vividas pela comunidade, e através da construção dos produtos de comunicação,
refletiam sobre os problemas com outra perspectiva crítica, relacionando esses saberes com o
conhecimento científico apurado sobre o assunto (SOARES, 2011; KAPLÚN, 1987).
Além disso, exercitavam o processo de desenvolvimento das ideias diante das
informações colhidas. Em face das dificuldades individuais e coletivas que surgiam, era
necessário readaptar e rearticular as atividades para opções mais adequadas para cada situação.
Isso incluiu ajudar na superação de sentimentos de inferioridade e recuperação da confiança na
capacidade criativa (FREIRE, 1983; KAPLÚN, 1987).
Dos oito estudantes iniciantes na AJN, apenas três finalizaram o período de três meses
de atividades. Desses três estudantes, apenas dois apresentaram o resultado dos seus trabalhos
na escola da comunidade, numa reunião de professores, gestão e membros do povoado.
5.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Antes da sua realização, este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da Ufba, através da Plataforma Brasil, na qual foram descritos os seus
objetivos, métodos, bem como possíveis riscos e resultados esperados. A pesquisa recebeu
aprovação através do Parecer Consubstanciado número 3.005.463.
Tanto para as entrevistas informais quanto para as entrevistas semiestruturadas, os
participantes da pesquisa foram convidados a assinar um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). No caso de serem menores, eles deveriam assinar o Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o TCLE deveria ser assinado pelos seus
responsáveis, conforme preconizam os aspectos éticos da realização de uma pesquisa. Para a
participação na AJN, as assinaturas ocorreram após uma conversa com cada um dos
participantes e seus responsáveis, sobre os objetivos do trabalho a ser realizado, a importância
para o povoado de São Francisco e para a Educação e o direito de deixar de fazer parte dele a
qualquer tempo.
O TCLE descrevia detalhadamente os riscos da pesquisa e fornecia aos participantes
contatos importantes os quais poderiam manter caso se sentissem prejudicados ao participar do
trabalho. O sigilo também foi assegurado, e para garantir tal direito, os nomes utilizados no
decorrer da escrita desta tese foram modificados. Uma vez que o trabalho envolveria a produção
79
de materiais de comunicação educativos, tendo os jovens como protagonistas, todos assinaram
um Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz, concordando com a divulgação dos
materiais produzidos para fins educativos.
80
6 CAPÍTULO 5 - PRIMEIRA INSTÂNCIA DE ANÁLISE: UMA INTERPRETAÇÃO
ETNOMETODOLÓGICA DOS PROCESSOS CONSTRUÍDOS SOBRE ÁGUA NA
COMUNIDADE
“Um dos saberes primeiros, indispensáveis (...) é o saber da história como possibilidade e não como determinação. (...) Meu papel no
mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. (...) Constatando, nos
tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de saberes do que simplesmente a de nos
adaptar a ela.”
Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia (2018, p. 74-5)
Este capítulo apresenta um contexto histórico da comunidade de São Francisco do
Paraguaçu, em Cachoeira, Bahia, Brasil. Detalha os aspectos relacionados à água que
perpassam essa comunidade e depois, utilizando princípios etnometodológicos, procede com
uma análise dos fatos sociais relacionados à presença da água tratada e do esgotamento sanitário
no povoado.
Os fatos sociais são realizações práticas, o que significa que não são estáveis, mas são
construídos pela contínua atividade dos Seres Humanos. As crenças e os conhecimentos de
senso comum constituem a base de todo comportamento socialmente organizado, por isso a
etnometodologia dá atenção a como os membros de um determinado grupo tomam as suas
decisões em questões cotidianas (COULON, 1995).
Os princípios da etnometodologia que aqui atravessam – prática/realização, indicialidade,
reflexividade, relatabilidade e noção de membro – são trazidos num diálogo com Garfinkel
(2018) e Coulon (1995; 2017; 2020). No entanto, o objetivo não é classificar ações dentro
desses conceitos, mas que essas ideias sejam base para, através da análise de algumas atividades
cotidianas relacionadas com a água, tentar compreender os fenômenos sociais incorporados nos
discursos e ações dos comunitários.
6.1 SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU: UM LUGAR NO MUNDO, BRASIL
PROFUNDO
Para entender o povoado de São Francisco do Paraguaçu, precisamos primeiro
compreender o local onde ele está inserido. Se pensarmos que a comunidade faz parte de um
grande guarda-chuva no estado da Bahia, podemos explicá-lo assim: São Francisco do
Paraguaçu está dentro do Vale do Iguape, uma região da zona rural do município de Cachoeira.
Cachoeira, por sua vez, é uma das cidades pertencentes à região do Recôncavo Baiano.
81
Na Bahia, o território do Recôncavo constitui um dos principais locais de herança africana
na sociedade brasileira e compreende 20 municípios. As últimas estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dão conta de uma população de cerca de meio
milhão de pessoas (554.969 habitantes). Se caracteriza como um território urbanizado, embora
pelo menos 30% dos seus habitantes ocupem as áreas rurais. O seu povoamento se dá na época
do Brasil Colônia, a partir da segunda metade do século XVI, quando a região se tornou
próspera pela produção de açúcar e outras atividades ligadas ao comércio (BAHIA, 2015).
No período colonial, o açúcar e o tabaco eram as maiores riquezas do Recôncavo. Além
de ser exportado para Portugal, o fumo funcionava como meio de troca na compra de
escravizados africanos. Outros itens também eram produzidos: farinha de mandioca, variedade
de cereais, legumes e frutas etc. O Rio Paraguaçu, que banha a região, era utilizado como rota
comercial e levava, em saveiros, das vilas e cidades do Recôncavo, parte dos produtos para
exportação (BAHIA, 2015). Enquanto esses produtos eram exportados, cada vez mais
escravizados eram importados para atuar como mão de obra. O tráfico foi responsável pela
chegada de inúmeros negros bantos vindos do Congo, Zaire, Cabinda, Angola, Moçambique e
Zanzibar (INCRA, 2007):
Nestes portos, terra adentro, a produção local de açúcar, cachaça, fumo e farinha era
embarcada em saveiros para Salvador para serem exportadas. Outros produtos, como
azeite de dendê, piaçava, peixe seco, cerâmicos, bem como os vindos do sertão – bois,
carne seca, couro e salitre – eram enviados à capital e a outras vilas e povoações da
Baía de Todos os Santos, para consumo local. No retorno de Salvador os saveiros,
tangidos pela viração da tarde, traziam escravos africanos e produtos importados da
metrópole, como tecidos, ferramentas, pólvora, bacalhau, azeite e vinho, que nessas
vilas parte trocava o saveiro pelo lombo do burro para chegar ao sertão e às barrancas
do São Francisco (AZEVEDO, 2011, p. 207).
Os engenhos de açúcar tiveram especial importância na ocupação territorial do
Recôncavo. Esses espaços “compunham uma unidade produtiva e residencial (...) em função da
produção açucareira que, desde o século XVI, envolvia o Brasil, muito especialmente, o
Recôncavo da Bahia, na rede comercial do Atlântico” (ETCHEVARNE; FERNANDES, 2011,
p. 42). Os engenhos eram espaços edificados e abertos, onde ficavam a casa grande – que era a
residência do senhor de engenho – uma capela e a senzala – o local de moradia dos escravizados,
que ficavam confinados. Em outro lado ficava o espaço da transformação da cana em açúcar.
O primeiro município do Recôncavo que veio à existência foi Cachoeira – mais
especificamente no final do século XVII – e recebeu esse nome por causa das quedas d’água
82
do Rio Paraguaçu. Antes habitada por indígenas Tupinambás, a intensificação do seu
povoamento tem a ver com a sua localização estratégica no último ponto navegável do Rio
Paraguaçu, ligando o Sertão e a cidade de Salvador. Essa condição fazia com que a cidade se
tornasse cenário de interiorização de produtos importantes, incluindo o café (BAHIA, 2015;
GARCIA, 2018).
No século XIX, os habitantes da cidade tiveram intensa participação nas lutas pela
independência da Bahia contra o domínio português. Por essa razão, recebeu o título de “Cidade
Heroica”, e chegou a se tornar a cidade mais populosa e rica do Brasil. Em reconhecimento
histórico pelos feitos da região, desde 2009 a sede do governo estadual é transferida para
Cachoeira todo dia 25 de junho, como parte das comemorações da Independência da Bahia
(BAHIA, 2015; SOUZA, 2017).
A partir do século XX, a economia cachoeirense começou a entrar em decadência com
a queda da indústria açucareira e da produção de fumo, além da substituição da hidrovia por
estradas de rodagem. Essa fase de transformações no transporte levou ao fechamento de muitas
fábricas e ao enfraquecimento de lavouras que antes tinham muito destaque. Atualmente, o
destaque de Cachoeira na produção industrial do Recôncavo Baiano é na fabricação de papel,
artigos de couro e no aterro de resíduos sólidos. Na cidade também está localizado o Centro de
Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
e a Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, que representa a geração de energia do Recôncavo,
chegando a uma potência de 162.000 kW (BAHIA; 2015; GARCIA, 2018; SOUZA, 2017).
O Vale do Iguape é um território que está na zona rural do município de Cachoeira.
Trata-se de uma região cercada por morros onde um braço de mar da Baía de Todos os Santos
(BTS) mistura suas águas com a do Rio Paraguaçu, formando um lagamar10, a pequena Baía do
Iguape (Figura 1). Inicialmente habitada por indígenas Maracás, a região do Iguape é ocupada
mais tarde com a fundação dos engenhos de açúcar que utilizavam a mão de obra escravizada.
No final do século XVIII já existiam quase 280 engenhos ao longo da foz do Rio Paraguaçu e
em todo o circuito do Recôncavo (INCRA, 2007; SOUZA, 2017).
É o Iguape uma légua de terra em quadro rodeada toda de montes, na qual se acham
levantados catorze engenhos, tanto de água, como cavalos, os quais botam os seus
matos, e baldios para diversos ramos, pela extensão de duas, três ou mais léguas. Além
dos engenhos há mais naquele admirável torrão, todo de massapés legítimos,
diferentes fazendas desobrigadas dos engenhos e é tal sua natureza para a produção
10 Lagamar: região de uma baía em que se misturam águas doce e salgada. No caso do lagamar do Iguape, as águas
da Baía de Todos os Santos misturam-se às águas do Rio Paraguaçu.
83
da cana (...) que apesar da antigüidade daquelas propriedades, e da irregularidade da
sua cultura, são os senhores de engenho de Iguape os mais opulentos, e seu açúcar
reputado sempre pelo melhor de todo o Recôncavo (VILHENA, 1969 apud INCRA,
2007).
Figura 1 – Baía do Iguape vista de São Francisco do Paraguaçu
Foto: Arquivo Pessoal
O Vale do Iguape era considerado como sendo a região especial do açúcar. A estrutura
fundiária do local estava concentrada nas mãos dos grandes senhores de engenho. Neste ápice
da produção agrícola, eram comuns as fugas e rebeliões dos escravizados. A partir dessas fugas,
formaram-se os primeiros quilombos do local. No período pós-abolição, os engenhos do Vale
do Iguape se transformaram em comunidades rurais dos que saíram da escravização e que, agora
libertos, criavam alternativas de sobrevivência (AZEVEDO, 2011; CRUZ, 2014).
Hoje, o Vale do Iguape é formado por comunidades circunvizinhas, “territórios
historicamente ocupados por populações negras, descendentes de cativeiro” (CRUZ, 2014, p.
26). Esses pequenos povoados, que mantêm entre si uma rede de relações socioculturais e
econômicas, são: Engenho da Ponte, Engenho Novo, Engenho da Cruz, Engenho da Praia,
Engenho da Vitória, Calolé, Caimbongo Velho, Caimbongo Novo, Caonge, Calembá, Cabonha,
Campinas, Brejo, Dendê, Imbiara, Desterro, Tombo, Opalma, Santiago do Iguape e São
84
Francisco do Paraguaçu (Figura 2). Com exceção de cinco11 dessas comunidades, todas as
outras possuem a certificação de autodeclaração quilombola fornecida pela Fundação Cultural
Palmares (FCP)12.
Figura 2 – Mapa do Vale do Iguape com destaque para suas comunidades quilombolas
Fonte: Faria, 2006
11 Caimbongo Novo, Cabonha, Campinas, Desterro e Opalma não possuem certificação de autodeclaração
quilombola. 12 A Fundação Cultural Palmares é uma instituição de caráter federal que emite certidão e inscrição em cadastro
geral para reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e dar acesso aos programas sociais do governo. O
processo é iniciado a partir de uma autodeclaração da própria comunidade definindo-se como quilombola.
85
São Francisco do Paraguaçu é uma dessas comunidades quilombolas do Vale do Iguape.
Recebeu a sua certidão junto à FCP em 2005 como Quilombo São Francisco do Paraguaçu -
Boqueirão. Sua história está diretamente ligada à construção do Convento Santo Antônio do
Paraguaçu13 (Figuras 3, 4 e 5) a partir de 1658. A área onde hoje está construído o Convento
pertencia ao proprietário do Engenho Velho, uma das primeiras fazendas de exportação de
açúcar. Ele a doou aos padres franciscanos para a obra. Muitos escravizados foram trazidos para
essa construção, e devido ao trabalho árduo14, muitos fugiram, dando origem ao quilombo do
Boqueirão (GARCIA, 2018; INCRA, 2007).
Com o término da escravização, os quilombolas se deslocaram para a parte baixa da Vila
de São Francisco em busca de novas formas de sobrevivência, intensificando o povoamento do
local (Figuras 6 e 7). No século XX, São Francisco do Paraguaçu chegou a aquecer a economia
do Vale do Iguape: funcionava no povoado uma fábrica de azeite, uma olaria e uma barragem.
Na olaria do local fabricavam-se telhas e tijolos. A fábrica começou de forma artesanal, fazendo
tijolos comuns (chamados maciços), e depois de comprar máquinas passou a industrializar o
processo. Saveiros levavam os tijolos e as telhas fabricadas para o bairro de Água de Meninos,
em Salvador. Lá, posteriormente, eram distribuídos para os armazéns. Isso acontecia duas vezes
por semana, pois a produção era grande (GARCIA, 2021).
Já na fábrica do azeite eram produzidas cerca de 20 latas de azeite por semana nos meses
de novembro, dezembro e janeiro, chamados de “meses da safra”. A barragem, por sua vez,
fornecia água tanto para a olaria quanto para a fábrica do azeite. Quando utilizada pelas fábricas,
era constantemente limpa e as pessoas tomavam banho. Tinha cerca de três metros de
profundidade. Atualmente, olaria, fábrica de azeite e barragem não funcionam mais (GARCIA,
2021).
13 O Convento Santo Antônio do Paraguaçu foi o segundo convento construído pelos franciscanos no Brasil e o
primeiro a ser estabelecido no país após a independência de Santo Antônio do Brasil da custódia de Portugal,
através do decreto assinado pelo Ministro Geral da Ordem Franciscana, Padre João de Nápoles. Essa independência
permitiu aos franciscanos do Brasil alcançar maior independência no traçado das suas igrejas. Mais tarde, um
hospital foi construído fora dos seus muros e prestava assistência médica aos frades e aos que o procuravam no
período da epidemia de febre amarela que se alastrou por todo o Recôncavo Baiano em meados do século XIX. O
imóvel foi tombado em 1941 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e embora atraia
visitantes de várias partes do mundo até hoje, padece em ruínas. 14 Foi construído no Convento o Salão do Mar, uma prisão dos escravizados, calabouço onde aqueles homens
permaneciam acorrentados quando a maré subia, até que morriam afogados. No subsolo do Convento também
foram enterrados portugueses que eram donos de usinas localizadas em regiões próximas.
87
Figuras 6 e 7 – Praça Antônio Sapucaia em São Francisco do Paraguaçu
6 7
Foto: Arquivo Pessoal
Nos dias de hoje, quase 600 famílias fazem parte da comunidade. O território de São
Francisco também abrange uma grande área de roças de cultivo nos arredores do seu perímetro
urbano. Os comunitários estão organizados na Associação dos Remanescentes de Quilombo
São Francisco do Paraguaçu – Boqueirão (Figura 8) e fazem parte do Conselho Quilombola do
Vale e da Bacia do Iguape. O impasse entre quilombolas e fazendeiros é um fato bem presente
até hoje: ambos os lados pleiteiam o direito a partes da terra na região argumentando processos
históricos (FIOCRUZ, 2014; SANTANA, 2017).
As principais atividades produtivas do povoado estão diretamente ligadas à agricultura de
subsistência, à pequena criação de gado, à pesca, à coleta de mariscos, à criação de ostras, à
produção de farinha e ao extrativismo vegetal, mais especificamente da piaçava, da estopa, do
licuri e do dendê. As manifestações culturais são vivas e fortes em São Francisco: capoeira,
samba de roda, maculelê, congo, comemorações católicas, carnaval de caretas e a presença de
benzedeiras, rezadeiras e parteiras, grandes conhecedoras da região (Figuras 9 e 10) (GARCIA,
2018).
88
Figura 8 – Sede da Associação dos Remanescentes de Quilombo São Francisco do Paraguaçu –
Boqueirão
Foto: Arquivo Pessoal
Figuras 9 e 10 – Maculelê e Capoeira na Escola Estadual de São Francisco do Paraguaçu
9 10
Foto: Arquivo Pessoal
São três as instituições educacionais da vila: a Escola Maria da Hora, de Ensino
Fundamental I, a Escola Estadual de Primeiro Grau São Francisco do Paraguaçu, de Ensino
Fundamental II e a Creche Tia Angélica. Em frente à Praça Antônio Sapucaia, a principal do
povoado, está a Unidade de Saúde da Família Antônio Estevão, vinculada à Secretaria
89
Municipal de Saúde de Cachoeira. No antigo espaço da biblioteca, também nas imediações da
praça principal, passou a funcionar em 2020 o espaço educativo Ooteca (Figura 11), com livros,
jogos de tabuleiro, vídeos, utensílios de papelaria, fantoches e outros materiais de uso livre,
sobretudo para os jovens da comunidade.
Figura 11 – Ooteca, espaço educativo em São Francisco do Paraguaçu
Foto: Rejâne Lira, 2021
6.1.1 A água em São Francisco do Paraguaçu
São Francisco do Paraguaçu está na Baía15 do Iguape. Essa pequena Baía é formada pelo
Rio Paraguaçu quando encontra o mar da Baía de Todos os Santos (BTS). Com mais de 600
km de extensão, o Rio Paraguaçu é o maior rio genuinamente baiano e seu nome de origem tupi
significa “água grande”, “mar grande” ou “grande rio”. Geograficamente, une três territórios: a
Chapada Diamantina, a Caatinga e o Recôncavo Baiano, e nas suas áreas vivem mais de um
milhão de pessoas (GARCIA, 2018; GENZ, 2006).
Todo o entorno do lagamar do Iguape (Figura 12) é composto por um ecossistema de
manguezal considerado o mais preservado da BTS, apresentando grande potencial pesqueiro e
boa condição de navegabilidade. Por essa razão, em agosto de 2000 foi criada a Reserva
Extrativista Marinha da Baía do Iguape, de caráter federal (Resex), com o intuito de conservar
15 As baías são caracterizadas por serem porções de mar rodeadas por terra, geralmente possuindo uma boca
estreita. No caso da Baía do Iguape, o oceano e o Rio Paraguaçu se encontram formando o que é caracterizado
como lagamar.
90
o ecossistema estuarino considerado de grande valor ecológico, cultural e econômico para as
comunidades de pescadores que habitam seu entorno (FARIA, 2006; ZAGATTO, 2013).
Figura 12 – Mapa da Lagamar do Iguape que destaca a grande área de manguezal
Fonte: Base Cartográfica do Estado da Bahia, 2009
Na década de 80, foi construída no Rio Paraguaçu a barragem de Pedra do Cavalo, que
em 2005 também passou a ser uma usina hidrelétrica. Hoje a barragem faz com que o rio
responda pelo abastecimento de água do Recôncavo Baiano e de grande parte da Região
Metropolitana de Salvador e Feira de Santana, além de fornecer cerca de 10% da eletricidade
de todo o estado. Além disso, a construção da barragem serviu para dar vazão às cheias que
assolavam as cidades de Cachoeira e São Félix, que ficam às margens do Rio. O Paraguaçu
também assume funções de abastecimento público e doméstico através de poços artesianos e
adutoras instaladas ao longo da bacia do Paraguaçu, abastecimento industrial, barramento,
criação de animais, agricultura, pesca, lazer, esportes náuticos e turismo.
O Rio Paraguaçu apresenta grande riqueza histórica, cultura e natural. As
comunidades tradicionais que vivem e dependem deste rio são diversas. Ao longo do
seu curso encontramos as marisqueiras, lavadeiras, rezadeiras, benzedeiras,
pescadores artesanais, povos remanescentes de quilombos, indígenas, extrativistas,
91
agricultores familiares, artesãos de olarias, povos de terreiro, garimpeiros e ciganos
com seus saberes, fazeres, sabores e sistemas organizacionais (GARCIA, 2018, p. 12).
No entanto, os problemas enfrentados pelo Rio Paraguaçu são de várias ordens. Uma
avaliação sobre os efeitos da construção da barragem de Pedra do Cavalo no curso do rio dá
conta de que houve alteração no ciclo hidrológico e impactos socioambientais nos municípios
da Resex, sobretudo por causa da retenção de água, impedindo seu fluxo natural, e
consequentemente a mudança das condições de salinidade do estuário, causando a morte dos
mariscos (GENZ, 2006; INCRA, 2007).
Além disso, em virtude do pasto que invadiu o curso das águas, a erosão tomou conta
do leito. Nas partes em que a mata ciliar desapareceu, que já é em cerca de 70% da extensão do
rio, várias afluentes morreram. Também, populações que dependem do Paraguaçu queixam-se
do esgotamento doméstico, industrial e hospitalar desprezado nele, do assoreamento pela
exploração desordenada de argila, pesca com bomba, fauna predatória, entre outras coisas
(GARCIA, 2018).
A distribuição da água para as casas dos moradores da comunidade de São Francisco do
Paraguaçu vem do Rio Catu, um dos rios da bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu. Na bacia do
Paraguaçu, o índice de distribuição de água é de pelo menos 80% dos municípios. Dentro desse
universo, 92% das áreas de zona urbana possuem distribuição organizada de água por sistemas
de abastecimento, enquanto apenas 45% das áreas de zona rural possuem. Em relação a sistemas
organizados de esgotamento sanitário, esse índice cai para 29%. Dentro disso, 59% da
população urbana que faz parte da bacia do Paraguaçu é beneficiada com o processo de
saneamento, enquanto apenas 5% da população rural têm esse serviço (JESUS; MORAIS,
2016).
No povoado de São Francisco, o processo é gerido pela Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A. (Embasa), que atende 82 dos 86 municípios que estão dentro dos limites da
bacia. No povoado existe uma Estação de Tratamento de Água (ETA), um laboratório
bacteriológico, uma Estação Elevatória e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A
Embasa usa as águas do Rio Catu (Figura 13) para abastecer também o povoado de Santiago
do Iguape, comunidade vizinha. Em 2010 foi construído um poço artesiano no mesmo local de
captação do Catu. Desde a sua construção, a captação da água é dividida entre a água do rio e
a água proveniente do poço (Figura 14). Geralmente essa variação ocorre em tempos de pouca
chuva e baixa vazão do Catu.
92
Figura 13 – Barragem do Rio Catu em São Francisco do Paraguaçu
Foto: Camile Lima, 2019
Figura 14 – Poço artesiano em São Francisco do Paraguaçu
Foto: Camile Lima, 2019
93
O último Relatório Anual de Informação ao Consumidor publicado pela Embasa sobre
a distribuição da água em São Francisco é de 2019. Faz menção ao processo de tratamento e
descreve o sistema de captação da água do rio e a existência do poço artesiano:
O tratamento da água que chega em sua casa é realizado numa estação de tratamento
de água do tipo compacta de pressão, em que as fases são: coagulação, floculação,
decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A vazão de captação, no rio Catu, é
de 3,1 litros por segundo (L/s) e a capacidade nominal de tratamento do sistema é de
5,8 L/s. Funcionando em regime de operação de 12 horas por dia, a estação produz
em média 132 m³/dia. Contudo, a localidade também é abastecida sazonalmente por
um poço tubular proveniente do manancial subterrâneo localizado nas imediações da
estação de tratamento (EMBASA, 2019, p. 1).
O abastecimento precisa ser organizado para alcançar a parte alta e a parte baixa do
povoado. Automaticamente a bomba é ligada às 6 horas da manhã para distribuir a água. Às 9
horas, fecha-se a distribuição da parte baixa para que, através do bombeamento, a água consiga
ter mais pressão para chegar na parte alta da comunidade. Depois de algumas horas, quando a
parte alta consegue ser completamente abastecida, a distribuição para a parte baixa é novamente
aberta. O uso da água distribuída já alcança quase todos do povoado, embora ainda existam
famílias na localidade que não possuem acesso a ela pois vivem em extrema pobreza.
Infelizmente, não existe um panorama claro de quantas são essas pessoas, mas elas estão
presentes.
Mesmo usando a água tratada e distribuída pela Embasa para as suas atividades
cotidianas, muitos da comunidade utilizam fontes de água existentes no povoado para certas
atividades. Alguns ainda pegam água para beber, tomar banho e até lavar roupas nesses locais
que são muitos e estão espalhados por todo o território de São Francisco. São pelo menos 15:
Fonte do Catônio, Fonte da Custódia, Fonte do Mota, Fonte do Love, Fonte da Bica, Fonte de
Cute ou das Pedrinhas, Fonte de Babal, Fonte de Nemisa ou do Urubu, Fonte do Capim, Fonte
de Candinha, Fonte da Levada, Fonte da Laje, Fonte do Minador, Fonte das Flores, Fonte dos
Frades e o Poço Santo Antônio16 (Figuras 15 e 16).
16 Por conta da crescente urbanização do povoado, as Fontes das Flores, das Pedrinhas, da Levada, do Minador,
dos Frades e de Nemisa não existem mais. O Poço Santo Antônio é histórico por pertencer ao Convento Santo
Antônio do Paraguaçu, mas está fechado. As Fontes da Laje, de Cute (localizada em uma das roças do povoado),
de Babal e do Catônio (no perímetro urbano de São Francisco) são usadas por alguns moradores para beber água.
A Fonte da Bica é usada para banho e a da Custódia para lavar roupa e também para beber água.
94
Figuras 15 e 16 – Da esquerda para a direita, Fonte do Love e Fonte do Catônio em São Francisco do
Paraguaçu
Fotos: Mariana Sebastião, 2019
No caso do esgotamento sanitário, a comunidade não é uniforme. Pelo menos 70%17
dela utiliza as fossas negras18 no quintal das casas para o descarte do esgoto. Dentro desta
porcentagem também estão as casas que direcionam os tubos do esgotamento para o rio
Paraguaçu ou para a rua. Os outros 30% fazem uso do serviço de esgotamento sanitário da
Embasa19. Neste caso, o tratamento é feito na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) (Figura
17) por processo biológico envolvendo bactérias que digerem a matéria orgânica utilizando
tanto gás carbônico, quanto oxigênio. Após tratado, o esgoto segue para o extravasor numa
região de mangue dentro do povoado (EMBASA, 2021).
17 Esta porcentagem foi obtida com base nas entrevistas informais com funcionários da Embasa, moradores do
local, que asseguraram que a empresa cobre 30% do esgotamento do povoado. Ainda que não existam relatórios
disponibilizados pela Embasa ao público que confirmem esse dado, achamos coerente tomar esse número em
consideração. 18 As fossas negras consistem em buracos cavados no chão revestidos de tijolos espaçados que recebem o esgoto
da casa. O espaçamento dos tijolos é para que a parte líquida do esgoto seja absorvida pelo solo. 19 Nesses casos, a rede interna de esgoto da casa é ligada à rede coletora de esgoto disponibilizado na rua. Dali, o
esgoto segue por tubulações maiores até as estações elevatórias. Nessas estações, as bombas conduzem o esgoto
de pontos mais baixos para pontos mais elevados, fazendo com que ele chegue à estação de tratamento.
95
Figura 17 – Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Embasa em São Francisco do Paraguaçu.
Foto: Darlan Santos, 2019
6.2. OS FATOS SOCIAIS SOBRE A ÁGUA EM SÃO FRANCISCO: COMPREENDENDO
OS DISCURSOS E AS AÇÕES DOS COMUNITÁRIOS
Compreender os processos construídos sobre água pela comunidade de São Francisco
do Paraguaçu tem a ver com observar como os seus modos de agir mostram a maneira que esses
comunitários interpretam a sua realidade social. É possível fazer isso através da observação dos
etnométodos usados para compreender sua realidade. Um olhar etnometodológico ajudará a
demarcar quais são esses métodos locais que os permitem viver juntos, mesmo que de maneira
conflitiva, e tornam observáveis as estruturas sociais das atividades de todos os dias (COULON,
1995; GARFINKEL, 2018).
Os procedimentos aqui utilizados para o levantamento dessas informações foram a
observação participante e as entrevistas informais (GIL, 2018; MANZINI, 1991; 2004;). Por
ser uma observação ativa, com participação na vida da comunidade durante as minhas idas ao
povoado, a observação participante me permitiu traçar o panorama acima descrito sobre a Vila
de São Francisco. Foi fundamental para me ajudar a compreender diversos dos elementos que
foram tratados nas conversas informais com os entrevistados, que foram realizadas justamente
durante esse período de observação.
96
As entrevistas informais foram realizadas em diferentes momentos da minha
observação. Embora as conversas estivessem mais voltadas às temáticas do uso e distribuição
da água e do esgotamento sanitário na comunidade, outras questões eram suscitadas à medida
que o diálogo acontecia. O que caracteriza uma entrevista não estruturada, de acordo com
Manzini (1991), é o fato de existir uma pergunta ou um diálogo inicial que serve de estímulo e
as informações emergem das associações e experiências do entrevistado. Segundo Gil (2018),
o que a difere de uma simples conversação é o fato de ter como objetivo básico a coleta de
dados.
Com isso em mente, preparei tópicos que gostaria de abordar com cada um dos
entrevistados, estimulei inicialmente esse diálogo para cada tema e deixei que eles
respondessem. As minhas intervenções eram no real sentido de interlocução, nos momentos em
que eu precisava entender melhor alguma colocação, aumentar a quantidade de informações do
que estava sendo dito ou quando havia um distanciamento muito grande da proposta inicial.
Com alguns deles foi necessário ter mais de uma conversa, em diferentes momentos da
pesquisa.
Foram cinco os entrevistados nesta fase. Jurandir, 43 anos, é líder comunitário em São
Francisco do Paraguaçu. Filho da comunidade, trabalha como vigilante na Escola Estadual de
Primeiro Grau do povoado. Foi uma das pessoas que mais se mobilizou contra o
estabelecimento do esgotamento sanitário da Embasa na vila porque, segundo ele, a taxa de
mais 80% em cima do valor da conta de água é abusiva para a situação dos moradores. A
dispensação do esgoto em sua casa é por fossa. Embora seja contra a política da Embasa, é
amigo dos funcionários da empresa que moram na comunidade, elogia o trabalho deles e não
transfere para eles a responsabilidade do que considera como injustiça.
João tem 64 anos e está morando fixamente em são Francisco há cerca de 20 anos. Sua
mãe e suas tias nasceram em São Francisco do Paraguaçu. Por essa razão, desde criança, João
passava a metade do ano na Vila e a outra metade em Candeias, onde nasceu. Mais tarde se
mudou para Salvador. Quando jovem, ele e irmãos vinham para São Francisco nos meses de
férias do ano letivo (dezembro, janeiro e fevereiro) e das férias do meio do ano (final de maio,
junho todo e uma parte de julho). Por isso, considera que viveu metade da vida no povoado. Já
teve casa nas imediações do Rio Catu e comercializava mariscos para Salvador. Hoje algumas
tias e irmãos seus também fixaram residência na comunidade.
Afonso tem 68 anos e é filho de São Francisco. Historiador autodidata, grande
conhecedor da história antiga e atual do povoado, escreveu e publicou um livro sobre o povoado
97
com apoio de uma professora de história. Trabalhou de 2009 a 2017 como guia do Convento
Santo Antônio do Paraguaçu, e permanece como voluntário, sempre questionando o IPHAN e
a Prefeitura de Cachoeira sobre a falta de ações frente à desvalorização do patrimônio. Por não
confiar no tratamento da água feito pela Embasa, juntou-se a alguns moradores, cimentou e fez
outros ajustes na parte superior da nascente do Catônio para ficar mais fácil pegar água para
beber, já que confia que a água da fonte seja pura.
Augusto é um dos funcionários da Embasa e morador de São Francisco. Tem 42 anos,
nasceu em Salvador, mas mudou-se para São Francisco aos 12 anos de idade, onde mora sua
família. Tem 12 anos de serviço na prestadora. Divide a responsabilidade do tratamento e
distribuição da água na vila com Florêncio, 33 anos, também morador da comunidade desde a
infância, lar da sua família. Trabalha há 10 anos na empresa. As casas de Augusto e Florêncio
ficam na parte alta da comunidade e a dispensação do esgoto é feita por fossa.
Embora no Relatório Anual de Informação ao Consumidor da Embasa a informação seja
de que a estação funciona em regime de operação por 12 horas ao dia, Augusto e Florêncio
assumem deixar mais tempo para que toda a comunidade seja suficientemente abastecida, tendo
em vista a oscilação geográfica do território. Em épocas específicas, como festejos juninos ou
natalinos, os dois funcionários precisam se revezar de modo que a estação tenha atenção por 24
horas e a comunidade não fique desabastecida. Ambos se queixam que, mesmo com todo
esforço dispensado no serviço, muitos da população franciscana, por não confiarem na Embasa,
demonstram essa desconfiança também neles como funcionários.
Depois de revisitar todas as conversas, alguns pontos em comum vieram à tona e foram
fundamentais para compreender o quadro complexo dos processos que essa comunidade
constrói sobre o uso e a distribuição da água. Esse quadro envolve conflitos entre os
comunitários, questões históricas e a criação de novas práticas frente ao cenário que se
apresenta. Analisaremos as principais.
6.2.1 “Problemática” - Sobre a distribuição da água
A primeira questão real com que convive a comunidade é relacionada à distribuição da
água nos diferentes pontos da comunidade. A parte baixa possui mais facilidade de receber a
captação, mas a parte alta tem dificuldade. Isso se dá porque o reservatório existente não
consegue jogar para as partes altas, sendo necessário fazer o bombeamento. Jurandir consegue
identificar que há uma questão da geografia de São Francisco do Paraguaçu que dificulta que o
98
processo de distribuição seja uniforme, e afirma que os funcionários da Embasa, moradores da
comunidade, conhecem a realidade do povoado e trabalham para que todos consigam receber a
captação.
É. Problemática. (...) Ela não tem o abastecimento adequado como muitas pessoas
no verão ficam agora sem ter água, quem mora nas ruas pra cima. (Afonso)
Sim, sim, sim. Existe essa descompensação. Então a gente aqui embaixo tem mais
facilidade de água. E quem mora no quilombo, ali em cima, eles têm uma certa
dificuldade, então é por isso que eles [funcionários da embasa que moram na
comunidade] também têm essa noção e eles já conhecem a realidade de São
Francisco, então é por isso que eles fecham determinado tempo pro pessoal ser
reabastecido. (Jurandir)
Quando a ETA do povoado foi instalada, as ligações eram feitas para cerca de 50 casas.
Hoje, as ligações são mais de 700, um aumento de 1.300% da demanda. O problema atual seria
resolvido com a instalação de uma bomba de maior vazão, ou com a construção de um
reservatório elevado para que o bombeamento não seja necessário (informação verbal)20.
Enquanto isso não acontece, na busca pela continuidade das suas rotinas, os moradores da
comunidade, principalmente das partes altas, precisam adaptar as suas práticas cotidianas todos
os anos com a chegada do verão, pois nessa época a falta de água tem sido uma constante. São
as incongruências chamadas por Garfinkel (2018, p. 47) de “anomalias”, que “provocam uma
busca pela normalização”. Numa sociedade, elas incomodam e chamam atenção enquanto
existem, “porque não podemos tomá-las como dadas, como fazemos com as coisas que ocorrem
como esperamos que ocorram”.
Sobre o motivo para a escassez da água nos meses de verão, os entrevistados se
posicionaram:
Desmatamento. Falta de chuva, verão muito forte e desmatamento em cima da
nascente. Desmataram muito a nossa nascente aí... Aí o poço foi quem aguentou a
gente. Só ficou com falta d’água as partes altas da cidade. Mesmo assim a gente
trabalhava até mais tarde e conseguia jogar um pouco pra cada um. (Augusto)
Se o verão for muito forte, a gente já tá em período de racionamento de água aqui.
Esse verão que passou aí e foi muito forte, o Rio do Catu ficou fininho. (...) Porque o
pessoal não tá cuidando do rio lá em cima. Tá desmatando pra plantar mandioca (...)
o pessoal que desmata pra plantar roça... tem que ter alguém pra vir, de algum órgão,
instruir. Pra preservar o espaço, pra ser de 30 metros até chegar o rio, pra preservar
as nascentes, porque um rio não se caracteriza de uma nascente só. Tem outros
pequenos que vão se formando e dando volume ao rio até chegar aqui. Então tem que
20 Informação obtida na segunda conversa informal com Augusto e Florêncio, funcionários da Embasa, em abril
de 2019. Ver Apêndice C.
99
vir alguém de algum órgão público pra vir, pra ensinar ao pessoal pra mostrar como
é que faz, o manejo. (...) E também tem uma coisa: as pessoas estão tirando areia do
rio. Quando você passa ali na ponte do Rio Catu você vê que o pessoal está tirando
areia para comercializar, para construção civil, por exemplo. (João)
Augusto e João acreditam que o desmatamento da nascente do Rio Catu seja um dos
principais problemas causadores da falta de água, visto que o rio perde o seu volume e força.
João acredita que esse desmatamento tem sido feito para o plantio, e que, associado a isso, areia
do rio tem sido tirada para comércio. Há uma percepção de que a própria população local esteja
prejudicando o ambiente natural de que necessita para sua sobrevivência.
Embora essas conversas tenham sido feitas com pessoas diferentes, em dias e locais
diferentes da comunidade, a apreensão das circunstâncias dos entrevistados sobre a constante
falta de água tinha um ponto em comum: o desmatamento das nascentes. Tal fato já é um
indicativo de que essas práticas já são “conhecidas-em-comum” da coletividade, um corpo de
conhecimentos compartilhado pelos entrevistados, que quando falam sobre o assunto, trazem à
tona as estruturas sociais popularmente habituais (GARFINKEL, 2018).
A falta de água gera aqui novos aspectos na conjuntura social da vila. É necessário, neste
caso, que nestas épocas do ano, mesmo tendo o poço artesiano como segunda opção para
captação e distribuição, os funcionários da Embasa, moradores da comunidade, adotem um
regime extra de trabalho que tente minimizar os prejuízos que recaem sobre o lugarejo e que
vêm de duas forças opostas: a não preservação do ambiente natural e a instalação insuficiente
do sistema de abastecimento da empresa prestadora de serviço frente a demanda atual da
comunidade por água.
6.2.2 “Tem o quê, essa água?” - Sobre o tratamento e o consumo da água distribuída e o
consumo da água de uma das nascentes
As questões se desenrolam ainda sobre a qualidade da água que chega nas casas. A
discussão é sobre a cor da água, que vez por outra não chega cristalina, e sim amarelada (Figura
18). Além disso, moradores relatam que ao colocar a água para ferver na panela de alumínio,
há a formação de uma marca, o que leva a inúmeras desconfianças:
A gente pega uma panela, bota água dentro, ela marca, a cinta fica toda preta por
dentro. Não tem como você tirar aquela cinta preta como se fosse água sanitária.
Tem o quê, essa água? (...) Aí procuramos saber dos funcionários “é porque é do
100
poço, não sei o quê...”. A do Catu, diretamente do rio, não fica, mas quando é do
poço, fica. Ou seja, ela tem uma acidez, né? Pra ter aquilo, ela tem uma acidez.
Agora, reclamar com quem? Falar com alguém, até nem gosta. (Afonso)
Agora, ultimamente, chegou uma água aí dos poços que eles cavaram lá que tá
escurecendo o alumínio de casa, né? As panelas, fazendo aquela cinta. Tem panelas
que se eu mostrar a vocês, não se sabe o produto que tem aquela água. Ele diz que é
de boa qualidade, a empresa diz. Mas em si você vê ela chegar, se ela marca o
alumínio é porque ela não tem boa qualidade. (Afonso)
Aqui as pessoas acreditam que a água não recebe o tratamento devido. Porque tem
dia que a água chega escura, clara. Ela muda de cor. (...) Tem dia que ela tá cristalina
e tem dia... Hoje tá mais ou menos. Não tá escura, mas também não tá cristalina.(...)
A água do Catu é boa. Agora, o tratamento que ela recebe aqui, aí eu não sei avaliar.
Mas eu acho que não deve estar sendo correto, porque tem dias que a água fica desse
jeito... (João)
De acordo com Garfinkel (2018), há expressões ou palavras que só podemos entender o
sentido se soubermos algo sobre as circunstâncias do enunciado ou do curso anterior da
conversação. É o conhecimento dessas circunstâncias que nos permite atribuir-lhes um sentido
preciso. Nesta situação, o emprego da palavra “cinta” só faz sentido quando entendemos o
contexto da conversa. Tradicionalmente sabemos que cinta é uma faixa usada para rodear
alguma parte do corpo, geralmente a região da cintura. Transpondo a ideia para a panela, a ideia
de Afonso foi explicar que a marca que a água fervente deixa no recipiente o circunda como
um todo.
Ter a marca na panela e mostrar a água amarelada é ter a garantia de que a circunstância
que se está vivendo é real. São fatos que descrevem e constituem a situação. Afonso consegue
diferenciar que quando a água distribuída vem do rio, a cinta não se forma na panela com água
fervente, e refere o problema a uma acidez que a água do poço possa ter. Já João chama atenção
para a cor da água, que oscila com o passar dos dias: há dias em que está cristalina e dias em
que está mais escura. Acredita que a água do Catu é boa, mas não tem certeza se recebe o
tratamento adequado para o consumo. Ele disse não confiar na água para beber:
Eu não bebo a água daqui. Mesmo com filtro (...) eu compro água mineral. (...) A
água dessa cor. Como é que eu vou pegar uma água dessa aqui pra beber mesmo
filtrando? Sei lá o que é que tem aqui... E tem dias que é mais escuro do que isso.
Aqui dá pra você tomar banho, sem problema nenhum. (João)
101
Figura 18 – Água colhida por João da torneira da sua casa durante a conversa.
Foto: Mariana Sebastião, 2019
Sobre o processo de tratamento da água, a Embasa descreve:
Na estação, a água bruta recebe uma substância coagulante (sulfato de alumínio ou
férrico), e um alcalinizante (cal virgem ou hidratada) para modificar o seu pH e
favorecer as reações químicas das etapas seguintes do tratamento. Desta forma, é
possível transformar as impurezas em suspensão fina. Em seguida, a água é agitada
em câmaras chamadas flocuradores, que reúnem as partículas suspensas em flocos,
para que possam ser removidas nos decantadores e nos filtros. Nos flocos estão as
algas, bactérias, vírus e microorganismos da água bruta. Por isso a água, mesmo já
filtrada, precisa receber uma dosagem de cloro para se tornar potável, sem o risco de
transmitir doenças. A desinfecção com cloro e seus compostos é muito utilizada no
tratamento de água para eliminar as bactérias que são invisíveis a olho nu. O cloro
deve estar presente em toda a rede de abastecimento para que a água chegue com
qualidade até o consumidor. Por fim, a água recebe uma pequena dose de flúor para
proteger a dentição, e de cal, para equilibrar o seu ph e, assim, proteger as tubulações
da rede distribuidora contra a corrosão. Quando captada em mananciais
subterrâneos, por meio de poços, a água necessita apenas da etapa de desinfecção
antes de ser distribuída (grifo nosso) (EMBASA, 2021).
Ocorre que o Rio Catu é de águas amareladas, uma propriedade relacionada à presença
de materiais orgânicos e outras características de sua composição. Para entender melhor a
situação específica de São Francisco, perguntei aos funcionários sobre o processo de tratamento
da água. Busquei entender se o fato de a água vir de um rio amarelado fazia com que eles
102
precisassem modificar a quantidade ou o material usado no tratamento no intuito de torná-la
cristalina, e se o mesmo acontecia com a água do poço.
Não, isso tudo é a secretaria de saúde, já vem determinado pela secretaria de saúde,
e sempre eles estão aqui em cima da gente. Mês retrasado (...) eles estiveram aí. E
pega de surpresa que é pra ver como é que tá sendo feito. (...) E aí, no caso da
distribuição pelo poço, cloro. Porque a água do poço é cristalina, não precisa de
sulfato, e ela já contém flúor, na água já contém o flúor. Aí a gente já não precisa
botar ácido. Aí a população, a maior parte aqui não tá querendo usar água do poço
porque diz que é salobra. Imagine só! (Augusto)
Mesmo com o tratamento, a população desconfia da qualidade da água do poço. Fazem
referência a ela como “salobra”. Para eles trata-se de uma água que tem “gosto salgado e que
por isso é de má qualidade e não serve para beber” (Afonso). O Glossário da Revista de Gestão
Costeira Integrada (2007) define água salobra como
Água com salinidade intermédia entre a água salgada (marinha) e a água doce, isto é,
com salinidade entre 5% e 30%. É, portanto, uma mistura de água doce com água
salgada. Ocorre em ambientes diversificados, mas principalmente em estuários e
lagunas, embora alguns mares sejam, também, constituídos por água salobra
(REVISTA DE GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA, 2007).
Falei também com Augusto e Florêncio sobre os rumores de que a água do poço estava
criando uma cinta na panela de alumínio e tentei entender a razão:
A do poço. A gente acredita que, por causa da profundidade dela, ela deve conter
algum salzinho. Logo no início, quando a gente funcionou ele, ela era salobra mesmo.
Mas agora não. Nossa bióloga pega água daqui pra levar pra filha dela. A bióloga
de Santo Antônio de Jesus. (...) ela disse que das localidades que Santo Antônio toma
conta a melhor água é a nossa. (...) Minha esposa mesmo, só quer água do poço.
Quando a gente vai trabalhar com o rio ela pergunta logo “é rio?”, eu digo “não, é
poço”, aí ela enche as vasilhas dela tudo. (Augusto)
Augusto relata que o “fenômeno” da cinta na panela pode estar ligado ao fato de a água
do poço ter algum tipo de sal mineral relacionado à sua profundidade. Explica também que no
início do processo de funcionamento do poço, dava para perceber diferenciação no gosto da
água, mas que isso já não acontece mais. Para fortalecer seu argumento de que a água é bem
tratada, fala sobre a preferência da bióloga da Embasa pela água do poço artesiano de São
Francisco, que segundo ela tem a melhor água da região.
103
Desconfiado, Afonso prefere levar para casa a água da Fonte do Catônio para beber. Ele
diz que a água não tem “indícios de sujeira” que estejam além das impurezas da natureza.
Explicou que junto com outros moradores do povoado, restaurou a parte de cima da fonte para
que ficasse mais fácil para pegar água e ainda pretende fazer melhorias no local:
Eu fiz um trabalho nela agora, com a comunidade, em janeiro. Nós limpamos o poço
e o minador não vem assim nessa direção, vem de baixo para cima. (...) então o
minador vem de baixo para cima, sem indício nenhum de sujeira, ele vem de baixo do
manguezal. (...) então não tem como ter sujeira. Mas toda água tem sua impureza da
natureza mesmo. Agora que ela é imprópria para o consumo humano, é uma água de
boa qualidade. Agora, cabe a alguém que quiser fazer análise dela, fazer... Tá à
disposição da comunidade (Afonso).
Para entender por que Afonso possui tanta segurança na água da Fonte do Catônio, é
preciso levar em conta o seu ponto de vista sobre o que ela significa, pois, de acordo com
Coulon (1995, p. 15), é através dos sentidos que “atribuem aos objetos, às situações, aos
símbolos que os cercam, que os atores constroem seu mundo social”. Essa confiança tem pelo
menos dois motivos. Um está ligado ao uso dessa água durante toda a sua juventude pelos seus
familiares e pessoas que moravam ao redor: “Eu confio porque eu vivi parte da minha
adolescência do lado dela, eu morava ali ao lado, e o pessoal sempre bebeu essa água sem
problema nenhum”. Essa convicção é fortalecida quando ele fala que o frade franciscano
Antônio de Santa Maria Jaboatão (1695-1779), no período em que esteve no Convento Santo
Antônio do Paraguaçu, no século XIX, escreveu sobre a Fonte no seu Novo Orbe Seráfico
Brasílico ou Chronica dos Frades Menores da Província do Brasil:
Naõ tem agoa dentro do muro, mais que a grossa, e saloba de hum poço no mais bayxo
do mesmo muro, e junto ao Rio, e Cais da Praya, entre o Convento, e porto do
desembarque. A que se hade beber, se vai buscar fora, a huã pequena fonte, mas boa,
e clara, que brota entre pedras, e arêas ao pé do monte em pouca distancia do muro do
Convento, e porta, que chamaõ do carro. Já alguã vez se trouxe esta agoa a caza, e
tanque da cozinha por bicas de páos, sem muito trabalho; e grande conveniência pela
curiosidade, e zelo de certo Prelado; o que se devia fazer perpetuo sem custo excessivo
por arcos de tijolo, e canos do mesmo, pois a distancia naõ he muita, e a altura pouca.
Hoje apenas vem alguã, e pouco limpa por hum rêgo, que se fez pela terra, e só serve
para o cultivo da horta por onde passa, e sabe fora outra vez; que antes disto era
necessario carrega-la ás costas do poço bayxo, como a carregaõ todos os dias para a
cozinha, e gasto da caza; e muitas vezes a vaõ buscar taõbem para beber á fonte de
fora os Irmaõs Noviços (JABOATAM, 1859, p. 541-542).
Embora Jaboatão não cite o nome da nascente do Catônio na sua descrição, Afonso
chegou à conclusão de que se trata dela após as suas pesquisas na comunidade como historiador
104
autodidata. Para ele, o uso da água da fonte é seguro por um contexto histórico e o tempo não
é uma condição para mudar isso:
Ele fala que é uma fonte pequena, de água limpa, que nasce ao pé do monte, entre
pedras e areia, e de boa qualidade. Então eles usaram essa fonte com água potável
para beber de 1649 até 1900, eles beberam água daquela fonte (Afonso).
Outro motivo que aumenta a sua segurança na qualidade da água da nascente tem relação
com o significado religioso dela. A história é a que se segue: uma família morava nas
imediações e a dona da casa lavava roupas na fonte. Colocou as roupas para secar ao sol no
chão gramado, e ocorreu de os bois pisarem nas roupas que já estavam lavadas. O fato causou
aborrecimento na dona da casa, que resolveu colocar espinhos ao redor da fonte para que os
bois não chegassem à nascente para matar a sede. Depois de dois ou três dias que isso aconteceu,
a fonte secou. Chamaram, então, algumas rezadeiras que rezaram vários benditos, mas a água
só voltou a brotar depois que rezaram o Bendito de Nossa Senhora de Santana (informação
verbal).21
De acordo com Afonso, essa história é passada de geração em geração por pessoas da
comunidade. Ele também afirma ter vivido uma situação de milagre na família e atribui à água
da fonte: “e tem também o milagre que eu presenciei, que você pode ver meu irmão ali, que tem
a marca de três tumores aqui que foi curado na Fonte do Catônio”.
Diante de tudo isso, embora Afonso diga que a água do Catônio está à disposição para
quem quiser testar a sua qualidade, os próprios comunitários já pediram aos trabalhadores da
Embasa que o fizessem. Isso foi feito por Augusto no laboratório bacteriológico da Embasa em
São Francisco, mas em caráter não oficial. O resultado, segundo Augusto, revelou a presença
de coliformes fecais, e isso não foi bem recebido:
É que nem a gente aqui, a gente tem o tratamento da água, só que agora o pessoal
encontrou uma água no “Catone” (grifo nosso) e eles estão dizendo que está melhor
do que a água da Embasa. Só que a água do “Catone” não tem tratamento. Alguns
dos moradores me chamaram pra fazer uma coleta, porque aqui tem um laboratório
bacteriológico. (...) Me chamaram eu fui e peguei. Fui com um morador, fiz toda a
coleta, trouxe pro laboratório, deixei lá durante 24 horas, como eu faço com as
minhas, e aí deu contaminação. Deu coliforme fecal. Aí eu cheguei e mostrei ao
morador. Só que aí eles disseram que eu tava mentindo que era pra poder eles
continuarem usando a água da Embasa. Aí eu disse “não, se vocês quiserem
21 Informação obtida na primeira conversa informal com Afonso, em abril de 2019. Ver Apêndice C.
105
continuar usando a água de lá, normal, vocês usam, agora, eu estou falando a vocês
que está contaminada”. (Augusto)
Como eu disse a Seu Afonso mesmo (...) Ele mesmo foi um dos que veio dizer que era
mentira minha, que era pra poder o pessoal usar a de cá. Eu disse a ele “Seu Afonso,
o senhor trabalhou na Embasa? Seu irmão trabalhou, o senhor sabe! Quando não
tem uma desinfecção da água, ela é contaminada”. O meu poço é 247 metros de
fundura, se eu não desinfectar ela, ela vai dar contaminação. (...) Não tô empatando
ninguém de pegar água pra beber lá não, só tô avisando a vocês que ela tá
contaminada. (Augusto)
Aí eu também passei a dizer “sei não, fiz análise nenhuma não...” (Augusto)
Questões importantes são levantadas aqui. O entendimento sobre uma água potável é
diferente nos casos de Afonso e Augusto. Para o primeiro, a água potável é aquela que não
mostra a olho nu nenhuma impureza, e a Fonte do Catônio lhe mostra isso. Augusto, por outro
lado, tem conhecimento do que constitui as condições de potabilidade da água, e para ele,
qualquer água que não passe pelo processo de tratamento é considerada contaminada.
É por isso que Augusto permanece firme em sua posição de que a água da fonte é
contaminada, argumentando com a descrição de como constantemente realiza o processo de
análise: “fiz toda a coleta, trouxe pro laboratório, deixei lá durante 24 horas, como eu faço
com as minhas”. A descrição, neste caso, não constitui um simples relato: “significa tornar a
minha ação compreensível, descrevendo-a, pois eu mostro o seu sentido pela revelação a outrem
dos processos pelos quais eu a relato” (COULON, 1995, p. 46). É uma maneira de afirmar-se
como conhecedor do assunto, ratificada por questionamentos ao outro, como “Seu Afonso, o
senhor trabalhou na Embasa? Seu irmão trabalhou, o senhor sabe! Quando não tem uma
desinfecção da água, ela é contaminada”.
A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as condições de
potabilidade da água, enfatiza como potável aquela “água que atenda ao padrão de potabilidade
estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde”. O estabelecimento da portaria é
de que deve haver ausência total de coliformes em 100mL. Por outro lado, há que se levar em
consideração, também, o padrão organoléptico, ou seja, as características que provocam
estímulos sensoriais e afetam a aceitação da água para consumo humano, mesmo que não
necessariamente impliquem riscos à saúde.
De acordo com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA [20?, p. 48],
alterações na aparência da água podem ser causadas pela presença de resíduos naturais, mas
mesmo que algumas substâncias não ofereçam riscos à saúde, “a coloração provoca a rejeição
106
da água pelo consumidor, que pode passar a usar uma fonte de água pouco confiável”. Aqui
relembramos a cinta da água do poço e o amarelado da água do Rio Catu.
Outro aspecto para ser levado em conta é o fato de Augusto, mesmo sendo morador de
São Francisco desde criança, mencionar que somente “agora o pessoal encontrou uma água no
“Catone””. Essa expressão carrega considerável importância. É possível que ele só tenha
percebido a presença da fonte depois da sua maior popularização, quando houve uma espécie
de revitalização do espaço feita por Afonso e outros moradores. Visto que “para os membros
da sociedade, o conhecimento de senso comum dos fatos da vida social é institucionalizado
como conhecimento do mundo real” (GARFINKEL apud COULON, 1995, p. 41), o fato de
parecer não conhecer os significados histórico e religioso que envolvem a nascente pode ser,
na verdade, uma característica comum de grande parte dos moradores do povoado nos dias de
hoje.
Essas questões, juntas, continuam a sustentar os conflitos no lugarejo. Por um lado,
Afonso acredita que dizer que a água da nascente do Catônio é contaminada constitui uma
estratégia da Embasa por medo de uma concorrência. Por outro, Florêncio, como funcionário,
se expressa malcontente pelo julgamento dos comunitários:
Porque eles perderam a concorrência agora no verão, com a nossa fonte, a embasa
perdeu a concorrência do volume de água vendido, (...) eles botaram a conversa de
que a fonte tava condenada, que não sei de quê, então pra não estar criando problema
a gente fica, é melhor viver como amigo do que como inimigo. (Afonso)
Chamam a gente de puxa-saco, chamam a gente de ladrão, que a gente tá roubando
pra empresa, mas não é. (Florêncio)
6.2.3 “O tratamento lá é natural” - sobre o esgotamento sanitário
Dentro desse universo, o esgotamento sanitário é uma das questões mais problemáticas
da comunidade. A presença da ETE na entrada da São Francisco estimula muitos comentários
e grande parte deles tem a ver com o “cartão postal indesejável” que a estação se tornou. Os
moradores apelidaram a ETE de “penicão”. Desde a chegada do penicão na vila, há cerca de 10
anos, já existem queixas da população sobre desconfortos causados pela possível contaminação
da água do Rio Paraguaçu pelo esgoto tratado despejado do pinicão. Além disso, alguns dizem
não confiar que exista, de fato, tratamento na ETE da Embasa
107
Nesse verão agora eu fiquei todo encaroçado. (...) E meu irmão foi essa semana para
o hospital de São Félix se queixando com coceira no corpo, aí falaram que era água,
não sei dizer se foi. (...) Não me envolvo porque os rapazes ficam cheio de coisa com
a gente e já falaram. (Afonso)
Só que a gente sabe que a Embasa é uma empresa na qual ela faz aquilo ali, uma
propaganda enganosa. Vamos dizer que seja uma propaganda enganosa. Que era
para existir um tratamento ali. Só que até onde eu sei, não tem tratamento nenhum.
Ela vai só para lá e dali ela é lançada no mangue (grifo nosso), que eu acho errado,
que é logo aqui atrás. (Jurandir)
O contexto vivido por Afonso e pelos outros comunitários, do verão escasso de água, da
insatisfação com as características físicas dela e do descontentamento com a instalação da ETE
da Embasa, fez com que ele direcionasse, sem desvios, o fato de um possível episódio alérgico
(ficar encaroçado), e a ida do irmão ao hospital, ao problema com a água. Justifica o que explica
Coulon (2020, p. 6), quando diz que “na vida cotidiana, cada uma de nossas atividades é uma
oportunidade para demonstrar que elas estão racionalmente ordenadas, inteligíveis, justificáveis
e em contexto”.
Jurandir primeiro afirma que o fato de o esgoto ir para o penicão e depois ir para o
extravasor numa área de mangue do Rio Paraguaçu não configura um tratamento. Na sua
opinião foi feito apenas um desvio do esgoto, que antes ia direto para o quintal das casas, mas
agora vai para a ETE. No entanto, depois de dizer que não existe o tratamento, Jurandir afirma
que na verdade não conhece como é o processo de tratamento que acontece no penicão, e que
isso pode ser uma ignorância da sua parte.
Eu não sei se é uma ignorância da nossa parte, que eu não sei o que é o tratamento
que eles estão dizendo. Pode ser uma ignorância da minha parte, por não conhecer.
Eu não sei até que ponto é um tratamento. (Jurandir)
Sobre o tratamento do esgoto coletado, a Embasa explica:
A Embasa adota, atualmente, cerca de 25 técnicas de tratamento biológico por
oxidação aeróbia e/ou anaeróbia. Quase todas elas combinam a utilização de bactérias
que digerem a matéria orgânica utilizando gás carbônico (CO2/oxidação anaeróbia),
com bactérias que fazem esta digestão utilizando oxigênio (O2/oxidação aeróbia).
Depois que toda a matéria orgânica do esgoto é consumida, o efluente segue para
outro ambiente, onde bactérias e vírus são eliminados. Existem três maneiras de
desinfetar o efluente tratado: bactérias, radiação ultravioleta ou cloro (EMBASA,
2021).
Florêncio explica como é o processo adotado na ETE de São Francisco do Paraguaçu:
108
O tratamento lá é natural. A gente não bota nenhuma química. (...) O resíduo das
fezes fica todo no fundo da ETE, e aí sobe a água limpa, aí o tempo mesmo vai fazendo
tipo a filtração, aí vai passando de uma bacia para outra até a decantação que chega
ao rio. (...) Leva meses. Muitas vezes aqui leva até ano. Porque ela cai numa bacia,
aí vai indo, dia após dia, até chegar o lugar pra desembocar em outra bacia lá de
saturamento, até chegar a extravasão que vai pro rio. Mas a gente não tem o tempo
determinado. Leva meses, muitas vezes aqui leva até ano. A estação de tratamento da
gente aqui só joga pro rio, extravasa, quando é período de chuva (Florêncio).
Para Augusto e Florêncio, essa resistência ao esgotamento que foi feito pela Embasa se
dá principalmente por causa da taxa22 que incide na conta de água quando o esgoto da casa é
ligado à rede coletora de esgoto na via pública. Os dois trabalhadores acreditam que, por essa
razão, muitos populares usam como desculpa o argumento de que o esgoto tratado no penicão
e despejado no rio está causando coceira. No entanto, para os trabalhadores essa não é uma
justificativa válida, já que o direcionamento de esgoto para o rio é uma prática existente na
comunidade há muito tempo, anterior à instalação da Embasa, e que nessa época não existiam
queixas:
A resistência foi para a cobrança da taxa de esgoto, que é 80% da conta de água. A
resistência foi essa. Ainda é até hoje. (...) A população diz que fica se coçando, tanto
que denunciaram a Embasa ao Inema. O Inema veio aqui, olhou tudo aí e disse que
o tratamento está correto. (Augusto)
Eles falam que esse esgoto, quando joga lá, fica coçando. Todo tempo que a gente
mora aqui em São Francisco o esgoto daqui, de lá de cima de onde a gente mora, é
jogado no rio. Desde antes, a gente não era nem nascido ainda. Cai aí vai pro rio,
lá em cima também vai pro rio. Então porque agora que a Embasa implantou a ETE
aqui, com tratamento, joga lá para depois jogar no rio, e a lama tá coçando? (...)
Todo tempo, toda vida caiu no rio. (...) Sem tratamento. Aí agora que implantou a
rede de esgoto da Embasa, agora que veio a lama coçar? Não entendo isso!
(Florêncio)
De acordo com Garfinkel (2018, p. 68), como todos os outros objetos sociais, a
informação é constituída cooperativamente em e por meio de processos sociais, nos quais as
regras constitutivas dela são “orientadas antes que se possa dizer que ela existe ou “significa””.
Isso sugere que os fatos e elementos que constituem tais informações, antes mesmo que sejam
ditas, já existem implícitos naquelas rotinas inscritas de determinado grupo social. “A interação
“diz” o código”, explica Coulon (2020, p. 11). Augusto e Florêncio inferiram, em suas opiniões,
22 A taxa corresponde a 80% do valor total da água consumida. No caso do estado da Bahia, o valor da tarifa foi
determinado pela lei estadual nº. 7.307/98 e regulamentada pelo decreto estadual nº. 7.765/00. Segundo a empresa,
o objetivo da tarifa é cobrir custos referentes à coleta, transporte e tratamento do esgoto doméstico e manutenção
da rede coletora de esgoto.
109
que o problema estava no pagamento da taxa considerada abusiva pelos comunitários.
Chegaram a essa conclusão depois de associar as práticas que a comunidade já tinha em relação
ao esgoto – o despejo despreocupado no rio – com os discursos que surgiram na época da
instalação da ETE da Embasa – a acusação de que despejo estava causando problemas à
população.
Quando Florêncio diz que “joga lá pra depois jogar no rio”, ele se refere ao
direcionamento do esgoto primeiro para a ETE para depois ser extravasado no rio. Quando
esse processo de esgotamento chegou no povoado, ele e Augusto foram os responsáveis pela
instalação da rede nas casas. Afirmaram que o processo foi feito em apenas 30% das casas por
uma questão de estrutura de alcance da Embasa. Na área da casa de ambos os funcionários ainda
não existe a cobertura do esgotamento pela ETE, portanto suas casas possuem fossas negras.
Apesar de possuírem tanta proximidade com toda a problemática, os dois trabalhadores ainda
não foram submetidos à experiência do pagamento da tarifa de esgoto.
Jurandir lembra que na época em que surgiu a proposta da empresa para a instalação,
houve a criação de um conselho para discutir o processo. Nas diversas reuniões que se seguiram,
disse manter seu posicionamento contrário à implantação porque queria entender melhor se
existia algum tipo de lei ou subsídio que, pelas condições financeiras da população, fosse
assegurado o pagamento de tarifas mais baixas na conta. Relembra que estimulou seus amigos
comunitários a não assinar nenhum tipo de contrato e reiterou que não concordava em pagar
por algo que já era feito por muito tempo em sua comunidade: o despejo do esgoto no rio sem
tratamento.
Por que eu fui contra? Porque eles fizeram aquilo ali como coleta de esgoto (...) eu
não concordava com aquilo ali. Porque nós tínhamos os nossos tubos que caía pro
manguezal, tá errado, só que a gente não tinha outra forma. Já que eles vieram com
uma forma filosófica de dizer que isso não ia mais acontecer, pra jogar pra um certo
tipo de tratamento, porque que, de lá, é jogado em grosso num local só? (Jurandir)
É pra onde foi sempre. Sempre foi assim... (Jurandir)
Se você consumir aqui 50 reais de água, você vai pagar mais 80% de esgoto, e dá
quase 100 reais. Eu acho um absurdo em termos da nossa realidade financeira. Só
que aí é o seguinte, eu tive analisando que depois que, vamos supor, vai aquele
processo pra lá pro penicão, eles automaticamente jogam no mar, jogam no rio
(Jurandir)
Jurandir insiste que não existe tratamento na ETE, e que não é justo pagar um preço tão
alto por uma propaganda enganosa. Além disso, reconhece que a prática de jogar a tubulação
110
de esgoto no manguezal é errada, mas “sempre foi assim” e “não tinha outra forma”, Florêncio
também traz a atenção de que, mesmo antes de serem nascidos, o esgoto “Cai aí vai pro rio, lá
em cima também vai pro rio”. É uma prática largamente empregada pela comunidade de
geração em geração, aceita como parte das suas rotinas. Sobre ter a noção de membro de
determinado grupo, Coulon (1995, p. 48) explica: “uma vez ligados à coletividade, os membros
não têm necessidade de se interrogar sobre o que fazem (...) aceitam as rotinas implícitas nas
práticas sociais”.
Coulon (1995) afirma que são as perguntas de um alheio aos contratos implícitos daquele
grupo que causam estranhamento. Para Jurandir, já que seria necessário modificar uma prática
instituída, a empresa precisava oferecer uma forma que fosse real e mais barata: “Já que eles
vieram com uma forma filosófica de dizer que isso não ia mais acontecer, pra jogar pra um
certo tipo de tratamento, porque que, de lá, é jogado em grosso num local só?”.
6.2.4 Ponderando as discussões apresentadas
De acordo com Garfinkel (2018), não há conflito sem ordem. Quando se estabelece uma
competição, em qualquer que seja o lugar, significa que os atores ali inseridos estão enxergando
um objeto em comum, e enxergar a mesma coisa exige cooperação, uma espécie de contrato
implícito. Isso quer dizer que os conflitos só existem quando os dois lados dão o mesmo
significado para aquilo pelo qual competem.
Existem dois discursos opostos em São Francisco do Paraguaçu acerca do mesmo objeto
– a água. Os conterrâneos são colocados em tensão por questões que em parte são propriamente
suas – uma espécie de desvalorização do processo histórico e cultural comunitário – e em parte
são trazidas por elementos externos – como os impasses sobre o esgotamento sanitário que
põem os conterrâneos em conflito entre uma visão empresarial e uma visão comunitária. Ocorre
que, indiscutivelmente, os dois lados desejam água em qualidade e quantidade para o seu
povoado, assim como uma maneira apropriada de gerenciar o descarte do seu esgoto produzido.
No entanto, não se ouve mais falar em discussões que procurem estabelecer interlocução
entre ambos os interesses. Estas discussões seriam fundamentais para estudar maneiras de
cultivar as tão necessárias boas práticas de gerenciamento do esgoto e o tratamento de água das
nascentes sem renunciar às riquezas culturais envolvidas nesses locais e do valor que eles
representam numa comunidade com raízes históricas tão fortes.
111
Se essas questões estão tão imbricadas nas ações cotidianas dos moradores de São
Francisco do Paraguaçu, pressupõe-se que a juventude desta comunidade esteja vivenciando
tais tensões. Como as interpretam? Será que se veem responsáveis e participantes desta
construção? O próximo capítulo relatará as concepções da juventude franciscana sobre a
temática.
112
7 CAPÍTULO 6 - A JUVENTUDE FRANCISCANA E AS SUAS PERCEPÇÕES SOBRE
A ÁGUA NA COMUNIDADE
“(...) a consciência reflexiva deve ser estimulada: conseguir que o educando reflita sobre sua própria realidade. Quando o
homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções.”
Paulo Freire – Educação e Mudança (2018, p.38)
Este capítulo faz uma análise das percepções que oito jovens da comunidade de São
Francisco do Paraguaçu têm sobre a água na sua comunidade. Continua seguindo a lógica de
uma análise etnometodológica, que, baseada num olhar atento das “maneiras de fazer triviais
que os atores sociais comuns mobilizam para realizar suas ações frequentes”, tenta compreender
como os indivíduos dão sentido às suas ações (COULON, 2017, p. 21).
Os adolescentes entrevistados tinham entre 14 e 17 anos e tinham previamente aceitado
participar da Agência Jovem de Notícias. Por essa razão, já tinham apresentado os TCLE
assinados pelos responsáveis. Essas entrevistas foram realizadas na semana anterior ao início
da atividade.
As entrevistas foram semiestruturadas (MANZINI, 1991; 2004), aquelas que embora
possuam um roteiro pré-elaborado, dão ao pesquisador a possibilidade de fazer outras perguntas
na tentativa de compreender a informação que está sendo dada. O roteiro foi produzido com 31
perguntas, divididas em cinco tópicos: 1) questões pessoais (nome completo, idade, série), 2)
Água em casa; 3) Distribuição de água na comunidade; 4) Rio Paraguaçu e 5) Saneamento
básico. As perguntas foram pensadas depois de um tempo de observação participante na
comunidade, essencial para identificar as questões de maior relevância. Além disso, a estrutura
textual foi elaborada seguindo as sugestões de adequação de roteiro propostas por Manzini
(2004), no intuito de evitar ambiguidades, múltiplas finalidades nas perguntas ou impactos
emocionais.
O roteiro foi repassado para um grupo de professores de ciências da educação básica,
que fizeram contribuições no processo de validação/reestruturação das perguntas e somente
após esse processo as entrevistas foram feitas. Foram registradas por gravador de voz de celular
e posteriormente transcritas. Por ser uma análise de cunho qualitativo, que transcreve algumas
expressões dos jovens, e por possuir um número relativamente pequeno de entrevistados, opto
por não utilizar porcentagem na descrição dos dados.
113
7.1 CONHECENDO OS JOVENS ENTREVISTADOS
O grupo dos entrevistados era diverso, tendo cada um as suas características particulares
(Quadro 1). Calebe23 aos 16 anos ainda cursa o 7º ano do Ensino Fundamental. O estudante foi
acompanhado quando criança pelos serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) depois
que as professoras da creche onde estudava perceberam um comportamento mais nervoso e um
atraso cognitivo em relação às outras crianças. Hoje, apesar de ainda necessitar do
acompanhamento, as dificuldades de transporte na região fazem com que a sua família tenha
mais dificuldades em manter a assiduidade do tratamento. Entre épocas mais tranquilo e outras
mais agitado, Calebe segue a sua vida e os seus estudos em Paraguaçu e é tratado como todos
os outros alunos na escola.
Com 16 anos, Clarissa está no I ano do Ensino Médio24 (EM). Todas as manhãs, no turno
oposto à escola, é assídua cumpridora de tarefas domésticas em auxílio à sua mãe, que sai cedo
para trabalhar. Bem diferente da rotina de Damião, 15 anos, também 1º ano do EM, que
enquanto não está na escola, divide o seu tempo entre brincar no celular, assistir streaming ou
tevê e jogar bola. Mais parecida com a rotina de Damião é a de Joaquim, 16 anos, 9º ano do
Ensino Fundamental (EF), que tem “navegar na internet” e “jogar bola” como suas atividades
centrais além da escola.
Aos 17 anos e cursando o 9º ano do EF, Leide está no seu 6º mês de gestação. Por isso,
confessa que, depois do turno escolar, o que mais faz é dormir. Suas visitas à unidade de saúde
do povoado também são constantes por causa do seu pré-natal, e também costuma ajudar a
prima da mesma idade a cuidar do filho de 1 ano para que ela possa realizar os afazeres
domésticos.
Marina cursa o 1º ano do EM aos 15 anos e em casa divide o seu tempo entre os afazeres
domésticos e as redes sociais no celular. Já Noemi, apesar de não morar em São Francisco, fica
no povoado durante a semana na casa das tias, da avó ou da prima, e volta para casa, em
Cachoeira, geralmente aos finais de semana. Aos 14 anos, estuda o 7º ano do EF, ama se arrumar
e posar para fotos. Ficar no celular é a atividade preferida de Naira, 15 anos e estudante do I
ano do EM. A atividade só dá lugar ao horário da escola ou quando é necessário fazer algum
dever de casa.
23 Os nomes foram mudados. 24 Quando passam para o ensino médio, os Jovens de São Francisco do Paraguaçu passam a estudar, geralmente,
no povoado vizinho, Santiago do Iguape, onde tem uma escola com este nível de ensino.
114
Quadro 1 – Informações dos entrevistados por idade, série e dados adicionais
NOME IDADE SÉRIE INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Noemi 14 anos 7º ano EF Atraso no ciclo idade-
série.
Calebe 16 anos 7º ano EF Atraso cognitivo
reportado pela mãe.
Joaquim 16 anos 9º ano EF Atraso no ciclo idade-
série.
Leide 17 anos 9º ano EF Gestante ao 6º mês.
Atraso no ciclo idade-
série
Damião 15 anos 1º ano EM --
Marina 15 anos 1º ano EM --
Naira 15 anos 1º ano EM --
Clarissa 16 anos 1º ano EM --
Fonte: Elaboração da autora
A descrição dos jovens entrevistados fornece em parte um quadro das realidades em que
se inserem. Uma parte está em atraso no ciclo-idade série25, coisa comum no povoado. Embora
a distribuição de internet ainda não seja tão abrangente em todos os pontos da comunidade26,
as atividades que envolvem conexão são as preferidas – jogos no celular, redes sociais e
streaming. A gravidez na adolescência é uma realidade constante no povoado, e a associação
das meninas ao trabalho doméstico é uma prática normativa.
7.2 EXPRESSANDO AS PERCEPÇÕES
7.2.1 “Cheio de cloro, professora!”: sobre a água em casa e na comunidade
25 A partir de 2006, com a regulamentação do ensino fundamental de 9 anos no Brasil, os anos finais do EF (6º ao
9º ano) devem ser realizado dos 11 aos 14 anos pelos estudantes. 26 Até 2021, apenas uma empresa, com sede em Cachoeira, fazia o serviço de instalação de internet Wi-Fi na
comunidade. Em relação a dados móveis, a operadora Vivo é a única com cobertura total no povoado, ainda assim
com sinal de média a baixa qualidade. As outras operadoras só possuem sinal no porto de São Francisco do
Paraguaçu, nas proximidades do Convento Santo Antônio do Paraguaçu.
115
Com exceção de Naira (única filha), todos os outros sete jovens vivem em suas casas
com irmãos além dos seus responsáveis (pais ou padrastos). Os usos da água relatados por eles
em seus lares foram para as atividades triviais: beber, higiene pessoal e doméstica, lavagem de
roupas, lavagem de alimentos ou regar plantas. Quando questionados se consideravam que a
água que usavam nessas atividades era limpa, seis deles disseram que não:
Não, porque vem com muito cloro. (Calebe)
Eu não acho muito não, professora, porque às vezes vem parecendo leite de tão
branca, do cloro, e tá me dando alergia, tô me enchendo de caroço. (Clarissa)
Às vezes a água vem meio barrenta, aí a gente vai na fonte e pega. (Damião)
Eu acho que ela tá cheia de cloro. Porque tá com gosto de Qboa. O gosto da água é
cloro puro. (Leide)
Eu não acho totalmente limpa, porque às vezes chega um pouco barrenta. Acho que
coloca muito cloro e ela fica branca e fica com gostinho amargo. (Naira)
Não. Porque muita gente toma banho no Catu e tem várias coisas que joga lá. (Noemi)
O cloro é uma substância citada pelo menos três vezes nas explicações. Clarissa faz
associação da sua alergia com o cloro e Leide o associa ao gosto da água. Eles também notam
a diferença de quando a água vem com diferentes colorações. Damião cita que a sua família faz
uso da Fonte do Catônio para pegar água. Já Noemi acredita que o fato de as pessoas tomarem
banho no Catu – o rio em que a água é captada – e jogarem lixo lá, compromete a sua qualidade.
Eles também foram questionados sobre se fazem algum tratamento antes de beber a
água, e as respostas foram diferentes: Calebe e Clarissa colocam no filtro que têm em casa.
Leide disse que na sua casa, a água sai da torneira direto para a geladeira. Noemi disse que
“quando tá muito barrenta, vai pegar no Catônio”, e na casa de Naira, para beber, só mesmo
água da Fonte: “meu pai pega da Fonte, a gente está bebendo de lá. Diz que a água é limpa.”
De acordo com Coulon (2017), os atores sociais realizam os seus etnométodos, isto é, as
suas ações de todos os dias, depois de interpretar o mundo que lhe cerca. Essa interpretação vai
gerar as regras que vão ordenar esse mundo e serão utilizadas para tomar decisões, comunicar
e raciocinar. No caso de São Francisco do Paraguaçu, a insatisfação com a água que chega em
casa para o consumo se tornou uma realidade interpretada pelas famílias da maioria dos jovens
entrevistados. Esse fator gerou regras que estabelecem que essa água não é segura para beber e
que é preciso ir à Fonte para ter água limpa.
116
Dito de outro modo, a crença de que a água recebida em casa não é boa o bastante e o
comportamento de ir à Fonte em sua busca são fatores constituintes de uma conduta socialmente
organizada de parte da população franciscana: “devemos buscar água na nascente, pois a que
recebemos em casa não é suficientemente limpa”. Essas microssituações, que são decisões
tomadas de forma rotineira, contribuem para a criação de situações macrossociais específicas,
como neste caso em discussão (COULON, 2017).
Calebe, Leide e Joaquim citaram o Rio Catu quando foram perguntados sobre de onde
vem a água que abastece São Francisco. No entanto, Leide acrescentou que uma parte da água
vinha da Fonte da Bica, uma das nascentes da comunidade. Clarissa chegou a citar uma
conversa que tinha tido com seu pai naquela mesma semana: “Ele disse que a água que tá vindo
não é do rio, é de uma cisterna que eles estão puxando essa água”27. Naira disse acreditar que
a água venha da barragem de Pedra do Cavalo, e Noemi acha que vem da cidade de Cachoeira.
Damião citou que vinha das barragens, mas não soube dizer quais.
Também perguntei: “o que você saberia me dizer sobre o tratamento dessa água até
chegar nas casas de São Francisco?”. Joaquim, Damião e Marina disseram não saber falar a
respeito. Leide disse: “já me explicaram, mas não sei mais”. Calebe justificou dizendo: “A gente
não sabe, porque a Embasa não explica na região como é feito o tratamento da água”. Os
outros retornaram à questão do cloro ou da desconfiança com a limpeza da água:
Eu só sei que eles usam bastante cloro. (...) Pela forma que ela vem da torneira, é
muito branca, e se fosse barrenta seria porque não estava usando o cloro. (Clarissa)
Eu acho que eles têm algum tratamento, mas não é tanto assim, eles deveriam ter
mais cuidado com a água. (Naira)
O tratamento é cheio de cloro, professora! Cheio de cloro! Acho que eles botam
demais! (Noemi)
Uma das perguntas sobre esse assunto foi: “baseado na sua experiência, ou no que você
sabe, São Francisco do Paraguaçu sofre algum problema na distribuição da água pelas
casas?”. As respostas foram diversas e trouxeram pontos de vista bem diferentes:
Tem várias pessoas que vão buscar água, não tem água porque a Embasa ainda não
fez a inscrição. (Calebe)
27 Fazendo referência ao poço artesiano.
117
Às vezes demora de vir quando tem algum problema na bomba, mas eu nunca soube
que faltou água três, quatro, cinco semanas... (Clarissa)
Não, só quando queima alguma coisa na bomba. (Joaquim)
Só tem lá em cima, que às vezes sobe e às vezes não sobe. (Leide)
Às vezes tem casa que fica faltando água. (Marina)
Eu acho que não, tem vezes que falta água, mas é raro. Sempre tem água aqui. (Naira)
Tem, porque tem várias ruas que não cai água. (Noemi)
Calebe e Leide tocaram em dois pontos importantes: ele lembrou das famílias que nem
mesmo recebem a água na torneira de casa porque a rede de distribuição ainda não chega à casa
delas. Essas pessoas existem em São Francisco e residem, em sua maioria, nas áreas das roças
do povoado. Ela, por sua vez, embora seja moradora da parte baixa, trouxe a dificuldade que a
parte alta do lugarejo possui de receber a água distribuída.
Enquanto Marina foi evasiva na sua resposta, Clarissa, Joaquim e Naira disseram que a
falta de água só acontece quando há algum problema no bombeamento. Os três são moradores
em ruas da parte baixa, em que não há grandes obstáculos na chegada da água. Esses três jovens
ativaram seus próprios contextos para interpretar e responder ao questionamento, atendendo de
forma direta à pergunta, que indaga “baseado na sua experiência ou no que você sabe”. No
entanto, é possível que esses contextos sejam reinterpretados posteriormente, e o que se entende
sobre as situações pode ser reformulado mediante as interações que os indivíduos vão fazendo
com o outro para definir suas ações (GARFINKEL, 2018; COULON, 2017).
Tendo em vista a existência de muitas nascentes de água no povoado28, perguntei aos
jovens em quais locais alguém pode ir buscar água em São Francisco. A Fonte do Catônio
foi citada por todos, mas alguns deles fizeram referência a outras nascentes, como a Fonte da
Bica, a Fonte do Urubu, a Fonte das Flores e até o poço de Santo Antônio, que fica dentro do
Convento e hoje está fechado. Quase todos afirmaram confiar que a água desses locais é limpa
para beber, com a exceção de Leide e Calebe, que disseram não confiar porque os animais
fazem as necessidades nas imediações delas e as pessoas tomam banho nas nascentes.
7.2.2 “Não vejo tratamento nenhum ali”: sobre o esgotamento sanitário
Na pergunta “você saberia me dizer o que é esgotamento sanitário?”, sete jovens
responderam que não. Clarissa respondeu que “é quando alguma coisa entope e começa a subir
28 Sobre as nascentes, ver o Capítulo 5, item 5.1.1.
118
a água”, provavelmente confundindo com o processo de entupimento de algum canal de
passagem de água ou esgoto.
Nenhum dos oito jovens entrevistados têm em sua casa a ligação para a rede de esgoto
da Embasa. O esgoto das suas casas é direcionado para as fossas negras, localizadas no fundo
das casas. A água que sai das pias e do banho, por sua vez, cai diretamente num local de terra
que tenha no quintal das casas, nas áreas de manguezal ou na rua. Tudo depende da localização
da residência. Apesar disso, quando perguntado “você saberia me explicar como funciona uma
fossa?”, apenas Calebe, Clarissa e Leide souberam dizer algo:
Uma fossa a gente cava, acho que é dois metros ou três de fundura, enche de blocos e
barra tudo de cimento, aí instala a privada. (Calebe)
Eu acho que eles ligam todos os vasos, a pia e o banheiro, tudo nessa fossa. Ela deve
ter um tubo que faz com que caia tudo lá dentro porque deve ser um espaço assim, vazio,
e vai enchendo com o tempo, e a terra mesmo absorve aqueles negócios. (Clarissa)
Eu sei que é um buraco grandão que meu pai fechou de bloco e aí botou um tubo pra
dentro e fechou de cimento. (Leide)
Mesmo que as respostas não detalhem o passo a passo do funcionamento de uma fossa,
elas reproduzem de forma nítida a compreensão dos jovens sobre o assunto. Eles conseguem
descrever que é necessário cavar o chão, que existe alguma ligação que permite que os dejetos
cheguem de parte da casa à fossa e que enquanto o buraco da fossa vai enchendo, parte do que
é colocado é absorvido pela terra. Trata-se, segundo Garfinkel (2018), da relatabilidade do
mundo social, que está sempre disponível para ser descrito por qualquer pessoa. A linguagem
é utilizada como um recurso para se fabricar um mundo razoável em que seja possível viver,
em que seja possível compreender as ações e ser capaz de intercambiar com os outros que fazem
parte dele.
Em São Francisco do Paraguaçu, a ETE da Embasa também é conhecida pelos jovens
como “penicão”. Ao serem questionados sobre o que aquilo realmente era, a maioria deles
relacionou ao esgoto, embora as respostas não tenham sido uniformes:
Penicão é onde trata o esgoto. (Calebe)
O penicão é o lugar que drena o xixi e o cocô das pessoas, acho que eles passam por
um tratamento, não sei. (Clarissa)
Já vi aí, mas eu não sei o que é. (Damião)
Deve ser o tratamento de alguma coisa. (Joaquim)
119
Uma área aberta para a dengue, não vejo tratamento nenhum ali. Ia ser um lugar pra
tratar a água pra voltar pra gente. Eu não sei que tratamento vão tratar ali. (Leide)
Penicão é um bocado de lixo. Não é, pró? (Marina)
Eu ouvi falar que as fezes e xixi cai tudo pra lá, e quando a maré enche, ele enche
também, e quando a maré baixa, baixa também. (Naira)
Penicão é todas as fossas que têm na comunidade e todo o esgoto cai lá. (Noemi)
Calebe e Clarissa citaram diretamente em suas expressões o tratamento do esgoto que é
direcionado às bacias do penicão. Joaquim, embora mencione tratamento, não soube falar mais,
e Damião, embora conhecesse o local, não sabia do que se tratava. Noemi relacionou o esgoto
contido nas bacias às fossas da comunidade e Marina associou a um montante de lixo. Naira
citou que a dinâmica do local tem relação com as vazões da maré e Leide disse ser um local de
transmissão de doenças, afirmando não acreditar na existência de nenhum tipo de tratamento
na estação.
O importante a se observar é que em quase todas as respostas, os jovens associam o
penicão às mesmas coisas: montante de lixo, esgoto, fezes, xixi, doenças, tratamento. Não há
um desconhecimento profundo que os faça pensar algo totalmente contrário – por exemplo,
achar que se trata de uma fonte de água segura para consumo. Essa percepção trazida pelas suas
falas coloca em evidência sua competência como “membros-comuns” da comunidade
franciscana. Existe o domínio de uma “linguagem institucional” comum: não é necessário
explicar exatamente para que serve o penicão, apenas é preciso saber que está relacionado a
lixo, esgoto, e até perigo à saúde, e que por isso não se pode fazer qualquer uso dele. Coulon
(1995, p. 48) explica que “uma vez ligados à coletividade, os membros não têm necessidade de
se interrogar sobre o que fazem. Conhecem as regras implícitas de seus comportamentos e
aceitam as rotinas inscritas nas práticas sociais”.
A pergunta “para você, como tudo aquilo chega lá?”, ajudou a aprofundar mais essa
percepção, em específico. “Deve ser pelos tubos, não é, pró?”, disse Naira. Calebe explicou
que chegava com a chuva e não fez associação com a sua resposta anterior, sobre o esgoto:
“Chove e cai ali dentro. Quando a chuva tá muito grossa, cai ali dentro, aí enche”. Clarissa
explicou: “Eu acho que é todo um sistema de esgoto, vários tubos por várias casas até chegar
lá”. Leide, por sua vez, trouxe outra observação: “disse que ali também tem um minador29”.
29 Minador é a palavra geralmente utilizada pela comunidade para falar sobre os minadouros – nascentes ou olhos
d’água.
120
Por fim, quando questionados sobre o que é feito com todo o volume de água nas
bacias do penicão, Leide foi enfática: “Eu vejo ali a céu aberto! Nada, eu acho.”, Calebe deu
uma resposta diferente: “Faz tratamento, acho que usa cloro”. Clarissa disse que não sabe o
destino do volume de água: “Eu não sei onde eles jogam”.
7.2.3 “As coisas que vêm dele”: sobre o Rio Paraguaçu
Para saber como esses jovens compreendem a presença e a importância da passagem do
maior rio baiano na sua comunidade, um dos tópicos do questionário se debruça sobre o assunto.
As perguntas buscam saber, na concepção deles, a) a importância do Rio Paraguaçu para o
povoado, b) se ele enfrenta problemas e quais seriam, c) quem causa esses problemas e d)
como esses problemas afetam diretamente a comunidade. O objetivo aqui também era
entender como eles concatenam essas ideias e expressam seus argumentos. As respostas estão
apresentadas no Quadro 2:
Quadro 2 – Respostas expressas pelos jovens sobre o Rio Paraguaçu
QUAL A
IMPORTÂNCIA DO
PARAGUAÇU PARA
O POVOADO?
ENFRENTA
PROBLEMAS?
QUAIS?
QUEM CAUSA
ESSES
PROBLEMAS?
COMO ESSES
PROBLEMAS
AFETAM A
COMUNIDADE?
Calebe
A importância que
a água seja limpa e
tratada.
o povo joga esgoto,
um bocado de
coisas, aí a água
vem suja.
A população.
Não dá para beber
a água.
Clarissa
Se não tivesse ele,
como ficaria aqui?
Não ia ter água.
Que eu saiba, não.
--
--
Damião A pesca, que ajuda
muitas pessoas que
não tem trabalho.
Acho que sim
quando solta água
da barragem e os
peixes podem
morrer.
--
Afeta porque os
moradores querem
ir pescar, mas não
podem, os peixes
estavam morrendo.
Joaquim
Pescaria.
Muitos. Lixo e um
bocado de coisa aí.
Nós mesmos.
Também às vezes
joga bujão, essas
coisas.
Sei não, deve
afetar.
121
Leide A importância dele
é essa, a pesca, as
coisas que vêm
dele, o povo tem
que ajudar a
preservar.
Antigamente dava
mariscos bastante,
mas hoje em dia se
pegar cinco peixes
é muito.
A população. A poluição que tá
tendo muito, eu
acho que é através
da poluição que
seca muitos
lugares, o
desmatamento, que
acontece muito.
Marina
Não sei.
Tem muito
desmatamento.
Jogando lixo no
rio, fazendo coisas
que não deve ser
feita.
O ser humano.
Não sei.
Naira
Acho importante
porque é um lugar
turístico, também é
uma beleza natural.
Enfrenta poluição.
Tá prejudicando o
mar também,
porque tá poluindo
e assim era para
todo mundo se
conscientizar, o
que tá muito difícil,
e parar de jogar
lixo. Há doenças
que pode também
causar.
Nós, seres
humanos.
Porque os pais
precisam pescar
para pegar peixes,
essas coisas, e aí tá
poluído o meio
ambiente.
Noemi
Não sei.
Não. -- --
Fonte: Elaboração da autora.
Damião, Joaquim e Leide assinalaram que a importância do Rio Paraguaçu para a
comunidade está na pesca, uma das principais atividades econômicas da região. Explicando
sobre os problemas que o rio enfrenta, Damião citou o impacto que a barragem tem sobre os
peixes, possivelmente por ter ouvido falar do impacto da construção da barragem de Pedra do
Cavalo no fluxo natural do estuário. Leide enfatizou a diminuição da quantidade dos mariscos
pescados. Naira citou a importância turística do rio para a região, um impasse que tem sido
vivido pelas comunidades do Vale do Iguape, que ainda não possuem uma rota turística
totalmente organizada pela prefeitura ou pelo governo do estado30. Calebe e Clarissa, por sua
30 As iniciativas de turismo na região de São Francisco são autônomas. É possível encontrar anúncios feitos por
moradores locais em sites como TripAdvisor, nos quais são colocadas fotos do povoado e contatos para os
interessados em conhecer. O único turismo organizado da região se chama “Rota da Liberdade” e é feito apenas
uma vez por ano, durante a Festa da Boa Morte, no mês de agosto. Na ocasião, sob a direção de guias das
122
vez, fizeram uma referência ao rio como se ele fosse diretamente responsável pelo
abastecimento de água da comunidade.
Esgoto e lixo são os principais problemas que o rio enfrenta, na opinião dos jovens,
embora o desmatamento também seja citado, provavelmente fazendo referência ao
desflorestamento de áreas próximas ao Paraguaçu. A maioria acha que a população é a
responsável por isso. Para eles, esses problemas afetam a comunidade de diversas maneiras: os
peixes morrem, a pescaria diminui e o povoado sente o impacto disso. O desmatamento, por
sua vez, provoca a secagem da água de algumas partes do rio. Ainda assim, foi expressiva a
quantidade deles que não soube responder a essa pergunta ou que achou que o problema não
existe (Clarissa, Joaquim, Marina e Noemi).
Na sua condição de membros do povoado franciscano, os jovens consultaram o que
Garfinkel (2018) chama de “características institucionalizadas da coletividade” para interpretar
as perguntas sobre o Rio Paraguaçu e respondê-las em seguida. Eles fazem referência a fatores
específicos das estruturas sociais do local ao qual pertencem, tanto quando são questionados
sobre a importância do rio (citam a sobrevivência, seja pela pesca ou pelo turismo), quanto
quando são perguntados sobre problemas enfrentados pelo Paraguaçu (enfatizam o descarte de
lixo nele, uma prática normatizada na comunidade, e a diminuição da quantidade de peixes).
Além disso, mesmo que não especifique de qual barragem esteja falando (no caso de
Damião) e onde exatamente são as áreas desmatadas que estão afetando o rio (no caso das
jovens que citaram isso), acredita-se que será possível interpretar as suas falas. Isso porque
existe o uso implícito de conhecimentos que são considerados comuns pelos comunitários e que
se supõe ser compartilhado por todos, e por essa razão, serão entendidos. Segundo Coulon
(1995, p. 65-66), referir-se implicitamente a esses fatos organizados do sistema social “é a prova
para os atores de que pertencem a uma comunidade cultural e social que [...] oferece os recursos
de sentido que permitem interpretar esses problemas”.
comunidades quilombolas do Vale do Iguape, os interessados acompanham a produção de farinha, de azeite de dendê,
de xaropes, fazem contato com as rezadeiras e griôs do terreiro local. Um dos roteiros disponibiliza um percurso de barco,
passando pelo Convento Santo Antônio do Paraguaçu, pela Igreja Matriz de Santiago do Iguape, Camboa de Pau, pela
Igreja de Nossa Senhora da Conceição e mostra o cultivo de ostras e os manguezais da região.
123
7.2.4 Refletindo as percepções
A maioria dos jovens entrevistados não considera limpa a água que recebe em casa.
Citam duas situações: a coloração barrenta e o “gosto de cloro”. A maioria deles também usa
água da Fonte do Catônio para beber, e confia que a água dessa nascente seja limpa e confiável.
Esses processos revelam uma ordem social estabelecida em São Francisco, da não confiança na
água recebida em casa.
O processo de captação e distribuição da água ainda não é nítido para eles. A maior parte
não sabe, de fato, que a água que abastece a comunidade vem do Rio Catu e nenhum deles falou
diretamente da existência do poço artesiano. Já em relação ao tratamento recebido pela água até
chegar em casa, os únicos comentários foram relacionados à insatisfação com a qualidade ou
com a quantidade de cloro, e não sobre o processo de tratamento em si. Alguns deles estão
conscientes dos problemas que a comunidade está enfrentando com a água, outros não. Parte
deles interpreta essa problemática de acordo com seus próprios contextos de vida dentro do
povoado.
O termo “esgotamento sanitário” não é conhecido dos adolescentes entrevistados.
Embora a casa de todos tenha fossa, a maioria não sabe responder como funciona uma, mas
interpreta o significado do seu uso. Em relação à ETE da Embasa, embora os conhecimentos
específicos sobre a sua finalidade e funcionamento não tenha sido apresentado por eles, há uma
“linguagem institucional” comum, reflexo da comunidade, que o associa a esgoto e lixo.
A importância do Rio Paraguaçu é reconhecida pelos jovens, que além da sobrevivência
pela pesca, identificaram outras questões relevantes. Metade deles apresentou os problemas
sofridos pelo rio, como o desmatamento das áreas próximas e o descarte de lixo. A outra metade
não conseguiu identificar esses problemas ou não entende como os problemas do Paraguaçu
podem afetar sua comunidade. Suas referências ao rio, em todos os aspectos questionados,
estavam associadas às características institucionalizadas da sua coletividade, com suas
estruturas sociais construídas levando em conta o Paraguaçu e práticas normatizadas nele.
124
8 CAPÍTULO 7 - A AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS COMO INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA EDUCOMUNICATIVA
“Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da inconclusão do homem. A educação é mais autêntica
quanto mais desenvolve esse ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário
darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos.”
Paulo Freire – Educação e Mudança (2018, p.41)
Este capítulo descreve e analisa a implantação da Agência Jovem de Notícias como uma
intervenção pedagógica educomunicativa em São Francisco do Paraguaçu. Após anos de
trabalho nesta comunidade, e de observar e vivenciar os problemas relacionados com a água e
o esgotamento sanitário, tivemos como objetivo neste trabalho investigar quais possibilidades
e limitações a Educomunicação, como método e prática, possui, no sentido de estimular o
contato dos jovens com o conhecimento científico sobre essas temáticas, centrais nos impasses
vividos pelo seu povoado.
Foi feito um contato prévio com adolescentes da comunidade que já tinham participado
de ações educativas anteriores, para explicá-los sobre a ideia da AJN. Cerca de 30 jovens foram
contatados. A proposta também foi apresentada para a Escola Estadual de Primeiro Grau da
comunidade, que ofereceu apoio cedendo uma sala para a realização das atividades. Também
foi realizada uma reunião com os professores, na qual foi apresentada a proposta e explicada a
nossa necessidade da colaboração deles no decorrer das ações. Embora não fosse possível
estabelecer horários específicos para a participação dos professores, em virtude das agendas
desses profissionais, a partir dali os que estavam presentes se colocaram à disposição para
colaborar nas construções necessárias quando solicitados.
Também foi feita uma chamada em cada sala de aula aos quase 130 estudantes da escola,
e foi aberta uma inscrição. Ao final de todo o processo, 16 estudantes se mostraram
interessados, 12 participaram da reunião inicial, mas somente oito retornaram com os TCLE e
os TA assinados para o início das atividades. Esses jovens, conforme já descritos no capítulo
anterior, tinham entre 14 e 17 anos e responderam uma entrevista inicial acerca das suas
percepções sobre água e esgoto na comunidade (Capítulo 6).
Todas as atividades foram planejadas de acordo com os princípios educomunicativos
descritos por Soares (2003; 2010; 2011; 2015) e Kaplún (1987; 2001). Foram analisadas
tomando como base estes mesmos princípios, e tendo também em referência a pedagogia
125
libertadora de Freire (1983; 2018a; 2018b; 2018c), precursor do campo, e os alicerces de uma
educação CTS (AIKENHEAD, 2009; AULER; DELIZOICOV, 2006; SANTOS;
MORTIMER, 2002).
8.1 DESCREVENDO A AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS
8.1.1 “Taca fogo, professora!” - A escola como espaço de realização da AJN
A Escola Estadual de Primeiro Grau São Francisco do Paraguaçu (EESFP) (Figuras 19 e
20) apoiou a ideia de realização da AJN, e para isso, cedeu uma sala para realização das
atividades e deixou à disposição o espaço da cozinha para quando houvesse necessidade de uso.
Seu quadro de professores também estava ciente da proposta da AJN e colocou-se
à disposição para colaborar quando informamos a nossa necessidade da sua contribuição.
Embora a escola tenha em seu nome a palavra “estadual”, a instituição está sob a
responsabilidade da Prefeitura de Cachoeira.
De acordo com seu Projeto Político Pedagógico (PPP), é classificada como Escola
Quilombola, por estar numa área certificada como remanescente de quilombo. As atividades de
educação formal funcionam apenas em período matutino, do 5º ao 9º ano do EF. Os alunos
matriculados são da própria comunidade, e são raras as vezes em que jovens de povoados
vizinhos são matriculados.
Em termos estruturais, a escola possui sete salas, cozinha, diretoria, sala de professores e
dois banheiros. Nestes geralmente não havia luz e a fechadura estava quebrada. Havia um pátio
cimentado na parte da frente das salas, e no fundo, um terreno sem uso. Uma das salas servia
como depósito de livros didáticos e de pesquisa, mas não se configurava como uma biblioteca,
embora seja chamada assim por todos. Existe acesso à internet Wi-Fi, mas de uso exclusivo
para fins administrativos. Não há laboratórios (de ciências ou de informática), sala de leitura,
auditório ou quadra de esportes. As cadeiras usadas pelos alunos já estão bem velhas, algumas
riscadas e desparafusadas. Alguns projetos em parceria com a comunidade já funcionaram ou
ainda funcionam na instituição, como o Mais Educação31, a fanfarra32 e a Capoeira.
31 Programa instituído pelo Governo Federal com intuito de ampliar a jornada escolar nas escolas públicas com
atividades optativas em macrocampos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos
humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias;
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. 32 A fanfarra é composta por estudantes, professores e moradores do povoado. Apresenta-se em feriados
específicos, como por exemplo, o feriado da Independência da Bahia (2 de julho), na cidade de Cachoeira.
126
Figuras 19 e 20 – Frente e fundo da EESFP
19 20
Fotos: PPP EESFP, 2017.
Quando participou pela última vez do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), em 2017, a EESFP obteve uma média de 3,96 pontos. Naquele ano, a média brasileira
para os anos finais do EF foi de 4,7 pontos, e a meta para alcance nacional era de 5,0 pontos.
Embora solicite com frequência à prefeitura, a escola não possui coordenador pedagógico. No
seu quadro de funcionários estão: uma gestora, auxiliares de limpeza, cozinheiras, uma
secretária, dois vigilantes e 10 professores, que embora não sejam, em sua maioria, formados
diretamente nas áreas às quais lecionam, se esforçam para cumprir os conteúdos curriculares
previstos para cada série (Quadro 3).
Quadro 3 – Lista de descrição dos professores da EESFP, por formação, ano que leciona e informações
adicionais
PROFESSOR FORMAÇÃO DISCIPLINA QUE
LECIONA
Adalberto33
Pedagogia
Matemática e Ciências
Arthur
Estudante de Licenciatura
em Ciências Exatas
Matemática
Damasceno
Ensino Médio
Instrutor da Fanfarra
Dário Letras com inglês Inglês
33 Os nomes foram mudados.
127
Elisa
Pedagogia Português e Redação
Moisés
Pedagogia
Gestão Educacional
Esporte Educacional
Geografia, Educação Física
e Educação Ambiental
Raimunda
Pedagogia
Gestão Educacional
Português, Consumo e
Cidadania e Geografia
Raul
Pedagogia
Gestão Educacional
Ed. Física e Artes
Renata
Pedagogia História
Tereza
Magistério
História
Fonte: Elaboração da autora
Em relação às disciplinas da grade curricular associadas à adequação da formação
docente, cinco dos 10 professores estão adequadamente associados às séries que lecionam34. A
Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB)35, tratando da formação dos profissionais da educação:
Art. 62: A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL, 2013b).
Nesse sentido, para o exercício da docência no EF I (até o 5º ano), a legislação exige a
formação de licenciatura em Pedagogia. A partir do EF II até o EM, é necessária a formação no
curso de licenciatura específica para a área de ensino. Entretanto, o último Censo Escolar da
Educação Básica, realizado em 2020 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revelou que a realidade da EESFP reflete, com efeito, os
34 Esses dados foram preservados para reduzir o detalhamento descritivo e salvaguardar a identidade dos docentes. 35 LDB – Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
128
índices baianos: o estado possui um dos piores índices do país em relação ao percentual de
disciplinas ministradas por professores com formação adequada, tanto no EF II quanto no EM.
No caso do EF II, as porcentagens da Bahia variam, em sua maioria, entre 20% e 40% de
docentes com a formação adequada associada ao componente curricular (BRASIL, 2021b).
Existem vários significados relevantes em ter a EESFP como espaço de realização da
AJN. Tem grande valor histórico: é a única escola de EF do povoado e desde a década de 60,
antes de ser uma escola quilombola estadual, era uma escola rural. Para Freire (2018b), o
processo de identidade cultural em que a história individual e coletiva dos educandos está
inserida deve ser sempre levado em conta na prática educativa.
Além disso, não se pode negligenciar o caráter socializante dessa instituição e a
importância das experiências informais que são vividas nela. Uma vez que foi aprendendo
socialmente que homens e mulheres descobriram que é possível ensinar, é preciso que
entendamos o quão relevantes são experiências informais em salas de aulas ou nos pátios de
recreio, onde gestos de alunos, de pessoal administrativo e de professores se cruzam com
significação (FREIRE, 2018b).
Na primeira semana de atividades da AJN, o objetivo foi limpar e arrumar, junto com os
participantes, a sala cedida pela escola (Figura 21). Considerada a biblioteca da instituição, a
sala, na verdade, era um depósito de livros didáticos, revistas, vídeos, literaturas, materiais de
feiras e desfiles, todos sem uma organização definida. O ambiente tinha muito mofo, e os
armários estavam cheios de coisas sem utilização há alguns anos. Referindo-se à quantidade de
livros jogados, mal arrumados e sem uso, Damião, um dos estudantes, que me revelara
anteriormente não gostar de ler, disse: “Pra quê tanto livro? Taca fogo, professora!”.
129
Figura 21 – Sala da AJN em processo de organização
Foto: Mariana Sebastião, 2019
Havia vários equipamentos eletrônicos sem funcionar, apenas um computador estava
ainda em condições de uso. Nós o usamos posteriormente para as pesquisas e ora a conexão
com a internet funcionava, ora não. Foi feito também um processo de catalogação e digitação
dos nomes dos livros, revistas e DVDs que a sala tinha. Todos os materiais foram arrumados
por ordem de série e disciplina (no caso dos livros didáticos) e estantes específicas foram
separadas para cartilhas, livros de literatura, materiais audiovisuais e de outra natureza.
Procedemos com a limpeza dos quadros negros e outros equipamentos, reposicionamento
da estrutura das estantes36, limpeza e organização dos armários. Alguns materiais dos projetos
anteriores da Ufba foram agregados à sala (uma lona ao chão e equipamentos eletrônicos que
eu levaria nas atividades) e colocamos em uso uma tela de projeção que a escola tinha e estava
inutilizada.
Ao final da arrumação, era perceptível que o acervo de material bibliográfico da escola
era riquíssimo. No entanto, nos meses à frente em que estivemos trabalhando, percebi
36 O processo de reorganização das estantes contou com a contribuição de Jurandir, líder comunitário, Waleska,
estudante da Ufba que se ofereceu para auxiliar no trabalho e da profa. Rejâne Lira, orientadora deste trabalho.
130
timidamente, de forma quase nula, a presença de alunos ou professores buscando por materiais,
ainda que todos os professores tivessem sido avisados de que agora poderiam usufruir dos
materiais fisicamente organizados e catalogados. Ainda assim, antes mesmo de começar
efetivamente suas atividades, considero que a AJN deixou uma grande contribuição (Figuras
22, 23 e 24).
Figuras 22, 23 e 24 – Sala da AJN após o processo de organização
22
23 24
Fotos: Mariana Sebastião, 2019.
Apenas uma pequena parte dos oito estudantes contribuiu neste processo de organização
do espaço da AJN. Quando viram o tamanho do trabalho, alguns não se mostraram
cooperadores e preferiram optar pela “ausência voluntária”, sem, no entanto, dar justificativas,
o que gerou uma sobrecarga de trabalho. Pela primeira vez foi necessário me pronunciar sobre
131
a importância da efetiva comunicação entre todos os membros, que envolvia avisar quando não
fosse possível o comparecimento37. Isso ajudaria a reorganizar as atividades para não haver
aumento das demandas para outros. Por outro lado, os que participaram, se enxergaram no
resultado quando o trabalho terminou e a sala estava completamente arrumada. A conclusão
lhes deu a ideia da importância do esforço pessoal associado ao trabalho em equipe.
Ao falar sobre maneiras através das quais a educação de adultos poderia avançar, Kaplún
(2001) falou de aspectos que podem ser trazidos para o contexto aqui colocado. Segundo o
autor, é possível ajudar os educandos a serem gestores da sua aprendizagem, e isso é possível
ajudando os membros de um grupo a se comunicarem entre si. Exercícios cooperativos para
serem realizados em equipe são uma escola de solidariedade. Ademais, na concepção de Freire
(2018c, p. 228), “a co-laboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a
não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de
responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação”.
8.1.2 O cronograma de atividades e o fluxo de trabalho
Seguindo um dos procedimentos essenciais à Educomunicação – o planejamento
participativo abrangendo todas as pessoas envolvidas – um esboço do cronograma de atividades
foi apresentado aos estudantes, para que pudessem opinar, fazer sugestões, retirar ou
acrescentar ações. Nesta reunião, a base do cronograma para execução das atividades foi
definida. Para a realização de um trabalho mais profundo no dia a dia da comunidade e da vida
desses jovens, o cronograma ficou organizado para que as atividades fossem realizadas em dias
de semana.
O fluxo de trabalho começava às segundas à noite (18h às 20h) e seguia às terças e quartas
nos três turnos (08h às 11h, 14h às 17h e 18h às 20h). Os jovens que estudavam EM e estavam
na escola no período da tarde, estariam na Agência pela manhã e noite. Os que estudavam EF
e estavam na escola no período da manhã, estariam na Agência pela tarde e noite.
Essa divisão permitiria que, como educomunicadora responsável, eu pudesse dar melhor
atenção a todos. Além do mais, isso não atrapalharia o horário da educação formal deles.
Também, todas as noites o grupo completo se encontraria, o que seria um bom exercício de
37 Esse contato era feito majoritariamente por um grupo criado no WhatsApp, tendo em vista que a maioria deles
possuía smartphone. Para o único que estava sem celular no momento, eu pedia que os colegas que moravam perto
repassassem os recados. Nos nossos horários de encontro, eu repetia o que de mais importante tínhamos
conversado.
132
interlocução. A EESFP concordou com as atividades no período noturno, e o vigilante do
horário era responsável por abrir a sala e a cozinha para as nossas atividades. Ele sempre se
mostrava solícito e contribuía em qualquer atividade que tínhamos necessidade, fosse dia ou
noite. Na AJN cada um dos participantes ganhou o seu bloco de anotações, caneta, crachá,
caneca para beber água e uma camisa para usar em atividades fora da estação de trabalho
(Figura 25). Também havia a hora do intervalo para o lanche38.
Figura 25 – Estudantes seguram suas canecas e camisas na AJN
Foto: Arquivo Pessoal, 2019
38 Os blocos de anotações, canetas, canecas e camisas foram doações de materiais restantes do Encontro de Jovens
Cientistas, evento da Ufba para jovens da educação básica e coordenado pela orientadora deste trabalho, Rejâne
Lira. Os lanches, por sua vez, também foram concedidos pela professora, que na mesma época estava em trabalho
de campo com seus estudantes da Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade (ACCS Ufba), a qual possuía
um modesto financiamento para transporte e alimentação, a ser dividido para mais de 40 alunos. Ainda assim, a
professora fazia os esforços para deixar alguma quantidade de alimento que pudesse ser feito de lanche para AJN.
Houve também contribuição de Waleska Mota nesses momentos, aluna da UFBA que auxiliou todo o trabalho.
133
No fluxo de trabalho (Figuras 26, 27 e 28), as segundas-feiras à noite era dia da Atividade
Surpresa, que envolvia cinema, jogo, roda de leitura etc., a depender da programação. A palavra
“surpresa” tinha a ver com o fato de que eu não revelava do que se tratava, justamente para
estimular a curiosidade. Nestes dias, antes do início das atividades, era momento de passar
alguns recados importantes e sortear o Editor e o Subeditor da Semana – geralmente um de cada
turma.
O intuito da existência de um Editor e de um Subeditor era fazê-los sentir-se responsáveis
pelas atividades que estavam acontecendo. As responsabilidades desses dois eram: passar a lista
de presença em todos os turnos, lembrar aos colegas de organizar a sala quando as atividades
terminassem, apoiá-los em ações externas quando fosse necessário e manter o andamento da
atividade na minha ausência. Isso porque o cronograma foi previamente organizado para que
isso acontecesse: eu estaria com o grupo em semanas alternadas, para estimular os jovens a
realizarem seus trabalhos de forma mais independente. Quando eu não estivesse
presencialmente, faria uma chamada de vídeo para conversarmos no horário do trabalho e sanar
dúvidas. O intuito dessas medidas era estimular um comportamento de autonomia dos jovens:
“No fundo, o essencial nas relações entre educador e educando [...] é a reinvenção do ser
humano no aprendizado da sua autonomia” (FREIRE, 2018b, p. 92). Com o passar do tempo e
as desistências, decidimos manter apenas um editor por semana.
A terça-feira era o dia de ministrar a oficina que estava programada para a semana. Os
jovens já começavam a produzir materiais após as minhas orientações e nas quartas-feiras
continuavam o processo com o meu apoio. Cada oficina foi programada para durar duas
semanas, no intuito de haver tempo suficiente de conceber e produzir cada material.
135
28
Fonte: Elaboração da autora.
Inicialmente as atividades estavam previstas para acontecer de maio a outubro de 2019,
culminando na apresentação no 10º Encontro de Jovens Cientistas. Infelizmente, a participação
presencial dos jovens não foi possível por falta de recursos, embora suas produções tenham sido
inscritas e apresentadas por mim. Também foi incluída no cronograma uma reunião final para
discutir qual seria o meio de manter as atividades da AJN quando esse nosso planejamento do
ano acabasse, o que também não aconteceu.
Dentre as oficinas programadas para o período de funcionamento da AJN estavam:
Oficina de Jornalismo, Oficina de Fotografia, Oficina de Vídeo e Oficina Meu Canal no
Youtube. As três primeiras aconteceram e a última, em virtude de imprevistos e mudanças no
cronograma, não aconteceu.
8.1.3 As oficinas educomunicativas
8.1.3.1 “Eu vou escrever o quê?” - A Oficina de Jornalismo
A primeira oficina da AJN foi a Oficina de Jornalismo (Figuras 29 e 30). Como
educomunicadora e orientadora, expliquei o que essa oficina tinha a ver com nossa Agência.
Os pontos abordados foram: os diferentes papéis que um jornalista pode executar, quais os tipos
de texto jornalístico, quais as fases do trabalho numa redação jornalística e como se monta uma
pauta. Depois de tudo isso, discutimos quais assuntos relacionados à água que perpassavam a
comunidade de São Francisco que nós poderíamos trabalhar. Parte das ideias foram sugeridas
136
por eles dentro da sua vivência em São Francisco do Paraguaçu e outras sugeridas por mim,
tendo em vista o estudo prévio de entrevistas e observação participante.
Ao falar sobre o conteúdo programático da educação, Freire (2018c) já defendia que a
dialogicidade do processo começa quando o educador escuta os seus educandos e vice-versa.
O conteúdo do diálogo é o que vai definir esse conteúdo programático. Kaplún (1985), por sua
vez, ao tratar da produção de materiais de comunicação com grupos populares, ressaltava a
importância desses materiais tomarem como base a realidade do grupo com o qual se trabalha:
“Pueden ser inspirados em hechos da actualidad, o bien en las tradiciones culturales y en la
historia de nuestra región” (KAPLÚN, 1987, p. 93).
Cada um dos estudantes escolheu o tema que mais se identificou e o tipo de texto que
gostaria de construir. A partir daí, foram definidos os objetivos do texto e o que seria necessário
fazer (pesquisas em livros, entrevistas) para que ele se concretizasse. Os temas não escolhidos
ficaram em espera para trabalharmos em momento posterior. O objetivo, a partir de então, foi
a produção de um texto jornalístico por cada um, e todos foram posteriormente compilados para
montarmos um jornal impresso. A divisão das pautas está descrita no Quadro 4.
Quadro 4 – Pautas definidas na Oficina de Jornalismo.
REPÓRTER39 TEMA TÍTULO
PROVISÓRIO
OBJETIVOS O QUE FAZER CONCLUÍDO
CALEBE Tratamento da água
em São Francisco
Por que a água
está deixando nossas panelas
pretas?
Entender o porquê de a
água estar deixando uma cinta na panela e
gerar uma reclamação
a) Pesquisar como é feito o
tratamento da água até chegar na população;
b) Entrevistar funcionário
da Embasa para saber
como é feito o tratamento
c) Entrevistar moradores
da comunidade para saber
a opinião deles sobre o que causa o efeito da cinta na
panela
d) Entrevistar um
professor de ciências para
explicar o assunto.
SIM
CLARISSA Distribuição de
água
Entenda de onde
vem a água que
abastece São
Mostrar aos moradores
de onde vem a água
que abastece a casa deles.
a) Entender como funciona
a rede de distribuição de
água
SIM
39 Neste quadro só são descritos sete dos oito jovens inicialmente participantes porque Noemi foi desligada da
Agência pela mãe. Uma descrição mais detalhada dos desligamentos e desistências está no tópico 8.1.4.1.
137
Francisco do
Paraguaçu
b) Entrevistas os
funcionários da Embasa.
DAMIÃO Tratamento do
esgoto
O que é o
penicão e para
que serve
Explicar sobre o
penicão de São
Francisco e para que serve
a) Pesquisar sobre estações
de tratamento de esgoto
b) Entrevistar os funcionários da Embasa
para saber como funciona
a ETE de São Francisco
SIM
JOAQUIM Rio Paraguaçu As Lendas do Rio Paraguaçu
Contar mitos e lendas que fazem parte da
história do rio
a) Pesquisar sobre o rio
b) Entrevistar seu Afonso,
historiador da comunidade
SIM
LEIDE Desperdício de água
Como os moradores de
São Francisco
reutilizam água
Texto opinativo sobre como as pessoas da
vizinhança reutilizam
água
a) Explicar no texto como reutilizo água na minha
residência
b) Saber como outras pessoas também fazem
isso
c) Pesquisar se é certo ou errado reutilizar das
formas citadas
SIM
NAIRA Fontes de água Será que a água do Catônio é boa
para beber?
Falar sobre a qualidade da água do Catônio
a) Pesquisar a história da Fonte
b) Pesquisar quem confia e
quem não confia na água da Fonte e por quê.
c) Falar com um professor
de ciências sobre a segurança de beber água
de fontes
SIM
MARINA Esgoto Como as fossas de São Francisco
podem ajudar o
meio ambiente
Explicar como as fossas de são
Francisco precisam ser
para não causar danos ao meio ambiente.
a) Pesquisar como é uma fossa e como pode causar
danos ao solo
b) Entrevistar moradores para saber qual tipo de
fossa têm em suas casas
c) Dar ideias de fossas para ajudar o meio
ambiente de São Francisco
NÃO
Fonte: Elaboração da autora.
As associações do assunto “água” com a realidade de São Francisco estão de acordo com
o que Mortimer (2002) assinala ser parte da estrutura conceitual de um curso CTS: a aquisição
de conhecimentos científicos e tecnológicos enfatizando aspectos relacionados ao interesse
pessoal, à preocupação cívica e às perspectivas culturais, propiciando o desenvolvimento de
valores e ideias, entre outras coisas, por meio de estudos de temas locais. De acordo com Auler
(2007), o aprender ocorre no processo de busca de respostas para problemas contemporâneos e
situações existenciais para reinterpretar a experiência vivida, sendo essa a grande necessidade
138
de se ter currículos mais abertos com temáticas que perpassem a dimensão científico-
tecnológica.
[...] fui fazer umas perguntas sobre o que é o tal penicão, que está instalado na
entrada da comunidade. [...] Ali se chama ETE e significa Estação de Tratamento de
Esgoto. Todo o esgoto da comunidade vai para essa estação. Na ETE tem quatro
bacias e o tratamento é feito de uma para a outra. Primeiro, todas as fezes são
reunidas em um local que a Embasa tem na comunidade que se chama Elevatório. O
que sobe essas fezes para esse lugar são bombas. Do elevatório as fezes vão para a
ETE. Chegando lá, em uma bacia, esse resíduo (as fezes) fica todo no fundo da ETE,
tipo uma água suja. Quando ele assenta no fundo, a água limpa fica em cima. O tempo
é que faz a filtração de uma bacia para outra até chegar ao rio. (Trecho da matéria
“Penicão de são Francisco serve para tratar o esgoto” produzida por Damião).
Falar sobre a Estação de Tratamento de Esgoto já era uma das pautas mais comentadas
logo que começamos a conversar a respeito do que abordaríamos. O fato de a ETE estar bem
na entrada do povoado a faz perceptível a qualquer pessoa que chegue pela estrada. Para além
disso, já tínhamos uma perspectiva de qual era a visão da comunidade a respeito do local: ele
reunia o esgoto de parte da comunidade, mas não se sabia como, e se havia tratamento, também
não se sabia de que modo ele era realizado. Aikenhead (2009) corrobora a finalidade da
abordagem CTS em ajudar os estudantes a dar sentido às suas experiências cotidianas:
Num currículo científico CTS, o conteúdo científico canónico está relacionado e
integrado com o mundo quotidiano dos estudantes de tal forma que espelha os
esforços naturais dos estudantes para darem sentido a esse mundo. [...] a ciência é
trazida ao mundo do estudante numa base de necessidade de saber (grifo nosso), em
vez de seguir a expectativa convencional de que o estudante deve entrar no mundo da
ciência para adoptar a visão de um cientista (AIKENHEAD, 2009, p. 22).
A construção escrita das pautas foi cercada de muitas dificuldades. Isso se seguiu no
processo de escrita dos textos. Passar as ideias ao papel foi uma tarefa árdua, ainda que eu desse
orientação individual e eles confirmassem terem entendido o que era necessário fazer.
Geralmente, o pedido era que eu ditasse palavra por palavra para que eles copiassem o que era
necessário realizar. Para isso não acontecer, eu usava uma técnica para ajudá-los: nas
orientações individuais, eu fazia perguntas, como por exemplo “O que você quer passar para
as pessoas com esse texto?”, e eles me respondiam em voz alta. Daí eu dizia: “agora passe para
o papel exatamente isso que você me respondeu!”. Isso se seguiu para todo e qualquer processo
que envolvia produção textual, inclusive para os textos jornalísticos finais.
139
A minha preocupação em sempre pedir que eles me respondessem às perguntas e depois
passassem suas palavras para o papel era a de ser fiel às suas ideias. Primeiro porque existia
uma tendência de copiar tudo aquilo que vinha do educador e de não valorar as suas próprias
expressões. Segundo porque eu gostaria que o exercício de construir uma pauta e depois um
texto a partir da sua própria ideia os estimulasse a se enxergar como parte de toda a temática,
como é desejável segundo ressalta Mortimer (2002, p. 10): “Nas discussões desses temas, seria
importante que fosse evidenciado o poder de influência que os alunos podem ter como cidadãos
[...] Dessa maneira, os alunos poderiam ser estimulados a participar democraticamente da
sociedade por meio da expressão de suas opiniões”.
Para mim é importante reutilizar água porque dessa maneira a gente preserva o meio
ambiente. Eu sou L[...], tenho 17 anos, moro em São Francisco do Paraguaçu, um
distrito de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e reutilizo água na minha casa. Nós
lavamos as roupas na mão. Aproveito a água que lavei as roupas para lavar os panos
de chão, limpar a casa, lavar a varanda e limpar o banheiro (Trecho da matéria
“Como as pessoas estão reutilizando água em São Francisco do Paraguaçu?” produzida por Leide).
A respeito desse estímulo da reflexão dos estudantes, Freire (2018b) explica que não se
trata de desvalorizar a atividade docente a meras perguntas e respostas, mas entendê-la como
parte de um processo de curiosidade epistemológica:
Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende
com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações
discursivas do professor, espécies de respostas (grifo do autor) às perguntas que não
foram feitas. [...] A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos,
narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor
e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica (grifo do
autor), aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve.
O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos
(grifo do autor) (FREIRE, 2018b, p. 83).
Fazer as pesquisas sobre os temas antes das saídas à campo para as entrevistas também
era um grande impasse. Eles pediam ajuda até mesmo para encontrar um assunto dentro dos
livros, uma vez que havia dificuldades com o uso do sumário. Para entender as informações
lidas, o obstáculo era o mesmo: eu ouvia um “Terminei de ler, professora!” e então era
necessário reexplicar que eles precisavam anotar no bloco as informações consideradas
relevantes. As reclamações eram garantidas: “Ler é muito chato, professora!” ou “Eu vou
140
escrever o quê?”. Uma citação do meu Diário de Pesquisa traz um relato de como me senti
diante desta situação:
Para não entrar em desespero, eu comecei a me lembrar que aquele era um projeto
experimental, que eu estava, pela primeira vez, colocando em xeque a
Educomunicação (área que me apaixonei) (...) para tratar de ciências num ambiente
específico: uma escola rural, numa comunidade que tem significativo valor histórico
na formação do povo brasileiro, que tem o maior rio baiano (Rio Paraguaçu) como
principal fonte de subsistência e onde a educação sofre com todas as mazelas
possíveis e imagináveis. O que a Educomunicação poderia me ajudar a fazer ali para
trabalhar um tema que geralmente se trabalha em ciências de forma fragmentada,
para trabalhá-lo em diálogo com a vivência da comunidade e daqueles jovens?
Pensar nesta perspectiva foi o que me ajudou a ir em frente, pois qualquer resultado,
bom ou ruim, seria um resultado. Mais do que isso: eu tinha certeza de que viveria
um processo formativo engrandecedor – APÊNDICE D, p. 30
Há uma explicação que acredito tornar compreensível esse comportamento dos jovens,
e que é bem elucidada por Aikenhead (2009). Segundo o autor, a maioria dos estudantes encara
os conteúdos de ciência como algo que possui pouca ou nenhuma relevância nas suas vidas
cotidianas. Era um processo novo agora trabalhar esses conhecimentos de modo a trazê-los ao
encontro das suas realidades e à produção de materiais autorais e que expressassem suas ideias.
Associado a essa ideia, era perceptível a existência de um pensamento de incapacidade
e inferioridade sobre si mesmos que os impedia de desenvolver a atividade. Apesar das
dificuldades, prosseguimos fazendo isso como um exercício constante, e esse processo de
decodificação é acertado, segundo Kaplún (1987, p. 194), para ajudar a compreender as
informações: “asociar situaciones, compararlas, interpretarlas, vivirlas intelectual y
emocionalmente, extraer conclusiones”.
141
Figuras 29 e 30 – Oficina de Jornalismo
29 30
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019
Quando precisavam fazer entrevistas, eu entrava em contato anteriormente com o
entrevistado e falava sobre o trabalho e da necessidade de assinar o Termo de Uso de Imagem
de Voz. Os estudantes iam acompanhados do subeditor da semana, e quando isso não era
possível, outro colega acompanhava. Eles nunca estavam sozinhos nestes momentos. Eu estava
sempre na sala da AJN dando apoio e orientando os estudantes que estavam em outras fases das
atividades.
Em virtude do número limitado de computadores – apenas um da escola funcionava, e
o meu computador pessoal – combinamos que eles digitariam os textos no WhatsApp e me
passariam, visto que tinham habilidade com o aplicativo. Eu transferia esses textos para um
arquivo office e junto com cada um, fazia as correções ortográficas, de coesão e coerência, além
de conversar sobre pontos importantes da produção. A maioria só conseguiu produzir seu texto
sentado junto comigo, com longas conversas baseadas na técnica de pergunta e resposta, para
que as informações viessem totalmente deles e de suas pesquisas e entrevistas (Quadro 5). Após
as duas semanas destinadas a essa oficina, parte dos estudantes concluiu os seus textos
142
jornalísticos. Marina se desligou das atividades, Calebe ainda não tinha conseguido progredir
(Figura 31) e Joaquim desapareceu.
Na terceira semana, em meio à Oficina de Fotografia, eu ainda estava lidando com o
sumiço de Joaquim e a dificuldade de Calebe. Para o primeiro, que havia se ausentado porque
explicou estar cuidando do sobrinho, pedi que tentasse retornar nos horários que conseguisse
para tentarmos prosseguir com o texto. Depois de alguns dias de esforço, ele progrediu e
elaborou o seu material. Para Calebe, conversei e reelaborei perguntas simples para que ele
respondesse com as próprias palavras o que queria descobrir com a sua matéria. A partir daí ele
desenvolveu melhor a ideia e nos sentamos, depois das respostas, para montar um texto.
Solicitamos uma ajuda ao professor de ciências que respondesse algumas perguntas para a
conclusão do texto.
Figura 31 – Registro do texto de Calebe no bloco de anotações.
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019.
143
A “cinta” da panela era justamente a questão que Calebe queria entender e
posteriormente explicar a partir do seu texto jornalístico. Ele citou que era uma queixa comum
de pessoas da sua comunidade o fato de que quando se colocava água da torneira para ferver,
formava-se uma borda que marcava o recipiente de alumínio na altura da água. Com o tempo
as panelas começavam a ficar escurecidas. Seu trabalho foi compreender se isso tinha a ver com
a água que era distribuída no povoado.
Então, o que está deixando as nossas panelas pretas? [...] Quando guardamos as
panelas no armário muito tempo ou cozinhamos, o alumínio reage com o oxigênio,
com a umidade, entre outras coisas: “Tudo isso forma esse óxido no metal que
funciona como uma película protetora para evitar que ele continue sofrendo
oxidação, ou seja, se desgastando”, explica (Trecho da matéria “O que está
escurecendo as nossas panelas” produzida por Calebe).
Quadro 5 – Matérias produzidas na Oficina de Jornalismo
REPÓRTER MATÉRIA PRODUZIDA
CALEBE O que está escurecendo as nossas panelas?
CLARISSA Poço artesiano pode abastecer São Francisco em tempos de pouca chuva
DAMIÃO Penicão de São Francisco serve para tratar o esgoto
JOAQUIM Lendas do Rio Paraguaçu: a mula-sem-cabeça
LEIDE Como os moradores estão reutilizando água em São Francisco do Paraguaçu?
NAIRA Você bebe água da Fonte do Catônio?
Fonte: Elaboração da autora
Lidar com as dificuldades de cada um dos estudantes foi desafiador para mim enquanto
educomunicadora do processo, tendo em vista que eu precisava compreender as demandas e
agir junto com eles de forma individual. De certa maneira eu esperava que isso acontecesse, e
que o decorrer da AJN fosse sendo reajustado à medida que as necessidades se apresentassem.
Mas eu esperava da mesma forma que parte dessas dificuldades fosse vencida à medida que
eles conseguiam completar as fases das atividades. Esse processo é particular a cada um,
demanda tempo, não encerra todas os problemas, mas é estimulador da autoestima, da
autonomia e da capacidade criativa do indivíduo.
144
Acompanhar o educando ajudando-o a superar suas dificuldades específicas e construir
junto com ele foi um aspecto largamente discutido e defendido por Mario Kaplún (1987) ao
defender a educação com ênfase no processo. Para ele, a função do educador nesta circunstância
é estimular, facilitar o processo de busca, problematizar, fazer perguntas, escutar, ajudar na
expressão e fornecer as informações necessárias para que o seu estudante avance no processo.
Isso significa que o educador não é aquele que ensina e dirige, mas sim o que acompanha o
outro: “(...) para estimular ese proceso de análisis y reflexión, para facilitarsélo; para aprender
junto a él y de él; para construir juntos” (KAPLÚN, 1987, p. 52).
8.1.3.2 “Agora já sei por que isso acontece aqui!” - A Oficina de Fotografia com Celular
A ideia da oficina de fotografia com celular (Figuras 32, 33 e 34) era que os estudantes
pudessem usar os seus próprios smartphones, mesmo com problemas de carregador, memória
cheia e outros imprevistos. O trabalho com recursos limitados era um aspecto que já estava
previsto no planejamento, e por essa razão o pensamento era o de trabalhar com o que se tinha
à disposição: “(...) con creatividad e imaginación, investigando y experimentando soluciones
artesanales, es posible lograr sorprendentes resultados con equipos pobres y recursos materiales
modestos” (KAPLÚN, 1987, p. 243).
Neste momento da AJN todos já tinham seus celulares, então solicitei que neste dia, cada
um levasse o seu aparelho. Trabalhamos posições, luz, alinhamentos, efeitos especiais contidos
em algumas câmeras de celular, cenários e edição das fotografias em aplicativos gratuitos. As
primeiras orientações foram passadas em um dia, mas outros detalhes foram sendo trabalhados
com o passar das semanas direcionadas à oficina no cronograma.
O primeiro objetivo era produzir a fotografia oficial da matéria jornalística produzida por
cada um deles na oficina. O segundo objetivo era construir uma fotografia com o mesmo tema
da primeira matéria jornalística, mas agora tentando responder a alguma lacuna que o primeiro
texto não tinha dado conta de responder. Sendo assim, continuaríamos aprofundando as
temáticas de forma processual e cada estudante teria cada vez mais contato com aquele tema.
Cada jovem continuaria explorando o mesmo assunto, mas agora sob uma nova perspectiva.
Essa nova fotografia também deveria ser acompanhada de um texto explicativo, o que os levaria
a novas pesquisas e novas entrevistas.
Essa escolha de abordar as temáticas de forma processual foi estratégica para que os
jovens pudessem ter mais tempo de enxergar cada assunto sob distintos ângulos, uma vez que
145
todas as questões que escolhemos para explorar eram relevantes para a comunidade. Aikenhead
(2009) defende que em um currículo CTS é muito mais vantajoso dedicar-se a alguns
conhecimentos científicos que tenham relevância do que abranger por inteiro todos os
conteúdos de ciência. Isso porque o que capacita as pessoas para assumirem suas
responsabilidades sociais é o uso correto do conhecimento na tomada de decisões. Estas
decisões são bem tomadas quando as questões estão no cerne do currículo de ciências e
transportam o estudante para o seu mundo cotidiano.
Kaplún (1987) também defende que a seleção do conteúdo é necessária em qualquer tipo
de comunicação, principalmente a popular. A ideia de esgotar um tema mostrando todas as suas
faces e aspectos não é a que deve ser seguida: “En comunicación popular, siempre es preferible
presentar unas pocas ideas centrales y desarrollarlas bien y no un abigarrado y denso cúmulo
de datos” (KAPLÚN, 1987, p. 219). Segundo o autor, é melhor que o destinatário tenha um par
de ideias claras do que um monte delas em confusão.
Nos dividimos para sempre acompanharmos uns aos outros nas saídas à campo. Como o
processo foi dividido – no primeiro momento, a produção das fotos do primeiro texto, e no
segundo momento, as pesquisas, a produção da segunda fotografia e a escrita do texto
explicativo – nem todos evoluíram da mesma forma na atividade. Clarissa continuou na
temática da distribuição de água, trabalhando agora o porquê de a água chegar algumas vezes
amarelada e algumas vezes esbranquiçada na torneira das casas.
De acordo com a investigação, de Clarissa, havia dois motivos para a mudança de
coloração da água que chega nas casas de Paraguaçu: o primeiro estava relacionado à cor
amarelada da água Rio Catu. Mesmo sendo aplicado o tratamento, este não era suficiente para
mudar completamente a coloração, e as quantidades de produtos não poderiam ser aumentadas
porque seguiam diretrizes pré-estabelecidas. Segundo, quando chegava esbranquiçada, isso
estava relacionado à pressão da bomba que naquele determinado dia bombeava a água até
chegar às casas. Quando a pressão era muito forte, o impacto inicial causava o aspecto
esbranquiçado, que ia se desfazendo com o passar do tempo.
146
Figuras 32, 33 e 34 – Jovens vão a campo na Oficina de Fotografia com Celular
32
33 34
Fonte: AJN, 2019.
Leide também prosseguiu no assunto de reutilização da água. No primeiro texto,
constatou que os moradores utilizavam muito a água da chuva. Seu segundo material discutiu
sobre se é seguro usar a água da chuva para fazer qualquer coisa. Damião também prosseguiu
na temática do esgoto e agora tratou sobre qual é a composição do esgoto despejado pela ETE
no manguezal. A respeito disso, a matéria com foto produzida por Damião explicou que antes
de ser descartado no rio, o esgoto era tratado na Estação para que a quantidade de matéria
orgânica fosse reduzida. Ainda assim, o esgoto extravasado ainda possuía microrganismos
causadores de doenças.
Calebe continuou na mesma temática tendo em vista suas dificuldades, e o mantive
envolvido no processo por pedir que fizesse diversos testes de fotografia na escola e tentar
alguns em casa. Nesta altura ainda estávamos trabalhando na construção do seu primeiro texto.
Naira produziu as fotos da sua matéria jornalística, mas se desligou das atividades da AJN logo
147
depois. Joaquim, por sua vez, não apareceu e deu várias justificativas: esquecimento, prova de
recuperação, viagem para outra cidade etc.
Figura 35 – Fotografias produzidas por Clarissa e Damião na oficina
Fonte: Elaboração da autora.
A criação do Instagram da AJN (@agenciajovem)40 também foi um produto desta oficina
(Figuras 36 e 37). A partir de então, organizamos um responsável por postar por dia da semana.
Fizemos alguns combinados: a) toda postagem deveria ter alguma informação relevante sobre
São Francisco do Paraguaçu, tirada de fontes confiáveis. Sugeri num primeiro momento o livro
“São Francisco do Paraguaçu: História e Cultura de um Povo Esquecido”, disponível no
acervo da Escola; b) A foto deveria ser de autoria deles, e não retirada da internet; c) Os textos
precisariam ser enviados para mim primeiro, para que eu pudesse ajustar a ortografia e depois
eles fariam as postagens. Pedi também que usassem a função “stories”, emojis e hashtags.
40 Instagram.com/agenciajovem
148
Figuras 36 e 37 – Página da AJN no Instagram
Fonte: Instagram @agenciajovem
Prevendo que haveria dificuldades para acessar a rede social e fazer a postagem, fiz um
modelo de postagem para que eles pudessem tomar como base. Além disso, gravei um tutorial
do passo a passo do processo. Infelizmente, a rede não teve muito sucesso e as postagens não
duraram muito tempo. No entanto, as poucas postagens feitas foram completamente sob o olhar
e a autoria deles. O Instagram continua sendo alimentado esporadicamente por mim, com
informações sobre a história e cultura de São Francisco do Paraguaçu levantados durante a
realização deste trabalho.
O final da oficina de fotografia com celular envolveu dois momentos: no primeiro,
organizamos o resumo de cada fotografia para inscrever na categoria Grande Angular do 10º
Encontro de Jovens Cientistas. No segundo, nos reunimos em uma das noites do cronograma
para finalizar a oficina e compartilhamos uns com os outros o que havia sido produzido até
aquele momento, desde a primeira matéria jornalística até aquele ponto. Cada um deles tinha
construído conhecimentos sobre um assunto específico da sua comunidade. Perguntas que todos
tinham, mas não sabiam a resposta, agora tinham sido respondidas (Quadro 6).
Naquele momento nós conseguimos contar uns para os outros que, por exemplo,
“Clarissa descobriu que a água está vindo amarelada por causa da cor natural da
água do Rio Catu!”. Foi um momento de verdadeiro compartilhamento e a gente
podia dizer “Agora já sei porque isso acontece aqui!”. Eu fiz questão de enfatizar
149
que agora a gente sabia daquelas coisas porque eles tinham ido atrás das respostas
nos livros, na internet, nas entrevistas pela comunidade, na escola… Era um trabalho
deles. APÊNDICE D, p. 70-71
Quadro 6 – Fotografias produzidas na Oficina de fotografia com Celular
REPÓRTER FOTOGRAFIA PRODUZIDA
CALEBE Produziu somente a foto do primeiro texto
CLARISSA Por que a água tratada chega amarelada ou esbranquiçada na minha comunidade?
DAMIÃO O que tem naquele esgoto tratado que é despejado no rio?
JOAQUIM Produziu somente a foto do primeiro texto
LEIDE Podemos usar a água da chuva para fazer tudo?
NAIRA Produziu somente a foto do primeiro texto
Fonte: Elaboração da autora
Esse compartilhamento dos conhecimentos reforçou dois argumentos importantes a
respeito do processo educomunicativo. O primeiro, defendido por Kaplún (2001), aponta que
conhecer é comunicar, isto é, só se alcança o conhecimento pleno de algo quando existe a
exigência de comunicá-lo. Isso porque o esforço de socializar aquele conhecimento a ser
comunicado permite que aspectos até então pouco discutidos sejam aprofundados, contra-
argumentos sejam conhecidos, contradições venham à tona e a partir disso, o indivíduo formule
o seu pensamento próprio acerca do assunto, algo que talvez não acontecesse se essa
interlocução não existisse.
Si hacemos um balance introspectivo de las cosas que realmente hemos aprendido en
nuestra vida, comprobaremos que son aquellas que hemos tenido a la vez la
oportunidad y el compromiso de comunicarlas a otros. Las restantes - aquellas que
solo hemos leído o escuchado - han quedado, salvo muy raras excepciones, relegadas
al olvido (KAPLÚN, 2001, p. 36).
O segundo argumento tem a ver com o que a Educomunicação pode proporcionar ao
sistema educativo, de acordo com Soares (2011): garantir ao jovem a possibilidade de sonhar
com um mundo que ele mesmo seja capaz de construir a partir da sua capacidade de se
comunicar. Para Freire (2018b, p. 31-32), escola e educadores contribuem com esse processo
ao discutir com seus estudantes relações entre os saberes socialmente construídos em seus
contextos culturais e o ensino dos conteúdos: “Por que não aproveitar a experiência que têm os
150
alunos de viver nas áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo,
a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões
e os riscos que oferecem à saúde das gentes?”.
Os textos jornalísticos construídos na primeira oficina juntaram-se às fotografias
produzidas nesta oficina e geraram a 5ª Edição do Jornal Salinha Verde (Figuras 38 a 43).
Tratou-se da 5ª edição tendo em vista que as primeiras tiragens já foram desenvolvidas em
outras atividades educomunicativas dentro e fora do povoado. O arquivo foi editado por mim
em formato Power Point, e apesar das limitações, tentei fazer com que se aproximasse ao
máximo do aspecto de um jornal digital colorido.
Figuras 38, 39, 40, 41, 42 e 43 – Jornal Salinha Verde com os textos e fotos produzidos
38 39
152
8.1.3.3 – “Não confunda Baía com Bacia!” - A Oficina de Vídeos
A última oficina realizada foi a de vídeos. Nela, trabalhamos os diferentes tipos de vídeos
e todas as fases da produção de um audiovisual: escolha do tema, pesquisa, roteiro, gravação
de imagens, gravação da locução e edição do material. Começamos a explorar outros temas –
aqueles que foram trazidos no início das atividades e ficaram em espera para serem trabalhados
em outro momento. A ideia era que cada um produzisse dois vídeos nas semanas programadas
para a oficina no cronograma. No entanto, um acidente de família exigiu a minha presença de
volta em casa e foi necessário reduzirmos o ritmo das atividades. Sendo assim, decidimos por
manter a produção de um vídeo para cada um.
Calebe, Clarissa, Joaquim – com uma frequência bastante inconstante – e Leide eram os
jovens que ainda se mantinham nas atividades. Os temas ficaram distribuídos respectivamente:
“Os problemas do Rio Paraguaçu”, “As fossas são boas ou ruins para o meio ambiente?”, “As
fontes de água de São Francisco do Paraguaçu” e “A localização de São Francisco na Baía do
Iguape”. Como de costume, as produções iniciaram com as pesquisas e depois a organização
dos roteiros, para saber o que seria necessário gravar. Era preciso um trabalho individual de
orientação para que esses roteiros fossem produzidos. Depois desta primeira fase, iniciaram-se
as gravações, que eram feitas, em sua maioria, no celular dos estudantes e em alguns casos, no
meu.
No vídeo de Clarissa (Figura 44), trabalhamos sobre os tipos de fossas que existiam e
qual era a mais usada em São Francisco do Paraguaçu. Além de pesquisarmos imagens na
internet com diferentes tipos de fossas, fomos em algumas casas do povoado filmar como
ficavam essas fossas nos quintais. Entrevistamos Seu Zequinha41, morador da comunidade,
responsável por construir as fossas da maior parte das casas do lugarejo, que explicou quais
materiais eram utilizados e de que maneira era construída a fossa negra, a mais utilizada lá. O
audiovisual de Clarissa trouxe à tona um problema comum ao meio ambiente do povoado: uma
vez que as fossas construídas são permeáveis, o solo absorve todos o esgoto, aumentando o
risco da contaminação por organismos causadores de doenças.
41 O nome foi mudado.
153
Figura 44 – Vídeo de Clarissa, sobre as fossas usadas em São Francisco
Fonte: EducomBahia, 2019
O vídeo de Leide (Figura 45) foi voltado para explicar melhor sobre a localização de São
Francisco do Paraguaçu dentro da Baía do Iguape, explicando as diferenças entre uma baía e
uma bacia. Isso porque identificamos que existe uma confusão entre os termos “Baía do Iguape”
e “Bacia do Iguape”. O primeiro é o termo correto, ao passo que o segundo não existe. O
povoado franciscano está dentro da Baía do Iguape. A bacia que a comunidade faz parte é, na
verdade, a Bacia do Paraguaçu. Para montar um vídeo simples e explicativo que tirasse as
dúvidas sobre isso, pedimos ajuda do professor de geografia para nos dar uma entrevista sobre
a diferença entre os termos.
Para o vídeo de Calebe (Figura 46), sobre as dificuldades enfrentadas pelo Rio Paraguaçu,
também entrevistamos um antigo morador da comunidade, Seu Demétrio42, que explicou como
desde a sua infância o rio é um meio de subsistência para as famílias do povoado. Esse
audiovisual, em específico, apresenta uma diversidade de imagens que demonstram os
diferentes níveis de descarte de lixo e esgoto que o Rio Paraguaçu tem sofrido nos arredores do
povoado. Para o vídeo de Joaquim, saímos para gravar algumas fontes de água de São
Francisco.
42 O nome foi mudado.
154
Figuras 45 e 46 – Vídeos de Leide e Calebe
44 45
Fonte: EducomBahia, 2019.
O Rio Paraguaçu é o maior rio baiano. Nasce na chapada Diamantina e só termina
na Baía de Todos os Santos. Ele tem mais de 600km. A palavra “Paraguaçu” é
indígena e significa "água grande” ou “grande rio". Para a comunidade de São
Francisco do Paraguaçu, distrito de cachoeira, o rio é uma importante fonte de pesca
que alimenta a população (Trecho do vídeo “O Rio Paraguaçu está sofrendo em
São Francisco”, produzido por Calebe).
São Francisco do Paraguaçu fica na Baía do Iguape. Uma baía é uma porção de mar
rodeada por terra. A palavra Iguape tem origem indígena e significa "na enseada".
O rio que banha a Baía do Iguape é o Rio Paraguaçu. [...] Você sabia? A Baía do
Iguape é uma sub-baía da Baía de Todos os Santos (Trecho do vídeo “São Francisco
do Paraguaçu está na Baía do Iguape”, produzido por Leide”).
Em São Francisco do Paraguaçu, distrito de Cachoeira, na Bahia, a maneira mais
comum de descartar o esgoto é através de fossas construídas nos quintais das casas.
Existem diferentes tipos de fossas. [...] Aqui em São Francisco do Paraguaçu, a fossa
mais construída é a fossa negra, que é um buraco cavado no chão e cercado por
tijolos espaçados que recebe o esgoto da casa inteira. [...] Como essa fossa é
permeável o esgoto é absorvido pela terra e pode contaminar o ambiente
prejudicando a saúde dos moradores (Trecho do vídeo “As fossas usadas em São
Francisco do Paraguaçu”, produzido por Clarissa”).
Considero que ter a colaboração dos comunitários na produção dos vídeos dos estudantes
foi um ponto alto. As pessoas entrevistadas eram figuras conhecidas por todo o povoado e agora
tínhamos a oportunidade de relacionar seus conhecimentos com os conhecimentos científicos
que estávamos trabalhando. Para Aikenhead (2009), um currículo CTS baseado em
cruzamentos culturais – que faça relação entre a subcultura da ciência e a subcultura do mundo
do estudante – auxiliará os educandos a enriquecer as subculturas dos seus universos
particulares, ensinando-os de modo que reflitam sobre a ciência em situações concretas, como
por exemplo na formulação de uma visão própria sobre uma problemática social ou na
compreensão da sua comunidade face à crescente influência da ciência e tecnologia.
155
Sentamos juntos em diferentes momentos para gravação das locuções – uma parte
bastante difícil, pois era necessário simplificar cada vez mais os textos para que os estudantes
tivessem condições de gravá-los – e posteriormente para a edição do material gravado.
Combinamos horários diferentes para cada um. Foi extremamente cansativo e trabalhoso, e foi
também rodeado de reclamações da parte deles, que apesar de terem potencial de se envolver
em atividades que exijam muito tempo e esforço, não deixam que isso passe despercebido em
seus comentários.
Mesmo assim, Calebe, Clarissa e Leide concluíram seus vídeos no tempo previsto.
Joaquim preferiu não dar continuidade à atividade. A finalização da atividade no cronograma
foi marcada por um encontro no qual assistimos aos três vídeos produzidos e discutimos as
produções uns com os outros, para que os conhecimentos construídos pudessem ser
compartilhados.
Quando o processo dos vídeos estava concluído, consegui refletir ainda mais sobre como
apesar das dificuldades, Calebe, Clarissa e Leide não hesitaram em terminar seus audiovisuais.
Aqui comecei a compreender que possivelmente as suas reclamações estavam diretamente
ligadas às suas dificuldades em realizar uma atividade com uma prática e um objetivo diferentes
do que estavam acostumados, e ao decidirem continuar executando-a, eles escolheram vencer
essas adversidades.
Como educomunicadora, apesar de estar por um lado muito receosa de que a saída de
mais um estudante – Joaquim – fosse culpa minha, fiquei satisfeita por vê-los lidar com os
desafios e concluir mais esta fase da AJN. Fui a responsável por propor a atividade de
construção do vídeo, mas a escolha de permanecer nela e finalizar as suas etapas foi de cada
um deles. A respeito deste tipo de situação, Kaplún (1987, p. 183) afirma que “el próprio sujeto
es el que tiene que hacer su proceso de cambio; nosotros, en cuanto educadores-comunicadores,
solo podemos estimularlo e acompañarlo en él”. Essa ideia é reforçada por Freire (2018b):
Não é difícil compreender, assim, como uma de minhas tarefas centrais como
educador progressista seja apoiar o educando para que ele mesmo vença suas
dificuldades na compreensão ou na inteligência do objeto e para que sua curiosidade,
compensada e gratificada pelo êxito da compreensão alcançada, seja mantida e, assim,
estimulada a continuar a busca permanente que o processo de conhecer implica
(FREIRE, 2018b, p. 116).
156
Os vídeos foram carregados no Canal do YouTube EducomBahia43 e também inscritos
no 10º Encontro de Jovens Cientistas, na categoria Jovens Repórteres Científicos.
Quadro 7 – Vídeos produzidos na Oficina de Vídeos
REPÓRTER VÍDEO PRODUZIDO
CALEBE O Rio Paraguaçu está sofrendo em São Francisco
CLARISSA As fossas usadas em São Francisco do Paraguaçu
LEIDE São Francisco do Paraguaçu está na Baía do Iguape
Fonte: Elaboração da autora.
8.1.3.4 As Atividades Surpresa
No cronograma da AJN, as segundas-feiras à noite eram sempre reservadas para uma
ação que chamei de Atividade Surpresa (Figura 46). Exceto quando havia algum imprevisto
significativo na semana, conseguíamos realizar a Atividade Surpresa sem maiores problemas.
O objetivo era realizar alguma ação que envolvesse conhecer a história da comunidade e
aproximá-los da sua cultura. Chamei de “surpresa” porque a ideia era não contar qual era a
atividade e dar sempre um ar de curiosidade e manter o interesse deles em continuar indo à
AJN. A atividade sempre envolvia, ao final, algum vencedor, que levava um prêmio44.
A primeira Atividade Surpresa foi um quiz baseado no livro São Francisco do
Paraguaçu: História e Cultura de um Povo Esquecido. Em virtude de já conhecer o grupo e
saber que não gostava de leitura, comecei do seguinte modo: elaborei 10 perguntas sobre o
primeiro capítulo45 e 10 sobre o segundo46. Em seguida, fiz uma leitura interpretativa, cheia de
trejeitos, e logo depois as perguntas. Aquele que batesse primeiro em sua cadeira tinha o direito
de responder. Waleska e Letícia47 me ajudaram nessa dinâmica. Nesse dia, Calebe e Vicente,
um convidado, empataram e levaram o prêmio, que foram trouxinhas de chocolates e
guloseimas. Considerei um bom envolvimento com a história da comunidade.
43 Youtube.com/educombahia.
44 A compra dos prêmios foi um investimento pessoal e doações. 45 Capítulo 1: Falando sobre o Rio Paraguaçu. 46 Capítulo 2: O distrito de São Francisco do Paraguaçu. 47 Moradora da comunidade que se colocou à disposição para ajudar nas ações quando necessário.
157
Figura 47 – Registro de uma das Atividades Surpresa
Foto: Arquivo Pessoal, 2019
Outra Atividade Surpresa foi uma sessão cinema com o filme “O menino que descobriu
o vento”, com direito a pipoca e luzes apagadas. Por ter muitos pontos correspondentes com a
nossa realidade da AJN – o fato do filme se passar numa comunidade rural, de ter a ver com
água, de ter a ver com ciências, de ter a ver com o uso de poucos recursos para estudar -, resolvi
trazê-lo para que os jovens enxergassem essas semelhanças e como nos colocar diante das
oportunidades pode ajudar a modificar o curso de algumas dificuldades.
Filme baseado em fatos reais, conta a história de William Kamkwamba, um garoto
que mora com sua família em uma aldeia pobre em Malawi. O lugar é devastado pela
seca. (...) Por conta do terreno arenoso onde vivem, é muito difícil fazer qualquer tipo
de plantação – a não ser em épocas específicas. (...) William vai para a escola com os
poucos recursos que seus pais conseguem juntar. Dessa forma, esperam que ele, que
sempre foi muito inteligente, possa se formar e ter um futuro melhor. No entanto,
durante seus estudos, William acredita ter encontrado uma forma de ajudar a
população da aldeia com uma ideia que parece surreal: construir uma estação de
energia eólica usando apenas o ferro velho disponível. (...) A escola acaba mudando
sua forma de ver as coisas, mesmo que antes disso ele já fosse um menino interessado
em eletrônica, usando seu tempo livre para consertar rádios e caçar peças no ferro-
velho para seus experimentos. Sua ideia revolucionou a região, que até hoje usufrui
dela (INTERPRETE.ME, 2019).
158
Após o filme, fizemos um quiz relacionado a partes específicas do longa-metragem.
Tendo em vista que o filme era relativamente longo, e para deixar todos na expectativa,
apresentei o prêmio antes de começar a exibição: tratava-se de um headphone. O objetivo era
estimulá-los a ficar até o final da atividade. Leide foi a vencedora desta segunda atividade.
A última Atividade Surpresa foi realizada na última semana de atividades da AJN, e os
antigos integrantes, que se desligaram, foram convidados e comparecer. Em virtude de ter mais
estudantes dessa vez, organizei prêmios de participação além do prêmio do vencedor.
Assistimos ao documentário “O Gigante Paraguaçu”:
O gigante Paraguaçu, produzido pela TV Bahia (...) celebra a força, a beleza e a cultura
ribeirinha às margens do Rio Paraguaçu, desde a sua foz, na Baía de Todos os Santos, até a
nascente, no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Com cerca de 600km de
extensão, o Paraguaçu é o maior rio genuinamente baiano (REDE BAHIA, 2019).
Após o documentário, dei um papel e um lápis a cada um e fui fazendo as perguntas. Cada
um deveria responder no seu papel, no tempo determinado. Ao final, Leide novamente ganhou
o prêmio da semana – um carregador para celular – e todos os outros ganharam prêmios de
participação.
Desde o início pensei em realizar um momento como o das atividades surpresa porque já
conhecia o meu grupo. Sabia que apesar de existir o livro sobre a comunidade, eles não tinham
lido. E uma vez que trabalharíamos o tema água voltado à comunidade, precisávamos nos
aproximar dela ao máximo também em conhecimento histórico. Pensei que isso poderia ajudá-
los a ter uma perspectiva sistêmica do lugar – o fato da comunidade de São Francisco ser tão
importante para a história do povo brasileiro e ser banhada por um rio tão importante como o
Paraguaçu. Muito além disso, que como jovens eles pudessem se enxergar enquanto atores
sociais integrantes desse sistema e responsáveis por ele.
A respeito das habilidades e conhecimentos a serem desenvolvidos a partir de uma
educação CTS, estão incluídos, segundo Mortimer (2002), a responsabilidade social, o
exercício da cidadania e o interesse em atuar em questões sociais. Em relação ao
desenvolvimento de valores, estes estão vinculados aos interesses coletivos, a exemplo da
consciência do compromisso social.
159
8.1.3.5 “Esse trabalho vai ser bom para quem?” - A apresentação final
Chegamos ao final de toda a atividade da AJN com três estudantes. Analisando o processo
inteiro, considero que foi bem-sucedido. Iniciamos recrutando uma comunidade, numa escola
de quase 130 alunos, tivemos inicialmente 16 inscritos, oito iniciaram as atividades, três
concluíram todas as oficinas e dois participaram da apresentação final, uma delas já aos nove
meses de gravidez, sem ter desistido de participar em nenhum momento.
Para o dia de apresentação final à Escola, escolhemos um trabalho produzido por cada
um, montamos uma apresentação de slides juntos e ensaiamos. Essa preparação foi um
momento muito significativo, pois como educomunicadora percebi o quanto tínhamos
caminhado até ali e o quanto de conhecimento aqueles três estudantes tinham construído com
seus esforços e sua disposição em lidar com as dificuldades e concluir cada fase da AJN. Era o
momento de mostrar apenas um dos seus produtos, porque eles tinham construído tanto até ali
que não daria tempo de levarmos tudo à apresentação final.
Até aquele dia nós realmente vivenciamos a educação com ênfase no processo. Kaplún
(1987) defendia que esse modelo apresenta uma “troca de atitudes”, que consiste em
transformar um homem acrítico num homem crítico, no processo em que ele passa do seu estado
passivo até a vontade de assumir o seu destino humano. Aprende-se de verdade o que se vive,
recria ou reinventa, não simplesmente o que se lê ou escuta. Somente quando há processo, há
aprendizado. A finalidade do modelo de educação com ênfase no processo é fazer com que o
sujeito pense, e que esse pensar o leve a transformar a sua realidade.
Calebe não participou da apresentação porque disse ter vergonha de falar em público. Foi
feito todo um esforço para que superasse essa insegurança, mas não conseguimos convencê-lo.
Fiz convites individuais (Figuras 47 e 48) para distribuir aos pais dos estudantes, aos moradores
da comunidade que ajudaram em todo o processo e aos antigos jovens que participaram da AJN.
160
Figuras 48 e 49 – Convites nominais para a apresentação final da AJN distribuídos pessoalmente e via
WhatsApp para pais, colaboradores, antigos estudantes e moradores.
47 48
Fonte: Elaboração da autora.
Estiveram presentes Seu Afonso, Jurandir, os pais de Leide e a mãe de Clarissa, além de
parte dos professores e a gestora da EESFP. A professora Rejâne Lira também estava presente.
Infelizmente, a adesão da comunidade foi muito baixa e nenhum dos outros estudantes que
fizeram parte da AJN compareceu.
Comecei a apresentação explicando o que era a AJN: as atividades nos meses anteriores,
os resultados alcançados, os aprendizados sobre os processos envolvendo água e esgoto na
comunidade e assistimos aos vídeos produzidos. Mostrei o Jornal Salinha Verde pronto, com
as matérias jornalísticas e fotos reunidas. Depois de tudo isso, cada uma das jovens fez a sua
apresentação. Leide apresentou “Podemos usar a água da chuva para fazer tudo?” e Clarissa
“Por que a água chega às vezes amarelada e às vezes esbranquiçada na minha comunidade?”
(Figuras 50, 51, 52 e 53).
161
Figuras 50, 51, 52 e 53 – Apresentação final dos trabalhos produzidos na AJN
50 51
52 53
Fotos: Arquivo Pessoal, 2019
Após as apresentações, seguiram-se pronunciamentos a respeito da atividade e discussões
sobre as temáticas, com o envolvimento de alguns dos presentes.
Isso é muito bom para que os nossos jovens, a nossa comunidade, possa ter uma outra
visão de mundo e não se prendam simplesmente a WhatsApp. (...) Além do WhatsApp,
que é o que eles mais se preocupam, tem muitas coisas interessantes que podem
desenvolver o conhecimento de cada um deles. (Edna, diretora) Eu queria parabenizar vocês duas que chegaram até aqui. Leide tinha muitas
possibilidades de desistir. A gente observa que quando a gente vem trazer projetos e
trabalhos pra cá, não tem adesão principalmente das pessoas daqui da escola. Por
exemplo, nós não tivemos os filhos de professores nesse projeto, não tivemos netos,
sobrinhos... Então quando a gente não incentiva que os nossos filhos, nossos netos e
nossos sobrinhos participem, esse trabalho vai ser bom para quem? Então, antes de
mais nada, os professores que moram aqui em São Francisco que tem filhos e netos,
que estudam na escola ou não estudam, os funcionários da Escola, seria muito
importante que a gente tivesse adesão de vocês, porque sem os pais dando esse
incentivo a gente não tem como fazer um trabalho, não é? (Rejâne, orientadora)
O modo como a diretora expressa sua opinião a respeito do uso que os estudantes fazem
do WhatsApp é comum no ambiente escolar, visto que atualmente, quando em sala de aula, os
educadores precisam disputar a atenção dos educandos com as tecnologias as quais estes fazem
uso. Mas a escola é justamente um espaço privilegiado para ressignificar essa relação, seja em
162
atividades de educação formal ou não-formal. Do ponto de vista de uma prática
educomunicativa, seja qual for a ferramenta tecnológica que esteja ao alcance de todos, o uso
que se escolhe fazer delas pode favorecer a ampliação de diálogos sociais e educativos.
Para Soares (2011), não há mais espaço para confrontos entre comunicação e suas
tecnologias de um lado e educação e suas didáticas de outro. O universo da comunicação hoje
já é um mundo de cultura que não pode ser reduzido a um conjunto de ferramentas e por isso a
necessidade latente é de que os educadores tenham a oportunidade de ser formados para
dominar as linguagens produzidas socialmente na construção da cultura contemporânea.
[...] o uso fluente e especializado dos recursos de comunicação tem modificado alguns
conceitos de aprendizagem, dando destaque a uma dinâmica em que o estudante
demonstra maior autonomia para a experimentação, o improviso e a autoexpressão.
Nesse sentido, a tecnologia se torna, igualmente, uma aliada do educador interessado
em sintonizar-se com o novo contexto cultural vivido pela juventude (SOARES, 2011,
p. 29).
De fato, foi real a falta que sentimos de mais estudantes se envolvendo no trabalho da
AJN, sobretudo sabendo que muitos educandos eram das famílias dos professores e estes
docentes conheciam o trabalho em execução. Ainda assim, deixamos as portas abertas na escola
para futuros projetos e tínhamos pensado em uma nova edição da AJN. No entanto, após os três
meses de realização da atividade, os planos mudaram e não foi possível manter a ideia dessa
continuidade para aquele momento ou para o ano seguinte, como havia sido pensado
inicialmente no cronograma.
Os motivos da não continuidade da AJN eram nítidos: foi um projeto pensado como
experimental, mas não como piloto para iniciativas posteriores. Primeiro porque não
trabalhamos na formação de professores para mantê-lo, mas na produção de materiais com
estudantes para investigar a Educomunicação como prática. Nesse aspecto apenas eu estava à
frente enquanto educomunicadora. Não havia outros educomunicadores para dar continuidade
à proposta.
Segundo porque o envolvimento da escola e dos educadores durante o processo foi
tímido. Isso aconteceu por dois motivos: de um lado porque o cronograma estruturado por nós
não pressupunha a presença deles em um turno da AJN, tendo em vista que não era uma
atividade piloto da escola, não era uma atividade remunerada, não fazia parte da pedagogia de
projetos no PPP da EESFP e os docentes tinham outras atividades no horário em que não
163
estavam em suas atividades formais de ensino na escola. Possivelmente não insistir ou repensar
neste envolvimento maior do corpo docente foi uma das maiores falhas da nossa proposta.
Por outro lado, mesmo sabendo da existência do projeto em andamento, apesar de haver
apoio no que era necessário – estrutura física, recursos materiais possíveis – não havia uma
curiosidade dos docentes e da direção para saber do andamento do projeto e quais atividades
estavam sendo desenvolvidas de fato. É possível que uma atividade com tão poucos estudantes,
num horário oposto e sem valor curricular fosse a menor das prioridades numa agenda de tantos
afazeres necessários à direção e corpo docente escolar.
De acordo com Soares [20--, p. 4], muitos projetos educomunicativos realmente acabam
se perdendo em meio às estruturas da educação tradicional e suas burocracias, que prejudica a
continuidade dessas iniciativas, quando não as elimina definitivamente. Ainda assim, visto que
esse é um resultado que só aparece porque houve uma tentativa de mudança, é necessário
continuar: “[...] há que perseverar, pois transformações no âmbito da cultura podem demandar
anos, ou dezenas deles, em alguns casos”.
Embora os trabalhos submetidos no 10º Encontro de Jovens Cientistas tenham sido
aprovados, a EESFP não conseguiu recursos junto à prefeitura para levá-los ao evento. Os
trabalhos foram apenas exibidos no Encontro, mas não puderam participar do Prêmio Jovem na
Ciência por serem desclassificados pelo critério de “ausência dos apresentadores”.
8.1.4 As principais dificuldades
8.1.4.1 “O que você está ganhando com isso?” - Desistências e Permanências
As desistências foram uma das principais dificuldades encontradas ao longo do processo
da AJN. Iniciar com oito estudantes e terminar com três trouxe à tona uma série de questões. A
primeira desistência, de Noemi, partiu da sua mãe, um problema relacionado ao comportamento
da adolescente, que acabou reverberando na sua participação no projeto. Por telefone, a mãe
me explicou que, por questões de desobediência e falta de confiança na estudante, ela não
poderia sair nos turnos opostos às atividades escolares para participar da AJN. Não pude me
responsabilizar por isso, embora tenha falado com ela sobre os benefícios que a atividade
poderia oferecer.
164
As outras desistências ocorreram ao longo das atividades e não tinham nenhuma
justificativa específica que não fosse a falta de vontade de continuar participando. Foi assim
com Marina, Naira, Damião e Joaquim, mesmo depois de terem construído bons trabalhos:
Estava legal. Eu não quero ir mesmo, é só isso. Não estava nada ruim (Damião)
Não vou mais não. Não tem motivo. (Joaquim)
Não houve nada, só não quero mais participar (Marina)
Não quero fazer mais as atividades (Naira)
Esse era um fator extremamente desmotivador para mim, como organizadora da
atividade. Fiz um grande esforço para compreender por que todas essas desistências
aconteceram, e depois de uma reflexão, cheguei a uma conclusão que me parece justificável:
não é simples superar a cultura do silêncio e imergir num processo que requer mobilização. A
prática educomunicativa tem suas bases na pedagogia freireana, que crê numa reinvenção da
sociedade através da vocação do ser humano em “ser mais”. Essa reinvenção é justamente a
superação de uma “cultura do silêncio” na qual os indivíduos não são vistos como sujeitos
históricos. Do ponto de vista educomunicativo, significa rever os conceitos tradicionais de
comunicação e substituí-los por relações francas, abertas, para socializar. No entanto, romper
as relações tradicionais não é um exercício fácil e é preciso muito mais de uma tentativa para
fazer isso dar certo (AULER, 2006; SOARES, 20--).
Por outro lado, os que permaneciam me conferiam motivo suficiente para continuar.
Calebe, com suas dificuldades cognitivas e com grande esforço para realizar as atividades, não
pensou em desistir. Leide começou o processo aos seis meses de gravidez e finalizou aos nove
meses. Seu bebê nasceu uma semana depois da apresentação final das atividades. Ela se
manteve firme em todas as fases.
Clarissa, por sua vez, enfrentava desafios em casa: seu pai, de um lado, dizia que ela
tinha que ficar fazendo as coisas da casa, e não ficar perdendo tempo indo para escola “fazendo
coisas de Ufba”. Por outro lado, o namorado perguntava “o que você está ganhando com isso?”.
Ele não gostava da presença dela nas atividades, pois tomava o tempo que poderia estar com
ele. Para lidar com tudo, Clarissa tinha o apoio da sua mãe, que a incentivou a ir até o final do
processo. Para cumprir isso, se desdobrava para deixar as coisas prontas para ajudar sua mãe
em casa e não dar tantos motivos para seu pai reclamar.
165
Os atrasos e faltas também eram uma constante. A rotina é algo muito difícil de ser
estabelecido com a juventude franciscana. Combinar que era necessário cumprir o horário e
justificar quando não fosse possível comparecer foi uma espécie de luta durante os quase três
meses de AJN. Em um dos dias de atividade, parte dos estudantes solicitou que começássemos
as atividades mais tarde – elas iniciavam às 8h no período da manhã. Quando perguntei os
motivos, para tentar compreender, eles argumentaram: “Eu odeio acordar cedo!”, “A gente já
faz atividade da escola, ainda tem que acordar cedo pra vir pra cá!”, “Eu acordo 10h, não
gosto de acordar 8h não!”.
8.1.4.2 – “Não houve confiança!” - Pedagogia sem autonomia?
No cronograma, as atividades foram programadas para acontecer uma semana comigo e
uma semana em minha ausência, com a presença do subeditor. Isso aconteceu no primeiro mês
de AJN, antes que os imprevistos modificassem o calendário inicialmente organizado. Existia
uma intencionalidade nesta programação: ela deixava os jovens responsáveis pela atividade e
era necessária a presença deles na EESFP nos horários em que a escola não tinha atividades
formais. No entanto, a minha ausência acarretou uma série de acontecimentos.
O primeiro teve a ver com a cozinha da escola, que ficava aberta para que os jovens
pudessem fazer um lanche na hora do intervalo. Embora tenhamos feito um acordo de deixar
tudo exatamente limpo como antes ao terminar de usar, possivelmente, num desses usos alguém
pode ter deixado coisas fora do lugar ou sem lavar. Recebi uma mensagem de voz da diretora
no meu celular:
Bom dia Mari! Desculpa estar te incomodando logo cedo com um assunto meio chato.
O que tá acontecendo: esses alunos estão com certas atitudes que eu sei que você não
concorda e nem tampouco autoriza para tal. (...) recebi algumas reclamações dos
funcionários e da cozinha que os alunos estavam indo, entrando na cozinha, abrindo
armário, remexendo armário e aí os vigilantes chamaram atenção e eles não
gostaram. (Edna, Diretora)
Combinamos que a partir daquele acontecimento, quando eu estivesse ausente, os lanches
seriam deixados no armário da Agência para evitar ir à cozinha da escola. Depois, numa
reflexão mais profunda do processo, talvez essa não tenha sido a melhor decisão. O ideal seria
que usassem a cozinha novamente na minha ausência, mas que tivessem o cuidado que era
necessário ter. No entanto, talvez fossem necessárias várias tentativas até terem a atitude
desejável. Tendo em vista que várias tentativas só são bem-sucedidas quando existe toda a
166
instituição trabalhando no mesmo ritmo para um objetivo, eu não conseguiria mediar o trabalho
de produção educomunicativa na AJN e ao mesmo tempo os processos comportamentais da
relação dos jovens com o espaço.
Fazendo uma relação entre esse acontecimento e a concretização de uma prática
educomunicativa, é possível visualizar que à medida que vai se configurando real, um
ecossistema comunicativo encontra alguns obstáculos a serem transpostos, como afirma Soares
(2011):
Existem obstáculos que têm de ser enfrentados e vencidos. O obstáculo maior é, na
verdade, a resistência às mudanças nos processos de relacionamento no interior de
boa parte dos ambientes educativos, reforçada, por outro lado, pelo modelo disponível
da comunicação vigente, que prioriza, de igual forma, a mesma perspectiva
hegemonicamente verticalista na relação entre emissor e receptor (SOARES, 2011, p.
37).
A outra situação foi relacionada à senha do Wi-Fi, que nos foi cedida para que todos os
jovens da AJN pudessem conectar seus celulares à internet e desenvolver seus trabalhos.
Combinamos que apenas os que não estudavam na escola conectariam os celulares, por um
pedido da direção, e eu mesma fiz as conexões, sem precisar repassar a eles a senha. Mesmo
tendo feito tudo como solicitado pela gestão, recebi uma mensagem no meu celular:
Outra situação é a questão do Wi-Fi. Você me pediu para colocar a senha no celular
dos alunos que não estudavam aqui na escola para poder fazer um trabalho. Só que
é o seguinte: essa senha foi vazada e a escola inteira está com a senha. Os alunos
acessando através dessa senha. Eu já vou hoje trocar essa senha e estou te
comunicando porque se eles disserem a você que não tiveram como fazer o trabalho
porque não tá com a senha é porque não houve confiança! Não houve confiança deles
quanto a você. Não sei como eles rastrearam essa senha e passaram para os outros,
então eu vou trocar a senha da escola e estou te comunicando para isso. (Edna,
Diretora)
Expliquei à diretora por que achava pouco provável que isso tenha se originado na AJN.
Naquele momento nós já tínhamos construído uma relação de confiança e eu estava certa de
que meus jovens não teriam feito aquilo porque não precisavam fazer. Conversei com os
estudantes e eles confirmaram firmemente a minha suposição, inclusive explicando que era
muito simples para qualquer aluno da escola ter acesso à senha do Wi-Fi e que os alunos da
escola geralmente conheciam o procedimento para conseguir fazer isso. A postura da escola foi
mudar a senha, pois o acesso de todos os estudantes estava prejudicando a atenção às aulas.
167
Finalmente, essa questão foi resolvida na semana seguinte, quando a escola descobriu, por
relatos de alunos, que um estudante tinha conseguido o acesso à senha do Wi-Fi.
Esses acontecimentos me suscitaram muitas reflexões. É extremamente difícil criar na
escola um ambiente autônomo. A escola, nos seus moldes, não está preparada para atividades
que entregam autonomia para o estudante, pois quando isso acontece, vê nele o potencial
culpado de qualquer problema que aconteça. Por outro lado, muitos estudantes também não
sabem como usar e valorizar a sua autonomia. Quando a tem, é mais provável que a direcionem
para atividades que mais beneficiam a si próprios do que a coletividade. Apesar do resultado
complicado, a tentativa foi feita. Este é, de acordo com Soares [20--, p. 1] um dos objetivos da
Educomunicação ao criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos:
“criar e rever as relações de comunicação na escola, entre direção, professores e alunos, bem
como da escola para com a comunidade, criando sempre ambientes abertos e democráticos”.
8.1.4.3 – Contratempos e Falhas
Uma parte do cronograma da AJN foi reajustado em virtude das inseguranças que o
povoado de São Francisco do Paraguaçu estava vivendo por causa do tráfico de drogas. Em
pelo menos três oportunidades fomos alertados a mudar de lugar ou adiar a atividade para
ficarmos seguros ou simplesmente porque não havia clima para realização de nenhuma ação.
Logo no início das atividades, foi preciso ajustar o calendário e adiar uma das oficinas
porque um membro da comunidade tinha sido morto de forma “encomendada” por causa do
tráfico. A pessoa era parente direto de um aluno da EESFP, e por essa razão a instituição ficaria
fechada por alguns dias. A orientação da gestão foi continuarmos as atividades em outra
semana:
Olha Mari, eu acho que é o mais correto no momento porque o clima aqui tá muito
tenso, muito apreensivo. (...) Então o mais viável é você fazer isso, dar esse recesso
essa semana porque a gente só vai para a escola segunda-feira. E garanto a você: de
noite não tem um pé de pessoa na rua! Se agora de dia tá tudo fechado, fechou tudo
porque estavam passeando de arma no punho aqui. (Edna, diretora)
Em outra situação, com uma Atividade Surpresa já programada para a noite, fomos
avisados de que pessoas envolvidas no tráfico de drogas tinham chegado ao povoado de canoa.
Por causa do clima de insegurança, foi necessário ajustar o cronograma e realizar a atividade
168
no outro dia. Essa era uma realidade vivida com constância pela comunidade, e quando éramos
alertados a fazer ajustes na programação, eu concordava.
Não posso deixar de fazer menção a dois aspectos que considero como tendo sido falhas
nessa intervenção. A circulação da informação apurada e organizada é parte essencial da lógica
de produção dos meios de comunicação. Mario Kaplún (2001) descreve como condição
essencial do processo de comunicação educativa a difusão das produções dos estudantes:
Al comienzo, son los niños redactores - el grupo matriz - los que comparten e
intercambian sus producciones. Luego, el producto colectivo es llevado por ellos a sus
casas y empieza a ser leído por los padres, los hermanos y los familiares de los niños.
Al cabo de un certo tiempo, aquel medio de comunicación escolar ha ensanchado su
ámbito y circula entre los vecinos del pueblo, cuyos aportes de saber también
incorpora. Finalmente, su circuito comunicacional se expande y entra en contacto con
remotos comunicantes: es leído en lejanas escuelas de otras regiones del país, las que
lo retribuyen enviando a su vez sus propios textos y estableciendo un intercambio de
saberes a distancia (KAPLÚN, 2001, p. 41).
Uma das nossas falhas foi não ter estruturado melhor a divulgação das produções dos
jovens – o Jornal Salinha Verde e os vídeos. A nossa divulgação do Jornal ficou restrita à
apresentação na escola, à exposição do jornal no mural da escola e à postagem no blog da Sala
Verde da Ufba. Posteriormente, levamos o Jornal a eventos como o 10º Encontro de Jovens
Cientistas, no qual foi apresentada sua proposta e feito um estímulo para que as pessoas o
lessem. As matérias produzidas também foram ao ar no Instagram da AJN. Os vídeos, por sua
vez, foram ao canal do youtube além de serem apresentados na escola.
Acredito que seria ainda melhor caso tivéssemos montado um esquema de divulgação
que ajudasse esses materiais a terem sido espalhado pelas mídias sociais como o WhatsApp pela
comunidade, e tentado angariar recursos para imprimir e distribuir o Jornal nas casas do
povoado. No entanto, isso não foi feito por dois motivos principais: os ajustes de cronograma
ocorridos na AJN e o fato de estar sozinha no controle da atividade foram obstáculos para que
eu pudesse pensar num processo mais bem estruturado de circulação da produção levando em
conta a realidade da comunidade.
Outro ponto que considero tendo sido falha da proposta executada tem a ver com um
aspecto apresentado por Mortimer (2002) como sendo importante a um currículo CTS: apontar
o caráter provisório e incerto das teorias científicas para que, ao avaliar as aplicações da ciência,
os estudantes pudessem perceber que existem opiniões questionáveis entre especialistas. Isso
169
os ajudaria a ter uma visão mais integral de cada questão que se relaciona com a ciência e terão
mais facilidade em analisar diferentes alternativas para a resolução de um problema.
No caso da nossa pesquisa, investigamos as temáticas a que nos propomos e
respondemos a muitas perguntas a partir deste trabalho de apuração. No entanto, não tivemos
tempo suficiente e, como educomunicadora, não refleti em tempo hábil a necessidade de
questionar ou colocar em xeque as informações que agora tínhamos apurado, para exercermos
a criticidade de forma ainda mais profunda. Porém, para realizar isso, seguramente eu
necessitaria de mais tempo de intervenção e o apoio dos docentes, tendo em vista a minha
limitação relativa a não formação em ciências.
De todo modo, refletir as falhas está no centro do exercício do ser professor de acordo
com Paulo Freire (2018b, p. 70), o que também pode se aplicar à figura de um educomunicador:
“assumindo minhas limitações, acompanhadas sempre do esforço por superá-las, limitações que
não procuro esconder em nome mesmo do respeito que me tenho e aos educandos”.
8.1.4.4 – “Eu me senti sozinha” - Nossas limitações como professores
Um dos objetivos de ter os professores como apoiadores nas atividades da AJN era poder
contar com eles no desenvolvimento dos materiais de comunicação. Como pedagoga, não
possuo os conhecimentos em ciências necessários para responder muitas das perguntas
surgidas. Desenvolver as temáticas em torno da água necessitaria de conhecimentos específicos
que esperávamos poder extrair dos professores, muito além das pesquisas em livros e na
internet. No entanto, percebi que, assim como eu, os professores da EESFP também tinham
suas limitações, muitas delas relacionadas, como a minha, à formação não específica nas áreas
das ciências.
Presenciamos a primeira dificuldade na produção da matéria jornalística de Calebe.
Pedimos ao professor de Ciências que nos ajudasse a responder à pergunta do estudante, que
era “Por que quando fervia água, as panelas de alumínio dos moradores de São Francisco
estavam ficando pretas?”. A entrevista presencial acabou não dando certo, mas ele deixou um
papel escrito com sua resposta, o que considerei muito bom e prático.
Ocorre que o texto deixado pelo professor era a cópia exata de um texto encontrado num
fórum de perguntas e respostas de uma página na internet. Para contornar a situação, entrei em
contato com um amigo técnico em processos químicos e, por chamada de áudio, ele nos
explicou o processo que envolve o escurecimento do alumínio. Juntamos com as informações
170
que tínhamos e construímos o texto de Calebe. Relatei no meu diário de pesquisa como me
senti:
Eu me senti sozinha, no meio de um conhecimento que eu não tinha domínio, lidando
com informações que eu não tinha certeza se eram verdadeiras, com o objetivo de
adaptá-las para um texto de um estudante que eu queria que aprendesse algo sobre
ciências a partir de um fato do seu cotidiano. Eu queria muito contar com os
professores da escola, e que informações importantes pudessem vir deles, e quando
isso aconteceu, foi essa a perspectiva que eu vi ser abalada. (APÊNDICE D, p. 43)
A segunda situação que enfrentamos foi na produção do vídeo de Leide. Nele,
precisávamos explicar a localização de São Francisco do Paraguaçu na Baía do Iguape e
explicar a diferença entre baía e bacia. Para nos ajudar com isso, chamamos o professor de
geografia, que é, na verdade, pedagogo e estudante de educação física. O professor, que aceitou
dar a entrevista, respondeu: “Bahia sabemos que é nosso estado e bacia é um monte de terra,
muitas vezes cercado de água”.
No momento não pude interferir, porque achei que se o fizesse, poderia interferir no
resultado do trabalho. Mas eu esperava – de forma presunçosa, talvez – que como professor de
geografia, ele soubesse que estávamos falando de baía no sentido da definição geográfica do
termo, uma vez que explicamos a ele o objetivo do vídeo e por ser morador do Iguape.
Depois de explicar essa primeira definição, ele pediu um tempo para melhorar a
resposta. Procurou a definição no google, foi até a sua sala de aula, escreveu no quadro a
resposta que achou e pediu aos alunos da sua turma que o ajudassem a decorar aquela resposta
escrita. Quando se sentiu seguro para falar sem consultar, voltou e pediu para regravar. Dessa
vez, explicou a diferença entre baía e bacia com a primeira resposta que tinha achado no site de
busca, e foi essa a entrevista que deu ao vídeo de Leide.
Momento parecido também passamos na produção do vídeo de Joaquim, que embora não
tenha ficado pronto, teve parte dos seus materiais produzidos. Pedimos à professora de
geografia da turma de Joaquim que nos desse uma entrevista falando sobre “Por que São
Francisco do Paraguaçu tem tantas fontes de água?”. Ela nos respondeu “Acredito que a
comunidade tenha muitas fontes de água devido à quantidade de reservatórios subterrâneos
que existe, devido às chuvas que passam pelos poros das rochas e aí acontece o derretimento
das geleiras”.
171
No momento em que tudo isso ocorreu, levei a situação como se nada estivesse
acontecendo, embora estivesse me sentindo perdida. Não foi logo que eu consegui refletir que
aqueles professores estavam fazendo o melhor que podiam diante da situação. Depois de alguns
dias, das conversas com minha orientadora e de algumas reflexões pessoais, entendi que este é
um problema que começa muito longe dali.
Aqueles professores ensinavam disciplinas para os quais não estavam formados e isso
se refere a uma cadeia de problemas que têm origem na gestão do sistema educacional
brasileiro. Esses problemas acabam, em algum momento, chegando em comunidades como São
Francisco do Paraguaçu. Se tais docentes não estivessem dando aulas ao Ensino Fundamental
II, talvez aqueles estudantes ficassem sem professores por muito tempo.
Paulo Freire (2018b) defendia que umas das condições necessárias a pensar certo é não
estarmos demasiado certos de nossas certezas. E essa certamente foi uma atitude desses três
docentes ao aceitarem o desafio de nos ajudar na atividade, mesmo não sabendo exatamente as
respostas que dariam. Para o autor, quando um educador não sabe algo e assim assume, tem o
crédito de não ter mentido sobre isso, e isso gera confiança.
Por outro lado, não posso deixar de trazer à tona que a situação é preocupante, sobretudo
a respeito de quais maneiras o ensino de ciências tem sido trabalhado em escolas com esse tipo
de problema. Não é exagero presumir que essa educação científica esteja provavelmente quase
por completo arraigada ao livro didático, sem fazer correlações com a subculturas do cotidiano
e da comunidade estudantil, sendo por consequência disso, impossível criticizar o mundo ao
redor e saber o que fazer para agir em sua transformação.
Freire (2018b) reconhece ser tarefa do professor se preparar ao máximo para não
precisar afirmar repetidamente aos seus alunos que não sabe de algo. O que visualizamos no
caso de São Francisco do Paraguaçu é que o próprio sistema educacional coloca esses
professores numa situação complexa: é preciso se preparar duas vezes mais, com menos
recursos, para dar conta desta empreitada.
8.1.4.5 “Essa é da ruim!” - Pedagogia da recompensa ou educação tradicional?
Ao planejar as atividades, eu já tinha determinado que as Atividades Surpresa seriam
atividades premiadas. No entanto, com o passar das semanas, ao ver a dificuldade e o desânimo
dos estudantes para a leitura e para o estabelecimento de uma rotina, as desistências gradativas
172
e de ter a sensação de que talvez a AJN acabasse muito antes do previsto, precisei usar
estratégias que pelo menos ajudassem a mantê-los animados.
A partir da Oficina de Fotografia com Celular, que precisou ser adiada por conta da
situação de insegurança da comunidade, eu presumi que os jovens precisariam de um estímulo
para retomar o ritmo das atividades. Então institui o Desafio das Duas Semanas: durante uma
semana eles trabalhariam na foto relacionada ao primeiro texto e na segunda semana,
trabalhariam na segunda foto e texto. Cada atividade que era concluída tinha uma quantidade
de pontos específica. Aquele que alcançasse a maior pontuação era o vencedor do prêmio.
Eu enfatizava que os prêmios eram bons e úteis para tentar mantê-los envolvidos na
atividade. Neste desafio o prêmio foi uma mochila. Houve empate na pontuação do placar e por
sorteio entre os empatados, Clarissa levou o prêmio. Os demais ganharam prêmios de segundo
e terceiro lugares (levei também alguns materiais que poderiam ser prêmios de segundo e
terceiro lugares – copos e garrafas coloridas para água).
A Oficina de Vídeos seguiu a mesma linha. Inicialmente, era o Desafio dos Dois Vídeos,
mas acabou se tornando o desafio de um único vídeo, dados os ajustes que tivemos que fazer.
Nesse caso, adicionei as postagens do Instagram como pontos extras. O vencedor seria aquele
com melhor placar. O prêmio da semana foi uma pequena caixa de som bluetooth, e eles, como
sempre, criticavam os prêmios: “Ah, é isso é?”, “Essa caixa aí não presta, é da ruim!”. Mesmo
assim gostavam da ideia de ganhar. Neste desafio, Leide levou a melhor e ficou com o prêmio.
Em muitos momentos tive dúvida – e ainda continuo - se estimular a competitividade (e
aqui uma competitividade saudável, pois não houve nada predatório) fugia de algum modo da
minha proposta de trabalhar com uma educação libertadora. Pensei em estar promovendo uma
espécie de pedagogia da recompensa. No entanto, para o contexto que se apresentava, da falta
de motivação dos estudantes, era necessário pensar estratégias de estímulo. Além disso, o
sistema de pontos às vezes não parecia nada diferente do que vemos na educação tradicional,
embora estivéssemos num contexto totalmente diferente.
Quando precisei reajustar o processo e inserir esta estratégia, reconheci a dinâmica não
estanque de um processo educomunicativo e das necessidades de organizar as demandas de
acordo com o grupo com o qual se trabalha. Quando refletia sobre suas ações de comunicação
popular, Kaplún (1987, p. 262-263) constatava que nunca era algo definitivo e acabado. Pelo
contrário, estava sempre em permanente e dinâmico processo de mudança e reformulação: “(...)
173
en comunicación popular, todo es y será siempre provisório (...) que, en la confrontación con
nuevas prácticas y nuevas experiencias, éstas lo vayan modificando y enriqueciendo”.
O discurso de “bom para sua vida” e “bom para a comunidade” ainda não tinha efeito
sobre esses jovens. O que percebi durante o processo foi que falar sobre os pontos do placar
estava mantendo-os mais animados. Além disso, para mim fazia diferença quando eles
mostravam alegria ao receber os prêmios de vencedor e de participação, mesmo porque esses
prêmios vieram, em parte, de um investimento pessoal que não foi insignificante.
A reflexão profunda acerca de toda a prática transcorrida ascendeu múltiplos olhares
sobre cada uma das fases da intervenção pedagógica, desde a observação participante até as
conversas e o dia a dia vivido na AJN com os estudantes. O que parecia a mais bem organizada
e definida das práticas mostrou, por um lado, fragilidades em muitos aspectos, mas por outros,
abriu perspectivas nunca antes vividas com aquela juventude.
174
CONCLUSÃO
A análise desta pesquisa contempla muitas questões que estão imbricadas. Muito além
dos produtos gerados, essas considerações incidem sobre o processo realizado.
A população franciscana está diante de muitas questões a respeito da água em sua
comunidade. O ponto central que esta pesquisa conseguiu constatar é que existe uma tensão
entre dois discursos opostos sobre o assunto. De um lado está a ideia de que a água das fontes
não é só de valor histórico, mas também religioso, e que essa água é melhor para beber do que
a água tratada pela Embasa, a qual acreditam não receber o tratamento adequado. De outro lado,
existe a visão de que a água dessas fontes é suja e não pode ser consumida, e não há uma
valorização histórica desses mananciais.
Os conflitos que pairam sobre essa realidade de uma parte têm a ver com uma
desvalorização do seu próprio processo histórico, e de outra, estão relacionados com o não
atendimento das demandas que o povoado tem. Essas visões opostas expressam dois lados de
um mesmo objetivo: o desejo de obter água suficiente e com qualidade para o consumo, sendo
respeitadas as devidas relevâncias históricas, territoriais ou religiosas desses mananciais. Não
há interlocuções ainda efetivas para estabelecer soluções em comum e reduzir os embates
latentes.
A juventude do povoado revela em seu comportamento a ordem social estabelecida em
São Francisco da não confiança na água tratada. Percebemos inicialmente que apesar de
impasses tão aflorados sobre água dentro do lugarejo, grande parte da juventude franciscana
ainda entendia de maneira superficial como essas questões incidem sobre o local e
consequentemente sobre suas próprias vidas. Esses adolescentes interpretam essas
problemáticas levando em conta os seus próprios contextos de vida dentro de São Francisco do
Paraguaçu.
Diante desse quadro social de São Francisco e da sua juventude, pensamos que trabalhar
conhecimentos científicos imbricados às vivências dos jovens pudesse fazer com que tais
saberes fossem considerados para pensar soluções efetivas à comunidade e ajudar os jovens
num exercício ainda mais importante: o reconhecimento da sua própria responsabilidade frente
a tais problemas, tanto para reconhecer-se em parte como causador, quanto para tentar resolvê-
los.
O ambiente foi um convite para trabalhar com a Educomunicação e a prática mostrou, de
maneira geral, ganhos significativos e um resultado promissor. Pesquisar sobre a própria
175
realidade que parecia tão alheia, desfazer percepções não condizentes com os acontecimentos
da comunidade, construir sua própria visão do problema, se sensibilizar com a situação do
povoado e agir sobre ele. Toda a atividade exigiu que os estudantes assim fizessem, mostrando
que o paradigma educomunicativo foi, nesse caso, direcionado ao educando e ao seu processo
cultural, operou de forma transformadora e voltado para a ação.
A construção de conhecimentos na Agência Jovem de Notícias foi processual e bastante
trabalhosa. Houve uma produção significativa por parte dos estudantes que participaram, que
compartilharam uns com os outros conhecimentos específicos que tinham construído sobre
água dentro da sua própria comunidade. Essas construções e partilhas desfizeram mal-
entendidos, elucidaram dúvidas e explicaram processos.
As potencialidades da Educomunicação ao trabalhar com conhecimentos científicos sobre
água com os jovens franciscanos foram muitas e bem específicas. Essas potencialidades se
ajustaram completamente aos princípios de uma educação CTS: menor valorização a um
processo de ensino de memorização e mais importância à formação de atitudes diante das
questões enfrentadas pelo povoado em relação ao assunto; abordagem com uma temática que
povoa o cotidiano dos educandos como membros daquele lugarejo, conhecedores dos seus
etnométodos e regras implícitas, ao contrário de uma perspectiva totalmente alheia a eles; Além
disso, um processo participativo em sua totalidade, com espaço para a expressão daquela
juventude, expressão também das suas dificuldades em passar por ele.
O potencial de uma prática educomunicativa para conhecimentos científicos parece
aumentar ainda mais quando as temáticas escolhidas estão relacionadas ao cotidiano dos
estudantes. O processo trouxe à tona várias dificuldades dos educandos – em leitura, escrita,
interpretação ou em analisar criticamente as situações – mas essas dificuldades foram sendo
solucionadas dentro das possibilidades de cada um. O fato de as temáticas se referirem a uma
realidade familiar foi fundamental para que esses jovens entendessem que era possível
continuar a atividade apesar disso.
Por outro lado, a AJN também foi fundamental para demonstrar as dificuldades da
realização de um trabalho desta magnitude. Apesar dos trabalhos anteriormente realizados na
comunidade e do apoio da instituição escolar para a execução da AJN, o projeto foi recebido
de forma tímida, com pouca adesão de estudantes e ligeira participação docente, fato último de
responsabilidade nossa e da Escola. Isso nos levou a depreender que antes de iniciar uma
intervenção educomunicativa que trabalhe conhecimentos científicos, a participação docente
precisa ficar bem definida entre as duas partes do processo, para que os assuntos sejam
176
abordados de forma sistêmica e os debates em cima das informações investigadas possam
também acontecer.
Como um campo de intervenção e pesquisa, a Educomunicação conseguiu mostrar neste
trabalho a fragilidade do sistema educacional ao qual estão vinculados os educadores: ao tempo
em que precisam lecionar componentes nos quais não são formados, esses professores precisam
trabalhar de forma aumentada para dar conta da sua dupla função: atender à demanda dos
estudantes pelos conhecimentos e preparar-se para os assuntos os quais não têm a formação
para ensinar. Esse é um aspecto que merece bastante atenção no planejamento de uma prática
educomunicativa que envolva o trabalho com conhecimentos científicos. O educomunicador,
se não tiver o apoio do professor de ciências, estará sozinho e poderá continuar a postergar
equívocos conceituais ou visões deturpadas da ciência que hoje ainda fazem parte da seara da
educação científica.
A instituição escolar ainda possui dificuldade de abraçar iniciativas que estimulem a
autonomia e independência do estudante dentro do seu espaço, mesmo que essas iniciativas
sejam feitas numa perspectiva não-formal. Apesar das dificuldades encontradas nesse aspecto,
consideramos que a continuidade de intervenções dessa natureza, envolvendo de forma mais
intensa o quadro docente e de funcionários da instituição, pode criar ecossistemas
comunicativos mais abertos em outras atividades da escola.
Consideramos que o fato de uma prática educomunicativa ir de encontro aos modelos
tradicionais de comunicação praticados no ambiente escolar foi um aspecto que contribuiu para
as desistências dos estudantes no decorrer da atividade e para a não manutenção do projeto.
Romper a cultura do silêncio em detrimento de um modelo participativo que requer ação e
tomada de decisão, sobretudo em ciência e tecnologia, não é um exercício fácil de planejar,
executar e nem de passar por ele como participante. Por sua vez, a continuidade de projetos que
desestruturam a cultura do silêncio requer várias tentativas e acreditamos que a AJN deixou um
espaço para novas realizações.
No caso desta intervenção pedagógica, não levamos em conta o fato de termos apenas
recursos limitados à disposição. Em muitos momentos os equipamentos utilizados eram meus
e da Ufba, o que levanta uma questão importante: ao planejar uma prática educomunicativa que
necessite de algumas TICs, talvez seja necessário que o educomunicador use seus próprios
recursos. Nesse sentido, caberá a ele refletir, em termos da sua consciência, sobre fazê-lo ou
não. Isso porque fazê-lo pode significar para ele o reforço de um sistema que obriga os docentes
177
a usar seus materiais próprios por não lhes dar acesso a ferramentas suficientes para realizar seu
trabalho. A decisão de não aceitar isso também deve ser respeitada.
Diante de todas essas reflexões, é impossível ignorar os avanços dessa intervenção
pedagógica, tanto pelos aspectos citados, como também pelo constante movimento de
valorização da autoestima e estímulo da motivação da juventude franciscana, dois elementos
de caráter escasso. Embora ainda muito se precise fazer e discutir, espera-se, após esta análise,
que uma intervenção pedagógica educomunicativa esteja sugerida como uma nova forma de
trabalhar ciências com jovens de comunidades, trazendo os conhecimentos o mais perto
possível das suas realidades. A educação científica libertadora se faz por este caminho, com
ênfase no processo, ajudando a juventude na compreensão da realidade que o cerca e no
processo de sua transformação através de ações bem refletidas.
178
REFERÊNCIAS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 2021.
Disponível em: https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/atuacao-
embasa/abastecimento-de-agua. Acesso em 22 mai 2021.
AGÊNCIA JOVEM. Instagram. Disponível em: http://instagram.com/agenciajovem. Acesso
em: 30 de mar. 2021.
ÁGUA. Nações Unidas - Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental. Disponível
em: https://unric.org/pt/agua/. Acesso em: 04 jun. 2021.
AGUIAR, P. Notas para uma história do jornalismo de agências. VII Encontro Nacional de
História da Mídia – mídia alternativa e alternativas midiáticas. 19 a 21 de agosto de 2009,
Fortaleza, CE. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-
nacionais/7o-encontro-2009-
1/Notas%20para%20uma%20Historia%20do%20Jornalismo%20de%20Agencias.pdf. Acesso
em 30 de mar. 2021.
AGUIAR, P. O modelo Hugenberg: conglomerado de mídias e agências de notícias brasileiras.
In: Indústria da comunicação no Brasil: dinâmicas da academia e do mercado. Sônia
Virgínia Moreira (Org.). Rio de Janeiro: UERJ; São Paulo: INTERCOM, 2015. p. 169-188.
AGUIAR, P. Agências de notícias, Estado e desenvolvimento: modelos adotados nos países
BRICS. Brazilian Journalism Research, v. 12, n. 1, 2016. p. 34-59.
AIKENHEAD, G. S. Educação Científica para todos. Portugal: Edições Pedago, 2009.
ANA. A questão da água no Nordeste. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Agência
Nacional de Águas. Brasília, DF: CGEE, 2012.
ANA. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores. Agência Nacional de Águas.
Brasília: ANA, 2019.
ARAÚJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2007.
AS FOSSAS usadas em São Francisco. Coordenação: Rejâne Lira e Edilma Costa. Direção:
Mariana Sebastião. Produção e Roteiro: Camile Lima. São Francisco do Paraguaçu: 2019.
2min26seg, Canal EducomBahia Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=1Pi7QLsHugk&ab_channel=EducomBahia. Acesso em
31 de mai 2021.
AULER, D.; DELIZOICOV, D. Educação CTS: Articulação entre pressupostos do educador
Paulo Freire e referenciais ligados ao movimento CTS. In: LÓPES, A. B.; PEINADO, V-B.;
LÓPES, M. J.; RUZ, M. T. P. (Org.). Las Relaciones CTS en la Educación Científica.
Málaga: Editora da Universidade de Málaga, 2006. p. 01-07.
AULER, D. Articulação entre pressupostos do educador Paulo Freire e do Movimento CTS:
novos caminos para a educação em ciencias. Contexto & Educação. Ano 22, n. 77, ja./jun.
2007. p. 167-188.
BAHIA. Território de Identidade: Recôncavo - Perfil Sintético. Secretaria de
Desenvolvimento Rural: Governo do Estado da Bahia, 2015.
179
BANDEIRA, F. S. F. Construindo uma epistemologia do conhecimento tradicional: problemas
e perspectivas. In: Encontro Baiano de Etnobiologia e Etnoecologia, 1., 2001, Feira de Santana.
Anais... Feira de Santana: UEFS, 2001. p. 109-133.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Edições 70 Persona: Lisboa, 1977.
BAUER, M. W. GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual
prático. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
BIZZO, N. Ciências: Fácil ou Difícil? São Paulo: Ática, 2002.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base. Ministério da Educação,
2018.
BORTOLIERO, S. Mario Kaplún: a recepção como cidadania na América Latina. Revista
Comunicação & Sociedade. São Bernardo do Campo: Metodista, 1996. Ano 25. p. 183-208.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 abr. 2021.
BRASIL. Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 1997. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 04 jun. 2021.
BRASIL, 2011. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os padrões de
potabilidade da água. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2011. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html. Acesso em 23
mai 2021.
BRASIL. Relatório Nacional PISA 2012: resultados brasileiros. Fundação Santillana, 2013a.
64 p.
BRASIL. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação
dos profissionais da educação e dar outras providências. 2013a. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 05 abr. 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12796.htm#art1. Acesso em: 28 mai 2021.
BRASIL. Brasil no PISA 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos estudantes
brasileiros. Fundação Santillana, 2016. 272 p.
BRASIL. Brasil no PISA 2018. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, 2020. 185 p.
BRASIL. Esc Est 1 G S Francisco Do Paraguacu. INEP. IDEB. 2021a. Disponível em:
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/29162718. Acesso em: 27 de maio de
2021.
BRASIL. Censo da Educação Básica 2020 - Resumo Técnico. Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília: DF, 2021b.
CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do ensino das ciências. 3ª Ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
180
CALDAS, G. Mídia, Educação Científica e Cidadania: a experiências das revistas Eureca e
ABC das Águas. In: Divulgação Científica e Práticas Educativas. Gisnaldo Amorim Pinto
(Org.). Curitiba: Editora CRV, 2010. p. 149-166.
CARVALHO, M. C. B. O conhecimento da vida cotidiana: base necessária à prática social. In:
NETTO, J. P. Cotidiano: conhecimento e crítica. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 13-63.
CATALÃO, V. M. L.; MORAES, J. R. Ecopedagogia: na confluência da bacia hidrográfica
com a bacia pedagógica. NUPEAT-IESA-UFG, v. 1, n. 1, jan./jun. 2011, p. 36-44.
CHASSOT, A. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4ª edição. Ijuí:
Editora Unijuí, 2006.
CHASSOT, A. Sete escritos sobre educação e ciência. São Paulo: Cortez, 2008.
CITELLI, A. O. Educomunicação: em torno dos diálogos culturais. XIII Congreso
Internacional Ibercom: Comunicación, Cultura e Esferas de Poder, 2013, Santiago de
Compostela. Actas [...]. Disponível em:
http://www.ibercom2013.com/revision/ActasXIIICongresoIBERCOM.pdf. Acesso em 30 mar.
2021.
COGO, D. Da comunicação rural aos estudos de audiência: influências da obra de Paulo Freire
no ensino e na pesquisa em comunicação social. Rastros Revista do Núcleo de Estudos Em
Comunicação, Joinville, v. 1, n. 1, 1999. p. 29-36.
COULON, A. Etnometodologia. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes,
1995.
COULON, A. Etnometodologia e Educação. São Paulo: Cortez, 2017.
COULON, A. Aula 9 – A Reflexividade. Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle
UFBA. MedB77 Tópicos em Saúde, Ambiente e Trabalho. 2020. Disponível em:
https://www.moodle.ufba.br/pluginfile.php/834298/mod_resource/content/1/Slides%20Aula%
209.pdf. Acesso em 30 mar. 2021.
DECLARAÇÃO Universal dos Direitos da Água. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos.
Rio de Janeiro, março de 1992. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-universal-dos-
direitos-da-agua.html. Acesso em 30 mar. 2021.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
DE PAULA JÚNIOR, F. Cooperação pela água em bacias hidrográficas: olhares sobre o
território, os saberes e os comitês. In: Água e cooperação: reflexões, experiências e alianças
em favor da vida. Sérgio Ribeiro, Vera Catalão, Bené Fonteles (Orgs.). Brasília: Ararazul,
Organização para a Paz Mundial, 2014. p. 41-49.
DIAS, W. B. F. A incorporação da educomunicação como mediadora na aprendizagem de
ciências. 2014. 49 f. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências) – Universidade
Federal Tecnológica do Paraná, 2014.
DRUCK, S. Educação científica no Brasil: uma urgência. In: Ensino de Ciências e
Desenvolvimento: o que pensam os cientistas. Jorge Werthein e Célio da Cunha (org.).
Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, 2009. p. 233-240.
181
EMBASA. Sistema de Abastecimento de Água da Localidade São Francisco do
Paraguaçu. Relatório Anual de Informação ao Consumidor - RAIC. Ficha de Atualização
2019. Empresa Baiana de Águas e Saneamento. Disponível em:
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/relatorio-anual-para-
informacao-ao-consumidor/category/116-2019?start=340. Acesso em 30 mar. 2021.
EMBRAPA. Água e Saneamento: Contribuições da Embrapa. Brasília, DF: EMBRAPA,
2018.
ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU. Projeto
Político Pedagógico 2017.doc. São Francisco do Paraguaçu, 2017. 1 arquivo. Word for
Windows 97-2003.
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 2021.
Disponível em: https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/atuacao-
embasa/esgotamento-sanitario. Acesso em 30 mar. 2021.
FAÇANHA, A.; PORTELA, A. G. N. Educomunicação científica: interseções entre rádio,
popularização das ciências e cidadania. Estudos Interdisciplinares em Educação. V. 1, n. 7,
2020. p. 58-67.
FARIA, I. Projetos de Vida e Juventude: Um Diálogo entre a Escola, o Trabalho e o “Mundo”.
(Uma Experiência de Etnopesquisa no Vale do Iguape). 2006. 177 f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, 2006.
FERRARI, A. C. Guia da Educação Midiática. Ana Claudia Ferrari, Mariana Ochs, Daniela
Machado (Orgs.) 1. ed. São Paulo: Instituto Palavra Aberta, 2020.
FERREIRA, L. C.; BOAVENTURA, K.; MOREIRA, H. Agência de notícias UniCEUB:
experiência extensionista de jornalismo universitário. Extensão Universitária. Renta Innecco
Bittencourt de Carvalho (Org.). Brasília: UniCEUB, 2016. p. 45-57.
FERST, E. M. A Abordagem CTS no Ensino de Ciências Naturais: Possibilidades de Inserção
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. EDUCAmazônia, Humaitá, v. 11, n. 2, p. 276-299,
jul./dez. 2013.
FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 7ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
FREIRE, P. Educação e mudança. 38ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018a.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 57ª ed. Rio
de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018b.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 66ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018c.
FRIEDRICH, N. M. Água: alimento para a vida, para a alma. In: Água e cooperação:
reflexões, experiências e alianças em favor da vida. Sérgio Ribeiro, Vera Catalão, Bené
Fonteles (Orgs.). Brasília: Ararazul, Organização para a Paz Mundial, 2014. p. 147-152.
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Certificação quilombola. Disponível em:
http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551. Acesso em 17 maio de 2021.
GAIA, R. V. A escola como espaço de reflexão midiática forjando cidadãos críticos. In:
Educomídia, alavanca da cidadania: o legado utópico de Mario Kaplún. José Marques de
182
Melo et al (Org.). São Bernardo do Campo: Cátedra UNESCO: Universidade Metodista de São
Paulo, 2006. p. 123 a 131.
GARCIA, A. G. São Francisco do Paraguaçu: História e Cultura de um Povo Esquecido.
Salvador, BA: Vento Leste, 2018.
GARCIA, A. G. São Francisco do Paraguaçu já foi um grande polo econômico. Instagram
Agência Jovem. 2 mar. 2021. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CL6yyQ-jcVq/.
Acesso em 31 mar 2021.
GARFINKEL, H. Estudos em Etnometodologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.
GENZ, F. Avaliação dos efeitos da Barragem Pedra do Cavalo sobre a circulação estuarina
do Rio Paraguaçu e Baía de Iguape. 2006. 245 f. Tese (Doutorado em Geologia). Instituto de
Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.
GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas
escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., 14 (50), 2006. p. 27-38.
GOMES, R. Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: Pesquisa Social:
Teoria, Método e Criatividade. Maria Cecília de Souza Minayo (Org). 28 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009.
GUERRA, D. M. J. Ciências e educação popular comunitária: outros saberes,
apropriações outras. Salvador: EDUFBA, 2012.
IBGE. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da Federação com data de
referência em 1º de julho de 2014. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2014a.
Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/
estimativa_dou_2014.pdf>. Acesso em 11 mai. 2021.
INCRA. Relatório Antropológico Quilombo São Francisco do Paraguaçu. Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária: Superintendência Regional da Bahia – SR 05, 2007.
Disponível em: http://www.observabaia.ufba.br/wp-content/uploads/RTID.-Comunidade-
Quilombola-de-S%C3%A3o-Francisco-do-Paragua%C3%A7u.-Relat%C3%B3rio-
Antropol%C3%B3gico.pdf. Acesso em 11 mai. 2021.
INCT. O que os jovens brasileiros pensam de ciência e tecnologia. Rio de Janeiro:
Fiocruz/COC; INCT-CPCT, 2021. 225 p.
O MENINO que descobriu o vento. Interprete.me. 1 mar 2019. Disponível em:
https://interprete.me/o-menino-que-descobriu-o-vento-netflix/. Acesso em: 31 mai. 2021.
JABOATAM, A. S. M. Nove Orbe Seráfico Brasílico, ou Chronica dos Frades Menores da
Província do Brasil. Parte Segunda. Instituto Histórico e Geografico da Bahia: 1859.
JESUS, M. F. C.; MORAIS, J. O. R. Políticas públicas para revitalização de bacias
hidrográficas. In: Semeando águas no Paraguaçu. Ivana Lamas, Luciana Santa Rita, Rogério
Mucugê Miranda (Org). Rio de Janeiro: Conservação Internacional Brasil, 2016. p. 34-47.
KAPLÚN, M. A la educación por la comunicación: la práctica de la comunicación
educativa. 2. Ed. Quito, Ecuador: Ediciones Ciespal, 2001.
KAPLÚN, M. El Comunicador Popular. Buenos Aires: Humanitas, 1987.
183
KRASILCHIK, M. Ensino de ciências: um ponto de partida para a inclusão. In: WERTHEIN,
J.; CUNHA, C. (Org.). Educação científica e desenvolvimento: o que pensam os cientistas.
Brasília: Unesco; Instituto Sangari, 2005. p. 169-173.
LIRA-DA-SILVA, R. M.; SEBASTIÃO, M. R.; ALCANTARA, M.; BORTOLIERO, S. T. A
produção de vídeos educativos sobre ciências com estudantes de licenciaturas: os professores
comunicam. Enseñanza de Las Ciencias, v. Extraordin, 2017, p. 1845-1849.
LOPES, A.R.C. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999.
LUBISCO, N. M. L.; VIEIRA, S. C.; SANTANA, I. V. Manual de estilo acadêmico:
monografias, dissertações e teses. 6ª edição revista e ampliada. Salvador: EDUFBA, 2019.
MANZINI, E. J. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. Seminário
Internacional sobre Pesquisa e Estudos Qualitativos. Anais. Bauru: USC, 2004, v. 1. p. 01-
10.
MAPA de artes de pesca e aparelhos fixos do Estaleiro Paraguaçu. SEI: Base Cartográfica do
Estado da Bahia, 2009. 1 mapa, col., Escala 1:600.000.
MARANDINO, M. Faz sentido ainda propor a separação entre os termos formal, não-formal e
informal? Ciênc. Educ., Bauru, v. 23, n. 4, 2017. p. 811-816.
MÁRQUES, F. T.; TALARICO, B. S. L. U. Da comunicação popular à educomunicação:
reflexões no campo da “educação como cultura”. Atos de Pesquisa em Educação. Blumenau
– vol. 11, n. 2, ago./nov. 2016, p.422-443.
MARTINS JÚNIOR, E. Filmes de cidadania: problematizando o ensino de ciências por
meio da educomunicação. 2011. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) -
Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
MARTÍN-BARBERO, J. Desafios culturais da comunicação à educação. Comunicação &
Educação. São Paulo, [18], maio/ago. 2000. p. 51-61.
MINAYO, M. C. S. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e descoberta.
Minayo, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28 ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2009. p. 61-78.
MOSER, A. S. et al. A emergência climática no ensino de Ciências: os saberes necessários para
uma proposta de trabalho pedagógico por meio da educomunicação científica. Revista
Iberoamericana de Educación. Vol. 87 núm. 1, 2021. p. 155-171.
OECD. About. 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/about/. Acesso em 13 set 2021.
ONU BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6. 2021. Disponível em
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6. Acesso e 04 jun. 2021.
O RIO Paraguaçu está sofrendo em São Francisco. Coordenação: Rejâne Lira e Edilma Costa.
Direção: Mariana Sebastião. Produção e Roteiro: Caio Carvalho de Jesus. São Francisco do
Paraguaçu: 2019. 1min25seg, Canal EducomBahia Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=yhOf-JhXJ_U&ab_channel=EducomBahia. Acesso em:
31 mar 2021.
PERUZZO, C. M. K. Direito à Comunicação Comunitária, participação popular e cidadania.
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, ano II, n. 3, jul-dez. 2005, p. 18-
41.
184
PIRES, D. Década Internacional da Água 2018-2028. Instituto Livres. 18 de mar de 2020.
Disponível em: https://institutolivres.org.br/decada-internacional-da-agua-2018-
2028/#:~:text=A%20Assembleia%20Geral%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es,22%20de%2
0mar%C3%A7o%20de%202028. Acesso e 04 jun. 2021.
PORTO-GONÇALVES, C.W. O Desafio Ambiental. In: SADER, Emir (Org.) Os porquês da
desordem mundial. Mestres explicam a globalização. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Record,
2011.
POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento
cotidiano ao conhecimento científico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
QUILOMBO de São Francisco luta por seus direitos e contra preconceito, violência e práticas
coronelistas. ENSP Fiocruz, 23 jun. 2014. Disponível em:
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ba-quilombo-sao-francisco-do-paraguacu-luta-
por-seus-direitos-e-contra-preconceito-violencia-e-praticas-coronelistas/. Acesso em 17 maio
de 2021.
RIBEIRO, S. A. A transdisciplinaridade como caminho para a cooperação para a água. Água e
cooperação: reflexões, experiências e alianças em favor da vida. Sérgio Ribeiro, Vera
Catalão, Bené Fonteles (org.); Brasília: Ararazul, Organização para a Paz Mundial, 2014. p. 55-
60.
RIBEIRO, F. P. Paulo Freire na comunicação e os meios de “comunicados”. Revista Rizoma,
v. 1, n. 2, dez. 2013. p. 78-92.
RIVA, G.R.S. Água, um direito humano. São Paulo: Paulinas, 2016.
ROITMAN, I. Educação científica: quanto mais cedo, melhor. Brasília: RITLA, 2007.
ROMA, J. C. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e sua transição para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Cienc. Cult. vol.71 n.1 São Paulo, Jan./Mar. 2019. p. 33-39.
SANTOS, W.L.P. MORTIMER, E. F. Uma análise dos pressupostos teóricos da abordagem
CTS no contexto da educação brasileira. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências. Vol.
02, n. 02, dez. 2002. p. 1-23.
SÃO FRANCISCO do Paraguaçu está na Baía do Iguape. Coordenação: Rejâne Lira e Edilma
Costa. Direção: Mariana Sebastião. Produção e Roteiro: Maria Luiza Sacramento Sanches. São
Francisco do Paraguaçu: 2019. 1min24seg, Canal EducomBahia Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=h6xVkoV_NdA&t=25s&ab_channel=EducomBahia.
Acesso em: 31 mar 2021.
SCHNEIDER, N. H. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) promovendo o
processo educacional. In: Digitalização e práticas sociais. Valério Cruz Brittos (Org.). Rio
Grande do Sul: Editora Unisinos, 2009. p. 195 - 212.
SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem
C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ensaio. v. 2, n.
2, Dez, 2000. p. 1-23.
SHIVA, V. Guerras por água: privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros,
2006.
SMITH, M. K. What is non-formal education? 1996. Disponível em: <http://www.infed.
org/biblio/b-nonfor.htm>. Acesso em: 30 mar. 2021.
185
SOARES, I. O. Educomunicação: um campo de mediações. Revista Comunicação &
Educação. São Paulo: Editora Moderna. Edição 19, set/dez 2000. p. 12-24.
SOARES, I. O. Educomunicação e a formação de professores no século XXI. Revista FGV
Online. V. 4, n. 1, 2014. p. 19-34.
SOARES, I. O. A ECA/USP e a Educomunicação: a consolidação de um conceito, em dezoito
anos de trabalho. Comunicação & Educação. n. 2. Ano XII, mai/ago 2007. p. 7-12.
SOARES, I. O. Educomunicação e terceiro entorno: diálogos com Galimberti, Echeverría e
Martín Barbero. Comunicação & Educação. n. 3. Ano XV, set/dez 2010. p. 57-66.
SOARES, I. O. Educomunicação – o conceito, o profissional, a aplicação: contribuições para
a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas, 2011.
SOARES, I. O. A educomunicação como um campo de intervenção social e de investigação
acadêmica. Revista Mídia e Cotidiano. Número 7, nov. 2015. p. 203-209.
SOARES, I. O. Educomunicação, paradigma indispensável à renovação curricular no ensino
básico no Brasil. Comunicação & Educação. Ano XXIII, n. 1, jan./jun. 2018. p. 7-24.
SOARES, I. O. Mas afinal, o que é educomunicação? NCE USP. [20--]. Disponível em:
http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais/textos/. Acesso em 04 jun 2021.
SOARES, I. O. Um campo emergente de intervenção social. Futura. [20--]. Disponível em:
https://silo.tips/download/um-campo-emergente-de-intervenao-social. Acesso em 04 jun 2021.
SOARES, I. O. Uma educomunicação para a cidadania. NCE USP. [20--]. Disponível em:
http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais/textos/. Acesso em 04 jun 2021.
SNSA. Abastecimento de água: qualidade da água e padrões de potabilidade. Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental. [20?]. Disponível em: http://www.crea-
mg.org.br/images/cartilhas/Qualidade-da-agua-e-padroes-de-potabilidade.pdf. Acesso em 31
mai 2021.
STEIN, S. T. Educomunicação: uma proposta para o ensino de ciências. 2011. 117f.
Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências na Amazônia). Escola Normal
Superior, Universidade do Estado do Amazonas, 2011.
TEDESCO, J. C. Formação científica para todos. In: Ensino de Ciências e Desenvolvimento:
o que pensam os cientistas. Jorge Werthein e Célio da Cunha (org.). Brasília: UNESCO,
Instituto Sangari, 2009. p. 161-172.
TV BAHIA apresenta programa especial sobre o rio Paraguaçu. Rede Bahia. 04 jun 2019.
Disponível em: https://redeglobo.globo.com/redebahia/noticia/tv-bahia-apresenta-programa-
especial-sobre-o-rio-paraguacu.ghtml. Acesso em 31 mai 2021.
UNESCO. Declaração sobre a ciência e o uso do conhecimento científico. Versão adotada
pela Conferência Budapeste. 1999. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000111.pdf. Acesso em 30 mar. 2021.
UNESCO. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Biblioteca Digital
UNESCODOC. 2017. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252197.
Acesso em: 30 mar. 2021.
USOS DA ÁGUA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 2021. Disponível em:
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/usos-da-agua. Acesso em 04 jun.
2021.
186
VARGAS, R. La Cultura del Agua – lecciones de la América Indígena. Montevideo:
UNESCO, 2006.
WAISELFISZ, J. J. O ensino das ciências no Brasil e o Pisa. 1ª ed. São Paulo: Sangari do
Brasil, 2009.
ZAGATTO, B. P. Sobreposições territoriais no Recôncavo Baiano: a Reserva Extrativista Baía
do Iguape, territórios quilombolas e pesqueiros e o Polo Industrial Naval. Ruris, v. 7, n. 2,
2013. p. 14-32.
ZANCAN, G. T. Educação científica: uma prioridade nacional. São Paulo em Perspectiva, 14
(1), 2000, p. 3-7.
189
APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas semiestruturadas
Entrevistado: Calebe, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019; Entrevista 2: Feita em agosto de 2019
M - VOCÊ ESTÁ COM QUANTOS ANOS HOJE?
C – 16.
M - VOCÊ ESTÁ EM QUE SÉRIE HOJE?
C – 7º ano.
M - QUAL NOME DA SUA RUA AQUI?
C - ?
M -QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ LÁ?
C - Eu, minha mãe, meu pai e duas irmãs.
M - O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA?
C - Espero que as atividades sirvam pra gente.
M – PRONTO. ME DIGA UMA COISA CAIO, VOCÊ PODE ME DESCREVER COMO É O SEU DIA DA HORA
QUE VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA QUE VOCÊ VAI DORMIR? QUANDO ACORDO FAÇO ISSO E ISSO...
C - Quando acordo assisto jornal da manhã, da globo, tomo café me arrumo vou pra escola.
M - CONTINUE ATÉ O FIM DO DIA...
C – Volto, tomo banho, almoço e durmo. Depois acordo, toma café e tomo banho.
M – PRONTO, TERMINOU. NO SEU DIA-A-DIA E DAS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ EM QUAIS
ATIVIDADES VOCÊS USAM ÁGUA?
C – A gente usa água pra tomar banho, lavar prato, roupa, casa, lavar os alimentos, verduras, etc.
M – PRONTO. PRA ESSAS ATIVIDADES QUE VOCÊ ME FALOU A ÁGUA CHEGA NA CASA DE VOCÊS OU
TEM QUE IR BUSCAR EM ALGUM LUGAR?
C - A água chega.
M – PRONTO. E ESSA ÁGUA QUE CHEGA NA SUA CASA, NA SUA OPINIÃO, VOCÊ ACHA QUE ESSA
ÁGUA É LIMPA?
C – Não.
M - POR QUE VOCÊ NÃO ACHA QUE ELA É LIMPA?
C - porque vem com muito cloro.
M – CERTO. ANTES DE USAR A ÁGUA PRA FAZER AS COISAS QUE VOCÊ ME FALOU, VOCÊS FAZEM
ALGUM TRATAMENTO COM ELA?
C – Não, porque já vem tratada.
190
M – PRONTO. E A ÁGUA QUE VOCÊS USAM PRA BEBER VOCÊS PEGAM AONDE? E ESSA MESMA?
C - É
M - VOCÊ BEBE DIRETO, BOTA NO FILTRO OU FAZ ALGUMA COISA?
C - Direto do tanque, ai filtra e agente bebe.
M - ENTÃO VOCÊ TEM UM FILTRO EM CASA?
C - Não no tanque???
M - AH ENTENDI, AÍ VOCÊ BEBE ENTÃO DEPOIS. DE ONDE VOCÊ ACHA QUE VEM A ÁGUA QUE
ABASTECE AS CASAS AQUI DE SÃO FRANCISCO?
C - Do rio Catu.
M – PRONTO. E VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE QUE FORMA É QUE ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA NAS
CASAS?
C – Sim, pela embasa.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA, O QUE VOCÊ SABERIA FALAR?
C - A gente não sabe, porque a embasa não explica a região como é feito o tratamento da água.
M - BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA OU NO QUE VOCÊ SABE AQUI EM SÃO FRANCISCO TEM
PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELAS CASAS?
C - Tem. Tem várias pessoas que vão buscar água, não tem água porque a embasa ainda não fez a
inscrição.
M - E ESSAS PESSOAS FAZEM O QUE NO CASO?
C - Pega na fonte bem longe da comunidade.
M - E ESSAS PESSOAS GERALMENTE MORAM ONDE ASSIM?
C - Vários lugares.
M – CERTO. E VOCÊ SABERIA ME DIZER LUGARES ONDE ALGUÉM PODE BUSCAR ÁGUA EM SÃO
FRANCISCO?
C - Na bica, antigamente? urubu, Catônio. Tem vários lugares pela fonte.
M - AINDA DÁ PARA PEGAR ÁGUA NESSES LUGARES?
C - Hoje tá poluído, o pessoal jogando lixo um bocado de coisas poluiu.
M - NÃO DÁ MAIS PARA PEGAR ÁGUA NESSES LUGARES?
C - Os animais mijam, cagam aí não tem como mais pegar.
M - NÃO TEM MAIS COMO?
C - É
M - ENTÃO NA SUA OPINIÃO A ÁGUA DESSES LUGARES NÃO DÁ MAIS PRA BEBER?
C - Não, tá tudo poluído, quem vai beber?
191
M – CERTO. QUAL É A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAGUAÇU AQUI PRA SUA CIDADE?
C - A importância que a água seja limpa e tratada definitivamente.
M - E VENHA CÁ, O RIO PARAGUAÇU TEM ENFRENTADO ALGUM PROBLEMA NA SUA OPINIÃO?
C - É porque o povo joga esgoto um bocado de coisas aí a água vem suja.
M - NA SUA OPINIÃO, QUAIS SERIAM AS CAUSAS DESSE PROBLEMAS? QUEM É QUE CAUSA ESSES
PROBLEMAS?
C - A população.
M – CERTO. COMO É QUE VOCÊ ACHA QUE ESSES PROBLEMAS AFETAM AS PESSOAS DAQUI DA
COMUNIDADE? A POPULAÇÃO CAUSA ISSO E AÍ QUAL A CONSEQUÊNCIA DISSO?
C - Não sei explicar.
M - O RIO PARAGUAÇU TÁ POLUÍDO PORQUE A POPULAÇÃO CAUSA ISSO, NÃO É ISSO? E AÍ QUAL É
RESULTADO DISSO PRA PRÓPRIA POPULAÇÃO?
C - não beber a água.
M – PRONTO. PRA GENTE FINALIZAR, NA SUA OPINIÃO, PRA ONDE VAI A ÁGUA QUE VOCÊ USA?
VOCÊ USA AQUELA ÁGUA PARA AQUELAS ATIVIDADES QUE VOCÊ ME FALOU AI QUANDO A ÁGUA
VAI EMBORA E VOCÊ DESPREZA TOMA BANHO CAI NO RALO.
C - Só se ter um quintal próprio a água desse e a areia chupa.
M – PRONTO. ENTÃO NO CASO NA SUA CASA TEM A FOSSA OU A ÁGUA VAI DIRETO PRA AREIA?
C - Só na água de tomar banho e da pia. A do esgoto tem a fossa.
M - ENTÃO NA SUA CASA TEM AS DUAS COISAS A FOSSA PRO BANHEIRO E O ESGOTO QUE VAI PRA
AREIA. VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
C – Não.
M - AGORA NA SUA OPINIÃO, ESSE ESGOTO QUE VAI PRA FOSSA E ESSA ÁGUA QUE CAI NA AREIA
PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
C – Não, porque não tem bichinho de fezes só tem urina. Porque urina se espalha com a água e as fezes
vão direto pra fossa.
M – PRONTO. VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR COMO É QUE FUNCIONA UMA FOSSA?
C - Uma fossa a gente cava, acho que é dois metros ou três fundura, enche de blocos e barra tudo de
cimento aí instala a privada.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O “PENICÃO”?
C- Penicão é onde trata o esgoto.
M - E PRA VOCÊ COMO É QUE AQUELA QUANTIDADE TODA DE ÁGUA CHEGA LÁ?
C - Nem toda chega porque todo mundo tem a fossa.
M - MAS COMO É QUE AQUELA QUANTIDADE DE ÁGUA CHEGA LÁ?
192
C - Porque da chuva. Chove e cai ali dentro quando a chuva tá muito grossa cai ali dentro aí enche.
M - E NA SUA OPINIÃO O QUE QUE É FEITO COM AQUELE VOLUME TODO DE ÁGUA?
C - Faz tratamento.
M - QUE TIPO DE TRATAMENTO VOCÊ SABERIA DIZER?
C - Acho que é cloro.
ENTREVISTA 2 - CALEBE
M - VOCÊ CONSIDERA QUE A ÁGUA QUE VOCÊ USA NAS ATIVIDADES DA SUA CASA É LIMPA?
C - Mais ou menos.
M – PORQUE?
C - Bota muito cloro.
M - ANTES DE USAR ESSA ÁGUA PARA AS ATIVIDADES VOCÊS FAZEM ALGUM TRATAMENTO OU USA
DIRETO?
C - É
M - E DE ONDE VEM A ÁGUA QUE USAM PARA BEBER?
C - Da embasa.
M - VOCÊS COMPRA ÁGUA MINERAL OU VOCÊ PEGA DA TORNEIRA OU BEBE A ÁGUA MESMO QUE
VEM DA EMBASA?
C - Da torneira da embasa.
M - VOCÊ BOTA NO FILTRO OU BEBE DIRETO?
C – Direto.
M - DE ONDE VOCÊ ACHA QUE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS CASAS DE SÃO FRANCISCO?
C – Do Catu.
M - VOCÊ SABE EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA PARA AS CASAS?
C - Não sei.
M - O QUE VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NAS CASAS
DE SÃO FRANCISCO?
C - Não sei dizer não, esquece.
M - BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA OU NO QUE VOCÊ SABE, SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU SOFRE
ALGUM problema na distribuição de água pelas casas?
C - Não sei dizer não.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER EM QUAIS LOCAIS ALGUEM PODE BUSCAR ÁGUA EM SÃO FRANCISCO?
193
C - Nas fontes.
M - POR EXEMPLO, QUAIS?
C - Fonte do catônio, da bica, custodia, etc.
M - NA SUA OPINIÃO A ÁGUA DESSES LOCAIS É IDEAL PARA BEBER?
C - Não, porque não são tratadas.
M - QUAL A IMPORTÂNCIA NA SUA OPINIÃO DO RIO PARAGUAÇU NA SUA COMUNIDADE?
C - É importante porque alimenta a população traz fonte de renda
M - E O RIO PARAGUAÇU ENFRENTA PROBLEMAS HOJE?
C – Enfrenta, o esgoto e desmatamento dos vegetais.
M - E PRA VOCÊ QUAIS SERIAM AS CAUSAS DESSES PROBLEMAS? QUEM CAUSA?
C - São os próprios moradores da comunidade.
M - E COMO VOCÊ ACHA QUE ESSES PROBLEMAS ACABAM AFETANDO A COMUNIDADE?
C - Não sei explicar.
M - POR EXEMPLO O RIO VOCÊ DISSE QUE TEM ESGOTO E TEM O DESMATAMENTO O QUE ISSO
ACABA AFETANDO A COMUNIDADE NO FIM DAS CONTAS?
C - Porque da doenças.
M - NÃO EU TO PERGUNTANDO O QUE VOCÊ, ACHA NA SUA OPINIÃO.
C - Não sei explicar não
M - NA SUA OPINIÃO, PARA ONDE VAI A ÁGUA QUE VOCÊ USA NO DIA-A-DIA DA SUA CASA?
C - Para a fossa.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
C - Não
M - NA SUA CASA TEM FOSSA OU O ESGOTO CAI NA RUA OU NO MANGUE?
C - Na fossa.
M - NA SUA OPINIÃO, O ESGOTO LIBERADO PELA SUA CASA PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
ESSE ESGOTO QUE VAI PRA FOSSA.
C - Não
M - NÃO PODE CAUSAR NENHUM?
C – Não, porque é feita de blocos.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
C - Não
M - VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR O QUE QUE É O PINICÃO?
194
C - Tratamento de esgoto.
M - E PARA VOCÊ COMO É QUE AQUILO TUDO CHEGA LÁ? COMO AQUELE VOLUME DE ÁGUA CHEGA
NO PINICÃO?
C - Porque da bomba.
M - NA SUA OPINIÃO O QUE É FAZEM COM AQUELE VOLUME DE ÁGUA QUANDO TÁ LÁ? FAZ O QUE
COM AQUILO?
C - Faz tratamento um bocado de coisa lá que não sei.
M - QUAL A PARTE DO TRABALHO DA AGÊNCIA QUE VOCÊ MAIS GOSTOU?
C - A final.
M - QUAL PARTE FINAL?
C - Do rio.
M - DE FAZER O VÍDEO?
C – Isso.
M - VOCÊ GOSTOU MAIS DE FAZER O TEMA OU O VÍDEO?
C - O vídeo e o tema
M - E QUAL PARTE DO TRABALHO VOCÊ NÃO GOSTOU?
C - Da panela.
M - VOCÊ NÃO GOSTOU DO TRABALHO DA PANELA?
C - Do tema ??
M - E QUE FOI QUE VOCÊ NÃO GOSTOU ME EXPLIQUE MELHOR VOCÊ NÃO GOSTOU DO TEMA
ACHOU DIFÍCIL??
C - Achei muito difícil.
M - O QUE VOCÊ MUDARIA NA AGÊNCIA ?
C - Nem sei.
M - ALGUMA COISA VOCÊ MUDARIA NA AGÊNCIA?
M - O QUE VOCÊ ACHA QUE APRENDEU SOBRE COISAS RELACIONADAS A ÁGUA E A ESGOTO
DURANTE O TRABALHO NA AGÊNCIA? VOCÊ ACHA QUE APRENDEU O QUE?
C - Várias coisas.
M - TIPO O QUE? VOCÊ ACHA QUE APRENDEU? LEMBRA QUE APRENDEU?
C - Sobre a poluição do rio, esgoto, desmatamento.
M - O QUE QUE VOCÊ APRENDEU DESSAS COISAS? VÁ ME DIZENDO ASSIM COISAS ESPECÍFICAS,
VOCÊ DISSE QUE APRENDEU VÁRIAS COISAS NÉ? LEMBRE AÍ ALGUMAS COISAS QUE VOCÊ
APRENDEU.
195
C - A tirar foto, fazer vídeo.
M - E SOBRE OS TEMAS, VOCÊ DISSE QUE APRENDEU SOBRE A POLUIÇÃO DO RIO.
C - Não tenho ideia.
M - PORQUE VOCÊ DISSE QUE GOSTOU DE TRABALHAR COM ESSE TEMA, NÃO FOI?
C – Foi.
M - O QUE VOCÊ OUVIU FALAR DESSE TEMA?
C - Sobre o rio.
M - O QUE SOBRE O RIO?
C - Onde o esgoto tá indo, onde a poluição tá matando a vegetação, várias coisas.
M - E SOBRE OS TEMAS DAS OUTRAS PESSOAS, VOCÊ LEMBRA SE APRENDEU ALGUMA COISA?
C – Falando sobre a fossa negra, seca. Sobre a baía do Iguape etc.
M - LEMBRA ALGUMA COISA DO TRABALHO DE DARLAN?
C - Sobre o pinicão, a ETE e sobre tratamento de esgoto, para onde o tratamento do esgoto vai, pro rio
e outras coisas lá.
M - VOCÊ ACHA QUE PARTICIPAR DA AGÊNCIA TE AJUDOU A ENXERGAR ESSES PROBLEMAS NA SUA
COMUNIDADE?
C - Mais ou menos
M - ANTES DE PARTICIPAR DA AGÊNCIA VOCÊ JÁ ENXERGAVA ESSES PROBLEMAS OU VOCÊ PASSOU
A ENXERGAR DEPOIS QUE PARTICIPOU DA AGÊNCIA?
C - Já enxergava antes, né! Agora aprendi melhor os problemas.
M - E NA SUA OPINIÃO VOCÊ TEM ALGUMA PARTICIPAÇÃO NESSES PROBLEMAS DE FORMA GERAL
COMO MORADOR DA COMUNIDADE? ESSAS COISAS SOBRE OS QUAIS VOCÊ APRENDEU VOCÊ TEM
ALGUMA PARTICIPAÇÃO NESSES PROBLEMAS?
C – Não.
M - NA POLUIÇÃO DO RIO, NA GERAÇÃO DE ESGOTO VOCÊ ACHA QUE PARTICIPAÇÃO NISSO?
C – Não.
M – POR QUÊ?
C - Não faço isso. Quem faz isso é quem não tem consciência.
M - VOCÊ USA FOSSA?
C - Uso
M - ENTÃO VOCÊ ACHA QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO, NÃO É ISSO?
C – Não.
196
M - NA SUA OPINIÃO QUAL É A SUA RESPONSABILIDADE PARA MELHORAR OS PROBLEMAS DA SUA
COMUNIDADE?
C - Reunir a população, os gestores.
M - O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDAR?
C - Reunir a população.
M - COMO VOCÊ FARIA ISSO? VOCÊ DISSE QUE PODERIA REUNIR A POPULAÇÃO. E VOCÊ VAI FAZER
ISSO COMO? DIGA COISAS QUE VOCÊ PODERIA FAZER PARA AJUDAR A SUA COMUNIDADE.
C - Chamar a população para dizer que está acontecendo isso e isso no rio e no esgoto.
M - VOCÊ ACHA QUE O PROJETO DA AGÊNCIA DEVERIA SE REPETIR PARA OUTROS JOVENS?
C - Pode ser.
M – POR QUÊ?
C - Aprender mais.
197
Entrevistada: Clarissa, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019; Entrevista 2: Feita em agosto de 2019
MARIANA - VOCÊ TEM QUANTOS ANOS HOJE?
C - 16 anos.
M - VOCÊ ESTUDA LÁ NO IGUAPE E TÁ EM QUE SÉRIE HOJE?
C – 1º ano
M - VOCÊ CONHECE SEU ENDEREÇO AQUI EM SÃO FRANCISCO, QUAL O NOME DESSA RUA AQUI?
C - Eu conheço como rua Chile.
M - SABE O NÚMERO DA CASA AÍ?
C – Não.
M - QUEM SÃO AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ?
C - Meu pai, minha mãe e minha irmã.
M - O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA?
C - Eu espero algo de bom pra gente.
M - VOCÊ PODE ME DESCREVER O SEU DIA DÁ HORA QUE VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA QUE VOCÊ VAI
DORMIR?
C - Oh eu acordo, escovo os dentes, tomo café, lavo os pratos, varro a casa e se minha mãe deixar
alguma comida para fazer eu faço. Aí durante a manhã eu faço isso, quando dá onze horas ou onze e
meia tomo banho vou até 5 horas na escola. Quando venho tomo um banho, tomo café e fico
assistindo televisão, jornal, alguma coisa e vou dormir.
M - NO SEU DIA-A-DIA E DAS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ EM QUE ATIVIDADES VOCÊS USAM
A ÁGUA?
C - Na lavagem dos pratos, que é assim segunda a sexta de manhã lá em casa eu posso lavar minhas
roupas, agora sábado e domingo como minha mãe trabalha o dia todo ele vai lavar as delas. As vezes
sábado ou sexta varre a casa passa pano em tudo, lava o banheiro pra deixar tudo organizado.
M - PARA ESSAS ATIVIDADES QUE VOCÊ ME CONTOU A ÁGUA CHEGA NA CASA DE VOCÊS OU VOCÊS
TEM QUE IR BUSCAR EM ALGUM LUGAR?
C - A água chega.
M - NA SUA OPINIÃO A ÁGUA QUE CHEGA NA SUA CASA VOCÊ CONSIDERA ELA LIMPA?
C - Eu não acho muito não professora, porque ela às vezes vem parecendo que leite tão branca assim
do cloro e tá me dando alergia tô me enchendo de caroço.
M - ANTES DE USAR A ÁGUA PRA ESSAS COISA QUE VOCÊ ME FALOU VOCÊS FAZEM UM
TRATAMENTO OU USA DIRETO?
198
C - Na água que bebe a gente bota no filtro a outra não é da torneira mesmo.
M - NA SUA OPINIÃO DE ONDE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO?
C - Meu pai me falou até isso a semana passada. Ele disse que a água que tá vindo não é do rio é de
uma cisterna que eles estão puxando essa água.
M - E VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA SERIA DISTRIBUÍDA?
C - Sei não professora.
M - VOCÊ TAMBÉM SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ANTES DE CHEGAR NAS
CASAS?
C - Eu só sei que eles usam bastante cloro.
M - VOCÊ OUVIU FALAR ISSO ONDE, NA ESCOLA?
C - Assim dentro de casa mesmo pela forma que ela vem de lá da torneira é muito branca e se fosse
barrenta seria que não estava usado o cloro.
M - AGORA ClARISSA, BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA E NO QUE VOCÊ SABE AQUI EM SÃO
FRANCISCO TEM ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PELAS CASAS?
C - Sei não professora. Às vezes assim demora de vim quando tem algum problema na bomba, mas eu
nunca soube assim que faltou água três quatro cinco semanas.
M - E VOCÊ SABERIA ME DIZER ALGUNS LOCAIS QUE A PESSOA SE POSSA IR BUSCAR ÁGUA AQUI EM
SÃO FRANCISCO?
C - Ali na estrada onde tem as casas novas do “minha casa minha vida” tem uma passagem que
chamam de... esqueci o nome. Lá tem água que eles dizem que é limpa, que eles fizeram o teste e que
dá para todo mundo beber. E tem o rio do Catu e outros lugares que eu não conheço.
M - E NA SUA OPINIÃO A ÁGUA DESSES LUGARES É IDEAL PARA BEBER?
C - Eu acho que sim professora acho melhor até do que da embasa.
M - NA SUA CASA PEGA ÁGUA DE LÁ PRA BEBER?
C - Às vezes quando o povo estão disponíveis para ir pegar.
M- MUDANDO DE ASSUNTO, FALANDO UM POUQUINHO DO RIO PARAGUAÇU, QUAL A
IMPORTÂNCIA QUE ESSE RIO TEM PARA SUA COMUNIDADE NA SUA OPINIÃO?
C - Tão importante porque se não tivesse ele como ficaria aqui? Não ia ter água.
M - AGORA ELE TEM ALGUM PROBLEMA HOJE OU ENFRENTA ALGUM PROBLEMA?
C - Que saiba não, não sei não.
M - PRA GENTE FINALIZAR, NA SUA OPINIÃO, PRA ONDE VAI ÁGUA QUE VOCÊ USA PARA FAZER
AQUELAS ATIVIDADES? ELA VAI PRA ONDE?
C - Assim pra terra né não professora?!
M - VOCÊ SABE ME DIZER O QUE É QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
C - É quando alguma coisa entope e começa a subir água.
199
M - NA SUA OPINIÃO É ISSO NÉ?
C – É, nunca ouvir falar disso ou o esgoto.
M - NA SUA CASA TEM FOSSA OU ESGOTO CAI DIRETO NA RUA NO MANGUE, NA TERRA?
C – Não, painho não quis botar nesse negócio de esgoto. Porque dependendo como for, cai tudo no
quintal e aquilo fica fedendo. Ai é fosso mesmo.
M - A ÁGUA DA PIA DO CHUVEIRO CAI NA TERRA OU VAI TUDO PRA FOSSA?
C - A água que a gente lava as roupas do tanquinho cai na terra mesmo.
M - NA SUA OPINIÃO ESSA ÁGUA QUE CAI NA TERRA OU MESMO QUE CAI FOSSA PODE CAUSAR
ALGUM PROBLEMA?
C - Acho que não.
M - VOCÊ SABE ME DIZER COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
C - Eu acho que eles ligam todos os vasos, a pia e o banheiro tudo nessa fossa. Ela deve ter um tubo
que faz com que caia tudo lá dentro porque deve ser um espaço assim vazio e vai enchendo com o
tempo e a terra mesmo absorve aqueles negócios.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É QUE É O PENICÃO?
C - O penicão é o lugar que drena o xixi e coco das pessoas acho que eles passam por um tratamento,
não sei.
M - NA SUA OPINIÃO COMO É QUE TUDO AQUILO TUDO CHEGA LÁ?
C - Eu acho que é todo um sistema de esgoto vários tubos por várias casas até chegar lá.
M - E O QUE É FEITO COM AQUELE VOLUME DE ÁGUA NA SUA OPINIÃO?
C – Eu não sei onde eles jogam.
ENTREVISTA 2 – CLARISSA
MARIANA - VOCÊ CONSIDERA QUE A ÁGUA QUE VOCÊ USA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SUA CASA
ELA É UMA ÁGUA LIMPA?
CLARISSA - Eu acho que sim, porque vem da embasa e sabemos que ela é tratada né? E por várias
vezes nós temos ido lá falar com os rapazes da embasa, sabemos também que é a dosagem apropriada
para o nosso consumo. Então eu acho que seja apropriada para as atividades diárias.
M - ANTES DE USAR ESSA ÁGUA VOCÊS FAZEM ALGUM TRATAMENTO COM ELA?
C - A de beber a gente faz. Bota no filtro de novo, agora as outras não.
M - DE ONDE VEM ESSA ÁGUA QUE VOCÊS USAM PARA BEBER?
C - Vem do Catu, em tempos de chuva, e quando não é tempos de chuva, do poço artesiano.
M - ENTÃO VOCÊS USAM A ÁGUA QUE VEM MESMO DA EMBASA. VOCÊS NÃO COMPRAM ÁGUA
MINERAL, NÉ?
200
C - Não
M - VOCÊ SABE EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA PARA AS CASAS?
C - Ela é bombeada pelo rio Catu, vai para um local onde ela é aplicada todos os materiais para ajudar
a limpeza, filtrar e depois distribuída para toda comunidade.
M - ENTÃO O QUE SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NAS CASAS?
C - Ela passa por uma bomba dosadora que dosa todos os componentes que é jogado na água. Antes
de ela ser dosada, ela é filtrada. quando ela sai do rio, ela passa por um estado de filtração, depois ela
dosa os produto e aí é distribuída.
M - BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA OU NO QUE VOCÊ SABE SÃO FRANCISCO TEM ALGUM
PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELAS CASAS ?
C - Olhe Mari, eu já vi alguns comentários. Porque aqui você sabe, abriu novos lugares lá em cima onde
é chamada rua do urubu. Nesses lugares às vezes eu escuto alguns comentários de alguns colegas
meus que moram lá, que dizem que não teve água na casa dela naquele dia ou que veio mais cedo
depende.
M - PRA VOCÊ QUAIS SÃO AS CAUSAS DESSES PROBLEMAS?
C – Eu acho que é devido ser novos lugares novos abertos com certeza o pessoal da embasa não
consegui assim bombear corretamente aí fica sem.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER ONDE ALGUÉM PODE BUSCAR ÁGUA EM SÃO FRANCISCO?
C - Na fonte do catônio, que a gente tem falado até no trabalho, tem alguns poços até aqui por dentro
da comunidade que em tempos de seca também pego água desses locais. Mas na cidade nunca teve
problema de um mês, dois meses sem água. Não, no máximo três dias... quatro.
M - E NA SUA OPINIÃO A ÁGUA DESSES LOCAIS É IDEAL PARA BEBER?
C - Eu acho que sim. Como essa que falei as tem cortes nas casas como explicado no trabalho de Luísa
não é assim para beber é mais para tomar banho para beber tem que passar por outro processo de
ferver e filtrar tudo direitinho.
M - QUAL É A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAGUAÇU PARA SUA COMUNIDADE?
C - É muito importante porque é a única fonte de trabalho de conseguir botar o alimento. Como você
sabe meu pai não trabalha, então ele vive da pesca do rio paraguaçu. Às vezes até quando está nesses
tempos não tem, mas é o único meio de ter comida na comunidade.
M - E O RIO PARAGUAÇU ENFRENTA PROBLEMAS?
C - Enfrenta sim! Muito desmatamento perto do rio, o uso de bomba que acaba matando muitos
peixes. Também as pessoas que vão pescar às vezes levam garrafa de água ou alguma coisa que bebe
no meio do caminho nele atiça aí faz com matem mais os peixes.
M - ENTÃO PRA VOCÊ QUAIS SÃO AS CAUSAS DESSES PROBLEMAS?
C - Eu acho Mari que as causas desse problemas é da comunidade mesmo, por não ter em mente o
que seria melhor para o meio ambiente, para o rio e faz o que quer. E depois fica reclamando que não
tem peixe e um dia desses não vai ter mais nada e sei é culpa deles mesmos.
201
M - COMO É QUE VOCÊ ACHA QUE ESSES PROBLEMAS ACABAM AFETANDO AS PESSOAS NA
COMUNIDADE, AS CONSEQUÊNCIAS?
C - Porque como eu estava dizendo, às vezes não tem peixe aí fica difícil você o alimento porque não
tem o que você pegar devido isso.
M - NA SUA OPINIÃO PARA ONDE VAI A ÁGUA QUE VOCÊ USA NO DIA-A-DIA DA SUA CASA ELA VAI
PRA ONDE?
C - Lá em casa ela vai pra uma cisterna. que são uma cisterna onde vai o encanamento dos banheiros
porque lá em casa tem dois banheiros. E a outra é em céu aberto e escorre a água da pia e da
lavanderia.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
C - Eu acho que é quando um local desse o esgoto enche demais e fica saindo.
M - NA SUA CASA TEM FOSSA OU O ESGOTO CAI DIRETO NA RUA?
C - Tem fossa.
M - E NA SUA OPINIÃO ESSE ESGOTO QUE LIBERADO PELA SUA CASA E CAI NA FOSSA, ELE PODE
CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
C – Pode.
M – QUAL?
C - Porque como a gente falou no trabalho, eles não são um esgoto que seja impermeável, mas sim
permeável. porque devido aquele tempo os negócios vão saindo para terra e aí pode atingir o solo em
alguns sentidos, né?
M - ENTÃO VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
C - Sei! A fossa é um local onde tem blocos espaçados e uma tampa por cima e as vezes eles dão um
cimento por baixo e aí esses blocos espaçados são onde o esgoto sai para o solo.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O PINICÃO?
C - O pinicão é um local onde vai todas as fezes da comunidade, porque quem tem fossa não vai para
o pinicão.
M - E PRA VOCÊ COMO É QUE AQUILO TUDO CHEGA LÁ?
C - São ligados por vários tubos para poder chegar até lá é vários encanamentos. Várias coisas para
chegar até lá devido o lugar.
M - E NA SUA OPINIÃO O QUE É FEITO COM AQUELE VOLUME DE ÁGUA QUE ESTÁ LÁ?
C - Eles são tratados. São quatro tanques que são tratados eles são deixados lá às fezes que por meio
de algumas bactérias que existe nas fezes nos detritos ai eles fazem aquela fermentação e aí vai
passando de tanque em tanque e ai esse esgoto é liberado quando há tempo chuva.
M - QUAL FOI TRABALHO DA AGÊNCIA QUE VOCÊ MAIS GOSTOU?
C - Foi falando sobre a água trazidas para nossas casas, porque ela tem esse aspecto esbranquiçados e
amarelados.
202
M - FOI FAZER A PESQUISA NO CASO A FOTOGRAFIA FOI O QUE?
C - Todo envolvido.
M - E QUAL A PARTE QUE VOCÊ MENOS GOSTOU OU NÃO GOSTOU?
C - Eu acho que não teve um certo ponto, porque assim, às vezes a gente não gostava logo de início
quando vimos os textos principais, mas depois com o tempo falando sobre o assunto aí surgiu o
interesse.
M - O QUE VOCÊ MUDARIA NA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS?
C – Nada.
M - O QUE QUE VOCÊ APRENDEU SOBRE COISAS RELACIONADAS A ÁGUA E ESGOTO DURANTE O
TRABALHO DA AGÊNCIA?
C - A gente sempre teve aquilo em mente há o esgoto está sendo jogado no mangue e tá prejudicando.
Não vou comer siri daquele lado porque o siri tá cheio de coco. A gente tinha aquilo em mente e a
gente também tinha em mente que aquela água que tava vindo ali era porque o pessoal da embasa
não tava fazendo o seu trabalho certo. Aí a gente sempre teve esses palpites trabalhando junto com
a agência direitinho ficou bem esclarecido o que estava verdadeiramente acontecendo.
M - VOCÊ ACHA QUE PARTICIPAR DA AGÊNCIA TE AJUDOU A ENXERGAR MELHOR PROBLEMAS QUE
SUA COMUNIDADE TEM?
C - Ajudou muito, porque às vezes a gente não sabia que a comunidade sofria desses problemas.
M - POR EXEMPLO?
C - Por exemplo, muito lixo no rio nos muitos lugares que esclarecidos por meio de outras pessoas e aí
a gente não sabia que a comunidade sofria daquilo e aí por esses trabalhos começou a saber que
aquilo existia.
M - ANTES DE VOCÊ PARTICIPAR DA AGÊNCIA VOCÊ JÁ ENXERGAVA ESSES PROBLEMAS?
C – Não, eu nunca fui ligada a esses negócios, pra mim tanto vez ou tanto faz o que fazia na época
então eu não era ligada não.
M - AGORA, NA SUA OPINIÃO, VOCÊ ACHA QUE TEM ALGUMA PARTICIPAÇÃO NESSES PROBLEMAS
DA COMUNIDADE DE UM MODO GERAL?
C – Mari, eu acho que não tenho, mas cada pessoa tem seu ponto de vista vai sempre achar que tá
certo.
M - PORQUE VOCÊ ACHA QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO NESSES PROBLEMAS DA SUA COMUNIDADE?
C - Porque eu uma pessoa que não vou muito na maré, quanto mais jogar lixo, eu também não jogo
lixo na rua, porque minha mãe sempre me ensinou isso, lixo é para jogar dentro de casa tem o lugar
certo do lixo.
M - E NA SUA OPINIÃO QUE RESPONSABILIDADE VOCÊ TEM PARA MELHORAR ESSES PROBLEMAS
DA SUA COMUNIDADE?
203
C - É não fazendo. Porque a gente sabe que aquela situação já não está das melhores e a gente
contribuindo para que piore vai ser muito pior no futuro e tem que pensar nas gerações futuras que
vem.
M - VOCÊ ACHA QUE O PROJETO DA AGÊNCIA DEVERIA REPETIR PARA OUTROS JOVENS?
C - Eu acho que sim, Mari.
M – PORQUE?
C - Tem mais um pensamento diferente. Como eu não sabia que esses negócios acontecia, não sabia
que tinha uma bomba dosadora dosa os produtos da embasa que era bombeada essa água e ajuda a
pessoa saber mais dessas coisas.
204
Entrevistado: Damião, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019;
M - VOCÊ TEM QUANTOS ANOS HOJE?
D - 15 anos
M - VOCÊ ESTUDA NA ESCOLA DO IGUAPE?
D - Colégio estadual
M - VOCÊ ESTÁ NO PRIMEIRO, NÉ?
D - É
M - E SEU ENDEREÇO AQUI EM SÃO FRANCISCO QUAL É?
D - Rua fonte da bica.
M - QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ LÁ?
D - Minha mãe, dois irmãos e meu padrasto.
M - ME DIGA UMA COISA O QUE É QUE VOCÊ ESPERA DESSA ATIVIDADE DA AGÊNCIA?
D - Espero que seja bom a gente vai aprender muitas coisas.
M - É O SEGUINTE DARLAN VOCÊ PODE ME DESCREVER COMO É O SEU DIA DA HORA QUE VOCÊ
ACORDA ATÉ A HORA QUE VOCÊ VAI DORMIR? ASSIM BASICAMENTE VOCÊ DESCREVE, EU ACORDO
O QUE VOCÊ FAZ O DIA INTEIRO ATÉ A HORA DE DORMIR...
D – acordo, escovo os dentes, primeiro pego o celular pra brincar, as vezes pego o notebook para
assistir Netflix, chega o horário de ir pra escola, tomo banho, desço pro colégio. Chego do colégio vou
jogar bola, chego tomo banho e vou assistir divino até a hora de dormir.
M - NO SEU DIA-A-DIA E DAS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ EM QUAIS ATIVIDADES VOCÊS USAM
A ÁGUA NA CASA DE VOCÊS?
D - Lavar roupa, escovar os dentes, é isso aí professora, passar pano na casa mais nada.
M - PRA ESSAS ATIVIDADES COTIDIANAS DARLAN A ÁGUA CHEGA ATÉ VOCÊS OU VOCÊS TEM IR
BUSCAR ÁGUA EM ALGUM LUGAR?
D - Às vezes a água vem meio que barrenta aí vai na fonte e pega.
M - ÀS VEZES VOCÊS NÃO CONSIDERAM QUE A ÁGUA É LIMPA AÍ VOCÊS VÃO ATÉ ONDE COMO É
NOME DA FONTE??
D-??
M - E ANTES DE VOCÊ USAR ESSA ÁGUA QUE CHEGA NA SUA CASA VOCÊS FAZEM ALGUM
TRATAMENTO COM ELA?
D - Tratamento
M - ASSIM TEM ALGUM CUIDADO COM ELA?
D - Não
205
M - QUANDO VAI LÁ PEGAR NA FONTE QUE CHEGA EM CASA FAZ ALGUMA COISA ANTES USAR OU
USA DIRETO?
D - Usa direto.
M - E PRA BEBER QUAL É A ÁGUA QUE VOCÊS USAM?
D - ??
M - DE ONDE VOCÊ ACHA NA SUA OPINIÃO QUE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AQUI AS CASAS DE
SÃO FRANCISCO?
D - Das barragens.
M - DESSAS BARRAGENS DE ONDE É QUE VEM AS ÁGUAS DESSAS BARRAGENS VOCÊ SABERIA ME
DIZER?
D – Não.
M - E VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA PARA AS CASAS?
D – Não.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NA CASA DA
PESSOA?
D - Piorou ainda!
M - AGORA BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA NO QUE VOCÊ SABE E JÁ OUVIU FALAR SÃO FRANCISCO
DO PARAGUAÇU TEM ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELAS CASAS VOCÊ JÁ OUVIU
FALAR ALGUMA COISA DESSE TIPO QUE TERIA ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA?
D – Não.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER EM QUAIS LOCAIS A PESSOA PODE IR BUSCAR ÁGUA AQUI EM SÃO
FRANCISCO? VOCÊ ME FALOU DA FONTE.
D - Tem uma fonte lá em cima e uma perto da estrada ali.
M - EU ACHO QUE SEI QUAL ESSA PERTO DA ESTRADA É UMA QUE FICA PERTO DA CASA DE SEU
ANTÔNIO?
D - Não é logo ali na entrada da rua.
M - DA ENTRADA DE SÃO FRANCISCO MESMO?
D - Não é pouco mais pra cá é indo pro campo do fundo.
M - É UMA QUE PARECE TER UM FORMATO DE CORAÇÃO NÃO?
D - Não já reformaram essa bicha já mas não é essa não.
M - DEPOIS VOCÊ ME LEVA LÁ OUTRO DIA.
D - Levo
M - e essa outra fonte não é a fonte da bica não?
D - Não é outra fonte.
206
M - PRONTO DEPOIS VOCÊ ME LEVA LÁ. AGORA DARLAN NA SUA OPINIÃO A ÁGUA DESSES LOCAIS
É IDEAL PRA BEBER?
D - É quem vem de lugares limpos.
M - SOBRE O RIO PARAGUAÇU NA SUA OPINIÃO QUAL É A IMPORTÂNCIA DELE PRA SUA
COMUNIDADE?
D – Aí pegou pesado, viu?
M - ELE TEM ALGUMA IMPORTÂNCIA?
D – Tem.
M - QUAL SERIA?
D- A pesca que ajuda muitas pessoas que não tem trabalho.
M - ELE ENFRENTA ALGUM TIPO DE PROBLEMA HOJE?
D - Acho que sim quando solta água da barragem e os peixes podem morrer.
M - ENTÃO A CAUSA DESSE PROBLEMA É QUANDO SOLTA ÁGUA DA BARRAGEM. AGORA QUANDO
ACONTECE ISSO VOCÊ ACHA QUE AFETA A SUA COMUNIDADE DE ALGUMA FORMA?
D – Afeta porque os moradores querem ir pescar, mas não podem, os peixes estavam morrendo.
M - NA SUA OPINIÃO DARLAN PRA ONDE VAI ÁGUA QUE VOCÊ USA NO DIA-A-DIA DA SUA CASA?
VOCÊ DISSE QUE VOCÊS USAM ÁGUA PRA LAVAR ROUPA, LIMPAR CASA, PRA ESCOVAR OS DENTES
E QUANDO VOCÊ DESPREZA ESSA ÁGUA ELA VAI PRA ONDE?
D - Quem sabe pra onde ela vai.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
D – Não.
M - VOCÊ SABE DIZER SE NA SUA CASA TEM FOSSA OU O ESGOTO CAI DIRETAMENTE NA RUA OU NO
MANGUE?
D - Tem fossa.
M - NA SUA OPINIÃO, O ESGOTO LIBERADO PELA SUA CASA PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
D - Pode
M - QUE TIPO DE PROBLEMA?
D- Doenças
M - VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
D - Não
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O PINICÃO?
D – Já vi aí, mas eu não sei o que é
M - SABE O QUE É A COISA QUE VÃO PARAR LÁ? PRA VOCÊ COMO É QUE TUDO AQUILO AQUELE
MONTE DE ÁGUA CHEGA LÁ?
207
D - Quem sabe???
M - PRA VOCÊ O QUE QUE É FEITO COM TODA AQUELA ÁGUA QUE TEM LÁ?
D - Quem sabe pra onde vai.
M – FIM
208
Entrevistado: Joaquim, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019;
M - VOCÊ TEM QUANTOS ANOS HOJE?
J - 16 anos.
M - VOCÊ ESTUDA AQUI NO SÃO FRANCISCO?
J- Sim.
M - TÁ EM QUE SÉRIE HOJE?
J – 7ªsérie, 9º ano.
M - QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ?
J - Tem minha mãe, meu irmão, meu sobrinho e meu pai.
M – BELEZA. E O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES NA AGÊNCIA?
J - rapaz?
M – BELEZA. JACKSON VOCÊ PODE DESCREVER COMO É O SEU DIA DA HORA QUE VOCÊ ACORDA ATÉ
A HORA QUE VOCÊ VAI DORMIR? POR EXEMPLO EU ACORDO FAÇO ISSO E ISSO DEPOIS. ME CONTE
AI COMO É UM DIA SEU.
J - Normal
M - PODE ME CONTAR
J - Normal bem -
M - ME CONTE O QUE VOCÊ FAZ DA HORA QUE VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA QUE VOCÊ DORME AS
COISINHAS QUE VAI FAZENDO AO PASSAR DO DIA
J - Para escola, quando volto tomo banho, almoço, vou jogar bola. Quando chego em casa vou
descansar e internet.
M – BELEZA. NO SEU DIA-A-DIA E DAS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ, EM QUAIS ATIVIDADES
VOCÊS USAM ÁGUA?
J - Lavar prato, banheiro, um bocado de coisa.
M – BELEZA. PARA ESSAS ATIVIDADES COTIDIANAS QUE VOCÊ ME FALOU AÍ A ÁGUA CHEGA NA CASA
DE VOCÊS OU VOCÊS TÊM QUE IR BUSCAR EM OUTRO LUGAR?
J - Chega na casa.
M - E VOCÊ CONSIDERA QUE A ÁGUA QUE CHEGA NA CASA DE VOCÊS É LIMPA, NA SUA OPINIÃO?
J – É.
M – BELEZA. ANTES DE VOCÊ USAR A ÁGUA PARA ESSAS COISAS QUE VOCÊ ME DISSE AÍ VOCÊS
FAZEM UM TRATAMENTO COM A ÁGUA OU USA DIRETO?
J - Usa direto.
209
M - E A ÁGUA QUE VOCÊ BEBE VEM DA ONDE?
J - Da embasa
M - NÃO É ESSA MESMO.
J - É
M – BELEZA. VOCÊ USA DIRETO FAZ ALGUM TRATAMENTO?
J – Não, direto.
M – CERTO. ME DIGA UMA COISA, NA SUA OPINIÃO DE ONDE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS CASA
DE SÃO FRANCISCO?
J -Do Rio Catu.
M – CERTO. VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA PARA AS
CASAS?
J - Não
M - E VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NAS CASAS?
J - Não
M – OK. AGORA BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA OU NO QUE VOCÊ JÁ OUVIU FALAR AQUI EM SÃO
FRANCISCO TEM ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PELAS CASAS?
J - Não, só quando queima alguma coisa na bomba.
M – O QUE ACONTECE QUANDO ISSO OCORRE?
J - Tem casa que fica sem água.
M - MAS SÓ NESSES CASOS QUANDO TEM ALGUM PROBLEMA. E COSTUMA DEMORAR MUITO?
J - Um dia.
M - E LOGO DEPOIS RESOLVE?
J - é
M – CERTO. VOCÊ SABERIA ALGUNS LOCAIS ONDE A PESSOA PODE BUSCAR ÁGUA EM SÃO
FRANCISCO?
J - No Catônio, no Catu.
M - E NA SUA OPINIÃO, O QUE VOCÊ ACHA DA ÁGUA DESSES LOCAIS, É BOA PARA BEBER? É IDEAL
PRA BEBER?
J - É
M - DÁ PRA PEGAR ÁGUA LÁ E BEBER DIRETO?
J – Dá.
M - MUDANDO UM POUQUINHO DE ASSUNTO, AGORA SOBRE O RIO PARAGUAÇU. NA SUA
OPINIÃO, QUAL É A IMPORTÂNCIA DO RIO PRA COMUNIDADE? ELE TEM IMPORTÂNCIA PRA
COMUNIDADE?
210
J - Pescaria
M – BELEZA. PARA VOCÊ HOJE ELE ENFRENTA ALGUM TIPO DE PROBLEMA?
J - Muitos
M - O QUE VOCÊ DIRIA DOS PROBLEMAS QUE ELE ENFRENTA HOJE?
J -Lixo e um bocado de coisa aí.
M - NA SUA OPINIÃO, QUAL SERIA A CAUSA QUEM CAUSARIA ISSO?
J - Nós mesmos
M - QUE MORAM AQUI?
J - Não, também às vezes joga bujão, essas coisas
M - E QUANDO O RIO TÁ SUJO NO CASO VOCÊ ACHA QUE ISSO AFETA A COMUNIDADE DE ALGUMA
MANEIRA?
J - Sei não, deve afetar.
M – OK. PARA A GENTE FINALIZAR JACKSON, NA SUA OPINIÃO, PRA ONDE VAI A ÁGUA QUE VOCÊ
USA NO DIA-A DIA DA SUA CASA? POR EXEMPLO VOCÊ TOMA BANHO A ÁGUA FOI EMBORA. AQUELA
ÁGUA FOI PARA ONDE?
J - Pro mar.
M - DE QUE MANEIRA ELA CHEGARIA LÁ? NA SUA OPINIÃO.
J - Nem sei viu.
M - E VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
J – Não.
M - NA SUA CASA TEM FOSSA OU O ESGOTO CAI DIRETAMENTE NA RUA NO MANGUE?
J - Fossa
M - E TEM UMA PARTE QUE CAI NA TERRA?
J - Não
M - VAI DIRETO PRA FOSSA. A ÁGUA DA PIA VAI PRA ONDE?
J - Tudo para fossa.
M – CERTO. E NA SUA OPINIÃO, ESSA FOSSA CAUSA ALGUM PROBLEMA NO MEIO AMBIENTE?
j - não
M - VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
J – Não.
M -OK. VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O “PINICÃO”?
J - Deve ser o tratamento de alguma coisa.
211
M – CERTO. PARA VOCÊ COMO AQUILO TUDO CHEGA LÁ?
J - Quem sabe! Não faço a mínima ideia.
M - E NA SUA OPINIÃO, O QUE FAZ AQUELE VOLUME TODO DE ÁGUA QUE TEM LÁ?
J - Sei não.
M – CERTO, ERA SÓ ISSO.
212
Entrevistado: Leide, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019; Entrevista 2: Feita em agosto de 2019
L -17 anos
M - ESTÁ EM QUE SÉRIE?
L - 9º ano
M - COMO É NOME DA SUA RUA DO SEU ENDEREÇO AQUI?
L - Chamam de rua Chile.
M - VENHA CÁ QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ
L - Minha mãe, meu pai, meu irmão e meu filho.
M - E AGORA SEU NENÉM.
M - O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS QUAL A EXPECTATIVA QUE
VOCÊ TEM QUE SEJA BOM QUE SEJA RUIM?
L - Que seja boa, sair mais de dentro de casa e não ficar dormindo.
M - PRONTO ME DESCREVER COMO É O SEU DIA DA HORA QUE VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA QUE
VOCÊ VAI DORMIR? EU ACORDO FAÇO ISSO...
L - Vou pra escola, chego em casa vou dormir. Dia de terça vou pro posto, chego em casa vou dormir.
De resto durmo a não ser a escola e o posto.
M - O POSTO É O QUE PRÉ-NATAL?
L – Pré-natal e médica
M - CERTO NO SEU DIA-A DIA LÚ E DAS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ EM QUAIS ATIVIDADES
VOCÊS USAM ÁGUA?
L - Quase todas.
M – TIPO?!
L - Para lavar prato, lavar banheiro, lavar mão, dá descarga, lavar rosto, lavar a varanda, roupa, tomar
banho. Só e aproveita da roupa para lavar a varanda e o banheiro.
M - CERTO E PARA ESSAS ATIVIDADES A ÁGUA CHEGA ATÉ VOCÊS OU TEM QUE IR BUSCAR EM
ALGUM LUGAR?
L - Chega até a gente.
M - PRONTO VOCÊ CONSIDERA QUE ESSA ÁGUA QUE CHEGA É UMA ÁGUA LIMPA?
L - Eu acho que ela tá cheia de cloro.
M - PORQUE VOCÊ TÁ ACHANDO ISSO?
L - Porque tá com gosto de “q boa”.
M - TÁ SENTINDO ISSO NO GOSTO OU VOCÊ TÁ VENDO? TÁ SENTINDO OU TÁ VENDO?
213
L - Sentindo o gosto da água que cloro puro.
M - ENTÃO NO CASO VOCÊ USA ESSA ÁGUA PRA BEBER TAMBÉM?
L - É da torneira é.
M - ANTES DE USAR ESSA ÁGUA PRA FAZER ESSAS COISAS VOCÊ FAZ ALGUM TRATAMENTO COM
ELA OU USA DIRETO?
L - Direto. Coloca na geladeira pra beber.
M - PRA BEBER TAMBÉM?
M – BELEZA. ONDE VOCÊ ACHA LÚ QUE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS CASAS DE SÃO FRANCISCO?
L - Do catu e daqui de como é nome daquele lugar ali em cima eu não sei nome do outro não onde tem
aqueles bichos parecendo cachoeira aqui em cima... na bica dos anjos.
M - VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA DESDE O CATU ATÉ AS
CASAS?
L - Pelo tubo. A bomba aqui na quando é pra descer liga pra petrobras quando é pra subir eles ligam lá
pra cima???
M - CERTO O QUE SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NAS CASAS?
L - Nada já me explicaram mas não sei mais.
M - AGORA BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA OU NO QUE VOCÊ SABE AQUI EM SÃO FRANCISCO TEM
ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PELAS CASAS?
L - ???
M - NÃO SEI
L - Só tem lá em cima que às vezes sobe e as vezes não sobe.
M - E AÍ O PESSOAL FICA SEM ÁGUA NO CASO?
L - É
M - ENTÃO NO CASO PRA ESSE PESSOAL QUE FICA SEM ÁGUA QUAL É A CAUSA DO PROBLEMA
VOCÊ SABERIA DIZER?
L - Não
M - VOCÊ SÓ SABE DIZER QUE A ÁGUA ÀS VEZES NÃO SOBE?
L - Já tem mais de uma semana que não tá subindo água ???
M - CERTO VOCÊ SABERIA DIZER É LUGARES ONDE ALGUÉM PODE PEGAR ÁGUA AQUI EM SÃO
FRANCISCO?
L - Tem o catônio agora que chama de poço de nossa senhora do rosário, tem lá a bica dos homens,
fonte das flores e tinha outra fonte aqui morreu o povo botou lixo dentro e a de santo Antônio que tá
fechada.
M - E VENHA CÁ NA SUA OPINIÃO PESSOAL ESSA ÁGUA DESSES É UMA ÁGUA IDEAL PARA BEBER?
214
L – Antigamente, mas hoje em dia as pessoas tudo dentro não.
M - AI VOCÊ ACHA QUE HOJE NÃO?
L - hoje em dia não.
M - AGORA LÚ QUAL É A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAGUAÇU PARA A COMUNIDADE DE SÃO
FRANCISCO? NA SUA OPINIÃO.
L - A importância dele é essa, a pesca, as coisas que vem dele, o povo tem que ajudar a preservar.
M - E NA SUA OPINIÃO O PARAGUAÇU HOJE ENFRENTA PROBLEMAS?
L – Enfrenta.
M - QUAIS SERIAM? VOCÊ SABERIA DIZER?
L - Antigamente dava mariscos bastante, mas hoje em dia se pegar cinco peixes é muito porque
antigamente o povo pegava mariscos as vezes não usava eu acho porque pegava tanto mariscos e
jogava fora fazer que nem minha prima.
M - AGORA LÚ PRA VOCÊ QUAIS SÃO AS CAUSAS DESSES PROBLEMAS QUE VOCÊ ME FALOU?
L - A população.
M - JÁ QUE A POPULAÇÃO CAUSA ESSES PROBLEMAS COMO É QUE ESSES PROBLEMAS ACABA
AFETANDO A COMUNIDADE?
L - A poluição que tá tendo muito eu acho que é através da poluição que seca muitos lugares. O
desmatamento que acontece muito.
M – CERTO. ENTÃO PRA GENTE FINALIZAR, NA SUA OPINIÃO LÚ, ESSA ÁGUA QUE VOCÊ USA NO DIA-
A-DIA NA SUA CASA, QUE VOCÊ ME FALOU QUE USA PRA TODAS ESSAS COISAS, QUANDO VOCÊ
DESPREZA ACABA PRA ONDE É QUE ELA VAI?
L - A de lá de casa seca????
M - CERTO VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
L - Não
M – CERTO. NA SUA CASA TEM FOSSA OU ESGOTO CAI NA RUA NO MANGUE ALGUMA ASSIM?
L - Tem fossa.
M - E A ÁGUA SEMPRE CAI NA FOSSA, CAI NO QUINTAL OU COISA ASSIM?
L - A do banheiro cai pra fora só da descarga que cai pra fossa.
M - E A QUE USA NA PIA?
L - Cai pra fora pra terra e molha as plantas todas.
M – CERTO. NA SUA OPINIÃO ESSA ÁGUA QUE É DESPREZADA QUE CAI TERRA PODE CAUSAR ALGUM
PROBLEMA?
L - Não sei.
M - E ESSE ESGOTO QUE VAI PRA FOSSA PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
215
L - Não sei.
M - E VOCE SABERIA ME DIZER COMO É QUE FUNCIONA UMA FOSSA?
L – Não, eu sei que é um buraco grandão que meu pai fechou de bloco e ai botou um tubo pra dentro
e fechou de cimento.
M - PRONTO
L - É tipo uma laje, né?
M - PRONTO VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O PENICÃO?
L - Uma área aberta para a dengue, não vejo tratamento nenhum ali.
M - E O QUE VOCÊ OUVIU FALAR DE PRIMEIRA MÃO?
L - Que ia ser um lugar pra tratar a água pra voltar pra gente. Eu não sei que tratamento vão tratar ali.
M - AGORA PRA VOCÊ COMO É QUE ESSE MONTE DE ÁGUA CHEGA ALI?
L - Através do povo, e disse que ali também tem um minador
M - E NA SUA OPINIÃO O QUE QUE ELES FAZEM COM AQUELE MONTE DE ÁGUA QUE TEM LÁ?
L - Eu vejo ali a céu aberto. Nada eu acho.
M - É SÓ ISSO.
ENTREVISTA 2 - LEIDE
M - VOCÊ CONSIDERA QUE A ÁGUA QUE VOCÊS USAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS VOCÊ CONSIDERA
QUE ELA É LIMPA?
L – Considero.
M - ANTES DE USAR ESSA ÁGUA VOCÊ FAZ ALGUM TRATAMENTO COM ESSA ÁGUA OU USA DIRETO?
L - Como assim?
M – FERVE?
L - Não a gente usa direto.
M - E DE ONDE VEM A ÁGUA QUE VOCÊS USAM PARA BEBER?
L - Do Catu, daquele poço lá.
M - VOCÊ FAZ COMO PEGA ÁGUA DE ONDE DA TORNEIRA BOTA EM ALGUM LUGAR OU BOTA NA
GARRAFA DIRETO NO FILTRO?
L - Mainha bota na bombona e na jarra.
M - COMO É QUE É BOMBONA? NÃO SEI COMO É.
L – Bombona, tipo um balde.
216
M – ENTENDI. DE ONDE VOCÊ ACHA QUE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS CASAS DE SÃO FRANCISCO
DO PARAGUAÇU?
L - Do Catu e da embasa.
M - VOCÊ SABE ME EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA PARA AS CASAS?
L – Não.
M - O QUE VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NAS CASAS?
L – Nada.
M - DE TUDO QUE VOCÊ OUVIU SOBRE O TRATAMENTO DA ÁGUA O QUE VOCÊ SABE DIZER?
L – Nada.
M - BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA OU NO QUE VOCÊ SABE SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU SOFRE
ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELAS CASAS?
L - Acho que não.
M - NENHUM PROBLEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE VOCÊ JÁ OUVIU FALAR?
L - na minha rua não. Nas outras, não sei.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER LOCAIS ONDE ALGUÉM PODE BUSCAR ÁGUA EM PARAGUAÇU?
L- Catônio, fonte da bica, fonte da flor meio mundo tem tanto lugar que nem sei mais o nome tem
muitas nascentes.
M - NA SUA OPINIÃO LUIZA, A ÁGUA DESSES LOCAIS ELE É IDEAL PARA BEBER?
L - A coleta aqui acha que é.
M - E A DAS FONTES VOCÊ ACHA QUE É IDEAL PARA BEBER?
L - Também acho, mas o povo todo diz que tá cheia de bactérias.
M - QUE POVO?
L - Os da rua dos médicos.
M – MÉDICOS, QUE MÉDICOS?
L - Sei lá. É como falamos que é tirado a saber demais.
M - QUEM POR EXEMPLO?
L - O povo, os fofoqueiros, Mari!
M - E ME DIGA UMA COISA QUAL É A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAGUAÇU PARA SUA CIDADE?
L - É de onde a gente tira o nosso sustento.
M - E O RIO PARAGUAÇU SOFRE ENFRENTA PROBLEMAS?
L - Para que era antigamente o povo fala que ele sofre.
M - POR EXEMPLO?
217
L - Antigamente o povo pegava tanto peixe. Hoje em dia não chega nem ao abatimento de
antigamente.
M - E PARA VOCÊ QUAIS SERIAM AS CAUSAS DESSES PROBLEMAS, PORQUE ACONTECE ISSO?
L – Lixo, esgoto, essas coisas.
M - E QUEM CAUSA ISSO PRA VOCÊ, NA SUA OPINIÃO?
L - Os próprios moradores, os próprios seres humanos.
M - E COMO VOCÊ ACHA QUE ESSES PROBLEMAS AFETAM AS PESSOAS DA COMUNIDADE?
L – Eu acho que não tá afetando eles em nada, porque eles ainda jogam... Mas afeta muito a parte dos
mariscos.
M - NA SUA OPINIÃO PARA ONDE VAI A ÁGUA QUE VOCÊ USA NO DIA-A-DIA DA SUA CASA?
L - A da gente joga no quintal mesmo ela é sugada a dos pratos que enxagua a gente joga nas plantas
mesmo.
M - E QUE TOMA BANHO E LAVAR A MÃO A GENTE DEIXA PARA AS PLANTAS DA PORTA? E A DO
BANHEIRO?
L - Da latrina vai direto para a fossa.
M - VAI PARA DEBAIXO DA TERRA. TEM FOSSA NO SEU QUINTAL, É?
L – Não, ali na frente da porta você não viu, não? Você não viu aquele negócio em pé não?
M - NÃO VI NÃO, É TIPO UMA BICA?
L - Tipo um bica, não?
M - É UM POTE?
L - É fechado assim tipo a de Clarissa.
M - AI DEPOIS VOCÊS FAZEM O QUE?
L – Nada, ela fica ali mesmo.
M - AH EU NÃO VI NÃO. É PORQUE ALI TEM UM BATENTE NA FRENTE DA SUA CASA, NÉ?
L- É.
M - FICA ALI NO BATENTE, NÉ?
L - O qual?
M - A FOSSA.
L - É aquele lá embaixo perto dos dendezeiros já.
M - AH EU TÔ ME LEMBRANDO. MAS É UMA FOSSA?
L – É, fica debaixo da terra!
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
218
L - Não
ENTÃO NA SUA CASA TEM FOSSA E O ESGOTO NÃO CAI DIRETAMENTE NO MANGUE NÃO, CAI NA
FOSSA...
L - Na fossa
NA SUA OPINIÃO, ESSE ESGOTO QUE CAI NA FOSSA PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
L - Clarissa disse que na pesquisa causa várias doenças, porque é debaixo do solo.
M - VOCÊ SABE ME EXPLICAR COMO FUNCIONA UMA FOSSA DO QUE LEMBRA ASSIM QUE VIU?
L - É que painho puxa do tubo grande dentro. O centímetro dele é cem ai vai direto para debaixo da
terra e vai direto para o buraco de não sei quantos centímetros aí cai direto aí mas é feito de blocos
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE QUE É O PINICÃO?
L - Pra mim é enfeite, eles dizem que trata mas eu não vejo pra mim é enfeite.
M - PRA VOCÊ COMO É QUE AQUILO TUDO CHEGA LÁ AQUELE VOLUME DE ÁGUA DO PINICÃO?
L - Pelo esgotamento.
M - E NA SUA OPINIÃO O QUE QUE É FEITO COM AQUELE VOLUME DE ÁGUA QUE TEM LÁ?
L - Eles dizem que tratam agora não sei quantos séculos e séculos vai gerar para a gente né???
M - QUAL FOI A PARTE DO TRABALHO DA AGÊNCIA QUE VOCÊ MAIS GOSTOU TEVE ALGUMA
ESPECIAL QUE VOCÊ SE IDENTIFICOU MAIS GOSTOU?
L - Gostei de todas, principalmente das comidas.
M - QUAL PARTE DO TRABALHO DA AGÊNCIA VOCÊ NÃO GOSTOU?
L - Nenhuma
M - O QUE VOCÊ MUDARIA NA AGÊNCIA?
L – Nada, nem as comidas.
M - O QUE VOCÊ ACHA QUE APRENDEU SOBRE COISAS RELACIONADAS A ÁGUA E ESGOTO DURANTE
O TRABALHO NA AGENCIA? QUE VOCÊ NÃO SABIA E QUE HOJE VOCÊ SABE?
L - Muitas coisas.
M - TIPO O QUE POR EXEMPLO? ME DÊ ALGUNS EXEMPLOS.
L - A água da chuva não é saudável, fossa causa problema, entre outras coisas que não me lembro mais
M - TENTE LEMBRAR MAIS UM POUCO.
L - Muitas coisas que não me lembro mais.
M - QUE TEM RELAÇÃO COM O QUE, VÁ TENTE LEMBRAR MAIS ALGUMA COISA?
L -Que a panela fica preta por causa dela mesma não porque dá água. E a água vem amarela porquê
do Catu mesmo, direto do rio.
219
M - VOCÊ ACHA QUE PARTICIPAR DA AGÊNCIA TE AJUDOU MELHOR A ENXERGAR PROBLEMAS DA
SUA COMUNIDADE? SIM OU NÃO?
L - Sim
M - E ANTES DE VOCÊ PARTICIPAR DA AGÊNCIA VOCÊ JÁ ENXERGAVA ESSES PROBLEMAS OU VOCÊ
PASSOU A ENXERGAR DEPOIS DA AGÊNCIA? PODE SER SINCERA.
L - Agora do esgoto, principalmente, que não sabia de onde saia, onde jogava. Agora não vou ali nem
morta.
M - NA SUA OPINIÃO LUIZA, VOCÊ TEM PARTICIPAÇÃO NESSES PROBLEMAS DA COMUNIDADE?
L - Na parte do esgoto, não!
M - VOCÊ TEM ALGUMA CULPA NOS PROBLEMAS GERAIS DA COMUNIDADE?
L - Da parte do lixo tem se a gente mesmo joga.
M - POR EXEMPLO VOCÊ JOGA LIXO ONDE NO RIO?
L - Se eu tiver com uma bala na mão onde eu tiver na rua eu jogo. Eu tinha parado né mais voltou de
novo o vicio.
M - E NA SUA OPINIÃO, QUE RESPONSABILIDADE VOCÊ TEM PARA MELHORAR ESSES PROBLEMAS
DA SUA COMUNIDADE? QUAL A SUA RESPONSABILIDADE?
L - A minha, parar de jogar lixo na rua.
M - SÓ ISSO?
L - E botar meu pai para fora ??? Mas ele não quer de jeito nenhum.
M - VOCÊ ACHA LUIZA QUE O PROJETO DA AGÊNCIA DEVE REPETIR PARA OUTROS JOVENS?
L - Acho
M – POR QUÊ?
L - Porque desenvolve muitas, como é que chama aquele negócio, desenvolve mente, esquece o nome
lá.
M - TIPO O QUE ASSIM CONHECIMENTO?
L – Conhecimento, é isso.
M - FIM
220
Entrevistada: Marina, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019;
MI - 15 anos
M - VOCÊ TÁ EM QUE SÉRIE HOJE?
MI – 1º ano.
M - QUAL O NOME DA RUA E NÚMERO?
MI - Rua da embasa.
M - QUAIS AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ HOJE?
MI - Minha mãe, meu pai e meus dois irmãos.
M - SÃO NOVOS OU MAIS VELHOS?
MI - Mais velhos.
M - O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA?
MI - Como espero?
M - QUE SEJA BOM RUIM MAIS OU MENOS?
MI - Bom né.
M - E PODE DESCREVER O SEU DIA DA HORA EM VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA EM QUE VOCÊ VAI
DORMIR? POR EXEMPLO EU ACORDO FAÇO ISSO E ISSO...
MI - Eu acordo faço as coisas dentro de casa, depois vou pro celular, depois tomo banho, vou pra escola
e quando chego fico em casa assistindo televisão, depois durmo.
M - NO SEU DIA- A-DIA E AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ EM QUAIS ATIVIDADES VOCÊS USAM
ÁGUA?
MI - Lavar roupa, lavar prato, tomar banho e às vezes passar pano na casa.
M - PRONTO PARA ESSAS ATIVIDADES QUE VOCÊ ME FALOU AÍ A ÁGUA CHEGA NA CASA DE VOCÊS
OU VOCÊS TEM QUE BUSCAR ÁGUA EM ALGUM LUGAR?
MI – Chega.
M - E VOCÊ CONSIDERA QUE ESSA ÁGUA QUE CHEGA NA SUA CASA É UMA ÁGUA LIMPA?
MI - Considero que sim.
M - PRONTO ANTES DE USAR ESSA ÁGUA VOCÊ FAZ ALGUM TRATAMENTO OU USA DIRETO?
MI - Usa direto.
M -E A ÁGUA QUE VOCÊS BEBEM E ESSA MESMA ÁGUA FAZ ALGUM TRATAMENTO?
MI - Acho que não.
M - PRONTO DE ONDE É QUE VOCÊ ACHA QUE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS CASAS AQUI DE SÃO
FRANCISCO?
221
MI - Sei não.
M – CERTO, E VOCÊ SABE ME EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA PARA CASAS?
MI – Não.
M - E VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA ATÉ CHEGAR NA CASA DAS
PESSOAS?
MI - A água passa por um processo até chegar na casa.
M - E VOCÊ SABERIA ME DIZER ALGUMA COISA SOBRE ESSE PROCESSO?
MI – Não.
M - BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA O QUE VOCÊ SABE SÃO FRANCISCO TEM ALGUM PROBLEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PELAS CASAS?
MI – Tem. Às vezes tem casa que fica faltando água.
M - VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NISSO FOI?
MI – Já.
M - VOCÊ SABERIA DIZER PORQUE FALTA ÁGUA EM ALGUMAS CASAS?
MI -Sei não.
M - E VOCÊ SABE ME DIZER ALGUNS LUGARES ONDE ALGUÉM PODE PEGAR ÁGUA EM SÃO
FRANCISCO?
MI – Sei. Tem o catônio, tem a bica e a rua das flores tem água.
M - NA SUA OPINIÃO ESSAS ÁGUAS SÃO IDEAIS PARA BEBER?
MI – São, dá beber se você for lá dá pra beber.
M - AGORA MUDANDO DE ASSUNTO, SOBRE O RIO PARAGUAÇU PRA VOCÊ QUAL É A IMPORTÂNCIA
DO RIO PARAGUAÇU AQUI PRA SÃO FRANCISCO? NA SUA OPINIÃO.
MI - Sei não.
M - NA SUA OPINIÃO RIO PARAGUAÇU ENFRENTA ALGUM PROBLEMA HOJE?
MI – Enfrenta.
M - POR EXEMPLO?
MI: Tem muito desmatamento, Né?
M - E ISSO PREJUDICARIA O RIO?
MI - É
M - VOCE SABE DIZER DE QUE FORMA O DESMATAMENTO PREJUDICARIA O RIO?
MI - Jogando lixo no rio, fazendo coisas que não deve ser feita.
M - PRA VOCÊ QUAIS SERIAM AS CAUSAS DESSE DESMATAMENTO? QUEM CAUSARIAM ISSO?
222
MI - O ser humano.
M - COMO É QUE ESSE PROBLEMA AFETA A COMUNIDADE? PRA VOCÊ QUAL É O RESULTADO DISSO
PRA COMUNIDADE? TEM OU NÃO?
MI - Sei lá.
M -PRA FINALIZAR MI AQUELA ÁGUA QUE VOCÊ USOU PRA TOMAR BANHO LAVAR PRATO PRA
ONDE ELA VAI DEPOIS? QUE VOCÊ TERMINA DE USAR CAIU PELO RALO ALI NA SUA OPINIÃO ELA VAI
PRA ONDE?
MI - A de lá vai pro proprio???
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
MI – Não.
M - DIRETAMENTE NA RUA NO MANGUE OU AS DUAS COISAS?
MI – Não, fossa.
M - VOCÊS PAGA CONTA DE ÁGUA LÁ OU VAI DIRETO PRA FOSSA?
MI - De água paga.
M - NA SUA OPINIÃO ESSE ESGOTO QUE CAI NA FOSSA PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
MI - Acho que pode.
M - QUAL SERIA O PROBLEMA? POR QUÊ?
MI: Agora é que tá!
M: VOCÊ SABERIA DE ME DIZER COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
MI: Não
M - E VOCE SABERIA ME DIZER O QUE QUE É O PINICÃO?
MI - Pinicão é um bocado de lixo. Né pró?
M - VOCE SABE DIZER DE QUE PINICÃO ESTOU FALANDO?
MI - Não
M- É AQUELA DUAS COISONAS DE ÁGUA LÁ NA FRENTE QUANDO A GENTE CHEGA AQUELES DOIS
RESERVATÓRIOS GRANDES DE ÁGUA DA EMBASA. SABE QUAL É OU NÃO SABE? QUANDO A GENTE
CHEGA EM SÃO FRANCISCO NÃO TEM AQUELAS PISCINONAS DE ÁGUA ,SABE QUAL É E VOCÊ
SABERIA ME DIZER O QUE É AQUILO ALI?
MI - Não
M - PRA VOCÊ COMO É QUE CHEGA AQUELE MONTE DE ÁGUA LÁ?
MI - Sei não
M - E VOCÊ SABE O QUE É FEITO COM AQUELE MONTE DE ÁGUA QUE CHEGA LÁ?
MI - Não
223
Entrevistada: Noemi, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019;
MARIANA - QUAL A SUA IDADE HOJE?
NOEMI - 14
M - QUAL A SUA SERIE HOJE
N- 6ª serie, 7 ano.
M - QUAL ENDEREÇO VOCÊ FICA AQUI EM SAO FRANCISCO, O NOME DA RUA?
N - Rua fonte da bica.
M-QUAL O NÚMERO DA CASA?
N - 50.
M - QUAIS SAO AS PESSOAS QUE MORRAM COM VOCÊ AQUI EM SAO FRANCISCO?
N - Meu irmão, minha prima e minha tia.
M - TODO MUNDO NUMA CASA SÓ?
N - Não.
M - VOCÊ FICA NA CASA DE QUEM MAIS ASSIM?
N - Na casa de minha prima.
M - O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES QUE A GENTE VAI FAZER AQUI?
N - Que seja bom.
M - VENHA CÁ NATI, ME DESCREVA O SEU DIA DA HORA QUE VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA QUE VOCÊ
VAI DORMIR.
N - Quando acordo vou para a escola, da escola pra casa
M - NO SEU DIA-A-DIA, AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ, EM QUAIS ATIVIDADES VOCÊ UTILIZA
A ÁGUA?
N - lavo roupa.
M - TUDO O QUE EU TE PERGUNTAR VOCÊ PENSA NOS DIAS QUE VOCÊ PASSA NA CASA DE SUA TIA.
PARA ESSAS ATIVIDADES QUE VOCÊ USA ÁGUA AQUI EM SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU A ÁGUA
CHEGA NA CASA DA SUA TIA E DE SUA PRIMA OU VOCÊS TÊM QUE IR LÁ BUSCAR?
N - A água chega.
M – BELEZA. ESSA ÁGUA QUE CHEGA VOCÊ CONSIDERA QUE ELA É LIMPA?
N – Não. Por que muita gente toma banho no Catu e tem várias coisas que joga lá.
M - AÍ VOCÊ ACHA QUE A ÁGUA QUE CHEGA NÃO É MAIS LIMPA?
N - Né não.
224
M – CERTO. ANTES DE VOCÊ FAZER ESSAS ATIVIDADES QUE VOCÊ FALOU COM A ÁGUA VOCÊ FAZ
ALGUM TRATAMENTO COM A ÁGUA OU USA DIRETO?
N - Usa direto.
M – BELEZA. E A ÁGUA QUE VOCÊ BEBE É QUAL?
N - É a mesma que lava a roupa e enche a casa, mas quando a água está muito barrenta vai pegar no
catônio.
M – VOCÊ SABERIA ME DIZER DE ONDE VEM A ÁGUA QUE É DISTRIBUÍDA AQUI NAS CASAS DE SÃO
FRANCISCO?
N – Da Cachoeira.
M - VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE QUE FORMA QUE ESSA ÁGUA VAI SENDO DISTRIBUÍDA PELAS
CASAS
N - Embasa
M – CERTO. E VOCÊ SABE ME DIZER ALGUMA COISA SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA?
N – Tratamento é cheio de cloro, professora, cheio de cloro.
M - PORQUE?
N - Não sei acho que eles botam demais?
M - VOCÊ SENTE ISSO PELO GOSTO É?
N- é
M – CERTO. AGORA BASEADO ASSIM NA SUA EXPERIÊNCIA NO QUE VOCÊ SABE SÃO FRANCISCO DO
PARAGUAÇU TEM ALGUM PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA?
N – Tem.
M – POR QUÊ?
N - Porque tem várias ruas que não cai água.
M – CERTO. PARA VOCÊ O QUE CAUSA ESSE PROBLEMA DE ALGUMAS RUAS NÃO CHEGAR?
n - não entendi?
M - QUAIS SÃO ALGUNS LUGARES AQUI EM SÃO FRANCISCO QUE UMA PESSOA PODE IR BUSCAR
ÁGUA?
N - No Catônio.
M - SÓ LÁ?
N – Só.
M - E ESSA ÁGUA DE LÁ DO CATÔNIO ELA É IDEAL PARA BEBER?
N - É
M - VOCÊ PODE IR LÁ PARA BEBER?
225
N – Pode.
M – BELEZA. MUDANDO UM POUQUINHO DE ASSUNTO, SOBRE O RIO PARAGUAÇU AGORA. QUAL
É A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAGUAÇU AQUI PARA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO?
N - Não sei.
M – CERTO. VOCÊ ACHA QUE ELE ENFRENTA ALGUM TIPO DE PROBLEMA HOJE?
N – Não.
M – OK! PRA GENTE FINALIZAR QUANDO VOCÊ TÁ NA CASA DE SUA TIA VOCÊ FAZ AS COISAS COM
A ÁGUA TAL TAL TAL. AÍ A ÁGUA VAI EMBORA. AQUELA QUE VOCÊ USOU, NA SUA OPINIÃO, ELA
FOI PRA ONDE?
N – Poços, dutos.
M – CERTO. VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
N – Não.
M – CERTO. NA CASA DE SUA TIA E DE SUA AVÓ TEM FOSSA OU O ESGOTO CAI DIRETO NA RUA NO
MANGUE?
N - Tem fossa.
M- E É SÓ A FOSSA OU TEM UMA PARTE QUE CAI NA TERRA?
N - Uma parte que cai na terra.
M - DA ÁGUA NO CASO, SÓ DA ÁGUA?
N - Só da água.
M – CERTO. AGORA, ESSE ESGOTO PARA VOCÊ, NA SUA OPINIÃO, ESSA PARTE DA ÁGUA NA TERRA
PODE CAUSAR ALGUM TIPO DE PROBLEMA?
N - Na terra não.
M - E PARTE QUE CAI NA FOSSA PODE CAUSAR ALGUM PROBLEMA?
N – Pode.
M – POR QUÊ?
N - Porque se encher demais pode estourar.
M – CERTO. VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR COMO FUNCIONA UMA FOSSA?
N – Não.
M – TÁ. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NO “PENICÃO”.
N – Já.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É?
N - Pinicão é todas as fossas que têm na comunidade e todo o esgoto cai lá.
M – CERTO. E PARA VOCÊ COMO AQUELE “VOLUMÃO” DE ÁGUA CHEGA LÁ?
227
Entrevistada: Naira, Jovem da Comunidade
Datas: Entrevista 1: Feita em maio de 2019;
M - QUANTOS ANOS?
N – 15.
M - SUA ESCOLA?
N - Eraldo Tinoco.
M - VOCÊ SABE DIZER SEU ENDEREÇO AQUI EM PARAGUAÇU?
N - Rua Chile.
M - QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ?
N - Meu pai, minha mãe e eu.
M- O QUE VOCÊ ESPERA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA?
N - É assim pra gente desenvolver e também aprender mais
M - ENTÃO NATI VOCÊ PODERIA ME DESCREVER SEU DIA DA HORA QUE VOCÊ ACORDA ATÉ A HORA
QUE VOCÊ VAI DORMIR? EU ACORDO FAÇO ISSO E ISSO...
N - Eu acordo escovo meus dentes, tomo café, fico no celular, ai almoço. Também aí chega horário de
ir pra escola fico no celular ou se não na tv. Ai quando tem algum assunto trabalho eu largo o celular
pra estudar é isso a gente não consegue descrever tudo não.
M - ISSO AÍ JÁ É FIM DO DIA?
N - É
M - NO SEU DIA-A-DIA E DAS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ EM QUAIS ATIVIDADES VOCÊS USAM
ÁGUA?
N - Lavar roupa, lavar prato, limpar casa. Também pra essas coisas de casas pra utilizar quando sobra
joga na planta mas é bem raro né sempre não.
M – PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS QUE VOCÊ FALOU, A ÁGUA CHEGA ATÉ VOCÊS OU VOCÊS
TEM QUE IR BUSCAR ÁGUA?
N - A água chega até a gente.
M - VOCÊ CONSIDERA QUE ESSA ÁGUA QUE CHEGA ATÉ VOCÊS É LIMPA?
N - Eu não acho totalmente limpa, porque às vezes chega um pouco barrenta. Acho que coloca muito
cloro que ela fica branca e fica com gostinho amargo.
M – CERTO! ANTES DE USAR A ÁGUA NAS ATIVIDADES VOCÊS FAZEM ALGUM TIPO DE TRATAMENTO,
TOMAM ALGUM CUIDADO COM ELA OU USA DIRETO?
N - Quando é pra beber colocar no filtro, fica melhor.
M - ENTÃO ÁGUA QUE VOCÊS USAM PRA BEBER COLOCA NO FILTRO E AÍ DO FILTRO VOCÊS BEBEM?
228
N - Mas ultimamente como tem essa fonte, meu pai pega da fonte a gente está bebendo de lá. Diz que
a água é limpa lá da entrada de são francisco né uma que botou um negocinho assim
M - DE ONDE VOCÊ ACHA QUE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE AS CASAS DE SÃO FRANCISCO DO
PARAGUAÇU?
N - É das barragens.
M - E A ÁGUA QUE ABASTECE ESSAS BARRAGENS NA SUA OPINIÃO VEM DE ONDE?
N - cachoeira pedra do cavalo, acho que vem de lá.
M - E ESSA ÁGUA DA BARRAGEM VEM DA ONDE?
N - Não sei explicar.
M - E VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR DE QUE FORMA ESSA ÁGUA É DISTRIBUÍDA?
N - Acho que é pelas estações elevatórias que ela é distribuída.
M - O QUE VOCÊ SABERIA ME DIZER SOBRE O TRATAMENTO DESSA ÁGUA?
N – Olha, eu acho que eles tem algum tratamento, mas não é tanto assim eles deveria ter mais cuidado
com a água.
M - BASEADO NA SUA EXPERIÊNCIA NO QUE VOCÊ SABE OU JÁ OUVIU FALAR SÃO FRANCISCO TEM
ALGUMA PROBLEMA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA?
N - Eu acho que não, tem vezes que falta água mas é raro. Sempre tem água aqui, acho que não é não.
M - ENTÃO VOCÊ SABERIA DIZER LOCAIS EM QUE ALGUÉM PODE PEGAR ÁGUA EM SÃO FRANCISCO
DO PARAGUAÇU?
N - Tem fontes, tem rios também.
M - VOCÊ PODE ME DIZER ALGUMAS DESSAS FONTES, POR EXEMPLO, QUE VOCÊ ME FALOU ESSA DE
SEU ANTÔNIO QUE VOCÊ ESTÁ INDO BUSCAR ÁGUA VOCÊ PODE ME DIZER ALGUMA OUTRA VOCÊ
SABE ASSIM?
N - Tem também o catônio e que quase perto dessa aí eu acho essas as duas melhorzinhas pra beber
mas eu confio mais nessa de seu Antônio para beber.
M - NATE QUAL É A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAGUAÇU PARA SUA COMUNIDADE?
N - Eu acho importante porque é um lugar turístico também é uma beleza natural.
M - ESSE RIO ENFRENTA PROBLEMAS HOJE NA SUA OPINIÃO?
N - Enfrenta poluição, essas coisas.
M - ESSE PROBLEMA QUE VOCÊ FALOU QUE ELE ENFRENTA QUAIS SERIAM AS CAUSAS DELE DESSE
PROBLEMA?
N - Tá prejudicando o mar também, porque tá poluindo e assim era para todo mundo se conscientizar
o que tá muito difícil e parar de jogar lixo.
M - MAS O QUE SERIA A CAUSA, O QUE CAUSA ESSA POLUIÇÃO QUE VOCÊ DISSE QUE TEM?
N - Há doenças pode também causar.
229
M - QUEM SERIA RESPONSÁVEL POR ESSA POLUIÇÃO?
N - Nós seres humano.
M - ENTÃO COMO É QUE ESSES PROBLEMAS PODEM AFETAR SUA COMUNIDADE POR EXEMPLO?
N - Pelo mar mesmo, porque os pais precisam pescar né pra pegar peixes essas coisas e aí tá poluído
o meio ambiente.
M - NA SUA OPINIÃO NATE, PRA ONDE É QUE VAI A ÁGUA QUE VOCÊ USA PARA ATIVIDADES
DIÁRIAS? PRA ONDE VAI ESSA ÁGUA USA QUANDO VOCÊS DESPREZAM ELA?
N - Nem sei viu mariana pergunta difícil de responder.
M - VOCÊ SABERIA DIZER O QUE É ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
N – Não.
M - NA SUA CASA TEM FOSSA OU O ESGOTO CAI DIRETO NA RUA OU MANGUE?
N - Tem fossa e tem o esgoto também.
M - O ESGOTO CAI ONDE VOCÊ SABE?
N - Como assim? A água do banheiro se eu não me engano cai no esgoto.
M - E QUEM ORGANIZA ESSE ESGOTO VOCÊ SABE QUEM É A EMPRESA?
N - ???
M - NA SUA OPINIÃO ESSE ESGOTO QUE É LIBERADO PELA SUA CASA PODE CAUSAR ALGUM
PROBLEMA?
N - Eu acho que pode porque fica exposto e fedendo.
M - ONDE É QUE FICA EXPOSTO?
N - No quintal, mas fica assim normal tampado mas tem vezes que sobe aquele mau odor.
M - PELA FOSSA?
N -Não pela fossa não negocio mesmo esgoto
M - VOCÊ SABERIA ME EXPLICAR COMO FUNCIONA UM FOSSA?
N - Eu não sei não.
M - VOCÊ SABERIA ME DIZER O QUE É O PINICÃO?
N – Oh, eu ouvir falar que as fezes e xixi cai tudo pra lá e quando a maré enche ele enche também e
quando a maré baixa e baixa também.
M - PRA VOCÊ COMO É QUE AQUILO TUDO CHEGA LÁ?
N - Deve ser pelos tubos, né pró?
M - E NA SUA OPINIÃO O QUE QUE É FEITO COM AQUELE VOLUME TODO DE ÁGUA QUE TÁ LÁ?
N - Não sei.
230
APÊNDICE C – Transcrição das conversas informais
Entrevistados: Funcionários da Embasa e moradores da comunidade – Augusto e Florêncio;
Datas: Entrevista 1: Primeiro Semestre de 2018; Entrevista 2: Feita em 10 de abril de 2019; Entrevista
3: Feita pelo estudante Damião durante as atividades da Agência Jovem de Notícias (Entre maio e
agosto).
ENTREVISTA 1
MARIANA: A primeira coisa que fiquei com dúvida foi o seguinte: tem dois horários que vocês abrem
o registro, né? Vocês têm que ir duas vezes por dia lá na ETA, é?
AUGUSTO: Geralmente eu fico o dia todo na ETA.
FLORÊNCIO: Diariamente, é.
M: E ele (Florêncio) disse que tira sua folga, isso quer dizer que você tá lá todo dia, só um dia que você
não tá que ele tira, ou são dois dias?
A: Um dia só e os finais de semana.
M: O trabalho de vocês é para isso mesmo, para vocês estarem lá todo dia? E período de festa ainda
trabalha até mais tarde.
A: Até mais tarde.
M: Aí eu tava perguntando: se um tiver uma dor de barriga e o outro também tiver, vai fazer o quê?
A: Ligar pro (...)água pra alguém cobrir a gente.
M: Como é o processo, vocês ligam todo dia que horas?
A: Nossa bomba é automática. Ela mesmo funciona, 6 horas da manhã ela funciona. Aí a gente vai fazer
o tratamento, antes de colocar pra rua ver se tá tudo padrão e depois a gente faz a distribuição.
Quando dá 17h30 ela desliga de novo. Só que aí a gente alterou o horário para 19h30, pra ela ficar até
um pouco mais tarde na rua.
M: E primeiro vai pra um lugar da comunidade pra depois ir para outro, é?
A: Geralmente a gente fecha a praça. A parte da praça ali a gente fecha.
M: Que horas?
A: Fecha 9 horas a parte baixa para poder cair na parte alta.
M: Então quer dizer que de madrugada cai lá pra baixo.
A: De 6 horas da manhã até 9 horas.
M: Então só são 3 horas que cai lá pra baixo?
F: À tarde volta de novo.
A: Aí quando dá 2, 3 horas, que a parte alta já abasteceu, a gente libera de novo, aí fica até às 19h30.
231
F: Só pra pegar pressão nas partes altas.
M: A distribuição para a parte de cima é mais difícil por alguma questão da geografia?
A: É mais difícil. Demora mais, porque é parte alta aí não tem como nosso reservatório jogar para a
parte alta, a gente tem que fazer bombeamento. Tem todo um processo.
M: Ah, então fica mais tempo ligado para vocês conseguirem abastecer lá, né?
A: Mais tempo ligado.
M: Em relação ao que chamam aqui de “pinicão”, o apelido é esse?
A: É ETE. Estação de Tratamento de Esgoto.
M: Tem quanto tempo que chegou aqui?
F: Tem uns 5, 6 anos.
A: Nessa faixa.
M: Aqui acontece de faltar água ou é muito raro?
A: Acontece. É raro, mas acontece se der um problema na bomba.
M: Mesmo que o Catu esteja mais baixinho, não tem problema...
A: Não tem problema porque agora nós temos um poço artesiano.
M: E onde é?
A: Lá na captação mesmo, colado.
M: Então se o Catu tiver baixinho pode usar a água do poço, mas não usa todo dia, só usa quando é
necessário...
A: Todo dia, a gente usa ele todo dia. Hoje mesmo já usou, agora que a gente botou o rio. Já usou o
poço e depois botou o rio.
M: Quanto tempo tem o poço?
A: Foi feito em 2010.
M: Tem pouco tempo, 8 anos. Vocês tiveram que ir pra casa das pessoas pra colocar a tubulação para
o ETE?
A: Teve
M: Foi de casa em casa que a embasa fez isso?
A: Foi de casa em casa.
M: Ainda tem casa aqui que tem fossa?
F: Tem, muitas!
A: Aqui na nossa rua mesmo, a maior parte é fossa. Não tem rede de esgoto aqui. Só foi 30% da cidade.
F: A rede de esgoto só vai até a metade da outra rua ali.
232
M: Ah, então quer dizer que 70...
A: Ainda tá sem o esgoto
M: E o da fossa, vai pra onde?
A: Fica na fossa mesmo.
M: E o restante vai todo pro ETE...
F: É.
M: Do ETE, existe tratamento lá ou já chega tratada?
A: Ele sai daqui da residência e vai para uma elevatória aqui embaixo e a elevatória bombeia lá para
cima, para a ETE. Lá na ETE, aquele lugar ali já o tratamento. É o solo que faz o tratamento.
M: Então ali ele já está tratado.
A: Quando ele vai pro rio, ele já está tratado. Só vai para o rio no inverno, porque não tem esgoto
suficiente para encher. São 4 bacias enormes. Aí não tem como encher. Só enche no inverno por causa
da chuva.
M: Por isso que fica cheio, porque não é sempre que vai pra lá, não é o tempo todo, tem o período
certo para ir para lá, né? Qual foi a resistência maior do pessoal pra mandar o esgoto pro ETE?
A: Foi para a cobrança da taxa de esgoto, que é 80% da conta de água. A resistência foi essa. Ainda é
até hoje.
F: Até hoje o povo ainda resiste.
M: Será que tinha que ser? Esse é um sistema nacional que teria que estudar, do porquê que ainda é
tão alta essa taxa. Aí não tem a ver com...
F: Ainda tem muitos que acham que é a gente, que é trabalhador, que bota. A gente não pode fazer
nada.
M: Não, vocês não entram em nada. A embasa determina isso, mas vem de um sistema nacional...
F: Chamam a gente de puxa-saco, chamam a gente de ladrão, que a gente tá roubando pra empresa,
mas não é.
M: Vocês recebem essas críticas aqui na comunidade?
A: É.
M: Aqui durante o período de festas vocês ficam porque pode faltar, né? Muita gente...
A: Pode faltar água aí a gente... Geralmente natal aqui eu viro a noite, trabalho o dia, ou às vezes ele
trabalha o dia e eu a noite...
M: Mas vocês ganham extra por isso, né?
F: A gente ganha em folga.
A: Não, ganha em folga. A firma não paga extra não. Também ela não obriga a gente a trabalhar. A
gente fica pra poder não faltar água pra população.
233
F: Se a gente desligar na hora certa, no outro dia, fica pior. Se a gente não abastecer hoje, amanhã vai
ficar pior.
A: Fica pior pra gente.
M: Então vocês preferem fazer assim, né?
F: É.
M: Eu queria o telefone de vocês, porque vocês mostram para os meninos como é esse processo de
distribuição, até pra eu entender o que vocês estão me explicando, né?
A: É, porque quando eles tiveram lá com o professor Ademário, e Jura também já foi lá, era um
processo, agora é outro. O poço já é totalmente diferente da captação do Rio Catu. Não usa tantos
produtos químicos.
M: Eu me lembro de ter ido no Catu, acho ali tão lindo.
A: Aí é bom que a gente já faz as duas coisas, já vai na ETA e já vai na ETE também, de esgoto.
M: Eu não sabia que já chegava ali no “pinicão”, o nome que me disseram foi esse, vocês já ouviram
esse nome por aí, né?
A: Já, a gente mesmo fala!
M: Quando chegava lá no ETE, eu não sabia que já chegava tratada. Eu pensei que chegava lá pra
depois tratar. Porque lá em Salvador, separa o sólido e o resto joga na praia.
F: O sólido fica ali na ETE, no fundo da ETE, ele tira, a água sobe o sólido fica todo no fundo da ETE.
Não pode jogar.
A: Quando tem demais ele tira, bota nas bombonas, o carro vem e leva pro leito de secagem, em
Cachoeira.
M: Pronto, vou salvar o telefone de vocês pra gente marcar um dia para fazer essa visita com os
meninos e pra mim, pra eu entender, porque sem vocês eu não vou entender muita coisa não.
ENTREVISTA 2
MARIANA: Algumas coisas eu já perguntei, mas vou perguntar de novo. Hoje de onde é que vem a
água que abastece a comunidade, de modo geral?
AUGUSTO: Vem do Rio Catu, captação do Rio Catu.
M: Toda é do Rio Catu
A: Temos agora um poço, mas é do Rio Catu.
M: O poço, a água vem de lá, inclusive...
A: Não é propriamente do rio. Tem um poço hoje que foi cavado pela (...), um poço artesiano, com 247
metros de profundidade.
M: A água vem o tempo inteiro dos dois ou quando falta em um passa pro outro?
234
A: Quando falta em um a gente joga no outro. Quando falta no poço, no caso se a gente sentir que o
poço tá baixando, a gente joga o rio.
M: Vocês têm condição de fazer isso, né?
FLORÊNCIO: Temos.
A: No verão mesmo, agora, o rio não suportou, quem abasteceu foi o poço. Aí íamos alternando,
quando um secava, botava o outro. De modo geral.
M: No verão teve falta de água, não foi?
A: Teve.
M: Por qual razão? Falta de chuva?
A: Desmatamento. Falta de chuva, verão muito forte e desmatamento em cima da nascente.
Desmataram muito a nossa nascente aí, aí...
M: Aí não deu conta o rio. Mesmo o poço...
A: Aí o poço foi quem aguentou a gente. Só ficou com falta d’água as partes altas da cidade. Mesmo
assim a gente trabalhava até mais tarde e conseguia jogar um pouco pra cada um.
M: Faltava na parte alta porque é mais difícil de chegar lá pra cima, é?
A: É. Porque a parte baixa fica parando, aí quando vai chegar na parte alta é quando o pessoal de baixo
não quer mais, já encheram tudo, aí chega na parte alta.
F: É quando a bomba pega pressão pra jogar lá em cima.
A: Teve dias aí da gente trabalhar até meia noite, não foi?
M: Ganha hora extra?
A: Não, folga.
M: Onde é que fica o poço, é perto do Catu?
F: É lá mesmo no Catu.
M: Tem quanto tempo mais ou menos que fez o poço?
A: Foi em 2010.
M: Tem 9 anos já. Essa distribuição assim certinha da água tem muito tempo?
A: O rapaz que trabalhava aqui, ele saiu pra poder eu entrar, com 32 anos de empresa. Já tem um
bocado de ano.
M: Pelo que eu vi tem várias sedes da embasa, né? E essa daqui pertence a alguma...
A: Pertence a Cachoeira.
M: Então quem gere é tudo lá, né? A gerência é toda de lá.
A: Tem a gerência de Cachoeira e tem o pessoal de Santo Antônio de Jesus que já comanda Cachoeira.
Então a sede geral da embasa aqui de Cachoeira é Santo Antônio. Tudo vai para Santo Antônio de
Jesus.
235
F: E a gente aqui a gerência é Cachoeira.
A: Mas tudo que precisa em Cachoeira vai vir de Santo Antônio.
M: Essa distribuição depende de algum fator externo sem ser o rio? Vocês aqui que decidem tudo?
Quais são as ordens que vêm de lá de Cachoeira?
A: A gente aqui só faz o que eles mandam mesmo. As ordens vêm de lá.
M: Porque assim, vocês recebem o treinamento, porque vocês são funcionários de lá, mas tem alguma
coisa que eles mandam fazer que impacta na distribuição de água, por exemplo?
A: Não. Eles fazem tudo que é pra população ficar satisfeita.
M: Me explique como se fosse pra uma criança de 5 anos como é o passo a passo da distribuição.
A: Pronto. Captação em primeiro lugar, trazer até a ETA, fazer o processo de tratamento, que ela vai
pegar o tratamento de cloro, sulfato, no caso, se for rio, cloro, sulfato e flúor. A gente coloca flúor pros
dentes. E aí vamos jogar no reservatório e desse reservatório, depois de tratada, que a gente fizer
todas as análises na ETA, aí vai ser distribuída pra população.
M: Isso vocês fazem aqui, é?
A: Não, lá na ETA. Aqui é área de esgoto.
F: Aqui é área de esgoto, elevatória.
M: Por que chama elevatória?
A: Aqui é como se fosse o lugar do tratamento de esgoto. Estação de Tratamento de Esgoto.
M: E lá vocês que determinam a quantidade de sulfato, de flúor...
A: Não, isso tudo é a secretaria de anos, já vem determinado pela secretaria de saúde, e sempre eles
estão aqui em cima da gente. Mês retrasado, não foi? Eles estiveram aí. E pega de surpresa, não é pra
dizer que avisa não, pega de surpresa que é pra ver como é que tá sendo feito. Vêm de Salvador. E aí,
no caso da distribuição pelo poço, cloro. Porque a água do poço é cristalina, não precisa de sulfato, e
ela já contém flúor, na água já contém o flúor. Aí a gente já não precisa botar ácido. Aí a população, a
maior parte aqui não tá querendo usar água do poço porque diz que é salobra. Imagine só
M: Eu ouvi falar que tem uma água, que eu não sei se é a do rio ou a do poço, que às vezes faz uma
marca na panela...
A: A do poço
M: Por qual razão?
A: A gente acredita que, por causa da profundidade dela, ela deve conter algum salzinho. Logo no
início, quando a gente funcionou ele, ela era salobra mesmo. Mas agora não. Nossa bióloga pega água
daqui pra levar pra filha dela. A bióloga de Santo Antônio de Jesus.
M: Da embasa?
A: Sim. Porque ela disse que das localidades que Santo Antônio toma conta a melhor água é a nossa.
M: A água era salobra por causa daquele início do processo, quando vai subindo...
236
A: Hoje, minha esposa mesmo, só quer água do poço. Quando a gente vai trabalhar com o rio ela
pergunta logo “é rio?”, eu digo “não, é poço”, aí ela enche as vasilhas dela tudo.
M: A distribuição daqui hoje é considerada satisfatória pra demanda da população?
A: Pra gente que trabalha, é, mas pra população muitos não ficam satisfeitos não. Tanto que até no
verão o povo tava indo reclamar da gente. Não sabendo que o problema não era nosso, era da seca
mesmo, em todos os lugares. Maragogipe mesmo, na casa de minha tia, levou 22 dias sem cair água.
Aqui, se levasse, era um domingo, porque a gente parava pra descansar. Aí foram reclamar.
M: Porque, no caso, eles não entendem que o processo não é culpa de vocês. Vocês estão fazendo a
operacionalização.
A: Aí hoje que a gente tem água no rio e no poço, é pra gente trabalhar até 17h30, a gente fica até
meia noite, uma hora da manhã a gente deixa água na rua.
M: E depois vocês vão lá e fecham. E algum momento da noite sai de casa e vai lá pra fechar.
A: É. E o lugar é deserto. Hoje a gente tem a vantagem que a captação é automatizada, se a gente
botar uma programação, vamos dizer, a gente quer que ela pare agora 4 horas, aí quando der 4 horas
ela desliga sozinha. Mas aí na reservatória a gente tem que ir e fechar o reservatório.
M: Se você fosse listar, o que você acha que precisa melhorar em relação à distribuição de água aqui
em SF?
A: Pra mim o que precisa melhorar mesmo é a nossa ETA, como agora já tá vindo reformar. Porque a
ETA tá feia. A pintura toda ruim, reboco caindo, aí já tá vindo aí, acho que no outro mês, né? Maio, já
tá vindo reformar, ampliar.
M: E pra você, Florêncio, como morador daqui, tem alguma coisa que você acha que precisa melhorar
em relação à distribuição de água?
F: Quando a ETA aqui foi feita São Francisco era 50 casas. Hoje a gente tem 720 ligações e tem umas
casas atrás aqui que não tem água e hoje eu acho que deve ampliar pra ficar melhor a distribuição. Pra
todo mundo ter água.
A: Botar uma bomba com vazão maior, ou então fazer um reservatório elevado pra não precisar ser
bombeada.
F: Procurar um ponto mais alto da cidade como aqui, em cima da casa do quilombo, fazendo um
reservatório elevado dava pra gente trabalhar tranquilo ali, igual ao Iguape. A bomba só faz jogar no
reservatório, a distribuição vai ser na gravidade. Lá pra trabalhar, a maneira lá, é bom, agora a água lá
não tem. O manancial deles lá é ruim.
A: A água tem que ser daqui pra lá. Tanto que a água vai daqui e no verão o pessoal fica reclamando
“ah, a gente tá sem água...”
F: A maneira deles abastecerem lá é melhor do que a gente.
M: No entanto, a nascente... Mas lá também é o Catu, né?
F: É. Agora a gente bota a água do Catu pra lá.
M: Tem algum momento que tem que dividir, por exemplo, o poço pra cá, o Catu pra lá...
A: O poço só é para aqui e o Catu só para lá.
237
M: Mas o Catu também não vem pra cá?
F: Isso, aí fica o Catu, a gente joga para aqui e joga também pra lá pro Iguape.
A: Na nossa captação tem três bombas, uma no poço e duas no Catu.
M: A água que é desprezada aqui vai pra onde?
A: Pro rio. Vai para o mar.
F: A água desprezada como, que você está dizendo?
M: Por exemplo, você me explicou o passo a passo da distribuição. Agora me explique o passo a passo
do desprezo da água. Quando eu dou descarga, pra onde é que vai essa água? Quando eu abro minha
pia e a água vai lá pelo ralo?
A: Quem tem instalação de esgoto vem para aqui (elevatória).
F: Para a estação elevatória aqui. Daqui a bomba joga lá pra ETE.
M: Chegou lá na ETE acontece o quê?
F: Lá faz o tratamento.
A: Do tratamento é desprezada para o rio.
M: Esse tratamento na ETE envolve o quê? Coloca o quê ali no tratamento, você sabe?
A: Nada. Ali é só na base do barro mesmo. Quem faz o tratamento é a própria terra.
M: Como assim?
A: A bacia ali é barro puro.
F: Ela é feita de barro, só em cima que faz o cimento, mas embaixo é tudo barro.
M: E o que acontece ali com o sólido e com o líquido?
F: O sólido fica todo ali na bacia. Despeja só o líquido.
A: O líquido já tratado.
F: A gente tem 4 bacias ali, aí vai de uma jogando para a outra. Aí cai nessa aqui, vai levar um tempo,
ai vai nessa, passa pra outra, até chegar o líquido para jogar para o rio.
M: Então isso aí envolve o tratamento, esse tempo em cada uma das bacias, até que chega no rio.
Entendi. E aí vocês me disseram da outra vez que é só 30% que tem o esgoto assim. Os outros usam
fossa, né? No caso da fossa, não sei se vocês saberiam dizer, existe um tratamento da própria fossa,
não é isso? Tem como garantir que todo mundo tá fazendo esse tratamento na fossa, certinho?
A: Não, não tem não.
M: E aí, quando despreza na fossa, vai pra onde?
A: Aí eu acredito que seja a mesma coisa que aconteça com a ETE. O barro faz a função dele. Suga ali
e só fica os resíduos. E a água ele mesmo chupa.
M: Entendi. A casa de vocês é esgotamento ou é fossa?
A: Fossa.
238
M: Vocês mesmos que construíram a fossa?
A: Foi.
F: Na casa da gente ainda não tem rede de esgoto não. Só aqui embaixo mesmo.
M: Mas não tem por que não chegou ainda, né?
F: Porque não chegou ainda.
M: Vocês acham que o desprezo, tanto em relação à fossa quanto em relação à ETE, já ouviram falar,
tem algum problema para o rio, mesmo que seja tratado pela própria terra?
A: A população diz que fica se coçando, tanto que denunciaram a embasa ao inema. O inema veio aqui,
olhou tudo aí e disse que o tratamento está correto.
M: Fica se coçando quando toma banho de rio?
A: Banho de rio, é. No caso, aqui no mar.
F: Aqui na lama, ficam se coçando. Todo mês vem fazer a coleta do esgoto, leva pra Santo Antônio e
até agora...
M: Eles trazem os resultados dessas coletas ou fica lá mesmo?
A: Trazem.
M: Quem vem é o inema ou a embasa mesmo?
A, F: A embasa.
M: Aí faz o recolhimento para poder fazer a análise lá. E será que fizeram a análise lá do Rio?
A: Do Rio Catu?
M: Não, no lugar que é desprezado lá no mangue, será que pega lá para fazer análise?
F: Pega, é na saída. Ele pega aqui na bacia, na chegada do esgoto, e pega na chegada lá do rio, para
saber como é que está jogando a água no rio. Aí leva lá para Santo Antônio, leva os vasilhames todos
cheios.
M: Isso foi quando, essa queixa toda, foi agora ou já tem tempo?
A: Já tem tempo. Foi logo quando começou a fazer esse esgoto aí.
M: Então tem 10 anos...
A: É porque o pessoal entrou naquele negócio que ia pagar, aí o pessoal queria cair fora, né?
F: Eles falam que esse esgoto, quando joga lá, fica coçando. Todo tempo que a gente mora aqui em
São Francisco o esgoto daqui, de lá de cima de onde a gente mora, é jogado no rio. Desde antes, a
gente não era nem nascido ainda. Cai aí vai pro rio, lá em cima também vai pro rio. Então porque agora
que a embasa implantou a ETE aqui, com tratamento, joga lá para depois jogar no rio, e a lama tá
coçando?
A: Algumas casas ainda jogam aí. Joga aí, nessa cerquinha aí.
M: Então de qualquer forma o resíduo das fossas vai pro rio, né?
239
A: Vai pro rio.
M: Você que construiu a fossa de sua casa, o que é que você faz pra água sair limpa?
A: Não faço nada. Mas a minha não joga para o mangue não, é o tempo todo na fossa, ali. Não joga
para lugar nenhum.
M: Mas de alguma maneira, aquilo vai para algum lugar, fica subterrâneo?
A: É.
M: Chega algum momento que enche?
A: Não, a minha não.
F: A gente faz dois metros de fundura, bota a broca do lado e suspende, bota uma tampa de concreto
em cima e pronto. Aí fica ali coberta. Aí com o tempo, o barro mesmo faz o processo. A água o barro
suga e fica só o resíduo. Agora, tem um bocado de gente aí que usa a rede fluvial. A manilha aí.
A: O esgoto vai para a manilha.
F: Lá em cima tem um riachozinho. E vai tudo pra maré.
M: Então são 3: o esgotamento da embasa, as fossas que vocês fazem e perfuram o subterrâneo e a
manilha, que é rede fluvial. No caso, desce por onde essa água?
F: Aqui, ó. Nesse caminho aqui.
M: Na rua.
F: É, e vai pro rio. Todo tempo, toda vida caiu no rio.
M: E essa é totalmente sem tratamento.
F: Sem tratamento. Aí agora que implantou a rede de esgoto da embasa, agora que veio a lama coçar...
Não entendo isso!
A: Partindo pra parte da água de novo... É que nem a gente aqui, a gente tem o tratamento da água,
só que agora o pessoal encontrou uma água no “Catone” e eles estão dizendo que está melhor do que
a água da embasa. Só que a água do “Catone” não tem tratamento. Alguns dos moradores me
chamaram pra fazer uma coleta, porque aqui tem um laboratório bacteriológico.
M: Onde
A: Aqui em cima.
M: Da embasa?
A: Da embasa.
M: E quem trabalha lá?
A: Eu.
M: Você que faz as análises lá?
A: Fui pra Santo Antônio, fiquei duas semanas lá tomando treinamento. Me chamaram eu fui e peguei.
Fui com um morador, fiz toda a coleta, trouxe pro laboratório, deixei lá durante 24 horas, como eu
faço com as minhas, e aí deu contaminação. Deu coliforme fecal. Aí eu cheguei e mostrei ao morador.
240
Só que aí eles disseram que eu tava mentindo que era pra poder eles continuarem usando a água
embasa. Aí eu disse “não, se vocês quiserem continuar usando a água de lá, normal, vocês usam, agora,
eu estou falando a vocês que está contaminada”.
M: Dessa água você não bebe, né?
A: Eu não.
M: E você, Florêncio?
A: A mãe dele estava pegando, ele tirou.
F: Eu cheguei a beber, mas depois...
M: Aquela água vem de onde?
F: Quem sabe? Vem dali mesmo, é subterrânea. E aquela fonte é antiga.
A: Como eu disse a Seu Afonso mesmo, que você entrevistou. Ele mesmo foi um dos que veio dizer
que era mentira minha, que era pra poder o pessoal usar a de cá. Eu disse a ele “Seu Afonso, o senhor
trabalhou na embasa? Seu irmão trabalhou, o senhor sabe. Quando não em uma desinfecção da água,
ela é contaminada”. O meu poço é 247 metros de fundura, se eu não desinfectar ela, ela vai dar
contaminação.
F: A água contamina no ar, a contaminação vem no ar. Mas o povo não entende, a gente tem que ficar
quieto.
A: Não tô empatando ninguém de pegar água pra beber lá não, só tô avisando a vocês que ela tá
contaminada.
M: Perguntou e você respondeu, né?
F: Eu nem falo nada, eu digo “sei não, véi. Sei não...”.
A: Aí eu também passei a dizer “sei não, fiz análise nenhuma não...”
M: Vocês me disseram que tem as três formas de esgotamento: a manilha, o esgotamento da embasa
e a fossa. Tem alguma casa que não tem nada disso? Que vive em extrema pobreza aqui que nem isso
tem? Ainda existe aqui isso, será?
F: Rapaz, eu acho que não...
M: Tem algum lugar aqui de São Francisco que as pessoas não têm água mesmo dentro de casa?
A: Tem.
M: Em que lugares, geograficamente?
F: Sem água encanada?
M: Sim, que a pessoa, por exemplo, precisa sair. Existe isso aqui?
A: Existe. Cheiro Mole.
M: Lá em cima, a casa de Cheiro Mole é depois da Sede.
F: Tem um pessoal lá, ele fez lá, Dezinho, ele fez uma encanação dele mesmo, numa fonte lá em cima,
aí a água cai na casa dele, na torneira.
241
M: Aqui tem um monte de fontes, né?
F: Tem.
M: Só essas aí que eu visitei de manhã, um bocado. Mais essa de lá de cima. A fonte da bica já é outra,
né?
A: É perto da ETA, a Fonte da Bica.
F: A bica é histórica.
M: E a água vem também subterrânea, da fonte da bica...
F: É
M: E é limpa ou é coliformes fecais?
A: A olho nu...
F: Rapaz, eu acho que ali tem muitos coliformes fecais, viu? Porque tantas fezes de animal ali...
M: Os animais fazem coco ali, né?
F: E gente também faz, e mesmo assim toma banho. E é fonte boa, é histórica essa fonte aí...
A: Antigamente a embasa era de lá, da Fonte da Bica, a água era de lá, só que não estava dando para
abastecer a população, aí botou pro Rio Catu.
M: Assim, os meninos aqui hoje, os adolescentes, estão pouco interessados na história do lugar. Eu
percebo isso. E quando você não está interessado na história do lugar, você não ajuda. Esses meninos
vão crescer. Então a nossa ideia aqui, assim, a gente não veio pra cá pra poder implantar, nada disso...
Minha orientadora já trabalhou aqui nos anos 2000, a professora Rejâne, na Reserva da Peninha, ela
se apaixonou por aqui, e aí recentemente ela comprou essa casa aí porque ela já vinha trabalhando
aqui há um tempão e a gente veio e gostou daqui. Eu mesmo venho pra cá desde 2014. E aí como ela
tem o interesse de morar aqui mesmo, e ela, como professora, como educadora, sente a necessidade
de fazer alguma coisa, como ela é bióloga, ela usa desse conhecimento, ela tem os alunos dela lá que
têm várias formações, ela usa disso pra poder trocar conhecimento, eles ensinam pra gente e a gente
troca também com eles.
Aí a gente ficou assim preocupado porque aqui é um lugar maravilhoso, um lugar lindo, um lugar
excelente pra se morar, um lugar que precisava ter uma organização turística, esse píer é uma coisa
linda, esse passeio que faz aqui, meu Deus do céu! No dia que eu fiz, eu fiquei maravilhada. Eu guardo
com carinho as fotos do dia porque eu me senti no paraíso. Aí a gente sente a necessidade de ajudar
eles a se interessar. Aí a gente vai fazer isso aí utilizando esses materiais de comunicação. Eu como
jornalista puxo um pouquinho para a minha, né? Todo mundo gosta de internet, facebook, whatsapp,
instagram, mas só que gostam de postar foto sensual, né? Então vamos usar isso para alguma coisa do
nosso dia a dia, da nossa casa, e é isso que a gente quer trazer pra eles.
A escola cedeu o espaço pra gente fazer isso, aí de vez em quando eles vão sair por aí junto comigo,
eles vão documentar algumas coisas, fazer fotos de outras. A gente leva eles pra Salvador, para a UFBA,
depois a gente vem pra cá, tudo isso. Com vistas a contribuir pra eles, dar uma oportunidade, porque
a gente recebeu essa oportunidade, alguém fez isso por mim lá atrás, e hoje a gente quer fazer
também. Aí de vez em quando eu vou chamar vocês.
242
Eu queria fazer uma visita com eles, quando tiver tudo organizadinho, lá na ETA, pra eles entenderem
como é, e depois a gente vai contar também com a ajuda dos professores, por exemplo, pra explicar
pra eles porque que tem que ter sulfato na água? O que é que o sulfato faz com a água? Isso aí os
professores vão ajudar a gente, entendeu? Tudo isso eles vão aprender. Depois eu queria que vocês
levassem a gente nesse laboratório aí pra gente ver como é que é. Mas aí tem que ver se a embasa
permite que veja, né? Mas a gente vai conversando sobre isso, se puder, pode, se não puder... E eu
queria agradecer a paciência.
ENTREVISTA 3
DAMIÃO: Qual a utilidade do pinicão?
FLORÊNCIO: O pinicão na verdade não é um pinicão, aí se chama ETE. ETE significa Estação de
Tratamento de Esgoto. Aqui onde a gente está é a elevatória, que eleva todo o esgoto da comunidade,
daqui faz a elevação direta para a ETE, e a ETE é a Estação de Tratamento de Esgoto, que o povo chama
de pinicão.
D: A água que foi tratada retorna para a população?
F: Não
D: Pode prejudicar o meio ambiente?
F: Não, porque quando ela sai daqui da elevatória e vai diretamente para a ETE, lá na ETE, no decorrer,
faz o tratamento. Lá a gente tem 4 bacias, aí faz o tratamento de uma para outra, aí quando chega a
despejar ao rio, já sai a água limpa, tratada. Mas não volta pra gente consumir não.
D: O senhor pode me falar quais são as fases do tratamento dentro do pinicão?
F: Rapaz, o tratamento lá é natural. Não é levado nenhuma química. A gente não bota nenhuma
química. É levado daqui (elevatória) para lá, aí quando chega lá... Aqui, como é elevatória, chegam aqui
as fezes, aí o esgoto daqui eleva para lá. Chega lá, cai numa bacia, aí a bacia faz a mistura, a bomba
joga lá. Aí o resíduo, como a gente fala, bosta, ela fica toda no fundo da ETE, tipo uma água suja. Água
suja vai lá, aí quando ela assenta, o lodo assenta no fundo e a água limpa fica em cima, né? É a mesma
coisa que faz lá na ETE. O resíduo da bosta, das fezes, fica todo no fundo da ETE, e aí sobe a água limpa,
aí o tempo mesmo vai fazendo tipo a filtração, aí vai passando de uma bacia para outra até a
decantação que chega ao rio.
D: E pra fazer esse tratamento demora cerca de quantos minutos assim? Dias?
F: Rapaz, não leva dias não, leva meses. Muitas vezes aqui leva até ano. Porque ela cai numa bacia, aí
vai indo, dia após dia, até chegar o lugar pra desembocar em outra bacia lá de saturamento, até chegar
a extravasão que vai pro rio. Mas a gente não tem o tempo determinado. Leva meses, muitas vezes
aqui leva até ano. A estação de tratamento da gente aqui só joga pro rio, extravasa, é quando é período
de chuva. Aí eu não tenho tempo determinado.
D: Só foi isso mesmo, muito obrigada, seu Florêncio.
243
Entrevistada: Edna, Diretora da Escola.
___________________________________________________________________
Áudio 1
Mariana - Me conte aí o que é que você sabe da escola e a história dela?
Edna - Olha, eu só posso te falar a partir de 1986. Na década de… até 11 de março de 1986 ela era
escola rural de São Francisco do Paraguaçu. Então ela pegou a década de 70, 60, até 86, no dia 11 de
março de 1986 ela se tornou, escola estadual de primeiro grau de São Francisco do Paraguaçu, com
portaria com o código de 0066320, pela portaria 3295 do diário oficial de 11/03/1986 aí ela passou a
ser estado.
Eu comecei a trabalhar aqui na escola como professora de matemática e professora de artes em 08 de
agosto de 1986, que eu comecei a trabalhar aqui na escola. Então daí pra cá, ela era sob a direção da
professora Mabel Pinto Salgado de Santana e ficou como estado até 97, que aí foi municipalizada, tirou
o fundamental dois daqui, foi pra o Iguape. Quando foi 2001 na gestão de Raimundo Leite, aí voltou à
escola pra aqui,o ginásio pra aqui pro São Francisco e aí eu assumi a direção da escola nesse período.
Quando foi em 2005 eu fui exonerada da direção daqui da escola, assumiu o diretor Pedro Gomes
Garcia e eu fui ser diretora da Maria da hora, no final de 2006 eu pedi exoneração de lá da escola e
voltei a trabalhar aqui como professora, aí trabalhei 2006, 2007, 2008, 2009 até 2011 como professora.
De 2011 até então como diretora.
M - O que você pode me dizer sobre o apoio da prefeitura em relação à escola de maneira geral durante
esses anos?
E - Olha, a prefeitura a partir do momento que a escola foi municipalizada, então todos os recursos
aqui da escola de manutenção, de reforma, de merenda escolar é através da prefeitura. Porém para o
MEC a escola continua com a mesma documentação, ela não mudou nem de nome, nem de portaria
e nem de diário oficial. INEP, você identifica a escola pelo INEP que é 29162718 ela é cadastrada no
MEC com esse INEP. O que acontece pra o FNDE que o Fundo Nacional de Desenvolvimento de dinheiro
diretamente na escola está diretamente com documentação do estado, pra o MEC ela consta como
estado.
M - E gera algum problema?
E - Não, até então não gera nenhum problema porque hoje as escolas do fundamental I, todas estão a
cargo dos municípios, a maioria das escolas hoje estão municipalizadas. O estado hoje só tá tendo
compromisso a partir do ensino médio e os ensinos profissionalizantes, então fundamental I e II está
a cargo dos municípios.
M - Você sabe dizer alguma coisa sobre o IDEB da escola ou lembra?
E - O IDEB da escola no momento agora eu tenho até no meu celular se eu não me engano, mas agora
tá descarregado, depois eu te passo. Eu sei que o IDEB da escola a gente quase conseguiu uma média,
entendeu? Mas essas informações eu te passo.
M - Qual é o número geralmente de alunos por ano e de onde é esse público em grande maioria?
244
E - A grande maioria do público daqui da comunidade mesmo, já teve época de nós recebermos alunos
de outros lugares, nós tivemos aqui alunos do Engenho, da Ponte, do Caonge, da Opalma, mas a
clientela maior da própria comunidade.
M - E o número de alunos em média todo ano?
E - Todo ano chega na faixa de 117, 127 isso varia, porque como nós agora temos até do nono ano, aí
a gente entrega uma turma e geralmente a gente não recebe aquela quantidade de alunos pra suprir
o número às vezes daquela turma. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui do quinto ao nono ano e
muitas vezes a gente recebe o quinto ano com pouquíssimos alunos, geralmente a escola lá de cima
Maria da Hora, ela funciona do primeiro ao quinto ano. Então agora tá essa demora porque aqui
sempre funcionou do primeiro ao quinto ano, e aí com essa demanda também lá na escola eles perdem
uma turma, aí geralmente ganha uma turma que não supre a necessidade de alunos.
M - Quantos professores na casa?
E - Na casa hoje eu tenho 10 professores.
M - Projetos de maneira geral?
E - tem projetos, agora mesmo estamos com dois projetos pra ser desenvolvidos agora pro segundo
semestre, que é o projeto da horta sustentável e o projeto que ficou pra escolher o tema, mas é um
projeto que vai envolver a comunidade e a família e a gente tá pensando em um projeto e decidiu
tirar o nome do projeto porque o seguinte, a gente tá vendo que vai ser, valorização das marisqueiras
e aí a gente vai montar uma feira de mariscos com comidas típicas da localidade pra fazer o
envolvimento da família escola.
M - São projetos de dentro da escola mesmo que vão envolver a comunidade.
E - Isso. Aí, a gente estava rabiscando esse projeto pra poder sentar e elaborar o projeto, pra fazer o
projeto. E também literatura de cordel.
M - Quais são as principais dificuldades de hoje que a escola enfrenta?
E - Infraestrutura. Hoje a maior dificuldade da escola é a infraestrutura, porque graças a Deus temos
os professores qualificados, professores que além de ter uma qualificação, estão ainda buscando
outras qualificações, estão estudando fazendo faculdade aos sábados, certo? E a infraestrutura é que
está deixando a desejar embora nós tenhamos construções novas na escola, salas de aula, ampliações
de sala de aula, mas a gente ainda tem muita demanda com a infraestrutura da escola.
M - E em relação aos egressos, conhece egressos por aí muitos?
E - Temos muito né? Agora mesmo a gente ficou muito feliz com a aprovação de mais oito ou nove
alunos, que saíram daqui da escola, tiraram o fundamental dois aqui e passaram na faculdade e muitos
alunos que também já se formaram e já concluíram em outras faculdades saíram daqui. Então pra
gente isso é motivo de muita felicidade, conquista grande e também os projetos que foram aprovados
pelo MEC, como nós tivemos aqui o projeto de sustentabilidade de escola sustentável, que a gente
pode fazer uma modificação na área de lazer dos alunos, com o jardim, que essa área era toda alagada
e hoje eles podem usufruir dessa área sem o alagamento que era. Temos também a nossas parcerias
com a UFBA, com os nossos alunos sendo desenvolvidos nos programas de jovens cientistas da UFBA,
agora com a agência de notícias da UFBA, então a nossa escola é motivo de muito orgulho, embora ela
seja de zona rural e distante 44 km da sede, que é cachoeira, mas aqui a gente busca cada vez mais
promover um ensino de qualidade e o bem estar do aluno.
245
Áudio 2
M - Eu perguntei ”Venha cá seu Afonso, por que Calebe ele estudou no APAE quando era criança? “Ah,
não sei, a mãe dele que sabe, problema dele só a mãe dele que sabe”.
M - Como é que um pai não sabe o problema que o filho tem Edna? Mora na mesma casa.
E - Inclusive eu tenho problemas aqui com ela justamente por isso, eu não posso informar ele com
senso como que eu poderia está recebendo recurso na escola para crianças especiais, entendeu?! Não
recebo porque os pais das crianças especiais eu não posso informar com senso que são crianças
especiais que a gente sabe que são especiais porque os pais não trazem o relatório médico para
comprovar que a criança é especial, porque para eu constatar no senso eu tenho que ver o relatório
médico para esta preenchendo que aí você sinaliza ali que ele tem uma deficiência, aí pergunta o tipo
de deficiência, você vai dizer, aí vem um questionamento para você responder de acordo com o
relatório médico daquela deficiência.
M - Você consegue identificar qual é o problema que ele tem? Ou isso já não é mais visível?
E - Hoje não é mais visível.
M - De jeito nenhum?
E - O problema de Calebe, ele tinha sim um retardamento mental e fonológico porque eu posso te
dizer isso pela questão da convivência porque quando ele começou a estudar na APAE, ele estudava
quem levava era meu esposo Ramon, então ele ia todos os dias com Ramon deixava ele lá na APAE no
horário de 10:30 por ai Ramon passava e pegava.
M - E ele era pequenininho.
E - Era menor, ele tinha na faixa de seus 8 anos mais ou menos ele não era tão pequenininho era de 8
a 10 anos mais ou menos e uns 2 a três anos que ele estudou na APAE.
M - Ele estuda aqui desde que ano, você lembra assim?
E - Não, porque ele estudava sempre no Maria da Hora.
M - Então ele chegou a estudar também no Maria da Hora?
E - Ele estudava no Maria da Hora, ele passou para aqui quando ele passou para o quinto ano, que ele
já está aqui na escola, ele assim é bem imperativo, ele era muito nervoso, muito mesmo , qualquer
coisinha ele estava estourando e até hoje você ver que tem momentos que ele estoura e começa a
xingar todo mundo a agredir todo mundo verbalmente, mas assim definido, nunca consegui a mãe
nunca trouxe relatório, só sabia dizer que ele tinha problema de cabeça, que ele tinha problema de
cabeça.
M - E ela só diz isso?
E - Ela só diz isso, ele tomava remédio controlado e que tinha problema de cabeça, mesmo que ele
estudando aqui ele tinha que esta pelo menos duas vezes ou três na semana na APAE e ela tirou a
246
partir que começou dando problema no pagamento dele ela ai tirou ele, tirou justamente porque ele
não tava frequentando o APAE.
M - Ele recebeu alguma coisa ainda hoje? Ele recebia NSS na certa, auxílio doença, hoje em dia não se
sabe né?! Acho que ele recebe
E - Ela só faz dizer que a bolsa família dela foi cortada, que isso e aquilo é mas eu acho que nunca foi
uma pessoa assim ponderada, só vivia atrapalhada com esses negócios de dinheiro, do bolsa família,
tanto dinheiro de Caio que eu acho que ela pegava mais do limite, e aí dava problema todo mês era
uma agonia.
M - Mas Josué não tem nenhum problema não né?
E - Já parece que Josué tem mais do que Calebe.
M - Você acha?
E - Eu acho.
M - Mas ninguém comenta sobre isso?
E - Não.
M: Isso é uma conclusão sua né?
E - É, questão de Josué, ele é um menino hiperativo.
M - Dá pra perceber pelo comportamento dele.
E - Ele é hiperativo, eu vou lhe ser sincera, eu estou ultimamente buscando forças em Deus, me
policiando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, porque eu vou ter que fazer um trabalho, o
problema Mari é o seguinte, no sábado eu assisti uma reportagem em Fátima Bernardes onde ela
falava a respeito do gestor e teve uma gestora que ela estava falando o q eu ela melhorou que
conseguiu melhorar que ela já era aposentada do estado e foi ser coordenadora em uma escola pública
e como foi que ela conseguiu melhorar o dessa escola, como foi que ela conseguiu melhorar o
aprendizado dessa escola, através de que, ao invés dela chamar o professor e conversar, dizer porque
tem pessoas que aceitam, tem professores que chegam vamos fazer assim dessa forma, mas tem
pessoas que já não aceitam e ela usou a metodologia de carta.
M - Ela escrevia cartas?
E - Ela observava sua aula, observava sua turma, via sentia qual era a dificuldade que você tinha na
turma e a dificuldade que os alunos tinham e ai ela analisava essas dificuldades e escrevia cartas para
o professor e aí deixava dentro do diário do professor as cartas para o próprio professor, mostrando
as dificuldades e mostrando possibilidades e metodologia de trabalho com a turma através de cartas,
então professoras ai dando depoimento que sensibilizou com aquilo , dela do carinho, de como ela
mostrava onde estava errando , onde tinha condições de melhorar, de sugestões de trabalhar, de
forma carinhosa de uma carta, que elas iam ler aquela carta, que ela começava aquela carta assim
mostrando coisas para eles que já tinha esquecido, aquela parte da metodologia de se ler uma carta ,
então mudou e eu tenho buscado essas coisas justamente por isso, porque o que é que eu vejo, Jura
247
mesmo já começa a trabalhar pela parte da portaria , Jura tem uma parte muito boa, ele tem que ela
parte de sempre ele chama uma aluno, conversa isso e aquilo, sempre ele tentar trazer esse aluno para
o lado da gente coisa e tal, mas ele tem que é temperamental.
M - Perde a cabeça.
E - Perde a cabeça, tem horas que ele não é só perder a cabeça, tem horas que se o aluno, gente não
existe, que hoje alguém me aponte a escola perfeita que tenha alunos perfeitos que não tenha aluno
indisciplinado, que não tenha aluno que apronte , que não tenha aluno que dê palavrão, acho que não
tem essa ainda, pelo menos que eu conheça , entendeu? Então se o aluno é travesso, “ah, que vai
botar para casa, que vai botar para fora, que não adianta, que vem aqui para escola para bagunçar”
Sim, mas ninguém para com esse aluno 5 minutos para conversar , nenhum deles que acham que esses
alunos são dessa forma para tirar 10 minutos do seu tempo “ ah porque fulano é insuportável, porque
fulano vem para a escola fazer bagunça, vem não faz nada e que não abre um caderno e que isso e que
aquilo” porque que não procurou ver o que não está dando interesse o que aquele aluno está
despertando.
M - Então você está procurando métodos de observar isso melhor né?
E - De observar isso melhor.
M - Entendi.
E - Entendeu Mari? Porque eu acho o seguinte.
Áudio 3
E - Então me preocupa, porque o que é que acontece a defasagem do aluno, que o aluno vai ficando...
não tá rendendo.... No caso, o que dificulta pra mim é a situação de não ter uma coordenação dentro
da escola.
M - Você não tem coordenador pedagógico não, por quê?
E - Não temos coordenador pedagógico, quer dizer temos os técnicos da secretaria de educação, mas
quando vem aqui é uma vez no mês.
M - E por que a escola não tem coordenador pedagógico?
E - É justamente isso, porque a gente pede na secretaria de educação.
M - A escola é estadual ou municipal?
E - Ela é municipalizada
M - A escola é estadual, mas foi municipalizada.
E - Isso, foi municipalizada.
M - Desde que ano?
248
E - Oh, a história da nossa escola. Da década de 60 até 86, até 10 de março de 86, ela era Escola Rural
de São Francisco do Paraguaçu. Em 11 de março de 1986 foi publicada no diário oficial como Escola
Estadual de primeiro grau de São Francisco do Paraguaçu.
M - Aí era o estado?
E - Aí ela já passou a ser estado.
M - Mas quando era rural ela era municipal ou estado?
E - Ela era municipal.
M - E quando foi que ela foi municipalizada novamente?
E - Foi em dezembro de 1997.
M - Hum entendi, mas ela não tem coordenador pedagógico. E já teve?
E - Já teve. E também o seguinte, o que é que acontece, a escola foi municipalizada, porém, eu não
tenho na escola documentos que comprovem… Diário oficial, portaria, da municipalização. Já solicitei
a secretaria de educação, mas até então ninguém me entregou nada. É tanto porque eu questiono,
pela situação dos históricos, aí os históricos eu faço todos, como ela sendo estado. Porque para o MEC
ela continua a mesma coisa, para o MEC ela continua sendo estado. Porque para o estado, a
documentação da escola é, o código dela é 0066320 o código estadual, a portaria é 3295.
M - Essa portaria é do que?
E - Diário oficial de 11/03/1986 e o CNPJ da escola é 02062569/000107.
M - Eu queria saber um pouquinho mais sobre os professores. Porque eu percebo que aqui os
professores não são formados na disciplina, mas isso é uma coisa que é normal e natural entre as
escolas rurais, porque primeiro os professores são mandados das prefeituras e se não forem esses
professores, não vão ser nenhum. Então aqui vocês precisam fazer uma ginástica pra poder os meninos
terem essa estrutura de ensino e é muito perceptível isso e já está acontecendo na capital, assim a
maior parte dos professores de química, física e biologia não são formados nem em química, nem em
física, nem em biologia e nem em matemática. Sociologia e filosofia também já estão assim, então os
professores são reorganizados. Aqui eu percebo que quase todo quadro é assim, lá a gente tem esse
percentual, que em todas as escolas públicas já tem uma parte que já não é formado na disciplina, isso
não é uma coisa apenas rural.
M - Aí eu queria entender um pouco mais sobre os professores, sobre esse quadro, queria entender
de professor por professor. Vamos lá, quem são os professores da casa hoje?
E - Adalberto.
M - Adalberto ele hoje ensina?
E - O que você quer saber série ou disciplina?
E - Adalberto ele sempre trabalhou com matemática do 6° ano e ciências do 6° ao 8° ano.
M - certo, qual é a formação dele?
E - Ele é formado em pedagogia e agora ta fazendo licenciatura em ciências
249
M - Onde é essa licenciatura você sabe?
E - Oh Mai,no momento eles estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo semipresencial, eles fazem
dois sábados por mês, então todos eles hoje estão buscando a licenciatura.
M - Então ele já é licenciado em pedagogia agora ta se licenciado pela segunda vez em ciências. Certo,
qual é o outro professor?
E - Dário. Esse é licenciado inglês com letras.
M - certo, o que ele geralmente ensina e quais séries?
E - ele está trabalhando do 5° ao 9° ano.
M - sempre inglês ou português também?
E - sempre inglês.
M - certo, quem mais?
E - Elisa.
M - Vamos lá, Elisa.
E - Elisa é fez pedagogia e tá fazendo licenciatura em letras.
M - é a mesma coisa do esquema de Adalberto?
E - é, é a mesma faculdade.
M - também semipresencial?
E - é.
M - dois sábados, eles se esforçam muito viu.
E - e olhe que é particular, eles pagam todo mês.
M - Eu vejo que Elisa, me parece é que ela é que tem… um pouquinho mais com os meninos né? Um
pouquinho mais casca grossa com eles.
E - É.
M - me parece mesmo e ela também coloca na frente, os meninos fazendo as coisas mesmo, ela tem
uma personalidade assim que a gente ver por fora mesmo o trabalho dela. Mas ela ensina o que aqui?
E - ela ensina, português e redação 8° e 9° ano.
M - só essas duas séries?
E - só.
M - Adalberto é só professor daqui?
E - é, no caso ele trabalhava aqui no Maria da Hora no 5° ano, agora ele desceu só aqui.
M - e Dário ele trabalha só aqui ou em outra escola?
E - ele trabalha aqui e no Iguape.
250
M - No Iguape também né? Numa escola de ensino médio?
E - É na Pedro Paulo, é Pedro Paulo? Pedro Paulo é municipal, é fundamental, então é outra.
M - certo e Elisa também trabalha em outra escola néné? Acho que é em opalma.
E - É Opalma, escola general Alfredo Américo da Silva, já foi uma senhora escola, na época de Ernesto
Gaisel.
M - Renata.
E - Renata, professora de história do 5° ao 9° ano.
M - Certo, Renata só trabalha aqui?
E - Renata é.
M - Certo, ela é licenciada em que?
E - Ela é licenciada em pedagogia e também está fazendo história.
M - E essa licenciatura também é no mesmo esquema de…?
E - É todos eles.
M - Licenciatura semipresencial né?
E - É, semipresencial.
M - Ok, Raul.
E - Raul, educação física e artes.
M - Ele ensina que série? Também do quinto ao nono?
E - Quando ele não com uma disciplina, ele tá com outra na turma.
M - Educação física e artes, ele também é só aqui em São Francisco?
E - É.
M - E qual é a formação dele?
E - Ele também é pedagogia.
M - Ele está estudando também ou ele só tem a formação em pedagogia?
E - Ele é licenciado em pedagogia, ele é licenciado em gestão educacional.
M - ele é licenciado em pedagogia e gestão educacional, ele é licenciado em educação física, não?
E - Ele esta fazendo licenciatura em educação física.
M - Também no esquema semipresencial né?
E - Ele e Raul estão fazendo educação física.
M - Não, é Raul que eu tô dizendo aqui.
251
E - Ah é? Não.
M - Todo esse aqui é de Moisés é?
E - Não, cadê?
M - Que você falou pra mim.
E – Raul, Educação física e artes.
M – Ó, Raul, 5° ao 9° ano educação física e artes e ensina só aqui em São Francisco. Ele é licenciado em
pedagogia.
E - Isso.
M - Ele é licenciado em que mais?
E - Ele está fazendo educação física.
M - Ele está se licenciando em educação física, também é nesse processo?
E - Também é nesse.
M - Certo, Moisés. Moisés ensina o que e em que ano?
E - Moisés ensina do 5° ao 9° ano.
M - Ensina só aqui em São Francisco?
E - E opalma também.
M - São Francisco e Opalma. Ensina educação física, geografia né?
E - E educação ambiental.
M - Tem uma matéria uma material educação ambiental?
E - Tem, é disciplina.
M - Ele é licenciado em que?
E - Em pedagogia e gestão educacional.
M - E educação física ele é?
E - Não, ele tem curso de… agora eu vou dá uma rasteira nele. Esporte educacional.
M - Certo, Raimunda. Ensina que série?
E - 5° ao 9°.
M - Somente aqui em São Francisco?
E - Só.
M - Certo, ele ensina o que?
E - Ela ensina português, consumo e cidadania.
252
M - Também é matéria?
E - Também é matéria.
M - Certo, só essas duas?
E - E geografia pro 9°, pro 9° não pro 7°.
M - Agora ela é licenciada em que?
E - Pedagogia.
M - Ela está estudando alguma coisa?
E - Gestão educacional.
M - Tá fazendo essa licenciatura né?
E - Não, ela já é licenciada, porque quem fez gestão educacional aqui foi eu, ela, Moisés, Renata e
Angélica. Porque quando a gente tava fazendo pedagogia, aí veio uma outra faculdade que
aproveitava a disciplina que a gente tinha feito junto com pedagogia e aí a gente fez mais quatro
disciplinas e aí a gente pagou por fora essas quatro disciplinas pra poder pegar a licenciatura de gestão
educacional.
M - Ótimo! Tem mais alguém na escola?
E - A gente fez também progestão, aí do progestão com pedagogia.
M - Progestão é o que?
E - Progestão é também uma formação de licenciatura. A gente fez progestão, temos os nossos
certificados.
M - Deixa eu botar você aqui, progestão que é uma formação né?
E - É. Curso de formação progestores.
M - Você fez pedagogia e você fez uma habilitação em gestão educacional, certo. Você já assume a
diretoria a mais de?
E - Mais de 20 anos, eu tenho só de gestão aqui eu tenho 20 como gestora.
M - Certo, falta Arthur, Damasceno e quem mais?
E – Ah, é porque Arthur agora tá como prestador entendeu? Ele não tá como efetivo da casa.Ele tá
fazendo, tá concluindo, bacharelado em ciências e matemática.
M - Certo, então Arthur ensina o que?
E - Matemática.
M - Quais séries?
E - Do 7° ao 9°.
M - Ok, e ele ainda está se formando, se licenciando em ciências exatas. Quem mandou prestador foi
a prefeitura?
253
E - foi a prefeitura
M - já fez concurso não
E - já fez esse ano
M - Damasceno
E - Damasceno não é só um voluntário da escola com através dos programas mais educação ele é
instrutor da fanfarra eu nem sei se vai ser mais me decepcionei muito Danilo depois que começou a
fazer lá pelos pelourinhos
M - qual é a formação dele você sabe
E - Só tem o ensino médio mesmo não sei foi completo
M – Edina vamos ver se tá faltando alguém, tá faltando alguém?
E - Tem Tereza, mas Tereza não é do quadro dos professores, porque a situação dela é a seguinte:
Tereza é uma pessoa que presta serviços aqui na escola a muitos anos muitos anos mesmos, porém
ela porém ela não tem vínculo empregatício com a prefeitura, ela trabalha com terceiro ano lá em
cima e trabalha aqui no ginásio também
M - ela dá aula de que?
E - aqui ela dá aula de História do sétimo ano
M - mas ela atualmente é professora
E - ela é professora
M - prestadora de serviços de História. Ela tem formação de que?
E - ela é magistério, nem pedagogia ela não fez
M - Além de Tereza, tem mais algum professor?
E – não
M - aí tem você como diretora, tem jura como porteiro, e quantas meninas tem na cozinha e vigilantes
né? E Marília, qual é a função dela aqui
E - Marília trabalha aqui na secretaria
M - ela é secretária da escola né
M - só é uma secretária
E - só
M - e ela dá conta de tudo pra essa escola toda não dá não né é isso que estou estranhando
E - não dá não porque Marília de fato não é nem assim ela trabalha aqui fazendo parte da secretaria ,
mas ela não é designada para a secretaria entendeu, ela fica aqui para me ajudar me dá suporte
principalmente na parte de sistemática porque no caso de matrícula, de notas, essas coisas, mapas,
passar notas para boletim, notas para diário, mapas de frequência, aí ela fica nessa parte para me
ajudar. Porque ela, de fato, como tem horas que ela estoura sobre isso e aquilo, mas ela de fato não é
designada como secretária da escola, ela está nessa função aqui para me ajudar nessa parte.
254
M - certo então esse é todo o quadro de pessoas que trabalha aqui na escola. os alunos você já me
disse quantos são tudo você já me explicou. E eu queria saber o seguinte: esse concurso que teve você
sabe me dizer se o pessoal tinha que ter formação específica para vir ensinar as disciplinas
E - Tinha que ter licenciatura no caso para o ginásio foi feito o concurso já especificando quantas vagas
para cada disciplina
255
Entrevistado: João, Morador da Comunidade. Calebe acompanhou.
Data: 10 de abril de 2019
Nasceu em Salvador e se criou na cidade de Candeias. O pai trabalhou na Petrobrás e eles passaram
dificuldades na infância, até que a BR se estruturou e eles puderam desfrutar de uma infância melhor.
A mãe e as tias de João nasceram em São Francisco do Paraguaçu. Por essa razão, desde criança, João
passava a metade do ano na Vila e a outra metade em Candeias. Mais tarde se mudou para Salvador.
“É como se eu tivesse vivido metade da minha vida aqui e metade em Salvador”, diz.
Quando jovem, ele e os vinham para São Francisco nos meses de férias do ano letivo (dezembro, janeiro
e fevereiro) e das férias do meio do ano (final de maio, junho todo e uma parte de julho).
JOÃO: A gente conhece tudo, a gente conhece as pessoas, a gente conhece muita gente que já foi
embora, porque morreu e outras pra ganhar a vida lá fora... Nesse primeiro período, essa rua do
Quebra-prato quase não tinha casa coberta com telha, as casas quase todas eram de taipa, cobertas
com palha, eu não me lembro se de licuri... Não era palha de dendê, era outro tipo de palha que cobria.
E o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, as pessoas foram melhorando de vida. Mas a vida
aqui sempre foi vivida assim: o mato pra tirar madeira, pra tirar piaçava, pra tirar estopa, estopa é a
casa da biriba, faz estopa pra calafetar barco, pra tapar os buracos que surgem no casco do barco, das
embarcações. E a pesca.
Aqui tinha muitas camboas, porque aí à frente tem uma coroa, uma parte que quando a maré baixa
você chega a ver a areia no meio do mar. E aqui também tinha o comércio de areia, que era tirada daí
do rio Paraguaçu, aqui tinha uma olaria, que fabricava telhas, blocos e levava de saveiro para Salvador,
aqui tinha muitos saveiros. A olaria fechou, parou de mandar material, as embarcações foram
acabando, o trabalhador novo não quis continuar o trabalho de tirar areia do rio para levar, também
acho que deve ter dado algum pane no mercado, eu sei que parou a retirada de areia daí. Inclusive,
aqui tirou muita areia desse rio daí para a construção do Elevador Lacerda. Aqui já saiu areia pra várias
utilidades, aqui saía muito marisco, banana, quiabo, batata, tudo que você possa imaginar, aipim,
daqui direto pra rampa do mercado lá em Salvador.
MARIANA: Se você olhar para essa época e para os dias de hoje, o que sobrou para a comunidade
sobreviver?
J: Hoje tem muita gente que saiu para trabalhar lá fora. Naquele tempo a maioria das pessoas ficavam
aqui. Elas viviam aqui. Depois veio oportunidade com a estrada. A estrada trouxe benefício, mas
também trouxe muita coisa ruim, porque ela abriu e quando ela abriu muita gente de fora viu. Porque
isso aqui quase não era visto, o transporte da gente era navio. Saía da baiana de Salvador e chegava
aqui, então só as pessoas mesmo que pegavam o navio. Todo mundo ia pra Itaparica, ia pra outros
lugares, mas ninguém vinha pra esse lado daqui. Só quem vinha pra Cachoeira, Maragogipe... O navio
passava pra Maragogipe, tinha outro que ia pra Cachoeira e tinha outro que vinha para aqui e pra
santiago do Iguape. Eram 3, era o Maragoipe, que ia pra Maragogipe, o Vapor de Cachoeira, que rodava
pra Cachoeira e o Visconde de Cairu, que subia e descia o rio aqui duas vezes por semana, quarta e
sábado.
M: Muita gente saiu para trabalhar, mas quem ficou vive de quê?
J: Muita gente viveu do FUNRURAL, foi uma época que começou uma aposentadoria... Eu não sei se é
a FUNRURAL que é LOAS ou se são benefícios diferentes... Eu sei que tem gente que recebe LOAS e
tem gente que recebe FUNRURAL. Durante o tempo que eu era criança não existia isso aqui. Foi da
época que se criou o FUNRURAL que os trabalhadores começaram a ter direito. Muita gente nem
256
conhecia, muita gente nem foi buscar isso direito, enfim. Aposentadoria, e esse processo continua em
muitas casas ainda, em muitas famílias aqui. Pai e mãe aposentam e os filhos, que a maioria hoje já
não quer mais ir porque papai e mamãe tá aposentado, tem muitos que ficam por aqui. Mas tem
muitos que saem, o êxodo continua.
M: E a pesca...
J: A pesca era muito, mas muito mais abundante do que hoje. Todo dia o pessoal subia de madrugada,
tocava um buzo, um buzo grande assim, e quando tocava era porque o cara tava trazendo peixe,
balaios de peixe que tiravam dessas camboas aí. E depois começou a pesca predatória, as bombas,
essas coisas, começaram a jogar bomba dentro das camboas, porque as camboas eram um
reservatório, era uma coisa assim, ó, em V, e tinha um (...) aqui dentro que quando o peixe entrava
aqui ele não podia mais sair. Entrou, ficava. Então de noite o pessoal vinha, passava a rede dentro da
camboa, tirava o peixe e pronto.
Era muito pescado. Camarão aqui todo dia tinha um pessoal que numa rede grande pescava camarão,
camarão mourão, camarão diferente do branco. Esse que a gente compra aqui, que você compra aí, é
o camarão branco. O que tinha mais naquele tempo, em maior abundância, era o camarão vermelho,
chamava camarão mouro. Então o cara tirava aqui por dia acho que uns 20, 30 quilos de camarão, que
ele secava aí mesmo, era um processo de secagem artesanal, o pessoal ia pescar e ficava um que
cuidava do fogo ali na Ponta da Pedra, onde hoje é o Bar do Amor. Ali tinha uma cabana e o cara
checava o camarão ali, ele já distribuía aqui para os comerciantes que queriam, iam lá pegar, e tirava
a maior parte e levava pra Santiago, o dono da rede era de lá, e embarcava tudo, espeto de camarão,
não sei se você já viu espeto de camarão vendendo no mercado, então aqueles espetos eram feitos
aqui.
Então depois essa rede parou de pescar, principalmente depois da chegada da estrada. O navio saiu e
a saída do navio acabou de vez a possibilidade de se levar a produção de pescado, de horti-frutti, de
verdura, do que tirasse daqui, a saída do navio acabou, por isso mesmo acabou o comércio. Pra você
ter uma ideia, o comércio daqui no meu tempo de criança era infinitamente maior do que esse
comércio daqui hoje.
M: Aqui é bem pequenininho, não tem quase nada o comércio daqui...
J: Essa casa aqui era uma loja, aqui se vendia confecção, se vendia calçado, se vendia tudo. Não tinha
garagem. Essa casa tinha quatro quartos enormes, duas salas enormes, porque a garagem era usada
toda na casa e era uma loja. Aqui tinha armazém, aqui se vendia bacalhau, e não vendia bacalhau 1kg,
meio quilo, hoje acho que você não encontra nem 1kg, aqui vendia barrica de madeira de bacalhau.
Aqui vendia bacalhau de tudo quanto era lugar, até de fora do país. Chegava aqui era uma espécie de
entreposto, a vida comercial aqui era infinitamente maior. Você passava nas casas, você via banana
pendurada. Quando pendura na janela, é pra vender, você sabe que ali é pra vender. Banana, batata
doce, quiabo, aipim... O que você imaginar saía daqui. Quando o navio parava, não só aqui como
Santiago também, o navio parava aqui no sábado, 5 da tarde ele chegava aqui com as pessoas, ia para
o Iguape, pra Santiago, e na madrugada de domingo para segunda ele voltava pra levar as pessoas que
iam trabalhar. Então tinha muita gente que vinha pra cá pra passar o final de semana, mas era filho
daqui, que vinha trazer o dinheiro pra família, o marido que trabalhava lá e vinha pra cá de navio.
Só que a saída do navio daqui acabou esse comércio, dificultou e muito porque o transporte terrestre,
você sabe, é muito mais caro. Imagine o cara pegava um saco de 30 quilos de camarão, ele botava no
navio, só ia parar em Salvador. Hoje se você quiser levar 30 quilos de camarão fresco de qualquer
espécie para Salvador, você tem que botar ele no ônibus aqui, aí você paga um transporte. Desce em
257
Santo Amaro, embarca na Santana, outro transporte. Vai até Pirajá, aquela subida ali em São Caetano,
para ali e desce tudo pra pegar outra condução pra ir pra feira de Água de Meninos. Imagine quanto
de dinheiro não é? Inviabilizou, essa é a verdade.
Tem gente que vem aqui pra comprar alguma coisa, pescado, marisco, essas coisas, vem com seu
próprio carro, o que já inviabiliza por conta do preço do combustível. É muito caro. Eu já levei camarão
pra Salvador pra vender, eu tinha dois freezers aqui em casa, eu juntava. Eu botava as panelas e
panelas de camarão, só tinha que ficar trocando a água pra ele não ficar escuro, trocava a água, e a
melhor parte era quando você podia descascar, eu já tive 3, 5 mulheres que trabalhavam pra mim aqui,
minha mãe tomava conta. Cinco mulheres que vinham aqui todo dia só para descascar camarão. E eu
levava o camarão sem casca pra lá, que é o dobro do preço. Se aqui você vende por 25, lá você vende
camarão descascado por 50 reais. Eu entregava no segundo distrito naval. Seu eu levasse 100 quilos,
ficava tudo lá, se eu levasse 50 ficava tudo lá. Era um tempo auspicioso, dava para você ganhar
dinheiro, mas depois o pessoal começou aquele negócio de “ah, a gente vai pagar metade agora,
metade depois”, essas coisas assim, e aí já começou a ficar ruim...
M: Então hoje é FUNRURAL, pesca menor, aposentadoria...
J: E a aposentadoria agora depois veio a colônia de pescadores, marisqueiros, pescadores e pessoas
também que trabalham na terra. Essas pessoas pagam a (...) que eu não sei se é 8 ou 10 reais por mês,
e têm direito também a se aposentar e tudo. Eu não sei de que período isso começou exatamente.
M: Comércio bem menor...
J: Comércio muito menor. Essa venda de Jurema aí, uma hora dessas ela tava cheia de gente. A venda
de Roberto ali... O único que não caiu, caiu assim, a frequência de compradores, mas a única que se
mantém no mesmo estilo, no mesmo jeito que era antes, é aquela de Roberto ali, sabe onde é? A de
Roberto aqui em cima, em frente ao mercadinho.
M: Não é o mercadinho, é a venda de Roberto. É um meio gordinho assim?
J: Um branco alto
M: Sei, que é pai de uma menina que até já trabalhou com a gente, ela mora em Salvador agora. Não
me lembro o nome dela.
J: Esse Roberto da venda é irmão do meu cunhado, do marido da minha irmã. A família da gente já se
conhece desde sempre.
M: EU QUERIA PERGUNTAR UMAS COISAS AGORA MAIS ESPECÍFICAS EM RELAÇÃO A ÁGUA. COMO
É A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AQUI NO SEU VER DE MORADOR?
J: Aqui as pessoas acreditam que a água não recebe o tratamento devido. Porque tem dia que a água
chega escura, clara. Ela muda de cor. E também tem uma coisa: as pessoas estão tirando areia do rio.
Quando você passa ali na ponte do Rio Catu você vê que o pessoal está tirando areia para comercializar,
para construção civil, por exemplo.
M: E isso faz com que a água desça com outra qualidade...
J: Não, eu acho que ali não altera a qualidade da água, porque a água que sai de lá não é tratada lá
embaixo. Á água vem cá pra cima, tem uma central de tratamento de efluente aqui em cima, ali na
Fonte da Bica, ela sobe de lá, por bomba, jogada pra cá e aí trata aqui, no reservatório daqui, e depois
distribui. Aqui mesmo, a água chega por gravidade...
258
M: Aí você vê isso mesmo, que a água chega um dia de uma cor, outro dia de outra cor?
J: Ah, sim! Deixa eu ver se você dá sorte hoje de eu pegar. Tem dia que ela tá cristalina e tem dia...
Hoje tá mais ou menos. Não tá escura, mas também não tá cristalina.
M: Tá amarela.
ÁGUA RECOLHIDA DA TORNEIRA DO MORADOR NA HORA DA ENTREVISTA
J: Tem dias que ela fica mais escura do que isso. Tem chovido muito, dizem que essa é a época da
chuva, mas não justifica, porque se ela sobe de lá, tinha que passar por um processo de filtragem,
alguma coisa, pra ela chegar aqui assim.
M: Isso aí é a água do Catu
J: Água do Catu. A água do Catu é boa. Agora, o tratamento que ela recebe aqui, aí eu não sei avaliar.
Mas eu acho que não deve estar sendo correto, porque tem dias que a água fica desse jeito... Na
torneira da casa da gente em Salvador ela nunca fica desse jeito. Então é isso. O processo sanitário,
por exemplo, o negócio do processo sanitário. Parte da cidade tem e parte da cidade não tem. Aliás,
só esse lado aqui da praça, aqui descendo, esse lado dessa praça toda, não tem sistema de esgoto.
M: É individual
J: É individual. É fossa. Mas aí pra cima todo mundo tem, o lado de lá da praça todo mundo tem, eu
acho que até aquela rua lá de xuxa, por ali, todo mundo tem, né?
M: Quem tem fossa aqui, será que faz o processo pra água sair limpinha ou cava fundo...
J: A gente cava um buraco lá embaixo, sobe as quatro paredes de bloco. A minha foi uma fossa que foi
muito bem feita. Porque eu me lembro na época, a gente trouxe uma pessoa, um cara que cavava poço
artesiano por aqui, e ele disse “vocês vão fazer sua fossa, eu vou ajudar vocês, vou fazer uma fossa
aqui” e trouxe um projeto e ele fez, e ela fica aí até hoje. Aqui já teve época de ficar 10, 15, 20 pessoas
e ela nunca transbordou. Hoje menos ainda, porque eu fico a maior parte do tempo só. Enquanto
ficava minha mãe, meu pai, os netos todos, os filhos todos, mais de 20 pessoas aqui.
M: Você já ouviu falar das pessoas terem alguma coisa aqui relacionado com a água? Se sentir mal,
coceira, doença... Você já ouviu falar nisso aqui?
259
J: Deixa eu te falar uma coisa. Essa rua de lá onde mora xuxa, onde mora Zeca, não sei se Zeca ainda
tá aí...
M: É a rua de Luiza, da escola?
CALEBE: É
J: Depois da escola, aquele trecho dali é complicado. Eu já vi gente perder perna por bicho de porco,
bicho de pé, que ali se criava porco. Os quintais não têm o cuidado devido, é lama mesmo pelo quintal.
Hoje tem banheiro, tem sanitário, mas tem muita gente que ainda joga o pinico no quintal, essas coisas
assim.
M: O pessoal tem água encanada ali naquela rua?
J: Tem. Teve uma pessoa, eu não sei quem foi, eu acho que foi a filha de dona (...) que fez um banheiro
coletivo lá, para aquele povo lá de baixo. Fez dois banheiros e dois sanitários. Tem gente que ia pro
mato. E se você tiver oportunidade de entrar na casa, olhe o quintal, pra você ver. A mulher tá lavando
o peixe aqui, chega da porta da cozinha “pá!”, joga o panelão de peixe tratado, joga essas coisas, enfim.
Eu já vi ali, já perder o pé Aragão, que era filho dali, Zeca perdeu a perna por causa de uma ferida que
ele pegou ali, a mãe dele teve esse mesmo tipo de coisa, eu já vi as pessoas aqui...
M: Mas isso acho que mais relacionado realmente a esse desprezo do esgoto de dentro de casa, por
ali, e a peixe.
J: A lixo também. Porco, já imaginou um porco fuçando no quintal?
M: Agora, assim, em relação a tomar banho de rio, a beber água...
J: De pegar verme?
M: Qualquer coisa, já ouviu falar nisso aqui?
J: O pessoal vem aqui sempre, faz os exames das pessoas aí, mas a gente não sabe, eles não divulgam
os resultados dos exames. Mas eu já vi gente aqui com schistosoma...
M: Você já teve alguma experiência pessoal com isso?
J: Com relação a água nunca tive não, mas eu sempre me cuido. Eu não ando descalço. Eu tô dentro
de casa, eu não ando descalço, o quintal é todo capinado o tempo todo, eu não vou no quintal descalço,
nem no verão quando as pessoas gostam de ficar descalças. Porque no quintal tem uma fossa. Então
a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se bem que essa fossa é muito profunda, teve uma época
que a gente tirou a tampa, ela não tava nem no meio ainda. Porque ela tem um processo que quando
ela chegar numa certa altura tem uma outra tubulação que vai jogar pra lá pro lado do pasto da fazenda
de dr. Renato. O pessoal que joga nas fossas, mas tem gente que joga direto lá na fazenda do homem.
Eu sei que um dia ele vai retar, vai obrigar todo mundo a não jogar mais pra lá, então eu nunca jogo.
M: Sabe que um dia ele vai retar, né?
J: Um dia ele vai retar. O cara é dono, é a fazenda dele. Ele agora já tá velho, mas quando ele morrer
os filhos dele vão atentar pra isso. Até porque eu sou amigo dos filhos de dr. Renato e um deles me
disse que “no dia que pai morrer eles vão lotear isso aí tudo”, vão fazer um loteamento e vender
terrenos e vender tudo.
M: Aqui sempre a distribuição da água para tudo é a embasa?
J: Embasa
260
M: Então todo mundo paga a conta da água.
J: A conta da água.
M: Mas quem tem o esgotamento pela embasa paga também aquela taxa na conta
J: Eu não sei, porque eu não tenho. Eu vejo falar que tem gente que paga.
M: Ah, mas na sua conta não vem a taxa de esgoto porque você tem a sua fossa.
J: Não, não vem a taxa de esgoto porque eu não tenho esgoto da embasa.
M: Entendi. Você já ouviu falar se tem histórias em relação à água aqui na comunidade, mitos, histórias
religiosas, lendas?
J: Eu já vi casos verídicos, verdadeiros! De animal que morreu dentro do rio e ninguém viu lá e o rio
era a água que jogava pra aqui pra rua. Quando não vinha a água do Catu, a água era a da Fonte da
Bica. Era um rio que passava lá por cima, não tão caudaloso quanto o Rio Catu e nem tinha embasa.
Então a água descia por aí, o pessoal canalizava a água e tinha uma espécie de caixa d’água e a água
vinha para cá pra baixo por gravidade. Ode ela não chegava por gravidade, só aí nesse trecho usava
bomba. Mas vamos dizer que morria um porco. “E, rapaz! A água chegou com um cheiro esquisito!”,
aí o pessoal subia o rio, um cavalo morto, um gado, um boi morto dentro do rio, essas coisas já
aconteceram. E naquele tempo falavam que tinha muita verme. Mas a gente aqui nunca usou essa
água pra beber. Se bem que a gente pode se contaminar tomando banho e tudo, mas a gente sempre
tomou muito cuidado. A gente tinha dois poços artesianos aqui. Depois, quando chegou a água da
embasa, a gente viu que era mais tranquilo, que era seguro, a gente aí fechou os poços porque a gente
tinha que usar bomba, e da embasa a gente não usa bomba.
M: Você compra água mineral para beber?
J: Compro. Eu não bebo a água daqui. Mesmo com filtro, mesmo com nada, eu não bebo, eu compro
água mineral.
M: Por quê?
J: Porque olha aqui a resposta. A água dessa cor. Como é que eu vou pegar uma água dessa aqui pra
beber mesmo filtrando? Sei lá o que é que tem aqui... E tem dias que é mais escuro do que isso. Aqui
dá pra você tomar banho, sem problema nenhum.
M: Que é a água que é distribuída pela embasa...
J: Distribuída pela embasa. Mas eles fazem. Pelo menos tem técnicos que vêm de vez em quando, a
frequência eu não sei, mas sempre vejo o pessoal chegando numa casa assim, na torneira do lado de
fora, abre ali, tira e coleta a amostra pra análise. Agora, o resultado das análises a gente nunca soube.
M: Eu fui até nas fontes hoje, aquela fonte que foi...
J: A que ele rearrumou agora. A Fonte do Catônio.
M: Fonte do Catônio, fui lá hoje, Fonte do Mota, fui onde tinha a barragem da Olaria.
J: Os banhos aqui eram assim. Quando não tinha a embasa a gente tomava banho no Mota, no Catônio
na Fonte da Bica, e aí não tinha luz também nesse tempo.
M: Aí ele rearrumou a fonte, né? “Pode beber essa água, pode beber!”.
261
J: Não sei se ele já fez, ele conversa muito comigo.
M: Já fez. A embasa fez. A embasa não... Quem fez foi menino, que trabalha na embasa, fez por conta
própria, por pedido. Aí ele foi, levou pro laboratório bacteriológico, deixou lá o processo de 24 horas,
tal e tal. Depois ele pegou o resultado e mostrou pra ele: “aqui, o resultado mostra que existem
coliformes fecais”.
J: Não é difícil que haja. Você já reparou a condição da fonte em relação ao...
M: Ele também falou sobre isso, seu Afonso, que as pessoas têm essa desconfiança por causa da ETE,
do pinicão, por ficar próximo. Então existe essa desconfiança de que há alguma
J: Mas (...) a distância, por exemplo, de uma árvore, pra você plantar é 30 metros, ali tem mais de 100
metros de distância da fonte do catônio.
M: Aí ele acha que não foi verídico, o resultado.
J: Que é invenção...
M: Já o outro lado diz: “eu fiz o que pediu, já o resultado deu esse. Eu não tenho por que mentir nem
dizer que não deu. Ele não pediu? Eu fiz, o resultado tá aqui, pronto!”
J: É, exatamente. Mas ele fez o teste na embasa?
M: Ele fez o teste com o passo a passo que a embasa dá, que é o que ele sabe fazer. É o material que
tem no laboratório bacteriológico.
J: Afonso é muito cuidadoso nas coisas que ele faz. Ele disse “vamos fazer o seguinte, vamos encher
um bojão de água desse aqui, vamos deixar na sua casa, um da embasa e um do Catônio. O da água da
embasa, se você juntar (...) e deixar lá três, quatro dias, você vai ver que ela vai criar um fundo limoso
aqui, o da fonte do catônio não cria. Fica resíduo aqui embaixo, a da Fonte do Catônio não deixa
nenhum resíduo.”
M: Aí tem toda essa... Aí eu fui lá hoje nessas fontes. Na época que você era menino o pessoal ia mais
nessas fontes, não era?
J: Pra tomar banho era no Rio do Catu, pra lavar roupa, lavar panela. Era cada bacia enorme. Iam lavar
roupa no Catu, eu deixava as porteiras da fazenda abertas. O pessoal entrava pra pegar manga quando
tinha, coco, o que tivesse no chão eles podiam pegar. Eu não queria que subisse pra sacudir as
mangueiras, mas pegar as mangas que tivessem lá, manga que pudesse alcançar com a mão na
mangueira podia pegar também. Só não podia subir na árvore. Ninguém resiste a uma mangueira cheia
de manga madura, manga de vez, por exemplo, a gente dá uma sacudida nela. Eu tenho um pé de
acerola que tem algumas das melhores acerolas de São Francisco, ela é grande, ela é muito doce... Mas
eu tive que cortar o pé na metade pra ele sair do raio de visão do pessoal da rua.
M: Por quê?
J: Porque C.M. estava entrando pra roubar. Derrubou meu muro, ele empurrou meu muro, balançou,
derrubou pra pegar coco. Ele vem pegar coco pra vender, vem pegar acerola pra vender, enfim. Eu
tenho uma muda de planta que foi do tempo da minha mãe, planta ornamental, cada uma linda. Eu
sempre faço e levo pras pessoas em Salvador, que me pedem. E aí até minhas plantas, tinha dois pés
de pitanga, ele levou, arrancou e levou. Vou até mandar uma mensagem pra Xuxa lá em cima pra ela
me guardar duas mudas de Pitanga, que eu sei que ela tem lá e tá na época de plantar.
262
M: Você sabe que aqueles meninos de C.M. são uma preciosidade? Os pequenos. Diamantes brutos.
Eles são maravilhosos, precisam de uma oportunidade.
J: Eu concordo nesse ponto com você, mas o caminho que eles estão seguindo, a orientação que eles
estão tendo, vai levar eles fatalmente pra um desvio, como já levou um.
(...)
M: Pra gente fechar, na sua opinião, o que você acha que precisa melhorar aqui em relação à
distribuição de água? O que você sugeriria?
J: Se o verão for muito forte, a gente já tá em período de racionamento de água aqui. Esse verão que
passou aí e foi muito forte, o Rio da Catu ficou fininho. O rio fica fininho, com pouca água, aí tem
racionamento. A água daqui vem de noite e a que vai pra lá, ou então é um dia de cada... ou então um
dia lá em cima e um dia aqui embaixo. E nunca teve isso de racionamento, ou seja, a água vai acabar.
Porque o pessoal não tá cuidando do rio lá em cima. Tá desmatando pra plantar mandioca (...) o
pessoal que desmata pra plantar roça... tem que ter alguém pra vir, de algum órgão, instruir. Pra
preservar o espaço, pra ser de 30 metros até chegar o rio, pra preservar as nascentes, porque um rio
não se caracteriza de uma nascente só. Tem outros pequenos que vão se formando e dando volume
ao rio até chegar aqui. Então tem que vir alguém de algum órgão público pra vir, pra ensinar ao pessoal
pra mostrar como é que faz, o manejo. Eu preservava. Nunca tirei água ali da nascente, da beira do rio.
Deixava o caminho do rio livre, entendeu?
263
Entrevistado: Jurandir, Líder Comunitário.
Data: Primeiro Semestre de 2018
LÍDER: A distribuição de água na verdade é assim: por dia e por horário. Vamos supor, agora de manhã
ele solta a água aqui pra baixo. Vou dar um exemplo, né? Aí agora de manhã é só aqui pra baixo.
MARIANA: Eles quem?
L: O pessoal da embasa. Tem Ad(...) e tem Fa(...)
M: Ad(...) e Fa(...) são funcionários da embasa, é?
L: São funcionários da embasa
M: Eles moram aqui, é?
L: Moram aqui.
M: A embasa tem uma salinha ou um escritório aqui em SFP?
L: Tem uma ETA, a ETA fica logo na chegada de São Francisco, do lado direito. Ali é onde faz a coleta.
Eu já fui lá. Quando eu trabalhava com a escolinha de futebol, algumas vezes eu peguei os meninos
pra gente ver como é a distribuição de água daqui de SF, como é todo processo até a água chegar em
nossas casas. Se você quiser depois, eu posso marcar com os meninos, a gente vai lá, conversa com
eles, e eles vão explicar de uma forma muito clara para você.
M: Quero isso, mas antes eu preciso ter essa noção. Então quer dizer que tem as ETAS e eles trabalham
lá todos os dias.
L: Isso. Aí vamos supor, se agora de manhã vier aqui pra baixo, aí à tarde eles já jogam lá pra cima.
Então à tarde aqui você já não vai ter água.
M: Ah, então eles abrem por um determinado tempo. Aquela quantidade de horas.
L: Isso. Tem até uma bomba que eles programam também, entendeu? Quando bate o horário a bomba
vai por si só e automaticamente se desliga.
M: Será que o tempo que fica dá para abastecer todo mundo? Por exemplo, eles jogam água aqui pra
baixo de manhã, 4 horas de relógio. Será que dá para abastecer todo mundo?
L: Vai depender da demanda de cada pessoa, mas abastece. E ele ainda tem essa preocupação, que às
vezes eles jogam para abastecer 5 e pouca da manhã para dar um intervalo maior de tempo para que
as pessoas não fiquem sem ser abastecidas. Eles têm um grande problema de água lá próximo à sede
do quilombo. Existe uma dificuldade muito grande da água ir lá para cima.
M: Por quê?
L: Acho que é devido à ladeira ou não sei, só eles mesmos pra explicarem pra você quando a gente for
lá. Então eu sei que o pessoal ali tem uma dificuldade. Então é por isso que quando vai lá pra cima,
eles fecham aqui embaixo.
M: Pra poder ter mais força pra subir.
264
L: Pra ter mais força pra poder a água subir. E mesmo assim acho que o pessoal não é tão bem
abastecido quanto a gente aqui de baixo.
M: Em menor quantidade por causa desse problema...
L: Sim, sim, sim. Existe essa descompensação. Então a gente aqui embaixo tem mais facilidade de água.
E quem mora no quilombo, ali em cima, eles têm uma certa dificuldade, então é por isso que eles
também têm essa noção e eles já conhecem a realidade de São Francisco, então é por isso que eles
fecham determinado tempo pro pessoal ser reabastecido.
M: Agora eles têm que fazer isso até sábado e domingo, é?
L: Sim.
M: Não pode passar um dia sem fazer...
L: Não. Todos os dias. Domingos e feriados.
M: Só eles dois que fazem isso?
L: Só eles dois.
M: E se, por exemplo, um tiver um piripac e o outro tiver uma dor de barriga, quem vai fazer isso?
L: Eles vão ter que se virar. Eles dois são comprometidíssimos com isso. É tanto que em época de festa,
dezembro mesmo, eles trabalham até meia noite. Eles me dizem “ó, na nossa razão não era pra gente
estar fazendo isso, mas a gente se preocupa com a comunidade, a gente sabe que a demanda de água
é muito maior. Dezembro por ser uma estação seca, porque dezembro o sol tá aí tinindo, então a gente
aí vai até meia noite pra poder abastecer a galera, e a gente não ganha nada de extra por isso. A gente
faz porque a gente tem a compreensão de que todo mundo tem que ser abastecido”.
M: Entendi. Agora, vem do Catu a água que abastece aqui, né? E como está isso com o passar dos
anos? A água do Catu está sendo suficiente? O que você acha? O que você vê?
L: A gente sabe que a cada ano a demanda é maior. A gente sabe disso, né? Vamos supor, há alguns
anos não tinha Rejâne. Só um exemplo. Não tinha vocês, UFBA. Então a casa aqui era uma casa fechada.
A partir do momento que existe vocês, a demanda já aumenta. Aí vamos supor que tem outra casa
que foi alugada. Então a demanda já aumenta. Estamos numa estação seca, que é dezembro. Agora
está até tranquilo porque está chovendo.
M: Janeiro ainda está seco, né?
L: Ainda está seco.
M: Eu me lembro que eu fui lá, mas estava bem fraquinho.
L: Isso, então eles também têm todos esses cuidados.
M: Agora, e aquelas construções lá no início, aqueles pinicões, digamos assim, aquilo ali é para quê?
L: Eu vou ser muito realista com você. Eu no início travei uma briga ferrenha com a embasa. Segundo
eles, dizem que ali é uma área de tratamento.
M: Aquilo passou a existir quando?
L: Tem pouco tempo. Acho que tem uns 5 anos. Se tiver 5 anos!
265
M: Porque quando a gente veio em 2015, aquilo não existia. Certo, aí fizeram aquilo ali para quê? Para
tratar água...
L: Segundo eles, dizem o seguinte, né? Olhe só: a filosofia deles que seria para, no caso, eles entram
em contradição e a gente analisa (...) por isso eu briguei diversas vezes e fui para certas reuniões em
Cachoeira. Eles criaram um grupo para que fossem lá discutir e eu fui contra aquilo ali. Por que eu fui
contra? Porque eles fizeram aquilo ali como coleta de esgoto, então eu sou obrigado...
M: Coleta de esgoto de toda comunidade, inclusive da parte de cima, onde tem dificuldade de subir a
água?
L: Sim, sim, de toda comunidade. Eles dizem que existe uma lei na qual se a rede de esgoto passa na
frente da sua casa, então você é obrigado a colocar. Até aí, tudo bem. E essa lei diz que 80% do que
você consumir de água, eu acho errado, em termos de valor. Então, vamos supor, se você consumir
aqui 50 reais de água, você vai pagar mais 80% de esgoto, e dá quase 100 reais. Eu acho um absurdo
em termos da nossa realidade financeira. Só que aí é o seguinte, eu tive analisando que depois que,
vamos supor, vai aquele processo pra lá pro pinicão, eles automaticamente jogam no mar, jogam no
rio.
M: Então aquela água ali não está sendo tratada... Não era para tratar? E não está tratando... Não está
tratando porque não terminou a obra ou porque ainda não está na conta de vocês o valor do esgoto?
L: De algumas pessoas já está na conta. Só que a gente sabe que a embasa é uma empresa na qual ela
faz aquilo ali, uma propaganda enganosa. Vamos dizer que seja uma propaganda enganosa. Que era
para existir um tratamento ali. Só que até onde eu sei, não tem tratamento nenhum. Ela vai só para lá
e dali ela é lançada no mangue, que eu acho errado, que é logo aqui atrás.
M: Mas quando isso foi construído, era para ter um tratamento... A construção ainda não chegou na
fase do tratamento, parou no meio, foi isso?
L: Mari, é o seguinte: eu não sei se é uma ignorância da nossa parte, que eu não sei o que é o
tratamento que eles estão dizendo. Pode ser uma ignorância da minha parte, por não conhecer. Eu
não sei até que ponto é um tratamento.
M: Entendi. Mas o que você sabe é que vai para o mar...
L: Sim. E eu posso lhe mostrar ali onde sai, posso te levar. Atrás da minha casa que estou fazendo aqui.
Só que é lá pra dentro, entendeu? Aí na época eu fui para diversas reuniões, criaram uma sigla, CAL,
acho que era CAL, no conselho, pra poder se discutir. Porque eu não concordava com aquilo ali. Porque
nós tínhamos os nossos tubos que caía pro manguezal, tá errado, só que a gente não tinha outra forma.
Já que eles vieram com uma forma filosófica de dizer que isso não ia mais acontecer, pra jogar pra um
certo tipo de tratamento, porque que, de lá, é jogado em grosso num local só?
M: Mas em Salvador é exatamente assim, só existe a separação do sedimento, o restante vai para o
mar e a gente paga os 80%. É dessa maneira. E aí trouxe isso pra cá, então o tratamento está sendo
feito...
L: Então é isso que não entra na minha cachola.
M: Antes não tinha isso, o tubo levava para onde, para frente de casa?
L: Não, para o manguezal mesmo. Pro fundo de cada casa.
M: E se a casa não tivesse o fundo para o mangue?
266
L: Aí se criaria uma fossa. A casa de muitas pessoas aqui tem fossa, não sei dizer para você quem...
M: Todas as casas tiveram esse direcionamento para o pinicão?
L: Não, porque algumas ruas aqui ainda não têm a rede de esgoto.
M: A do quilombo, por exemplo, tem?
L: Eu não sei lhe dizer apropriadamente se lá tem.
M: Na sua impressão, antes, quando não tinha o direcionamento lá para o pinicão, o pessoal ficava
mais doente aqui? Porque, de qualquer forma, se vai para o mangue...
L: É pra onde foi sempre. Sempre foi assim...
M: Então não mudou muito, né? Só mudou o local que despejou. Agora, em relação ao abastecimento
aqui, ele é suficiente, tem sido?
L: Mari, eu creio que sim, porque se eu disser para você se eu tenho com o que me queixar, não. Eu
não sei se é porque na rua onde eu moro a gente não tem esse problema de abastecimento.
Dificilmente você ouve uma queixa de abastecimento, é muito difícil. Eu sou um vigilante que se queixa
mais de “um tubo estourou”, há mais queixa sobre isso. Eu tenho o número dos meninos, qualquer
lugar que eu passo, que eu vejo uma água merejando eu já “ó, vem cá correndo que tá tendo um
vazamento aqui que precisa ser consertado”, então eu já tenho o número dos meninos já para isso,
pra qualquer problema que eu ver na rua, eu já ligar pra eles.
M: Quer dizer que eles levam a gente pra poder conhecer esse processo, né? Eles mostram... Eu vou
marcar um dia com você. Geralmente é melhor combinar com eles um dia de semana, né?
L: Sim, sim. Eles mostram os materiais que são usados, a quantidade de material, a forma como é
colocado na água, tudo isso ele passou pra gente na época que a gente tava na escolinha, que eu fazia
questão de levar os meninos pra poder conhecer, “ó gente, vamos ver como é que é, como é que
funciona até a água chegar na casa de vocês, porque às vezes vocês não têm ideia de como é que
funciona isso aí”. Levava eles pro Catu, levei eles pra ETA aqui em cima na fonte da bica, levei pra ETA
lá na entrada de São Francisco.
M: Você vai me levar nesses lugares todos, viu?
L: Sim, sim.
M: Em que pé está essa briga aí com a embasa com essa questão do esgoto?
L: Depois que eu me (...) eu não sei em que pé está, porque eu disse “ó, eu tô dando murro em ponta
de faca”. Porque eu dizia para o povo “gente, quando chegar, não assine nada!”. Porque assim, se você
não assina, você não autoriza, mas quando você assina, você autoriza. Então, vamos supor, de 50% se
25% assinou, aí é complicado. Mas se de 50% 5% assinaram, aí eles não ganham empoderamento. E aí
a guerra com a população era essa. Só que a população foi ignorante até por falta de conhecimento.
Aí começaram a assinar e eu disse “olhe, sabe de uma? Eu vou dar uma de Pôncio Pilatos, lavei minhas
mãos”.
M: A última vez que você se lembra que você disse “faltou água”, tem muito tempo isso?
L: Pra mim, tem. Pra vocês aqui, não.
M: Pra gente porque a gente gasta o tanque todo. Tô dizendo “ah, faltou água, fechou o abastecimento
aí, alguma coisa...”
267
L: Pra mim tem muito tempo. Tô sendo franco com você, eu não consigo nem lembrar. Agora, é a
minha realidade. Eu não sei a realidade de outras pessoas, que moram lá por cima.
M: Que o abastecimento às vezes não chega, né?
L: Isso, entendeu? É como eu tô dizendo pra você, da dificuldade, né, aquela rua mesmo do quilombo,
que vai para o quilombo. Certos meios até chegar lá na casa do quilombo, às vezes o pessoal tem essa
dificuldade, então pode não ser a mesma realidade que a minha, sabe? Mas eu aqui embaixo...
M: Pronto, era isso que eu queria, porque agora eu já tenho uma ideia das coisas aqui.
268
Entrevistado: Afonso, Historiador autodidata da comunidade e ex-funcionário do Convento Santo
Antônio do Paraguaçu.
Datas: Entrevista 1: Feita em 10 de abril de 2019; Entrevista 2 (Sobre a Fonte do Catônio feita pela
jovem Naira): Feita em 30 de maio de 2019.
Nas pesquisas feitas por seu Afonso, existem várias peças de um quebra-cabeça que dão um panorama
da criação da Vila de São Francisco do Paraguaçu. Primeiro a chegada do Engenho Velho do século XVI,
construído, por Antônio Penedo, e depois a Capela, construídos em frente à ilha dos Franceses e depois
passou para o Padre Pedro Garcia de Araújo. A capela foi feita depois que o engenho já estava
funcionando. As origens de São Francisco do Paraguaçu vêm de lá para cá. Jaboatão quando chegou
em 1649 falou que a vila já existia com três ou quatro casebres de palha em função do engenho. Eles
trouxeram escravos para o cultivo da cana de açúcar, que se concentravam no Boqueirão e o Gola Caxi,
que é por trás do engenho velho que tem um acesso ao Boqueirão e aos poucos foram chegando
pessoas para construção do convento.
“Na minha concepção ela foi fundada logo depois do engenho. Ou seja, no mesmo ano do engenho,
aos poucos, aos poucos vai chegando um imigrante... Hoje se você montar uma indústria lá naquela
mata (...) o pessoal vai chegar pra perto.”
Possivelmente a vila se chama São Francisco do Paraguaçu em homenagem aos franciscanos.
Na década de 60, atuou em São Francisco uma grande fábrica de cerâmica e uma grande fábrica de
azeite de dendê. Pessoas de Maragogipe, Saubara, Santo Amaro e Cruz das Almas trabalhavam nas
fábricas. Hoje a maior parte vive do Paraguaçu.
Muitos escravos deram a vida para construir o Convento, muitos deles não voltaram para suas casas,
e o poder público não dá ao patrimônio o devido valor.
Principais dificuldades da Vila na opinião do seu Afonso – Assistência à saúde (falta de medicação),
falta de soro antiofídico devido ao grande número de cobras, falta de estrutura do píer – o que dificulta
o turismo, falta de ônibus direto para Salvador, falta de segurança, lixo na entrada do povoado.
Polêmica Quilombola – A família que é atual dona das terras de São Francisco do Paraguaçu possui os
documentos de compra do dono do engenho Velho, Pedro Garcia. Tais documentos atestam que todo
o território era pertencente ao Engenho Velho. A região do Boqueirão era onde tudo era plantado
(cana, banana, melancia, etc.) e onde funcionavam as casas de farinha, e na parte de baixo da
comunidade, onde moravam os fazendeiros e comerciantes, tudo era recebido. Aqui as coisas eram
vendidas no comércio ou partiam para Salvador. Nessa dinâmica, aos poucos os fazendeiros foram
tirando as pessoas da parte de cima, oferecendo serviços na parte de baixo ou em outros lugares. Mas
aquelas pessoas deixaram suas marcas nos seus antigos locais de morada. Isso deu origem ao
Movimento Quilombola que reclama o direito das terras aos remanescentes do quilombo boqueirão.
No início, as reuniões do movimento quilombola em São Francisco do Paraguaçu eram realizadas em
diferentes locais da própria comunidade, como a escola e mais tarde foi criada a sede da associação.
Hoje, a polêmica tem duas partes: a primeira, que já corre em justiça, diz respeito ao reconhecimento
das terras de toda a Vila como sendo o Quilombo de São Francisco do Paraguaçu - Boqueirão em
detrimento dos fazendeiros donos dos hectares. A segunda, internamente, diz respeito ao aspecto
identitário de que parte da comunidade se identifica como quilombola, enquanto outra parte não. Isso
é observável a partir da mensagem “Não somos quilombolas” coladas em algumas portas de
moradores.
269
TRANSCRIÇÃO LITERAL DA CONVERSA
MARIANA – EU QUERIA ENTENDER COMO É QUE A VILA DE SÃO FRANCISCO SE FUNDOU,
PROPRIAMENTE DITA.
SEU AFONSO – Nas pesquisas que eu tenho feito aí, porque é um juntar de quebra-cabeça, ninguém
tá aqui que viu... Você tem que fazer um apanhado e chegar a uma conclusão. Primeiro, a chegada do
Engenho Velho, século XVI. Foi um complexo açucareiro que tem a capela de 1631, mas o Engenho já
tinha sido construído antes por Antônio Penedo. Em frente à Ilha dos Franceses, e depois passou a
propriedade para o padre Pedro Garcia de Araújo, foi o segundo dono. Ou seja, a capela foi feita depois
que o Engenho já estava funcionando. O Engenho era o casarão e a senzala, lá em frente à Ilha dos
Franceses. Nossas origens é de lá pra cá.
Jaboatão quando chegou aqui em 1649 fala que a vila já existia. A vila já existia em função do engenho
porque eles trouxeram escravos para o cultivo da cana do açúcar para o boqueirão, que tem o título
de quilombo boqueirão, então eles começaram a se concentrar ali e no Gola Caxi. Gola Caxi é por trás
do engenho velho, tem como se fosse um apicum, moravam ali e de lá tinham acesso ao boqueirão, e
de lá aos poucos foi se criando, aos poucos foram chegando pessoas para a construção do convento,
nessa data de 1649 – lógico que uma obra que durou cerca de 40 anos foi chegando gente aos poucos
– mas a vila já existia. Como a vila já existia, que Jaboatão fala? Com três ou quatro casebres de palha,
mas já existia? Logicamente quando a chegada do Engenho começou a funcionar para o trabalho da
construção dele, foi chegando pessoas.
Eu, na minha concepção, ela já foi fundada logo depois do Engenho. Ou seja, no mesmo ano do
Engenho, aos poucos, aos poucos, vai chegando um imigrante. Hoje se você montar uma indústria lá
naquela mata, ali pra cima do boqueirão, que você vê aquele morro, que ali a gente vai pra Saubara a
pé, o pessoal vai se chegar pra perto.
M – ENTENDI A QUESTÃO DA ORIGEM. A PARTIR DE QUE MOMENTO CACHOEIRA COLOCA SÃO
FRANCISCO DO PARAGUAÇU COMO UM DISTRITO?
S.A. – Essa coisa de distrito eu não entendo bem, porque debati com o IPHAN até essa semana a
questão de muitas coisas que estão erradas, eles que são os conhecedores mas muitas coisas eu acho
errado. Por exemplo, O Convento Santo Antônio do Paraguaçu é Cachoeira, mas não é Cachoeira sede.
Mas quando a visita liga pra mim, que não vem com GPS, pessoal lá do Sudoeste da Bahia, fotógrafo
que vem, “Seu Afonso, o senhor pode me receber no convento tal hora? Fica onde?”. Não é Cachoeira!
Ele vê no roteiro Cachoeira. Aí vem por aquele roteiro e fica se batendo dentro da cidade sede e não
encontra o convento. Depois, “Seu Afonso, eu já tô aqui há uma hora, onde fica mesmo o convento,
que eu não encontrei?”. O convento fica no distrito de Cachoeira, ou seja, Vale do Iguape. Tem que
dizer que é Vale do Iguape, não é Cachoeira como um todo. Mas uma coisa de política porque prefeito
tem seus comércios lá. Você vê que entra na questão de política. Então “eu vou falar que é aqui, vou
botar no roteiro que é aqui”, quem manda é ele, que é o governo, então “primeiro passa aqui, talvez
nem vá pra lugar nenhum e fique aqui”. Tem que especificar.
Eu não sei porque, Pedro, meu sobrinho, que é vereador, eu tenho que sentar com ele para perguntar,
que ele disse que é subdistrito, acho que é dividido em dois, eu não entendo bem essa coisa aí de
geografia, porque distrito, eu não entendo isso. Eu fico focado mais numa coisa que é procurada, né?
270
MARIANA – ENTÃO UM PROBLEMA QUE EXISTE JÁ É ESSE, QUE A PESSOA COLOCA CACHOEIRA, SE
BATE E NÃO CHEGA...
S.A. – Eu tô cansado! Como você está vendo lá na placa da entrada do convento: “Convento São
Francisco”. Não é, meu Deus! É Convento Santo Antônio! Eu liguei para o IPHAN há dois anos atrás
porque colocaram essa placa ali, a prefeitura, errado, mas não vieram consertar. É Convento Santo
Antônio! Poxa vida! “Ô seu Afonso, porque a vila é São Francisco?”. Olha, a vila é São Francisco do
Paraguaçu e o Convento é Santo Antônio do Paraguaçu. A vila já existia antes do convento.
Logicamente acreditamos que foi batizada com o nome de São Francisco por causa dos franciscanos,
não é? É a lógica que você tem que juntar. Você que faz faculdade, eu sou leigo...
MARIANA – PARE DE DIZER QUE O SENHOR É LEIGO, SEU AFONSO! O SENHOR SABE MAIS DO QUE
MUITA GENTE...
S.A. - É um quebra-cabeça! Você é dedicada a esse estudo aí. Se você estiver lá na faculdade só pra
encher número, você vai sair de lá como você entrou, você não está se aprofundando. Se
aprofundando para ter um conhecimento além do que você aprende lá dentro.
MARIANA – NOS DIAS DE HOJE, COMO SOBREVIVE A POPULAÇÃO DAQUI?
S.A. - Já foi melhor do meu ponto de vista porque já teve a maior indústria de cerâmica do Vale do
Iguape, eu trabalhei nela. Uma fábrica de azeite de dendê, que a gente fabricava por semana, na safra
– a safra é dezembro, janeiro – até 20 latas de azeite. Naquele tempo, que era ditadura, 61, 62, mas
era uma geração de trabalho, não de emprego, não tinha carteira assinada, era trabalho. Mas aqui
acolhia pessoa de tudo quanto era lugar porque vinha por causa do trabalho. Aquela coisa que eu tava
falando do engenho, se você tiver lá fora, o cara vai prá lá, então aqui vinha pessoas de Maragojipe,
vinha de Saubara, vinha de Santo Amaro, vinha de Cachoeira, de Cruz das Almas, ou seja, por causa do
trabalho. Hoje vive o quê? Alguns poucos que são da prefeitura, alguns prestadores de serviço, que
alguns foram até banidos, o cara tirou um bocado aí, inclusive gente minha tirou, alguns poucos
concursados que tem e poucos comércio e agricultura familiar, ou seja, as roçazinhas, mas a maior
parte vive do Paraguaçu.
A sobrevivência daqui a maior parte é tirada do rio, porque além de abastecer a gente, abastece
também as cidades grandes como Salvador. A minha filha compra marisco, tem um rapaz que negocia
com ela há muito tempo, de Cabuçu, ele tem casa de comércio lá na praia e ele vem aqui acho que é
de quinzena, ela pega, compra o marisco na mão do pessoal, de atacado, aí ela compra, ele vem e
pega, paga a todo mundo, leva, de lá de Cabuçu ele já vai distribuindo pra Salvador, Santo Amaro, ou
seja, o Paraguaçu é uma benção pra gente.
Eu fiquei sem palavras quando a moça me perguntou o que era que eu tinha pra falar do Paraguaçu,
porque eu não achei palavras. É difícil, porque é um rio genuinamente baiano, o único rio
genuinamente baiano, não é como o São Francisco que nasce e corta estado, que nasce em Minas
Gerais e corta estado. Esse nasce no estado e desemboca no estado, um rio que tem cerca de 614km
de extensão, 85 municípios que ele banha, aí ele vem com agricultura familiar, plantação de milho e
maçã, batata, aipim, abacaxi, não sei de quê mais, café e tudo, criação de peixes em tanques, barragem
do apertado, barragem de pedra do cavalo, que hoje abastece Salvador, que no passado (TRECHO
INAUDÍVEL) não era nem essa água, essa cor, a qualidade de peixe mudou. Então, o benefício que ele
traz em criação de equino, de bovino, uma infinidade de benefícios que ele traz.
Aqui embaixo tem a influência da maré, que você vê aí, tem os camarões, além de ter robalo lá deles,
né? De água doce, que é diferente do nosso robalo. O robalo de água doce é curtinho e grossão, fortão,
271
e o robalo da água salgada é longo, é diferente. É o mesmo robalo, diferente. Então, aqui você encontra
os caranguejos, os siris, o crustáceo, tal... E vai a sua foz lá em Saubara. Não é como muitos acham,
que a foz dele é aqui, a foz dele é lá embaixo. Um rio que tem o nome de Paraguaçu porque é um nome
indígena. Os índios deram o nome de ‘grande rio’ ou ‘mar grande’, pela quantidade de água que tem
aqui, que é como se fosse um saco largo. E uma: navegável! Eu digo até nas palestras, lá no convento,
que eu acho que aqui tem tanta riqueza que (TRECHO INAUDÍVEL) talvez não tivesse tanta, porque foi
ele que foi o único lugar de saída pra todo isso, pra chegar os portugueses, tivemos a invasão
holandesa, os portugueses vieram...E uma: no final de tudo, já na independência do Brasil, mesmo o
Brasil sendo independente, mas algumas províncias portuguesas não aceitavam, aí teve aquela
confusão aqui na Bahia, Salvador, e São Luiz do Maranhão, a independência do Brasil, que foi em
1822... Então essa história, nós temos uma história riquíssima.
É por isso que eu falo aí, isso foi tirado da minha cabeça “história e cultura de um povo esquecido”,
mas somos esquecidos mesmo porque nós somos negros. Eu vou por esse lado porque os brancos
foram embora, os portugueses, os espanhóis, os gringos foram embora e deixaram. Foram os negros
que fizeram. Então por mais que o governo tente consertar, mas as marcas ficaram. As marcas ficaram
porque você sente que uma obra daquela ali, que os escravos deram as vidas, que muitos não voltaram
pra suas casas, que depois de adulto, de 18 anos, só viveram cerca de 5 ou 7 anos de vida por maus-
tratos, foram entregues à sorte, quando foram embora, viraram as costas e deixaram pra eles. Mas
você não tem dinheiro, não tem como tocar uma obra dessa, fazer o quê? Chega um sabido e diz “eu
lhe dou tanto por isso aqui”, “ah, me dê, eu não sei o que fazer mesmo...”. Vem a questão do grilheiro
também, essa concepção de que os grilheiros apareceram com significado de fazer um documento
forjado, lógico, como eu já caí na ‘esparrela’ de muitos ali, eu já até falei com você, quando a gente tá
muito carente, cai em certos esparros. ‘Ah, vou confiar em todo mundo igual a fulano!’, mas não é.
Seu coração é um, mas você confia muito nas pessoas e acha que é igual, e não é.
MARIANA – NA SUA OPINIÃO PESSOAL, HOJE QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE ESSA
VILA ENFRENTA?
Todas. O posto médico já teve outro trabalho que não tem hoje. Já teve exame periódico de
laboratório, antes de ter as faltas, de fezes e urina, hoje não tem mais. Nós estamos andando pra frente
ou pra trás? Hoje eu vou fazer hiperdia, não tem remédio. A minha esposa não tem remédio. Eu tô
comprando remédio, o posto já teve no passado. Mas tem o hiperdia que é pra dizer que o posto tá
funcionando direitinho.
DONA MARIA, ESPOSA DE SEU AFONSO: A gente vai, mas não tem remédio.
MARIANA: ALÉM DESSA QUESTÃO DO POSTO DE SAÚDE, QUAIS OUTRAS DIFICULDADES O SENHOR
ACHA QUE A VILA ENFRENTA?
S.A.: Eu fui lá na UFRB em 2013, me convidaram pra fazer uma palestra lá, falei. A (...) da câmara de
vereadores teve aqui, mirim, há uns 4 anos, eu fui. Teve novamente o ano passado, agora com os
adultos, inclusive meu sobrinho, Pedro, advogado, que é vereador, fiz a mesma reivindicação. Nós
moramos dentro da zona rural, no meio das cobras, e por que não tem o soro pelo menos em Santiago?
Não tem.
Aí vem o turismo, o píer, como você viu, não tem flutuante, o turismo passa na escuna querendo saltar
pra deixar recurso na vila, mas não consegue saltar porque a maré está lá embaixo. Aí vou anotando:
o que for estadual nós vamos correr atrás, o que for federal nós vamos correr atrás. Nós temos aqui
asfalto há uns 7 anos, se eu não me engano, cadê o ônibus direto pra Salvador? Continua os mesmos
ônibus, os dias que você ficar aí você vê. Os ônibus saem de manhã e voltam de tarde, terça e quinta
272
horário único, nem tem pra Santo Amaro no segundo horário nem pra Cachoeira. Então, ficamos
ilhados. Se tiver qualquer evento aqui um domingo ou feriado, não tem como sair. São tantos...
A questão da segurança. E aquele elefante branco ali?
MARIANA: Da polícia?
S.A.: Que a gente não pode nem...
MARIANA: Falar sobre...
S.A.: Sabe que a coisa... Então, foi feito? Foi. Mas como é que você faz um estabelecimento e não
funciona? Enfim... O lixo na entrada da rua, nosso cartão postal. O povo é errado em certo ponto? Sim!
Mas faça a sua parte. Nós fomos ao vice prefeito, eu e meu irmão pegamos ele aqui na porta e fomos
mostrar a ele. O que é que tinha que fazer? Ele pega, limpa e bota uma placa, pelo menos mostrou
que fez, né? Bota uma placa. E essas catadoras de siri, que vivem disso, pega os sacos plásticos, aqueles
sacos de lixo, dá daqui há 30 dias, 30 sacos pra senhora, 30 sacos pra fulana de tal, quando pegar seu
casco, botar dentro que aí ele leva. O caminhão vem e leva. Mas elas não têm, não tem como conseguir
aquele plástico, que custa, termina jogando ali. Então o povo tem a culpa na coisa, mas também eles
têm mais.
A iluminação na rua, se você sair de noite aí, saia de noite que você vai ver. Você só vai ver essas coisas
de noite. É tanta coisa que você vê que você não tem mais a quem cobrar. Porque eu mais meu irmão
ali, esse Gevaldo, esse vice-prefeito aqui, chamei ele aqui, ele até educado, “ô professor, a escadaria
da descida da nossa casa ali, que foi feita em 2005, nem terminaram na época, tá todo danificado”,
“cadê, tá onde?”, “vou mandar (...)”, isso foi no ano passado, tá aí sem fazer.
A rua o mato toma conta porque se 5 funcionários não estão dando conta do serviço, eles mandaram
2 embora e deixaram 3. Criou mais uma rua aqui pra cima, calçou essa rua aqui. A outra rua lá, que
chamam rua do urubu, que não é rua do urubu, é rua coroa de Sousa, o pessoal vai criando as ruas
sem procurar saber dos mais velhos o significado da coisa, como essa rua aqui, até o final da rua, que
tem o porto, não é Rua do Dedê. Dedê era uma senhora que morava ali. É rua Porto do Barco, que ali
fabricava barco naquela época. O estado não procura saber de nada, vão fazendo por conta de quem
chegou hoje e diz.
MARIANA: SEU AFONSO, E O QUE É ESSA POLÊMICA QUILOMBOLA DAQUI?
S.A.: Muito fácil. A polêmica quilombola. Quando eles foram indo embora, aquela coisa de abolição, a
fazenda atual daqui, que é a fazenda da Família Santana, que eu trabalhei, eles têm documento que
compraram de Pedro Garcia, que foi o dono do Engenho Velho, que aqui tudo era Fazenda Engenho
Velho. Aqui não tinha São Francisco nem nada nada nada. Essa fazenda, eu tenho o número dos
hectares dela aí num documento, e até fazia rumo com Caimbongo. Grande. Depois, foram dividindo.
Ele comprou na época, o INCRA diz que não está bem claro como foi a passagem da coisa, mas eles
têm documento e a parte deles está correta em impostos e tal. Aí a coisa do quilombo é o seguinte:
como ficaram os negros como donos, ficaram pra eles, então nós somos remanescentes. Ou seja, você
planta um olho de cana – cada município tem seu modo de dizer, se você foi em Santiago, cada um
tem a sua cultura – planta o olho da cana e quando brota você corta uma cana mas continua a torceira.
É igual a bananeira você corta uma bananeira, mas continua, ou seja, a continuidade da coisa.
Eu conheci, ela conheceu também algumas coisas no boqueirão (esposa), era a Vila de hoje. A vila era
o boqueirão, ou seja, lá era que plantava de tudo e aqui recebia. Eles plantavam cana, plantavam
banana, plantavam melancia, faziam farinha, tinha várias casas de farinha lá, e a concentração de
273
pessoas morando lá. A tiradeira de ticum, ticum vocês não conhecem, que era a fibra da época de fazer
as redes, final de semana o pai dela, João Rosa, seu Candinho, meu tio, Romão, tio Neco, enfim, vinha
com os bois com as cargas, os sacos das farinhas, o beiju, o que fosse, vinha, vendia nas vendas ou
deixava pra levar pra Salvador, e aí fazia as compras do querosene, de carne seca, vendia umas coisas
e comprava outras. Aos poucos aos poucos os fazendeiros foram tirando o pessoal de lá, não foi assim
diretamente “saia!”, mas foi aos poucos oferecendo uma coisa melhor cá por baixo aí o cara se iludia
e vinha, mas deixaram suas marcas, deixaram os arvoredos, os arvoredos falam que você morou lá, a
não ser que vá lá e derrube. Então foram aos poucos e aí surgiu esse movimento quilombola dizendo
que as terras pertencem aos remanescentes.
MARIANA: Todas essas, no caso... Toda a Vila...
S.A.: Toda a Vila.
MARIANA: Então é aí que se instaura o problema...
S.A.: Primeiro fizemos a reunião. Antes, logo no início, a gente lia o estatuto lá no Campo da Bola, a
gente fazia reunião na escola, depois a gente fazia reunião lá fora no Areal. Não tinha sede não. Depois
foi que Neto e o outro lá que vinha pra cá “olha, nós vamos plantar a primeira árvore e será a
construção da sede”. Aí fez em taipa, com finado Altino, aí plantou, depois construíram, mas os
fazendeiros não aceitavam. Quem mais criou caso aqui foi aquele Carlos Diniz lá embaixo. Onde tá o
Engenho Velho hoje, diz que a Capela tá inserida, ele se diz ser dono, não se sabe se é ou não.
MARIANA: Então hoje essa briga continua. Tem gente que se identifica como quilombola e tem gente
que não. Essa briga se instaura historicamente e chega até os dias de hoje.
S.A.: É. Até os dias de hoje.
MARIANA: Então quais são as duas partes que estão em Brasília, por exemplo?
S.A.: Eles que se dizem donos, como o próprio INCRA diz, que eu já fiz várias perguntas a dr. Gilmar,
que é da defensoria pública, eles são donos até o dia que o governo pagar. Enquanto não pagarem por
tomar conta daqueles anos todos, tem uma coisa para receber. Porque se a gente for ver pela Capitania
Hereditária, ninguém é dono de nada, mas como é que aparece um dono dizendo ‘eu me dei de
presente e depois você vai ser dono’, então pelo tempo que tomou conta, que eles informam, pelos
anos que tomaram conta, que desenvolveram, tal, tem essa parcela para receber. Mas não é aquele
valor que você diz “eu quero x”. É aquele valor dado simbolicamente pelo governo, e essa conta aí eu
não quero, você quer me dar isso e eu não quero, aí então fica nesse jogo de empurra.
MARIANA: Então de um lado os quilombolas querem que seja reconhecido esse espaço como parte
do quilombo boqueirão, por causa do desenvolvimento, e por outro lado, outros dizem que pelo
Engenho isso não é um quilombo, então toda essa área não deve ser reconhecida como quilombo.
S.A.: Mas o que aconteceu na praça, na reunião pública que nós fizemos, tem uns 9 anos, 10 anos aí,
na praça, esse Carlos Diniz lá criando problema foi discutido que se não inserisse a Vila no Movimento,
eles ficavam com direito a estar vendendo e cobrando e tal, e aí ficava a mesma coisa, o povo preso
na mão deles. Então tinha que inserir a Vila. Mas aí teve a outra questão: aqueles que se diz não, a
gente expulsa ou não? Vamos chegar a um consenso. Deixa eles aí. Pra quê expulsar eles? Eles se dizem
não, mas são filhos daqui, não é? É até uma questão também de humanidade. Você diz que não, mas
você é filho daqui. Como é que eu vou tirar você daqui? A não ser que você espontaneamente diga
que não quer e que vai embora. Nós concordamos em deixar eles.
MARIANA: E isso está lá em Brasília esperando resolução...
274
S.A.: Esperando sair a verba. Porque tem a certidão o vale como um todo, mas não tem título. Não é
só aqui não, o vale todo, Kaonge, tudo, todo mundo tem certidão, mas não tem título, ou seja, não foi
pago ainda. Eu tive com Ananias agora, há pouco tempo, do conselho do Kaonge. Tem muitos lá que
estão doidos pra receber, mas o governo tá prendendo. E agora chegou uma ditadura maquiada, pior.
A esperança era Lula. Lula também não despachou logo... Como é que eu vou dizer “Eu não sou
quilombola não”, meu avós eram filhos daqui, meu pai, filho daqui, minha mãe, filha da Saubara, mas
se identificava como filha daqui, veio pra cá com 21 anos, faleceu com 92. Ela se dizia mais filha daqui
do que da Saubara. Como é que eu vou dizer? Agora, eu não brigo com ninguém. Meu negócio é ter
jogo de cintura, tenho que respeitar sua opinião. Sou daquele que se você me atingir, tudo bem, eu
vou dormir em paz, mas se eu lhe atingir, eu não vou ter paz. Minha criação foi diferente. Meu pai
trabalhou pra eles aí e era compadre deles, até dos que estão vivos ainda, então é aquela vivência.
ÁUDIO 2
MARIANA: A distribuição de água aqui em são Francisco do Paraguaçu é problemática? Como é essa
distribuição aqui?
S.A.: É. Problemática. Meu irmão trabalhou muitos anos na embasa. Ele se aposentou por problema
de saúde e teve que deixar. Até hoje ele é vinculado porque como ele saiu por problema de saúde, fica
o documento assinado. Ela não tem o tratamento adequado que a gente espera que tenha. Ela não
tem o abastecimento adequado como muitas pessoas no verão ficam agora sem ter água, quem mora
nas ruas pra cima. Meu sobrinho pediu a perfuração de dois poços, foi feito os dois poços lá. Mas cadê
uma barragem, Mariana? Uma barragem? Se você faz uma barragem, vai acumular água, abastece
aqui e Santiago do Iguape. Como é que pode ser um Rio que nós temos aqui, abastecer aqui e um lugar
maior do que aqui, ou seja, fica alguém faltando. Nesse verão agora, que graças a Deus ele foi embora,
tava vindo o pessoal de Nagé aqui vindo pegar água para beber numa dessas fontes que nós temos
aqui, uma fonte histórica que eu acabei recuperando agora em janeiro.
MARIANA: Por que o senhor está me dizendo que o tratamento não é adequado?
S.A.: A gente pega uma panela, bota água dentro, ela marca, a cinta fica toda preta por dentro. Não
tem como você tirar aquela cinta preta como se fosse água sanitária. Tem o quê, essa água? Aquela
cinta preta onde teve a água, pronto... Fica ali. Aí procuramos saber dos funcionários “é porque é do
poço, não sei o quê...”. A do Catu, diretamente do rio, não fica, mas quando é do poço, fica. Ou seja,
ela tem uma acidez, né? Pra ter aquilo ela tem uma acidez. Agora, reclamar com quem? Falar com
alguém, até nem gosta.
É como esse esgotamento sanitário que você tá vendo ali. Aqui na porta tinha uma ventosa, bem aqui
na esquina, aí a ventosa entupia e jogava tudo pra porta da minha casa ali embaixo. E você não
suportava o mau cheiro. Aí reclama com um, reclama com outro, nada. Ligamos para Cachoeira. A rede
da água passando perto. Uma indo e a outra voltando. Chegou o gerente ali, eu e meu irmão ali, eles
não gostam da gente não porque a gente gosta das coisas direitas. Tá pagando... Aí chegou “ô, seu
Benedito, essa ventosa aí não pode ficar aqui”, “pode porque foi um engenheiro”, “não, foi feito dia
de domingo por conta do pessoal aí que tava aqui e viu. Se você não tomar providência, a gente vai
entulhar ela.” Ainda tem a rede de água que passa ao lado. “Ah, essa denúncia é grave!”, ‘mande cavar
pra você ver se não tem...’. Como ele viu que a gente tinha razão, mandou tirar dali, cobriu e acabou.
MARIANA: Então aqui a água vem do Rio Catu e do poço artesiano.
S.A.: É.
MARIANA: Quando vem do rio vem limpa.
275
S.A.: Porque quando vem do rio não abastece todo mundo, porque não tem uma barragem. É uns
sacos cheios de areia que colocaram, uma represasinha, e fica isso aqui, meia canela, ou uma canela
de água, mas se você tiver uma barragem, ele vai armazenar quantos mil litros de água? No inverno
vai encher e vai aguentar. Uma barragem de dois metros de altura é o suficiente, só pra armazenar
água. Esse monte de problema.
MARIANA: Eu soube que aqui tem várias fontes de água, onde é que ficam essas fontes aqui?
S.A.: Tenho que ir com você lá para mostrar
MARIANA: É mesmo.
S.A.: Falar assim não adianta.
MARIANA: Algumas já se perderam, mas quantas ainda dá pra...
S.A.: (...) a fonte da juventude. Essa fonte foi descoberta pelos padres franciscanos. Eles pegavam água
para beber dela. Tava lá num desprezo danado, aí eu resolvi sair com uma lista aí na rua e “vou tomar
uma providência com essa fonte!”
MARIANA: E aí o senhor fez o quê?
S.A.: Só você indo lá ver. É ali, ó.
MARIANA: Agora, tem outras dessas por aqui, né isso? Mas já estão perdidas? Todas?
S.A.: Tem essa fonte, a vazão dela é única. Tem a Fonte do Mota, que é bem próxima onde foi a Olaria,
onde foi a fábrica do azeite, eu tô fazendo um documento com essas coisas aqui. Tem uma barragem
que serviu à Olaria na época, a barragem tá lá. Tem a Fonte da Custódia, outra fonte histórica, que foi
também do Convento, ali em cima. A Fonte das Flores, que não existe mais, tem até um documento
com ela aí, aquele desordenamento que o cara vai fazer umas casas e não procura ver se tem nascente
ou não, vai fazendo de qualquer maneira e termina atingindo.
MARIANA: Agora que o senhor revitalizou essa fonte, como é que usa essa água?
S.A.: Ela aqui, ó. Essa aqui eu já peguei hoje.
MARIANA: O senhor vai lá e pega água, né? Limpinha...
S.A.: Eu ainda passo no filtro porque eu quero.
MARIANA: A Fonte da Juventude, né? Aí o senhor passa ela no filtro, é?
S.A.: Você já tá nova e vai ficar mais nova ainda.
MARIANA: Então o pessoal vai até lá e pega água, né isso?
S.A.: Se pega? É de carro de mão, de carro, de canoa...
MARIANA: Não só daqui, das outras comunidades também...
S.A.: Até de Nagé o povo vem se abastecer. E agora eu tô com outro projeto de fazer, mas não mais
pegando dinheiro do pessoal porque a gente pega dinheiro e ouve algumas prosas na rua, de quem
não tem consciência. Eu peguei foi duzentos e noventa e poucos reais, não deu para terminar de fazer
o trabalho, aí eu coloquei do meu, do meu irmão...
MARIANA: Então o senhor entrou com seu recurso para revitalizar isso.
276
S.A.: Entrei
MARIANA: E essa responsabilidade não seria sua, na verdade, seria da prefeitura.
S.A.: Não, mas eu não quero quando eu sair dessa vida pra outra, deixar alguma coisa pra que o pessoal
se lembre de mim. Como eu fiz no porto, aquele pé de tamarindo que você tá vendo lá, foi eu que
plantei em 2010. Dentro do Convento em plantei um pé de acácia em 2014 e tá lá, já botou flor esse
ano.
MARIANA: Quando foi que o senhor revitalizou essa fonte?
S.A.: Em janeiro.
MARIANA: E por que chama Fonte da Juventude?
S.A.: A gente que botou esse nome, o nome era Fonte do Catônio. Catônio se refere da nobreza
italiana, é um sobrenome italiano. Eu fui fazer a pesquisa e encontrei. Eu tenho vontade de fazer uma
placa pra botar lá parte da história dela, que eu tenho, mas eu não tenho como fazer essa placa, ou
seja, uma placa de alumínio com alto relevo, inox com alto relevo pra fazer, cadê recurso? Uma pedra
você não pode botar de mármore que dá significado de um túmulo, porque tem que ver essa coisa,
né? Então quando eu fui fazer o trabalho da fonte eu tive o cuidado de usar pedras originais daqui
como ela tem. E agora eu tô fazendo o reflorestamento em volta com as plantas nativas dela, que é da
ingazeira, que é conhecida como Motocona, porque são nativas, eu não sei se as outras sugam água
ou não. E aí peguei também o pé de amendoeira, botei mais distante pra o sol do poente não maltratar
tanto ela. E aí eu já plantei e agora nós estamos colocando uns cascalhos no caminho, fazendo
mutirão...
MARIANA: Existem mitos sobre água aqui na comunidade?
S.A.: Essa fonte tem a parte também religiosa que os antigos falam. Uma história, né? Como no caso,
um mito. Uma família procedente morava por perto ali e a dona da casa lavava na fonte. Pegaram as
roupas e botaram para coarar. Não sei se você sabe o que é coarar roupa, botar em cima dos capins
pra receber o sol e depois – eu falo a linguagem minha que eu vivi. Aí os bois dos pastos pisaram nas
roupas, aí essa pessoa se aborreceu e botou um bocado de espinho em cima da fonte para que os bois
não bebessem água. Eu tô fazendo até o croquizinho dele. Aí com dois ou três dias a fonte secou.
Pesquisando as pessoas antigas que tem alguma coisa pra falar, aí secou a fonte. Minha avó já falava
nisso, tal. Depois chamaram alguns rezadores, algumas rezadeiras pra rezar e rezaram vários benditos
e a água só brotou depois do bendito de nossa senhora de Santana, foi que a fonte voltou a funcionar,
então tem essa coisa. E também tem – eu nunca cheguei a ver – mas morei junto daquela casa hoje,
que não era aquela casa lá, era outra casa que eu passei parte da juventude ali, de 62 até 69 eu morava
ali, minha família, meus pais ali, e era dois trilhos pra ir pra fonte. A fonte era pequenininha assim,
debaixo do pé da ingazeira que saía. Os fazendeiros com o negócio do quilombo mataram a ingá
pensando de acabar com a fonte, a maldade. Aí quando a gente ia pegar água, que a maré vai até
dentro dela, a maré de março, a natureza faz uma vez por ano o papel. Aí aquilo pulava dentro d’água,
eu não sei se era uma gia, outros falam que era um guaiamum, que falam que era um guaiamum de
ouro, um mito desse, mas eu nunca vi o que era. Agora o que era que caía dentro d’água sujava a água
naquele momento e a gente não podia pegar água, tinha que voltar e dar um tempo pra poder pegar
a água. Porque por ser massapê, né, barro,
MARIANA: Depois que rezou o bendito de nossa senhora de Santana aí a água começou a funcionar,
então o que é que isso significava?
277
S.A.: Eu não sei, significa que é um lugar sagrado. Eu botei como lugar sagrado como lá na UFRB nas
perguntas que fizeram dos lugares sagrados, identifiquei essa fonte como lugar sagrado, a ponta da
pedra que é um lugar sagrado, que minha prima, Joselita Garcia, tinha um (encantado marinho) que
tinha aquela coisa de toda quarta e sábado e acender vela na ponta da pedra.
MARIANA: Onde é a Ponta da Pedra? E qual é o outro lugar?
S.A.: A frente do convento, lógico. Ali a Capela, lugar religioso, né? Tem outra fonte, a fonte do love,
MARIANA: Fonte do love? Por que botaram esse nome, seu Afonso?
S.A.: Por causa do formato de um coração dentro da Pedra.
MARIANA: E porque não botaram fonte do amor, tem que ser do love?
S.A.: Também! Posso botar, posso mudar até o documento.
MARIANA: Não, Seu Afonso. Mude não. E porque a Fonte do Love é um lugar sagrado, por causa do
coração?
S.A.: Por que faz parte do amor da religião, né? De qualquer maneira são um conjunto de coisas que
você tem o amor, você tem o significado com Cristo, né? Aí eu tinha em mente assim: será que se eu
mandar fazer uma igrejinha lá, pequenininha assim, em cima da pedra, mas às vezes você tem que
pensar quanta coisa tá direito ou não, porque tem a parte religiosa, se aceita ou não, tem várias coisas
que você pensa e não pode fazer.
MARIANA: Entendi os diversos mitos que o senhor explicou. Na verdade não é mito, na verdade são
as estórias.
S.A.: Como mula sem cabeça aqui no verão. Sempre no verão tinha aquele problema, de não deixar a
gente sair muito, pra entrar no mangue tinha que levar um charuto, um pedaço de fumo, por causa da
vovó do mangue.
MARIANA: O senhor já viu alguém aqui ficar doente por causa de água?
S.A.: Nesse verão agora eu fiquei todo encaroçado. Eu não sei dizer o quê. Eu também só tomo banho
aqui mesmo uma vez por dia. Ontem mesmo vocês passavam eu vinha de lá da fonte, tava tomando
banho. Você vê assim umas 10 horas, quando eu não tô fazendo nada, vou lá e tomo banho e também
acabou. E meu irmão foi essa semana para o hospital de São Félix se queixando com coceira no corpo,
aí falaram que era água, não sei dizer se foi. Eu sei que o pessoal tá falando que a água tá amargando,
eu também não sei dizer, comentando, né? Não me envolvo porque os rapazes ficam cheio de coisa
com a gente e já falaram. Porque eles perderam a concorrência agora no verão, com a nossa fonte, a
embasa perdeu a concorrência do volume de água vendido, “não, o pinicão lá tá infiltrando...”. Agora
você imagine onde tá... o pinicão tá lá fora, pelo outro lado, a fonte tá aqui. Pela lógica da ciência são
10 metros uma fossa. Você imagina que o cara tá com quase 1 km lá, do outro lado, eles botaram a
conversa de que a fonte tava condenada, que não sei de quê, então pra não estar criando problema a
gente fica, é melhor viver como amigo do que como inimigo.
MARIANA: A sua conta de água é alta geralmente? De todo mundo?
S.A.: A minha é alta aqui a luz porque tá em meu nome, mas a água tá em nome da mulher por causa
do bolsa família, que era alta, aí ela cadastrou o nome dela e vem 13, 14 reais, também aqui usa pouco.
MARIANA: E vem a taxa de esgoto aqui?
278
S.A.: Nós não temos
MARIANA: Tem fossa, né?
S.A.: É.
MARIANA: Aqui acho que 70%, digamos assim
S.A.: A parte de baixo ninguém tem esgoto porque a rede não atende.
MARIANA: A rede da embasa
S.A.: A rede de esgoto não atende. Atende aqui a rua, mas ali não atende. Eles fizeram um
encanamento por lá e depois abandonaram porque teria que vir por gravidade, ou seja, vem por
gravidade as ruas todas para aquela central ali. Ali passa pelas ruas pra levar lá pra cima e não tinha
como daí ir até lá. Fizeram e perderam.
MARIANA: Então o pessoal que é de lá de baixo, como é que recebe água?
S.A.: Tem água, mas não tem esgoto. Tem esgoto fazendo fossa. E a fossa, como é o lugar mais baixo,
num instante vem água em cima.
MARIANA: Entendi, seu Afonso. Eu quero que o senhor me leve lá na fonte, se o senhor puder, claro.
S.A.: Eu posso.
ÁUDIO 3 – VISITA ÀS FONTES
MARIANA: Não dá e fizeram um poço por causa disso né?
S.A.: fizeram poço, mas...
MARIANA: quando o rio não dá conta que o poço entra ou já é fixo?
S.A.: ficaram agora no verão o poço pra aqui e o Rio para lá...
MARIANA: eles têm como fazer essa separação né?
S.A.: é. Só que não vai, o pessoal que mora lá em cima...
MARIANA: ficou sem água
S.A.: é essa questão, não tem água!
MARIANA: Nossa! E aí teve que descer para fonte?
S.A.: É muita gente aqui, com carro de mão 4 horas da manhã pegando água e lavando o que puder.
Aí o cartão postal...
MARIANA: além da fonte, se não tivesse a fonte, se o senhor não tivesse revitalizado, esse pessoal ia
pegar água aonde?
S.A.: tava pegando assim mesmo suja porque tava cheia de limo e quanto mais você mete a vasilha
é... É Massapê...
MARIANA: sim
279
S.A.: mais suja, então eu não tinha como eu tá pegando. Inclusive a gente lá de casa não tinha
como... aí eu tinha que dar um jeito naquilo ali enquanto é tempo.
TERCEIRO: e essas casinhas têm gente morando?
S.A.: não já foi entregue aos donos aí e ninguém toma conta, tá sem água e sem luz, e agora nós
estamos fazendo mutirão para fazer as calhas porque quando chove... Já pedimos à prefeitura, esse
Lili, administrador daí pra colocar um cascalho aqui “ah, tem que fazer uma ACI..." que nada!
MARIANA: Uma burocracia...
S.A.: Que ACI? Sua palavra não vale não, é? Porque quando chover a gente não pode passar, estamos
botando já entulho da rua.
TERCEIRO: E quem mora aí é o povo daqui mesmo?
S.A.: É.
MARIANA: mas tem que colocar água e luz aqui, né?
S.A.: A Embasa já mediu mais a coelba... então nós estamos pensando que vai chegar o inverno e não
vai poder passar... tão botando agora aqui ó...
MARIANA: aos pouquinhos, né seu Afonso? mas é um trabalho árduo
S.A.: Cada carroçada dessa aí é 10 reais. Mas aí o pessoal entrou no mutirão, arrumou o dinheiro da
Cervejaria e tomaram e agora eu tenho que fazer nova etapa que não concluiu. Porque tem muitos
que diz que dá, mas, na hora não aparece e se você toma o dinheiro dessa pessoa fica comprometido
entendeu? E agora eu tô fazendo... Se você quiser ir lá botar as coisas, você vai lá, mas, não me dê
nada, mande o rapaz botar...
TERCEIRO: é melhor mesmo...
S.A.: É! Eu mesmo tiro do meu bolso e vou contribuindo
TERCEIRO: é melhor... (TRECHO INAUDIVEL)
S.A.: Então daqui para lá você não passa. Se chover, não passa...
TERCEIRO: aí todo mundo ajuda sem precisar pedir dinheiro.
S.A.: É exatamente... aqui não passa, se chover não passa, é o lamaçal danado.
MARIANA: Nossa!
S.A.: Já botamos até ali e vamos concluir para cá pra depois esticar até lá a ponta.
MARIANA: chuva constante aqui... não vai...
S.A.: não vai... se é barro não é areia... areia você passa...
TERCEIRO: e depois como é que vai pegar água?
S.A.: É exatamente isso que eu fico pensando. Tá pensando... a minha esposa ali tem problema de
artrose e isso aqui servia como uma terapia para ela. Ela não é de sair, passou para vir para cá e foi
uma coisa boa.
MARIANA: Foi? Olha lá o pessoal com água!
280
S.A.: Então teve esse benefício, né? Por esse lado aí eu tô com interesse antigo.
MARIANA: Pra poder...
S.A.: Para poder ter essa locomoção dela
MARIANA: Olha o lixo aqui também
S.A.: A senhora que mora aí, ó. Falamos com ela para contribuir, aí ela disse "ah, eu quero andar na
lama", ela respondeu!
MARIANA: Foi mesmo?
S.A.: Foi. “eu tô acostumado a andar na lama, eu quero energia..."
MARIANA: Bom dia
S.A.: então tem esses problemas
MARIANA: eu ouvi dizer aí de um negócio, de uma água milagrosa
S.A.: É essa mesmo... risos
MARIANA: é brincadeira ou realmente as pessoas...?
S.A.: é por causa daquelas coisas do sincretismo religioso e torna milagre...
MARIANA: Ah... Entendi... Será que o pessoal acha que a água cura alguma coisa?
S.A.: Olha, eu não sei dizer, tem gente que veio me perguntar se já fez exame. Eu respondo que
quem quiser fazer, faça.
MARIANA: exame de quê? Perguntou ao Senhor exatamente o quê?
S.A.: Se já foi feito o exame da água
MARIANA: Se água tá em boa qualidade?
S.A.: Sempre todo mundo bebeu eu não vou dizer nem que sim nem que não. Quem quiser levar para
fazer. Nunca vi ninguém falar dela. O Convento tá lá do outro lado e eles vinham pegar água aqui pra
beber. Então a natureza começa a ver o pé da Ingá, tá vendo aí? O original era dentro do poço. Mandei
fazer a bica inox pra não dar ferrugem.
MARIANA: Ah... ali foi o senhor quem ajeitou não foi?
S.A.: Foi. Na hora tava tudo aberto. Aí fiz esse paliativo aqui, cobri para evitar de ter sujeira. Tá vendo?
Estando coberto ninguém suja. Agora dá para fazer outras coisas e pode experimentar ela aí ó...
MARIANA: Poxa, o senhor botou uma coisa bem forte ali!
S.A.: Experimente ela!
MARIANA: Dá para ver que a água é branca, branca, branca, branca... Alva
S.A.: quanto mais o sol esquenta mais ela fica fria!
TERCEIRO: Fica jorrando aqui direto é, seu Afonso?
S.A.: É, dia e noite.
281
MARIANA: e aqui o senhor cobriu para poder o pessoal não sujar...
S.A.: Aí tem três caixa de pedra dentro, fizemos um tampão botando em cima para evitar do pessoal
não sujar, só assim o pessoal tem água de qualidade e limpa. E botamos brita em volta, degrau para
descer e pessoas tomam banho aqui com roupa, não tem problema nenhum. Lavam também. Agora,
o futuro é a gente fazer uma coisa melhor ainda. Fazer um lugar para o pessoal lavar roupa, entendeu?
Fazer uma cerca melhor por fora pra ficar melhor pra tirar as coisas de dentro. Plantei ali como eu lhe
falei... ingá... ali plantamos outro pé ali. Tem mais dois ali. Lá em cima, amendoeira... tá vendo?
MARIANA: Tô vendo.
S.A.: Porque o sol... elas como crescem muito elas vão proteger.
MARIANA: E aí existem outras dessas
S.A.: Existe... aqui embaixo tem a fonte do Mota... aqui perto vamos ver?
MARIANA: Bora... eu quero tirar umas fotos dessa aqui!
S.A.: Tire!
282
Fonte do Catônio ou Fonte da Juventude em São Francisco do Paraguaçu.
ÁUDIO 4 – VISITA ÀS FONTES
S.A.: Meu interesse é nunca fazer nada contra ninguém. Nunca, de maneira nenhuma...
MARIANA: No caso o senhor falou isso aqui com o pessoal da Embasa foi?
S.A.: Não... do livro aí que a professora se sentiu... Rejâne, né, se sentiu... Que ela foi lá em casa.
MARIANA: Ah sim, que ela ficou chateada
S.A.: Ainda foi lá e a mulher não gostou do jeito que ela chegou lá... coisas da vida, entendeu?
283
MARIANA: Ah... cadê a outra, onde é?
S.A.: Bora por aqui... Então, dentro da fonte tem o toco da ingazeira original que era muito mais do
que essa aqui, dentro da fonte
MARIANA: Ah, dentro dela
S.A.: Quando nós limpamos o poço, tem mais ou menos, se tiver um metro de fundura, se tiver, aí que
o rapaz meteu o balde pra tirar, tá o tronco lá que eles cortaram pra evitar que o pessoal pegasse água
ou no intuito que a fonte secasse...
MARIANA: Quem foi que fez isso?
S.A.: Os capangas dos fazendeiros na época, né?
MARIANA: Tem muito tempo né?
S.A.: Tem...
MARIANA: naquela época antiga mesmo!
S.A.: Não... agora...
MARIANA: Agora?! Foi?? Eu pensei que isso tinha sido óóó...
S.A.: Não, não, e você ta vendo mangue aí, o manguezal aí, a maré vem aí de baixo da bica
MARIANA: Tá vendo...
S.A.: Vem uma vez por ano debaixo da bica e uma... o minador não vem assim. O minador vem de
baixo para cima fervendo como uma panela de pressão. Então uma coisa pra você imaginar o que é a
natureza, né? Ao lado do sal, água doce! E de boa qualidade. Aí eu mandei o rapaz fazer a bica assim
com um pescador pra evitar que um garoto metesse uma vara e caísse dentro do poço.
MARIANA: sim...
S.A.: A bica era assim por dentro, então ela pega a água e tem lá o ladrão, ta vendo lá em baixo, branco
lá?
MARIANA: Tô vendo...
S.A.: Se precisar tirar o “CAP” aí jorra água porque apareceu um vazamento, a gente tirou e calafetou.
Mas tenho a intenção de fazer isso, botar uma placa com parte da história e botar um piso em cima,
um pisozinho... arrumar a coisa direito... você tem a vontade mas não tem o dinheiro
TERCEIRO: Não tem dinheiro né, Seu Antonio?
S.A.: Tudo depende do dinheiro você sabe disso. Tudo depende do dinheiro!
TERCEIRO: Tudo é dinheiro!
S.A.: Na faculdade depende de você comprar isso, comprar aquilo
TERCEIRO: O dinheiro é quem manda
S.A.: É, infelizmente são essas coisas
TERCEIRO: Pelo menos o senhor já fez muita coisa aí.
284
S.A.: A minha satisfação é ver todo mundo usando, isso pra mim não tem preço. Tá vendo ali, vem de
lá da rua, pegar ali... porque chega ali tem pessoas de moto, com carro
TERCEIRO: Aqui é grande viu, Seu Antonio!
MARIANA: E essa casa aí, de quem é?
S.A.: Pertence à fazenda ainda
MARIANA: O pessoal vem aqui, faz uma coisa ou outra e larga aí...
S.A.: Não, ainda aí tava pronto, mas por causa do quilombo, eles começaram a apertar os quilombolas,
aí tiveram que abandonar
MARIANA: Nossa então a coisa foi bem intensa né. Na certa é por isso que fecharam as janelas,
fecharam as portas com concreto. Porque tava aqui e eles acharam que não era dos quilombolas, eles
estavam invadindo
S.A.: Veio Policia Federal, veio IBAMA, Marinha
TERCEIRO: Meu Deus, uma simples casa, gente...
MARIANA: Mas não já sabe como são as coisas?
S.A.: Tá vendo... ó o convento lá! Aqui a passagem dos escravos que fizeram pelo outro lado, tá tudo
lá ainda, e vinham até essa fonte pegar água. Nós trabalhamos aqui um tempão, ficamos um bocado
de anos na olaria aqui. Tudo era a olaria... tem a parte do motor aí ainda, o tanque que eles pegavam
a água fria e transformava em água morna, ainda tem aqui o gabinete da roda.
MARIANA: E ficou ali ainda...
S.A.: Aqui fabricava telha e tijolo. E aqui tem a fonte... Esse Rio de lá é chamado Rio do Alambique e
depois muda de nome até aqui em cima, passa a ser Fonte do Mota... (TRECHO INAUDIVEL)... e tem
um manguezal ainda. É chamado Rio do Alambique. Eu tive que fazer pesquisa por causa do significado
do nome Alambique, aí vi que existia um Alambique ali embaixo. Tudo isso você tem que estar
procurando.
MARIANA: Procurando...
S.A.: Então aqui ele passa a ser chamado Fonte do Mota. Olha lá, o buraco lá. A maré vem até ali. Até
ali é chamado Alambique, pra cá fica sendo a fonte do Mota que é esse córrego aqui que você tá vendo
aqui.
TERCEIRO: Essa água aqui tá limpa?
MARIANA: Eita, que zoadinha gostosa, retada. Ai, que delícia!
S.A.: Lembra bem o interior, né? Aqui as mulheres lavavam e usavam essas pedras pra bater as roupas.
As roupas naquele tempo eram batidas com folha de São Caetano.
TERCEIRO: Então essa água que tá aqui vem de cá, né? E é limpa?
S.A.: É. Mas não muito limpa, né? Não é muito limpa hoje em dia. Já foi melhor. E ali em cima ainda
vamo ver..., borá ali pra ver a fonte do love.
MARIANA: Bora. Aqui é lama, viu?
285
S.A.: Por aqui... que a sandália vai escorregar.. Não dê passo longo não. Tem que ter o pulo do gato!
Mas a sandália escorrega
MARIANA: Fonte do Mota
S.A.: Daqui pra cima passa a ser Fonte do Mota
MARIANA: Aqui é o campo que os meninos jogam bola de tarde... e o povo joga lixo aqui também...
S.A.: Aí fica como camarim deles, né?
MARIANA: Ah, pensei que era.
S.A.: Trouxeram o sofá e ficam aí sentados pra pegar o baba deles. E a fábrica de azeite funcionou ali
embaixo. Tem muito lugar pra se conhecer. Então quando veio a professora que trabalhou comigo aí,
você sai e faz esses apanhados todos mostrando. Acho que o trabalho da escola ali precisa abranger
essas coisas. Tem que ter noção do que tem! Porque não sabe. Conhece por conhecer mas não sabe o
significado.
MARIANA: É isso que a gente quer fazer. Por isso que a gente vai precisar da sua ajuda.
S.A.: Focar ali dentro da sala de aula e dizer a eles a importância daquilo e como foi... Sempre, Mariana,
que me perguntam lá se os alunos aqui frequentam o patrimônio, eu sempre falo: freqüenta mas não
tanto igual aos de fora, porque é uma realidade. Não é uma coisa que esteja falando por falar, é a
realidade. Então se eles ficarem ali dentro cobrando bem dos alunos, o professor, eles passam a ter
outra visão... Passam a ter outra visão não é? Professor de História... vão passar a ter outra visão
MARIANA: É...
S.A.: Essa é a barragem que abasteceu a olaria...
MARIANA: Sim... Aquele cano que a gente passou ali laranja...
S.A.: Isso aí hoje é o sangrador do esgotamento sanitário, ta vendo?
MARIANA: Ah, é aí é? É por aí por baixo todo...
S.A.: Se ele encher, por acaso, ele vai jogar ali, lá na maré.
MARIANA: Se encher, no caso, o pinicão...
S.A.: É... É como fosse o sangrador, entendeu?
MARIANA: Entendi
S.A.: Aqui tá a barragem que foi feita na época pra abastecer a olaria e a fábrica de azeite
MARIANA: Será que tem como reaproveitar essa barragem?
S.A.: Claro!
MARIANA: Tem como?
S.A.: Tem!
MARIANA: Mas precisaria de incentivo né, interesse
S.A.: Um incentivo, quer que acontece, essa barragem aqui ó, não era só isso aqui. Era maior. Não
tinha uso, essa margem aqui era tudo limpo. A gente no verão, o proprietário mandava, a gente
286
mergulhava aí, limpava a saída da água que era... os tubos que não funciona mais, era ali ó e descia.
Tem um portão embaixo e aqui abria o portão, aí limpava ela toda, depois enchia. Botava água por
cima e o pessoal tomava banho embaixo.
MARIANA: Nossa! E agora só esse pouquinho assim...
S.A.: Por que esse pouquinho? Porque tá saindo embaixo, se tivesse fechado, tava cheio...
MARIANA: e dava pra fazer a mesma coisa de antes
S.A.: Agora não vai ser mais uma água potável né, porque tem o pinicão lá em cima
MARIANA: É, então o pinicão tá vindo pra aqui?
S.A.: Joga por fora, viu ele passar o tubo?
MARIANA: Vi!
S.A.: Mas tem esses problemas... Não se sabe a influência dele aqui porque ele tá aqui perto.
MARIANA: Não se sabe qual é a influência aqui. Então quando enche o pinicão, vai pra maré mesmo
né?
S.A.: É
MARIANA: E isso suja a maré...
S.A.: Lógico!
MARIANA: E aqui não se tem certeza da potabilidade da água por causa disso
S.A.: Não, aqui não
MARIANA: Deixa eu fazer uma foto daqui, Seu Afonso
S.A.: Uma coisa que vocês precisam saber, o que pode causar, se tá causando ou não.
290
FONTE DO MOTA
ÁUDIO 5 – VISITA ÀS FONTES
S.A.: Eu mandei a foto agora, semana passada, pra minha irmã, do rio, que ela viveu aqui com a gente,
ela ficou encantada.
S.A.: Aqui, fonte do love
MARIANA: Aqui que é a fonte do love!
S.A.: Tá vendo o coração?
MARIANA: Esse barulho é tudo de bom!
S.A.: Mas tem uma. Pode secar a barragem ali por acaso que ele continua com água. Porque tem um
nascente aqui dentro dessa laje que não deixa ficar sem água. Então você já pensou o cara chegar aqui
dar uma geral, cheio de vassoura, dar uma limpada aqui tudo, deixar tudo limpinho, olha aí...
TERCEIRO: Mas o mato joga tudo de novo.
S.A.: É
291
MARIANA: Mas a questão não é o mato, a questão é que a gente não sabe a qualidade da água.
S.A.: Hoje não. No passado a gente bebia até daquela água. Tomava banho e tudo, mas hoje, depois
daquela obra ali, e pra início não era pra ser aquela obra ali. Podia ser em outro lugar, menos ali. Se
eles fossem também pro outro lado ia atacar o rio do catu, não era? Não se sabe ali. Podia ser mais
pra cima, não sei porque ali. Também tá interessado é na verba, né? Não no que viesse acontecer.
MARIANA: Então porque a obra é ali, não se sabe, né?
292
FONTE DO LOVE
ÁUDIO 6 – VISITA ÀS FONTES
TERCEIRO: Vai ver que esses meninos moram aqui e nunca vieram aqui.
MARIANA: Às vezes vem, mas não pesquisa o histórico...
S.A.: Eu acho que a escola não tem incentivo. Os professores lá não são focados nessas coisas... Porque
se fosse, quem não sabia? Os professores ali a maior parte são filhos daqui.
MARIANA: Aqui é o tubo que dá pra maré quando enche lá.
S.A.: Se comentar, é tudo feito dentro da técnica de não sei o quê, tudo feito com estudo... não
concordam comigo muito não...
TERCEIRO: O que é isso aqui, seu Afonso?
S.A.: Isso aí é biriba, que foi cortada e isso aí é renovo.
TERCEIRO: Serve pra quê?
S.A.: Biribeira pra fazer berimbau. Tem o nome biriba.
TERCEIRO: Ela é resistente ao sol, né?
S.A.: É. Lá na UFRB, aí professora lá “bom, a mastrotto tem seu esgotamento tratado, não ataca o meio
ambiente”, aí eu botei o dedo pra cima, pedi a palavra... Será que o funcionário da mastrotto, que
responde por ela, pode ir lá onde desemboca essa água e tomar uns goles d’água pra viver, se tá
tratada ou não?
MARIANA: E aí?
S.A.: Aí todo mundo ficou com as orelhas em pé. Porque se tá tratada, a gente quer ver que o cara
beba água. Como é que despeja na natureza um resíduo de indústria e diz que tá tratada? É igual vir
do hospital, jogar no rio e dizer que tá tratado. Tá tratado então pode usar, né? Mas ele tem que fazer
o teste e beber pra eu ver. Eu tenho é razão.
TERCEIRO: A humanidade mesmo que destrói a natureza.
293
S.A.: Eles não gostam de receber o beliscão das coisas que faz. Só que falar bonito, né? Falar bonito
não é comigo porque eu não aprendi, eu quero saber na realidade.
MARIANA: Seu Afonso fala logo...
S.A.: Eles não gostam porque sou uma pedra no sapato deles. Fica com lero lero, você não cansa de
ver o lero lero, chega lá um diretor, que nada... Então me responda aí isso, isso e isso...
MARIANA: Eu vou vir aqui várias outras vezes com os meninos. Algumas vezes eu vou precisar do
senhor, mas eu te aviso com antecedência.
S.A.: Se chover um dia antes, você vai ver a pancada d’água ali na represa em cima, jogando lá fora.
Tem que vir com as botas. Estou esperando chover pra fazer um vídeo e mandar pra minha irmã.
S.A.: Aqui, isso aqui tudo foi uma olaria. Tinha muita gente trabalhando.
MARIANA: Essa olaria era super grande, hein? Construção de quando?
S.A.: Acredito que ela foi de 1930, foi passada de pai pra filho. Ali eu já trabalhei com o outro
proprietário.
MARIANA: Gente, é enorme. Espaço muito grande. Foi demolida, não foi isso?
S.A.: A lei de Getúlio Vargas, de assinar carteira, aí eles deram como falência.
MARIANA: E a construção em si?
S.A.: Ah, foi demolida. Aqui, ó. Isso aqui era um criatório de peixe que eles fizeram. Daqui (....), tá
vendo? Dentro do manguezal. Olha o colégio lá.
MARIANA: Aqui é atrás da escola.
S.A.: Aqui tá a parte do cais ainda. O saveiro entrava até aqui, saveiro à vela, entrava até aqui pra levar
pra água de meninos. Pra escoar a produção. Vinha até aqui. Aqui parte do cais que foi feito na época.
Olha o cais aqui ainda. O saveiro ficava aqui. E aqui embarcava os tijolos, as telhas, tudo, lenha...
Porque naquele tempo em Salvador as padarias eram a lenha. Não é hoje que é bojão e gás. Você vê,
isso aqui funcionou muito. Isso aqui tudo foi olaria. E a fábrica do azeite do outro lado ali, onde tá
chegando o sangrador.
295
CAIS DA OLARIA.
ÁUDIO 7 – VISITA ÀS FONTES
MARIANA: Não tenho nem como lhe agradecer!
S.A.: Isso que é legal!
MARIANA: Olhe para aqui...
S.A.: a mão do homem constrói e destrói. Destrói mais do que constrói, né?
MARIANA: Que coisa maravilhosa conhecer essas fontes! Isso aqui era uma coisa muito grande.
S.A.: Isso aqui teve dois tratores, teve dois saveiros, teve duas canoas, isso aqui trabalhou muita gente.
Digo porque eu participei da coisa. Não é coisa que me contaram não. Sabe onde é a casa de Zé
Corcunda hoje? Zé de Sousa, aí na praça?
MARIANA: Sei.
S.A.: Ali a gente fazia fila dia de sábado para receber o dinheiro. Dali da casa passava o navio que vinha
de Salvador, saía da praça Cairu, dia de sábado, meio dia, quando era 15:30h pra 16h tava passando
por ali, isso a gente lembra como hoje, que maravilha!
MARIANA: Mas também o senhor tem uma excelente memória, Seu Afonso. Que coisa boa, vou trazer
os meninos para cá. Vamos ajeitar as atividades para poder estar nesses lugares.
S.A.: Eu levei lá no... Hoje não que tem esses problemas aí, mas lá no engenho velho eu já levei vários
alunos da UFRB, que tem uma amiga minha, vizinha, que tá lá terminando o curso, aí ela chamava, eu
ia lá mostrava o engenho velho, mostrando os lugares... Porque também a gente não pode ter as coisas
só pra si não, Mariana, tem que passar para os outros.
296
MARIANA: E o senhor, seu Afonso, faz isso na maior boa vontade. Não procura lucro para si.
TERCEIRO: E isso aqui, Seu Afonso, é o quê?
S.A.: Isso aí é São Vassalinho. Aqui, quando o cara tá fazendo uma casa, quando bota a cumeeira, pega
um galho dele e bota na cumeeira para tirar o olho gordo. Primeiro do ano bota em casa e folha de
pitanga.
MARIANA: Olha a folhinha que fecha, nunca mais eu vi.
S.A.: Essa daí é a maliciosa. Chamam de malícia.
TERCEIRO: Minha mãe botava pitanga também.
S.A.: Pitanga é para trazer boas energias. É uma coisa que minha vó falava e que se faz até hoje. Ela
incensava a casa dia de sábado. Vai mudando as coisas porque também vai se adaptando, não tem
mais fogão de lenha, por causa da saúde, que é tóxica a fumaça. Isso vai terminando, mas você não
esquece aquela coisa que você foi criado. Não adianta. Eu tava na cidade, mas isso aqui tava dentro da
minha mente 24 horas.
MARIANA: O senhor já morou fora daqui, Seu Afonso?
S.A.: Morei no Rio, trabalhei no Rio.
MARIANA: Quanto tempo?
TERCEIRO: Mas saiu daqui para trabalhar lá, foi?
S.A.: Foi. De 71 até 80.
MARIANA: Mas ficou doido pra voltar...
S.A.: Avemaria, não via a hora!
MARIANA: Já era casado?
S.A.: Não, casei lá, não deu certo o primeiro casamento, mas deu nesse segundo casamento e tô aí,
graças a Deus. Mas tenho dois filhos lá, homem, um veio aqui ano passado.
MARIANA: Mas moram os dois lá...
S.A.: Moram lá os dois, é...
MARIANA: E tem um filho também que mora aqui...
S.A.: Todos os meus sete moram aqui.
MARIANA: Ah, o senhor tem 7! Mas 2 lá, 9!
S.A.: É! A fábrica trabalhou bastante.
MARIANA: E os 7 são com dona Maria, né?
S.A.: É, Renilda.
MARIANA: É porque chamaram ela de Maria... ‘Maria!!!’
S.A.: É a vizinha (risos). Maria porque eu botei, “todo dia você tá com uma dor, tá igual a Maria das
Dores” (risos).
297
MARIANA: Aí o pessoal chama ela de Maria até hoje por causa disso, né?
S.A.: Só os vizinhos, né? (risos). E chama Lídia, minha filha mais velha, de Maria Lídia, e ela não tem
nada com Maria.
TERCEIRO: Seus sete filhos todos são casados aqui, é?
S.A.: Não, tem um caçula e um de 27 anos que ainda não são casados não, mas todos são casados aqui.
A mais velha, o segundo, o terceiro...
MARIANA: Ah, ainda bem que tá todo mundo perto do senhor, Seu Afonso.
S.A.: Mas é aquela coisa minha, se eu pudesse deixar alguém meu ali dentro... Eles querem, mas cadê?
MARIANA: A vida não espera, né, Seu Afonso? A gente precisa sobreviver...
S.A.: A gente também cansa, né Mariana? E a gente vê se está havendo verdade ou só lero lero. Você
também percebe. A vida não vai esperar ninguém, vai seguir seu curso. Cada dia que a gente dorme e
acorda é mais velho. Então, vai ficar esperando o tempo?
MARIANA: Eu nunca tinha passado ali atrás da escola, Seu Afonso.
S.A.: Ali na escola tem um caminho, entre os dois pavilhões ali, logo em seguida, por baixo, uma
cisterna, aí vinha pra cá.
MARIANA: Mas não tem mais não, né?
S.A.: A cisterna acabaram com negócio de esgotamento sanitário. Fizeram fossa ali agora, mas teve
uma cisterna. Teve morador ali dentro da escola, na época. Pra começar, a data da construção daquela
escola, Edna veio saber outro dia que eu dei o documento a ela, porque ela não sabia quando foi
construída.
MARIANA: Não tem ninguém parceiro do senhor aqui nesse resgate histórico não? O senhor é sozinho
aqui pra isso?
S.A.: Sozinho, sem eira nem beira e bolso furado. A única coisa que eu tenho arrumado para vocês
verem é esse livrinho que eu tenho vendido. Mais nada.
MARIANA: O senhor não sabe como esse livro é uma joia preciosa!
S.A.: Ele é o começo de muita coisa que pode vir.
MARIANA: É isso!
S.A.: é a abertura de um caminho da mata que vai dar seguimento...
MARIANA: O senhor subiu o primeiro degrau. Pra mim isso aqui é uma joia. Vale mais do que muita
coisa.
S.A.: Você já pensou um leigo pegar cento e poucos alunos e falar pra universitários? Ninguém diz que
é verdade.
MARIANA: Seu Afonso, não existe isso de leigo não. A gente lá estuda uma coisa e aqui o senhor sabe
outra, então a gente se complementa. O que lá eles sabem não é maior do que o que o senhor sabe.
S.A.: Mas eles têm o cartucho debaixo do braço.
MARIANA: O senhor pensa que hoje isso vale de muita coisa?
298
S.A.: Me dizem que não. Eu digo que eles ficam lá e eu fico cá. Ele tá com a teoria dele e eu tô com a
minha. Eu tenho vivência da coisa que eles não vivem. Eles têm os estudos, mas não tem a vivência
que eu tenho, que eu vi, eles calculam, mas não viram.
MARIANA: Eu quero tomar um banho de rio, mas hoje nem vai dar tempo.
S.A.: De rio? Ah, lá na maré... Você vem igual a bombeiro pra apagar incêndio, na carreira...
MARIANA: Mas agora não vai ser mais assim não. Os meninos, quando vêm aí, vai todo mundo pro
rio.
S.A.: Eu vejo!
MARIANA: Pois é, seu Afonso, pra mim foi maravilhosa essa manhã com o senhor. O senhor nem sabe
como estou feliz de ter ido ver esses lugares. E já digo ao senhor que vamos precisar do senhor com
esses meninos aí, certo? Porque a gente tem que plantar uma sementinha, como a gente tem feito aí,
e a gente quer continuar plantando essa sementinha e o senhor tá sempre apoiando e a gente vai
precisar que o senhor continue apoiando.
S.A.: Progredir no futuro.
TERCEIRO: Aqui é amêndoa?
S.A.: Aqui é jenipapo. Olha aqui a natureza. Quer ver? O joão de barro. Aqui as duas casas dele. Por
que a porta dele está pra cá? Porque a natureza diz que a chuva vai vir por aqui.
MARIANA: Gente!
S.A.: Eu via os cientistas lá no Rio. Tinha previsão da chuva, mas não sabia a hora, né? A natureza muda.
Agora, precisa que a universidade também reconheça o meu trabalho, né?
ENTREVISTA FEITA PELA ESTUDANTE NAIRA SOBRE A FONTE DO CATÔNIO
NAIRA: Como descobriram esse poço de água?
S.A.: A fonte do catônio foi descoberta pelos padres franciscanos quando chegaram aqui em 1649.
NAIRA: Fez algum teste nessa água?
S.A.: Não, até agora não.
NAIRA: Nossa! E essa água é limpa para beber? O senhor confia totalmente nela?
S.A.: Segundo Jaboatão, o escritor da província de Santo Antônio do Brasil, que foi quem escreveu
sobre ela no convento, ele fala o relato no seráfico, ou seja, no óbico seráfico brasílico, crônica dos
padres menores da província de Santo Antônio do Brasil, ele fala que é uma fonte pequena, de água
limpa, que nasce ao pé do monte, entre pedras e areia, e de boa qualidade. Então eles usaram essa
fonte com água potável para beber de 1649 até 1900, eles beberam água daquela fonte.
NAIRA: Nossa, e vocês confiam mesmo nessa água?
S.A.: Eu confio porque eu vivi parte da minha adolescência do lado dela, eu morava ali ao lado, e o
pessoal sempre bebeu essa água sem problema nenhum.
299
NAIRA: Então para o senhor e para os moradores daqui de São Francisco, vocês não têm medo de
nada, né? Se essa água é suja, se tem alguma bactéria?
S.A.: Não, não, não, porque eu fiz um trabalho nela agora, com a comunidade, em janeiro. Nós
limpamos o poço e o minador não vem assim nessa direção, vem de baixo para cima. E isso você pode
procurar saber de Rabicó, que trabalhou, Tica, Cabo, então o minador vem de baixo para cima, sem
indício nenhum de sujeira, ele vem de baixo do manguezal. O manguezal está ali, a margem, né? Ele
não vem assim, como a princípio algumas pessoas pensavam que ele vinha, ele vem de baixo para
cima, então não tem como ter sujeira. Mas toda água tem sua impureza da natureza mesmo. Agora
que ela é imprópria para o consumo humano, é uma água de boa qualidade. Agora, cabe a alguém que
quiser fazer análise dela, fazer... Tá à disposição da comunidade.
NAIRA: Estava muito tempo sem usar, vocês resolveram organizar por quê? Estava vendo a
necessidade de reutilizar água?
S.A.: Estava porque, como você sabe, está havendo problema com a embasa aí. No verão tem água e
às vezes não tem. Quer dizer, tem. Agora, ultimamente, chegou uma água aí dos poços que eles
cavaram lá que tá escurecendo o alumínio de casa, né? As panelas, fazendo aquela cinta. Tem panelas
que se eu mostrar a vocês, não se sabe o produto que tem aquela água. Ele diz que é de boa qualidade,
a empresa diz. Mas em si você vê ela chegar, se ela marca o alumínio é porque ela não tem boa
qualidade. E o Catônio você pode chegar ali, pegar água e tá aí no bojão, vocês tão vendo aí. Tá aqui,
vários bojões aqui. Vê se tem alguma impureza...
NAIRA: Não.
S.A.: Tá vendo? Então a necessidade da revitalização da fonte a comunidade tinha que tomar uma
providência porque tá cada vez mais ficando escassa a água potável pra gente aqui. A comunidade
crescendo e a água se acabando, ou seja, as fontes que existiram quase não existem mais. Você pode
ter uma prova como lá o minador, lá em cima, pessoal acabou com o minador.
NAIRA: É, só tem esse agora que vocês estão cuidando.
S.A.: Então, tem na laje lá de Adelaide, onde mora Dezinho. Só tem aquela fonte de água potável. A
bica não é de qualidade de beber, é água pra gás, pra banho, pra limpeza, mas não é uma água pura
pra você beber. Então, água de beber, potável, que nós temos aqui, de boa qualidade, é só essa, o
Catônio, e lá, da laje. Que é lá em Dezinho.
NAIRA: Quais as histórias que os mais velhos contam sobre essa fonte?
S.A.: Do Catônio o que eu sei, passado de geração em geração, minha mãe já contava, minha vó, meus
pais e o pessoal que tem hoje ainda de idade, como dona Mariinha, conta a história da Fonte do
Catônio, e tem também o milagre que eu presenciei, que você pode ver meu irmão Edinho ali, que tem
a marca de três tumores aqui que foi curado na fonte do catônio. Então, o que falam as histórias? O
nome Catônio se refere a famílias portuguesas, famílias espanholas ou famílias italianas. Catônio é o
significado dessas famílias que naturalmente viveram por perto naquele tempo da invasão holandesa.
Esse pessoal veio pra cá e logicamente viveram ali por perto porque o significado que eu encontrei nas
pesquisas foi esse, essas três nações.
Então, alguns desses moradores, que viveram ali perto, lavavam as roupas, as donas de casa iam lavar
as roupas na fonte e aí deixavam as roupas para coarar em cima dos matos. Sua mãe, sua vó, suas tias,
tudo lavavam ali em volta. Você não, você é de ontem. Lavavam ali, esse pessoal de Cândido tudo
lavavam ali. Então deixando as roupas no coarador, para ser coarada, aí o que aconteceu? A dona de
300
casa foi para casa e deixou as roupas lá, depois, quando voltou para enxaguar, encontrou as roupas
pisadas de animal, de boi, porque seria pasto, logicamente. Então, ela chateada com aquele problema,
pegou uns espinhos e colocou em cima do poço. O poço era pequenininho, a gente morava ali, era
pequeno. Botou os espinhos em cima do poço proibindo dos animais tomarem água. E você não pode
proibir que tenha acesso a água de beber, água é vida. Então os animais ficaram sem poder beber
água. O boi, né? Nós temos o mito que o boi é abençoado. O boi se ajoelha para dormir, tem essa
coisa. A ovelha se ajoelha pra deitar primeiro, então, pede perdão a Cristo pra poder deitar. O jumento
tem aquela marca aqui dele que foi porque carregou Cristo e urinou, aí tem aquelas duas marcas que
a urina escorreu. No jegue, você não vê a frente? Porque são José mais Maria quando viajaram para o
Egito, ele ali urinou e tal, tem essa coisa. E o burro, o cavalo e o jegue não se ajoelha para dormir, se
joga, né?
NAIRA: E só foi seu Edinho que presenciou esse milagre?
S.A.: Esse que eu vi, então ele pode lhe contar. Aí sim... A fonte secou. Depois dos espinhos a fonte
secou. E aí criou um desespero naquela época para a comunidade. E aí a pessoa chamou a rezadeira
para rezar os ofícios para que a água voltasse a brotar. E nada. Tiraram vários ofícios e nada. Até que
uma daquelas rezadeiras tirou o ofício de Nossa Senhora de Santana. Quando tirou o ofício de Nossa
Senhora de Santana, a água voltou a jorrar. E aí tá lá até hoje. Então a fonte em si tem a parte religiosa.
Porque agora, quando revitalizamos a fonte, eu tive o cuidado de obedecer às regras da natureza, ou
seja, as pedras originais que Jaboatão fala no documento, tá aí comigo o seráfico Jaboatão, que fala
que nasce entre pedras e areia, as pedras estão lá, eu tive que uns seis meses pesquisar para encontrar
a fonte, o significado dela. Eu já sabia morando lá, mas não tinha informação histórica da fonte.
Quando eu fui ver o documento do convento é que ele fala nessa fonte, eu fui procurando, procurando,
até encontrar a fonte que ele cita e não tem outra a não ser ela, por causa da distância que ele fala.
Isso ele fala em 1717, há quase 400 anos.
NAIRA: Então o senhor procurou esse documento e aí descobriu a história dessa água.
S.A.: Eu tenho esse documento comigo. Quer dizer, a fonte a gente já conhecia, mas não sabia o
significado dela.
NAIRA: Qual era o significado mesmo?
S.A.: O significado da fonte? Jaboatão fala... vocês fizeram a pergunta se a água era de boa qualidade,
se é de garantia de uso, né? Então, Jaboatão fala no documento dele
NAIRA: Segundo ele essa água tem segurança, né? Ela é saudável para os moradores
S.A.: O Novo Orbe seráfico Brasílico Crônica dos Frades Menores na Província de Santo Antônio do
Brasil, ele fala que essa água é de boa qualidade e segurança, por isso eles usaram de 1649 a 1900,
quando eles foram embora definitivamente.
NAIRA: Tá certo, Seu Afonso. Só isso mesmo.
S.A.: Agora também tem a outra fonte, que é a fonte da custódia. Foram as duas primeiras fontes
históricas daqui descobertas por ele: a fonte da custódia primeiro, que eles levavam água para lá para
o convento, mas só que essa água da custódia não era de segurança para beber.
NAIRA: E aí acho que não tem mais essa água não, né?
S.A.: Tem!
NAIRA: Mas vocês não utilizam.
301
S.A.: Tem, tá lá no pasto de boneco.
NAIRA: Mas elas não usam, as pessoas não usam...
S.A.: Eles lavam e tudo ali, onde tem o cajueiro e uma jaqueira.
NAIRA: Mas só lavam roupa...
S.A.: Pode beber, mas não sei a segurança daquela...
NAIRA: Entendi.
302
APÊNDICE D – Diário de Pesquisa
Relato de Pesquisa (1)
DATA: Início de Abril, mais especificamente nos primeiros dias do mês. E 10 e 11 de abril de 2019.
ATIVIDADE: Primeira Ida a São Francisco do Paraguaçu; Contato e primeira reunião com os jovens de São Francisco do Paraguaçu (SFP) sobre a ideia de montar uma Agência Jovem de Notícias (AJN); Reunião com os professores da Escola Estadual de Primeiro Grau São Francisco do Paraguaçu (EEPGSFP).
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
➢ CONTATO E REUNIÃO COM OS JOVENS
Estando ainda em Salvador, contatei os jovens já conhecidos através de redes sociais para marcar uma reunião no povoado e conversar sobre a ideia da AJN. Esse grupo que contatei foi o que eu trabalhei no Projeto Vizinhanças com a Sala Verde UFBA em 2015. Na época eles tinham 11 a 12 anos. Agora, em 2019, estavam com 15 a 16 anos. Como a minha ideia é justamente trabalhar com esses garotos e garotas mais crescidos, e não com crianças pequenas, tentei contato com pelo menos 36 jovens e marquei uma reunião para o dia 10 de abril às 18h, na praça principal de SFP. Dessa vez fomos a São Francisco eu e minha mãe de carona com a professora Rejâne. Ficamos hospedadas na casa dela.
A maioria deles ainda reside na comunidade desde o último trabalho que eu tinha desenvolvido diretamente com esse grupo. Mas para alguns deles, as circunstâncias mudaram. Pelo menos seis mudaram de residência e não moram mais lá, e por isso de antemão já me disseram que não poderiam participar. Outra me disse que não poderia participar porque tinha se casado e a partir de agora não tinha mais tempo para essas atividades. Ainda outros disseram não ter mais interesse nas atividades promovidas pela UFBA. Uma parte deles não respondeu porque estava sem acesso à internet e outra parte confirmou a ida à reunião.
No fim das contas, 12 compareceram à nossa reunião da praça. Sentei com eles no banquinho e tive uma conversa bem divertida, nada monótona, sobre o projeto da Agência. Depois de explicar para eles direitinho, disse que teríamos um fluxo de trabalho, uma rotina semanal. Falei que trabalharíamos no espaço da Escola (isso já tinha sido previamente combinado no ano anterior com a direção e no dia seguinte seria o dia da reunião para colocar os “pingos nos is” com a gestão). Pedi que eles pensassem com calma se tinham interesse de participar porque eu fazia questão de compromisso. “Assumiu, cumpriu! Se não quer assumir, não entra!”. Mesmo assim, peguei os nomes deles, as idades, as séries na escola, e as maiores habilidades e dificuldades que eles achavam que tinham:
303
Nome: CLO, 16 anos. Clarissa
Série: Iº ano, tarde
Habilidades e Dificuldades: Boa em redação
Nome: CCJ, 15 anos. Calebe
Série: 7º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Ruim em leitura
Nome: DSC, 15 anos. Damião
Série: Iº ano, tarde
Habilidades e Dificuldades: Bom em matemática, ruim em todo o resto.
Nome: AMSS, 14 anos.
Série: 7º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom em matemática, ruim em todo o resto.
Nome: PCC, 10 anos.
Série: 4º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom para ser youtuber (boa fluência), ruim em tudo.
Nome: MSF, 15 anos. Marina
Série: Iº ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Boa em leitura.
Nome: MLSS, 16 anos. Leide
Série: 9º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Tem boa fluência e é ruim em matemática.
Nome: NVBT, 15 anos. Naira
Série: Iº ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Boa em leitura, ruim em matemática.
304
Nome: VJS, 17 anos. Vicente
Série: Iº ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom em dançar e jogar futebol
Nome: JRCJ, 14 anos.
Série: 7º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Boa locução.
Nome: RC, 14 anos.
Série: 7º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom em jogar bola, ruim em todo o resto.
Nome: JSSB, 16 anos. Joaquim
Série: 9º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom em matemática, em jogar bola e em tirar foto.
Muitos deles tinham dificuldade em dizer no que eram bons. A verdade é que a maioria não se achava bom em nada. Precisei fazer muitas perguntas de um por um para conseguir extrair aquilo que eles talvez achassem que fossem um pouco menos piores. Ainda assim, alguns não conseguiram identificar nada em si mesmos que tivesse a ver com habilidades.
Outra coisa que é muito recorrente em SFP (observamos isso desde que começamos a trabalhar lá nos primeiros projetos da Sala Verde da UFBA e a lista acima dá uma ideia) é a repetência dos estudantes na escola. É facilmente observável, por exemplo, que os meninos de 15 ou 14 anos que ainda estão no 7º ano estão pelo menos 2 ou 3 anos atrasados no curso escolar.
Embora eu tivesse dito a eles que pensassem se gostariam de participar ou não, quase todos confirmaram que participariam. Um dos que deu o nome disse que iria pensar. Outro disse que participaria, mas que tinha dias que precisava trabalhar. Eu disse que não tinha problema, que poderíamos ajustar os horários. Outro preferiu não dar o nome e já tinha dito que não tinha interesse. Eu peguei os números de celular de todos (a maioria tem acesso a smartphones com WhatsApp, embora a internet no povoado seja bastante lenta) e prometi que quando os participantes estivessem definidos, eu criaria um grupo no aplicativo.
305
➢ Reunião com a Escola
Na manhã do dia 10 (antes de ter me reunido com os jovens para explicar a proposta), foi a vez da reunião com a Escola. A professora Rejâne tinha pré-agendado essa reunião com Edilma, a diretora, para falar sobre uma nova parceria da EEPGSFP com as atividades da UFBA, pois há tempo as atividades haviam sido rompidas. Além da diretora, de mim e da professora Rejâne, cinco professores estavam presentes (Ademário, Heida, Neide, Rita de Cássia e o professor Roberto). Reestabelecida a parceria, falei sobre a ideia da AJN, que foi bem aceita por todos. A Escola ofereceu a sala da biblioteca para funcionar a Agência e nós poderíamos arrumar da melhor forma possível, além de usar tanto pela manhã quanto pela tarde.
No dia 11 pela manhã, período em que os estudantes estão em sala de aula, passei de sala em sala explicando o novo projeto que aconteceria (a Agência). Falei que os estudantes interessados em participar deveriam comparecer, naquele mesmo dia, às 14h, lá na escola, para fazer a inscrição. Escolhi fazer isso de forma estratégica: fazer um estudante sair de casa e ir até a escola para se inscrever num projeto em que ele teria que produzir realmente mostrava que ele tinha interesse. Não vi problema em fazer isso, já que a maior parte dos estudantes mora no próprio povoado e vai para a escola a pé.
Quando terminei de passar em todas as salas de aula para explicar a AJN, eu fui entrevistar seu Antônio, nascido na comunidade e funcionário do Mosteiro Santo Antônio do Paraguaçu. A ideia de entrevistar seu Antônio foi a de conhecer melhor a história de algumas fontes de água de SFP e também entender, ouvindo-o como morador, alguns conflitos locais sobre o uso da água das fontes e o uso da água da embasa. Seu Antônio me levou para conhecer algumas fontes, ficou faltando somente a Fonte da Bica. Eu comprei o livro dele “São Francisco do Paraguaçu: história e cultura de um povo esquecido” e ele assinou para mim.
Às 14h eu retornei para a escola com as fichas de inscrição na mão. Para a minha surpresa, ou sinceramente, não surpresa, só apareceu uma aluna que fez, de fato, esse percurso: saiu de casa à tarde em direção à escola para se inscrever num projeto que ela tinha ouvido eu falar pela manhã. Expliquei um pouco mais para ela sobre a proposta e confirmei minha primeira inscrita.
Além dela, essa tarde me rendeu mais 3 inscritos: dois que foram vender na escola, para os funcionários, cocadas e pasteizinhos que a avó deles fazia (como já os conhecia e não tinha conseguido contato anteriormente, expliquei o projeto e eles se interessaram e se inscreveram) e uma que tinha ficado na escola no turno da tarde porque a avó trabalhava lá, então, como também já me conhecia, acabou dizendo “Vá, pró, faça minha inscrição aí, eu vou!”. Mais tarde eu soube que boa parte dos meninos não tinha ido se inscrever porque era dia de jogar futebol. Assim, então, ficou minha lista de inscritos daquela tarde:
Nome: ASS, 11 anos. Aline
Série: 6º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Habilidade com celular
Nome: NCP, 14 anos. Noemi
Série: 7º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Boa em interpretação teatral
306
Nome: VFB, 14 anos.
Série: 5º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom em matemática e em pegar aratu
Nome: PAFB, 13 anos.
Série: 4º ano, manhã
Habilidades e Dificuldades: Bom em pegar caranguejo
Nesta tarde, terminadas as inscrições na escola, segui para conversar com Adilton e Fábio, funcionários da Embasa e moradores de São Francisco do Paraguaçu. Nós já tínhamos conversado outra vez, quando eu fui para São Francisco do Paraguaçu há alguns meses atrás, em outra atividade. Essa primeira conversa que tive com eles foi muito importante para me dar um panorama de como funciona, basicamente, o trabalho que eles fazem para que a distribuição de água no povoado aconteça. Me lembro que nesse dia que conversei com eles pela primeira vez, eu também conversei com Jurailton, que era líder comunitário, e ele me trouxe conflitos que a comunidade enfrentava em relação à conta de água e esgoto. Já dessa vez, na segunda conversa que tive com Adilton e Fábio, fiz perguntas que me ajudaram a entender a primeira vez que eu conversei com eles. Nessa segunda conversa eles me ajudaram a entender que o problema envolvendo água na comunidade é bem maior do que eu imaginava.
Depois de conversar com Adilton e Fábio, eu fui à casa de Jorge, um morador da comunidade desde a infância. Fui à casa de Jorge porque já o conheço de Salvador, mas dessa vez fui visitá-lo para ter mais informações sobre a distribuição de água em São Francisco numa visão dos moradores. A visita foi bem interessante, pois ele me mostrou numa garrafa transparente como a água sai amarelada da torneira e também expressou suas opiniões e desconfianças. O estudante Calebe me acompanhou em todas as atividades da tarde. Finalizamos essas atividades assistindo a um lindo pôr-do-sol no porto de São Francisco.
307
Relato de Pesquisa (2)
DATA: Meados de abril a início de maio e 20 a 22 de maio de 2019.
ATIVIDADE: Criação do grupo do WhatsApp, organização do cronograma de atividades e ida para início das atividades da AJN (arrumação da sala).
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Quando retornei para Salvador após a viagem de abril, refleti sobre as entrevistas, a reunião na escola e o encontro com os estudantes para então programar quais e como seriam as atividades da Agência Jovem de Notícias. Ao retornar, o que fiz imediatamente foi criar um grupo no WhatsApp para reunir os estudantes que tinham se inscrito para participar. Não consegui colocar todos porque nem todos tinham smartphone, mas eu sempre pedia para que os colegas dessem os avisos àqueles que não tinham como receber as mensagens diretamente.
Foram 16 os estudantes que inicialmente se inscreveram e confirmaram que participariam das atividades da Agência. Desses, 5 eram estudantes do ensino médio. Eles estudavam na escola do povoado ao lado, Santiago do Iguape, que é a escola que tem ensino médio. O horário de estudo deles era vespertino. Outros 9 eram estudantes do ensino fundamental dentro da própria comunidade de São Francisco do Paraguaçu, na EEPGSFP. O horário de estudo deles era matutino. E 2 jovens eram estudantes de outra escola de ensino fundamental I do povoado de São Francisco. O horário de estudo deles também era matutino.
Depois de refletir na visita feita e nos objetivos que eu desejava para a Agência Jovem de Notícias, montei um cronograma de atividades para ser discutido com os estudantes quando eu voltasse a São Francisco:
309
Figura 1: Cronograma de atividades planejado para a Agência Jovem de Notícias
A atividade era para ser iniciada na semana do dia 13 de maio, mas não foi possível. Os que estudavam no ensino médio tinham provas e pediram que o nosso início fosse adiado. Então adiamos uma semana e ficamos para iniciar no dia 20 de maio.
Eu e minha orientadora tínhamos conversado anteriormente e ela disse que conseguiríamos fazer um trabalho melhor e mais profundo se estivéssemos presentes durante a semana na comunidade e não aos finais de semana. Então eu resolvi dividir a atividade em três dias. Às segundas à noite e às terças e quartas durante todo o dia (manhã, tarde e noite). Sempre à noite, a ideia era reunir todos. Nas manhãs, trabalhariam aqueles que estudavam na escola pela tarde e vice-versa.
Uma das coisas com as quais me preocupei era com, de alguma maneira, fazer com que o trabalho da AJN aproximasse os jovens das suas próprias comunidades, no sentido de ajudá-los a aprender mais sobre ela. Não é difícil notar que as crianças e adolescentes desse lugar sabem pouco sobre a sua herança histórica e porque as coisas são como são no lugar onde moram. Aprendi que para trabalhar com educomunicação é necessário conhecer com quem se está trabalhando e pensei que tanto eu quanto os meninos, como moradores de São Francisco do Paraguaçu, precisavam conhecer mais sobre esse lugar.
Então achei interessante começar a atividade semanal da AJN todas as segundas com um momento que chamei de “Atividade Surpresa”. Separei no cronograma esse momento de
310
segunda à noite para fazermos alguma ação que envolvesse conhecer a história da comunidade e coisas afins que pudessem aproximá-los da sua cultura e história. Chamei de “surpresa” porque a ideia era não contar qual era a atividade e dar sempre um ar de curiosidade. Acreditei que isso poderia manter o interesse deles vivo para continuar indo.
Além disso, esse momento das segundas-feiras, nas quais estariam todos reunidos, era para sortear o subeditor da semana. Eu expliquei que toda Agência de Notícias possui um editor-chefe e me nomeei com esse “cargo”, mas disse a eles que toda semana haveria sorteio de quem ocuparia o lugar de subeditor. Quando pensei na proposta de ter um subeditor, eu pensei em fazê-los se sentir em parte responsáveis pela atividade que estava acontecendo. Mostrei a eles que o subeditor precisava montar a lista de presença em todos os turnos, lembrar os colegas de organizar a sala quando as atividades terminassem, apoiar os colegas em atividades externas quando fosse necessário e tomar as rédeas da atividade na minha ausência.
A terça-feira geralmente era o dia de ministrar a oficina que estava programada para a semana. Os jovens já começavam a produzir material depois que eu dava a oficina e quarta-feira geralmente era para dar continuidade ao processo. Como eu já imaginava que os materiais demandariam certo tempo para ficar prontos, eu não coloquei uma oficina por semana na programação. Eu coloquei uma oficina a cada duas semanas, para que tivéssemos tempo suficiente de conceber e produzir cada material.
Já ciente de que teríamos um recesso de São João, programei no cronograma um espaço para que todos pudessem apresentar o que tinham produzido de material até então. Mas já adianto que isso não deu muito certo. Depois dessa pausa estava prevista mais uma oficina e a preparação para inscrever as produções no 10º Encontro de Jovens Cientistas, um evento científico da Ufba direcionado à apresentação de trabalhos de estudantes da educação básica em diversas modalidades - incluindo vídeo e fotografia. Eu também incluí no cronograma uma reunião final para discutir qual seria o meio de manter as atividades da AJN quando esse nosso planejamento do ano acabasse.
➢ A primeira semana de atividades
Na primeira semana de atividades o objetivo foi limpar e arrumar a sala da AJN cedida pela escola, e também entrevistar os meninos que fariam parte da atividade para entender o que eles conheciam ou não em relação a água e em relação à distribuição dela na comunidade.
Durante o tempo que tive para planejar as atividades da Agência, planejei também o roteiro de
entrevistas para fazer com os jovens. Eu pedi o auxílio de colegas pesquisadores/professores para uma validação do material e no final das contas ele ficou com 31 perguntas divididas nos tópicos “Questões Pessoais”, “Água em casa”, “Distribuição de Água na Comunidade”, “Rio Paraguaçu” e ‘Saneamento Básico”.
Já dava para ver que a arrumação da sala seria um trabalho árduo. Como era a biblioteca da escola, mas não tinha uma arrumação, a sala tinha muitos livros empilhados em cima das mesas, no chão, espalhados por dentro e em cima dos armários, materiais de feiras e desfiles bagunçados pelos armários, entre outras coisas. O ambiente tinha muito mofo, os armários realmente estavam abarrotados de coisas já inutilizadas, tinha avisos antigos presos nos quadros, nas paredes, etc.
Mas antes de começar, nos reunimos na segunda-feira à noite, dia 20/05, para que eu pudesse explicar todas as fases do trabalho para todos e para discutirmos o cronograma que eu tinha
311
pensado e ver se eles concordavam ou não. Além disso, eu precisava entregar a todos eles o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz
48. Eu disse que
só poderia participar do trabalho quem trouxesse o termo de consentimento autorizado pelos pais, pois o trabalho na AJN se tratava de uma pesquisa. Nessa segunda-feira à noite, dos 16 inscritos iniciais, 4 faltaram e 12 compareceram e levaram os termos para casa para assinar e conversar com os pais sobre a proposta. Não houve nenhuma sugestão de modificação do cronograma que levei.
Figura 2: Primeira segunda-feira da AJN, com a discussão do cronograma e a distribuição dos Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Embora a sala estivesse cheia, não foi assim nos outros dias. Infelizmente apenas 9 dos inscritos inicialmente retornaram com os termos, e não foi imediatamente. Pequena parte desses 9 contribuiu na arrumação da sala, que terminou na quarta-feira. Uma parte deles tinha outras coisas para fazer (alguns, por exemplo, trabalhavam fazendo bico e pedreiro, lavando ônibus, fazendo pão, e acabaram não aparecendo). Outros eu não tenho ideia do porque, porque eu nunca mais vi, nem mesmo nos meses à frente que passei trabalhando lá.
Começamos juntos um processo de catalogação dos livros, revistas e dvd’s que a sala tinha, limpeza dos quadros e equipamentos, reposicionamento da estrutura das estantes , organização dos armários, e claro, uma faxina daquelas. Contamos com a ajuda de Waleska e Jurailton, além da professora Rejâne. Me lembro que Damião, um dos estudantes, disse: “Pra quê tanto livro? Taca fogo, professora!”, se referindo à quantidade de livros jogados, mal arrumados e sem uso. E tenho certeza que ele achava isso porque já tinha me dito que não gostava de ler.
Foram dois dias inteiros de arrumação que mais pareceram uma semana e não foi exatamente pela quantidade do trabalho, mas pela atitude de alguns dos jovens. Até para manter esses 48 Além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, solicitei aos participantes que os responsáveis assinassem também
o Termo de Autorização de Uso de Imagem, Texto e Voz. Uma vez assinado, esse documento permite a exibição das imagens e vozes dos jovens participantes da AJN em vídeos, fotografias e áudios decorrentes das suas produções nas atividades da Agência. Além disso, também autoriza a reprodução desses materiais online ou presencialmente para fins educativos.
312
poucos 9 que sobraram dos 16 inscritos inicialmente foi muito difícil. Isso porque alguns, quando viram o tamanho do trabalho que envolvia a arrumação da sala, simplesmente não apareceram. Era perceptível que quando falamos sobre isso, alguns não se mostraram cooperadores e já deram indícios de que não tinham muito interesse em se cansar nesse processo. Eu fiquei tão chateada com a “ausência voluntária” e com a sobrecarga de trabalho que isso demandou à outra parte que usei o grupo do WhatsApp para dar o meu recado. Foi a minha primeira reação.
Me senti à vontade para fazer isso porque já conhecia todos desde antes das atividades da AJN. Falei da necessidade de quando faltar dar uma satisfação, pois não era bom faltar e simplesmente não justificar. Era preciso que qualquer falta fosse avisada. Queria que eles compreendessem que na Agência a presença de todos era importante e que na falta de alguns o trabalho ficava concentrado na mão de poucos. Além disso, eles poderiam perder partes importantes das nossas atividades.
Eu não sei se o que fiz foi certo, se fui autoritária demais, eu não sei o que Paulo Freire diria se visse a minha mensagem (risos), porque eu sei que precisa existir um diálogo do por que as coisas não estão saindo como deveriam, e isso deve ser feito junto com o grupo que estamos trabalhando. Mas sinceramente, eu tinha certeza do porque eles não apareceram. Eu vi no rosto deles e ouvi os cochichos. Ouvi os outros dizendo “fulano disse que não vem fazer isso não” e isso me tirou qualquer possibilidade de pensar em diálogo… Eu me senti interpelada e super à vontade para expor meu pensamento no grupo do WhatsApp, justamente por já ter certa intimidade com a equipe. Esta intimidade foi construída nos anos de trabalho que já tinham passado.
Figura 3: Mensagem que mandei no WhatsApp após a decisão de alguns de não participar do trabalho pesado e faltarem sem avisar.
O resultado foi que alguns reapareceram para ajudar. Por outro lado, alguns não deixaram de participar desse trabalho pesado em momento nenhum. Uma das minhas alunas estava grávida de seis meses e ajudou em absolutamente tudo, sem faltas, por livre e espontânea vontade. Outro dos estudantes, que já conheço há algum tempo e percebo que tem grande dificuldade de compreensão em comparação com os colegas, foi o mais assíduo e disposto de todos.
Como se não bastasse a minha preocupação com essa evasão, a estudante Aline (11 anos) me disse que não queria mais participar porque as colegas dela não tinham se inscrito para fazer
313
parte da Agência. Ela disse que os meninos inscritos eram grandes demais e que por essa razão e pela não participação das amigas dela, ela não iria mais participar. Eu comecei a ficar triste. Era muita evasão nos primeiros dias de trabalho! Fiquei me perguntando como aquele projeto ia se sustentar se precisava de estudantes e eles estavam se esvaindo... Fiquei tão chateada… Mas desde o início a minha pretensão era trabalhar com quem realmente queria estar ali. Tomei essa decisão porque já conhecia os estudantes e seu ritmo de vida e sei que quando não querem uma coisa, não vão fazer. Então só me restou dizer que sentia muito.
Figura 4: Explicação de Aline (11 anos) sobre a sua desistência.
Quando o trabalho terminou e a sala estava completamente arrumada, os próprios estudantes ficaram felizes. Eles se enxergaram naquele processo de organização. O resultado deu a eles a ideia do quanto o esforço pessoal de cada um valeu a pena. No término da arrumação da sala, eu combinei com os 8 estudantes restantes e, separadamente, consegui fazer com 5 deles as entrevistas estruturadas. Os outros três ficaram de fazer no meu retorno na outra semana.
314
Figura 5: Sequência de selfies que mostra nossos últimos momentos na limpeza da sala.
Tirei várias fotos da sala reorganizada e mandei para o grupo de WhatsApp de professores da escola. Era uma biblioteca “depósito” que passou a ser uma biblioteca organizada, com cara de sala de trabalho e ainda com uma tela enorme de projeção que a escola tinha e estava sem uso. Além de tudo isso, catalogamos e digitamos os nomes de todos os livros não didáticos que tinham na biblioteca para que os alunos e professores tivessem acesso a materiais de pesquisa quando precisassem. Antes mesmo de começar efetivamente suas atividades, considero que a AJN deixou uma grande contribuição.
317
Figura 8: Grupo de estudantes que participou da organização da sala.
Para os que participaram até o final desse árduo trabalho de organização, separamos camisas do Encontro de Jovens Cientistas para presentear. Foi uma recompensa pelo esforço. Sinceramente, hoje não sei que pedagogia é essa. Será pedagogia da recompensa? da compensação? não sei… mas para mim fez diferença e eles também mostraram alegria ao receberem. Combinamos que eles usariam a camisa quando fizéssemos atividades fora da sala da Agência.
Figura 9: Camisas que os estudantes ganharam como forma de recompensa pelo esforço no trabalho de organização da sala
Fui embora na quinta pela manhã (23/05) e deixei combinado que a nossa próxima atividade seria na segunda, dia 27/05, de acordo com o cronograma da Agência. Durante a semana até nos falamos pelo WhatsApp e eles citaram que estavam curiosos para saber qual era a “Atividade Surpresa” da semana. Fiquei mais animada de saber que eles estavam empolgados. Eu disse a eles “Com certeza vocês vão reclamar da atividade, mas vão gostar!”.
318
Relato de Pesquisa (3)
DATA: 27 a 29 de maio de 2019 e 03 a 05 de junho de 2019
ATIVIDADE: Primeira oficina da AJN - Oficina de Jornalismo - e primeira atividade surpresa. Semana de atividades sem a presença da orientadora.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Nesta semana o objetivo foi fazer uma oficina de jornalismo. A ideia era começar com as atividades de texto jornalístico (porque a atividade duraria até a outra semana) e fazer uma atividade.
Na semana anterior eu já tinha conseguido entrevistar 5 jovens e nesta ida entrevistei mais 3. Uma das estudantes - Noemi - teve que sair da atividade, então ao invés de ficar com 8 entrevistas no total, eu acabei ficando com 7 entrevistas válidas. O motivo da saída dela foi uma repreensão da mãe, que falou comigo por telefone. Segundo ela, por alguns problemas de comportamento e de confiança, ela precisaria limitar a permanência da estudante fora de casa após a escola. Infelizmente eu não pude interferir muito neste processo, mas disse que quando ela pudesse, que poderia voltar.
Em contrapartida, ganhei mais um estudante que se interessou em fazer parte da Agência, Vicente (17 anos), mas infelizmente não pude entrevistá-lo. Isso porque ele participou da atividade surpresa e eu não consegui encontrá-lo antes disso para entrevistá-lo. Essa participação poderia influenciar as respostas às perguntas que eu faria para ele, já que o conteúdo da atividade tinha alguma relação com as perguntas contidas no roteiro de entrevistas.
Desde o início Vicente já tinha me dito que apesar de querer participar das atividades, ele não ficaria presente por muito tempo porque estava esperando uma chamada do exército para o seu alistamento. Além disso, ele disse que trabalhava quase todos os dias no horário oposto à escola (horário que seria destinado à Agência) e que por isso teria que faltar algumas vezes. Eu disse que não havia problema e que poderíamos caminhar assim mesmo, de acordo com as possibilidades dele, mas que a sua participação era muito importante.
Nesse meio tempo me chamou atenção também o fato do estudante Joaquim (16 anos) dizer no WhatsApp que não participaria mais das atividades e imediatamente sair do grupo, sem dar mais justificativas. Procurei por ele numa conversa privada para saber o motivo da saída. A justificativa foi que ele sentia que não estava cumprindo devidamente as atividades e por isso deveria sair. Acredito que ele tenha ficado com essa sensação porque na semana passada ele não dedicou tanto tempo na atividade de arrumação da sala da AJN, junto com os colegas. A contribuição dele foi em dois momentos pontuais, na catalogação dos livros. Confesso que, no início, achei que era falta de compromisso, mas quando ele sinalizou que queria sair porque não achava que estava cumprindo o suficiente, fiquei muito reflexiva e senti que minha mensagem sobre a presença e a justificativa estava começando a fazer efeito. Vi que que naquele momento eu precisava ser mais flexível e estimular a participação dele, mostrando como ele era importante.
319
Figura 10: Justificativa de Joaquim (16 anos) pela sua saída.
Eu disse a ele que não desistisse da atividade agora porque ainda estávamos no início. Relembrei a contribuição que ele tinha dado na catalogação dos livros e disse que o aguardava à noite para o início das atividades, que com certeza ele iria gostar. Deu certo e ele apareceu à noite para nossa primeira atividade surpresa. Fiquei aliviada por não ter perdido mais um estudante sem mal ter começado!
➢ A atividade surpresa
A atividade surpresa foi um “quiz” baseado no livro “São Francisco do Paraguaçu: História e Cultura de um Povo Esquecido”, escrito por seu Antônio, morador da comunidade. Eu sempre quis que a AJN aproximasse os jovens da sua própria comunidade e precisava pensar maneiras de fazer isso acontecer. Eles já tinham sido bem claros comigo: todos detestavam leitura. Detestavam mesmo, neste sentido da palavra. Então achei que não dava para começar uma atividade na AJN propondo a leitura de um livro. Mas pensei que um jogo de perguntas e respostas baseados no livro de Seu Antônio seriam um bom começo. O livro é dividido em 4 capítulos. Eu elaborei 10 perguntas sobre o primeiro capítulo e 10 sobre o segundo. Em seguida, fazia uma leitura interpretativa, cheia de trejeitos, do capítulo, e logo depois disso, ia fazendo as perguntas. Respondia aquele que batesse primeiro em sua cadeira. Waleska e Lavínia me ajudaram nessa dinâmica e nós fizemos as duas rodadas, uma de cada capítulo.
320
Figura 11: Livro de Seu Antônio, morador da comunidade, usado para a primeira atividade surpresa.
Eu tinha dito a eles que haveria prêmio para quem ganhasse. Então, no final, dois meninos venceram - Calebe e Vicente - uma rodada de cada. Eu tinha comprado chocolates e outras guloseimas para o prêmio. Waleska montou uma embalagem criativa para presentear os vencedores, e assim se deu. Considero que a atividade foi muito boa. Eles se divertiram e se envolveram no que eu mais queria: na história da própria comunidade. A presença foi muito significativa, só teve uma falta. Nós começamos a assinar a lista de presença a partir desse dia e combinamos que todos os dias o editor da semana passaria a lista de presença em todos os horários.
321
Figura 12: Registros da primeira atividade surpresa.
➢ Oficina de Jornalismo
No dia seguinte (28/05, terça), foi dia da oficina de jornalismo. Eu já tinha montado um material para projetar na tela da nossa sala, pelo computador. Montei a oficina com base no Manual Educomunicação em Movimento, da Fundação Tide Setúbal. Fiz as adaptações para a realidade da Agência Jovem de Notícias em São Francisco, explicando o que essa oficina tinha a ver com nossa Agência, os diferentes papéis que um jornalista pode executar, quais os tipos de texto jornalístico mais comuns, quais as fases do trabalho e como se monta uma pauta.
Depois de tudo isso, discutimos quais assuntos relacionados à água que perpassavam a comunidade de São Francisco que nós poderíamos trabalhar. Surgiram muitas ideias interessantes, algumas sugeridas por eles dentro da sua vivência em SFP e outras sugeridas
322
por mim. Conhecendo a limitação de leitura e escrita dos meus estudantes, procurei montar a oficina da maneira mais simples e prática possível. Eu já sabia que eles não prestariam atenção em nada que fosse muito longo, que exigisse leitura em excesso ou que fosse sem dinamismo. Eu poderia estar errada de início, mas a prática me mostrou que neste ponto eu estava certa.
324
Figura 13: Slides da Oficina de Jornalismo da AJN.
Figura 14: Temas que surgiram na discussão sobre o que trabalhar a respeito de água em São Francisco.
Feita essa discussão, seguimos para uma divisão de um tema para cada um, deixando os temas que sobraram para trabalharmos em outro momento. Cada um escolheu o tema que mais se identificou e também o tipo de texto que gostaria de construir. Nossa intenção neste primeiro momento era que cada um construísse um texto jornalístico, os quais mais tarde seriam todos compilados para montarmos um jornal impresso. A divisão e as pautas ficaram da seguinte maneira:
326
Figura 15: Pautas oriundas da Oficina de Jornalismo na AJN.
No processo de divisão, montamos as pautas individualmente. Cada um deles recebeu um bloquinho com caneta (materiais doados pela professora Rejâne, que sobraram de edições passadas do Encontro de Jovens Cientistas) e começaram a construir as suas pautas inicialmente por escrito. Escrevemos um título provisório, o objetivo do texto e o que era necessário fazer para concretizar o texto (quais pesquisas, quais entrevistas etc). Depois de rascunhar, passamos as pautas para o computador (ora usávamos o que tinha na sala da AJN - quando funcionava - ora usávamos o meu e depois eu imprimi na sala da diretoria para que eles tivessem isso em mãos).
Nesse momento notei que eles tinham muita dificuldade de passar as ideias para o papel. Mesmo que eu conversasse com eles individualmente, para alguns era muito difícil transcrever a orientação em palavras, fazer um rascunho do que estávamos discutindo. Eles geralmente queriam que eu ditasse palavra por palavra para copiarem o que precisavam fazer. Como a maior parte tinha essa dificuldade, enquanto eu estava orientando um, os outros não conseguiam se manter concentrados e isso resultava em conversa alta e dispersão.
Até mesmo os que eu já tinha orientado e indicado material para pesquisa tinham dificuldade de manter a concentração, tanto porque uma parte dos colegas estava conversando quanto porque eles simplesmente não conseguiam parar para ler e pensar. Quando conseguiam ler, eu ouvia um “Terminei de ler, professora!” e eu precisava reexplicar que era necessário anotar no bloco as informações consideradas relevantes. A resistência para selecionar essas informações também era enorme e isso causava ainda mais dispersão e reclamações: “Ler é muito chato, professora!” ou “Eu vou escrever o quê?”.
Essa dificuldade perdurou dois dias de oficina. O resultado foi que, para que qualquer linha de texto saísse para alguns, eu precisava estar junto. Com exceção de Leide, que escreveu o texto opinativo dela com mais facilidade, ainda que com limitações ortográficas, os outros não conseguiram produzir tão rapidamente de maneira independente. Uma parte deles não conseguiu produzir nada durante esses dois dias. Já outros, o texto era uma verdadeira cópia da página que eles tinham lido para pesquisar.
327
Figura 16: Parte do rascunho de pauta de Leide, quando ela começou a escrever seu texto sobre como as pessoas reutilizam a água em
São Francisco do Paraguaçu.
Acho que nesse exato momento eles começaram a se dar conta de que o trabalho não seria tão fácil e que talvez fosse chato. Do meu lado, eu me dei conta de que teria um trabalho imenso para tentar ajudá-los a se concentrar, e eu não tinha a menor ideia se iria conseguir. A AJN estava só começando e na primeira atividade os jovens não queriam fazer nem o passo 1, que era uma simples pesquisa sobre o tema.
Para não entrar em desespero, eu comecei a me lembrar que aquele era um projeto experimental, que eu estava, pela primeira vez, colocando em cheque a educomunicação (área que me apaixonei e venho fazendo carreira) para tratar de ciências num ambiente específico: uma escola rural, numa comunidade que tem significativo valor histórico na formação do povo brasileiro, que tem o maior rio baiano (Rio Paraguaçu) como principal fonte de subsistência e onde a educação sofre com todas as mazelas possíveis e imagináveis. O que a educomunicação poderia me ajudar a fazer ali para trabalhar um tema que geralmente se trabalha em ciências de forma fragmentada, para trabalhá-lo em diálogo com a vivência da comunidade e daqueles jovens? Pensar nesta perspectiva foi o que me ajudou a ir em frente, pois qualquer resultado, bom ou ruim, seria um resultado. Mais do que isso: eu tinha certeza que viveria um processo formativo engrandecedor.
De qualquer forma, eu tinha noção dessas dificuldades que enfrentaria. Quando chegou o último turno de atividade da semana (29/05, quarta à noite), eu expliquei para eles que na semana posterior eu não estaria em SFP, mas que as atividades transcorreriam normalmente na sala da Agência sob responsabilidade da subeditora Marina, sorteada da semana. A programação da semana deveria ser terminar os textos jornalísticos definidos nas pautas e para isso precisei fazer algumas coisas com eles:
● Conversamos sobre como escrever o texto, parágrafo a parágrafo;
328
● Agendamos entrevistas com profissionais, moradores e professores da comunidade, para que eles complementassem os textos;
● Separamos materiais de pesquisa para cada um, para que eles complementassem os textos e se preparassem para as entrevistas.
Figura 17: Mais registros da nossa oficina de jornalismo.
330
Figura 18: Parte de alguns rascunhos de pauta após orientações.
Nas atividades que aconteceram esta semana, percebi algumas coisas: eles começaram a criar responsabilidades. Começaram a avisar caso não pudessem comparecer naquele turno ou caso se atrasassem. Não foi 100%, mas foi uma melhora significativa. Outra coisa muito curiosa que percebi foi que, embora todos tenham celular e tenham domínio dessa ferramenta, com o computador a coisa é diferente. Eles sabem mexer muito bem em celulares, mas tem grande dificuldade para usar funções básicas de um computador, incluindo um mouse.
Nessa semana nós também começamos a organizar lanches para eles no horário das atividades. A professora Rejâne cedeu itens que tinha em sua casa e a escola também disponibilizou lanche do horário da merenda. Waleska sempre organizava essa parte, mesclando os lanches e fazendo a distribuição para os três horários (manhã, tarde e noite). Eles sugeriram café e conseguimos providenciar isso nas doações da escola e da professora Rejâne. Cada um ganhou um caneco plástico novo que sobrou do Encontro de Jovens Cientistas do ano passado. Eles nomearam e guardaram no armário da AJN. Deixamos para dar esses copos a eles no último turno de atividade da semana como uma recompensa pelo esforço do trabalho naqueles três dias. A ideia era sempre ter copos no armário da AJN e não precisar usar os copos da cozinha da escola.
331
Figura 19: Nossa despedida da semana com os copos de cada um.
➢ Uma semana sem mim: pedagogia sem autonomia?
Expliquei aos estudantes que nesta semana eu não estaria com eles em SFP, mas que as atividades deveriam acontecer normalmente na AJN, e já tínhamos combinado previamente na semana passada o que deveria ser feito: finalizar os textos da oficina de jornalismo. Eu deixei a diretora da escola e os porteiros avisados de que, embora eu não estivesse lá, as atividades aconteceriam normalmente sob coordenação, primeiro, de Marina, sorteada subeditora da semana.
Eu já tinha deixado eles previamente orientados, com entrevistas marcadas e materiais de pesquisa selecionados. Para as entrevistas, orientei todos eles a levar o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz, para que os entrevistados pudessem assinar. Eu mesma falei com cada um dos que seriam entrevistados que existia esse documento para ser assinado, que dava garantia de que autorizavam que a sua entrevista fosse utilizada para os fins educativos dos materiais a serem produzidos pelos jovens.
Combinamos que eu faria chamada de vídeo todos os dias com eles no horário específico das atividades da AJN naquela semana para tirar dúvidas. Conseguimos com a direção da escola que alguns dos integrantes teriam acesso ao Wi Fi da escola no seu celular: aqueles que eram alunos da outra escola, poderiam ter. Os que estudavam na escola não teriam essa concessão, porque de acordo com a direção, poderiam usar o celular no horário das aulas e isso atrapalharia que eles dessem atenção ao professor.
Essa decisão de não ir a São Francisco por uma semana depois das atividades da AJN já estarem em andamento foi estratégica. Uma das premissas da educação libertadora e, por consequência, da educomunicação é estimular a autonomia dos sujeitos. Achei que seria um oportunidade de fazê-los exercitar a autonomia quando eu não estivesse por perto, tanto no processo de manter as atividades em andamento nos horários específicos, quanto de seguir com o que era necessário para continuarem produzindo seus textos jornalísticos. Além disso,
332
tendo o espaço da escola como local para exercitar essa autonomia, já que a sala da AJN ficava justamente dentro da instituição.
Figura 20: Registro da semana de atividade sem a presença da orientadora.
Mas não foi uma semana nada fácil, e isso que já imaginava. Por um lado, eles cumpriram uma parte das entrevistas que estavam agendadas. Por outro lado, não. E os motivos foram muitos: “Hoje eu fui para o dentista!” ou “O professor disse que não podia hoje”, coisas que acontecem normalmente. Em outro caso foi porque o estudante realmente não foi mesmo, nem avisou. Depois fiquei sabendo que ele tinha conseguido um bico para trabalhar (Vicente, o que disse que talvez não ficasse na AJN muito tempo).
Mas não foi por essa razão que a semana foi difícil. Tivemos dois problemas maiores durante minha ausência. O primeiro teve a ver com a cozinha da escola. Como nas outras semanas, durante o funcionamento da AJN, a cozinha ficou aberta para que os meninos pudessem fazer um lanche na hora do intervalo. A cozinha sempre ficava aberta para nós, mesmo nos turnos em que a escola não tivesse aula. Mas, para a semana em que estive ausente, esqueci completamente de dizer algo do tipo “Pessoal, ao terminarem de usar a cozinha, vejam se está tudo no lugar e limpo!”. Não sei exatamente o que aconteceu, só sei que recebi uma mensagem da diretora dizendo que a cozinha tinha sido encontrada remexida no outro dia pelas funcionárias da escola, e que isso era muito desagradável. Ao mesmo tempo, recebi um áudio da subeditora da semana, Marina, dizendo que tinha recebido essa reclamação e que não tinha gostado, pois estava sendo acusada de uma coisa que não tinha feito.
“Bom dia Mari! Desculpa estar te incomodando logo cedo com um assunto meio chato. O que tá acontecendo: esses alunos estão com certas atitudes que eu sei que você não concorda e nem tampouco autoriza para tal. (...) recebi algumas reclamações dos funcionários e da cozinha que os alunos estavam indo, entrando na cozinha, abrindo armário, remexendo armário e aí os vigilantes chamaram atenção e eles não gostaram.”
333
Primeira mensagem enviada pela diretora na semana da minha ausência.
Pode ser que um dos estudantes tenha entrado na cozinha e realmente não tenha deixado tudo devidamente limpo, o que gerou todo esse desconforto. O ideal era ter deixado, já que as funcionárias da escola sempre deixam a cozinha limpa para o uso de todos. Então precisei tomar uma decisão: disse a eles que a partir daquele acontecimento, quando eu não estivesse com eles, nós deixaríamos sempre os lanches no armário da Agência e evitaríamos ir à cozinha da escola, para que isso não voltasse a acontecer. Usaríamos a cozinha quando eu estivesse por perto e pudesse dar aquela olhada final para ver se deixamos tudo como as funcionárias tinham deixado inicialmente para nós.
Hoje, pensando no que fiz, talvez não tenha sido a melhor estratégia. Se eu for pensar no que realmente deveria ter sido feito do ponto de vista de uma educação libertadora, eu deveria ter estimulado que eles usassem a cozinha novamente na minha ausência, mas que tivessem o cuidado que era necessário ter. Mas tenho certeza que isso não mudaria de um uso para o outro, seria necessário tempo e várias tentativas. E várias tentativas só são bem-sucedidas quando você tem toda a instituição trabalhando no mesmo ritmo para aquele objetivo. Não era o meu caso: a abordagem do meu trabalho na AJN era pontual e específica, então não dava para dar conta de tentar chegar a um objetivo principal, que seria ver como se processa o trabalho com ciências e educomunicação dentro da comunidade e ao mesmo tempo mediar esses todos os processos comportamentais da relação dos jovens com o espaço.
Não parou por aí. Outra coisa muito chata aconteceu nessa mesma semana. Não teve nada a ver com nenhum dos estudantes da Agência, mas o fato de termos conseguido Wi Fi para alguns celulares e a minha ausência colocaram os estudantes da AJN como principais suspeitos. A diretora me mandou uma mensagem no WhatsApp, muito chateada, dizendo que todos os estudantes da escola estavam usando o Wi Fi da escola e que provavelmente um dos alunos da AJN tinha passado para os estudantes. Eu respondi dizendo que achava pouco provável que isso tivesse acontecido, porque fui eu quem peguei os aparelhos celulares deles para digitar a senha e conectar, e foram apenas 3 aparelhos (os dos estudantes que estudavam na outra escola). Mesmo sabendo que estudantes poderiam achar alguma maneira de descobrir essa senha por algum aplicativo ou rotear o sinal por Bluetooth, eu realmente estava convicta de que não tinha sido um dos meus três estudantes.
Outra situação é a questão do wi-fi. Você me pediu para colocar a senha no celular dos alunos que não estudavam aqui na escola para poder fazer um trabalho. Só que é o seguinte: essa senha foi vazada e a escola inteira está com a senha. Os alunos acessando através dessa senha. Eu já vou hoje trocar essa senha e estou te comunicando porque se eles disserem a você que não tiveram como fazer o trabalho porque não tá com a senha é porque não houve confiança! Não houve confiança deles quanto a você. Não sei como eles rastrearam essa senha e passaram para os outros, então eu vou trocar a senha da escola e estou te comunicando para isso.
Segunda mensagem enviada pela diretora na semana da minha ausência.
Conversei com eles via WhatsApp sobre a situação. Todos ficaram tristes por terem sido acusados, confirmando que não tinham feito isso. Eu disse a eles que precisava expor a
334
situação e que se tivesse sido um de nós, que resolveríamos entre nós. Eles foram firmes na sua posição, dizendo que não tinha sido nenhum deles, que era muito simples para qualquer aluno da escola ter acesso à senha do Wi Fi e que os alunos da escola geralmente conheciam o procedimento para conseguir fazer isso.
Figura 21: Registro das mensagens trocadas com os alunos em que eles se defendem da acusação de terem repassado a senha do Wi Fi.
Eu disse que isso complicaria nosso trabalho, pois teríamos que trabalhar sem internet e eles disseram que a diretora não poderia acusá-los sem ter certeza de nada. A postura da escola foi mudar a senha, pois o acesso de todos os estudantes estava prejudicando a atenção às
335
aulas. Finalmente, essa questão foi resolvida na semana seguinte, quando a escola descobriu, por relatos de alunos, que um estudante tinha conseguido o acesso à senha do Wi Fi.
Minha principal reflexão sobre essa semana foi a respeito da dificuldade que é criar um ambiente autônomo. Criar um ambiente autônomo, uma escola autônoma, está muito além de ajudar um estudante a ser autônomo. A escola, nos seus moldes, não está preparada para atividades que entregam autonomia para estudante, pois quando isso acontece, as estruturas sedimentadas são abaladas e o controle muda de mãos. Por outro lado, talvez os estudantes, como integrantes de uma escola nesses moldes, não tenham sido estimulados a como usar e valorizar a sua autonomia e quando a tem não sabem utilizá-la, a desperdiçam ou a direcionam para atividades que mais beneficiam a si próprios do que a coletividade.
Relato de Pesquisa (4)
DATA: 10 a 12 de junho de junho de 2019.
ATIVIDADE: Continuação da produção dos textos da Oficina de Jornalismo. Realização da Oficina de Fotografia.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
336
Essa semana prometi que o prêmio da atividade surpresa não seria chocolate, como na primeira semana. Eu comprei um presente para dar ao vencedor: um fone de ouvido no tipo headphone. É claro que não foi nada muito caro, dadas as minhas condições, mas comprei algo que eles não têm facilidade de achar lá em São Francisco do Paraguaçu. Além disso, disse a eles que teríamos um lanche super especial preparado por Waleska e que era diferente de tudo que tínhamos comido até o momento.
Nós mudamos um pouco a programação dessa semana: Deixamos a atividade surpresa para a noite do dia seguinte porque eu achava que era uma atividade especial e queria o máximo de participação, então eu queria fazer uma propaganda. Então na segunda à noite começamos com uma reunião sobre o que precisávamos fazer para terminar os textos que ainda estavam atrasados. Alguns tinham avançado bastante depois de terem feito as entrevistas, mas ainda precisavam concluir. Outros não tinham avançado tanto e eu precisei sentar com eles para organizar o que era necessário fazer para conseguir ir em frente. Usamos o tempo para isso.
O caso de Calebe era especial. Eu já sabia que ele tinha alguma dificuldade para conseguir ler, escrever, entender o que estava sendo lido e também entender o que era para fazer. Isso é reflexo de um problema de saúde mental que ele tem desde a sua infância - ele estudou na Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (Apae) quando criança - relatado para mim pela diretora da escola e pela sua mãe, que infelizmente não lembrava o nome da doença e no momento em que conversamos, por estar ocupada, não podia procurar papéis antigos que tinham o seu diagnóstico. Ela disse que no momento ele não estava mais sendo medicado, mas que estava começando a perceber a necessidade de levá-lo novamente ao médico, porque achava que ele estava agressivo demais no modo de tratar a família.
Eu notava isso no modo como ele falava com os colegas e se referia a si mesmo: “Você é um animal!” (quando falava consigo mesmo, quando estava tentando se concentrar em alguma atividade) ou “Ela é ridícula!” (Quando falávamos de qualquer outra pessoa com quem ele não simpatizava. Ele não poupava esforços para falar críticas negativas sobre si mesmos e sobre as pessoas e a todo o tempo eu precisava gerir isso com alguma reclamação. Eu precisava também reclamar com os colegas, que por saber do processo de saúde mental dele, chamavam ele de maluco. Alguns atos dele eram justificados com respostas do tipo “Mas Calebe é maluco pró, tem até atestado”.
Levando em conta todo esse processo, precisei fazer uma coisa diferente com ele: percebi que ele expressava melhor a ideia quando eu perguntava a ele sobre o que queria falar. Então, para que ele pudesse sair do zero no texto, elaborei perguntas como se estivesse conversando com ele e pedi que ele respondesse da mesma forma. Eu disse que ele não se preocupasse com os erros de português porque tudo isso nós iríamos corrigir depois. Que o mais importante era que ele colocasse a ideia no papel e depois nós arrumaríamos tudo da melhor maneira.
Além de responder a essas perguntas, separei para ele um material que tinha a ver com o assunto da sua pauta, para que ele pudesse estudar mais um pouco. Ele estudou sobre o material fazendo uma cópia dele no seu bloco de anotações. Depois conversamos um pouco sobre o que tinha no material que ele estudou. A minha intenção era que ele tivesse um contato maior com o assunto que precisava escrever, e fosse conversando, fazendo cópia, respondendo a perguntas ou outro modo que eu visse que iria funcionar, eu ia fazer. As maneiras que encontramos naqueles dois dias funcionaram e Calebe conseguiu avançar em parte do texto.
337
Figura 2: Registro do andamento do texto de Calebe no bloco de anotações.
Tive o cuidado de elogiar sempre que ele conseguia fazer algum progresso nesse exercício, para que ele sentisse que era capaz de fazer aquilo. Mas é claro que nós tínhamos as nossas limitações. Por se tratar de um tema específico, tanto ele como estudante, quanto eu (não especializada na área de ciências) não sabíamos de determinadas coisas do assunto trazido, e justamente por isso estávamos escrevendo sobre aquilo. A nossa intenção era aprender.
Eu também fui fazer uma pesquisa sobre o tema e pedi ajuda ao meu marido, que é técnico em processos químicos, que pudesse me ajudar a entender o processo que estava envolvido na pergunta que Calebe tinha, para que escrevêssemos um texto bem fundamentado. Nós tínhamos deixado marcada uma entrevista com o professor de ciências da escola na semana anterior. Por causa de contratempos, a entrevista não aconteceu, mas o professor deixou para Calebe, escrita num papel, a resposta à pergunta que ele fez: “Por que quando fervia água, as panelas de alumínio dos moradores de São Francisco estavam ficando pretas?”. Achei a ideia prática da parte do professor e também fiquei feliz por termos ali uma resposta que nos ajudaria a explicar a nossa pergunta e completar o nosso texto. Isso até eu perceber que o texto deixado pelo professor era cópia exata do texto de uma página encontrada através do google.
Para falar a verdade eu nem sei como me senti nesse momento. Aliás, eu sei sim. Eu me senti sozinha, no meio de um conhecimento que eu não tinha domínio, lidando com informações que eu não tinha certeza se eram verdadeiras, com o objetivo de adaptá-las para um texto de um estudante que eu queria que aprendesse algo sobre ciências a partir de um fato do seu cotidiano. Eu queria muito contar com os professores da escola, e que informações importantes pudessem vir deles, e quando isso aconteceu, foi essa a perspectiva que eu vi ser abalada. Não que um professor não pudesse consultar um site para confirmar a sua explicação
338
sobre um assunto, ou não que um professor seja obrigado a saber tudo. Não estou falando disso. Mas também não estou falando de uma cópia ipsis literis de uma página da internet (que não era de divulgação científica, por exemplo, era um fórum de perguntas e respostas).
Figura 23: Folha deixada pelo professor para Calebe com a resposta da pergunta que ele faria na entrevista.
Eu ainda não tinha entrevistado a diretora para saber a formação dos professores da escola. E mesmo que eu tivesse feito isso, de que adiantaria? Será que isso tem a ver com formação? Ou como forma de abordar um assunto quando este lhe é colocado, mesmo que o seu conhecimento sobre ele seja limitado? Ao mesmo tempo me pergunto se eu fui exigente demais em pensar assim do professor e se eu deveria achar positivo o fato de ele ter contribuído com aquele texto. Eu realmente não sei o que pensar, só sei como senti.
Mesmo assim eu aproveitei a informação e junto com Calebe fiz mais uma pesquisa. Depois ligamos para meu marido, José, por ser técnico em processos químicos, e pedi que ele nos explicasse, numa chamada por viva voz, o que causa o escurecimento das panelas de alumínio. Com as explicações dele e as pesquisas que fizemos conseguimos, finalmente, concluir o nosso texto.
Outra questão trazida durante essa semana foi uma ideia de Marina, Clarissa e Naira. O nosso horário na Agência é de 08h às 11h na parte da manhã. As meninas sugeriram que esse horário fosse colocado para mais tarde. Perguntei o porque, para entender as necessidades delas e poder adequar, mas me surpreendi com as respostas: “Eu odeio acordar cedo!”, “A gente já faz atividade da escola, ainda tem que acordar cedo pra vir pra cá!”, “Eu acordo 10h, não gosto de acordar 8h não!”. Por dentro eu disse “Não tô acreditando no que eu tô ouvindo!”. Por fora
339
eu disse algumas coisas: falei que aquela era uma atividade pontual, que não durava todos os dias da semana e que elas só acordavam mais cedo por dois dias na semana. Falei que aquela atividade era uma oportunidade de aprender e fazer algo novo, diferente do que elas estavam acostumadas a cumprir de atividades na escola, e que por isso deveriam aproveitar. Também disse que elas moravam a 1, 2 ou 5 minutos da escola, que não moravam numa cidade grande na qual precisavam acordar horas mais cedo para enfrentar transportes. Por fim eu disse que a vida cobra responsabilidades e horários e que, com certeza, quando começassem a trabalhar, dificilmente dariam essas respostas para os seus empregadores. Como não tínhamos mais o que discutir, porque não havia mais questionamentos da parte delas, seguimos com as atividades.
Mas no outro dia, a coisa não mudou muito de figura e elas continuaram chegando atrasadas. Na verdade, isso estava sendo uma constante no grupo da manhã: quando não chegavam atrasados, simplesmente não apareciam e eu, como sempre ficava muito chateada e usava o grupo para me expressar.
Figura 24: Minha insatisfação no grupo do WhatsApp por causa dos atrasos e faltas
Passamos o dia inteiro de terça-feira (11/06) ajustando os detalhes restantes dos textos da oficina de jornalismo, estávamos na terceira semana deste processo. A nossa oficina de fotografia, que seria ministrada na quarta-feira pela manhã e pela tarde, dependia que os textos estivessem pelo menos quase prontos.
A atividade surpresa que eu trouxe nesta semana consistia no seguinte: os meninos assistiriam um filme e depois eu e Waleska iríamos fazer um quiz relacionado a partes específicas dele. Quem conseguisse acertar mais, levaria o prêmio da noite: o headphone. É claro que para dar uma animada e deixar todos na expectativa, apresentei o prêmio antes de começar o filme. Waleska fez pipoca e suco e fizemos uma verdadeira sessão cinema, para deixar o ambiente bem à vontade. Começamos pontualmente às 18h, como eu tinha combinado com eles, já que o filme era longo e depois ainda iríamos fazer o quiz.
O filme que eu levei para essa atividade foi “O menino que descobriu o vento”:
340
O Menino que Descobriu o Vento, filme baseado em fatos reais, conta a história de William Kamkwamba, um garoto que mora com sua família em uma aldeia pobre em Malawi. O lugar é devastado pela seca, que leva fome e miséria para a população local, que depende mais de ajuda externa do que daquilo que conseguem produzir. Isso porque, por conta do terreno arenoso onde vivem, é muito difícil fazer qualquer tipo de plantação – a não ser em épocas específicas.
O pai de William, um homem teimoso chamado Tyrell, sabe dessa situação e tenta não mostrar desespero na frente do filho – que, eventualmente, ouve os lamentos de seu pai e sua mãe por entre as portas da pequena casa onde habitam, dentro do sítio da família. Ainda assim, William vai para a escola com os poucos recursos que seus pais conseguem juntar. Dessa forma, esperam que ele, que sempre foi muito inteligente, possa se formar e ter um futuro melhor. No entanto, durante seus estudos, William acredita ter encontrado uma forma de ajudar a população da aldeia com uma ideia que parece surreal: construir uma estação de energia eólica usando apenas o ferro velho disponível.
O garoto, que interpreta o pequeno gênio William Kamkwamba, consegue passar a agonia de seus dias em um ambiente pobre e sem perspectivas de futuro, além do sofrimento de não conseguir ajudar seus pais a ter uma vida mais digna. A escola acaba mudando sua forma de ver as coisas, mesmo que antes disso ele já fosse um menino interessado em eletrônica, usando seu tempo livre para consertar rádios e caçar peças no ferro-velho para seus experimentos. Sua ideia revolucionou a região, que até hoje usufrui dela.
Descrição do filme O menino que descobriu o vento pelo site Interprete.me.
Achei que esse filme seria bom para inspirá-los, já que se trata de uma história de vontade de fazer frente a grandes desafios. Também achei que muitos pontos do filme se ligavam a eles, como o fato do filme se passar numa comunidade rural, de ter a ver com água, de ter a ver com ciências, de ter a ver com poucos recursos... Mas imaginei que estabelecer um debate não era a cara dos meus estudantes (já tínhamos feito isso em outros anos, no contexto de outras atividades, e a experiência não foi bem sucedida). Então para trazer as discussões importantes do filme à tona, decidi fazer um quiz. A cada pergunta, quem batesse na cadeira
341
primeiro, respondia. A proposta foi interessante. Além de falarmos sobre os aspectos da história do filme, também falamos sobre alguns conhecimentos que longa metragem trazia. A brincadeira foi muito boa, os meninos acertaram a maior parte das respostas e quem levou o prêmio por acertar mais perguntas foi Leide.
Figura 26: Registro do nosso quiz na atividade surpresa da semana, após exibição do filme ‘O menino que descobriu o vento’
Mas aquele dia não terminou tão bem quanto a nossa atividade. Marina não compareceu à atividade surpresa e quando cheguei em casa naquele dia, mandei uma mensagem dizendo que tinha sentindo sua falta e perguntando se estava tudo bem. Ela me respondeu que estava tudo bem, mas que não queria mais participar das atividades. Então perguntei se tinha acontecido algo específico que motivou a sua decisão, se eu merecia saber o motivo e ainda falei que precisava muito dela. Ela me disse que não houve nada, que só não queria mais participar. Disse que eu não merecia saber o motivo da saída porque não querer mais participar era uma liberdade que ela tinha. E nesse aspecto ela estava completamente certa. Era o que o Termo de Consentimento dizia, não é? Ela e qualquer um dos outros estavam livres para desistir da participação a qualquer momento…
342
Figura 27: Registro da minha conversa com Marina sobre a sua saída.
É claro que fiquei péssima, muito triste. Mas a única reação que tive foi dizer que ela tinha feito um excelente trabalho como editora na semana anterior e que faria muito falta. Disse também que a minha intenção em saber o motivo da sua saída era tentar me desculpar caso algo tivesse ocorrido. De qualquer modo não posso dizer que me surpreendi com a saída de Marina. Ela era uma das que, desde o começo, já falava em sair. Quando as confusões sobre a cozinha da escola e o Wi Fi aconteceram, ficou desestimulada. Ainda por cima, fiquei sabendo pela sua melhor amiga que ela não gostava que ninguém “pegasse no seu pé”. Ela quis dizer que na AJN eu cobrava demais que as atividades fossem cumpridas e que Marina não gostava de ser cobrada. Seja por qual motivo tenha sido, nunca poderei afirmar, já que não tive confirmação dela. Trabalhos que seguem, agora com menos uma.
Essa semana eu também chamei a atenção de Clarissa. Sempre percebi um potencial enorme nela em todas as atividades que fizemos, mas tinha uma coisa que a atrapalhava: os atrasos e faltas. Quando não faltava, ela só chegava atrasada. Ela me disse que realmente acordava atrasada, ia fazer as coisas e casa e quando via, às vezes já estava muito tarde para ir à atividade. Conversei com ela dizendo que era necessário ver o trabalho da Agência como algo importante, como uma prioridade, e que uma sugestão seria colocar o despertador nos dias de atividade, para se programar e acordar mais cedo.
343
Figura 28: Conversa com Clarissa sobre suas faltas e atrasos.
➢ A Oficina de Fotografia com Celular
Depois de trabalharmos na segunda, na terça-feira e na quarta durante o dia nos textos que ainda estavam pendentes de ser completados, a quarta-feira à noite foi o momento da nossa segunda oficina da AJN: oficina de fotografia. Como na primeira oficina, preparei um material para projetar na nossa tela. Dessa vez eu não usei orientações de um único material, mas fiz uma junção de informações que eu iria precisar através da pesquisa em diferentes fontes. O foco da nossa oficina era a fotografia com celular, para que os estudantes pudessem usar os seus próprios smartphones. Todos os que estavam agora na AJN tinham seus smartphones. Mesmo com problemas de carregador, memória cheia e outros imprevistos, a ideia era utilizá-los como as ferramentas para colocar em prática as dicas que iríamos aprender na Oficina. Então pedi que todos eles levassem os seus aparelhos.
Em termos de conteúdo, tínhamos dois focos principais nessa oficina: o primeiro era produzir a fotografia oficial do texto jornalístico escrito por cada um deles na primeira oficina. O segundo era, a partir de alguma lacuna/dúvida que o primeiro texto deles ainda tenha deixado
344
sobre o assunto que cada um estava trabalhando, produzir uma nova fotografia/texto que responderia a isso. Ou seja, a segunda foto/segundo texto seria uma continuação do primeiro. Dessa maneira, eles continuariam explorando os mesmos temas que estavam trabalhando, mas agora sob uma nova perspectiva.
Na oficina de fotografia com celular aprendemos sobre posições, luz, alinhamentos, efeitos especiais contidos em algumas câmeras de celular, cenários e edição das fotografias.
348
Figura 29: Slides da Oficina de Fotografia com Celular da AJN.
Nessa mesma noite, apresentei a eles o nosso mais novo projeto da AJN: o Instagram @agenciajovem que seria criado na próxima semana. Expliquei para eles que agora que saberíamos tirar melhores fotos, teríamos o nosso espaço para colocá-las. Cada um ficaria responsável por postar em um dia da semana e nós dividimos esses dias. Combinamos que antes de postar qualquer coisa, eles deveriam me repassar o texto para eu dar uma olhada no português e depois devolver para eles postarem. Combinamos também que toda a postagem deveria ter alguma informação relevante sobre São Francisco do Paraguaçu, que não deveria ser uma foto de internet e sim tirada por eles e que não deveria ser uma sem uma legenda explicativa. Pedi que eles usassem o livro de Seu Antônio (ele doou um para a AJN) sempre que precisassem de informações confiáveis e que quando no livro não tivesse a informação, eles poderiam fazer uma busca na internet. Se alguém quisesse postar e não fosse o seu dia, poderia usar à vontade a função “stories”.
349
Figura 30: Slides da apresentação da proposta do Instagram da AJN.
Como já estávamos na última noite de atividades da semana, eu só poderia sentar para orientá-los em relação às fotografias que deveriam fazer para os seus textos construídos na próxima semana de atividades (17 a 19/06). Então deixei uma atividade: pedi que eles fotografassem para treinarmos e abrirmos logo o instagram. Pedi que exercitassem o que
350
vimos na oficina tanto do ponto de vista de tirar as fotografias quanto do ponto de vista de editá-las com o programa gratuito que tínhamos conversado.
O exercício da semana foi relativamente tímido e recebi poucas tentativas deles. Só um deles se esforçou mais e mandou algumas fotos. Os outros não mandaram nada. Mesmo assim, continuei a estimular pelo WhatsApp, mandando exemplos de fotos que eles poderiam tirar e dizendo que eles estavam livres e poderiam exercitar a criatividade. Eu tinha pretensão de estimulá-los mais quando chegasse lá na segunda (17/06), inclusive saindo para tirar fotos com eles, mas todo o meu plano mudou por um acontecimento inesperado…
Recebi uma ligação de Jurandir, vigilante da escola e quem nos acompanhava em nossas atividades, dizendo que, por conta de um assassinato encomendado no povoado naquela semana e de uma disputa pelo tráfico de drogas no local, o clima em todas as ruas da comunidade era de muita insegurança e tensão. Além disso, pelo fato envolver um parente direto de um dos alunos da escola, ela ficaria fechada por alguns dias e os pais provavelmente não deixariam os meninos participarem das atividades da AJN, sobretudo à noite. Ele pediu que eu entrasse em contato com a diretora e eu o fiz, e ela também achou que o adiamento da atividade daquela semana seria o mais sensato a fazer:
Olha Mari, eu acho que é o mais correto no momento porque o clima aqui tá muito tenso, muito apreensivo. (...) Eu não estava aqui, passei a noite em cachoeira (...) e quando foi 7 horas da manhã minha cunhada ligou para me falar sobre essa situação, tanto que a gente saiu de cachoeira 7:30 da manhã e só chegou aqui 9:30 da manhã, porque a gente parava no caminho perguntando como é que estavam as coisas aqui e o pessoal dizendo que eles estavam de arma na mão, no punho, aqui pelas ruas dando tiro... e quando foi agora diz que chegou uma canoa de pessoas aí (...) e estão aí dispostos a tudo. Então a gente tava conversando (...) vamos fazer as coisas simples, vamos simplificar a situação, eu vou passar toda essa situação para secretaria de educação e a gente se compromete depois pagar essas aulas em atividade complementar, pela tarde ou um sábado... porém esses dois dias tá todo mundo apreensivo, todo mundo trancado dentro de casa porque aqui a gente sabe que tem a violência, tem tudo, mas aqui não estava acostumada dessa forma que tá essa situação. Então o mais viável é você fazer isso, dar esse recesso essa semana porque a gente só vai para escola segunda-feira. E garanto a você: de noite não tem um pé de pessoa na rua! Se agora de dia tá tudo fechado, fechou tudo porque estavam passeando de arma no punho aqui.
Seguindo as orientações de Jura e da diretora, conversei com os meninos via WhatsApp que eu já estava sabendo do ocorrido e que não seria possível cumprir nossa atividade naquela semana de 17 a 19/06. Como na outra semana era feriado do São João, adiamos o nosso próximo encontro para a semana dos dias 01 a 03/07. Isso incluía um feriado, mas eles toparam trabalhar mesmo assim. Então eu disse que abriria o instagram naquela semana e que a nossa principal atividade seria produzir fotos para a nossa nova rede social.
Para empolgá-los, disse a ele que eu tinha uma notícia boa: na nossa próxima semana de atividades não teríamos somente o prêmio da atividade surpresa, mas eu lançaria um desafio
351
e que o vencedor também ganharia um prêmio. Enfatizei que os prêmios era muito bons e que eles iriam gostar e achar muito úteis.
Houve algumas dificuldades para acessar o instagram e fazer a postagem, usar os emoticons e as hashtags, e já prevendo isso, fiz um modelo previamente pronto para que eles pudessem copiar. Eu também pedi a eles que repostassem em suas contas prórias as postagens da Agência de Notícias, para que seus amigos ficassem sabendo da iniciativa e seguissem a página. Para eles aprenderem o RepostApp deu um trabalho danado e a coisa não funcionou, então acabei deixando a ideia para lá e me conformando só com a maneira de divulgação nos stories pessoais que alguns estavam fazendo. De vez em quando eles esqueciam das regrinhas e começavam a seguir perfis de artistas com o Instagram da Agência, mas depois que eu falava, eles se lembravam…
352
Figura 31: Imagens do Instagram da AJN.
A comunicação por WhatsApp funcionou bastante durante essa semana para sanar essas dificuldades, tanto no grupo como em conversas privadas com cada um. Precisei gravar vídeo, mandar tutorial para ensinar a acessar e outras coisas, e fiquei feliz deles terem se envolvido, mesmo que timidamente, nesse processo. Essa foi a nossa comunicação até o encontro de 01/07.
353
Relato de Pesquisa (5)
DATA: 01 a 03 de julho de 2019 e 09 a 11 de julho de 2019.
ATIVIDADE: Desafio das Duas Semanas.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Passado o clima de insegurança e o feriado de São João, retornamos às nossas atividades após duas semanas. Estávamos nos comunicando timidamente pelo grupo do WhatsApp dentro do processo que tínhamos estabelecido para a postagem no instagram. Eu lembrei a eles que começaríamos nessa semana o Desafio das Duas Semanas e que isso renderia um prêmio ao vencedor. Além desse prêmio, teríamos também o prêmio da atividade surpresa, que era costumeira.
O Desafio das Duas Semanas consistia no seguinte: eu tinha certeza que os meninos iriam precisar de um estímulo para retomar o ritmo das atividades da Agência. Nós não tínhamos discutido ainda como cada um poderia fazer a foto para ilustrar seu primeiro texto jornalístico, quanto mais já fazer um segundo texto baseado numa segunda fotografia! Por outro lado, o tempo estava passando e as coisas precisavam acontecer. Então fiz o seguinte: Determinei que durante uma semana (segunda a quarta, nos turnos da AJN) eles deveriam trabalhar na foto relacionada ao primeiro texto e em ajustes nesse texto (sim, ainda tínhamos ajustes a fazer). Na segunda semana, a intenção era trabalhar na segunda foto e texto, que deveriam se basear em alguma questão que o primeiro tinha deixado em aberto. Cada atividade que eles faziam valia uma quantidade de pontos e aquele que alcançasse a maior pontuação final era o vencedor do prêmio.
Eu sinceramente não sei se estimular a competitividade (e aqui uma competitividade saudável, pois não tivemos nada predatório) foge de algum modo da minha proposta de trabalhar com uma educação libertadora. Mas no contexto em que eu estava, da falta de motivação dos meus estudantes (algo que eu não consigo descrever em palavras, só a convivência pode ser clara o suficiente para permitir essa sensação), eu precisava estimulá-los de algum modo, precisava que eles percorressem aquele caminho de produzir seus materiais de alguma forma, mesmo que fosse fazendo-os correr atrás de um prêmio. O discurso de ‘bom para sua vida’ e ‘bom para a comunidade’ tinham efeito zero sobre esses jovens e eu precisava fazer a coisa acontecer. O prêmio que levei foi uma mochila simples, mas grande o suficiente para levar os materiais para a escola ou para viajar, e levei também alguns materiais que poderiam ser prêmios de segundo e terceiro lugares (copos coloridos e garrafas coloridas para água).
Eu já cheguei no dia 01/07, segunda, tendo uma danada chateação. Duas meninas já tinham me deixado pré-avisadas desde a semana anterior que não poderiam ir na segunda para a atividade, mas estariam presentes na terça. O problema é que os outros, porque elas não estavam no povoado, também resolveram não aparecer e nem avisar, com o tipo de pensamento “Ah, ninguém tá aí, então não vai ter não!”. Arrumei tudo e só Vicente apareceu. E eu, claro, indignada que estava, resolvi desabafar no grupo do WhatsApp.
354
Figura 32: Meu desabafo no WhatsApp por causa das faltas sem aviso no dia 01/07.
Quase às 20h, Clarissa apareceu. Então eu repassei as orientações sobre o Desafio das Duas Semanas para ela e Vicente. Para os demais eu tive que passar as orientações pelo grupo do WhatsApp, pois no outro dia nós já começaríamos a sair para tirar foto e eu não teria tempo de orientar um por um. Nessa noite nós estávamos na casa da professora Rejâne porque houve um problema com a chave da escola que nos impossibilitou de entrar.
Figura 33: Proposta do Desafio das Duas Semanas.
355
A semana (terça e quarta, dias de atividade na AJN) foi produtiva para quase todos eles. Eu e Clarissa fomos à barragem do Rio Catu, que abastece São Francisco do Paraguaçu, para que ela fizesse as fotos que precisava fazer da barragem e do poço artesiano, para o seu primeiro texto. Ela conseguiu adiantar bem o trabalho na semana, tanto que começou a organizar a pesquisa da sua segunda fotografia fazendo uma entrevista com os funcionários da Embasa.
Calebe fez várias tentativas de fotografia na casa dele, pois precisava tirar uma foto razoável de uma panela de alumínio com sinais de desgaste (oxidação). A câmera do celular dele não estava nada boa, mesmo assim fiquei incentivando que ele testasse diferentes alternativas, posições, trocasse as panelas, etc. Isso o manteve envolvido no processo. Naira fez excelentes fotos da Fonte do Catônio. Nós fomos até lá e conseguimos fotografar não somente a saída de água da fonte, mas também as pessoas indo buscar água, cheias de garrafas para encher. Os enquadramentos que ela utilizou ficaram muito bons e renderam excelentes fotos.
Damião conseguiu fazer as fotos da Estação de Tratamento de Esgoto de SFP, o famoso ‘pinicão’. Trouxe fotos em várias perspectivas e as opções também foram muito boas. Ele começou a organizar a produção do seu segundo texto e foi um grande exercício mantê-lo concentrado. Como não gostava de leitura e nem mesmo de fazer pesquisa, ele falava muito coisas do tipo “Não achei nada aqui não, professora!”, “E agora, é pra fazer o quê?”, “Eu já li, não tem nada!”. Mesmo quando eu apontava o exato lugar onde estava uma informação, ele não conseguia ler para explicá-la com suas próprias palavras, não porque tivesse dificuldade de entendimento (isso eu consegui concluir), mas porque achava aquele trabalho de leitura, escrita e seleção de informação demasiado chata e era capaz de qualquer coisa para não ter que fazer aquilo. Posso dizer que foi o verdadeiro exercício de “tirar leite de pedra” fazer Damião produzir um texto, e não por falta de habilidade. Ele só conseguiu evoluir nas linhas quando sentamos juntos e fomos conversando, e eu transformava cada frase que ele dizia em texto. Somente assim o material textual dele foi tomando forma.
Infelizmente Joaquim não participou da semana de atividades e também não se pronunciou apesar das conversas que estavam acontecendo no grupo. Eu o procurei e perguntei porque ele não estava aparecendo e ele respondeu que estava em Salvador e não avisou porque esqueceu. Por dentro fiquei desanimada com ele, porque naquela altura do campeonato ele ainda estava justificando que não avisou porque esqueceu. Mesmo assim não reclamei, só pedi que não faltassem na semana seguinte, para que eu pudesse orientá-lo em relação ao que os colegas dele já estavam à frente.
Vicente, apesar de ter participado do primeiro dia, não levou a atividade à frente e não apareceu mais naquela semana. Ele não tinha evoluído na construção do primeiro texto (não escreveu) e apesar de estimulá-lo, eu estava deixando-o livre em relação às atividades, já que ele tinha me dito desde o início como seria sua participação. Combinamos de fazer uma oficina de edição das fotos no Snapseed naquela terça-feira (02/07), na casa da professora Rejâne (a chave da escola ainda não tinha sido resolvida), para que eles aprendessem mais detalhes de como deixar as fotos bem editadas tanto para o seus textos quando para seu Instagram pessoal e o da Agência.
356
Figura 34: Clarissa fez suas fotografias na Barragem do Catu e entrevistas para sua segunda produção de fotografia.
Figura 35: Calebe não poupou esforços para fazer a foto que o seu texto precisava.
Figura 36: Nádia fez excelentes fotos para o seu texto sobre a Fonte do Catônio.
357
Figura 37: Damião mostrou diferentes perspectivas do pinicão nas suas fotografias.
Na quarta-feira à tarde estávamos na escola e nossa atividade surpresa estava marcada para 18 horas. Ela renderia 5 pontos no placar daqueles que não faltassem. Mas fomos surpreendidos: Nos avisaram que os rapazes envolvidos no tráfico de drogas tinham chegado ao povoado de canoa e como não sabiam qual era o objetivo deles, fomos orientados a ir para casa naquele momento e não ir à escola de noite. Tivemos que suspender a nossa atividade. Então combinei com os meninos que a nossa atividade surpresa da semana seguinte valeria 10 pontos, para compensar o não acontecimento daquele dia. Percebi que falar sobre a pontuação, perguntar com quantos pontos no placar estavam e se tinham conseguido a o número de pontos máximo da atividade deixou eles mais animados.
Nos falamos pouco pelo WhatsApp naquela semana, e quando retornei na segunda (08/07) já foi para a nossa atividade surpresa. Naquela semana, a atividade foi da seguinte maneira: assistimos dois vídeos disponíveis no youtube nos quais seu Antônio explica sobre o Convento Santo Antônio do Paraguaçu. Os vídeos eram curtos (no máximo 5 minutos) e tinham informações das mais diversas sobre a história do Convento e a sua Importância para a Comunidade. Depois que assistimos, entreguei folhas para eles e fui fazendo perguntas sobre informações que seu Antônio tinha dado sobre o Convento no vídeo. Depois, recolhi os papeis e o vencedor levou o prêmio da atividade, que era um suporte para celular, para poder apoiar o smartphone e assistir melhor a vídeos no aparelho. E quem levou mais uma vez foi Leide. Dessa vez Vicente não participou porque os assíduos na AJN não achavam justo que ele não fizesse as atividades, mas participasse da atividade surpresa.
358
Figura 38: Registros da nossa atividade surpresa do dia 08/07 sobre o Convento Santo Antônio do Paraguaçu.
Uma das alunas que estava mais envolvida na atividade nas semanas anteriores, Naira, não foi à atividade surpresa e senti a falta dela. Leide disse que naquela noite Naira realmente não estava se sentindo muito bem, mas que na ela não queria mais participar da AJN porque tinha “enjoado” de ir para as atividades. Eu aguardei ela se manifestar, mas no outro dia ela também não apareceu. Então, mandei uma mensagem para perguntar o porque ela não tinha aparecido, dizendo que estávamos perto de concluir o trabalho e que o dela estava muito bonito. Ela simplesmente me respondeu dizendo que não iria mais, que não queria mais fazer as atividades, de maneira muito semelhante à forma como Marina respondeu quando saiu. A minha reação foi perguntar se tinha acontecido algo e ela disse que não. Então agradeci a participação e disse que ela se sentisse livre.
Claro que fiquei péssima por perder mais uma estudante na AJN, ainda mais uma que se envolvia tanto e fazia excelentes trabalhos quando os fazia. Eu não esperava uma saída de Naira, ainda mais sem uma justificativa, mas aconteceu. Talvez, de fato, a atividade estivesse muito chata, talvez fosse infantil demais para aqueles meninos que estavam se tornando adolescentes, talvez eles não enxergassem mesmo fundamento nenhum… Passou tanta coisa pela minha cabeça… Os piores momentos eram esses, quando alguém desistia, eu me sentia completamente impotente e incompetente no trabalho que estava tentando fazer.
Figura 39: Conversa com Naira sobre a sua saída.
Com menos uma estudante, seguimos as atividades da semana, que eram muitas para cada um, mas foram bastante produtivas e precisei dividir por horários para sair com cada um para fazer as fotos e depois sentarmos para organizar o texto e o resumo para o 10º Encontro de Jovens Cientistas (isso também estava no desafio e não seria difícil de ser feito. Uma vez com o texto pronto, seria fácil colocá-lo no documento formato do evento para deixar pronto para a inscrição deles e eu disse que os ajudaria nesse momento). Fui ao quintal da casa de Clarissa
359
para conseguirmos montar um cenário e fazer uma foto interessante que mostrasse como saía a amarelada a água da torneira. Fizemos muitas tentativas para achar uma que retratasse melhor.
Na cozinha da escola, montamos o cenário para fazer a foto de Calebe e mostrar como as panelas de alumínio ficavam escuras. Era o que ele precisava para ilustrar seu texto (Calebe não conseguiu evoluir para dois textos, dado que tinha seu próprio ritmo por uma condição específica, como já falei anteriormente, mas trabalhou dentro das suas possibilidades e respeitei isso). Com a ajuda de Fábio, funcionário da Embasa, fomos até o extravasor do “pinicão” para fazer uma foto de onde o esgoto que era tratado desembocava. Era a foto que Damião precisava para escrever seu segundo texto. Tentamos ir pela manhã, mas a maré estava cheia e não conseguimos chegar. Esperamos o final da tarde e novamente Fábio nos levou até o local e dessa vez conseguimos.
Para a foto de Leide, só precisamos ir até o quintal da professora Rejâne, para que ela tirasse foto do tanque de captação de água da chuva. Algumas tentativas foram necessárias até sair uma foto bacana e ela se saiu muito bem. Sempre que possível, nessas saídas, juntei pelo menos de dois em dois para que uns pudessem participar e ajudar no processo dos outros. Infelizmente, mais uma vez, Joaquim não participou. Ele disse que tinha prova de recuperação e que precisaria estudar para a prova e assistir aula. Ainda assim, percebi que tinha uma falta de interesse da parte dele porque sempre que eu sugeria um horário para que ele viesse, ele dizia ‘Ah, achei que era outro horário!’. Mesmo assim, eu respirei fundo naquela semana, já que ele falou da recuperação, e preferi não reclamar. Pedi que ele aparecesse na quarta de noite, pois era o resultado final do desafio e a presença dele era importante.
360
Figura 40: Nossos exercícios de fotografia.
A quarta à noite (10/07), hora do resultado final, foi um dos melhores momentos da atividade na AJN até essa data. Eu criei expectativas, dizendo que veríamos os placares e saberíamos o resultado do Desafio. Além disso, disse que Waleska faria um lanche especial. Mas o verdadeiro motivo de ter sido um excelente momento foi que, pela primeira vez, nós compartilhamos uns com os outros o que tínhamos feito. Cada um deles tinha construído conhecimentos sobre um assunto específico da sua comunidade, tinha respondido perguntas que todos eles tinham, mas não sabiam a resposta, e naquele momento nós conseguimos contar uns para os outros que, por exemplo, “Clarissa descobriu que a água está vindo amarelada por causa da cor natural da água do Rio Catu!”. Foi um momento de verdadeiro compartilhamento e a gente podia dizer “Agora já sei porque isso acontece aqui!”. Eu fiz questão de enfatizar que agora a gente sabia daquelas coisas porque eles tinham ido atrás das
361
respostas nos livros, na internet, nas entrevistas pela comunidade, na escola… Era um trabalho deles.
363
Figura 41: Slides do resultado do Desafio das Duas Semanas.
Depois que fizemos esse compartilhamento, mostramos o placar e houve um empate triplo. Para ser justo, fizemos um sorteio entre os empatantes e quem levou a melhor foi Clarissa. De um início meio escorregadio, ela agora estava super competitiva e era a vencedora da semana. Mas teve prêmio também para os outros dois que empataram e finalizamos a noite com música e um bolo vulcão de chocolate preparado por Waleska.
364
Figura 42: Resultado e premiação do desafio das duas semanas.
Nesse meio tempo eu descobri uma coisa muito interessante sobre a permanência de Clarissa nas atividades da AJN. O pai dela, de um lado, dizia que ela tinha que ficar em casa fazendo as coisas de casa, e não ficar perdendo tempo indo pra escola “fazendo coisas coisas de UFBA”. Por outro lado, o namorado perguntava “o que você está ganhando com isso?”. Ele definitivamente detestava a presença dela nas atividades, já que ela gastava por lá o tempo que poderia estar com ele. Lembro de uma vez em que pedi que ele se aproximasse para que eu pudesse mostrar o belo trabalho que ela tinha feito e ele se recusou.
Sei que para lidar com essa insatisfação das duas partes masculinas da história, Clarissa tinha o apoio da sua mãe. Ela conversou com os dois e disse que Clarissa tinha dado a sua palavra e que iria participar até o final da atividade por conta disso, que ela não poderia sair agora por motivo nenhum. Além disso, ela se desdobrava para deixar as coisas prontas para ajudar sua mãe em casa e não dar tantos motivos para seu pai falar. A mãe dela trabalhava de manhã na creche do povoado e por isso precisava de ajuda diariamente com as atividades domésticas no período da manhã. Seu pai era pescador e seu irmão era um nem nem de 20 anos: nem trabalhava, nem estudava. Sua principal ocupação era sentar pelo povoado e jogar videogame no celular da sua mãe, além de arranjar algumas confusões com garotos da sua idade nos finais de semana. No meio de tudo isso, essa foi a Clarissa que se mostrou: competitiva e animada para ir até o fim.
Nossa próxima atividade ficou para duas semanas depois, e seria oficina de vídeos. Ficamos conversando pelo WhatsApp durante esse período, acertando coisas para o nosso Instagram no dia de cada um, mas a coisa não foi tão fácil. Na atividade anterior eu já tinha dito que cada postagem no instagram valia 5 pontos extras no próximo desafio (da oficina de vídeos), o que já deixava a pessoa mais perto do prêmio. Mesmo assim, eles tinham dificuldade de cumprir as postagens no dia, esqueciam, diziam que não tinham tirado a foto, mas dentre as dificuldades, uma foto e outra foi tirada e postada.
É claro que às vezes eu me sentia super mal de usar um sistema de placar, pontos, prêmio e competitividade para estimulá-los na atividade, mas parecia que se isso não acontecesse, a atividade não ia para frente. Pode ter sido limitação/incompetência minha, afinal, eu estava tentando trabalhar com um método diferente do que eles estavam acostumados, mas também longe de mim estava acreditar que tudo diferente seria a solução dos problemas.
365
Então ora culpada, ora não, eu mantinha a ideia firme na cabeça e fazia os desafios mesmo assim.
Relato de Pesquisa (6)
DATA: 22 de julho de 2019 e 29 a 31 de julho de 2019.
ATIVIDADE: Desafio dos dois vídeos.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
No dia 15/07 recebi uma mensagem de Damião no grupo do WhatsApp dizendo que não ficaria mais na Agência. Segundo ele, vez por outra tinha coisas para fazer em casa e ele ficava até às 11h na Agência, o que estava causando uma insatisfação em sua mãe. Além disso, ele disse que era ruim ficar saindo à noite para ir à escola, porque o lado que ele morava era perigoso e de noite não tinha luz. E então, saiu do grupo. Fiquei super preocupada, mas como não estava em São Francisco, não podia resolver nada. Até sugeri no grupo que fôssemos juntos conversar com a mãe dele, já que estávamos na fase final e só faltava uma oficina.
Na conversa privada, chamei Damião para conversar e pedi que ele me explicasse melhor a situação. Perguntei do que a mãe dele realmente tinha reclamado e me surpeendi com a resposta: na verdade ela não tinha reclamado de nada, ele que não queria mais ir e inventou essa desculpa. Perguntei o porque e a resposta foi exatamente a mesma de Marina e Naira: não quero mais ir, não quero mais fazer as atividades etc.
366
Figura 42: Registro da conversa com Damião sobre a sua saída.
E cá estou eu, com menos um e com aquela mesma sensação das outras vezes em que perdi os outros. Nesses momentos eu tinha vontade de acabar logo com a AJN, já que pelo andar da carruagem, eu não iria nem conseguir terminar todas as atividades com tantas desistências. Sem Damião eu agora tinha 4 e um desses 4 era quase um fantasma. Mas eu não podia desistir. Pela persistência de Calebe, pelo ânimo que Clarissa tinha conseguido apesar das forças centrífugas e pela perseverança de Leide, com 8 meses de gravidez e nem falava em desistir, eu tinha que continuar.
E eu continuei. No dia 22/07, segunda-feira à noite, lá estava eu de volta. Dessa vez só com os quatro “sobreviventes”: Leide, Joaquim, Clarissa e Calebe. A atividade da noite valia 20 pontos e já era a oficina de vídeos. Então nesta noite eu fiz o seguinte: expliquei o nosso desafio dos dois vídeos (que se estenderia por aquela semana e pela próxima) e depois dei a oficina de
367
produção de vídeos. Eu já tinha um material de oficinas anteriores que eu tinha ministrado sobre como produzir vídeos e casava muito bem para eles, pois era um material para adolescentes. Foi esse o material que usei para ministrar essa oficina. Como exemplos de vídeos, usei audiovisuais feitos por eles mesmos ou outros jovens da comunidade em anos anteriores que nós tínhamos trabalhado, em outros projetos.
371
Figura 43: Slides utilizados na oficina de vídeos.
O desafio era produzir, em cada semana, um vídeo, e nossa atividade seria, novamente, guiada por um placar que definiria o vencedor do prêmio final (quem conseguisse produzir os dois). Nós sorteamos os temas para cada um. Eu sabia que meus estudantes não tinham ritmo característico de produzir as coisas na pressa, mas por um instante pensei que, com a minha ajuda e animados pelo prêmio (ainda mais depois de terem visto o primeiro desafio), eles se esforçariam um pouco mais do que de costume para fazer isso acontecer. Por outro lado eu não pensei sobre como isso poderia interferir no próprio processo de reflexão deles no momento de produzir seus vídeos - a pressa poderia ser um fator impedidor dessas reflexões.
O prêmio que levei foi uma pequena caixa de som, redonda e vermelha, que eles poderiam conectar via bluetooth ou cabo em seus celulares, para ouvir música em casa ou em outro ambiente, facilmente carregável com os carregadores dos próprios celulares. Obviamente, como em qualquer outra ocasião eles faziam (com os lanches, com as propostas de atividades etc), a primeira reação deles ao ver o prêmio da semana foi desprezá-lo: “Ah, é isso é?”, “Essa caixa aí não presta, é da ruim!”. Realmente, não era uma caixa de marca reconhecida, até porque eu não tinha condições de comprar. Mas era perfeitamente e minimamente usável. Para descontrair e entrar no jogo deles, eu dizia “A única pessoa que não criticou foi fulano, então acho que vou dar o presente para ele/ela e vocês fazem a atividade sem necessariamente ter que ganhar o prêmio, o que acham?”. É claro que eles não aceitavam e de uma hora para outra todo mundo queria ganhar o presente.
373
Figura 44: Slides explicativos do Desafio dos 2 vídeos.
No entanto, um fato fez com que esse planejamento de dois vídeos passasse para apenas um. Naquela semana eu tinha ido a São Francisco com meu marido, pois Waleska, minha companheira principal, não pode estar comigo naquela data. Ele já tinha ido outra vez, os
374
meninos já o conheciam, e como já pré-combinado, me ajudaria a arrumar os lanches dos garotos. Logo na terça de manhã (23/07), recebemos uma ligação informando que o pai dele tinha sofrido um acidente vascular cerebral e precisei suspender as atividades na AJN para voltar a Salvador. Os meninos foram muito compreensivos. Então, por uma questão de tempo, quando eu retornasse na semana posterior, só seria possível fazermos um vídeo. Como eu tinha combinado com os meninos que cada postagem no Instagram valeria 5 pontos extras no quadro de pontuação, naquela semana eles ficaram mais focados em postar na rede social, cada um no seu dia.
Retornei na segunda-feira, 29/07, para iniciarmos as atividades e já tive que lidar mais uma vez com a ausência de Joaquim. Ele disse que a mãe dele não tinha deixado ele ir. Eu pedi que ele fosse no outro dia, para que pudesse continuar a produção do seu vídeo. Ao invés de fazer a atividade surpresa como era de costume nas segundas à noite, preferi priorizar o andamento dos roteiros dos vídeos, porque teríamos que dedicar a terça e a quarta para gravação e edição do material. E assim fizemos.
Na terça-feira pela manhã começamos a gravação do vídeo de Clarissa, sobre os tipos de fossas que existiam e qual era a mais usada em São Francisco do Paraguaçu. Além de pesquisarmos imagens na internet com diferentes tipos de fossas, fomos em algumas casas de são Francisco para filmar como ficavam essas fossas nos quintais. Entrevistamos Seu Marambinha, morador da comunidade, responsável por construir as fossas da maior parte das casas de São Francisco e ele explicou quais materiais eram utilizados e de que maneira era construída a fossa negra, a mais utilizada no povoado.
A terça-feira pela manhã foi bastante produtiva em termos de entrevistas. Como era horário de aula na escola, conseguimos entrevistar dois professores. Essas duas entrevistas foram experiências muito singulares. O vídeo de Leide era para explicar melhor sobre a localização de São Francisco do Paraguaçu dentro da Baía do Iguape. Apesar de ser banhado pelo maior rio baiano, grande parte das pessoas ainda confunde o fato do Rio Paraguaçu estar dentro da Baía do Iguape, e também chamam essa baía de Bacia do Iguape. Para montar um vídeo simples e explicativo que tirasse as dúvidas sobre isso, pedimos ajuda do professor de geografia para nos dar uma entrevista sobre a diferença entre Baía e Bacia.
O professor de geografia é na verdade formado em educação física. O fato dele ocupar o cargo de professor de geografia se refere a uma cadeia de problemas que têm origem nas secretarias de educação e que acabam caindo nas comunidades como São Francisco do Paraguaçu. E caso o professor formado em educação física não estivesse dando aulas de geografia, talvez aqueles estudantes estivessem sem professor todo aquele tempo. Quando perguntamos sobre a diferença entre baía e bacia para gravar o vídeo, ele respondeu “Bahia sabemos que é nosso estado e bacia é um monte de terra, muitas vezes cercado de água, a gente chama de bacia”. Na hora confesso que fiquei paralisada, afinal eu tinha explicado qual era o propósito do vídeo (explicar sobre baía e bacia), essa reflexão toda da formação dele eu só fiz depois. Mas não pude interferir nem falar nada, achei que se eu o corrigisse iria influenciar no resultado do trabalho… fiquei completamente em dúvida do que fazer. Foi um dos momentos mais difíceis de todo o trabalho na AJN.
Depois ele saiu e disse que ia melhorar a resposta. Procurou a definição no google, foi até a sua sala de aula, escreveu no quadro a definição que achou e pediu que os alunos da sua turma o ajudassem a decorar. Quando se sentiu seguro para falar sem consultar, voltou e pediu para
375
regravar. Dessa vez, explicou a diferença entre baía e bacia com a primeira resposta que tinha achado no site de busca, e foi essa a entrevista que foi para o vídeo de Leide.
Naquele mesmo dia nós saímos pela tarde para fazer imagens para os vídeos de Leide e Calebe. Para o vídeo de Calebe, também entrevistamos um antigo morador da comunidade, seu Júlio, que explicou como desde que ele era criança o rio Paraguaçu era um meio de subsistência para as famílias do povoado. O dia foi bastante produtivo, pois depois me sentei para editar os vídeos de Calebe e Leide junto com eles. Combinamos horários diferentes, para que eu pudesse ter um tempo com cada um nesse processo. Joaquim disse que não poderia também comparecer de tarde e comecei a ficar extremamente chateada com a falta de compromisso dele. No fim das contas ele já tinha perdido a segunda e a terça de atividades.
Na quarta-feira foi o outro momento singular que passei, com uma professora, Apesar de Joaquim estar faltando bastante as atividades, nós sabíamos que precisávamos de uma entrevista com a professora sobre a razão de São Francisco do Paraguaçu ter tantas fontes de água. Então, aproveitando o intervalo da manhã na escola, pedimos à professora de geografia da turma de Joaquim que ela nos desse uma entrevista falando sobre isso. Ela hesitou bastante, mas no fim, aceitou fazê-lo. Para a pergunta “Por que São Francisco do Paraguaçu tem tantas fontes de água?”, ela respondeu “Acredito que a comunidade tenha muitas fontes de água devido à quantidade de reservatórios subterrâneos que existe, devido às chuvas que passam pelos poros das rochas e aí acontece o derretimento das geleiras”.
Eu também fiquei completamente sem reação, mas não pude interferir no processo. Nesse caso, não usamos o vídeo, até porque Joaquim não terminou seu processo. A professora não era formada em geografia e sim em pedagogia, mas naquele ano estava como professora de geografia do 7º ano. Apesar de ficar sem reação, depois entendi as limitações da professora e fiquei bastante pensativa sobre como os professores precisam dar aulas sobre assuntos que não estão nas suas searas de conhecimento e como os estudantes são prejudicados por isso.
Como os vídeos de Leide, Clarissa e Calebe estavam praticamente prontos, dediquei a tarde para sair com Joaquim e gravar as imagens do vídeo dele. Por um lado ele se dedicou para acharmos as fontes e fazermos os takes, mas por outro já não estava tão interessado assim em participar. Eu deixei claro para ele que seria impossível editar o vídeo e deixá-lo pronto para aquela noite, que já era a noite do resultado. Mesmo assim, ficamos de fazer para que ficasse pronto para depois.
377
Naquela tarde foi a professora Rejâne que fez os lanches para a noite de resultados do Desafio dos 2 Vídeos. Terminamos aquela semana assistindo aos vídeos 3 vídeos produzidos: “surpresa”, de Leide, “As fossas usadas em São Francisco do Paraguaçu”, de Clarissa, e “O Rio Paraguaçu está sofrendo em São Francisco”, de Leide. Depois dos vídeos apresentados, conseguimos conversar não só sobre esses assuntos, mas sobre outros problemas que encontrávamos na escola, graças a uma reflexão estimulada pela professora Rejâne. Antes de terminar o nosso encontro, fomos ao resultado, e pelo quadro de pontos, Leide levou a melhor na atividade daquela noite e ganhou a caixa de som. Os outros também ganharam brindes pelo esforço.
378
Figura 46: Fotos da noite de resultado do desafio dos dois vídeos.
Nossa atividade final era apresentar os trabalhos para os professores da escola, para os pais e para outras pessoas da comunidade, e faríamos isso na semana seguinte. Combinamos de nos encontrar na próxima segunda, 04/08, para montar a apresentação e ensaiar. Também faríamos a nossa última atividade surpresa.
Relato de Pesquisa (7)
DATA: 05 e 06 de agosto de 2019. 22 a 25 de outubro de 2019
ATIVIDADE: Apresentação final dos trabalhos da AJN. Encontro de Jovens Cientistas
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Não poderia deixar de registrar que quando saí de lá na semana passada, dia 31/07, combinei com Joaquim que ele deveria me enviar por WhatsApp até 02/08 (sexta-feira) os vídeos que não tínhamos terminado de gravar. Isso era para que eu pudesse ter tempo hábil de editar o vídeo dele para apresentarmos aos professores. Infelizmente, quando chegou no dia 02/08 e eu cobrei os vídeos, ele disse que não iria mais participar. Fiquei triste porque disse a ele que não era momento de desistir, já que desistir naquele momento seria como nadar e morrer na praia, mas ele disse que não iria mesmo assim. Confesso que não me surpreendi, pois na última atividade, que foi o resultado do desafio dos dois vídeos, ele ficou bastante chateado
379
por ter ficado com a menor pontuação no quadro de pontos, já que não tinha cumprido a maior parte das atividades que eram necessárias para alcançar os pontos.
Figura 47: Conversa com Joaquim sobre sua saída.
Considerei que chegar na semana final das atividades da AJN foi uma grande vitória. E chegar com 3 estudantes foi motivo de muito orgulho. Combinamos que nessa semana seria, na terça-feira (06/08), a apresentação dos trabalhos da Agência para os professores da escola e convidados da comunidade, incluindo os pais dos estudantes. Então nós acertamos que escolheríamos um dos trabalhos produzidos por cada um e montaríamos uma apresentação. Ensaiaríamos juntos (cada um a sua apresentação) para ser apresentada.
Esse processo foi recheado de surpresas. Primeiro porque a ideia era fazer isso na semana posterior (13/08), mas Leide já estava com 9 meses de gravidez e seu filho poderia nascer a qualquer momento. Então a nossa solução foi adiantar esse momento em uma semana para que ela pudesse participar, já que tinha sido uma das poucas que tinha chegado até o final. Então, enquanto estávamos nos aprontando, ensaiando na segunda para apresentar a terça, Leide soube que teria que fazer um ultrassom bem no horário da apresentação! Como se tratava de serviço público, ela não poderia desperdiçar aquela oportunidade. Fiquei pensando em como poderíamos resolver aquela situação, e entre um pensamento e outro, junto com ela e a mãe, conseguimos ligar para uma clínica em Cachoeira que tinha vagas para ultrassom no dia seguinte à apresentação. Pedi ajuda à professora Rejâne que aceitou prontamente e dissemos a Leide que pagaríamos a seu ultrassom na quarta-feira (07/08), para que ela pudesse participar da apresentação no dia 06. Ela aceitou e resolvido este problema!
Eu já tinha deixado as apresentações semi montadas e na segunda-feira à noite nós separamos o tempo para ensaiar. Clarissa e Leide ensaiaram e ficaram prontas. Nessa mesma noite eu refiz com elas a entrevista semiestruturada que tinha feito no início das atividades da AJN e que estava planejado para ser feito no fim das atividades. O problema é que Calebe não apareceu. Ele já vinha dizendo que não ia aparecer para ensaiar, porque tinha vergonha de falar em público. Eu disse que ele não apresentaria sozinho, que eu o ajudaria. Mesmo assim
380
ele não se sentiu confiante e não apareceu para ensaiar. Deu várias desculpas e disse que não estava em casa. Depois descobri que ele tinha saído com alguns amigos para ir à igreja e comer pizza. No início fiquei super chateada, mas não falei nada, pois eu sabia que tudo isso era medo de se apresentar. Mesmo assim eu tinha esperança de que no outro dia de manhã, no horário da apresentação, ele estivesse conosco.
Eu fiz convites para distribuir para os pais dos estudantes, para moradores da comunidade que ajudaram em todo o processo e para os antigos estudantes que participaram da AJN. Fiz convites nominais e para os pais de Calebe, Clarissa e Leide e alguns moradores específicos, como os que deram entrevistas, eu entreguei pessoalmente, junto com os meninos da AJN. Para os antigos estudantes e para os moradores da comunidade que contribuíram para o trabalho indiretamente, fiz convites também nominais, mas distribuí pelo WhatsApp. Recebi resposta de alguns, mas de outros não.
Figura 48: Convite nominal que foi feito e entregue aos pais dos estudantes da AJN.
Figura 49: Convite nominal que foi feito e entregue digitalmente aos moradores da comunidade.
E chegou o dia da apresentação. A diretora da escola reuniu alguns professores e de convidados nós só tivemos Seu Antônio, os pais de Leide e a mãe de Clarissa. A adesão da
381
comunidade foi muito baixa. Também dos outros estudantes, foi zero. Mas isso também não me surpreendeu. A diretora combinou que naquele dia teria aula até às 10h e depois a escola seria liberada para que os professores pudessem assistir à apresentação. Calebe foi para a escola, assistiu aula e depois foi embora dizendo que estava com dor de barriga. Eu fiquei desapontada. Mas eu não podia me esquecer que com todas as limitações que ele tinha, ele chegou até ali, e talvez o monstro da apresentação foi grande demais para ele superar naquele exato momento. Mas eu não fiz essa reflexão naquela hora. Naquele momento eu só pensei que não dava pra parar porque tinha duas meninas que tinham chegado até ali, inclusive uma que estava grávida de 9 meses.
Comecei a apresentação explicando o que era a AJN, quais foram as nossas atividades naqueles meses, o que tínhamos conseguido fazer, o que tínhamos aprendido sobre a comunidade e quais as principais dificuldades que encontramos. Assistimos os vídeos produzidos, e eu mostrei (pela primeira vez para as meninas da AJN, inclusive) o nosso jornal, com as matérias jornalísticas e fotos reunidas. Depois de tudo isso, cada uma das meninas fez a sua apresentação. Leide começou com a sua apresentação sobre “Podemos usar a água da chuva para fazer tudo?” e depois Clarissa entrou com a sua apresentação sobre “Por que a água chega às vezes amarelada e às vezes esbranquiçada na minha comunidade?”.
384
Depois das apresentações, começamos com as discussões, que se iniciaram com as palavras da professora Rejâne e depois os pronunciamentos da diretora, de alguns professores, de seu Antônio e das mãe de Leide e Clarissa, que estavam presentes. o debate se alongou bastante e terminamos a manhã com uma foto de todo o grupo presente.
Deixamos as portas abertas na escola para futuros projetos e até uma nova edição da AJN. Convidamos todos os presentes para a nossa última atividade surpresa que seria realizada naquela noite, à partir das 18h. Naquele mesmo dia, às 16h, combinei com Calebe e ele foi à casa da professora Rejâne para fazer a entrevista semiestruturada que eu já tinha feito no dia anterior com Leide e Clarissa. Assim, no final das contas, eu fiquei com três entrevistas finais para analisar na pesquisa. Nessa oportunidade, a professora Rejâne aproveitou para conversar com ele sobre o fato dele não ter ido apresentar por medo, explicando porque ele precisava ter forças para superar aquela insegurança.
➢ A última atividade surpresa
Para aquela noite de terça-feira (06/08), preparei uma última atividade surpresa especial. Primeiro, convidei todos os antigos integrantes da Agência e muitos deles apareceram: Vicente, Damião, Naira e Marina. Os atuais integrantes, Calebe, Clarissa e Leide também estavam presentes. Mais dois que nunca participaram também foram, o que tornou a noite mais divertida. A presença da professora Rejâne também foi um adicional nesta noite, que teve o lanche especial preparado por ela.
Nossa atividade foi a seguinte: Assistimos ao documentário “O Gigante Paraguaçu”, que tinha sido veiculado recentemente da Rede Bahia, e eu disse que ao final faria um Quiz com informações contidas no vídeo. Quando terminamos, dei um papel e um lápis a cada um e fui fazendo as perguntas do Quiz. Ao final, eu e a professora Rejâne fizemos a contagem e quem levou a melhor foi Leide. O prêmio da semana foi um carregador para celular, mas teve outros brindes mais simples para todos (canecos, garrafas, sandálias de dedo etc).
385
Figura 52: Registro da última atividade surpresa.
Terminamos a nossa noite com conversas. Arrumamos a sala e fechamos a nossa última atividade do ano naquele local. O próximo passo era a submissão do resumo no Encontro de Jovens Cientistas, e se encontrássemos apoio, os estudantes viajariam a Salvador para a apresentar o trabalho.
➢ O Encontro de Jovens Cientistas (EJC)
Quando voltei à Salvador, submeti os trabalhos de vídeo e fotografia dos estudantes da AJN no EJC. O evento tem as duas categorias. Eu só inscrevi os trabalhos de Leide, Clarissa e Calebe, pois foram eles que me deram certeza de que apresentariam em Salvador caso o trabalho fosse aprovado e conseguissem ir. A boa notícia foi que os trabalhos realmente foram aprovados.
386
Figura 53: Parecer de aprovação dos trabalhos no 10º Encontro de Jovens Cientistas.
Até um dia antes do dia da apresentação deles, estava tudo certo para que eles fossem. Eles iriam junto com jovens do povoado próximo, Opalma. Isso porque os jovens de Opalma também foram inscritos no evento e a líder comunitária estava tentando um ônibus para levar a todos. Infelizmente, no dia anterior, o acordo com o ônibus não foi possível de ser firmado, e nem os jovens de Opalma nem os alunos da AJN de São Francisco puderam ir ao evento.
Durante o evento, os vídeos inscritos foram passados e as fotos ficaram em exposição, mas em virtude dos apresentadores não estarem presentes, os trabalhos não puderam participar da avaliação para a premiação.