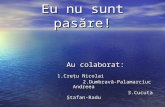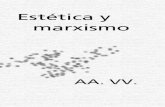estética e política nu Universidade do Estado do Rio de ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of estética e política nu Universidade do Estado do Rio de ...
estética e política num compositor em transformação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Aluísio Barreto da Silva
Villa-Lobos e as Bachianas,
estética e política num compositor em transformação
Rio de Janeiro
2013
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
estética e política num compositor em transformação
estética e política num compositor em transformação
Orientador: Prof. Dr. Orlando de Barros
Aluísio Barreto da Silva
Villa-Lobos e as Bachianas,
estética e política num compositor em transformação
Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-GraduaçãoUniversidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: História
Orientador: Prof. Dr. Orlando de Barros
Rio de Janeiro
2013
estética e política num compositor em transformação
Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao
Graduaçãoem História,da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
História Política..
CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ/REDE SIRIUS/CCS/A
Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação desde que citada a fonte.
___________________________ ____________________ Assinatura Data
Aluísio Barreto da Silva
Villa-Lobos e as Bachianas:
estética e política num compositor em transformação
Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-GraduaçãoemHistória, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Áreade Concentração: História Política.
Aprovada em 27 de março de 2013.
Banca Examinadora:
__________________________________________
Prof. Dr. Orlando de Barros (Orientador)
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -UERJ
__________________________________________
Prof.ª Dra. Lucia Maria Paschoal Guimarães
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - UERJ
__________________________________________
Prof. Dr. Paulo Peloso
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Rio de Janeiro
2013
AGRADECIMENTOS
Agradeço à Fundação Carlos Chagas - FAPERJ - pela concessão de bolsa de estudos,
sem a qual esta dissertação não teria chegado ao bom termo alcançado.
Agradeço à minha família pelo suporte que me foi dado nesta trajetória. Agradeço ao
meu orientador pela paciência e sabedoria com a qual conduziu esta dissertação pelo melhor
caminho, pela cessão de material de seu arquivo particular, pelas longas e agradáveis
conversas de orientação, que ficarão na minha memória.
Agradeço aos funcionários do Programa de Pós-Graduação da UERJ por estarem
sempre solícitos a resolver questões que surgiram ao longo destes dois anos. Fico igualmente
grato aos demais funcionários dos órgãos de pesquisa, como a Biblioteca Nacional, Divisão
de Música, a Biblioteca Alberto Nepomuceno, da UFRJ, e aos funcionários do Museu Villa-
Lobos por terem me recebido sempre de maneira cordial e solícitos a todas as minhas
demandas.
Agradeço aos professores do Programa de Pós-graduação em História da UERJ pelas
disciplinas que cursei, tendo todas concorrido significativamente para o bom resultado
alcançado.
RESUMO SILVA, Aluísio Barreto da.Villa-Lobos e as Bachianas: estética e política num compositor em transformação. 2013. 151 f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 2013.
Esta dissertação tem por objeto Heitor Villa-Lobos, tido como o mais importante compositor erudito brasileiro. Sendo uma dissertação de História, as questões aqui priorizadas não são aquelas usualmente postas em prática pela alentada produção musicográfica de Villa-Lobos.A prioridade aqui foi tratar de questões como a influência do contexto social e político para a formação do compositor, a oposição que sofreu da crítica no início de sua carreira, a importância do movimento modernista no direcionamento de sua criação musical, a projeção de sua imagem em nível Nacional. Da mesma forma, esta dissertação também estuda o comprometimento político e ideológico de Villa-Lobos com o regime revolucionário vitorioso em 1930, especialmente durante o regime ditatorial do Estado Novo. No período de 1930 a 45, os anos do Governo de Getúlio Vargas, Villa-Lobos teve uma atuação marcante, em sua atividade musical para reforçar o nacionalismo, elemento essencial da ideologia então vigente.
Palavras-chave: Villa-Lobos, Modernismo musical, Getúlio Vargas, Intelectuais, Nacionalismo.
ABSTRACT SILVA, Aluísio Barreto da.Villa-Lobos and theBachianas: aesthetic and politicsin a composerunder transition. 2013. 151 f. Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 2013.
This dissertation's purpose Heitor Villa-Lobos, considered the most important Brazilian classical composer. Being a History dissertation, prioritized the issues here are not those usually implemented by courageous musicological production of Villa-Lobos. The priority here was to address issues such as the influence of social and political context for the formation of the composer, who suffered opposition criticism early in his career, the importance of the modernist movement in the direction of his musical creation, the projection his image nationally. Likewise, this dissertation also studies the political and ideological commitment of Villa-Lobos with the victorious revolutionary regime in 1930, especially during the Estado Novo dictatorship. In the period 1930-45, the years of the government of Getúlio Vargas, Villa-Lobos had an outstanding performance in his musical activities to reinforce nationalism, an essential element of the then prevailing ideology. Keywords:Villa-Lobos. Musical Modernism.Getulio Vargas. Intellectuals.Nationalism.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO.....................................................................................................9
1 O COMPOSITOR E A CIDADE. CULTURA, POLÍTICA E SUAS
INFLUÊNCIAS...................................................................................................
26
1.1 A vida política na cidade do Rio de Janeiro....................................................... 27
1.2 A música clássica na cidade do Rio de Janeiro.................................................. 31
1.3 O samba e o choro no Rio de Janeiro................................................................. 33
1.4 A vida de Villa-Lobos entre 1987-1919............................................................... 37
1.5 Villa-Lobos, vida e composições na década de 20...................................................45
1.6 Terceiro tempo, Villa-Lobos de 1930 a 1945........................................................52
2 A MÚSICA EM TRANSIÇÃO: OS ANOS 20 E SUAS MUDANÇAS.................56
2.1 A situação da música erudita nos anos 20.............................................................57
2.2 A música erudita na semana de 22: Villa-Lobos, a música e os intérpretes... 61
2.3 A música e a Semana de Arte...............................................................................70
2.4 A participação de Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna de 22......................76
3 O COMPOSITOR E O POLÍTICO, TROCAS E APROPRIAÇÕES...............82
3.1 Villa-Lobos, uma polifonia política polissêmica.............................................. 83
3.2 Villa-Lobos, um compositor que se transforma.............................................. 86
3.3 O Nacionalismo de Villa-Lobos......................................................................... 91
3.4 Villa-Lobos e o nacionalismo dos anos 30............................................................97
3.5 Villa-Lobos intelectual do Estado, agravos e desagravos.....................................107
3.6 O Fim da contribuição de Villa-Lobos ao Governo de Vargas...................... 115
CONCLUSÃO.................................................................................................... 118
REFERÊNCIAS....................................................................................................122
ANEXO............................................................................................................... 127
INTRODUÇÃO
O Brasil já tem uma forma geográfica de um coração,
todo brasileiro tem esse coração, a música vai de uma
alma à outra, os pássaros conversam pela música, eles
têm coração, tudo que se sente na vida se sente no
coração.
Villa-Lobos
10
Villa-Lobos Necessário?
A dissertação “Villa-Lobos e as bachianas, estética e política num compositor em
transformação” tem como objetivo buscar a análise e a compreensão dos motivos pelos quais
o compositor modificou sua forma de compor durante a década de 30, fazendo aproximar a
sua produção musical, inclusive pela adoção de gêneros novos, aos interesses do regime
político vigente, o governo Vargas. Daí em diante, Villa-Lobos atrelou sua música e seu
comportamento à ideologia nacionalista vigente, transformando-se num compositor quase
oficial do Estado.
Pretendo demonstrar aqui que a conhecida série nomeada por Villa-Lobos de
Bachianas trata-se de uma revelação do posicionamento político do compositor alinhado a um
pensamento político do qual era contemporâneo. Com efeito, podemos perceber tal mudança
na obra do compositor através de uma comparação entre as suas composições anteriores a
1930, relacionando-as às mudanças ocorridas em sua concepção de composição no período
político no qual o compositor viveu.
Com a pesquisa em causa procuro também entender de que forma as composições de
Villa-Lobos puderam contribuir para o projeto de identidade nacional durante a década de
trinta, projeto esse que estava em curso desde o fim da Primeira República e prosseguiu
durante o regime de Vargas. É preciso tentar compreender a participação política do
compositor durante o período que vai de 1930 a 1945, período de destacada e frequente
atuação do compositor na vida política nacional. Pretendo por meio desta pesquisa contribuir
para o entendimento do papel do compositor na política nacionalista do Estado Brasileiro nos
anos 30, procurando demonstrar como se deu essa evolução em sua carreira, por meio de
problematização, de comparação e análise da participação de Villa-Lobos em importantes
movimentos na vida cultural e política do Brasil, como na Semana de Arte Moderna, em
1922.
Estudar Villa-Lobos é buscar compreender a evolução de uma figura única para a
intelectualidade brasileira. Villa-Lobos foi além de um simples compositor, se tornou um
homem de Estado, um dos maiores representantes da vida musical brasileira durante o
Regime Vargas, e um destacado intelectual que nunca falseou apoio ao Regime.
Desejo, por fim, nessa dissertação, trazer um entendimento sobre a participação
intelectual do compositor no Regime Vargas através da compreensão de suas opções políticas
relacionadas ao gênero composicional que preferiu criar durante o período em questão,
11
através do entendimento de como era visto por seus aliados e seus desafetos no quadro da
vida intelectual brasileira.
Identidade, um projeto de Estado
A construção desta dissertação se dá através do tema “Nação”, pois, conforme
Anderson Benedict, sabe-se que uma Nação é uma comunidade simbólica e é isso que nos
leva a entender sua capacidade de criar um sentimento de identidade e lealdade, pois, como
afirma o mesmo autor, a nação é uma comunidade imaginada, e por ser assim imaginada, até
os membros da menor nação nunca encontrarão ou ouvirão falar da maioria dos outros
concidadãos dessa mesma nação, porém ainda assim na mente de cada um existe a imagem de
sua comunhão.1
Identidade Nacional não é algo com o qual nós nascemos, mas sim é formada e
transformada no interior de uma representação. Uma Nação não é apenas uma entidade
política, mas algo que produz sentido, ou seja, seria um sistema de representação cultural,
neste contexto, as pessoas deixam de ser apenas cidadãs legais dessa Nação e passam a
participar da ideia de Nação, tal como ela é representada em sua cultura nacional.
Um dos aspectos que mais chamam atenção na idéia de Nação é o Nacionalismo que
se revela como um fenômeno muito complexo. Consiste em um sistema de avaliação que
sustenta o ponto de vista de que o Estado-Nação se torna o agrupamento mais importante na
ordem política e social e deste modo deve ser o foco principal da lealdade dos cidadãos e a
quem se permite ter o poder de tomar as decisões finais no que tange à vida dos cidadãos.2
O Governo Vargas utiliza-se do conceito de Nacionalismo para justificar a construção
de uma nova ordem, mantendo tudo que interessa a grupos ou indivíduos em posição
secundária, ou seja, relegando elites regionais, antes beneficiadas pelo Estado, em segundo
plano e centralizando as politicas de Estado para a formação de um senso de lealdade ao
Estado.
1 ANDERSON, Benedict. Comunidade Imaginadas: Reflexões sobre a origem e a expansão do Nacionalismo. Lisboa: Edição 70, 1991, p. 25. 2 LAUERHASS, Ludwig Jr., Getúlio Vargas e o triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da Geração Nacionalista de 1930. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986, p. 18.
12
O objetivo dessa politica é formar entre os cidadãos do Estado um senso de
identificação social – que mesmo sendo da ordem da construção - é baseada em dados
objetivos e não é algo ilusório. Ela não precisa da subjetividade das pessoas e de suas
escolhas, pois ela produz efeitos reais e é eficaz.3 Esta identidade estará a cargo do Estado,
que se encarrega de esculpir uma nova identidade na mentalidade dos cidadãos, através da
valorização de manifestações culturais regionais, que são importantes fatores de coesão.
Trata-se de acertar onde as correntes republicanas do passado falharam, conforme José Murilo
de Carvalho quando afirma que estas correntes não foram capazes de criar um imaginário
popular republicano ao tentarem expandir a legitimidade do seu regime.4
Trata-se do que Hobsbawm nomeia como um Estado que domina seu “povo”
territorialmente definido como uma Agência “Nacional” suprema de domínio sobre seu
território. E os agentes do Estado Novo, seguindo essa política, alcançaram cada vez mais os
habitantes mais pobres e isolados dos vilarejos mais distantes do território nacional.5
Por mais que Hobsbawm se refira a acontecimentos ocorridos em outros lugares e em
outros tempos, as mudanças sistemáticas ocorridas no Brasil de 1930 a 1945 possuem
semelhanças com que o historiador inglês se referiu. Lembremos que o Nacionalismo no
Brasil se tratou de uma experiência que só vai entrar em jogo, muito fracamente, durante o
início da República,6 sendo então um movimento tardio por ter dado espaço a outras formas
de coesão social. Por exemplo, a princípio, no século XIX, ocorreu quando do surgimento do
Estado nacional, com a manutenção da família real e de todo um sistema de corte.
A criação do pensamento Nacionalista no século XX tem a importância de contribuir
para a criação de padrões de ensino nacionais, procurar criar uma cultura homogênea e
contribuir para a formação de um sistema de educação nacional, tornando-se desta forma uma
característica chave de progressiva industrialização e um importante dispositivo para o
desenvolvimento da almejada Modernidade.
O “Nacional” ficou muito marcado no Regime Vargas como um verdadeiro culto.
Podemos tomar como exemplo a expressão, “culto da língua nacional”, muito utilizada por
3 CARDOSO, Ciro Flamarion. Um Historiador fala de teoria e metodologia : Ensaios. Bauru, SP :Edusc, 2005. 4 CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 141. 5 HOBSBAWM, Eric J.,Nações e Nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1990. 6 LAUERHASS, Ludwig Jr, Getúlio Vargas e o triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da Geração Nacionalista de 1930. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986, p. 20.
13
Lourival Fontes e seus auxiliares que, à frente do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), assegurava o trânsito de ideias ultraconservadoras enquanto dirigiu o DIP, a serviço do
governo ditatorial de Vargas.7
Vargas contribuiu de diferentes formas para a transformação da sociedade, com o
objetivo de alcançar a atualização acelerada da Nação, sempre com o objetivo de levar o país
à modernização dirigida pelo Estado, procurando reconstruir e atualizar a ordem burguesa
frente à nova realidade do mercado externo, procurando ao mesmo tempo obter um
realinhamento das classes e camadas sociais no plano interno Nacional.8
Transformar o país em uma Nação industrializada e com uma economia estável desde
sempre foi objetivada pelo Governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo. A
propósito, Immanuel Wallestein observou certa vez que os nacionalismos do mundo moderno
são uma expressão ambígua de um desejo por assimilação no universal e, simultaneamente,
por adesão ao particular, à reinvenção das diferenças, ou seja, trata-se da tentativa de alcançar
um universalismo através do particularismo e de um particularismo através do universalismo.
E justamente durante o Estado Novo, o Brasil entra nesta dinâmica global em que diversas
Nações na Europa estão buscando reafirmar sua soberania enquanto constituídas de “Povo
superior” ou “Raça Pura”.
A “Identidade Nacional” consiste em fatores que criam um senso ou uma noção de
pertencimento a um Estado, ou seja, existem as identidades regionais, muito mais presentes
no cotidiano do cidadão brasileiro. Este debate havia começado logo após a consolidação da
unidade política do País, na literatura, com o romance “O guarani”, de José de Alencar,
publicado em 1857, que buscava conforme o estilo romântico definir uma identidade nacional
por meio da união de duas "raças" – português e o índio – num ambiente de exuberância
tropical longe das influências da civilização europeia, o que indicaria as bases de uma
comunidade Nacional com identidade própria.9 Porém com a transição para a república e com
a incapacidade desta república em criar um imaginário popular apropriado ao novo regime
político, o debate se reaviva como política de Governo Varguista.
Seguindo o projeto Nacionalista, era preciso criar fatores que criassem uma noção de
pertencimento, transcendendo estes limites regionais. Podia-se utilizar o rádio como exemplo 7 BARROS, Orlando de. Língua e identidade Nacional no Estado Novo, In. TORÍBIO, M.T, DANTAS, A.T, BAHIA, L.E (ORG) América Latina em Construção : Sociedade e Cultura – séc. XXI. Editora 7 letras, 2006, p. 111. 8 BARROS, Orlando de. CustódioMesquita: um compositor romântico no tempo de Vargas (1930-45). Rio de Janeiro : Funarte : EdUERJ, 2001. 9 CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.23.
14
de ferramenta para a construção desta ideia, e isso foi tentado, com algum efeito. Ao trabalhar
por uma mais intensa noção da cidadania à população, criando uma nova “Identidade”, o
Estado Novo facilitaria sua política transformadora, industrial e desenvolvimentista, por meio
da mobilização política e cultural da sociedade, e buscaria trazer para “dentro” do Estado um
grupo que até então não fazia parte efetivamente da Nação, o cidadão vindo do campo para as
cidades, sem desprezar também as massas urbanas.
O cidadão comum passa a possuir mais direitos como cidadão, tanto política quanto
culturalmente, mesmo que seja uma cidadania limitada e sem reconhecimento de alguns
direitos mínimos como o próprio direito ao voto, retirado durante o Estado Novo.
A tentativa de formar este novo cidadão ficou clara quando através da música se
tentou preparar a mentalidade infantil, com a intenção de reformar aos poucos a mentalidade
coletiva das futuras gerações através do Ensino Oficial, por intermédio das Escolas e
Conservatórios. O mesmo foi tentado com o teatro escolar, proposto por Villa-Lobos a
Capanema, então Ministro da Educação e Saúde em 1937, o que serviria para as crianças
como uma oficina de Civilidade, tanto quanto os orfeões.10
A atividade dos Teatros Oficiais das duas incomparáveis metrópoles – Rio de Janeiro e São Paulo – Brasileiras passou a ser regulada e incentivada pelas autoridades municipais a exemplo do que fazem dos grandes países latinos americanos e a Alemanha, onde as manifestações de arte musical e dramática nos primeiros teatros, consideradas a mais bela flor da civilização, não se subordinam a oscilação de interesses mercantis, mas são diretamente exploradas pelo poder publico, como fator de educação popular e constante demonstração de força espiritual, unificadora e construtiva.11
Villa-Lobos tinha como objetivo construir uma “consciência musical brasileira”, e
essa consciência traria valores importantes para a construção de uma cultura comum, o que
levaria a sociedade a grandes avanços, além do musical, como Villa-Lobos deixa tão bem
claro no trecho abaixo:
... o canto coletivo, com o seu poder de socialização, predispõe o indivíduo a perder no momento necessário a noção egoísta da individualidade excessiva, integrando-o na comunidade, valorizando no seu espírito a idéia da necessidade da renuncia e da disciplina ante aos imperativos da coletividade social, favorecendo, em suma essa noção de solidariedade humana, que requer da criatura uma participação anônima na construção das grande nacionalidades.12
10 Idem, p. 360. 11 “Concertos Villa-Lobos”, in Revista Brasileira de Música, publicada pelo instituto Nacional de música da Universidade do Rio de Janeiro, dezembro de 1935, p. 304. 12 VILLA-LOBOS, Heitor. A música Nacionalista no Governo Vargas. DIP. 1940, p. 21.
15
Villa-Lobos teve um importante papel nessa política de formação de uma produção
musical “Nacional” e procurou promover a divulgação Internacional desta música então
chamada "nacionalista". Podemos utilizar como exemplo o momento quando por volta de
1917, foi Villa-Lobos apresentado a um jovem músico francês chamado DariusMilhaud, então
secretário de Paul Claudel, que, após um estranhamento a principio se tornaram amigos e
Villa-Lobos lhe mostrou algumas peças preciosas da música brasileira e carioca, em especial,
levando o amigo a sessões de macumba, e o introduziu no meio dos chorões e o fez apreciar a
música carnavalesca. Surgiu daí desse encontro a música para dança “O boi no telhado” e a
conhecida suíte “Saudades do Brasil”, compostos no retorno à França por Milhaud, este que
se tornaria um famoso compositor francês.13 Outro exemplo foi o do momento em que ele
conduziu o maestro LeopoldStokowski14 à favela da Mangueira, um dos locais mais pobres da
cidade. Ali reuniu gente do samba e de outros gêneros populares, a mais representativa, que
eram músicos na maioria negros e mulatos, que foram selecionados para gravar “nossa
produção” popular, durante a aproximação do Governo Roosevelt com o de Getúlio.15
Aplicando as ideias
As Bachianas Brasileiras, série de nove obras de Villa-Lobos (1930-1945) foram as
composições escolhidas, para que o compositor fizesse uma síntese entre matrizes musicais
brasileiras e a estética de J. S. Bach.
É preciso que se saiba que Villa-Lobos dedicava à música do compositor de Leipzgum
culto exaltado e fervente admiração. Villa-Lobos considerava Bach como uma fonte folclórica
universal, rica e profunda, uma música que vem do “infinito astral” subdividindo-se nas várias
partes do planeta, com tendência a universalizar-se.16
13 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981, p. 111. 12Regente da Orquestra da Filadélfia, ficou famoso por conduzir sem batuta e por ser o fundador da Orquestra dos jovens americanos. 15 BARROS, Orlando de. CustódioMesquita..., op. cit., passim. 16 “Villa-Lobos, sua obra”. 2ª edição, programa ação cultural, 1972. Rio de Janeiro:EditoraMec/DAC/ Museu Villa-Lobos, p. 187.
16
A produção de Bach abrangeu quase todos os gêneros musicais de sua época, quando
esteve entre os pioneiros em praticamente todos os setores de trabalho criativo musical ao
qual se dedicou, tanto em formato quanto na qualidade estética e nas exigências técnicas, e
por isso Bach é considerado como uma espécie de músico universal, criador de cânones e
estruturas que se tornaram padrão a ser seguido.17
Apesar de Bach ser muito anterior ao Nacionalismo, e de ter vivido em época de
índole tão historicamente distinta, suas criações possuem indiretamente ligação, no que tange
à aplicação estética, ao Nacionalismo musical, termo aplicado ao movimento de meados do
século XIX que defendia a incorporação de elementos nacionais e característicos à música.
A expressão nacional na música é antiga, havendo teóricos do século XVII e XVIII
que tinham consciência desta inflexão do nacional em suas músicas. Porém o movimento
ocorrido no século XIX se trataria de uma tentativa mais consciente de reafirmar a tradição
nacional através da música, pois é daí em diante que se estabelecem os Estados nacionais
como os conhecemos.
O nacionalismo musical encontrado nas composições de Villa-Lobos tendeu a se
desenvolver em países que acabaram de emergir da condição de dominação ou dependência
política ou cultural, e faz parte da forma de exibir um orgulho da descoberta de uma nova
identidade nacional.18
A utilização de Bach por Villa-Lobos para compor as Bachianas, se deu através de
elementos musicais como o tema principal da Bachiana nº 1 em forma de ária, à maneira de
Bach, com melodia larga e lamentosa, com a utilização de uma orquestra em forma de coral,
num ambiente sereno e formal, que se pode ouvir na ”fantasia” da Bachiana nº 3, na utilização
de uma marcha harmônica em estilo coral – inovação em sua obra – bem ao estilo de Bach, ou
aplicada à ária das Bachinas nº 4, na forma de uma marcha cadenciada e serena, bem ao estilo
do compositor alemão.
Bach contribuiu para esta aparente transformação de Villa-Lobos que, chegando-se ao
regime nacionalista de Vargas, tenta fazer a união entre elementos locais e universais de
maneira conservadora, diferente das composições "modernas" que havia composto durante
toda a década de 20. Parece ser o reflexo da transformação política e ideológica do
17 Bach morreu em 1750 e sua música foi deixada de lado, ao contrário da de Haendel, por exemplo, que não foi. Com o crescente movimento historicista do primeiro período romântico especialmente na Inglaterra e na Alemanha ela foi revivida em parte por seus discípulos mas também por músicos historicamente atentos. J. N. Forkel escreveu uma biografia do compositor em 1802. “Bachrevival” – Dicionário Grove de música – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, p. 62. 18Dictionary of Twentieth-Century Music.Edited by John Vinton, Thames and Hudson – London, 1956.
17
compositor. Transformação essa que ocorreu como resultado de seu engajamento na política
nacionalista de Estado, que vai se estender durante todo o período Vargas, em apoio
incondicional ao regime político instituído. Esta mudança de concepção estética do
compositor pode ser tomada como um reflexo de seus ideais políticos que estavam então
alinhavados aos do Estado.
É pretensão desta dissertação, buscar compreender principalmente quais foram os
motivos pelo qual o compositor - através de suas manifestações públicas, composições da
época e suas publicações – se enquadrou ideologicamente e apoiou pela palavra e ação o
Estado. Busca questionar se esta transição para o regime Varguista correspondia à sua noção
de democracia autoritária e nacionalista, ou se buscou oportunamente repousar no seio do
Estado. Procuro conciliar a descrição da trajetória do compositor com o significado que ele
adquiriu dentro do processo histórico ao qual ele estava inserido.
A construção da Identidade Nacional
O entendimento da construção da identidade brasileira é um tema extremamente
relevante para a compreensão desta dissertação. Assim como grandes historiadores já se
propuseram a pesquisar o povo brasileiro e sua formação social, historiadores como Sergio
Buarque de Holanda e seu “homem cordial”, ou Gilberto Freire e seu “Casa grande e
Senzala”, tentaram escrever como se comportava e se desenvolveu este homem brasileiro.
Portanto, também se faz importante esta pesquisa no período do Estado Novo e suas políticas
tão relevantes ao tema da identidade nacional.
O Estado Novo apesar de proclamar autenticidade e ideais próprios fez exatamente o
oposto ao adotar amplamente um modelo corporativista europeu. Em seus esforços para
reordenar a sociedade brasileira e em seu discurso sobre a raça, o regime de Vargas, também,
difundiu doutrinas Europeias como os valores coletivos acima do individual e a supressão dos
direitos individuais, porém redefinindo os grupos considerados indesejáveis.
Vargas estava marcado em uma cultura política bem definida e visível, pois a cultura
política constituía um conjunto coerente em que todos os elementos estão em estreita relação
18
uns com os outros, permitindo definir uma forma de identidade do indivíduo que dela se
reclama. 19
Como afirma Duby em seu importante artigo sobre história cultural:
A história cultural deve dar particular atenção a certas obras mestras que cristalizam as tendências inovadoras, que trazem a condenação das formas tidas de futuras por caducas, e que permanecem a seguir por um tempo mais ou menos longo, exemplares, é onde a ‘obra prima’ toma valor explicativo. 20
É baseado nessa ideia que tomo as Bachianas Brasileiras como uma obra passível de
portar características que nos faça entender essa política Nacionalista de Vargas.
A imagem de Villa-Lobos, figura considerada por muitos como o homem que
“Consolidou a música nacionalista no Brasil, despertou o entusiasmo de sua geração para o
opulento folclore pátrio e traçou com linhas vigorosas a brasilidade sonora”. 21 Este homem
viveu um início de século XX quando artisticamente o Brasil, no tocante à música clássica,
vivia sufocado por diversos preconceitos, onde só era bom o que vinha da Europa, como
afirma Vasco Mariz. Em 1914 o espirito de fin de siècleafogava a juventude, que começava a
se inquietar e a ansiar por um mundo mais arejado. 22
Nesse contexto, Villa-Lobos se tornou um compositor anticlássico e em sua obra
percebemos toda sua capacidade criativa:
Com Villa-Lobos deparamos em grande parte de sua música, uma despreocupação absoluta pelo parti-pris formal. Toda obra de arte possui sua forma própria mas derivando, em Villa-Lobos dos caminhos imprevistos da imaginação, segue-se que, para ele essa forma representa então uma incógnita, ao iniciar o processo criador. 23
O panorama musical ainda era muito conservador, e as transformações que ocorriam
na Europa ainda não haviam encontrado eco de forma mais geral no Brasil, a obra de Villa-
Lobos já era vanguardista desde seus princípios e isso explica, até certo ponto, as vaias
sofridas na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Enfim, a música de Villa-Lobos
levou algum tempo até ser compreendida de forma mais natural e menos chocante.
19 BERSTEIN, Serge. A cultura política, In. RIOUX, J.P e SIRINELLI, J.F (ORG)Para uma história cultural. Ed. Estampa, 1998. p. 35. 20 DUBY, Georges. Historia Cultural. In. RIOUX, J.P e SIRINELLI, J.F (ORG) Para uma história cultural. Ed. Estampa, 1998. p. 63. 21 MARIZ, Vasco. Villa-Lobos o homem e a obra. Ed. Francisco Alves. 12ª edição,2005. p. 41. 22 Idem, p. 43. 23 FRANÇA, Eurico Nogueira. Villa-Lobos, Síntese crítica e Biográfica, Editora Museu Villa-Lobos-MEC, 1970. p. 57.
19
Sua mudança para um estilo de composição neoclássico utilizado nas Bachianas
Brasileiras é totalmente diferente do que havia sido feito pelo compositor até ali e pode ser
tomado como uma manifestação da cooptação ideológica do compositor pelo regime político
instituído na ocasião.
Através da composição das Bachianas e do comportamento político do compositor
exposto em sua obra “A música Nacionalista no Governo Getúlio Vargas”, poderemos
perceber o quão alinhado Villa-Lobos estava ao Regime.
Outro ponto interessante a ser observado é a afirmação de Fabio Zanon, no livro
“Villa-Lobos”, de que as Bachianas são resultado de um “senso de oportunidade” do
compositor, ao perceber no conturbado momento político do Brasil dos anos 30, um momento
propício para a coordenação efetiva entre sua obra sinfônica e seu trabalho educacional.
Na composição das Bachianas, há uma oposição ideológica, em que o compositor
teria, segundo Zanon, se acovardado de prosseguir na radicalização da linguagem, em parte
pelo oportunismo de compor para ilustrar um nacionalismo tipo exportação, que coincidisse
com o Estado Novo ufanista. 24
Penso que de acordo com a biografia do compositor, podemos perceber um
compositor de formação irregular, não-formal, homem de poucas oportunidades e de renda
limitada. Villa-Lobos escrevia voluntariamente e a maior parte de sua renda vinha dos direitos
autorais que obtinha por suas composições e das aulas que lecionava. O compositor não vivia
com folga, mas sabe de seu valor e quer se projetar. Vargas e o Ministro Capanema, se
tornariam então sua grande oportunidade de lançar-se.
Villa-Lobos viveu a crise da qual todos os intelectuais passaram no período, mal
situado num país, que oferecia pouco aos intelectuais e artistas, que não os valorizava, onde
ele sabia que seu valor não era reconhecido.
Para estudar Villa-Lobos: historiografia e metodologia
Para buscar atingir o objetivo desta dissertação foi importante a leitura de alguns
respeitáveis intelectuais que através de seus livros deram alguma contribuição para esta obra.
24Zanon, Fábio, Villa-Lobos. Coleção Folha Explica, p. 64.
20
Fundamental para a compreensão do contexto político ao qual Villa-Lobos se alinhou
ao Estado foi a leitura do livro “Getúlio Vargas e o triunfo do Nacionalismo Brasileiro, o
advento da geração nacionalista de 1930” de Ludwig Lauerhass, Jr.
Neste livro pude compreender de forma clara como se deu este fenômeno do
Nacionalismo, conforme foi aplicado no Brasil durante o Período Vargas. O autor faz um
profundo estudo sobre o nacionalismo brasileiro, abordando questões como a busca da
identidade, o patriotismo e trazendo uma contribuição grande para a compreensão do
surgimento do nacionalismo através de suas primeiras gerações até o seu predomínio, que o
autor chama de o triunfo deste movimento, que aconteceu durante o Estado Novo. Alguns
aspectos que Villa-Lobos condenava, como o egoísmo e a necessidade de “plasmar” a
sociedade, são fatores abordados por Lauerhass como importantes aspectos deste
nacionalismo Brasileiro.
Outra obra importante para esta dissertação foi o livro de Sergio Micelli “Intelectuais à
Brasileira”. Nesta obra Micelli aborda através de suas análises desde a relação dos intelectuais
na República Velha com o poder até a sua ligação com as classes dirigentes do Brasil de 1920
a 1945.
Trata-se de uma abordagem sobre os intelectuais brasileiros que leva em conta os
laços de família e os favores entre intelectuais e líderes políticos, além de fazer uma vasta
análise da relação entre estes intelectuais e o Estado entre 1930 e 1945.
O de trabalho de Micelli abrange a classe de escritores e sua ligação com o Estado,
porém para esta dissertação ele teve uma grande importância ao fazer uma profunda análise
nas diferentes categorias de intelectuais e de suas relações com o Governo estabelecido.
Sua descrição sobre a vida dos escritores modernistas também serviu para esclarecer
questões como a diferenciação entre anatolianos e modernistas. Micelli considera serem
anatolianos e modernistas não tão diferentes quanto a origem social já que ambos são de
origem abastada e buscavam sempre se sustentar através de heranças ou altos cargos políticos.
Outro fator importante para a dissertação foi a questão da cisão e das querelas dentro do
movimento modernista, sobretudo por razões políticas como o “racha” que acontecera logo
que foi lançado o “Manifesto pau-brasil”, de Oswald de Andrade, em 1924. 25
Outro livro que contribuiu de maneira importante para a compreensão dos intelectuais
durante o Estado Novo e as relações políticas que incidiam no período foi a “História da
25 MICELLI, Sergio, Intelectuais à brasileira. Cia. Das Letras, São Paulo. 2001. p. 103. O "anatoliano" a que nos referimos, tratam-se daqueles escritores brasileiros tidos influenciados pelo escritor francês Anatole France, admirado no Brasil, e aqui esteve em visita no começo do século XX.
21
inteligência Brasileira”, de Wilson Martins, a leitura do volume VII que aborda os anos de
1933 a 1960.
Através desta leitura pude compreender questões como o fato de um regime autoritário
demandar para si a “verdadeira democracia”, ou seja, um órgão autoritário que seria criador
de um regime político conveniente a si mesmo e o fato de que o golpe de Estado de 10 de
novembro teria sido a primeira revolução construtiva no Brasil, que realmente decorria das
peculiaridades da nação e não de modelos inadaptáveis, conforme o regime de Vargas sentia e
propalava.
Interessante citar uma frase de Ortega &Gasset, que Martins atribui a uma fala de
Getúlio Vargas, ao refletir sobre os ventos da oposição, e que traz nitidez ao complicado
panorama político no qual o Brasil estava inserido: “Hoje, as direitas prometem revoluções e
as esquerdas propõem tiranias”.26 Compreendemos nesta frase a necessidade que o Estado
Novo teve de se adaptar ao conflito de autoridade e de liberdade, esta situação e lidar com as
diferentes forças politicas que se manifestavam, com a qual a capacidade de Vargas teve de
ser aplicada.
Para entender a questão política e as relações culturais que ocorreram durante o
período abordado nesta dissertação e que é de grande importância para a compreensão do
tema foi de grande ajuda alguns livros escritos pelo historiador Orlando de Barros.
O primeiro livro chamado “Custódio de Mesquita, um compositor romântico no tempo
de Vargas (1930-45)” auxiliou na compreensão da relação entre o Estado e a vida cultural
brasileira e a apropriação que este fez de determinados aspectos desta cultura, em especial na
sua expressão popular.
Através de uma leitura da obra de Custódio de Mesquita, o livro faz um extenso estudo
sobre a vida cultural brasileira, sobre as relações do Estado e o Rádio, o Cinema e a canção
popular. O livro aborda aspectos importantes para esta dissertação como a música
comprometida com o Estado através dos compositores exaltadores e porque o DIP os preferia,
assim como o samba moralizador e a preocupação do Estado com canções perigosas e
canções úteis, e o fato da censura estimular determinados gêneros.
O capítulo “Getúlio Vargas no Tempo de Custódio de Mesquita” é o mais completo
estudo sobre a relação entre o Estado e as Massas, e a necessidade deste Estado em se
aproximar desta Massa através da música e do aproveitamento que a Revolução de 30 fez da
26 MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira. São Paulo. EDUSP. 1977. p. 124.
22
consolidação do Rádio, encontrando nele um veículo de expressão moderna “tão
simetricamente moderna quanto às realizações que o governo pretendia instaurar”. 27
Um fato importante é a abordagem do que foi a importância que Villa-Lobos dava
para a questão nacional temendo a impureza e a conspurcação da “alma brasileira” e a
necessidade que Villa-Lobos possuía em se tornar uma espécie de regulador do que seria
então expressão precisamente Nacional e o que não era. 28
Orlando de Barros aborda toda esta importante questão do Estado e de sua apropriação
de manifestações culturais de forma bastante detalhada. Veremos um ponto de vista
semelhante que se desdobra durante a dissertação principalmente no tocante a participação de
Villa-Lobos no Estado, agindo como uma ferramenta de legitimação.
No livro “O pai do futurismo no País do Futurismo, As viagens de Marinetti ao Brasil
em 1926 e 1936” Orlando de Barros faz uma importante análise através da imprensa para
compreender como se deu a presença de Marinetti em dois momentos, um na década de 20, e
outro, na de 30.
Para minha dissertação esta obra serviu de grande ajuda para compreender como parte
dos participantes do movimento modernista evoluiu para um movimento nacionalista de
formato mais radical e que conjugava para si um papel de criador da cultura nacional,
adotando uma postura de antipatia aos movimentos europeus, o que ficou claro com a rejeição
dos modernistas paulistas ao “pai” do futurismo quando este fez sua primeira viagem ao
Brasil.
Neste acontecimento podemos enxergar uma primeira manifestação de nacionalismo
entre os modernistas, o que evoluiria para um ultranacionalismo radical que ganharia forma
durante a década de trinta.
A evolução de Menotti Del Pichia, de refutador a recebedor entusiasta de Marinetti –
viera a primeira vez em 1926 e a segunda em 1936 – caracteriza o que foi a evolução do
pensamento de parte dos modernistas em relação à ideologia política que seria adotada para a
Nação. No primeiro momento rejeitando-o e afirmando a nacionalidade soberana e no
segundo momento já dentro de um Estado encaminhado para o golpe do Estado Novo, quando
uma política pró-fascismo já era abertamente aspirada por certos setores do governo.
27 BARROS, Orlando de. Custódio Mesquita: um romântico no tempo de Vargas (1930-45). Rio de Janeiro. Funart. EdUERJ, 2001. p. 341. 28 Ibidem. p. 360.
23
No livro “Villa-Lobos e o modernismo na música brasileira”, de Bruno Kiefer, pude
compreender parte da trajetória do compositor antes da Semana de 22 e o que foi aquele
acontecimento revolucionário para Villa-Lobos.
Através deste livro compreendi como se deu algumas das influências de gênero que
surgiram na Europa e que seriam importantes para Villa-Lobos além de compreender qual foi
o papel determinante de Villa-Lobos na Semana e o fato de o compositor não ter tido um
papel tão arrojado neste evento. Foi interessante para a dissertação principalmente o estudo
das influências que Villa-Lobos sofrera de determinados gêneros e compositores europeus em
suas obras.
O livro “Música na modernidade, origens da música do nosso tempo”, de J. Jota de
Moraes é importante porque faz um pequeno apanhado de toda uma evolução dos gêneros
composicionais que surgiram no conjunto da modernidade, o que ajudou a compreender de
forma mais clara as peculiaridades destes gêneros, como o neoclassicismo e o dodecafonismo.
Além deste estudo Jota de Moraes ainda escreve um breve texto sobre importantes
compositores que marcaram este período. O texto sobre Villa-Lobos, “O selvagem
comportado”, foi importante para visualizar alguns aspectos da vida do compositor e das
informações sobre suas composições.
Porém o que Jota de Moraes e Bruno Kiefer produziram nestas obras foi basicamente
um apanhado sobre a vida de Villa-Lobos e sobre aspectos de suas composições, nenhum dos
dois autores aborda a vida política de Villa-Lobos ou suas relações com o Estado de maneira
mais aprofundada.
Assim posso incluir o livro de José Miguel Wisnik “O coro dos contrários, a música
em torno da Semana de 22” como uma importante leitura para compreender o projeto da
Semana de 22 e as questões que envolviam os gêneros musicais utilizados na época.
Foi interessante compreender através deste livro o caráter limitado da música
modernista no Brasil, em dissonância com outras esferas culturais como a literatura e as artes
plásticas, mostrando o pequeno poder revolucionário que a música modernista possuía em
torno de 1922.
No livro “Música e Política: a nona de Beethoven”, o autor, EstebanBuch faz um
estudo sobre a nona sinfonia de Beethoven e da evolução da utilização desta composição de
forma política por alguns segmentos políticos.
Neste livro pude compreender de certo modo o surgimento da música política
moderna, principalmente ao trabalhar o mito de uma voz única da nação através de uma
24
política do simbólico que toma forma. Esta prática que se deu graças a La Marseilhaise pode
ser percebido de certa forma manifestada aqui também:
Assim esta retórica serve às vezes para exprimir uma forma de exposição, ou para propagar a revolta ou a revolução; mas ela pode, igualmente, contribuir para garantir a legitimidade do poder constituído ou um discurso político, cuja produção ou interpretação tem lugar por ação do Estado.29
A música de Villa-Lobos buscava, principalmente dentro da esfera do canto orfeônico,
legitimar o poder do Estado, através de sua exaltação e propagação, assumindo assim esta
característica de voz da nação, através do Maestro compositor.
O livro mais importante para esta dissertação, entretanto, é a própria obra escrita por
Villa-Lobos, “A música nacionalista no governo Vargas”, uma publicação do DIP, de 1941,
no qual podemos perceber nitidamente a face política de Villa-Lobos. Nele Villa-Lobos
demonstra sua total adesão ao regime nacionalista de Vargas e através de suas palavras deixa
claro seu entusiasmo ao trabalhar para este Estado em diversos aspectos.
Villa-Lobos faz neste livro diversos elogios a Getúlio Vargas e expressa suas opiniões
sobre questões como o individualismo, que impedia a nação de crescer, a necessidade da
uniformização da juventude brasileira através do canto orfeônico e a eliminação das
individualidades, objetivando criar uma sociedade disciplinarmente coletiva.
Trabalhamos este livro durante parte da dissertação para defender o ponto de vista de
que Villa-Lobos era intelectualmente engajado no Regime Vargas e entusiasta de
determinadas ideias, como a questão da utilização de um método de ensino do folclore,
principalmente durante a infância, poderia criar na juventude uma identificação com a nação.
Arnaldo Contier, no livro “Passarinhada do Brasil, canto orfeônico, educação e
getulismo”, faz um estudo interessante sobre a implicação política do ensino musical. Nele
aborda aspectos como a importância do Estado na promoção do canto orfeônico e na projeção
popular de Villa-Lobos, o que foi importante para compreender a sua relação com o Estado.
A meu ver, Contier fez uma afirmação excessivamente arrojada, ao aludir à
aproximação de Villa-Lobos com manifestações nacionais socialistas alemãs, como é o caso
da inspiração para a implantação do canto orfeônico, o que considero uma questão
problemática, por não haver como provar se Villa-Lobos realmente teve alguma influência
nazista de fato.
29 BUCH, Esteban. Música e Política: a nona de Beethoven. Bauru. São Paulo. EDUSC, 2001, p. 10.
25
A diferença do que trato nesta dissertação para os outros trabalhos escritos sobre Villa-
Lobos é que abordo aspectos da vida do compositor, sem deixar de tratar extensivamente dos
aspectos culturais da nação, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, além de focar
detidamente na atuação política de Villa-Lobos e como se deu a escalada em sua carreira até
sua sagração nacional, desde a Semana de 22 até o Regime Vargas.
Também procuramos enfatizar as relações do panorama político com a obra do
compositor produzida no calor da Revolução de 30 e do regime Vargas, se tais circunstâncias
favoreceram para a definição de gênero de composição, em especial as Bachianas. Em Villa-
Lobos também é algo a destacar neste trabalho, Tudo isso foi feito com um grande esforço,
pois não foi nada fácil abordar tão diferentes e complexos temas num só texto dissertativo, a
exigir redobrada atenção nos momentos de interpretação.
Além dos muitos livros que utilizamos, também consultamos uma variada gama de
recortes de jornal para o estudo do panorama político e da questão da crítica em Villa-Lobos.
Estes recortes foram analisados, problematizados e debatidos extensamente neste trabalho, em
conjunto com alguns artigos e documentários produzidos que abrangiam o tema.
A pesquisa foi efetuada principalmente na Biblioteca Nacional, na divisão de Música,
onde, além de pesquisar uma boa parte da bibliografia, pude ouvir também a maioria das
composições que foram tratadas na dissertação. Na Biblioteca “Alberto Nepomuceno” da
UFRJ, tive acesso a revistas e algumas dissertações e obras importantes sobre música em
geral.
No Museu Villa-Lobos, tive acesso a fotografias importantes e diversos textos e
partituras com anotações do compositor. No Arquivo Orlando de Barros pude pesquisar
diversos recortes, documentários em vídeo, fotos, fotogramas e livros, além de ter recebido
graciosamente mais de uma centena de gravações de obras de Villa-Lobos e de outros
compositores brasileiros, muitas em primeiras gravações. Soma-se a isso a contribuição da
Hemeroteca da Biblioteca Nacional e de sites, como da Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo (OSESP), que possui alguns artigos sobre a música nacionalista.
1O COMPOSITOR E A CIDADE. CULTURA, POLÍTICA E SUAS INFLUÊNCIAS
A música é um consolo para o sofredor, a música é
um embalo para o pequenino no colo de suas mães e
seus pais. A música é a alegria daqueles que são
alegres.
Villa-Lobos
27
1.1 A vida política na Cidade do Rio de Janeiro
O que chamo de “primeiro tempo” na vida de Villa-Lobos, é o que podemos
considerar como um período de formação quando Villa-Lobos vai absorver influências da
música urbana e ao mesmo tempo a música européia de concerto. Esse período vai das
influências urbanas até 1919. Para entender esta primeira fase da vida do compositor, é
preciso compreender como se configurava a vida política do período. Por acreditar que as
manifestações culturais estavam na época intimamente ligadas às manifestações e ao contexto
político, se faz necessário aqui buscar compreender quais são as transformações políticas das
quais Villa-Lobos estava acompanhando de perto, durante sua infância e adolescência.
Trata-se de um período composto por seis presidências da República, com uma
profunda transformação do Rio de Janeiro através das reformas de Pereira Passos e Oswaldo
Cruz, uma participação na Primeira Guerra Mundial e diversas manifestações políticas, seja
de esquerda ou de direita. Buscarei expor alguns dos acontecimentos, para servirem como um
pano de fundo, para a compreensão de um período importante para a vida do compositor, que
como cidadão do tempo não pôde fugir a estes acontecimentos.
No início do século XX a cidade viveu várias mudanças, quando o progresso estava
sendo escrito na poeira das demolições. Esta modernidade abria caminho numa enorme
voracidade, que tragava, morros, mar, construções e toda forma de ver e sentir no processo da
nova capital, que se tornaria vitrine do novo regime30.
Em 1902, assumiu a Presidência da República o paulista Rodrigues Alves, que pôs em
pleno funcionamento a chamada política do café com leite.31 Seu governo (1902 a 1906) foi
marcado por um momento em que o crédito internacional estava disponível em abundância.
Esta estabilidade econômica causada pela situação econômica encontrada possibilitou ao
governo Rodrigues Alves a obtenção de novos empréstimos que foram utilizados na
realização de diversas obras públicas, visando a modernização do país, em especial da Capital
Federal. Em seu Governo, com apoio do Prefeito Pereira Passos, deu início a um projeto que
visava a eliminação dos becos e vielas sujas e estreitas da Cidade do Rio de Janeiro, em cujas
30 MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e expulsão na capital federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996, p. 27. 31 Política de Revezamento no Poder Federal entre o Partido Republicano Paulista (PRP) e o Partido Republicano Mineiro (PRM).
28
ruas proliferavam o lixo e diversos tipos de doenças como a febre amarela e a varíola que
atacavam fortemente a população.
O modelo para a modernização do Rio de Janeiro foi Paris, que foi copiada em suas
ruas largas e praças urbanizadas, de cujo modelo destaca-se a criação da Avenida Rio Branco.
Podemos perceber que este apego pela capital francesa vai além da questão urbana, sendo a
música clássica, tocada para as elites cariocas também de grande influência francesa e seus
compositores muito admirados na cidade, mas este gosto pela estética parisiense não ficou
somente no estilo musical como podemos perceber no trecho que transcrevemos abaixo:
Em todo o processo civilizador, o impulso foi europeu; Paris o modelo a seguir. O francês tornou-se a língua com a qual se escreveu a modernidade. Os costumes franceses transformaram-se nos símbolos principais de um novo viver: imagens emblemáticas do comportamento social desejado... Comportar-se à parisiense tornou-se a representação da nova era. Dos costumes às construções, dos lazeres ao vestuário, o chique era voltar as costas ao passado ao passo das influências portuguesa e africana, para suspirar pela cidade luz.32
O Rio de Janeiro passou então a se apresentar com duas faces, uma voltada para o
futuro, que expressava os valores das elites políticas urbanas e outra que era orientada para o
passado, relegando negros e imigrantes pobres à exclusão, sujeitos a uma imposição da
disciplina proposta pelo regime político.
O plano do Regime republicano tinha como objetivo esquecer seus resquícios
escravocratas e coloniais e objetivava alcançar uma modernização num patamar semelhante
ao alcançado por Buenos Aires, já então considerada uma capital moderna. Esta tomada de
ação do governo republicano vai assumir características de uma batalha contra esta
ultrapassada cidade cheia ainda de resquícios coloniais, trazendo não só mudanças na
arquitetura como também nas regras sociais e interferindo no convívio das pessoas, como
explica abaixo Lená Medeiros:
A virada republicana tinha ocorrido num momento de tomada das ruas por uma população que, concentrada em habitações coletivas, sem conforto e mal ventiladas, ou à margem do mercado formal de trabalho, transformava as vias públicas numa morada complementar. Nesta dimensão, a chegada da civilização proposta a partir do inicio do século representou a imposição da vigilância e da disciplina, marcando a definição do espaço público como um espaço político, e da vida privada como um dos maiores valores dos novos tempos. Este processo foi caracterizado de forma bastante ampla na valorização do lar como local de repouso e abrigo, resguardado do olhar vigilante do Estado.33
32 Idem, p. 30. 33 Idem, p. 37.
29
Surge nesse contexto a figura de Oswaldo Cruz, médico sanitarista responsável pela
direção da secretaria de saúde do Distrito Federal. Sua política de profilaxia às doenças como
a febre amarela e a varíola ficaram conhecidas por desagradar a população que fixada no
centro da cidade, acabou removida da região, esta cruzada sanitarista expulsou, não só
trabalhadores como contraventores e criminosos para a periferia mais imediata
A reação a esta virtual expulsão aconteceu em 10 de novembro de 1904 com a
chamada Revolta da Vacina, que demonstrava a insatisfação da população à postura
autoritária dos dirigentes do governo que se valiam do argumento da sanitarização da capital
da República para desapropriar a população de cortiços localizados na área central da cidade,
manifestação que levou a uma agitada semana de violentas manifestações.
É importante apontar que neste período durante o Governo Rodrigues Alves, com
Pereira Passos na Prefeitura e Oswaldo Cruz na repartição de higiene, ainda se registravam
sobretudo durante o carnaval lutas de rua que envolviam Jacobinos, grupo ligado a
Diocleciano Mártir, diretor do Jornal “Jacobino”, jornal panfletário e conhecido como anti-
lusitano, que teve sua fase de maior violência durante o governo de Prudente de Moraes,
devido à sua política de concórdia com os portugueses e que agitou de forma muito violenta o
Distrito Federal.34
Em 1910, outra Revolta mostrou bem o caráter reacionário das forças militares
brasileiras. A Revolta da Chibata causada pelos maus-tratos sofridos pelos marinheiros além
de trabalho árduo, baixo salário e implacáveis castigos físicos recriavam a relação senhor e
escravo dentro dos quartéis. Ano do recém empossado Presidente da República Hermes da
Fonseca (1910 a 1914) a revolta exigiu o fim das punições físicas aos marinheiros que
receberam apoio dos operários que iniciaram diversas greves em seu favor. O Governo
temeroso quanto ao poder de fogo dos revoltosos que estavam de posse de poderosos navios
de guerra da Marinha brasileira cedeu ao movimento e a Câmara dos Deputados aprovou um
projeto de lei que excluía as chibatadas, elevaria o salário dos marinheiros e amenizaria a
carga de trabalho, além disso receberam a promessa de anistia aos líderes do movimento.
Quando os revoltosos entregaram os navios aos comandantes, o Governo se recusou a cumprir
as exigências que foram negociadas, seguidas da prisão de diversos líderes da rebelião, houve
uma nova tentativa de rebelião no dia 9 de dezembro que foi rechaçada e seu principal líder,
34 EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro do Meu tempo. Brasília: Edições do Senado Federal, volume I, 2003, p.603.
30
João Candido foi preso e depois internado como louco durante dois anos no Hospital Nacional
de Alienados, sendo absolvido em 1912.35
Durante o Governo Venceslau Brás (1914 a 1918), político mineiro que derrotou Rui
Barbosa que veio como candidato com apoio da Bahia, a sociedade brasileira já vivia
problemas advindos da I Guerra Mundial. O Estado do Rio de Janeiro já sofre os primeiros
problemas políticos do Governo Venceslau Brás com a recusa da Assembléia Legislativa em
empossar Nilo Peçanha, que derrotou o candidato Feliciano Sodré nas ultimas eleições
estaduais. Com manifestantes revoltosos nas ruas de Niterói, o Governo Federal enviou tropas
do exército para garantir a posse de Nilo Peçanha para acalmar os revoltosos.36
As altas taxas de desemprego, a inflação e os baixos salários incentivavam os
movimentos anarquistas a comandar atos grevistas por todo o país, e em 1917 surge o Comitê
de Defesa Proletária (CPD) formado por lideres sindicais. Sua função era criar uma política
mediadora entre empregados e empregadores, com um programa de reivindicações como
aumento salarial, jornada de oito horas semanais, fim do trabalho de menores e exclusão do
trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos entre outras.
O Rio de Janeiro se viu afetado pelas greves em 1917 com a paralisação de quase 50
mil trabalhadores fabris, organizados pela Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ) que
foi brutalmente reprimida e esmagada pelo uso da força do Estado. O Estado buscava
efetivamente acabar com estas questões pelo uso da força.
Ao mesmo tempo em que o número de empresas aumentou entre 1915 e 1919, os
movimentos grevistas adquiriram força neste período. Como exemplo, podemos usar o
movimento grevista na cidade de São Paulo que durou de 12 a 15 de julho de 1917 que
paralisou a capital do Estado.37
Em 1918 Delfim Moreira assumiu provisoriamente a presidência da Republica devido
à morte de Rodrigues Alves, e em seu Governo - embora curto, pois teve a duração de um ano
até a realização de novas eleições – viu o nascimento dos movimentos grevistas nas principais
cidades do país. Diante de um quadro econômico bastante agitado, em que o trabalhador
assalariado teve o seu poder de compra diminuído e em que os recursos financeiros injetados
já não tinham a mesma proporção de antes, o Governo já não podia evitar o fortalecimento da
luta sindical. Restava ao governo o poder de deportar imigrantes indesejados por fomentar
35 SAMET, Henrique. A Revolta do Batalhão Naval. Rio de Janeiro: Raramond / Faperj, 2011, passim. 36 SINDULFO, Santiago. Nilo Peçanha: uma época política. Niterói: Livraria e Editora Sete, 1962, p. 56. 37 LOPREATTO, Christina da Silva Roquette. O espírito da Revolta: a greve geral anarquista de 1917. São Paulo: Annablume, 2000, p. 34.
31
estas lutas, pois acreditava-se que a resistência popular era inspirada pelos líderes anarquistas
estrangeiros que haviam imigrado para o Brasil.
Percebemos que durante a juventude de Villa-Lobos, objeto principal desta
dissertação, o país era controlado por Oligarquias locais e o Governo Federal não tinha um
poder abrangente no interior da Nação. A capital federal era uma cidade dividida pela enorme
diferenciação entre as classes altas da sociedade e as baixas, estas últimas duramente
reprimidas pelo governo federal e municipal. Esse era, em termos, a base da estrutura política
e social sob a qual Villa-Lobos conviveu em sua juventude, onde e quando aprendeu suas
primeiras notas musicais.
1.2 A música clássica na cidade do Rio de Janeiro
Para entender a vida cultural do compositor é preciso compreender como se
manifestava a vida musical no Rio de Janeiro, cidade onde Villa-Lobos viveu. Um
compositor clássico francês muito conhecido na capital federal, Camille Saint-Saens, visitou o
Rio de Janeiro em 1899, quando realizou um concerto camerístico e dois concertos sinfônicos,
ambos com grande audiência, este compositor era bastante tocado na cidade, ao menos no que
se refere aos recitais e aos concertos.
Fazendo uma análise dos programas musicais do Instituto Nacional de Música e do
Teatro Municipal, 38 podemos perceber que as composições de Saint-Saens tinham uma
grande presença no tocante aos concertos sinfônicos, seguido pelas de Henrique Oswald e
Alberto Nepomuceno.
Henrique Oswald, filho de pai suíço e mãe italiana, viveu grande parte de sua vida no
estrangeiro e escreveu parte de sua obra quando viveu em Florença, se destacando como
compositor de música de câmara, e com destacadas obras para piano, todas com títulos
franceses como Il Neige, Bebé s’endort e Chauve-souris.39 Segundo Mariz, Oswald não
passou de um grande compositor europeu, como diversos outros que existiram na época. No
Brasil Oswald assumiu em 1903 o Instituto Nacional de Música, nomeado pelo Presidente
Rodrigues Alves, experiência que durou três anos, com sua saída em 1906, cedendo lugar a
38 Os documentos estão localizados na Biblioteca Nacional, Divisão de Música. 39 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1981, p. 83.
32
Alberto Nepomuceno, que já havia administrado o Instituto por alguns meses antes de
Oswald.
Nepomuceno foi um compositor que simbolizou no final do século XIX eprimeiros
anos do século XX o início do movimento nacionalista musical no Brasil, com a sua principal
obra, a “Série Brasileira” escrita em Berlin 1891, que tornou-se o marco inicial da orientação
nacionalista. Grande incentivador do canto em português, teve a maior parte de sua obra vocal
publicada, cerca de quarenta canções. Nepomuceno dirigiu o Instituto Nacional de Música
de1906 a 1916, e em sua direção realizou os concertos sinfônicos de 1908, que introduziram
ao público brasileiro um vasto repertório de música moderna, sobretudo francesa e russa. Suas
composições abriram caminho para que a corrente modernista tivesse uma aceitação mais
rápida.
Ainda no grupo dos autores estrangeiros, Debussyseguia Saint-Saens à distância nas
listas de recitais e concertos, visto então como um revolucionário, dividindo a opinião do
público carioca. Numa revista especializada, o colunista Oscar Guanabarino, critica
Debussypor não usar a beleza em suas composições, 40 talvez pelas inovações que o
compositor trazia em suas composições, porém muito além da questão estética estava o
conservadorismo adotado por este crítico, que até sua morte, em 1936, dedicou seu tempo a
combater as composições de Villa-Lobos.
Os franceses, marcavam forte influência na sensibilidade do carioca que frequentava
concertos e recitais. Um outro crítico da mesma revista Música afirma que “César Franck,
Duparc, Fauré, Debussy, Ravel, Dukas, são conhecidos do nosso público e sempre
aplaudidos” (Rio de Janeiro, ano II, nº 1, jan. 1918).41
As óperas tiveram importante papel na vida musical brasileira, do fim do século XIX a
inicio do século XX. Este foi o período dos grandes espetáculos, de destaque dos grandes
tenores e divas, e das rivalidades artísticas que tanto deleitavam o público. O Teatro
Municipal, inaugurado em 1909, representava para as elites cariocas o ápice da elegância,
onde se apresentavam os melhores artistas europeus e a aprovação do público era da maior
importância nos maiores centros musicais. Das óperas representadas no teatro Municipal, de
1909 a 1920, havia o domínio de Puccini, compositor italiano, seguido de Wagner, porém
algumas vezes se apresentaram óperas de Saint-Saens, ou algumas árias de suas obras em
festivais.
40 Revista Música, Rio de Janeiro, ano II, nº 5, 1918. 41ApudKIEFER, Bruno. Villa-Lobos e o modernismo. Brasília: 2ª edição, Editora Movimento, 1986, p. 17.
33
Em relação à musica dos Balés, Debussy e Florent Schmitt foram bastante tocados na
cidade, além do balé Russo que se apresentou no Teatro Municipal durante algum tempo,
como exemplo temos os seis espetáculos que a Grande Companhia de Bailado Russo de Anna
Pavlova fez no Teatro Municipal em outubro de 1917.42L’Après-midi d’um faune, de Debussy
foi apresentado em Balé e também sob a forma de concerto, com estréia em 1908, sob a
condução de Francisco Braga, em uma série de concertos que foram organizados por Alberto
Nepomuceno, durante as comemorações do centenário de abertura dos portos do Brasil. Esses
concertos tinham a nítida intenção de demonstrar a atualização do gosto musical do público
brasileiro da capital da República e seu apreço pela obra "moderna" de Debussy.
A marca interessante na relação entre Saint-Saens e Debussy é que o nome de Saint-
Saens esteve muito mais presente nos programas musicais na cidade do que o de Debussy.
Saint-Saens era para Debussy assim como Marmotel e Gounod ilustres “funcionários
púbicos” da arte, 43 medíocres se comparados com Debussy, a ponto Da aversão de Debussy a
essas figuras o impelir a negar sua condição de músico durante certa época.
1.3 O Samba e o Choro no Rio de Janeiro
O Samba, gênero musical reconhecido como tipicamente carioca surgiu em torno de
1870 quando a decadência do café no Vale do Paraíba fez com que a mão-de-obra escrava
migrasse para a capital, engrossando as camadas populares do Rio de Janeiro, e até a década
de 30 do século XX se manteve ligada intimamente a apenas esta camada social. Durante os
anos 30 uma classe média urbana que surge devido ao processo de industrialização da capital
vai anunciar a sua presença, no mesmo tempo da Revolução de Vargas e, adiante, do Estado
Novo. 44
O Samba esteve intimamente ligado ao carnaval, como uma forma de expressão
musical das classes baixas, aquelas que não tinham como participar efetivamente do carnaval
da classe média com carros enfeitados, por exemplo, e decidiram criar sua própria forma de
42 O Programa do Balé faz parte do acervo de programas da Biblioteca Nacional, Divisão de Música. 43 MORAES, J.Jota de. Música da modernidade: origens da música do nosso tempo. Brasília: 1ª edição. Editora Brasiliense, 1983, p. 99. 44 TINHORÃO, José Ramos. Música Popular : um tema em debate. Rio de Janeiro: 2ª edição, editora JCM, 1966, p. 17.
34
expressão. É ai que entram os Ranchos Carnavalescos, que representavam efetivamente as
primeiras manifestações populares na cidade do Rio de Janeiro.45
Os ranchos surgiram da falta de recursos financeiros para a armação de carros
alegóricos para participarem do Carnaval, que havia tomado um sentido de diversão coletiva
com a crescente complicação da estrutura social da cidade, visto que anteriormente o
“entrudo” – festa que depois seria o carnaval –segundo Tinhorão era uma festa extremamente
privada, onde as famílias brincavam em suas casas, em clubes e cafés que, segundo Luís
Edmundo, eram um refúgio de Momo, de onde de ouviam cornetas, porta-vozes e berros,
enquanto os escravos e a "ralé" se divertia na rua.46
Vejamos o significado da palavra Rancho no Dicionário Musical Brasileiro de Mário
de Andrade:
Mais particularmente são ranchos os grupos que em certas noites festivas da religião católica (Natal, Reis) celebram a data por meio duma dança dramática, tal como a Burrinha (“rancho da burrinha”) ou o bumba meu boi (“rancho do boi”) pelos reis. São ainda (provavelmente por alargamento desse sentido primitivo) ranchos os grupos que no carnaval percorrem as ruas cantando e saracoteando. Aqui a palavra é sinônimo de bloco. Blocos, ranchos, ternos, usam sempre um estandarte que às vezes chega a ser bem rico.47
Podemos perceber a influência nordestina na organização dos ranchos, imigrantes
pobres que vinham buscar nos portos do Rio de Janeiro sua única opção de trabalho, trazendo
sua organização religiosa e cultura para ajudar a desenvolver o samba. Eles traziam estas
organizações de manifestações religiosas praticadas há séculos como auxiliar ao dotar de
ferramentas e experiência para que se pudesse organizar aqui também uma forma de
manifestação popular antiga em sua terra de origem. 48
Em 1917, surge o primeiro sucesso deste gênero musical popular com a música “Pelo
Telefone”, uma música que apresentava diversos ritmos diferentes como reminiscências dos
batuques, estribilhos do folclore baiano e "sapecado" do maxixe carioca. Pelo Telefone marca
a participação importante de Donga no samba, companheiro e parceiro de Villa-Lobos na
juventude, foi um dos Três Reis Magos, e também um dos Oito batutas e importante chorão e
45 Ibidem, p. 18. 46 EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Edições do Senado Federal, volume I, 2003, p.630. 47 ANDRADE, Mario de. Dicionário Musical Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1989, p.426. 48 TINHORÃO, José Ramos. Música Popular : um tema em debate. Rio de Janeiro: 2ª edição, editora JCM, 1966, p. 19.
35
compositor deste samba, o primeiro que viria a registrar em selo a denominação “samba”.
Porém ainda levaria alguns anos para que este ritmo seja amansado ao gosto da classe média,
o samba e as marchas ainda ficariam em semianonimato até a década seguinte.49
Durante estas duas primeiras décadas do século XX o choro era um estilo musical
praticado por funcionários públicos de nível intermediário, ferroviários, bombeiros, militares
de baixa patente e artesãos. Tratava de um gênero musical completamente urbano. Entretanto,
sua origem remete às bandas formadas no século XIX por fazendeiros, e compostas por
homens livres e escravos, bandas que pautavam suas apresentações nas vilas que viriam a se
tornar cidades, tendo suas apresentações ditadas pelo calendário cristão. 50
O choro também era encontrado em festas que aconteciam em determinadas casas,
onde os músicos possuíam liberdade para apresentar suas criações. Além das serenatas e
serestas que se faziam ao longo das ruas desertas da cidade, tinham sempre um sentido de
gratuidade entre estes músicos, não era uma atividade remunerada.
Podemos perceber a falta de bailes públicos onde bons instrumentistas pudessem se
apresentar e se tornar conhecidos pelo público, pois os melhores músicos firmavam sua fama
e maior nome em festas particulares, fazendo que seu virtuosismo fosse conhecido através da
divulgação de seus desempenhos pelos ouvintes, até se firmar na sociedade o reconhecimento
como grande instrumentista.51 Os músicos não tinham muitas opções para a
profissionalização; inicialmente se reuniam em pontos certos, o que foi um primeiro passo
para alcançar a solução para essa necessidade. Eis como se apresentavam início:
Iniciavam seu concerto urbano para as estrelas, para os guardas noturnos, para os que viessem a despertar, mas, sobretudo, para eles próprios, pois era nesses momentos de descompromisso profissional que se empenhavam com o melhor dos seus talentos e da sua paixão pela música, rivalizando entre si em achados de improvisação, imitações matreiras e acompanhamentos valorizadores da melodia – recursos em que as modulações imprevistas e traiçoeiras testavam a capacidade dos colegas. 52
Os músicos disputavam entre si, de forma que se um companheiro não conseguisse
acompanhar um ou captar um solo feito por outro músico ele estaria “derrubado” e deveria
49 TINHORÃO, José Ramos. Música Popular : um tema em debate., op. cit., p. 19. 50 Ibidem, p. 17. 51 Ibidem, p. 101. 52 NÓBREGA, Adhemar. Os Choros de Villa-Lobos. Museu Villa-Lobos, 1975, Departamento de Assuntos Culturais, p. 11-12.
36
pagar uma rodada de bebida como um castigo.53 Um chorão conhecido por sua grande
capacidade de "apanhar" as melodias no ar era Satyro Bilhar, exímio violonista e compositor
admirado por Villa-Lobos, recebeu deste uma homenagem, evocando-o na composição da
fuga da Bachiana nº 1. Era neste ambiente de grande criatividade de certa forma
descompromissada que se desenvolveram os choros, que inspirariam Villa-Lobos, na década
de 20, a compor os quatorze choros do ciclo, mais o Choros Bis e o Quinteto em forma de
Choros.
Entre os músicos mais proeminentes neste período da formação de Villa-Lobos estão,
Chiquinha Gonzaga, Viriato Figueira da Silva, Satyro Bilhar, Quincas Laranjeiras, Horácio
Teberg, Patápio Silva, Alfredo Viana, Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha) Paulino
Sacramento, Catulo da Paixão Cearense, Anacleto de Medeiros, Edmundo Otávio Santos
(Donga), Aurélio Cavalcante, Pedro de Alcântara, Eduardo das Neves e Candido das Neves
(índio). Destes músicos podemos destacar Catulo da Paixão Cearense, que foi o autor dos
versos de “Rasga Coração”, para servir de letra a uma cantiga nordestina então adaptada, os
quais Villa-Lobos aproveitaria no Choro Nº 10. Outros nomes ainda viriam a se tornar
funcionários do compositor, como João Teixeira Guimarães, que trabalhou na
Superintendência de Educação Musical e Artísticado Distrito Federal, e José Rebelo da Silva,
que foi chefe de portaria no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. 54
Em fins do século XIX grande parte dos músicos eram todos funcionários públicos da
baixa classe média, ligados principalmente à bandas militares. Estas bandas eram importantes
núcleos formadores de músicos, quando o ardor republicano de Floriano Peixoto fez com que
estas bandas tivessem seu número ampliado. 55
Segundo levantamento de José Ramos Tinhorão, havia a Banda do Corpo de
Marinheiros, de onde saiu Malaquias do Clarinete; a banda do Corpo Policial da Província do
Rio de Janeiro, que tinha como regente o Alferes Godinho, que tocava flautim; a banda da
Guarda Nacional, que fora organizada por Coelho Gray, famoso por dominar todos os
instrumentos da banda; a banda do Batalhão Municipal; a da Escola de Música e a importante
banda do Corpo de Bombeiros, banda esta organizada por Anacleto de Medeiros e que teve
53 Ibidem, p. 12. 54 Idem. 55 TINHORÃO, José Ramos. Música Popular : um tema em debate. Rio de Janeiro: 2ª edição, editora JCM, 1966, p. 103.
37
entre outros componentes, como Irineu Pianinho flautista, Irineu Batina, trombonista, João
Mulatinho, Pedro Augusto, Tuti, Geraldino, Nhonhô Soares e Albertino Carramona. 56
Em um tempo em que não havia nem discos nem rádio, estas bandas eram a mais
importante referência musical, gozando de grande prestígio do público em lançamentos,
inclusive dos primeiros sambas que surgiram. A produção musical do ambiente do choro, do
samba e das bandas de música, com a excelência de seus intérpretes, além do meio fértil em
que vicejava a poética popular, permearam profundamente a obra de Villa-Lobos, que soube
entender a alma musical popular do Rio de Janeiro e a transportou para música erudita.
1.4 A vida de Villa-Lobos entre 1987 - 1919
Nascido a 5 de março de 1887, num período com muita coisa a mudar, a monarquia às
vésperas de sua abolição, o velho imperador, frágil guardião de um sistema de governo que se
revela disfuncional. Heitor Villa-Lobos, filho de professor e funcionário da Biblioteca
Nacional, iniciou desde cedo seus estudos de música. Quando Villa-Lobos tinha seis anos, seu
pai, Raul Villa-Lobos já o levava para assistir a ensaios e concertos de óperas, para tentar
despertar o gosto do filho pela música, que iniciou seus estudos com aulas de violoncelo e
clarineta.
A casa do compositor era frequentada por diversos músicos amigos e o pai o levava
frequentemente à casa de Alberto Brandão, também visitada por figuras ilustres como Silvio
Romero, Barbosa Rodrigues, e Melo Moraes. Assim o futuro compositor teve a possibilidade
de entrar em contato com conhecedores das raízes da música e da cultura brasileira.
O jovem compositor teve seu primeiro contato com Bach na casa de sua tia Zizinha
que ao piano interpretava seus prelúdios e fugas, porém o instrumento que exercia fascínio no
compositor era o violão, instrumento mal visto na época, quando era associado à boemia e à
malandragem. Donga ao falar sobre Villa-Lobos deixa clara a posição dojovem compositor no
meio dos chorões, grupo do qual faria parte durante parte de sua juventude também como
instrumentista:
Villa-Lobos sempre foi improvisador. Foi um grande solista de violão, grande, grande. Sempre tocou clássicos difíceis, coisa com técnica. Sempre foi o técnico, sempre procurou o negócio direito.57
56 Idem, p. 104.
38
Aos 16 anos, o compositor, nesta época apenas um violonista, deixa sua casa para
viver com uma tia e ganha a liberdade para se unir a um grupo de chorões, liderados por
Quincas Laranjeiras, do qual faziam parte também, Luiz de Souza (no pistão), Luiz Gonzaga
da Hora (no baixo), Spíndola, Juca Kalu e Felisberto Marques (na flauta), Anacleto de
Medeiros (no saxofone), Macário e Irineu de Almeida, no oficlide e Zé do Cavaquinho, que
fechavam o grupo.
Villa-Lobos e a irmã, quando crianças
Esse grupo se encontrava frequentemente no “O cavaquinho de ouro” que se
localizava na Rua do Ouvidor, e depois na Rua da Carioca, nº 44, de propriedade de João dos
Santos Carneiro. Segundo Ermelinda A. Paz no livro “Villa-Lobos e a música popular
brasileira”, lá era o local onde o grupo se reunia antes das apresentações para ensaiar, tocavam
as composições de Calado, Luiz de Souza, Viriato, Nazareth, Anacleto de Medeiros e
outros.58
57 CARVALHO, Hermínio Bello de. O Canto do Pajé: Villa-Lobos e a música popular brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Espaço e tempo, 1988, p. 30. 58 PAZ, Ermelinda A. Villa-Lobos e a música popular brasileira: Uma visão sem preconceito. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2004, p. 14.
39
O violão foi a porta de entrada de Villa-Lobos no choro. Porém, simultaneamente, o
chorão evoluía como músico erudito e violoncelista clássico. Em 1910 transcreveu duas
valsas e o prelúdio em fá sustenido menor de Chopin. Também, na ocasião, foi o primeiro a
transcrever no Brasil uma Chaconne de Bach para violão. 59
Esta foi a fase da vida do compositor em que ele teve total contato com a música
genuinamente brasileira, que, reconhecidamente, influenciou toda sua futura obra.
Com o grupo de chorões que aludimos acima Villa-Lobos tocou em bares, cabarés,
pensões, no teatro recreio e no Cinema Odeon, juntando o prazer da boemia ao seu meio de
conseguir sobreviver na cidade.
Villa-Lobos no futuro iria nutrir um sentimento de amizade por estes músicos do qual
não se esqueceria, mesmo após se tornar um famoso maestro. Assim Ermelinda Paz se refere
às relações de Villa-Lobos com seus companheiros:
Mesmo quando já maestro renomado, não esqueceu seus companheiros chorões. Como por exemplo podemos citar o fato de que Zé do Cavaquinho veio a ser funcionário do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico e era a única pessoa a ser recebida por Villa-Lobos, a qualquer momento, sem que fosse necessário marcar audiência.60
A partir de 1905, aos 18 anos, Villa-Lobos vai iniciar suas viagens pelo interior do
país, começando o que ficou conhecido por seu bandeirismo musical. A venda de alguns
livros raros herdados de seu pai possibilitou essas viagens pelos Estados do Espirito Santo,
Bahia e Pernambuco, atuando como músico nessa viagem e recolhendo ampla documentação
musical. Consta que foi nesta viagem que o compositor travou contato pela primeira vez com
a música de Debussy, mas, segundo Vasco Mariz, o compositor não deu grande importância
pois a obra lhe pareceu “popularesca” demais. Em 1906 viajou pelo sul do país do qual não
conseguiu recolher tantas produções brasileiras, haja vista que, pela composição étnica dessa
região – resquícios europeus dos colonos alemães, e poloneses e o espanholismo vindo do
Prata – afastaram muitas das vezes a pretensão do compositor de colher folclore brasileiro.61
Em 1907 o compositor matriculou-se no Instituto Nacional de Música, na classe do
professor Frederico Nascimento, para estudar harmonia, mas logo abandonou as aulas, pois,
59 SANTOS, Turibio. Heitor Villa-Lobos e o violão. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1975, p. 7. 60 PAZ, Ermelinda A. Villa-Lobos e a música popular brasileira: Uma visão sem preconceito. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2004, p. 16. 61 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1981, p. 107.
40
segundo Eduardo Storni, tratou-se de uma falha por excesso de capacidade.62 Então o
compositor decide voltar a viajar através de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, prosseguindo a
sua trajetória de formação autodidata na música.63
Na sua quarta viagem, que duraria cerca de três anos, Villa-Lobos foi acompanhado
por Donizetti, seu amigo e músico. Viajou pelo interior do Norte e Nordeste, travando contato
com índios pacíficos para aprender suas músicas. Na mesma ocasião, tocou em diversos
lugares para conseguir dinheiro e financiar a viagem. Nestas viagens compõe as Danças
Africanas: Farrapós, kankurus e Kankikis. Em 1912 realizou sua ultima viagem pelo Norte
dando concertos e prosseguindo a pesquisa. Foi neste mesmo ano que o compositor escreveu
sua ópera em quatro atos chamada “Izaht”.64
Raul Villa-Lobos, pai do compositor
62 STORNI, Eduardo, Villa-Lobos. Madrid: Espasa-Calpe, S.A,1988. 63 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1981, p. 108. 64 Ibidem, p.108.
41
Em 12 de novembro de 1913, Villa-Lobos contraiu matrimônio com a professora de
música Lucília Guimarães, a qual foi sua grande companheira e colaboradora até 1936, ano
em que viriam a se separar.
Segundo Luiz Guimarães, a primeira apresentação oficial de Villa-Lobos no Rio de
Janeiro foi no dia 29 de janeiro de 1915, somente aos 28 anos, no teatro São Pedro, hoje
conhecido como João Caetano, sob regência de Francisco Braga.65 No final do mesmo ano, a
partir de 13 de novembro, Villa-Lobos iniciou uma série de concertos, fazendo-se notar suas
características audaciosas no tratamento da música, mesmo sem ainda ter contato com
compositores de vanguarda como Schoenberg ou Stravinsky, já se utilizava de um tratamento
harmônico desusado em seu tempo. Quanto a isto, afirma Vasco Mariz:
O primeiro concerto, realizado no salão do jornal do comércio, causou espécie. Nele foram apresentadas as seguintes obras: 1º Trio, 2ª Sonata, Fantasia, Sonhar, Capricho e Berceuse, para violoncelo e piano, Valsa Scherzo, para piano solo, e as canções Confidência, A Viagem, Mal Secreto, FleurFanée, LesMères e A Cegonha. Cernicchiaro e Borgongino, críticos de renome, mas conservadores até a raiz dos cabelos, arregalaram os olhos de espanto.66
Em 1917, por intermédio do Dr. Leão Velloso, o compositor foi apresentado ao jovem
musicista DariusMilhaud, que viria a ser um compositor muito importante, componente do
chamado Grupo dos Seis - movimento neoclassicista francês - e secretário de Paul Claudel,
então embaixador da França no Brasil. Foi a ocasião em que Villa-Lobos compôs a obra
chamada Amazonas, e, em 1919, compôs Canções Típicas Brasileiras, a última composição
neste período abordado.
As composições de Villa-Lobos neste período eram marcadas por interferências
folclóricas ora diretas, ora indiretas. Como exemplo de influências indiretas podemos indicar
o poema sinfônico Uirapuru, de 1917, e os quartetos de corda nº 3 e 4, compostos em 1915,
16 e 17, e como exemplo de interferência folclórica direta temos a composição para piano A
prole do bebê nº 1 (as bonecas), de 1918, e a Suíte de Cânticos Sertanejos, de 1909, para
orquestra, onde se pode notar no compositor um tratamento harmônico desusado e audacioso
mesmo que ainda não tivesse tomado conhecimento das obras de Schonberg e Stravinsky. 67
Villa-Lobos, ganhava a vida então tocando em teatros e cinemas, interpretando,
conforme afirma Vasco Mariz “de tudo e de todos”, e se cercava de amigos, intelectuais e
65 GUIMARÃES, Luiz. Villa-Lobos visto da plateia e na intimidade (1912/1935). Rio de Janeiro: Editora Arte Moderna. 1975. 66 MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro. Belo Horizonte: 11ª Edição, Editora Itatiaia Limitada, 1989, p. 47. 67 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981, p. 109.
42
músicos, entre os quais podemos listar Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto,
Renato de Almeida e Graça Aranha. Entre os amigos músicos figuravam Luciano Gallet,
Oswaldo Guerra, Nininha Leão Velloso, Frutuoso Viana, Newton Pádua, Iberê de Lemos,
entre muitos outros. 68
Assim se passou a vida do compositor neste período de aprendizado em que veio a
compor suas primeiras obras, influenciado por suas viagens pelo interior do país e por seus
contatos com os chorões, além de ter recebido a base clássica que lhe proporcionou seu pai,
todos estes aspectos se tornariam importantes para sua música, o que faria dele um compositor
de base clássica com características populares.
Outros compositores brasileiros tentaram também fazer música clássica baseando-se
nas criações populares, como Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno, mas lhes faltou a
vivência que Villa-Lobos teve desde cedo, com diferentes gêneros musicais. Conforme
escreveu certa vez Carlos Drummond de Andrade, “todos os estilos se encontram e encanta
dentro de sua música, a música dos índios, uma pitada de jazz, o vagueado dos chorões da
Cidade Nova, o caracaxá marcando o ritmo, a cabaça, o oficlide e o bandolim, os poemas
inclusos em suas obras demonstram sua grande qualidade como compositor dominante de
diferentes ritmos e capaz de torná-los um, como se houvessem nascido unidos, sem
diferenças”. 69
Villa-Lobos, filho de uma família de classe média, e de um pai intelectual, sofreu
influências de casa e da rua, em casa com seus estudos de violoncelo, e com os estudos de
piano com sua tia, onde teve contato com Bach e Debussy, dois compositores que iriam
influenciar fortemente as obras do compositor. As ruas influenciaram-no sobremaneira pelos
Choros, que estavam presentes nas suas obras, tanto no repertório para violão quanto em toda
série de Choros, que seriam composta mais à frente.
68 Ibidem, p. 110. 69 Museu Villa-Lobos. Presença de Villa-Lobos, 2º volume, Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos / Fundação Nacional pró memória.
43
A família de Villa-Lobos
Alvo constante de críticos que a ele se opunham, como Oscar Guanabarino, o
compositor respondeu com um trabalho muito à frente da compreensão dos contemporâneos,
demonstrando um talento incomum e uma espantosa tenacidade. Podemos citar como
exemplo, uma crítica, reproduzida no livro de Vasco Mariz, que indica muito bem o que se
pensava da música de Villa-Lobos por um dos principais colunistas da época, que representa
bem as concepções musicais do grupo conservador que predominava no Rio de Janeiro:
...esse artista que não pode ser compreendido pelos músicos pela simples razão de que ele próprio não se compreende, no delírio de sua febre de produção. Sem mediar o que escreve, sem obediência a qualquer princípio, mesmo arbitrário, as suas composições apresentam-se cheias de incoerências, de cacofonias musicais, verdadeiras aglomerações de notas sempre com o mesmo resultado, que é dar a sensação de que a sua orquestra esta afinando os instrumentos e que cada professor improvisa uma maluquice qualquer. Muito moço ainda, tem o Sr. Villa-Lobos produzido mais do que qualquer verdadeiro e ativo compositor no fim da vida. O que ele quer é encher papel de música sem saber, talvez, qual seja o número exato das suas composições, que devem ser calculadas pelo peso do papel consumido, às toneladas, sem uma única página destinada a sair do turbilhão da vulgaridade. A sua divisão não é ‘pouco e bom’ mas sim ‘muito ainda que nada preste’. O público aplaudiu a Ave! Libertas, de Miguez, e com certeza não compreendeu a Dança Frenética, de Villa-Lobos, talvez por estar errado o título, que deveria ser Dança de S. Guido (coréia) com uma nota explicativa que dissesse: para ser executada por músicos epiléticos e ouvida por paranoicos. Em regra as suas composições não tem
44
nem pé nem cabeça, são amontoados de notas que chocalham canalhamente como se todos os músicos da orquestra, atacados de loucura, tocassem pela primeira vez aqueles instrumentos, que se transformam em mãos doidas, em guizos, berros e latidos.70
A resistência quanto à música de Villa-Lobos ia além do público e das forças
conservadoras que cerraram fileiras e se opuseram ao compositor que escrevia de maneira a
desafiar os cânones da música erudita, opinião representada por críticos como Oscar
Guanabarino. Músicos também se recusavam a tocar suas composições, como aconteceu em
1908, quando, a convite do diretor do Instituto Nacional de Música, para apresentar suas
composições teve objeção no primeiro item do programa porque o poema sinfônico “não tinha
pés nem cabeça”.71 Isso mostra o quão difícil foi apresentar suas criações inovadoras,
confrontando tanta resistência vinda de diversos setores envolvidos com a música.
Na verdade, no tempo em que Villa-Lobos compunha suas páginas modernas, mesmo
sem ter conhecido até então alguns compositores modernos essenciais, o que o compositor
brasileiro fazia não era outra coisa senão uma música inovadora, revolucionária até, e do
mesmo quilate que os melhores vanguardistas europeus. Villa-Lobos estava inovando
conforme sua maneira, sendo assim sofrendo também a resistência dos que defendiam uma
concepção mais tradicional de composição, podemos compreender o quão importante suas
criações foram para o ideal de independência da música brasileira num momento onde se
buscava a afirmação de uma identidade própria, que não somente nos distinguia da Europa,
mas que possuía valor que é próprio e independente, realizando uma afirmação do elemento
nacional.72
Villa-Lobos vivia em uma sociedade autoritária, truculenta mesmo, acostumada ao uso
da força para se fazer presente na vidas das pessoas, para controlá-las e esta falta de
capacidade para lidar com tentativas de mudanças, seja a mais branda ou a mais radical, se
transfere também para a escala cultural, através de violentas críticas à menor tentativa de
modificação do status quo. Temos uma transposição dos valores, do discurso político para o
discurso cultural do período.
Talvez fosse esta truculência do Estado e da sociedade a que este servia que impunha a
incapacidade de lidar com fatores que alterassem a ordem estabelecida, o fator que fez com
70 MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro. Belo Horizonte: 11ª Edição, Editora Itatiaia Limitada, 1989, p. 55. 71 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1981, p. 110. 72 WAIZBORT, Leopoldo. Villa-Lobos: A invenção da Identidade Nacional (parte 1) PodCast site: OSESP. http://www.osesp.art.br/portal/paginadinamica.aspx?pagina=podcast acessado dia 16/07/2012.
45
que Villa-Lobos declarasse mais à frente sua aversão a este “antigo regime”, conforme ficou
claro em seu comportamento como artista e como intelectual afeito ao regime político
revolucionário, durante a década de 30.
Villa-Lobos apresentando um concerto orfeônico, a seu lado Mindinha, segunda esposa 1.5 Villa-Lobos, vida e composições na década de 20
A grande marca da década de vinte, é com certeza a Semana de Arte Moderna,
acontecimento realizado em 1922, no qual Villa-Lobos deixou claro ter se apresentado como
músico pago, e não era fruto daquele evento. Porém foi a Semana de 22 que o firmou pela
trilha do Nacionalismo. Villa-Lobos neste período era um músico muito combatido, porém já
possuía seu público.
A Semana de Arte Moderna de 1922 não formou nenhum tipo de artista. Seus
participantes já estavam espalhados pelo país, produzindo e criando muitos anos antes daquele
ano. Como exemplo, temos a exposição da cubista Anita Malfatti em 1917, e o livro
"futurista" de poesias Paulicéia Desvairada, escrito em 1919 por Mário de Andrade, e já lido
antes da Semana no Rio de Janeiro e em São Paulo.
46
A Semana serviu para demarcar e afirmar posições frente a sociedade conservadora
que se estabelecia principalmente no Distrito Federal e em São Paulo, marcando o inicio de
uma ação contra o academicismo e os sentimentos estéticos tidos por reacionários.73
Foi por meio da Semana que o público conservador não só travou conhecimento com a
música de Villa-Lobos como também com as de Debussy e Eric Satie, estes últimos quase
desconhecidos no Brasil, ambos para escândalo do público da capital do Estado de São Paulo,
o mais rico do país, pois que ainda naquela data aqueles compositores franceses modernos
tinham presença rarefeita nos programas dos principais teatros cariocas e paulistas.
Este importante evento, entre outras coisas serviu para germinar uma ideia. Para
anunciar à Nação talvez a pretensão de romper com o cânone vigente de se fazer arte, e
explicitar o interesse em recriar a arte nacional atrás de novos paradigmas, que seriam
construídos a partir daquele tempo, de forma declarada, como uma espécie de manifestação
política. A República Velha sofria sua primeira Revolução, inicialmente no âmbito cultural,
oito anos depois, no âmbito político.
Entretanto não podemos ignorar a declaração de Villa-Lobos à revista Manchete em
1957, em que o compositor afirma que “a Semana de Arte Moderna fez um bem imenso ao
romance e à poesia brasileiras, mas não aportou nada à música. ” Talvez uma declaração
defensiva do compositor, temeroso de ter seus créditos reduzidos ao espírito criativo surgido
durante o movimento, Villa-Lobos reconhecidamente já possuía sua identidade particular
muito antes da Semana em suas composições duramente combatidas por críticos
conservadores.
Villa-Lobos contribuiu para a Semana com vinte peças de variado fôlego, todas dentro
da órbita da música de câmara. Compostas em anos diferentes num período que vai de 1914 a
1921, em que a mais antiga, Farrapos, datava de 1914, e nem as mais novas composições
eram inéditas naquela ocasião.74
É inegável que a Semana teve um importante papel para a cultura nacional. A música
foi contemplada, a partir do momento em que a Semana serviu como um catalizador do
potencial criador de diversos novos compositores brasileiros que se alinhariam a esta
tendência moderna, que se tornaria visível à sociedade de forma nítida e declarada, ou seja,
73 MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos. Rio de Janeiro: quinta edição, MEC/DAC/Museu Villa-Lobos, 1977, p. 55. 74 WISNIK, José Miguel, O Coro dos contrários: a música em torno da semana de 22. São Paulo: 2ª edição, Livraria Duas Cidades, 1983, p. 71.
47
aquele movimento que até então não possuía divulgação nem reconhecimento apropriados
passa a se tornar pauta de uma questão nacional.
Em 30 de junho de 1923, Villa-Lobos fez sua primeira viagem à Europa, financiada
pela contribuição de figuras ilustres, sensibilizadas graças ao discurso de Gilberto Amado
naCâmara dos Deputados do Rio de Janeiro, em apoio ao projeto apresentado pelo Sr. Arthur
Lemos. Podemos citar neste grupo que apoiou a viagem do compositor Carlos e Arnaldo
Guinle, Maurice Gudin e madame Santos Lobo, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, o
conselheiro Antônio Prado e a senhora Olívia Penteado. Nesta viagem o compositor tinha por
objetivo, divulgar a obra e obter o reconhecimento dela pela crítica européia, e para este
intuito foram importantes Arthur Rubinstein e Vera Janacópulos. Não foi, diria mais tarde
Villa-Lobos, para estudar qualquer gênero composicional.
Rubinstein e Carlos Guinle foram também responsáveis pelas primeiras edições das
obras de Villa-Lobos, feitas pela Max Eschig. Rubinstein emprestaria seu nome de virtuose
reconhecido mundialmente como um aval à música do compositor talentoso porém ainda
desconhecido. Carlos Guinle, com apoio de outros mecenas, ajudaram a financiar todas as
despesas advindas desse encargo.
Vera Janacopoulos, cantora com carreira internacional que divulgou Villa-Lobos quando este começava a se projetar internacionalmente
Em Paris, Villa-Lobos travou contato com um ambiente atingido pelo embate entre
passadistas e renovadores, e o compositor se uniu aos jovens vanguardistas, travando contato
e recebendo apoio de críticos como Florent Schmitt, Paul Le Flem e Tristan Klingsor.
48
Porém sua enorme popularidade foi alcançada através de um artigo da poetisa
LucieDalarueMardrus criando uma história fantástica do compositor nos moldes da aventura
de Hans Staden, onde o compositor teria sido membro de uma expedição científica alemã em
pleno século XX, e que tendo sido capturado por uma tribo de índios antropófagos, foi
amarrado a um poste, enquanto os índios dançavam em volta do prisioneiro. Este mal
entendido causou grande indignação aos brasileiros, que creditaram a Villa-Lobos a história.
Mas é fato que a história rendeu ao compositor um grande sucesso financeiro e artístico. O
desmentido só aconteceria em 1924. 75
Villa-Lobos travou contato com Vincent D’Indy, de quem era admirador, o qual lhe
sugeriu algumas modificações na 3ª e na 4ª Sinfonias. Também conheceu André Segovia,
violonista espanhol, do qual se tornaria grande amigo, e foi por causa desta amizade, que o
compositor dedicou ao amigo a série de 12 estudos para violão. Neste tempo, alguns músicos
já estavam incluindo algumas músicas do compositor em seu repertório, demonstrando que
suas criações estavam encontrando uma recepção cada vez maior nos instrumentistas,
regentes e empresários. Na Salle Érard, em Paris, tivemos um recital de piano onde se
apresentou a Légendeindigéne e La Famille de Bébé. Em Bruxelas seu nome figurou no
Concert G. Falvy, entre nomes como Haendel, Debussy e Chausson. Em fins de 1924 o
compositor voltou ao Brasil, satisfeito por ter atingido o objetivo daquela estadia na Europa.
Em 1925 Villa-Lobos foi feito membro da Sociedade Internacional de Música
Contemporânea, por Albert Roussel, e em 1926 o compositor realizaria três festivais
sinfônicos a pedido da Associación Wagneriana de Buenos Aires, sendo acolhido com carinho
pelo público portenho através da execução de algumas de suas composições, como “A lenda
do Caboclo”, interpretada ao piano por Magdalena Tagliaferro.
Sua segunda viagem a Paris foi em 1927. A família Guinle, teve importante papel na
vida do compositor neste período. Por intermédio de Rubinstein, os Guinle assumiram o papel
de mantenedores de todas as necessidades materiais durante toda a estadia. O compositor teve
à sua disposição em Paris o apartamento dos Guinle todo mobiliado e com um piano de cauda.
Ali Villa-Lobos residiu por três anos. Desse modo, Villa-Lobos teve sua música reconhecida
primeiramente na Europa e somente mais tarde no Brasil. Importante nesse sentido, porém,
foi aproveitar o esforço de seus amigos residentes em Paris para a divulgação de sua
75 MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro. Belo Horizonte: 11ª Edição, Editora Itatiaia Limitada, 1989, p .63.
49
obra,organizando concertos e publicando uma série de obras, além de providenciarem que
lecionasse e trabalhasse como revisor na casa Max Eschig.76
Nessa estadia as performances mais importantes para o compositor foram os dois concertos
dados na sala Gaveau, concertos que, segundo o compositor, “representavam a sua permanência de
destaque em toda a Europa”. 77 Por isso declarou em carta para Arnaldo Guinle, “... do contrário
ficarei esquecido, e lá se vai todo o esforço que nós tivemos, você, o Dr. Carlos e eu para que eu
chegasse a excelente situação moral e artística que me encontro hoje”.78
Com efeito, até 1930 Villa-Lobos se tornaria conhecido não só em Paris, mas em toda
a Europa, apresentando suas obras na capital francesa, e regendo orquestras em Londres,
Berlin, Barcelona e Lisboa, alem de apresentar as primeiras audições de alguns dos Choros, e
do Rudepoema, o qual foi dedicado ao seu amigo Rubinstein.
Arthur Rubinstein um dos maiores pianistas do século, impulsionou a carreira de Villa-Lobos
76 GUIMARÃES, Luiz. Villa-Lobos visto da plateia e na intimidade (1912/1935). Rio de Janeiro:Editora Arte Moderna, 1975, p. 136. 77 Ibidem p. 138. 78 Ibidem, p. 139.
50
Por mais bem aceito que fosse em Paris, e por melhor que fossem as companhias com
as quais o compositor estava relacionado, em 1930 se fez necessário que retornasse, muito por
conta da remessa que recebia para seu sustento, que foi impedida pela Revolução que
acontecia no Brasil, tornando sua situação em Paris insustentável. Nesse período o compositor
escreveu a longa série de Choros, o Rudepoema, o Momo Precoce, as Serestas e o Noneto.
Em 1929, ainda que Villa-Lobos tivesse obtido o esperado sucesso na Europa, e de
certa forma no Brasil, a crítica especializada ainda não compreendia e aceitava seu moderno
estilo de composição. Encontramos no jornal Correio da Manhã, na seção “Correio musical”
um artigo intitulado “As novas correntes e a música popular brasileira”, de 18 de janeiro de
1929. Neste artigo destaca-se o seguinte comentário:
Falta ao Brasil o que outras Nações Européias já possuem, um cabedalintelectual, fundo de reserva artística, que os dá o direito de usar o folclore. Ritmos como a embolada são como um material de abortos ou aleijões e não é com isso que poderemos criar a música brasileira.79
Este debate sobre a música erudita e aspectos nacionalistas já ocorria desde o século
XIX, principalmente durante o final do Império. A Revolução de 1889 teve grande impacto
sobre as artes no Brasil e o imaginário ligado à liberdade e à modernidade, tão difundido nos
primeiros anos após a Revolução, acabou por criar um ambiente favorável para as mudanças
nas opções estéticas. A grande reestruturação pela qual passou a maior instituição de ensino
musical do país é sinal destas transformações. Nos dois meses que se seguiram à Revolução, o
antigo Imperial Conservatório de Música foi transformado no Instituto Nacional de Música. A
primeira renovação de monta no velho Conservatória deu-se à partir de 1890, sob a direção de
Leopoldo Miguéz, que fez questão de impor uma estética “moderna”, opondo-se ao
“conservadorismo” ali reinante desde o tempo da monarquia. Para Miguéz “moderna” era a
estética francesa de Saint-Saens e a alemã de Wagner, e seria esta modernidade que
substituiria as influências italianas de Verdi, que dominavam o Brasil Imperial. 80
Estas transformações contribuíram para a criação de uma instituição de ensino bem
estabelecida, que seria capaz de fomentar um importante debate estético, ao qual músicos de
sólida formação poderiam trazer da Europa as tendências estéticas da última geração e lutar
por sua aplicação. A ideia de chegar à civilização por via da música ressurgiria então como
79Correio da Manhã, 18 de janeiro de 1929, seção “Correio Musical”, coluna de Roberto Lyra. 80 GUÉRRIOS, Paulo Renato. Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico parisiense: convertendo-se em um músico brasileiro. Artigo publicado no site http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-93132003000100005&script=sci_arttext#TX02 data de acesso 14/07/2012.
51
um projeto ligado à modernidade dos ideais republicanos 81 e este debate contribuiu para
formação de uma geração de músicos brasileiros que tentariam dar cabo do tema nacional em
suas canções, como Alexandre Levy e Villa-Lobos.
Durante o início do século XX já possuíamos uma literatura nacional, porém era
preciso que se construísse uma música nacional. Possuir uma música própria, uma música
brasileira é uma questão de independência musical, e significava ir além de realizar uma
independência política. 82 Villa-Lobos, então munido destas experiências, pôde explorar em
sua música aquilo que foi o mote dos românticos muitos anos antes, trabalhando questões
como a floresta, a natureza sublime, o indianismo e o exotismo.83
Tais posições no debate musical da época demonstra o quão importante era a questão
Nacional na esfera musical. O debate se manteve vivo por um bom tempo, tendo Villa-Lobos
encontrado dura resistência, principalmente em alguns setores da imprensa mais
conservadora.
A longa série dos catorze Choros, talvez sua criação mais admirada, deve um tanto de
sua original e tão elogiada concepção à viagem feitaa Paris. A esse respeito sentencia Vasco
Mariz:
Creio que a estada de Villa-Lobos na Europa foi muito propícia à composição dos Choros. O conhecimento de mais perto dos estilos de Debussy, Stravinsky e do Grupo dos Seis, abriu-lhe horizontes até então despercebidos. Esses novos recursos técnicos que agora lhe vinham às mãos, aliados à saudade da Pátria distante, evocadora de lembranças sonoras tão poderosas, favoreceram a construção desse edifício colossal que é a série de Choros.84
Podemos perceber nos Choros características interessantes adquiridas por Villa-Lobos
no início de sua vida. Porém é certo que incluiu em algumas composições influências
impressionistas nos Choros, como por exemplo a manutenção da rítmica do
SacreduPrintemps, de Stravinsky em alguns dos Choros.
Segundo Tacuchian, no artigo “Um Réquiem para Villa-Lobos”,
81 Ibidem. 82WAIZBORT, Leopoldo. Villa-Lobos: A invenção da Identidade Nacional (parte 1) PodCast site: OSESP. http://www.osesp.art.br/portal/paginadinamica.aspx?pagina=podcast acessado dia 16/07/2012. 83 Ibidem. 84 MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro. Belo Horizonte: 11ª Edição, Editora Itatiaia Limitada, 1989, p. 112.
52
A década de 20, foi o período da vanguarda modernista dos Choros, a série que representou o apogeu de toda sua obra. A Semana de Arte Moderna lhe dá o suporte filosófico e as viagens a Paris lhe dão a dimensão internacional.85
Este período foi o que podemos definir como a sagração intelectual do compositor, é
quando as influências da juventude já se manifestam claramente em suas composições, além
de se tornarem perceptíveis suas características artísticas individuais, o estilo que construiu. O
compositor insere, principalmente nos Choros, toda a audácia da vanguarda brasileira,
atualizando, segundo Tacuchian, a cultura brasileira, que até então estava muito presa aos
cânones europeus. Essa produção da época dos Choros se tratava de umainequívoca proposta
nacionalista de um universo sonoro inteiramente novo para o mundo, algo que havia
começado em esboço com Nepomuceno e estava se desenvolvendo rapidamente com as
composições de Villa-Lobos.
1.6 Terceiro tempo, Villa-Lobos de 1930 a 1945
Villa-Lobos retornou ao Brasil no segundo semestre de 1930. Durante uma curta
passagem por São Paulo o compositor, em contato com Júlio Prestes, então candidato à
presidência da República, apresentou seu plano para a educação musical nas escolas
brasileiras. Começa assim essa importante década para o compositor,quando sua principal
atividade seria reformar o ensino de música nas escolas brasileiras. Esta é a fase mais
institucional de Villa-Lobos, em que o compositor mal tem tempo para viagens.
Com a vitória da Revolução, o compositor que já se preparava para retornar à Europa,
foi convidado pelo interventor de São Paulo, João Alberto, para apresentar seu plano de
educação musical.
Em 1932 Villa-Lobos retornou ao Rio de Janeiro para dirigir a Superintendência de
Educação Musical e artística. De acordo com Vasco Mariz, Villa-Lobos realizou intensa
propaganda da educação popular por intermédio de grandes concentrações orfeônicas e
escreveu artigos em diversos jornais cariocas. Porém suas atividades educativas não pararam
nessas atividades, o compositor, no principio de 1933 organizou a Orquestra Villa-Lobos,
objetivando finalidades educativas, cívico-artísticas e culturais, afim de incentivar ainda mais
a música como importante ferramenta para a educação brasileira.
85 TACUCHIAN, Ricardo. Um Réquiem a Villa-Lobos. In Revista Brasiliana, nº 9, Setembro de 2001, pp. 18-19.
53
Na década de 30, Villa-Lobos passaria por acontecimentos traumáticos, como o da
separação de sua esposa Lucília, auxiliar direta e colaboradora, o que se deu em 1936, durante
uma viagem oficial a Praga e Viena. Separando-se de Lucília, por meio de uma carta enviada
do estrangeiro, veio depois escolher a professora Arminda Neves d’Almeida como
esposa,com a qual mantinha um caso amoroso durante algum tempo e com quem passou a
viver daí em diante até o fim de seus dias. Voltando ao Rio de Janeiro, não se dignou a se
encontrar com a esposa, mandando buscar seus pertences em sua casa.
Esta separação afetou seguramente as duas famílias envolvidas. Lucília se negou a
conceder o desquite e Arminda só pode usar o nome do compositor a partir de 1968, ano da
morte de Lucília Villa-Lobos.
Por mais condenada que fosse sua separação aos olhos da sociedade, isso não fez com
que Villa-Lobos parasse no tempo. O compositor continuou seu trabalho, regendo em 27 de
outubro de 1936 o oratório Colombo, no Teatro Municipal, por ocasião da comemoração do
centenário de Carlos Gomes. É deste mesmo ano, a Oração a Santa Cecília escrita em prosa e
lida no programa radiofônico oficial, de transmissão obrigatória, A Hora do Brasil. Foi
também em 1936 que Villa-Lobos criou o Bloco Carnavalesco “Sodade do Cordão”, pago
pelo próprio compositor para reviver um bloco nos moldes carnavalescos de 50 anos atrás.
No relatório intitulado “A música no Estado Novo”, 86 de 1940, pedido por Antônio de
Sá Pereira, então diretor da Escola Nacional de Música, a Gustavo Capanema, estão
relacionadas as mais importantes obras realizadas pelo Governo a partir de 30. Neste relatório,
podemos perceber o importante papel do compositor dentro do Governo, como por exemplo a
sua presença em Praga, no ano de 1936, para o Congresso de Educação Musical, onde
representou o Brasil, em viagem oficial, junto com Antônio de Sá Pereira.
Em 1940, o compositor chefiou a Embaixada Artística Educacional Brasileira, que
viajou a Montevidéu realizando conferências sobre a música brasileira. Neste mesmo ano, em
conjunto com o famoso maestro LeopoldStokowski, Villa-Lobos encaminhou ao maestro os
mais expressivos valores populares cariocas, e realizou uma série de gravações para a fábrica
Colúmbia, com música popular brasileira.
No ano de 1942, Villa-Lobos apresentou em primeira audição a Bachiana Brasileira nº
4 para orquestra. Em 1944 dirigiu uma série de concertos sinfônicos na Radio Nacional e foi
eleito membro correspondente da Academia Nacional de Belas-Artes da Argentina.
86 O relatório completo encontra-se no “Arquivo Capanema”, do acervo do CPDOC.
54
Como resultado da política de boa vizinhança dos EUA, o compositor recebeu em
1944 o título de “doutor em leis musicais” no Ocidental College, em Los Angeles, e no
mesmo ano o compositor estreou no país, através da Janssen Symphony de Los Angeles,
executando as composições 2ª Sinfonia, Rudepoema e o Choro nº 6.87
As Bachianas, composições de intensa polêmica na vida do compositor, são formadas
por uma série de nove obras que contrastam um pouco com tudo o que o compositor já havia
feito até aquela época.
Estas obras foram compostas em um período em que Villa-Lobos, tinha seu tempo
ocupado principalmente pelos problemas da educação musical no qual o compositor havia se
envolvido. Em suas Bachianas, Villa-Lobos claramente tenta uma nova estética, mais
nacionalista e menos revolucionária, em comparação com suas antigas composições, em que
procurou explorar o que podemos chamar de uma serenidade clássica.88
A onda febril das atividades modernistas da década de 20 abre espaço para o que pode
ser tratada como uma composição mais ordenada, mais clássica sim, porém com a mesma
inserção de temas brasileiros.
Ricardo Tacuchian, no artigo “Villa-Lobos uma revisão”, faz a seguinte afirmação:
Aqui Villa-Lobos abandona o vanguardismo da década de 20 e se apresenta mais contido, procurando uma síntese da obra de Bach com a tradição musical brasileira. Villa-Lobos observa que a obra de Bach se transforma numa espécie de ‘folclóre universal’ e encontrou, na obra do mestre da Turíngia, alguns pontos em comum com a música folclórica brasileira.89
Esta decisão de Villa-Lobos em abandonar sua posição radical da década passada e
iniciar uma nova forma composicional, que poderia ser classificada como “música de
Estado”, é o ponto interessante na vida do compositor. Cada Bachiana possui dois títulos, um
Bachiano e outro Brasileiro, demonstrando a circularidade das diferentes esferas culturais
dentro desta composição, uma forma proposital de enfatizar a “mistura” dos gêneros musicais
incorporados e os estilos dentro destas composições.
Embora, as Bachianas possam significar um recuo estético na obra do compositor, ela
também representa valiosa experiência de justaposição de determinados ambientes
87 GUIMARÃES, Luiz. Villa-Lobos visto da plateia e na intimidade (1912/1935). Rio de Janeiro: Editora Arte Moderna, 1975,p. 140. 88 Idem, p. 130. 89 TACUCHIAN, Ricardo. Villa-Lobos: Uma revisão. In Brasiliana : revista semestral da academia brasileira de música. Nº 29. Agosto de 2009, p. 12.
55
harmônicos e contrapontísticos de algumas regiões do Brasil, ao estilo de Bach e, sobretudo
da música dos chorões. 90
Trata-se de uma ocasião em que o caminho estaria aberto para a criação de grandes
enciclopédias Nacionais, dicionários, séries de livros, explorando cada aspecto da herança
Nacional, filmes brasileiros, a fundação de orquestras e coros, teatros e pesquisas científicas. 91 E às Bachianas se confere de certa forma este status de uma série de composições de
formato grandioso, enciclopédico, abordando diversas características nacionais em estilo
neoclássico.Aliás, é uma época em que "nacional" se usa à exaustão, muitas vezes no sentido
de "brasileiro", que lhe é sinônimo, mas que também uma chave importante para entender a
criação das Bachianas, pois foi justamente o surto nacionalista que lhe deu existência.
90 MARIZ, Vasco. Villa-Lobos o homem e a obra. Editora Francisco Alves, 12ª edição, 2005, p. 179.
91 FAGERLANDER, Aloysio M.R. Bachianas Brasileiras nº 6: Uma abordagem histórico-analitica-interpretativa. Dissertação de Mestrado, Escola de Música, Centro de letras e Artes, Universidade Federal Fluminense, p. 29.
2A MÚSICA EM TRANSIÇÃO: OS ANOS 20 E SUAS MUDANÇAS
Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição o
saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas
nas teorias, nas formas ortodoxas. Nunca porque o
meu livro era o Brasil na minha frente, mas a terra do
Brasil onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde
eu percorro. Cada homem que eu encontro no Brasil
representa uma forma estética na concepção musical,
cada pássaro que acorde o meu ouvido é um tema
onde se junta a outros temas invisíveis, imperceptíveis
e abstratos para tomarem forma física e forma sonora
em forma de música.
Villa-Lobos
57
2.1 A situação da música erudita nos anos 20
A década de 20 foi grandemente marcada pela influência do modernismo no Brasil,
um movimento artístico que ocorreu nos grandes centros culturais do país, propiciando o
surgimento de uma variedade de estéticas, frequentemente divergentes, o que criou uma
agitação de ideias “sem paralelo” na música e em outras manifestações artísticas.92
Ao estudar a música da modernidade, Jota de Moraes marca esta modernidade como o
momento em que se tentou imprimir à música mensagens específicas, como a metafísica,
como nas obrasde Mahler, Weill e Eisler, ou a impregnação do conteúdo político na música,
conforme fizeram Prokofiev e Shostakovich. Foi também um período com que se buscou uma
dessacralização da arte, através do uso de materiais considerados não-musicais, como fez o
futurismo italiano, por exemplo, ou através da ironia e do pastiche como forma de crítica
direta à música considerada “oficial”. Ao que parece, foi um momento em que os artistas,
principalmente os mais radicais, procuravam recriar a música de forma a desfazer e lançar no
esquecimento o que se teria feito até ali.
A fase romântica fora como afirma Mário de Andrade uma fase harmônica por
excelência e o desenvolvimento desta harmonia, seu enriquecimento e sua complicação
causada pelos processos de Wagner, César Frank, Richard Strauss e Debussy trouxe como
consequência a destruição desta harmonia em seu conceito clássico como uma tonalidade que
pode ser transportada para qualquer grau, que então assume o posto de tônica, porém de forma
única.93 Em 1929, Mário de Andrade trata das interações ocorridas na cultura musical dos
continentes:
O desenvolvimento da escola Russa, a exacerbação do exotismo, tinham posto em prática no romantismo os modos asiáticos, os do norte da África, as escalas deficientes e a escala por tons inteiros de que Debussy fez largo uso. Todos esses sistemas de sons vinham diretamente se contrapor às exigências da harmonia tradicional, obrigavam contemporizações, a verdadeiros sofismas na harmonização – porque de fato eles destruíam o conceito de harmonização. 94
Segundo Mário de Andrade o Romantismo havia exaurido ao máximo a harmonia,
tornando a notação cada vez mais individualizada, causando também uma maior dificuldade
92 MORAES, Jota de. Música na modernidade, origens da música do nosso tempo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1983, p. 13. 93 ANDRADE, Mario. Pequena História da Música. Belo Horizonte. Editora Itatiaia. 2003, p.197. 94 Idem.
58
para a escrita musical. E o movimento modernista, se utilizou-seda tonalidade como
parâmetro de criação. Os modernistas apresentaram as seguintes soluções – ou um golpe de
misericórdia - para este problema. A Atonalidade, criada por Arnoldo Schoenberg,
compositor nascido em Viena que até 1912 compôs em estilo pós-romântico, passando a
compor daí em diante conforme sua teoria dos doze tons, a escala dodecafônica,95 que não se
baseava na da tonalidade tradicional, fundamento da escala musical de até então. Embora a
composição dodecafônica tenha ficado tão somente em Schoenberg (que, aliás, acabou
desisitindo de compor com doze tons), provocou uma onda de experimentos musicais dentre
os quais citam-se compositores como Kreneck, Hindemith, Honneger, Bela Bartok, Webern e
outros.96
Outra tentativa de resolver esta questão da tonalidade foi a criação da politonalidade,
uso simultâneo de duas ou mais tonalidades, posto em uso por Stravinski compositor Russo
que se popularizou por três bailados “O pássaro de fogo”, “Petrouchka” e “O Rito da
Primavera”.97 A Politonalidade reconhecia as tonalidades e as utilizava utilizando sons
simultâneos da harmonia, ritmos e melodias simultâneas da polifonia.
Dentre autores brasileiros que se utilizaram deste formato estiveram Lorenzo
Fernandes, no “Quinteto de Sopros”; Francisco Mignone, na “Fantasias Brasileiras” e no
“Maracatu de Chico Rei”; Camargo Guarnieri, na “Suíte Infantil”. DariusMilhaud, o
compositor francês tão ligado a Villa-Lobos e à cultura musical brasileira também se
notabilizou pelas composições em base polifônica.98 Como uma terceira forma de lidar com a
tonalidade temos a Tonalidade fugitiva de Machabey, que pensava num modelo de modulação
que consiste na passagem duma tonalidade fixa para outra tonalidade igualmente fixa. Mário
de Andrade define a tonalidade evasiva como a que vive a fugir de si mesma, e usa como
exemplo o próprio Villa-Lobos, com uma manifestação de tonalidade evasiva na deformação
tonal que ele impõe à melodia popular que empregou no “Cavalinho de Pau”, na “Prole do
Bebê nº 2”. 99
95 MARIZ, Vasco. Dicionário Bio-Bibliográfico Musical (brasileiro e internacional). Rio de Janeiro. Livraria Kosmos Editora. 1948. p. 207. 96 ANDRADE, Mario. Pequena História da Música. Belo Horizonte. Editora Itatiaia. 2003, p. 201. 97 MARIZ, Vasco. Dicionário Bio-Bibliográfico Musical (brasileiro e internacional). Rio de Janeiro. Livraria Kosmos Editora. 1948. p. 219. 98 ANDRADE, Mário. Pequena História da Música. Belo Horizonte. Editora Itatiaia. 2003, p. 201. 99 Idem.
59
Como exemplo de tentativas de expansão máxima da tonalidade temos também o
impressionismo, que faz a suspensão das relações tonais, e o expressionismo que se utiliza de
todas as referências tonais de forma indiferenciada. No que tange à negação da tonalidade
temos o futurismo além dos já citados acima. A arte musical moderna propõe problematizar a
produção e a recepção musical, deixando de oferecer tão somente deleites, em ambientes para
divagações ou sonhos, para então sacudir os indivíduos, para propor novas atitudes e os
obrigar a rever certos conceitos tradicionais.100
DariusMilhaud, que vivera no Rio de Janeiro, entre 1917 e 1918 como Secretário da
Embaixada francesa teve grande importância no estudo dos antecedentes do modernismo
musical no Brasil, como um compositor que teria apresentado a música Europeia
contemporânea aos compositores iniciantes Villa-Lobos e Gallet, com os quais conviveu
durante sua estadia no Rio. De volta à França, Milhaud formou juntamente com Poulenc,
Honneger, Auric, GermaineTailleferre e Louis Durey o Grupo dos Seis, de tendência
marcantemente vanguardista, que influenciou de certa forma a Semana de Arte Moderna de
1922.
Sua palavra de ordem, no panorama inquieto do começo do século, momento crítico da superação da tonalidade na criação musical, é a politonalidade, isto é, a projeção simultânea de várias linhas tonais em um só bloco (minando o estatuto de polaridade exclusiva da tônica pela superposiçãode várias tônicas em atrito). As experiências politonais de Milhaud já amadureciam na época em que o compositor esteve no Brasil, e a essa técnica ele submeteu vários temas de origem popular que utilizou em suas obras. 101
Milhaud teria contribuído para o modernismo que surgiria no Brasil alguns anos após
sua partida, pois manteve-se em contato com intérpretes e compositores brasileiros que
estavam especialmente motivados para a música francesa. Também o público brasileiro tinha
conhecimento das obras de Milhaud, sendo que algumas foram incluídas em programas de
concertos, sendo a sua “Première Simphonie” apresentada no Rio sob a regência de Francisco
Braga.102Milhaud, de certa forma, não foi o único a influenciaros novos compositores
brasileiros, nem Milhaud foi o único compositor europeu de vanguarda a ser levado em
conta, sendo sua influência, de certa forma, muito menor do que se costuma afirmar. Sua
presença no Brasil fez porém com que se deixasse influenciar pela música popular Brasileira,
100 MORAES, Jota de. Música na modernidade, origens da música do nosso tempo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1983, p. 25. 101 WISNIK, José Miguel. O Coro dos contrários, a música em torno da semana de 22. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 2ª edição, 1983, p. 40. 102 Idem, p. 42.
60
incorporando os seus elementos típicos rítmicos e melódicos à sua musica, conforme vemos
em “Saudades do Brasil”, e na suíte de balé “O Boi no telhado”, esta última talvez a maior
aproximação de contribuição de Milhaud com a música brasileira. Devemos a ele a exortação
que fez sobre o uso efetivo do folclore e da música popular urbana nas composições eruditas:
É lamentável que todos os trabalhos de compositores brasileiros desde as obras sinfônicas ou de música de câmara de Nepumoceno e Oswald até as sonatas impressionistas ou as obras orquestrais de Villa-Lobos (um jovem de temperamento robusto, cheio de ousadias) sejam um reflexo das diferentes fases que se sucederam na Europa de Brahms a Debussy e que o elemento nacional não se exprima de maneira mais viva e mais original. A influência do folclore brasileiro, tão rico em ritmos e duma linha melódica tão particular, faz-se sentir raramente nas obras dos compositores cariocas. Quando um tema popular ou um ritmo de dança é utilizado numa obra musical esse elemento indígena é deformado pois porque o autor o vê através dos olhos de Wagner ou de Saint-Saens, se ele tem sessenta anos, ou dos de Debussy, se tem apenas 30.103
Milhaud e o Grupo dos Seis, que pregavam o anti-debussysmo, se inspiravam em um
movimento intensamente nacionalista enquadrado nos demais movimentos que surgiram no
pós-guerra francês. O Grupo dos Seis buscou resgatar a originalidade de música francesa
separando-a das influências alemãs e russas, e de músicos que eles julgavam não ser
totalmente originais, criticando importantes compositores como Debussy.
O Grupo dos Seis priorizava uma clareza arquitetônica da composição pela polifonia
sumária e, além disso, o Grupo previa a utilização intensiva da música popular que se tocava
nos bailes de subúrbio, nas feiras, nos cafés-concerto, nos circos. Como afirma Wisnik, “se a
cultura brasileira parece possuir uma imensa 'matéria-prima', o meio europeu parece possuir a
'técnica mais avançada' para resolvê-la estilisticamente”. 104
Podemos perceber este Grupo criando numa vanguarda do pensamento musical, no
final dos anos 1910 na França, enquanto no Brasil mais de uma década depois observava-se
ainda um considerável atraso. De fato, ao contrário da literatura, a criação musical brasileira
andou quase sempre um passo atrás da música europeia. A ausência da base folclórica e
musical popular nas composições eruditas brasileiras continuou assim pela década de 20,
levando Mário de Andrade a reagir a tal falta de inspiração popular, escrevendo o que seria
uma espécie de manual da música erudita brasileira, dando início ao nacionalismo musical. 105
103 Idem, p. 45. 104 Idem, p. 46. 105 MORAES, Jota de. Música na modernidade, origens da música do nosso tempo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1983, p. 127.
61
A década de 1920 é talvez a menos conformista de Villa-Lobos, com a busca de
materiais e o uso de combinações instrumentais desusadas, o que acabou por gerar a
importante série dos Choros. Segundo Jota de Moraes, aquela foi “sua melhor realização no
que diz respeito à tentativa de fundir em todos os elementos orgânicos provenientes de faixas
distintas de atividades da música erudita e da música popular”, e isso se tenha dado talvez por
influência de sua estadia em Paris e pela receptividade do ambiente musical que havia
encontrado por lá.106
2.2 A música erudita na Semana de 22: Villa-Lobos, a música e os intérpretes
Para tratar da Semana de Arte Moderna de 1922, acredito ser importante apresentar
uma pequena Cronologia dos fatos que concorreram para seu advento no Brasil, pois alguma
coisa já se produzia de “moderno” no período anterior à Semana, como podemos perceber na
cronologia abaixo:
1911 — Oswald de Andrade funda o periódico "O Pirralho".
1912 — Oswald de Andrade chega ao Brasil trazendo da Europa o conhecimento de novas
formas de expressão artística, como as de Paul Fort e as sugeridas pelo "Manifesto
Futurista" do poeta italiano Marinetti. Na Europa surgem as primeiras colagens de
Braque e Picasso, possíveis origens do cubismo.
1913 — Exposição do pintor Lasar Segall em Campinas.
1915 — O poeta Ronald de Carvalho participa no Rio da fundação da revista "Orfeu",
dirigida em Portugal por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro.
1917 — Exposição de Anita Malfatti. O escritor Monteiro Lobato escreve o artigo "Paranóia
ou Mistificação?", onde critica vigorosamente as inovações na pintura de Anita
Malfatti e se envolve em uma polêmica com os principais artistas do movimento
modernista.
1920 — Oswald de Andrade e Menotti del Picchia fundam a revista "Papel e Tinta". Graça
Aranha publica "Estética da Vida". Victor Brecheret expõe as maquetes do
monumento às Bandeiras (a ser erigido na cidade de São Paulo). Exposição de Anita
Malfatti e John Graz.
106 Idem, p. 129.
62
1921 — Oswald de Andrade publica "Meu Poeta Futurista" e Mário de Andrade responde
com "Futurista?!". Mário de Andrade publica o artigo "Mestres do Passado".
Através desta breve cronologia podemos perceber que movimentos pré-
revolucionários já acorriam havia algum tempo, com manifestações artísticas já notadas em
um grupo muito seleto de artistas que haviam travado contato com essas formas
revolucionárias durante suas viagens. É nítido que a modernidade não surge no Brasil em uma
data determinada.
A Semana de Arte Moderna aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no
Teatro Municipal de São Paulo. E foi esse o contexto político que justificou sua existência:
Na Europa o período denominado entre-guerras caracterizou-se por uma profunda crise econômica, social e moral que atingiu os países capitalistas na década de 20. Os liberais sentiam-se derrotados. A Revolução Russa e a barbárie da Primeira Guerra mergulharam os liberais ilustrados e seu projeto de esclarecimento num paradoxo. A partir de então a idéia de um progresso contínuo e inevitável perdeu um pouco o sentido que porventura lhe restava. A falência desse projeto significou também um questionamento profundo a uma determinada ideia de razão e de racionalidade em política, em cultura e em arte, como veremos adiante. Os intelectualismos e nacionalismo beligerantes. A brecha para o fascismo estava aberta.107
Mário de Andrade afirma que após o morticínio da Primeira Grande Guerra, surgiram novos
governos, sistemas renovados de ciência, assim como artes novas. Para ele “a forma principal com
que se manifestou esse precipitar de ideias humanas, foram estes ideais que se generalizarem
universalmente e assumiram tal correspondência com a atualidade, que o que não se relacionava
com essas manifestações, cheirava a século dezenove, cheirava a mofo, era passadismo”.108
A Semana representou um marco na sociedade brasileira, um divisor de águas,
inserindo-se na tradição de ruptura da qual se caracteriza a ideia de modernidade, ou seja, a
oposição entre o velho e o novo. O movimento modernista instalou-se como confronto e
afirmação de tendências. Tratava-se de um:
ideário estético onde entram os conceitos de simultaneidade, de síntese, de deformação (contestando a ilusão da arte como mera imitação do real), une o esforço para alargar o âmbito de sua visão da sociedade. O modernismo teria correspondido, assim, a “um esforço - em parte vitorioso – para substituir a uma expressão nitidamente de classe (como a dos anos 1890-1920) uma outra, cuja fonte inspiradora e cujos limites de ação fossem a sociedade total.109
107 ALAMBERT, Francisco. A Semana de 22, A aventura modernista no Brasil. São Paulo: Editora Scipione, 2ª Edição, 1994, p. 8. 108 ANDRADE, Mário. Pequena História da Música. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 10ª Edição. 2003, p. 194. 109 WISNIK, José Miguel. O Coro dos contrários, a música em torno da semana de 22. São Paulo: Livraria duas cidades, 2ª edição, 1983, p. 64.
63
A semana tornou-se um divisor de águas que se traduziu num marco para a
transformação da sociedade artística brasileira, visando a superação total da "arte velha",
apesar da Semana não chegar a ser propriamente uma realização acabada de modernidade.
Teria sido porque a Semana aconteceu em São Paulo?
Uma das possibilidades da Semana ter ocorrido em São Paulo teria sido como uma
reação da elite paulista, ciosa por assumir um papel de destaque no âmbito da intelectualidade
nacional. Era como uma espécie de oposição ao papel do Distrito Federal, até então símbolo
do desenvolvimento cultural de influência europeia. Além disso São Paulo era a segunda
maior cidade brasileira e a economia do Estado a mais importante do pais.
Os organizadores da Semana de 22 puderam contar com o apoio financeiro e moral de
alguns membros destacados da Elite paulistana, sem o quefatalmente o acontecimento da
Semana não teria sido possível. Dentre os mecenas da Semana de Arte Moderna encontramos
Paulo Prado, o mais entusiasmado, e ainda outros:
Patrocinaram essa iniciativa os Senhores Paulo Prado, Alfredo Pujol, Oscar Rodrigues Alvarez, Numa de Oliveira, Alberto Penteado, René Thiollier, Antônio Prado Júnior, José Carlos Macedo Soares, MartinhoPrado, Armando Penteado e Edgar Conceição.110
A Semana tinha como objetivo mais importante o de transmitir um novo modo de
pensar as artes, pois representava o pioneirismo paulista no campo do que seria a expressão da
Arte Nacional a partir daquele momento. Intelectuais como Mário de Andrade representavam
o pensamento da elite paulistana sobre o que seria ideal para a Nação. O desenrolar dos anos
posteriores à Semana provaram que os próprios intelectuais da Semana foram deixando para
trás antigas influências europeias que haviam incorporado ao longo de suas formações
intelectuais, procurando mais nitidez em sua posição nacionalista e em suas concepções
estéticas, firmando-se no cenário intelectual brasileiro com uma inequívocaconsciência
nacional criadora, que, de fato, em alguns casos, lograram conseguir. Eis como Menotti Del
Picchia, retrospectivamente, viu a Semana, como um esforço paulistano:
Dez anos!, Caramba! O tempo metralha os dias como a cinta de uma arma automática! Vai para uma década que se realizou em São Paulo, o Estado líder da Federação, A Revolução intelectual do Brasil.111
110 Entrevista a Di Cavalcanti. Di Cavalcanti conta como convidou Paulo Prado para fazer uma Semana de Escândalos. Revista da Semana de 22/07/1952. 111 PICCHIA, Menotti del. A “Semana” revolucionária. Organização, apresentação, resumo biográfico e notas: Jácomo Mandatto. Campinas, São Paulo. Ed. Pontes. 1992, p. 27.
64
Tomado como um dos arautos do modernismo brasileiro, Paulo Menotti Del Picchia
(1892-1988) teve grande participação no movimento modernista de 1922. Assim Del Picchia
sintetiza a participação de pessoas e instituições naquele surto modernista:
Como um dos líderes do movimento revolucionário das artes no Brasil e porta-voz do célebre evento, através das páginas do Correio Paulistano, Menotti já anunciava, a 7 de fevereiro de 1922, em sua “Crônica Social”, nesse jornal, a realização da Semana por uns “endiabrados e protervos futuristas de S. Paulo – escola mental de nossa gloriosa terra avanguardistas”. Seria “uma semana histórica na vida literária do país”, a cuja frente estavam “nomes consagrados, aplaudidos em todo o país como Graça Aranha, Guiomar Novaes, Brecheret, Ronald de Carvalho, Villa-Lobos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, uma dezena de outros, dos quais o mais nanico, o mais insignificante é Hélios. 112
Del Picchia se declarou um batalhador “encarniçado” pelo triunfo do “Futurismo”
paulista; muito de seu esforço foi aplicado para que acontecesse a Semana. Um fator
interessante é que na matéria do dia 7 de fevereiro de 1922, acima citada, Del Picchia utiliza o
termo futurista de forma despreocupada, porém no dia 17 de fevereiro de 1922, em sua
conferência, no transcorrer da Semana, ele afirmou que o termo “futurista” lhes foi
erroneamente etiquetado, pois como afirmou “Não somos, nem nunca fomos “futuristas”. Eu,
pessoalmente abomino o dogmatismo e a liturgia da escola de Marinetti”.113 Apesar de que
aspectos futuristas foram claramente apresentados na Semana, não só em trechos de sua
Conferência como no poema do passeio no automóvel Ford, declamado por Mário de
Andrade, existiu sempre a necessidade primária de reafirmar o caráter nacional do
acontecimento. E isto ficou ainda mais claro em vista à reação dos Modernistas durante a
visita de Marinetti ao Brasil quatro anos após a Semana.
Del Picchia considerava a visita de Marinetti incômoda, e indesejável. Afinal
Marinetti foi o criador de uma concepção estética da qual Menotti Del Picchia havia lutado
para se desligar, e, por isso, era insuportável que, naquela altura, ainda fosse taxado de
futurista por seus adversários. Em seu artigo intitulado “Para que Marinetti?” escrito para o
Correio Paulistano, em 12 de maio de 1926, Del Picchia discorre sobre críticas e acusações
de passadismo ao escritor italiano:
Viajando na confortável cabina do “Giulio Cesare”, Marinetti vinha como o “cadáver de um rei empalhado”. Merecia necrólogios reverentes, nome em praça pública e retrato nas histórias da literatura e livros de grupo escolar pelo que tinha feito no passado, mas nada mais tinha a dizer. Não havia motivo para a missão de Marinetti ao Brasil, a não ser que “turbulento panfletário dos manifestos” viesse
112 Idem, p. 7. 113 Ibidem, p.8.
65
aprender “conosco alguma coisa nova”, porque os “bárbaros do novo mundo” é que eram os genuínos detentores do espírito Novo, os verdadeiros “mestres instintivos de todas as revelações de amanhã”, porque o destino histórico os havia escalado para serem os “portadores do verbo ainda irrevelado.114
Não se trata tão somente de um jogo de forças entre criadores de pensamento, mas
também de um embate entre distinções nacionais ideologicamente matizadas. Os modernistas
por se tratarem de um grupo formador da Identidade Nacional Artística Brasileira, não
poderiam coadunar, com um pensador estrangeiro que simbolizava o estrangeirismo, a
importação de ideias, mesmo tendo o pensamento daquele pensador algumas características
em comum com esses homens.
Cassiano Ricardo, outro modernista, também pregou a respeito da falta de importância
de Marinetti para os Modernistas brasileiros, exaltando o papel dos vanguardistas paulistanos,
como podemos perceber no excerto abaixo de sua matéria escrita no Correio Paulistano no
mesmo período:
O de que carecíamos já foi conquistado: era a alforria mental do país, ligado umbilicalmente ao peso morto de uma Civilização valetudinária. Respiramos, em plena manhã brasileira, o aroma das nossas coisas. Celebramos a aliança do homem moderno com a terra bárbara e maravilhosa, que é toda um tesouro de motivos estéticos. Por que Marinetti?115
Após tanta divergência quanto à presença de Marinetti em São Paulo, nenhum
modernista paulista participou da primeira conferência de Marinetti, no Cassino Antártica,
ausência de público que não ocorrera em sua primeira apresentação no Rio de Janeiro, onde
figuras como Graça Aranha e Manuel Bandeira o receberam na cidade e lhe serviram de
cicerones. A ausência destes Modernistas se tornou então debatida na imprensa,
principalmente por seus adversários que tendiam a aproximá-los esteticamente de Marinetti e,
portanto, cobravam sua presença nas conferências do escritor italiano, declarando
posteriormente que os Modernistas Paulistas “Brilharam pela ausência” nas apresentações do
criador do futurismo. O mais curioso foi a ausência de Mário de Andrade nos debates sobre
Marinetti nesta primeira viagem. O silêncio então produzido pelo talvez mais futurista dos
Modernistas demonstra bem a posição defensiva do movimento paulista que se iniciou sob
114BARROS, Orlando de. O Pai do futurismo no País do Futuro: As viagens de Marinetti ao Brasil em 1926 e 1936. Rio de Janeiro, E-papers, 2010, p. 127. O autor cita trechos do artigo de Menotti Del Picchia “Para que Marinetti?”, publicado no Correio Paulistano de 12/05/1926. 115BARROS, Orlando de. O Pai do futurismo no País do Futuro: As viagens de Marinetti ao Brasil em 1926 e 1936. Rio de Janeiro, E-papers, 2010, p. 131. O autor cita trechos do artigo de Cassiano Ricardo “Marinetti, semeador de beleza e mocidade”, publicado no Correio Paulistano de 18/05/1926.
66
influência estrangeira e se transformou em Nacional, ou pensou que já tivesse se transformado
em nacional.
A defesa dessa autonomia estética por parte de alguns modernistas paulistas demonstra
o que foi o real interesse de parte da Semana e de seus idealizadores, ou seja, a vontade de
colocar São Paulo na vanguarda artística e intelectual brasileira, da mesma forma que São
Paulo alcançava a dianteira econômica e industrial, havendo portanto necessidade de rejeitar
as demais influências que pudessem ter raízes no passado. A Semana afirma-se, portanto,
como um acontecimento brasileiro, e especialmente paulista, no sentimento de seus
organizadores, sem conceder espaço para influências estrangeiras. E vão alguns modernistas
paulistas, de certa forma, se tornando ultranacionalistas, em alguns setores, conservadores e
adeptos do totalitarismo, que acabaria em 1932 por engrossar as fileiras do integralismo, ou se
apresentando para bem servir ao Estado Novo, como Menotti Del Picchia no DIP. Del
Picchia, anos depois, assim explica como isso se deu:
A “Semana de Arte Moderna”, como sempre dizia aos meus bravos companheiros de jornada, não se lindava nos propósitos estéticos: ela possui uma radiosa projeção política. Levou para a imprensa e para os Parlamentos o sentido pragmático do idealismo orgânico, a investigação sistemática das nossas realidades, redoiradas de um novo otimismo, não feito da ideologia libertária que acaba de desgraçar o país, mas traçando as linhas mestras das suas futuras reformas. Foi treslendo seus propósitos, não compreendendo seus princípios e desnaturando seus fins, que os incultos “leaders” da revolução de outubro, aproveitando, pelos artifícios da demagogia, as forças novas despertadas do inconsciente do nosso povo, que tentaram a mais sinistra aventura nacional.116
Menotti Del Picchia nos dá uma lição sobre posições agressivas tomadas em relação à
Semana. Ao escrever para o Correio Paulistano no dia 16 de fevereiro de 1922 sob o
pseudônimo Hélios, ao fazer uma balanço sobre a estreia da Semana, finaliza afirmando que
os denegridores do movimento estético paulistano um dia adeririam penitenciados ao
modernismo que ele tentava através de suas palestras definir. Porém foi o próprio Del Picchia
quem deve ter se arrependido de sua posição em 1926, pois em 1936, quando da segunda
visita de Marinetti ao Brasil, Del Picchia teria então papel importante em sua apoteótica
recepção. A propósito, naquela altura, o regime de Vargas caminhava rapidamente para o
golpe do Estado Novo, assumindo uma feição policialesca e direitista, com a qual Del Picchia
iria colaborar.117
116 PICCHIA, Menotti del. A “Semana” revolucionária. Organização, apresentação, resumo biográfico e notas: Jácomo Mandatto. Campinas, SP. Ed. Pontes. 1992, p. 30. 117BARROS, Orlando de. O Pai do futurismo no País do Futuro: As viagens de Marinetti ao Brasil em 1926 e 1936. Rio de Janeiro, E-papers, 2010, p. 135.
67
Em texto de 1953 Del Picchia declara a importância destes acontecimentos para a
realização da Semana de 22:
O estudo das razões que bruscamente determinaram a insurreição intelectual de 1922, pode hoje ser aprofundado à luz da ciência. Era entre nós essa data o registro oficial da onda que se formou pelo encontro de dois ciclos sociais em choque. Aliás, os anjos anunciadores do cataclisma foram os artistas de todas as nações. Um ponto de partida é certamente o movimento “impressionista” da França. Quebrando a rigidez da prática acadêmica, com seu pacífico mas arcaico equilíbrio de forças harmônicas, o campo da arte seria invadido pela generosa horda dos bárbaros [...] Quando a revolução da técnica determinou o ocaso do Ocidente [...] o gênio do artista debordou por todos os caminhos desesperado que andava por se ter, durante toda a Guache burguesa, encerrado no cemitério dos museus, agora sequioso de sol e de aventuras, enlouquecido pela volúpia libertária da pesquisa que em todos os campos da arte, já podia brincar com o próprio absurdo, orgia generosa e criadora de bárbaros! Quebra de ritmo! Infância advinhadora, interjetiva, limpa de alma, entregando-se ao gosto inaugural de novas descobertas: impressionismo francês, futurismo italiano, expressionismo alemão, surrealismo, dadaísmo, abstracionismo[...] no campo da música, foi da insurreição de Satie ao dodecafonismo de Schoenberg; na pintura, do impressionismo de Monet e Cézane ao abstracionismo de Kandinsky e nas letras, do jogo malabar das “palavras em liberdade” de Marinetti à investigação estética e erudita da linguagem como material mágico e lírico em James Joyce ou de cristalização sintética em Valéry, Ungaretti.118
Para compreender esta discussão devemos considerar o fato de que a partir da segunda
metade da década de 20 a discussão sobre o nacionalismo cultural e político se tornou o ponto
nevrálgico para a maioria dos intelectuais e artistas do período. Ocorria no contexto
internacional a ascensão do ultranacionalismo, muitas vezes coincidente com os movimentos
totalitários europeus, com franco declínio das instituições republicanas de caráter liberal,
paulatinamente substituídos pelo ideário nacionalista, imposto por setores da política e das
forças armadas.
Nessas circunstâncias, como afirma Francisco Alembert, tentar responder as questões
sobre a vida política e cultural da Nação passou a ser uma tarefa fundamental para os
modernistas e cada resposta indicava um caminho diferente, normalmente excludente do
outro, “Alinhando-se mais à direita ou mais à esquerda, conforme o caso, todos reivindicando
a verdade sobre o “sentido” da cultura brasileira, sobre a definição mais correta da nossa
realidade”.119
Francisco Alembert assim resumiu a aproximação extremista de Del Picchia com o
líder do movimento integralista:
118 PICCHIA, Menotti del. A “Semana” revolucionária. Organização, apresentação, resumo biográfico e notas: Jácomo Mandatto. Campinas, SP. Ed. Pontes. 1992, p.43. 119 ALAMBERT, Francisco. A Semana de 22, A aventura modernista no Brasil. São Paulo: Editora Scipione, 2ª Edição, 1994, p. 66.
68
Em sua coluna jornalística, Menotti Del Picchia e Plínio Salgado deram o tom “verdeamarelo” a esse debate. Idealizavam uma cultura xenófoba, ultra-nacionalista, reticente a toda influência exterior. Na ânsia de procurar interpretar o Brasil, baseavam-se em mitos que se tornavam dogmas irracionais, com apelos à Terra, à Raça, ao Sangue. Em nome de uma suposta integridade nacional, rejeitavam a liberdade de expressão e a pesquisa estética, para celebrar a subserviência da criação aos parâmetros da brasilidade que eles mesmos definiam a impunham como valor incontestável de verdade. Aos “olhos para o futuro”, que o primeiro tempo modernista indicava, os verdeamarelos opõem “os olhos voltados para o passado”, um passado mítico, irreal, idealizado, povoado por uma disciplina opressiva, no qual, paradoxalmente, queriam inventar o futuro.120
O trecho acima indica, na verdade, uma contradição básica, a de que o
ultranacionalismo dos modernistas brasileiros era quase todo inspirado no europeu, portanto
importado e adaptado às circunstâncias. O que podemos compreender dos exemplos surgidos
ao longo desta discussão, é que a Semana de 1922 representou uma conscientização de que o
movimento intelectual encontrava-se defasado no Brasil, e que seus desdobramentos
caminharam para uma inevitável radicalização do pensamento, efeito sentido em todo o
mundo naquele período. Apesar de alguns dos modernistas não se tornarem radicais, são estes
radicais que se unirão ao projeto de Governo implantado por Vargas durante seu período no
poder, e é esta intelectualidade que produzirá o que será mais tarde, toda a inteligência por
trás do governo varguista.
A posição de Del Picchia em rechaçar a visita de Marinetti, ilustra muito bem este
momento de agudização ideológica, radicalização essaque ocupou parte dos componentes da
Semana durante a segunda metade da década de 20. Nesta questão podemos fazer uma ponte
entre Del Picchia e Villa-Lobos. O maestro durante esta mesma década, nunca aceitou ou
admitiu a influência de compositores estrangeiros nas suas composições, alegando que em
suas viagens ao exterior, nunca as fez como um estudante, e sim como um apresentador e
divulgador de sua arte, e da imaginação musical brasileira.
Se fazia sumamente necessário defender suas bases nacionalistas principalmente
durante o final da década de 20 e o resultado destas defesas, se tornarão claras ao longo dos
quinze anos em que ficou no poder Getúlio Vargas. Del Picchia e Villa-Lobos tiveram uma
relação muito próxima, da qual não se tem noticia sobre qualquer abalamento, e ambos
permaneceram durante quase todo o Regime Vargas aliados ao Estado, defendendo sempre
posições nacionalistas, tendentemente totalitárias, cada qual em sua área de influência e
atuação.
Do que representou a Semana de 22 ao longo do tempo podemos tomar interessante
lição de Cassiano Ricardo, ao analisar o acontecimento vinte e quatro anos depois:
120 Idem, p. 67.
69
O modernismo cumpriu sua missão, ficaram-nos as suas conquistas, que hoje ninguém desconhece. O que passou, como era natural foi a fase polêmica. De atitude que era inicialmente, o modernismo passou a ser um “estado” de espírito. Mas quem negará a mudança operada pelos revolucionários da Semana de Arte moderna?[...] Não nos devemos esquecer, como nos diz Gilberto Freire em um artigo sobre Otávio Brandão – de que um dos objetivos do movimento foi justamente esse: Descobrir o Brasil e estudar a gente brasileira121
O desdobramento da Semana serviu para dar maior nitidez a um movimento que já se
desenvolvia em alguns lugares da Nação, como um ponto de apoio para que músicos, literatos
e artistas plásticos pudessem congregar suas diferentes ideias, de forma a combater os
cânones da Arte que já estavam instituídos, utilizando-se do folclore como matéria prima
básica para essa experiência. Como afirma Wilson Coutinho, a Semana de fato deslocou para
um canto da história e dos Museus todo um vocabulário, todo um paradigma formal:
Ela liquidou um tempo. Na sua destruição do passado, criou cânones que se tornariam dominantes e vencedores. Primeiro inventou novas normas para a percepção da obra de arte; introjetou a ideologia da modernidade, que irrigará os mais diversos conteúdos políticos do país, de Getúlio a JK, dos Regimes Militares até o atual presidente, como se modernidade passasse a ser a nossa única ideologia avançada.122
A Semana representaria a partir de seu acontecimento, a força motriz para os
processos de transformação da Nação, trazendo para si até os dias atuais o título de
movimento iniciador de um pensar nacional, mantendo seu significado vivo. Porém isto não é
tão certo assim, pois percebe-se que os modernistas sofreram influências de diversas correntes
estéticas e esferas de pensamento, principalmente no campo musical.
121 Almeida Fischer. Cassiano Ricardo e o modernismo. Letras e Artes: Suplemento de Amanhã, 15/02/1946. 122 Wilson Coutinho. Semana de Arte Moderna. Ideias/Ensaios. Jornal do Brasil, 09/02/1992.
70
Villa-Lobos e Vitoria delosÁngeles gravando a Bachiana número 5 em Paris
2.3 A música e a Semana de Arte
Os músicos modernistas brasileiros tiveram como emuladores básicos o Grupo dos
Seis francês e o compositor russo Stravinsky. Em 1925, em famoso discurso, Graça Aranha
insinuou que os compositores brasileiros se deixavam levar por Claude Debussy, o que o
desagradava. E tal insinuação recaía principalmente sobre Villa-Lobos, realmente
influenciado por Debussy em suas primeiras composições camerísticas. Efetivamente, durante
a Semana de 1922, Debussy fez parte do programa, na apresentação da famosa pianista
Guiomar Novaes. Porém, segundo José Miguel Wisnick, a música teve principalmente um
papel secundário na Semana, preenchendo o tempo do espetáculo e atraindo o público com
figuras grandemente conhecidas, como Guiomar Novaes e Ernâni Braga que, independentes
de serem modernistas, serviram como pólo de atração, chamando mais espectadores do que o
próprio Graça Aranha, então figura muito conhecida nos meios cultos brasileiros. Para
Wisnick a música mais do que oferecer como as outras artes uma “amostra daquilo que de
71
mais arrojado se fazia no Brasil em seu tempo” serviu para mediar o público e as cúpulas
organizadoras do movimento.123 Outro detalhe importante foi a questão da inserção dos
músicos no debate sobre o modernismo.
Os músicos envolvidos na Semana de Arte, eram profissionais habitualmente
contratados por Villa-Lobos, que executavam suas peças no Rio de Janeiro. Portanto, já
estavam acostumados com o compositor e não participaram dos debates relativos à
organização da Semana, nem tinham convicções estéticas a discutir ali. Alguns dos virtuoses
deixaram claro sua discordância com as ideias modernistas, com notas de desagrado em
jornais ou discordâncias no tocante à execução das partituras, como foram os casos de
Guiomar Novaes e Ernâni Braga. Encerrada a Semana, Guiomar Novaes fez a seguinte
declaração pública:
Em virtude do caráter bastante exclusivista e intolerante que assumiu a primeira festa de arte moderna, realizada na noite de 13 do corrente, no Teatro Municipal, em relação às demais escolas de música, das quais sou intérprete e admiradora, não posso deixar de declarar aqui o meu desacordo com esse modo de pensar. Senti-me sinceramente contristada com a pública exibição de peças satíricas à música de Chopin. Admiro e respeito todas as grandes manifestações de arte, independente das escolas a que elas se filiem, e foi de acordo com esse meu modo de pensar que, acedendo ao convite que me foi feito, tomei parte num dos festivais de Arte Moderna.124
Guiomar Novaes, reconhecida virtuose no piano, se recusou a defender tamanhos
avanços musicais defendidos pelos modernistas. A criação a que se refere Guiomar Novaes é
uma pequena peça de Satie chamada D’Edriophthalmae trata-se da segunda peça da série
tripartite dosEmbroyonsdessechés, peça que faz uma paródia da “Marcha Fúnebre” de
Chopin. Vemos na música de Satie um exemplo claro da influência do Grupo dos Seis na
organização do programa musical da Semana.
O caso de Ernâni Braga é quanto ao desacordo com a execução da “Fiandeira”, de
Villa-Lobos, que foi executada na Semana. Villa-Lobos defendia que o final da música em
sua execução exigia uma pedalização, o que na opinião Ernâni Braga causaria um efeito
excessivamente cacofônico, fazendo que, com durante a execução, o pianista a transformasse
em uma versão confusa, executada em meio ao nervosismo, à agitação da plateia e à pressão
do criador da peça.
A Semana de Arte Moderna na sua execução musical não possuía em suas fileiras
muitos músicos engajados no ideal modernista. Villa-Lobos era a maior representação do que
123 WISNIK, José Miguel. O Coro dos contrários, a música em torno da semana de 22. São Paulo: Livraria duas cidades, 2ª edição, 1983, p. 67. 124 Ibidem, p. 77.
72
mais fosse “Nacional” na Semana, mas não apresentou um repertório tão representativo do
moderno. Como conclui Wisnick, e devo concordar com ele, a maior contribuição dos
músicos participantes da Semana foi o brilhantismo de suas apresentações, o que foi
vastamente noticiado nos jornais que acompanharam e noticiaram a Semana, sem defender no
entanto o polêmico programa Modernista que se procurou apresentar. A Semana trouxe um
grande levantamento crítico do terreno musical buscando trazer à tona músicos que se
enquadrassem nessas ideias da música mais recente, contribuindo para o aumento do debate
em nível Nacional.
Para tentar compreender a dificuldade de os músicos aceitarem o modernismo e suas
implicações estilísticas, podemos em primeiro lugar, levar em consideração que o rompimento
com uma escola vigente – o romantismo – ao qual o público já estava acostumado, não foi
uma fácil tarefa para a maioria dos músicos que enveredaram por este caminho, fato diferente
para as artes plásticas e a literatura. Na realidade buscar novas e diferentes formas de
composição das que já eram aceitas pela crítica se mostrou tarefa árdua para compositores
como Villa-Lobos, que sofria com a crítica especializada - a principal crítica estava localizada
no Rio de Janeiro - encastelada em sua posição confortável, defendendo um conhecimento
estabelecido e que desejava imutável.
Essa incompreensão dos compositores mais jovens não parte do povo. Provém daqueles que se aninharam em confortáveis ideias sobre arte, música, “melodia”, e dormem dentro delas como que instalados em poltronas. As poltronas, hoje em dia, estão se tornando cada vez menores e menos confortáveis. E é impossível conciliar o sono, porque o ruído da luta se junta à balbúrdia das lamentações.125
Em segundo lugar estava o fato de que a maior parte do público estava acostumada
com a música dos concertos, que tradicionalmente já se fazia no Rio de Janeiro, nos
conservatórios e nos teatros, sendo poucos os que apreciavam as composições modernas. Na
realidade isto também aconteceu em toda a Europa: a dificuldade do público em aceitar a
nova sonoridade, haja visto que, a música se tornaria de uma audição muito mais complexa,
senão menos prazerosa, como querem alguns, a requerer redobrada atenção do ouvinte. Mário
de Andrade sobre essa questão da formação de um público esclarecido, busca a compreensão
através do seguinte argumento:
O Brasil, pra esses virtuoses, é terra de passagem que a gente experimenta pra ver se ganha mais um bocado. E como essa “experiência” não tem como ideal uma conquista, mas ganhar uns cobres a mais, o virtuose estrangeiro que aparece aqui, no geral se limita a mostrar obras com sucesso garantido, isto é, as velharias já tradicionalizadas no gosto do público[...] O público gosta é mesmo de velharias a
125 Roberto Lyra Filho, H. J. Kollreuther. Revista da Semana. Nº 51, 22/12/1945.
73
que já se acostumou. Os artistas verdadeiros já não se contentam mais com elas. O público foge dos artistas verdadeiros. E os artistas verdadeiros, os empresários artistas, desprovidos do apoio público, não vem pra cá. E por tudo isso nós só temos que contar com os virtuoses e sociedades musicais brasileiros para nos por em contato com a música universal contemporânea.126
Este argumento confirma a condição da arte neste período, principalmente a arte
musical. O músico além de um criador também é um profissional completo e lida com suas
execuções de acordo com o gosto do público na época. Constitui uma exceção um
determinado número de artistas que possui algum renome e que poderia superar essa
contingência, assim como os pequenos círculos de músicos que vinham da Europa trazendo
novidades, porém fora do alcance destes círculos bastante pequenos o panorama era o
marasmo habitual.
Um importante músico que expressou interessante opinião sobre o valor da Semana foi
Lorenzo Fernandes, Professor catedrático de harmonia da Escola Nacional de Música, e
compositor do poema sinfônico “Imbapara” e da suíte “O reisado do pastoreio”, com os temas
ameríndio e negro como base. 127
Em entrevista à revista Dom Casmurro em 26 de dezembro de 1942, o compositor já
se defrontava com questões como qual teria sido o real valor da Semana de 22 para a arte e
mais particularmente para a música Nacional. Para Lorenzo Fernandes ter sido modernista em
realidade foi ter sido “atual”, em suas palavras:
os artistas tem obrigação de viver sua época e se verdadeiramente criador, estar sempre tentando ir além do que se fez, aproximar-se mais da perfeição, isto é, tentando inovar. Vejamos na música: ela é incontestavelmente, de todas as artes a de mais difícil, mais séria, e menos acessível. Por isso, muitíssimas inovações são de natureza muito particular, quase impossíveis de serem percebidas pelos leigos, outras são muito sutis. Só os grandes passos são sentidos – e surge logo uma terrível reação, e dura até que o público evoluindo compreende a beleza da obra e aceita. Por exemplo lembro-me de uma caricatura de um jornal americano dos fins do século passado, partituras de Wagner tendo escrito: Para serem executados em 1995.128
Vinte anos após a Semana, Lorenzo Fernández acreditava no papel reformador da
música “Moderna” ou "atual", como preferiu definir, e que o fator tempo faria com que o
público se adaptasse às transformações pelas quais a música passava. Porém, para quem era
feita a música? Não seria para o agraciamento do público, para seu enlevo e proveito? Neste
determinado período da história a música estava se tornando cada vez mais utilitarista,
unindo-se a outras atividades, em outras palavras, a música se tornava então funcional. Tal era
126 ANDRADE, Mário. Pequena História da Música. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 10ª Edição, 2003, p. 170. 127 SIQUEIRA, José. Música para a Junventude. Rio de Janeiro, 1953, p. 93. 128 Revista Dom Casmurro. Entrevista a Lorenzo Fernandes, 26 de dezembro de 1942.
74
a música intencionada, como a definia Mário de Andrade, aquela que proveria a formação da
identidade nacional. Eis como, num trecho da entrevista, Lorenzo Fernández manifestou-se a
respeito:
Nós vivíamos numa dependência absoluta da arte europeia. Quase escravizados. As correntes atuais trouxeram grandes vantagens. Despertaram a consciência da Arte Nacional, libertaram a arte brasileira da influência enorme sufocante e retardatória das correntes europeias. Veja na música: nossos compositores fazendo tarantelas... Hoje ao contrário, o que acontece em nossa música voltada para as raízes do país, o folclore, cheia da nossa força nativa passou de influenciados a dominadores129
A arte “moderna” foi então um movimento de democratização da arte, uma espécie de
brado de liberdade, acabando com todos os ídolos, todas as tiranias no campo da arte, as
formas antiquadas e os hábitos que sufocavam os jovens artistas. Porém na área da música as
transformações teriam ocorrido com uma radicalidade não tão intensa, ou de forma amena,
diferente do que acontecera com as outras artes. Elizabeth Travassos faz interessante
afirmação a este respeito:
Considera-se mesmo que o modernismo chegou à música, no Brasil, com sua força combativa amortecida. Apesar das descontinuidades técnicas e estilísticas percebidas na produção do inicio do século, é possível alinhá-la no eixo dos esforços nacionalizadores que tem inicio em meados do século XIX. As polêmicas mais acesas em torno da necessidade de atualizar-se na técnica e na concepção estética, rompendo, eventualmente, com o nacionalismo, tiveram lugar após a II Guerra, com a difusão tardia do dodecafonismo, método criado por Arnold Schoenberg para estruturar a música sem recorrer à tonalidade130
Analisando por um prisma político, podemos perceber aqui a presença do discurso do
dominado e dominador, a aversão colonial, pela qual se faz necessário excluir a influência
estrangeira da Nação. Era do interesse deste Nacionalismo, trazer para a Nação o papel
civilizador que antes era tido naturalmente por europeu. Esta nova agenda recebeu grande
apoio político do poder constituído, principalmente durante a década de 30. Existia um
interesse institucional que estava acima da mera transformação do gênero musical.
Este interesse estava pautado no fato de que era necessário Nacionalizar a produção
musical trazendo para a Nação a capacidade de se expressar artisticamente porém através de
uma nostalgia das formas clássicas, derivando este momento num movimento artístico
nacionalista e que iria encontrar no Regime Vargas um grande abrigo para por estas ideias em
prática, em nível nacional, ou seja, o Regime Vargas estava empenhado em valorizar todo tipo
de expressão artística nacionalista.
129 Idem. 130 TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000, p. 24.
75
Villa-Lobos regendo
A consciência da diferença entre os pesos das tradições artísticas na Europa e nas
Américas estava presente nos diversos discursos proferidos na abertura do programa da
Semana, inclusive o de Graça Aranha, o mais enfático e engajado no modernismo entre os
oradores. A produção musical das primeiras décadas do século XX testemunha o
descompasso entre a evolução musical e literária. O mesmo ocorria em outros paises
artisticamente mais adiantadas, tal como deu conta Marinetti em sua viagem ao Brasil em
1926, quando listou os muitos literatos e artistas plásticos futuristas, enquanto só pôde citar
entre os compositores musicais Russolo e Pratella.131
Como afirma Elizabeth Travassos no livro “modernismo e música brasileira”, a
Semana parecia musicalmente desatualizada com relação às ocorrências simultâneas nos
círculos modernistas do Chamado Grupo dos Seis, 132 como podemos perceber na questão da
valorização da temática urbana, cara ao Grupo dos Seis, que valorizava os sons urbanos e a
simplicidade, buscando inspiração nas práticas populares, o que não era repetido pelos
131BARROS, Orlando de. O Pai do futurismo no País do Futuro: As viagens de Marinetti ao Brasil em 1926 e 1936. Rio de Janeiro, E-papers, 2010, p. 97 e seguintes. 132 TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000, p. 26.
76
modernistas brasileiros. Porém podemos perceber que existiam composições que possuíam
características urbanas, como os Choros, de Villa-Lobos, as Valsas de Esquina, de Mignone, e
as Serestas, de Gnattali. No Brasil o pensamento musical desvalorizava os temas urbanos,
considerando-os por demais influenciados por estilos internacionais, como o Jazz dos Estados
Unidos, e valorizando apenas o que era autóctone na cultura Brasileira, postura defendida por
Mário de Andrade e Villa-Lobos.
Villa-Lobos e outros músicos
2.4 A participação de Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna de 1922
A música de Villa-Lobos apresentada na Semana pertencia em grau apreciável à órbita
da música francesa, algo que não era tão exclusivo do compositor, haja vista que todo o
programa estava repleto de composições de músicos franceses:
bem poucas são as peças nas quais se desvela, com força a personalidade arrojada do autor de Amazonas. Valham como exemplos: Festim Pagão e Eis a vida, esta última talvez a mais pessoal. Mas trata-se de duas peças curtas. 133
133 KIEFER, Bruno: Villa-Lobos e o Modernismo na Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento / Fundação Nacional Pró-Memória, 1986, p. 93.
77
Bruno Kiefer, ao analisar o que foi apresentado por Villa-Lobos na Semana de 22,
chega à conclusão de que muito pouco era realmente de inspiração de Villa-Lobos e que a
maioria das composições apresentadas pelo compositor era de inspiração francesa, mais
exatamente de Debussy. O Villa-Lobos criativo e inventivo, o admirável compositor dos
Choros, ainda não seria exibido ali naquela semana de arte.
O que se apresentou de Villa-Lobos durante a Semana foi um repertório com duas
sonatas, dois trios, dois quartetos, um octeto (Danças Africanas, esta com real inventividade
rítmica que não seguia o formulário francófilo), seis peças para canto e piano e sete peças para
piano-solo. “Farrapos” era a mais antiga entre todas, datada de 1914 e as mais recentes eram
o Quarteto Simbólico e A Fiandeira, e mesmo as músicas mais novas já tinham sido
apresentadas em outras ocasiões, antes da Semana:
Registram-se já as primeiras apresentações da Segunda Sonata para violoncelo e piano em 1917, e do Segundo Trio, “Kankikis”, Terceiro Quarteto, “Festim Pagão”, “Cascavel”, de 1919. O Quarteto Simbólico, o Terceiro Trio e as Historietas foram apresentados em primeira audição num só concerto realizado no Rio, no dia 21 de outubro de 1921, em homenagem a Madame Santos Lobo, a quem o compositor dedicou o Quarteto.134
Villa-Lobos sempre afirmou que a Semana de 22 não teria sido o momento em que
teria sido “lançado” ao público, haja vista que entre 1914 e 1920 o compositor já havia
composto as Danças Africanas e a Lenda do cabloco, que são amostras de um interesse pela
utilização de motivos de inspiração popular, já anteriormente apresentadas ao público. Porém
a Semana foi o momento em que o compositor se aproximou do seleto e educado público
paulistano, elite que o amparou em diversas apresentações que fez em São Paulo, graças à boa
acolhida que teve pelas camadas altas da cidade. Os contatos que fez durante a Semana com
Mário de Andrade e Menotti Del Picchia permaneceram para além daquele momento, como
apoiadores do compositor. São Paulo passou a ser a Cidade onde Villa-Lobos “desfrutava de
maior prestígio, possuía maior número de amigos e admiradores, e até mesmo maior
público”.135
A elite paulista havia descoberto Villa-Lobos, e como existia em São Paulo uma
burguesia rica acostumada com a prática do mecenato Villa-Lobos passa então a se beneficiar
deste apoio financeiro, apoio que também encontrou no Rio de Janeiro, contando com o
importante apoio da Família Guinlee da Madame Lobo. Este foi omomento em que o
134 WISNIK, José Miguel. O Coro dos contrários, a música em torno da semana de 22. São Paulo: Livraria duas cidades, 2ª edição, 1983, p.72. 135 KIEFER, Bruno: Villa-Lobos e o Modernismo na Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento. Fundação Nacional Pró-Memória, 1986, p.101.
78
compositor se preocupou mais intensamente em se afirmar como um compositor Nacional,
um período tratado por Kiefer como um momento de auto-afirmação do compositor, tendo
tido a Semana importância grande para esta tomada de consciência. Datam de 1922 as
partituras das primeiras exortações cívicas do compositor, como os hinos “Brasil novo” e “Prá
Frente, ó Brasil”. Deste período é fruto primoroso a série dos “Choros” que ficou
imortalizada, percebemos que o Centenário em 22 trouxe um clima nacionalista forte,
somente superado no período Vargas. Temos exemplo da abrangência temporal desta série e
de sua importância, se levarmos em consideração a seguinte reflexão em artigo jornalístico de
Luis Paulo Horta:
Isso é mais do que música, é a intuição de um país: Andrade Muricy, numa época em que a crítica desancava Villa-Lobos, foi o primeiro a perceber isso. Falou de uma “sonda gigantesca” perscrutando a alma nacional e isso pode acontecer que se houve ouve Villa-Lobos: você esquece que esta ouvindo música e começa a pensar no Brasil, nessa coisa imensa, ainda meio informe.136
Ao pensar na Semana de 22, vê-se que este evento projetou claramente ainda mais a
carreira do compositor, pois ele já fazia relativo sucesso no Brasil, especialmente na capital da
República e, depois da Semana, e por todo o decorrer da década de 20, Villa-Lobos vai se
tornar não só um importante compositor nacional como também vai angariar ao final desta
década um grande reconhecimento internacional, principalmente na França.
A Paris que o compositor conheceu era a cidade da onda neoclássica, do retorno às
velhas formas musicais do passado, de que faziam parte o Grupo dos Seis, na figura de
Milhaud, Poulenc e Honegger, Durey, Auric e Tailleferre, que sediava as agressivas propostas
do dadaísmo musical, exemplificados na figura de Erik Satie. Paris era a capital que estava
acostumada, desde a época anterior à Primeira Grande Guerra, a acolher as grandes erupções
revolucionárias nas artes, tal como foi o com o "Manifesto futurista" Marinetti (1909), e a
“escandalosa” nova barbárie trazida pela "Sagração da primavera", de Stravinsky (1913). 137
Em suas viagens para a França, 1923-25 e 1927-30 Villa-Lobos entrou em contato
com importantes interpretes da música clássica:
Entre os nomes que frequentavam o apartamento da Place St. Michel, cedido a ele e a Lucilia por Carlos Guinle, encontram-se os de Andrés Segovia, Arthur Rubinstein, Vera Janacópulos, Aline Van Barentzen, Tomás Terán, Magda Tagliaferro,
136 GIUDICE, Victor. O encontro de dois mitos (Cantada por BiduSayão, suíte de Villa-Lobos chega ao CD sob a regência do compositor: Disco 'Floresta Amazônica'). Jornal do Brasil,2 de julho de 1996. Recorte do Arquivo Orlando de Barros, Caderno 96-9-5. 137 CARPENTER, Alejo. Villa-Lobos por Alejo Carpenter. Seleção de textos Arquivo do Estado de São Paulo. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado. 1991, p. 13.
79
ElsieHouston, LeopoldStokowski, Arthur Honegger, Florent Schmitt, Ernest Ansermet e Edgar Varèse, entre outros. 138
Os contatos supracitados que serviram para aprimorar a capacidade de Villa-
Loboscompor de forma cada vez mais apurada, e a contribuição pessoal daqueles
compositores franceses foi grande ao ajudar a divulgação mundial de seus trabalhos. Além
disso, outro fato a engrandecer o papel da Europa para a consolidação profissional do
compositor foi que mais de trezentas de suas obras foram publicadas pela editora francesa
Max-Edshig. 139
Aqueles foram anos em que o compositor parece ter encontrado a linha principal de
sua criação, a inspiração nacionalista não era novidade para Villa-Lobos, porém esta vertente
se tornou mais presente em sua carreira. O maestro cada vez mais demonstrou interesse em
buscar identidade com as expressões da cultura brasileira, explorando ao máximo o exotismo
musical, com audaciosa criação harmônica e ritmica. Compôs os Choros, uma forma de
composição em que aparecem sintetizados deferentes elementos da música brasileira, ou
música étnica, numa denominação hodierna, predominantemente indígena e popular, que
possuía como principais elementos o ritmo e qualquer melodia típica de caráter primitivo. Foi
o que ofereceu aos Parisienses, pois era o principal componente temático presente nos Choros
nº 2, 3, 4 e 7. 140 Ainda sobre os Choros, assim se pronunciou um documentário em vídeo
produzido pela Rádio MEC, feito para celebrar a passagem dos sessenta anos de falecimento
de Villa-Lobos:
Nos anos vinte, Villa-Lobos começa a compor sua série monumental de Choros, começa pelo violão, nos Choros nº 1 dedicado à Ernesto Nazareth. Ele esta firmemente decidido a fazer não só um retrato do Brasil, mas a afirmação de sua própria brasilidade, o seu interesse profundo nas raízes da nossa música. E este exercício ele leva mais adiante com os Choros nº 6 uma obra escrita em 1926 e dedicada à Arminda Villa-Lobos, a mindinha, onde ele coloca uma visão completa da música brasileira. Nos Choros nº6 ele fotografa, desde as valsas, o samba, o próprio choro, a seresta e utiliza uma vasta gama de percussão brasileira, o blocospil, os pratos, o bumbo a cuíca, o reco-reco, o tambu, o tambi, os tambores, o roncador, tamborins de samba, o surdo o tantan e o tímpano. E dentro desta imagem ele faz seu próprio retrato deste homem exuberante, profundamente ligado ao nosso país. 141
138 Ibidem, p. 14. 139 Villa-Lobos sacudiu Paris (Marcado por encontros pitorescos, período em que o maestro brasileiro viveu na França é tema de recitais e exposição de fotos e documentos). Jornal do Brasil 13/07/1996, com fotos. Recorte do Arquivo Orlando de Barros, Caderno96-9 (01.07.96 a 31.07.96). 140 CARPENTER, Alejo. Villa-Lobos por Alejo Carpenter. Seleção de textos Arquivo do Estado de São Paulo. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado, 1991, p.30. 141 Documentário em video "Villa-Lobos, 60 anos", realizado pela Rádio MEC, Rio de Janeiro, em 2009. Acervo Arquivo Orlando de Barros.
80
O Choros nº 6 representa uma das maiores contribuições de Villa-Lobos para a síntese
entre a música popular e a erudita, como a inclusão de instrumentos tipicamente populares.142
Em uma composição clássica de enorme magnitude como este Choros nº 6, assim como
alguns quadros lembrando a onomatopeia indígina do Choros nº 3, Villa-Lobos enfatiza o
novo rumo, tendo a matriz indígena como uma grande fonte de inspiração para força criativa
para o compositor, em sua nova série criativa adaptada à vertente "nacionalista". Villa-Lobos
define o Choros nº 6 como uma composição que reflete “o clima, a cor, a temperatura, a luz,
os pios dos pássaros, o perfume do capim melado entre as capoeiras. Todos os elementos da
natureza do Sertão serviram de motivos de inspiração na obra”. 143
A cada uma das peças dos Choros, excluindo a primeira, compostas após 1922, e que
refletem o contato do Maestro com os mecenas e expoentes intelectuais do modernismo, a
eles foram atribuídas em dedicatórias, como preito de gratidão, um procedimento que era
padrão como meio de o compositor agradecer e reconhecer a ajuda materialou as dádivas
imateriais que ajudaram a beneficiar sua reputação desde longa data.144 Como exemplo, Villa-
Lobos dedicou a Paulo Prado o Choros nº 10; a Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral
dedicou o Choros nº 3; e a Carlos Guinle e Arnaldo Guinle foram dedicados os Choros nº 4 e
nº 7.
A inclusão de elementos típicos do nacionalismo musical agregava à sua música um
grande valor político-ideológico, mediante à apropriação do folclore, o qual Villa-Lobos
sempre teve especial capacidade de aproveitar, à sua maneira, quase sempre intuitiva. Como
afirma Luís Paulo Horta, “Villa-Lobos era um grande intuitivo, pegava música brasileira por
todos os poros e fazia uma espécie de síntese da musicalidade brasileira”. 145 Ele fazia questão
de afirmar sempre esta capacidade como uma característica que o distinguia dos demais
compositores da época. A propósito, assim declarou Villa-Lobos ao escritor e jornalista
cubano Alejo Carpentier, um conhecedor da produção musical brasileira:
142Tambu – Instrumento de percussão de origem africana, o maior dos tambores de jongo; feito de um tubo de madeira, geralmente um tronco de árvore escavado, com um couro esticado na boca cujo diâmetro varia de 50 a 80 centímetros. Roncador – Instrumento afro-brasileiro usado em batuques maranhenses. Espécie de atabaque “que por ser muito grande e produzir sons muito graves, exerce o papel de contrabaixo ou bombardão e emite compassada e alternadamente sons tão profundos e cavernosos que parecem sair misteriosamente das entranhas da terra.”(Melo, G. A música no Brasil, 1908, p. 53) in – ANDRADE, Mario. Dicionário Musical Brasileiro. 143 Texto contido na capa do Vinil “Orquestra Sinfônica Brasileira”, pelo maestro Karabtchewsky, gravado em 1976. Acervo Biblioteca Nacional. 144 TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 2000, p.31. 145 Documentário em vídeo "Tributo à Guerra-Peixe". TV Educativa,s. d., Acervo Arquivo Orlando de Barros.
81
Eu não sou folclorista (me dizia Villa-Lobos, recentemente). O folclore não me preocupa. Minha música é como é, porque eu a sinto assim. Não caço temas para utiliza-los depois. Eu escrevo minhas composições com o espírito de quem faz música pura! Entrego-me completamente ao meu temperamento. Acham muito brasileira a minha música! É, sobretudo, porque reflete uma sensibilidade absolutamente brasileira. Essa é a minha sensibilidade; eu não conseguiria ter outra... Quase todos os meus motivos musicais são de minha invenção. E quando, nos meus Choros por exemplo, surge um motivo típico, ele sempre foi transformado de acordo com meu temperamento. E se algum deles lembra, por seu caráter – como afirma FlorentSchimitt – alguma canção popular de São Paulo, é porque essas canções são as que ninaram a minha infância, sendo portanto as mais aptas para me comover.146
Os anos 20 são aqueles que o prepararão para uma década de grandes conturbações.
Durante os anos trinta, toda a teoria que se planejou ao longo dos vinte, toda forma de se
pensar a Nação se colocou em prática, causando, de certa forma, um cisma político
permanente entre algumas figuras que participaram de forma conjunta da Semana de 22. Na
realidade o cisma já estava instalado no decorrer da década de 20 porém, a partir foi daí em
diante que os grupos mais se antagonizam.
Os anos 30 trarão para artistas e intelectuais, como Del Picchia e Villa-Lobos, as
ferramentas políticas capazes de fazê-los introduzir na Sociedade suas habilidades de nela
impor suas vontades, contribuindo, assim pensavam, para "plasmá-la", conforme a moldura
nacionalista dos tempos de Vargas. Villa-Lobos iria se tornar daí em diante um "maestro do
Estado", ligado estreitamente ao Governo, causando o desapontamento, de muitos que o
haviam apoiado, bem assim como um sem número de invejosos do prestígio que havia
granjeado junto ao ministro Capanema e ao próprio Vargas. A elite paulistana que o havia
apoiado durante tantos anos, logo demonstraria desagrado, como podemos perceber pelo
desapontamento causado a seu principal representante intelectual, Mário de Andrade, que se
tornou desde então um crítico feroz de tudo que Villa-Lobos criou durante a aproximação
com o Estado "revolucionário" de 1930.
O desapontamento de Mário de Andrade foi o mesmo da elite que o havia apoiado nos
últimos anos e que tinha como malquisto o Regime político de Vargas, que ali estava se
instalando no poder, solapando décadas de controle paulista na política da Nação. Este era um
momento quando se fez preciso escolher um lado, e Villa-Lobos o soube fazer de acordo com
suas mais prementes convicções políticas, por meio de seus projetos musicais.
146 CARPENTER, Alejo. Villa-Lobos por Alejo Carpenter. Seleção de textos Arquivo do Estado de São Paulo. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado, 1991, p.28.
82
3O COMPOSITOR E O POLÍTICO, TROCAS E APROPRIAÇÕES
Meus amigos, foi com este pensamento que eu me
tornei músico, foi por isso que eu me tornei um
escravo profundo e eterno da vida do Brasil, das
coisas do Brasil e como não tenho o dom da palavra
nem da pena, mas tive o dom do som e desde o ritmo
transponho sons e ritmos, essa loucura de arrancos
pela pátria.
Villa-Lobos
83
3.1 Villa-Lobos, uma polifonia política polissêmica
Para compreender o que trato aqui por uma Polifonia Política, a princípio precisamos
compreender do que se trata esta “polifonia” musical, o que foi de grande importância para
Villa-Lobos, principalmente na década de 30.
A polifonia, técnica de composição em que diferentes sons se desenvolvem numa
mesma peça musical, preservando um caráter melódico individualizado, tem seus primeiros
testemunhos de utilização apontados em escritos teóricos do século IX. A sua presença está
contida em livros como “De institutione musica” de Hucbald de Saint-Amand e no “De
divisione natural”, de JohannesScotus.147
A música inserida no conjunto dos acontecimentos evolui segundo um movimento
sincrônico e paralelo ao da sociedade, das formas de pensamento e das outras artes. Esta
característica se confirma com as importantes transformações que ela sofreu durante a
Reforma Protestante.
A decisão de Lutero em generalizar o ofício religioso em língua alemã, excluindo o
Latim do rito, com a participação ativa da comunidade religiosa, fazia com que os fiéis
cantassem suas preces em língua vulgar. Isso foi fruto da intuição que lhe ocorreu para
transportar os textos religiosos para poemas curtos em músicas simples, tão fáceis e
“memorizáveis” quanto uma canção popular. De acordo com a doutrina de Lutero todos
tinham igual acesso a Deus e, portanto, todos poderiam louvá-Lo através da música. Assim,
Lutero redefiniu o papel do canto congregacional, incluindo até mesmo uma parte tocada pelo
órgão no decorrer do ato de adoração cristã, permitindo que a congregação cantasse em sua
própria língua. Trata-se de uma tradição muito significativa estabelecida por Lutero e mantida
pelo luteranismo até o presente.148
Nessas circunstâncias o Coral Luterano se torna, portanto um suporte para este tipo de
ofício religioso, impondo a junção o entre o musical e o religioso, ao mesmo tempo que une
também o social ao cultural,149 tornando a música de inspiração religiosa alemã o que seria a
base para uma dimensão político-nacional. Este gênero musical de caráter popular, entonação
fácil e cadência marcada serviram como expressão religiosa de quase todo um povo.
147Jean & Brigitte, Massin. História da música ocidental. Tradução de Maria Teresa Resende Costa, Carlos Sussekind, Angela Ramalho Viana. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997,p. 186. 148 Música Sacra - Bach e o legado Luterano. Documentário em vídeo da BBC, Londres, 2005. 149Ibidem, p. 289.
84
Estes corais inicialmente eram cantados em uníssono, e com o passar do tempo foi
objeto de harmonizações para várias vozes, chegando a um alto grau de perfeição entre a
segunda metade do século XVII e a primeira do XVIII, principalmente por meio das obras de
Schütz, Pachelbel e Buxtehude, culminando brilhantemente com a de Johann Sebastian Bach.
O final da maior parte das cantatas de Bach traz estes corais harmonizados, onde o
fundamento de sua gramática musical é o contraponto. Uma melodia para Bach nunca vem só,
porém engendra por si mesmo muitas outras independentes e complementares. O Pensamento
musical de Bach se apresenta sempre como uma polimelodia, uma estrutura combinatória
onde cada linha musical conserva muito de sua independência melódica.
Bach em suas composições desenvolveu o melhor método de criar através do domínio
do contraponto,150 a combinação de qualquer melodia com outra, ou consigo mesma, de todas
as maneiras imagináveis.
Villa-Lobos conhecia bem as propriedades do canto coral "bachiano", tanto quanto da
genialidade e da importância histórica de Bach, que Villa-Lobos nunca deixou de reverenciar,
como fez abertamente na série de composições a que denominou Bachiannas Brasileiras.
Contudo, se a obra de Bach se assenta num propósito religioso, como lidar com o que
podemos tratar como a polifonia política de Villa-Lobos, tal como está no título do presente
item deste capítulo? Diferente do conceito original de polifonia, Villa-Lobos seguiu apenas
uma orientação política durante sua vida de compositor, tendo esta característica se
manifestado durante a década de 20 e a partir da Revolução de 1930, se tornou cada vez mais
clara, com o engajamento artístico e político, no projeto nacionalista de Vargas, assim como
fizeram outros intelectuais e artistas da época.
A Polifonia política contida no título deste item da dissertação não tem sentido literal
quanto à posição política do compositor, ela não indica uma miríade de posições políticas e
sim emana da utilização que Villa-Lobos fez desta polifonia, aquele mesmo recurso musical
que foi tão caro a compositores como o próprio J. S. Bach.
Villa-Lobos tinha consciência da utilização do canto como fator socializador do
coletivo, o que já era conhecido pelos gregos clássicos, como no mito de Orfeu ou em Platão
na República. O importante é que Villa-Lobos adotou o projeto de criação artística para servir
à coletividade, a sociedade brasileira, pois de acordo com suas palavras:
... o canto coletivo, com o seu poder de socialização, predispõe o indivíduo a perder no momento necessário a noção egoísta da individualidade excessiva, integrando-o na comunidade, valorizando no seu espírito a ideia da necessidade da renúncia e da
150A arte de combinar duas linhas musicais simultâneas. Dicionário Grove. Ed. Concisa.
85
disciplina ante os imperativos da coletividade social, favorecendo, em suma, essa noção de solidariedade humana , que requer da criatura uma participação anônima na construção das grandes nacionalidades[...]Entoando as canções e os hinos comemorativos da Pátria, na celebração dos heróis nacionais, a infância brasileira vai se impregnando aos poucos desse espírito de brasilidade que no futuro deverá marcar todas as suas ações e todos os seus pensamentos, e adquire, sem dúvida, uma consciência musical autenticamente brasileira.151
Percebe-se então a preocupação do compositor com o que seria o futuro da Nação,
desejando moldá-la de acordo com os interesses do Estado, baseado numa ideologia adequada
para o período em que se encontrava. O canto orfeônico, que era uma das formas de aplicação
desse projeto de Villa-Lobos, foi por isso muito utilizado. Segundo Arnaldo Contier,
historiador e professor da USP,
O projeto traçado por Villa-Lobos sobre o canto orfeônico foi inspirado nos exemplos alemães, por ocasião de suas visitas a algumas cidades da Alemanha, nos anos 20. Lá, ele havia assistido a diversas concentrações corais, reunindo, aproximadamente, 20.000 pessoas. Com a ascensão do nazismo tal prática foi se ampliando, e o forte teor nacionalista contido nestas manifestações de canto coral acabou interessando a intelectuais como Fabiano Lozano, Villa-Lobos e João Gomes Júnior, entre outros. Dado o entusiasmo cívico despertado com a Revolução de 30, ele retirou da gaveta alguns hinos ufanistas escritos em 1919, 21 e 22, como Meu País, Brasil Novo e P’ra Frente, ó Brasil!,que se transformaram nos eixos de todos os programas cívico-artísticos para comemorar as grandes datas ou fatos nacionais.152
Apesar disso é difícil saber se Villa-Lobos esteve mesmo na Alemanha durante os
anos 20. O que se pode afirmar é que durante a República Velha, já existia um Nacionalismo
muito exacerbado, o que tornaria desnecessário qualquer submissão de Villa-Lobos a alguma
influência germânica neste sentido. O ardor cívico dos anos trinta de fato é verdadeiro e não
teria surgido necessariamente de qualquer influência fascista , fosse de origem italiana ou
Nazista.
Todavia esta preocupação com o "nacional" e o coletivo não estava focada somente na
formação de uma mentalidade futura, existia também um processo de criação de um novo
público consumidor para sua música, as massas urbanas. E para isso Villa-Lobos recebeu
importante contribuição do Estado, com apoio do Ministério de Educação e Saúde às suas
grandes orquestrações, para as quais foram utilizados os mais diversos materiais de
propaganda para sensibilizar as massas, a fim de atraí-las para as grandes concentrações
cívico-artísticas.153
151VILLA-LOBOS, H. A música nacionalista no Governo Vargas. Rio de Janeiro: DIP, 1940. 152CONTIER, Arnaldo D. Passarinhada do Brasil: canto orfeônico, educação e getulismo. Bauru (São Paulo): EDUSC, 1998, p. 26. 153Ibidem, p. 35.
86
A polifonia e o canto coral foram então figuras importantíssimas para a construção do
“fazer político” de Villa-Lobos. A imensa capacidade de Bach em construir em suas
composições as mais diferentes polifonias magistralmente encaixadas pode ser lida em
paralelo com a capacidade de Villa-Lobos de unir diferentes vozes em torno de um projeto
político de nação, principalmente através das grandes orquestrações para mais de 20.000
pessoas.
Villa-Lobos soube aproveitar de Bach a questão da gestão das vozes, a qual Bach
aprimorou, depois de recebê-la da tradição composicional luterana. A música de Bach
favorecia as vozes, e a polifonia tem por significado a junção de diferentes vozes. A
Revolução de 30, especialmente durante o Estado Novo, entendia que o Brasil estava
passando por um processo de construção, com a colaboração de todos, unidos por essa coisa
geral, uma espécie de cola que é o nacionalismo.
As Vozes múltiplas representam as classes e as porções que fazem parte da sociedade.
A massa coral representa então a sociedade, ou o Brasil.
O sucesso que o compositor encontrou neste período e toda propaganda que obteve
por meio do DIP e outros órgãos para seus espetáculos ou declarações públicas contrastavam
com tudo que o compositor havia feito e vivido no Brasil, principalmente ao longo dos anos
20.
3.2 Villa-Lobos, um compositor que se transforma
É sabido que durante a década de 30 as composições de Villa-Lobos sofreram uma
mudança na forma estética de suas composições. Villa-Lobos começa a se utilizar de um
estilo que na França já era corrente há alguns anos, chamado de Neoclássico. Este estilo
utilizado por alguns compositores sobretudo durante as duas guerras mundiais, revivia as
formas equilibradas e os processos temáticos explícitos nos estilos antigos, embora fosse
irônico que um material tradicional estivesse sendo encaixado em determinados moldes
experimentais. Stravinsky particularmente se tornou uma referência nesta forma de
composição.154
154 Dicionário Grove.
87
Villa-Lobos em Paris com Florent Schmitt.
Um grupo de compositores franceses ficou famoso por adotar este projeto
composicional. Eram conhecidos como o “Grupo dos Seis”, formado por Louis Durey (1888-
1979), Arthur Honegger (1892-1955), DariusMilhaud (1892-1974), GermaineTailleferre
(1892-1983), Francis Poulenc (1899-1963) e Georges Auric (1899-1983). Este grupo se
identificava com a estética pregada pelo poema de Cocteau chamado Le Coqetl’arlequin,
onde Cocteau condena a arte alemã, o romantismo e Debussy, em apoio a uma arte de
expressão mais bruta, de Satie ou de Stravinsky, com uma ironia que acabaria com qualquer
tentativa de grandiloquência ou de seriedade. 155 Porém este grupo teve uma curta vida, de
1920 a 1921, ano em que o grupo se dividiu, cada músico buscando seu próprio caminho.
As Bachianas Brasileiras são parte de uma série de obras de Villa-Lobos que possuem
caráter tonal, grande parte composta durante a década de 30. Estas composições representam
um retorno do compositor às formas clássicas, assim como sugeria a escola Neoclássica,
porém adotava um tom de seriedade no emprego destas formas, diferente do que fazia o
Grupo dos Seis ou Stravinsky, sem aplicar a ironia em suas composições, mantendo a
seriedade da obra e exibindo uma respeitosa grandiosidade. Enquanto compositor dos Choros,
Villa-Lobos possuía sua própria forma de compor, algo nosso como o próprio compositor
avisara, ao escrever uma nota introdutória aos Choros:
155 MASSIN, Jean. História da música ocidental / Jean Brigitte &Massin. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 950.
88
Os Choros representam uma nova forma de composição musical, na qual estão sintetizadas as diferentes modalidades da música brasileira, indígena e popular, tendo como principais elementos o Ritmo e qualquer melodia típica de caráter popular, que aparece incidentalmente de quando em quando, sempre transformados segundo a personalidade do autor. 156
Conforme afirma o musicólogo Paulo de Tarso Salles, Villa-Lobos não possuía uma
“forma” no sentido clássico utilizado pela teoria musical, tendo em vista que cada um dos
Choros, apresenta sua própria forma de composição.157 Porém podemos notar que Villa-
Lobos algumas vezes escreve “Chorus”, forma latina do termo, e que pode ser entendido
como uma certa alusão aos corais de Bach já que as composições se tratam já de uma mistura
de Choros – gênero popular brasileiro – com o Coro como conjunto de vozes já em um
sentido Bachiano.
O Século XX sofreu uma tendência crescente ao longo de seu tempo que foi a de se
reportar diretamente ao som, sem intermediações de planos formais pré-estruturados. Esta
característica dificultou o estabelecimento de modelos teóricos e composicionais e fez com
que o método serialista obtivesse bastante prestígio até o final dos anos 40, de forma a dar
objetividade à composição e à analise musical. Com finalidade semelhante surgiu o
neoclassicismo, cujos compositores que buscavam apoio para suas composições em estruturas
consagradas pelo gosto do público e dos intérpretes. Stravinsky na década de 50 ratificou esse
tipo de abordagem.158
Contudo, se faz importante compreender de que forma estas inovações musicais
contribuíram para o programa político que se aplicou no Brasil durante os períodos
conhecidos como República Nova e Estado Novo. O Canto Orfeônico teve então importante
participação nesta nova empreitada através das figuras de Fabiano Lozano, Mário de Andrade
e Villa-Lobos, grandes incentivadores deste gênero musical como fator preponderante para a
formação de um novo público brasileiro.
Fabiano Lozano, grande incentivador do Canto Coral, organizou em 1915 um conjunto
coral com alunos da Escola Normal de Piracicaba e durante a década de 20 fundou o Orfeão
Piracicabano, que foi bastante bem recebido pela crítica por conter um repertório todo voltado
para o enaltecimento da Nação. Em 1930 escreveu os livros “Alegria nas Escolas” e “Sorrindo
e cantando”, onde, no primeiro, enfatizava que o aluno deveria ser capaz de compreender
156 Texto contido na contracapa da partitura do Choros nº 8. Arquivo Museu Villa-Lobos. 157 SALLES, Paulo de Tarso. Villa-Lobos: processos composicionais. Campinas, São Paulo: Editora Unicamp, 2009, p. 185. 158 Ibidem, p. 186.
89
questões voltadas para o folclore pátrio e no segundo defendia uma intima conexão música-
civismo como um componente imprescindível na formação do cidadão brasileiro. 159 Mário de
Andrade, em 1928, ao escrever sobre a apresentação do Orfeão Piracicabano, considerou sua
apresentação como uma lição artística de civismo ao povo de São Paulo, canto este que, sob o
ângulo cultural, seria a forma musical a constituir-se no grande elo entre a arte culta e o povo.
Em 1931 Fabiano Lozano apresentou à Diretoria Geral do Ensino do Estado de São
Paulo um projeto dirigido ao canto orfeônico nas escolas em que a maior ênfase seria
despertar no aluno um sentimento estético com a utilização da música como instrumento para
a sua formação cívica. 160
Convém lembrar que o ensino do canto coral no Brasil se conta desde o inicio do
século XX porém ganhou maior importância cívica durante a década de 20, como podemos
perceber no discurso abaixo:
...não vos esqueçais de que deveis cantar com vossos alunos as canções dolentes e melancólicas da nossa terra, que virão despertar neles o amor pelo Brasil. Sim! Cantai com eles a nossa terra, a opulência das nossas florestas, os arreboes sangrentos e cheios de saudade dos nossos crepúsculos, as glórias imorredouras da nossa raça, a pompa sempre risonha e florida da nossa eterna primavera e os cantos tão cheios de doçura de um povo, que tendo nascido na mais formosa das terras, tem também no coração a mais ardente e a mais bela das paixões – a música. Tudo na nossa terra é música. 161
No discurso contido nesta fala podemos perceber a importância dada por João Gomes
Júnior, ao caráter cívico que deveria ser aplicado aos alunos com o objetivo de criar uma
maior ligação entre os alunos e os ouvintes do folclore musical Nacional, tornando-o ligado a
estes fatores, que eram considerados criadores de um apego à suas raízes, gerando identidade
com a pátria, formando uma noção de civilidade.
A entrada de Villa-Lobos no meio político-musical nacionalista se deu a partir de 1930
em seu retorno ao Brasil através de um projeto que utilizaria o canto orfeônico como indutor
do sentimento folclórico. Suas ideias cívico-patrióticas foram bem recebidas em São Paulo,
cidade para onde se dirigiu logo após seu retorno de Paris. Com o apoio do interventor João
Alberto, iniciou com outros músicos uma jornada por cinquenta e quatro cidades a partir de
janeiro de 1931. Esta viagem teve como objetivo apresentar um panorama sobre a música
Nacionalista às Cidades do interior, onde o compositor travou contato com lideranças
159 CONTIER, Arnaldo D. Passarinhada do Brasil: canto orfeônico, educação e getulismo. Bauru, São Paulo: EDUSC, 1998, p.15. 160 CONTIER, p. 16. 161 JÚNIOR, João Gomes. Orpheon escolar. Série Terceira. São Paulo, Melhoramentos, 1921, p. 5.
90
políticas, conferiu palestras e tocou algumas obras. 162 Deu Villa-Lobos inicio à sua carreira
política profundamente ligada aos ideais da Revolução que ocorrera em 1930 e que estava
sendo colocada em prática.
Através daquela viagem, Villa-Lobos se distancia de seu público mais habitual,
burgueses frequentadores dos teatros de São Paulo e do Rio de Janeiro, e avança na
construção de um novo público para sua música, aproximando-se mais do “povo brasileiro”.
Segundo Contier, “consciente ou inconsciente Villa-Lobos sentiu que a conjuntura
política de 1930 era muito favorável ao desenvolvimento de suas ideias sobre a música
brasileira”. Porém, de certo modo, que outro compositor não gostaria de possuir todo um
aparato de Estado para colocar em prática suas construções intelectuais? Pensando que boa
parte da intelectualidade brasileira estava, de certa forma, ligada e devia muito à burocracia
pública, o que pode bem compreender nesta página de Carlos Drummond de Andrade:
O emprego do Estado concede com que viver, de ordinária folga, e essa é a condição ideal para bom número de espíritos: certa mediania que elimina os cuidados imediatos, porém não abre perspectivas de ócio absoluto. O indivíduo tem apenas a calma necessária para refletir na mediocridade de uma vida que não conhece a fome nem o fausto [...] Cortem-se os víveres ao mesmo temperamento, e as questões de subsistência imediata, sobrelevando a quaisquer outras, igualmente lhe extinguirão o sopro mágico [...] o escritor-homem comum, despido de quaisquer romantismo, sujeito a distúrbios abdominais, no geral preso à vida civil pelos laços do matrimônio, cauteloso, tímido, delicado. A organização burocrática situa-o. Observe-se que quase toda a literatura brasileira, no passado como no presente, é uma literatura de funcionários públicos. Nossa figura máxima, aquela que podemos mostrar ao mundo [...] foi um diretor geral de contabilidade do Ministério da Viação, machado de Assis [...] Raul Pompéia, diretor de estatística do Diário Oficial e da Biblioteca Nacional; Olavo Bilac, inspetor escolar no Rio; Alberto de Oliveira, diretor de instrução no estado do Rio, como também o foram José Veríssimo e Franklin Távora, respectivamente no Pará e em Pernambuco; Aluísio Azevedo, oficial-maior no estado do Rio de Janeiro e cônsul; Araújo Porto-Alegre, cônsul; Mario de Alencar, diretor de biblioteca na Câmara; Mario Pederneiras, taquígrafo no Senado; Gonzaga Duque, oficial da fazenda na Prefeitura do Rio; B. Lopes, empregado nos Correios como Hermes Fontes; Ronald de Carvalho, praticante de secretaria e depois oficial no Itamaraty; Coelho Neto, diretor de Justiça no estado do Rio de Janeiro; Humberto de Campos, inspetor federal de ensino; João Ribeiro e Capistrano de Abreu, oficiais da Biblioteca Nacional; Guimarães Passos, arquivista da mordomia da casa imperial; Augusto de Lima, diretor do Arquivo Publico de Minas; Araripe Jr., oficial do Ministério do Império; Emilio de Menezes, funcionário do recenseamento; Raymundo Correia, diretor de Finançasdo Governo Mineiro, em Ouro Preto; Luís Carlos e Pereira da Silva, da Central do Brasil; Ramiz Galvão e Constâncio Alves, respectivamente diretor e diretor de seção da Biblioteca Nacional; José de Alencar, diretor e consultor da Secretaria da Justiça; Farias Brito, Secretário de Governo no Ceará; Lúcio de Mendonça, delegado de instrução pública em campanha; Manuel Antônio de Almeida, administrador da Tipografia Nacional e oficial da Secretaria da Fazenda; Lima Barreto, oficial da Secretaria da Guerra[...] João Alphonsus, funcionário da Secretaria das Finanças em Minas, o grande Gonçalves Dias, oficial da Secretaria de Estrangeiros... Mas seriam páginas e páginas de nomes, atestando que o que as letras devem à burocracia, e como esta se
162 CONTIER. p.18.
91
engrandece com as letras [...] o que talvez só um escritor-funcionário, ou um funcionário-escritor, seja capaz de oferecer-nos, ele que constrói, sob a proteção da Ordem Burocrática, o seu edifício de nuvens, como um louco manso e subvencionado.163
A dependência desta burocracia para a subvenção de suas obras não se faz diferente na
vida do escritor ou do músico, pois muitos críticos e pianistas tinham cargos no Itamaraty,
ocupando postos em consulados e embaixadas no exterior, como por exemplo: Vasco Mariz,
Luiz Heitor Correa de Azevedo e Renato de Almeida.
É preciso considerar que o Estado Brasileiro sempre foi o maior subvencionador da
intelectualidade brasileira, na monarquia e na república, haja vista que, estes intelectuais não
possuíam condições com as quais poderiam sobreviver, apenas de suas produções, seja
científica ou literária. As universidades eram poucas e o marcado literário ainda um tanto
insipiente, além da falta da cultura do mecenato entre as elites brasileiras, fatores que faziam
com que estes intelectuais procurassem o ponto mais estável para sua própria sobrevivência,
ou seja, o Estado instituído.
A primeira grande concentração Cívica Artística no Parque Antártica, em São Paulo,
no dia 3 de maio de 1931, marcou, de certa forma, a entrada de Villa-Lobos num circuito de
grandes apresentações públicas, que elevariam ao máximo não só a sua pessoa como a de
Getúlio Vargas.
3.3 O Nacionalismo de Villa-Lobos
Villa-Lobos aplicou as suas convicções nacionalistas ao devotar-se durante a década
de 30, com grande preocupação, ao projeto de implantação do canto orfeônico nas escolas.
Para o compositor, a revolução de 30 se tornou o ponto de ruptura com o passado
musical e cultural do Brasil, que para o compositor simbolizava um momento de atraso social,
haja visto que a música universal urbana estava muito ligada à elite burguesa. Para Villa-
Lobos a Revolução despertaria então a aproximação ideal desta música ao seu público ideal,
que era o povo e as massas urbanas.164
163 ANDRADE, Carlos Drummond de. Passeios na Ilha, pp. 658-9 in MICELI, Sergio, Intelectuais à brasileira. Cia. Das Letras, São Paulo: 2001, p. 195-6. 164 CONTIER, Arnaldo D. Passarinhada do Brasil: canto orfeônico, educação e getulismo. Bauru, SP: EDUSC, 1998, p. 42.
92
Aproveitar o sortilégio da música como um fator de cultura e de civismo e integrá-la na própria vida e na consciência nacional – eis o milagre realizado em dez anos pelo Governo do Presidente Getúlio Vargas. Porque a verdade é que a música no Brasil viveu mais ou menos divorciada da sua verdadeira finalidade social e do seu objetivo educacional. Ora, não é possível considerar a música como uma coisa a parte e um fator à coletividade, uma vez que ela é um fenômeno vivo da criação de um povo. Nem muito menos considera-la um adorno raro, uma diversão mundana e luxuosa ou um passatempo das elites. A música é muito mais do que tudo isso: é a própria voz da nacionalidade, cantando na plenitude de sua pujança e da sua força , a alegria pelo trabalho construtor, a confiança no futuro da Pátria e na grandeza de seu destino.165
Villa-Lobos acreditava que a música deveria preencher sua verdadeira função que era
de socializar a população, e para este expediente era preciso que a música nacional tomasse
conhecimento de si mesma pelo seu papel na formação de uma “consciência musical
brasileira” e pela apreensão de todo um conjunto de fenômenos históricos sociais e
psicológicos, capazes de determinar os caracteres étnicos, as tendências naturais em seu
ambiente próprio.166
O objetivo de Villa-Lobos era definir um plano para que estes objetos se tornassem
explícitos e práticos, apontando inicialmente para o ensino nas escolas. O ensino da música
nas escolas visava tão somente uma formação de ordem artística, procurando resolver um
problema persistente, o da fixação da consciência musical brasileira.
Tratava-se de preparar a mentalidade infantil, para reformar, aos poucos, a mentalidade coletiva das gerações futuras. Mas, de que maneira encetar esse trabalho audacioso? Os caracteres psicológicos da nossa raça, e os seus processos de evolução histórica, indicavam claramente o caminho a seguir: só a implantação do ensino musical na escola renovada, por intermédio do canto coletivo, seria capaz de iniciar a formação de uma consciência musical brasileira.167
Para o compositor, o ensino do canto coletivo tinha dois objetivos importantes para a
sociedade brasileira. A princípio auxiliaria na formação musical com a “iniciação segura do
ritmo, a educação auditiva e a sensação perfeita nos acordes” e, por fim, contribuía para
socializar os indivíduos. Estes indivíduos socializados, perderiam em um momento
“necessário” sua noção de individualidade excessiva, integrando-o na comunidade, podendo
gerar nesse indivíduo uma ideia de renúncia e de disciplina em favor dos interesses do
coletivo social. Desta forma favoreceria uma noção de “solidariedade humana” que exigiria
dos cidadãos uma maior participação anônima, que Villa-Lobos definiu como a construção de
nossa grande nacionalidade.
165 VILLA-LOBOS, H. A música nacionalista no Governo Vargas. DIP. Rio de Janeiro. 1940. p. 7. 166 Ibidem, p. 8. 167 Ibidem, p. 9.
93
O canto orfeônico é uma das mais altas cristalizações e o verdadeiro apanágio da música. Porque, com o seu enorme poder de coesão, criando um poderoso organismo coletivo, ele integra o indivíduo no patrimônio social da pátria. Entretanto, o seu mais importante aspecto educativo é, evidentemente, o auxilio que o canto coletivo veio prestar à formação moral e cívica da infância brasileira[...]Entonando as canções e os hinos comemorativos da Pátria, na celebração dos heróis nacionais, a infância brasileira vai se impregnando aos poucos desse espírito de brasilidade que no futuro deverá marcar todas as suas ações e todos os seus pensamentos, e adquire, sem dúvida, uma consciência musical autenticamente brasileira. 168
A convicção da época era a de que a infância é mais facilmente moldável, podemos
perceber que a palavra típica do DIP então utilizada para este sentido era “Plasmar”, dar
forma. E Villa-Lobos usava essa expressão volta e meia, parecendo considerar-se como uma
espécie deregente plasmador do povo Brasileiro.
Villa-Lobos como intelectual nunca deixou de fazer elogios ao líder do Governo
renovador com o qual passou a se identificar, ao considerar que a intenção de Getúlio Vargas
era a de legar ao Brasil através do plano cultural um incentivo à vida espiritual do povo
identificado com a Nação. Villa-Lobos deixa claro que, o governo de Vargas sempre procurou
coordenar todas as forças e diretrizes para sistematizar suas energias sempre num sentido
nacionalista, ao contrário dos antigos regimes políticos que se estabeleceram no Brasil, cuja
preocupações perpassavam somente sobre questões relativas ao poder, O compositor
condenou o que foi falta de disciplina e de orientação no domínio da inteligência, o que
causava nos jovens um sentimento egoísta e um ceticismo quanto às tradições e
possibilidades nacionais, sendo necessário por isso manter o foco na educação e no
fortalecimento dos valores humanos, da infância à adolescência, por considerá-las como o
alicerce da nacionalidade.
O governo Vargas teria então trazido uma disciplina, por meio de uma lógica política e
administrativa para o processo evolutivo brasileiro como uma forma de resolver um grande
problema nacional que seria o da unidade de um país ainda muito mal integrado e para isso
teria sido de suma importância a utilização da cultura musical com o ensino do canto nas
escolas.
168 Ibidem, p. 10.
94
Villa-Lobos regendo uma concentração orfeônica, 1937. Acervo Museu Villa-Lobos.
Villa-Lobos considerava que antes de 1930 a música folclórica sofria de uma enorme
incompreensão e este fator estava ligado ao grande desequilíbrio político e social no qual a
nação estava envolta. O movimento de 30 traçou novos rumos políticos e culturais colocando
o Brasil num processo de modernização conduzida pelo Estado, e em consequência, segundo
o compositor, surgiu o interesse em participar do processo formador da Nacionalidade
Brasileira, recuperando a música folclórica e tratando que fosse compreendida de forma
correta.
Cheio de fé na força poderosa da música, senti que com o advento desse Brasil novo era chegado o momento de realizar uma alta e nobre missão educadora dentro da minha Pátria. Tinha um dever de gratidão para com esta terra que me desvendara generosamente tesouros inigualáveis de matéria prima e de beleza musical. Era preciso por toda a minha energia a serviço da Pátria e da coletividade, utilizando a música como um meio de formação e de renovação moral, cívica e artística de um povo. Senti que era preciso dirigir o pensamento às crianças e ao povo. E resolvi iniciar uma campanha pelo ensino popular da música no Brasil, crente de que o canto orfeônico é uma fonte de energia cívica vitalizadora e um poderoso fator educacional.169
Villa-Lobos foi grande devoto da ideia de que o canto seria um imperioso fator de
civismo e de disciplina. E é assim que dentro desta lógica foi implantado o ensino da música e
do canto orfeônico nas escolas. Esta modalidade educativa de canto deveria implantar uma
impressão de sentimento cívico, de pertencimento, de solidariedade e de disciplina na mente
dos alunos.
169 Ibidem, p. 18.
95
Podemos perceber como em todas as declarações do compositor a questão do Estado e
da manutenção da ordem é fundamental. Referia-se a uma arte “interessada” que ia além das
questões puramente estéticas, revelando a obrigatoriedade de se adquirir um caráter
socializador nesta relação música-estudante.
Considerando ainda a questão do folclore para a formação da mente infantil, Villa-
Lobos foi um pensador hábil ao observar as diferentes formas de acessar a mente das crianças
ainda em formação. O folclore era tratado por ele como uma manifestação mais aproximada
da infância por estar contida inseparavelmente em sua mentalidade deste período da vida
através das canções de ninar e das histórias.
É mais do que evidente que as melodias adequadas a essa função socializadora, são precisamente aquelas com as quais a criança já se havia familiarizado espontaneamente, isto é, os brinquedos ritmados, as marchas, as cantigas de ninar, ou as canções de roda. Ainda há uma outra espécie de melodia capaz de interessar profundamente a mentalidade infantil. Trata-se de um certo gênero de canções folclóricas, cuja beleza simples e cuja rítmica espontânea facilitarão a compreensão e a aprendizagem da música escolar.170
Villa-Lobos desenvolveu toda uma teoria através do canto orfeônico e do ensino de
música nas escolas, e criou também uma metodologia para criar nas futuras gerações uma
concreta noção de nacionalidade Brasileira por intermédio da música.
Como intelectual sua contribuição para a formação do Estado nacionalista de Vargas
em transformação foi resolver o problema do individualismo dos compositores, que segundo
Villa-Lobos advinha de uma falta de sentimento coletivo e compromisso social crônico como
produto da desorganização política que o país sofreu durante o decorrer de sua história
republicana.
170 Ibidem, p. 35.
96
Villa-Lobos regendo concentração orfeônica no Estádio de São Januário, Rio de Janeiro
O canto orfeônico tinha em sua teoria um papel para além daquele tempo presente, e
para o compositor esta era a característica mais marcante desta política de formação de uma
identidade através do canto, que estava em curso de ser implantada, pois ao incorporar a
música nas escolas em conjunto com o canto orfeônico “a musicalidade e essa maravilhosa
faculdade de exprimir por meio do canto todas as suas emoções – qualidade integrada na
índole e no caráter do povo brasileiro – foram, então, transfigurados em disciplina”. 171 Esta
era a poesia na teoria de Villa-Lobos.
Sobre o Orfeão convém relacionar o papel oficial do canto orfeônico: “O orfeão de
professores do Distrito Federal, congregação profissional registrada oficialmente nasceu do
curso de pedagogia de música e canto orfeônico e tem um duplo fim artístico-educacional. Por
intermédio dessa sociedade coral, foi iniciada de um modo prático e eficaz a campanha de
educação para o levantamento do nível artístico brasileiro. Foram escolhidos para fazer parte
deste repertório, trechos de autores clássicos já conhecidos em peças para piano, violino,
canto e etc., para que desta forma, o público tivesse oportunidade de apreciar a mesma música
que já era conhecida por intermédio destes instrumentos, tratados para vozes a seco,
171 Ibidem, p. 39.
97
despertando-lhe assim o gosto pelo gênero de coros, que é justamente o mais necessário para
a disciplina coletiva do povo”.172
Temos então a importância da Superintendência de Educação Musical e Artística
SEMA, órgão que iria sistematizar e orientar o ensino da música e do canto orfeônico nas
escolas, criado pelo departamento de Educação da Prefeitura do Distrito Federal. 173 Dirigido
por Villa-Lobos o SEMA desenvolveu cursos para os professores das escolas primárias dando
preparo suficiente ao início do ensino musical nas escolas, assim que o ensino de música
passou a ser obrigatório, de acordo com o decreto de lei Nº 19.890 de 18 de abril de 1931.
O intelectual Villa-Lobos era fruto de todo um pensamento político articulado, típico
da uma época que pode ser considerada como o grande momento decisivo da história
brasileira, pois marcou política e intelectualmente o fim de uma era. 174 Os anos 30 marcaram
o colapso político da republica “velha” e pontuou a vitória da modernidade da economia e
sociedade, mostrando preferência pelo modernismo no plano cultural, abrindo a possibilidade
a Villa-Lobos de vir a trabalhar neste contexto de intensa reconstrução da Nação. Trata-se de
um momento que deve ser visto como de tomada de decisões e de posições, um período de
conflitos ideológicos, quando se deveria marcar posição e trabalhar de acordo com seus
ideais.
3.4 Villa-Lobos e o Nacionalismo dos anos 30
O início dos anos 30 foram conturbados, porém foi uma época de enorme diversidade
de pensamentos, se tornando um dos períodos mais criativos e produtivos da nação, quando os
intelectuais nacionalistas se concentravam individual e coletivamente para pensarem a
realidade brasileira. Uma importante característica do programa nacionalista era o orgulho em
ser brasileiro, era manifestado por estes intelectuais em suas obras e em suas declarações
públicas. Eram também muito dedicados à interpretação da originalidade e dignidade da
172 Fonte: FGV/CPDOC. Documentos sobre música série – g. Ministério da Educação e Saúde – Educação e Cultura. Data de Produção 1935 a 19.10.1945. Rolo 38 fot. 776 a 986. Arquivo Gustavo Capanema – GC g 1935.00.00/3. 173 Ibidem, p28. 174 LAUERHASS, Ludwig Jr, Getúlio Vargas e o triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da Geração Nacionalista de 1930. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 1986,p. 84.
98
cultura brasileira, em todos os aspectos, além de se colocarem a discutir criticamente os
graves problemas econômicos e sociais dos quais sofria a Nação.175
Isso impôs à nova Geração a tremenda responsabilidade de construir e atacar ao mesmo tempo, e a reação inicial a esse desafio foi de confusão. Carentes de qualquer plano de ação predeterminado e não tendo chegado a qualquer acordo firme sobre a maneira de proceder, os nacionalistas, no começo da década de 30, avançaram caoticamente, em um misto de esperança e de angústia. Aos trancos e barrancos, procuraram proteger a vitória que tinham conquistado e planejar para o futuro. Isso levou por parte dos políticos e militares, assim como dos intelectuais, a todas as espécies de tentativas para analisarem as dificuldades, formularem ideologias de desenvolvimento, organizarem-se e conquistarem apoio para as suas concepções conflitantes.176
Neste período, por conta deste engajamento, os ensaios sociológicos, os estudos
históricos, os opúsculos político-ideológicos, as investigações antropológicas e os romances
de fundo social, todos voltavam-se para a compreensão da Nação, tendo o sentimento
nacional como viés principal. Para ilustrar o vigor acadêmico que surgiu entre os intelectuais
do período, podemos citar a série “Brasilianas” que, de 1931 a 1937, lançou mais de 100
volumes sobre todos os aspectos da cultura brasileira. No campo das contribuições individuais
devo ilustrar a importante analise da sociedade brasileira escrita por Gilberto Freire em “Casa
Grande e Senzala”. Também de cunho pessoal temos contribuições como a série Bachianas
Brasileiras que de 1930 a 1945 serviram na linguagem musical como uma enciclopédia
clássica da cultura nacional, compostas por Villa-Lobos, contendo nessas formas de
composição aspectos de muitos diferentes tipos folclóricos nacionais.
175 Ibidem, p. 86. 176 Ibidem, p. 85.
99
Villa-Lobos com DariusMilhaud, Paris, anos 20
Porém durante o início dos anos 30 houve diversos entraves para que uma política
nacionalista pudesse dominar o cenário nacional. Diversas correntes surgiram como oposição
logo após a Revolução, frentes que haviam apoiado, e frentes contrárias a Revolução
instituída.
No interior da Revolução havia dissensões entre os liberais-democratas e os
autoritários, fora da revolução ressurgiram forças regionalistas, antinacionalistas e
contrarrevolucionárias, que resultariam na guerra civil de 1932. Outra ameaça foi a dos
ultranacionalistas conservadores que adotavam a linha Fascista, no movimento integralista,
além da oposição imposta pela esquerda liberal-democrática que se unira à frente de oposição
popular da Aliança Nacional libertadora, que era então dominada pelos comunistas. 177
Todo este complexo sistema de inter-relações, fez com que Vargas precisasse
caminhar cautelosamente entre alianças e separações, dificultando a instalação de uma
política Nacionalista de fato, com grande intervenção do Estado, o que só foi possível ser
aplicada às custas da democracia nacional, com a instituição em novembro de 1937 da
Ditadura do Estado Novo.
177 Ibidem, p. 87.
100
Somente num sistema político ditatorial, foi o desfecho, que se pôde aplicar uma
política Nacionalista mais incisiva, nos planos ideológico, institucional e popular, e que foi
tão caro para Villa-Lobos, importante colaborador que foi deste projeto político de Estado
nacional que surgia em 1937.
A ideia de Villa-Lobos em fazer com que o brasileiro reencontrasse sua verdadeira
pátria através do ensino do folclore nas aulas de música e no canto orfeônico não eram, no
entanto, ideias originais.
Fernando Azevedo, editor da conhecida “Coleção Brasiliana” foi também durante
muitos anos empenhado na reforma do ensino e sendo que sua publicação se destinava a
permitir e estimular que brasileiros medianamente instruídos pudessem redescobrir e
compreender sua própria Nação, tornando-se leitores de uma espécie de enciclopédia
brasileira apresentando um panorama de nossa Nacionalidade.
É o que penso ter sido o intuito também da série Bachianas Brasileiras, tornar-se
através da música uma espécie de enciclopédia do Brasil musical, mostrando a música
folclórica brasileira composta em gênero erudito não somente para brasileiros como também
demonstrar a cultura nacional em alto nível de erudição para o resto do mundo. Pretendia,
assim, que aquela fosse uma experiência que trazia para o primeiro plano o ápice da criação
cultural nacional do período e tornando-se uma das diferentes contribuições que Villa-Lobos
deu à solução de um dos problemas nacionais que mais o afligia, a questão da música nacional
e de seu ensino.
Villa-Lobos, não raro, também intermediava o contato entre o DIP ou o Ministério da
Educação e os compositores populares. A importância dessa intermediação pode ser pode ser
aquilatada pelo ofício que escreveu em 1937 a Gustavo Capanema, Ministro da Educação e
Saúde, autoridade a qual estava subordinado, relacionando através de seus critérios se os
músicos poderiam ser considerados originais ou não.
101
Relação de compositores Populares Classificados pelo Valor de Originalidade Os Espontâneos Originais e extremamente típicos Os de “samba de morro” Intencionais Os de Carnaval Intencionais Os de Teatro Intencionais Os de Rádio Intencionais e imitadores do tipismo americano Freire Junior Teatro, Carnaval e Rádio Ary Barroso Teatro e Rádio Lamartine Babo Carnaval e Rádio Eduardo Souto Teatro e Carnaval Alfredo Viana (Pixinguinha) Espontâneo Ernesto Santos (Donga) Carnaval João Teixeira Guimarães (Pernambuco) Espontâneo Antonio Maria Passos Espontâneo André Filho Carnaval Nelson Alves Espontâneo Caninha Espontâneo Tupinambá Espontâneo Heitor Catumby Espontâneo Almirante Carnaval e Rádio Chico Alves Carnaval e Rádio Candido Silva (Candinho) Espontâneo
Relação de compositores Populares Classificados pelo Valor de Originalidade (continuação) Mário Reis (Drº) Rádio Custódio Mesquita Rádio Vogeler Teatro, Carnaval e Rádio Adalberto Carvalho Teatro Bento Mossurunga Teatro Noel Rosa Carnaval e Rádio José Maria de Abreu Rádio José Luiz Calazães (Jararáca) Espontâneo Severino Rangel (Ratinho) Espontâneo Lupercio Miranda Rádio João de Deus Rádio Estefania Macedo Espontâneo Benedito Lacerda Rádio João Martins Rádio Abelardo Neto Carnaval Romeu Silva Carnaval e Rádio Ernane da Silva Samba Satyro Carnaval e Rádio Vasseur Teatro, Carnaval e Rádio Rubens Soares Carnaval Pedro Cabral Espontâneo Assis Carnaval Luiz Americano Teatro e Rádio
Fonte: CPDOC-FGV, GC 37.02.13-A, 0328/2.
102
Villa-Lobos se sentia na qualidade de exercer um poder discricionário a respeito do
que era ou não realmente original e o que era cópia e fruto de estrangeirismos, do que tinha ou
não valor cultural para a Nação. Ao fim deste relatório reproduzido acima ele procurou
esclarecer as diferenças entre música popular e música folclórica, cuja primeira pode ou não
ser original, enquanto arranjada ou transplantada e a segunda é a música regional, indígena
quase autóctone.
Esta lista de nomes tem um significado interessante pois é como se o compositor
procurasse demonstrar a nível cultural de quem eram os artistas de que se poderia buscar
alguma originalidade, e quem eram os artistas que sofriam influência estrangeira, acusação
grave até certo ponto num ambiente cultural dominado por ideais nacionalistas e ufanistas.
Assim como Gilberto Freire que procurou explicar as bases históricas da identidade
étnica nacional e buscou divulgar antes de tudo uma nova e positiva visão do brasileiro,
buscando incansavelmente a identidade do Brasil, Villa-Lobos em suas composições retrata o
Brasil que ele pensa como referencial e se aproximar do que mais significava para ele a
música nacional. E seria através do folclore em suas composições, e principalmente pelo
ensino do folclore por meio da música às futuras gerações do país, que Villa-Lobos
considerava um caminho eficiente para chegar à consciência nacional. Para ele a música
folclórica era o alicerce da formação de um povo ciente de sua própria importância, pois
reservava à música o capital papel civilizador e formador de identidade.
É preciso reafirmar que somente nos anos do Estado Novo (1937 – 1945) é que houve
realmente uma vitória do Nacionalismo, tornando-o parte permanente e central da vida
política brasileira, sendo utilizado por Vargas para fortalecer sua própria posição, como para
estimular o desenvolvimento nacional como um todo. Podemos nos perguntar então qual seria
a importância desta radicalização ideológica para Villa-Lobos.
Uma resposta pertinente a esta indagação seria a caracterização da fusão mais
acentuada do nacionalismo político e do intelectual dentro de um projeto do governo, que pela
primeira vez patrocinou uma espécie de expansão do Nacionalismo político em larga escala.
Podemos dizer também que o governo estava disposto a apoiar os intelectuais em suas
viagens de divulgação ao estrangeiro, apresentando o projeto nacionalista brasileiro, tal como
aconteceu com Villa-Lobos, em suas diversas viagens oficiais, assim como Gilberto Freire.
Iam ao estrangeiro como prova viva do progresso intelectual do país.
Ilustro como exemplo a viagem de Villa-Lobos a Praga em 1936 para participar de um
Congresso de educação onde o maestro tratou de temas ligados à educação musical,
defendendo a ideia do ensino da música como meio de desenvolvimento do sentimento de
103
civismo. Transcrevo aqui uma entrevista concedida por Villa-Lobos quando do retorno de
uma viagem à Alemanha, também em 1936, mostrando como o compositor se comportava
como um importante representante das inovações culturais pela qual o Brasil passava no
decorrer do Governo Vargas:
O Maestro atuou muito na Alemanha, pois não? Ao chegar a Berlim, fui contratado pelo professor Drº Von Westermann, diretor geral da “Reichslundfunk”, afim de realizar três audições das minhas obras. Por esse motivo fui entrevistado por vários jornalistas alemães, já conhecedores da formidável vitória da orientação do nosso ensino de música, num sistema popular, com as principais finalidades que o caracterizam: disciplina, civismo e arte pela música. Pelo nosso embaixador em Berlim, Drº Muniz de Aragão, o professor Sá Pereira e eu, fomos levados a presença das principais autoridades do ensino na Alemanha, tendo-nos sido facilitados todas as informações da extraordinária organização educacional desse país, cujos dados estão sendo colhidos pelo nosso amigo Sá Pereira que lá ficou desempenhando as inculbências dadas pelo Srº Ministro da Educação, Drº Gustavo Capanema, apesar do tempo escasso e da insuficiente subvenção que nos foi conferida. Diante da boa impressão causada pelos concertos, conferências e entrevistas sobre a nossa orientação do ensino de música, angariei o precioso conhecimento do diretor geral do Departamento de Intercâmbio Internacional da “Reichs-LundfunkGesellschaft” DrºDiettrich, o único organizador responsável pelo incomparável e colossal serviço do Rádio Oficial da Alemanha.178
Por conta destes contatos percebemos o quão importante se tornou a figura de Villa-
Lobos para a educação nacional principalmente focada em valores como a disciplina, valor
caro a um regime nacionalista.
Enquanto o regime Alemão se apoiava em figuras já passadas como Wagner e
Beethoven para invocar suas raízes, no Brasil Villa-Lobos se tornaria a linha de frente para a
criação de uma espécie de música nacional oficial, pensando de forma arrojada e
contemporânea a imprescindível aplicação da música de acordo com as necessidades
primeiras do Estado.
O Regime Vargas inaugurou um novo sistema administrativo, caracterizado pela
intromissão do Estado em todos os aspectos da vida nacional, e por conta disso, dentro de seu
esquema político, cada vez um maior número de intelectuais tornaram-se seus ideólogos,
apologistas ou propagandistas do Estado Novo, enquanto os que não eram agraciados com
algumas vantagens eram obrigados ao autoexílio ou ao emudecimento:
178 Fonte: FGV/CPDOC. Documentos sobre música série – g. Ministério da Educação e Saúde – Educação e Cultura. Data de Produção 1935 a 19.10.1945. Rolo 38 fot. 776 a 986. Arquivo Gustavo Capanema – GC g 1935.00.00/3.
104
Se os anatolianos eram polígrafos que se esforçavam por satisfazer a todo tipo de demanda que lhes faziam a grande imprensa, as revistas mundanas, os dirigentes e mandatários políticos da oligarquia, sob forma de críticas, rodapés, crônicas, discursos, elogios, artigos de fundo, editoriais e etc., os intelectuais recrutados pelo regime Vargas assumiram as diversas tarefas políticas e ideológicas determinadas pela crescente intervenção do Estado nos mais diferentes domínios de atividade.179
É importante demarcar o papel do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)
órgão criado em 1939 para expor a política e os programas de Vargas assim como fazer a
censura da oposição ao Regime.180
Villa-Lobos recebeu intenso apoio da máquina do Governo muito antes da criação do
DIP, em 1939, porém este órgão serviu para massificar a propaganda das concentrações
orfeônicas orquestradas por Villa-Lobos, colocando a imagem do compositor em grande
exposição Nacional. Outro exemplo desta aproximação é a edição pelo DIP em 1940 do livro
“A música Nacionalista de Vargas”, escrito pelo compositor, onde exalta a Revolução de
1930 e a importância das Reformas instituídas por Getúlio Vargas para o avanço real do
Brasil, além de esclarecer sua contribuição pessoal intelectual para este regime.
O DIP esforçou-se para incutir no público brasileiro um novo sentimento de dignidade
e orgulho, em grande parte apoiado no reconhecimento de organizações políticas,
econômicas, militares e sociais do regime de Vargas. O departamento, em suas atividades se
constituía de um esforço coordenado com outros órgãos, e ao mesmo tempo em que publicava
e distribuía material escrito de teor nacionalista, utilizava outros meios como o cinema e o
rádio, atingindo milhões de brasileiros, incluindo os analfabetos e as crianças, no intuito de
promover popularmente um sentimento de identidade nacional comum e positivo.181
179 MICELI, Sergio, Intelectuais à brasileira. Cia. Das Letras, São Paulo: 2001, p. 197. 180 LAUERHASS, Ludwig Jr, Getúlio Vargas e o triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da Geração Nacionalista de 1930. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986,p. 134. 181Ibdem, p. 149.
105
Cerimônia no Estádio de São Januário, Rio de Janeiro. Primeiro plano da esquerda para a direita, Getúlio Vargas, Villa-Lobos e o Prefeito Pedro Ernesto. Acervo Museu Villa-Lobos.
A imagem acima não teve legendae sua montagem não tem data, porém é provável que
seja de 1936, pois depois disto Pedro Ernesto cairia em desgraça e não poderia estar na foto,
por se encontrar preso. Apresenta a figura de Villa-Lobos em destaque, em conjunto com
Vargas e outras figuras importantes do Estado Novo. Trata-se de uma imagem peculiar, pois
através dela podemos perceber a necessidade de incluir a figura de Villa-Lobos entre parte
importante das figuras centrais do Estado Novo mostrando o quanto o compositor foi
essencial para este tempo como uma importante figura política do período.
106
Villa-Lobos, José Fernando e Sá Pereira. Alemanha 1936. Acervo Museu Villa-Lobos.
O estreitamento das relações entre os intelectuais e o Estado provocou um processo de
burocratização das carreiras, diferente das benesses oferecidas pelos chefes oligárquicos da
República Velha, embora para estes novos cargos ainda fosse preciso um capital de relações
sociais, e esses intelectuais passassem a se vincular aos figurões da elite burocrática que
estava recém-instituída. Estas elites intelectuais recebiam além das retribuições pecuniárias,
lucros simbólicos muito mais importantes, como favorecimento nas eleições para a Academia
Brasileira de Letras e para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ou a designação para
uma viagem oficial para representar o Brasil ou o governo no exterior, como foi
constantemente o caso de Villa-Lobos.
107
Inauguração do busto de Villa-Lobos no Teatro Municipal. Rio de Janeiro, 1937. Acervo Museu Villa-Lobos.
Villa-Lobos contou com seu renome e a admiração do interventor paulista João
Alberto além da simpatia de intelectuais modernistas para conseguir se aproximar da política,
haja visto que, seu capital social familiar era baixo. Durante grande parte de sua vida o
compositor viveu estritamente da venda de suas composições e das aulas que lecionava, ou
eventualmente do apoio de amigos e de mecenas. Isso contrariava a regra geral para se
alcançar determinados cargos públicos normalmente ocupados por pessoas que possuíam em
sua família gerações experimentadas no serviço público, ou contando entre seus antepassados
com pessoas de renome em profissões liberais, nas letras ou na atividade parlamentar. Ao
contrário, a família do compositor nada tinha a ver com a alta cúpula burocrática.182
3.5 Villa-Lobos Intelectual do Estado, agravos e desagravos
É muito conhecida a adesão de Villa-Lobos à Revolução de 1930 e ao presidente
Getúlio Vargas. Flávia Toni assim se refere ao assunto:
182 MICELI, Sergio, Intelectuais à brasileira. Cia. Das Letras, São Paulo. 2001. p, 221.
108
Dos fins dos anos 20 até a Segunda Guerra Mundial, houve o que se chamou de ‘a volta à ordem’ no que concerne as experiências da modernidade artística, e a produção de Villa-Lobos não escapa a este refluxo. Mas há também a ligação do compositor com a Revolução de 30, e a clara posição de gênio institucionalizado que adquire.183
De fato, Villa-Lobos passou a partir da década de 30 por mudanças substanciais,
principalmente em seu gênero composicional, para se adaptar ao seu projeto político. Para
abordar estas transformações utilizarei relatos de um antigo entusiasta do compositor, que
notou e documentou estas transformações em Villa-Lobos, trata-se de Mário de Andrade, um
dos mais importantes intelectuais modernistas, incentivador da criação de uma forma de
música “interessada” preocupado com a criação de uma manifestação cultural de cunho
nacional, principalmente na área da música.
Mário de Andrade inicia sua censura a Villa-Lobos e sua ligação com o Governo
paulista pós-revolução, criticando-o em artigo de 2 de dezembro de 1930 onde o escritor e
crítico se utiliza das seguintes palavras:
Para reger orquestras assim é preciso ter, além duma grande técnica de regente, a paciência, a habilidade diplomática. E isso então o autor dos Choros jamais teve e jamais terá. Haja visto o artigo feio que, homenageador de Julio Prestes, escreveu sobre a música revolucionária... Revolucionária falo de João Alberto.184
Esta crítica acima foi feita devido ao fato de que Villa-Lobos teria composto uma peça
musical dedicada a Júlio Prestes, candidato à Presidência da República que a Revolução de
1930 não permitiu tomar posse. Logo depois da vitória da Revolução reescreveu encima da
peça dedicada o hino à Revolução, o que causaria irritação em parte da elite paulistana que o
havia financiado anos antes e que era contrária à Revolução de 30, que os tiraria do poder.
No ano de 1933 Mário de Andrade, em carta para Prudente de Moraes Neto, critica
duramente esta nova postura do compositor. Para problematizar a questão é preciso
transcrever parte desta carta que perpassa em cada parágrafo como Villa-Lobos havia se
tornado uma pessoa diferente do que havia sido alguns anos atrás.
São Paulo, 20-01-33. Pru Você me pergunta o que penso do Quarteto Brasileiro nº 5, do Vila. E já não me é penoso falar nesse cachorro. É um quarteto bem brasil, não tem dúvida, misturada fabulosa de valores e imundícies, de prazeres reais e promessas que não serão cumpridas. Pouco antes da Revolução de 30, o Vila Lobos que aliás com certa discrição, já lambera o cu do Carlos de Campos, dedicava um concerto a Júlio Prestes. Nem bem a revolução venceu, esse indivíduo publicou uma entrevista de insultos aos vencidos,
183TONI, Flavia Camargo. Mario de Andrade e Villa-Lobos. São Paulo : Centro Cultural, São Paulo, 1987, p. 67. 184 Ibidem, p. 80.
109
dizendo que fora revolucionário desde 1500 e até compusera avante lalettre um hino da Revolução que a polícia carioca proibira. Escreveu algumas musiquices patrióticas, e diariamente aqui, largava da inocência, para ir lustrar as esporas com que João Alberto estragou irremediavelmente os tapetes dos Campos Elíseos. Bem o Vila, de amoral inconsciente que sempre fora, e delicioso, virara canalha com sistema, e nojento. Mudança tão violenta assim, de contextura moral, havia necessariamente de afetar a criação, afetou mesmo. A produção musical de Vila baixou de sopetão quase ao nada como valor. Compôs uns hinos, uns coros, umas transcrições de fugas de Bach pra Celo e piano e umas pecinhas pianísticas, tudo simplesmente porco. De vez em longe uma linha, uma invenção de efeito, acusava no meio da porcaria, o gênio despaisado. Aos poucos, essas bonitezas vieram se amiudando, prova, eu dizia comigo, que o Vila se acostumava aos poucos com a canalhice consciente. Se acostumou enfim; e desse individuo, a quem Deus, em desespero de causa neste deserto brasileiro, deu o gênio que tinha que dar pra algum brasil no momento, o Quarteto Brasileiro é o fruto já maduro. O que vale? Vale primeiramente pela técnica. Não daquelas mais verdadeiras, Beethoveniana, que deriva imediatamente da criação. O Vila ignorante, sem cultura, com um conhecimento deficientíssimo dos fatores musicais, sempre tivera essa técnica. As obras dele eram irregularíssimas. Quando grandes, apresentavam quase sempre formas desengonçadas, sobretudo compridezas irritantes, e canhestrices pueris. Mas o Vila inventava. Não sabendo orquestração, criava instrumentações admiráveis. Não sabendo o que é voz humana, deixa uma série impressionante de efeitos vocais. Fragilíssimo na harmonia, a ponto de não poder me definir uma feita o que era uma falsa relação, harmonizava com uma exatidão de caráter, com uma, sim, uma necessidade fatal [...] Ora o que choca mais, no “Quarteto nº 5” é que surgiu um Vila com outra técnica, a técnica que se aprende, a técnica acadêmica! [...] Essa vontade de servir a toda gente é que faz toda a imoralidade do Quarteto [...] O Vila se escondeu. Se disfarçou. Quer conciliar as coisas, e, por isso tornou-se um sistemático lambedor de cus, lambe os ditos do acadêmico criticante como do burguês ouvinte, do modernista embandeirado como do passadista louco pra se rever no novo. É um quarteto “gostoso”. E o Vila jamais não foi “gostoso”. Os instrumentos estão tratados com um carinho que jamais, estragador de instrumentos e vozes, o Vila teve. E estão bem nas suas tessituras propícias, bem nos seus efeitos brilhantes ou amáveis. Pra soarem bem, como ordena a Academia, e agrada a todos, artistas verdadeiros como o público boçal. Não é tudo. A polifonia, a harmonia, com toques levemente róseos de atualidade, é velharia da mais safada e saborosa, é do excelente quartetismo sensual dos maus românticos, dos românticos banais e acadêmicos, Tchaikovsky, Saint-Saens e idênticas chatices do universal aplauso. Pleno domínio da gostosura disfarçada. Não tem aquela desfaçatez, afinal das contas viril, leal, dum Puccini, duLeoncavallo, que escreveram coisas sensualmente fáceis, com franqueza, confessadamente. Não. É a chatice sub-reptícia, escondida, elegantizada, emoldurada, dum massenet, dum Turina. É o pulhismo covarde. 185
Vimos que Mário de Andrade se utiliza do Quarteto nº 5 para fazer uma análise do que
ele percebia como o surgimento de um novo Villa-Lobos, um maestro que em sua
consideração, através do puro e simples servilismo ao Estado acaba por transformar seu estilo
composicional.
Assim motivado, Mário de Andrade critica firmemente o posicionamento político
adotado por Villa-Lobos neste período, pois o escritor não podia suportar o alinhamento de
uma das figuras por ele mais admirada ao lado adversário de suas convicções, apoiador que
foi da revolta de 1932. Mário acusa Villa-Lobos de ter perdido sua maior característica que
185 Arquivo Mário de Andrade. IEB, apud CARVALHO, Hermínio Bello de. O canto do pajé: Villa-Lobos e a música popular brasileira. Rio de Janeiro: Editora Espaço e tempo, Metal Leve. 1988, p. 133-135.
110
era a sua capacidade de superar seus problemas de formação acadêmica para criar através de
seu “gênio” formas originais de escape.
Esta crítica perpassa fortemente a questão política e Mário de Andrade por mais que
veja uma suposta perda de criatividade de Villa-Lobos como algo de grande prejuízo artístico
não deixa de admitir a capacidade do maestro de compor e este fator é o que parece mais
incomodar o intelectual. Temos então aqui o problema nada raro do conflito pessoal do
criador e do político, pois para Mário de Andrade a perda criatividade de Villa-Lobos foi
incontestável. E isso se deu por causa do compositor ter se aproximado em sua opinião de
forma servil ao Estado. De fato, este período criativo do compositor realmente é considerado
por alguns analistas como um período menos inspirado de Villa-Lobos e um momento em que
o compositor parece ter entregado toda sua capacidade criativa ao nacionalismo, em prol do
Estado tendo se esgotado nisso.
Getúlio Vargas recebe Villa-Lobos e outros
A excessiva explosão verbal de Mário de Andrade na carta a Prudente de Morais, que
reproduzimos acima, não reduz o fato de que realmente Villa-Lobos optou por fazer
transformações quanto ao gênero musical que utilizaria, de acordo com seu posicionamento
político alinhando gênero e pensamento tornando sua criação cada vez mais politizada.
Mário de Andrade e Villa-Lobos tomaram posições distintas nos anos 30. Mário
enquanto diretor do departamento de cultura de São Paulo, entre 1935 e 1938, buscou fazer
com que o público se sentisse convidado a participar da vida cultural, com a abertura do
111
Teatro Municipal para o povo em audições gratuitas, com a criação de uma biblioteca volante
e com programas de parques infantis que eram pensados de acordo com a necessidade dos
filhos dos operários que o frequentavam. Nessas circunstâncias o programa de canto
orfeônico, liderado por Villa-Lobos fazia parecer que era a música que corria atrás do povo.186
Publicamente Mário de Andrade nunca atacou a política nacionalista de Villa-Lobos e
seguiu a defendê-lo na maior parte do tempo:
Sua relação com Vila tinha ascensões vertiginosas de uma pandorga que, de repente era tosada em pleno vôo, perdia a rabiola e entrava em parafuso. O crítico Eurico Nogueira França (“Presença de Villa-Lobos”, Vol. 12, pág. 70) clarifica: Quando Mário de Andrade Morreu (1945), os dois não se davam. É claro que aquela grande figura da intelectualidade brasileira sabia, melhor do que ninguém, quem era Villa-Lobos. Mas não atiramos farpas em quem mais amamos? Não tenho a mão, no momento, nenhum escrito em que Mário haja arranhado Villa-Lobos.187
Contrariando a afirmação de Ermínio Bello de Carvalho, a publicação da carta de 1933
demonstra um Mário de Andrade furioso atacando impiedosamente a postura do compositor.
Na série de textos nomeada “O banquete” o personagem chamado “Janjão” é como
afirma Flavia Camargo, um artista que vê a própria falha, por não conseguir fazer música
suficientemente útil ou engajada, julgando-se burguês demais e sofrendo por isso. Janjão
esteve bem próximo de ser o compositor perfeito, adequado ao tempo que vivia e que, em
meio às contradições, enxergava claramente seus próprios defeitos, os pontos que deveria
aprimorar, até que se deu por vencido, reconhecendo-se um individualista dono de sua
sabedoria burguesa. 188 Mário de Andrade Talvez tenha vislumbrado neste personagem a
figura de Villa-Lobos, compositor muitas vezes elevado por ele à posição de maior gênio
criador que teria aparecido na música brasileira.
Apesar de considerar os problemas que atrapalhavam o compositor, como a falta de
organização intelectual, os ensinamentos por ele mal digeridos e as falhas de instrução
musical, Villa-Lobos era considerado por Mário o que possuía invenções musicais fortes e
originais, dotada de uma brasilidade livre e audaciosa. Ao perder esta originalidade, tentando
adequar-se ao nível de outros compositores, de forma mais clássica, Villa-Lobos perde sua
principal característica, que o distingue dos demais, e o transforma apenas em mais um
compositor, o que teria causado a decepção de Mário de Andrade.
186 TONI, Flavia Camargo. Mario de Andrade e Villa-Lobos. São Paulo : Centro Cultural, São Paulo, 1987, p. 66. 187 CARVALHO, Hermínio Bello de. O canto do pajé: Villa-Lobos e a música popular brasileira. Rio de Janeiro: Editora Espaço e tempo, Metal Leve. 1988, p. 122. 188 Ibidem, p. 71.
112
Villa-Lobos não sofreu apenas a crítica de Mário de Andrade. Villa-Lobos sempre foi
polêmico, sempre despertou ora grande admiração, ora oposição. Podemos citar o interessante
documento confidencial, muito mais violento que a carta de Mário de Andrade, enviado à
Gustavo Capanema por Luis Cândido de Figueiredo, professor aposentado de violoncelo, o
qual travou na imprensa uma interessante batalha contra o conselho técnico que estava
responsável pela elaboração de uma versão oficial do Hino Nacional em 1936.
Villa-Lobos é acusado de ser completamente ignorante sobre música, acusando-o de
mentir sobre fatos de sua biografia, e de que era sua primeira esposa, pianista, harmonista e
compositora, era quem de fato escrevia suas composições. Eis algumas palavras de Luis
Cândido Figueiredo:
Logo que divorciou-se correu ao Correio da Manhã e anunciou que deixaria de compor porque ia cuidar somente do Orfeão Municipal, o que é este Orfeão todos nós sabemos, apenas uma fonte de cavações. 189
Além das críticas sobre seu conhecimento técnico existe também uma outra grave acusação:
O Senhor Villa-Lobos acaba de mandar instrumentar para banda de música os hinos, pelo professor “Wogeler”(SIC), autor da opereta que se representa no Theatro Recreio; pois bem, contratou o trabalho por 1:500$000, efetuou o pagamento, mas pediu que ele repassasse um recibo de 9:000$000!! Aquele professor recusou-se atender ao pedido; quem assinara o recibo? E quem pagará a quantia excedente?190
A acusação é certamente infundada. Ao que se sabe, na biografia de Villa-Lobos não
consta qualquer tipo de acusação de crimes ou fraudes e não se sabe da existência de nenhuma
investigação neste sentido quanto à vida pública do compositor. Ao longo do documento o
compositor é acusado de mentir para a imprensa e de não cumprir suas rotinas oficiais fora do
País e de ser incapaz tecnicamente.191 A impressão ao ler este documento é a de que o
compositor, por não ser um músico acadêmico, sofria enorme resistência deste grupo.
Ao listar possíveis testemunhas de sua acusação a Villa-Lobos, Luis Cândido
Figueiredo lista um grupo de intelectuais estabelecidos academicamente, o que, a meu ver,
deveriam ter imensa dificuldade em aceitar a orientação para assuntos musicais tão
importantes vindos de uma pessoa tida por eles de tão pouco valor. Parece à primeira vista
uma espécie de recalque por não ocupar determinado cargo em detrimento de alguém por ele
189 CPDOC-FGV, GC 37.02.13-A, 0328/2 rolos 130 a 135. 190 Ibidem. 191 Transcrição completa do documento encontra-se no final do capítulo em anexo.
113
considerado intelectualmente inferior e que de certa forma burlava a lógica dos empregos
burocráticos que estava estabelecida desde a República Velha.
Apesar dessa forte oposição, Villa-Lobos esteve sempre prestigiado no que tange à sua
relação com Gustavo Capanema e com a administração pública, como podemos perceber em
um documento pelo compositor ao ministro da educação em 9 de setembro de 1941:
Exmo. Sr.Dr. Gustavo Capanema DD. Ministro da Educação e Saúde Tendo sido designado por V. Ex. para fazer parte da comissão técnica para elaboração de um plano nacional de educação, cultura, proteção e controle da Música e do Teatro, desde o ensino musical que auxilia a formação cívica e artística da Juventude, até a sincretização de todo o nosso folclore ser elevado conscientemente a mais alta expressão de Arte Nacional, procurei mostrar aos meus companheiros de Comissão o que já havia realizado neste assunto, cujo trabalho tive a feliz oportunidade e subida honra de entregar pessoalmente à Sua Excelência Senhor Presidente da República, recebendo neste momento a bondosa promessa de que faria executa-lo. Correndo animada e esperançosamente as reuniões da nossa Comissão, concluímos no mais perfeito acordo e aprovação aos planos que entreguei a Sua Excelência Sr. Presidente, dos quais julgo que V. Ex., Sr. Ministro, já os tenha transformado em projeto de lei. Estando V. Ex., neste momento, inteiramente ao corrente da incrível e insustentável situação do declive do nível artístico nacional que atravessa o Brasil nesta época, julgo-meno dever, como artista patriota, com uma pesada bagagem de serviços prestados à nossa Pátria, de respeitosamente, exortar à V. Ex. pelo patriótico interesse que vem nos demonstrando de, sempre procurar amparar as artes e os artistas nacionais. Tenho certeza de que, V. Ex. apresentando à Sua Excelência o Sr. Presidente da República o projeto de criação do Departamento Nacional de Música e Teatro, não só o mesmo será aprovado como mandará executá-lo imediatamente, tal é a confiança e fé que sempre tive no Sr. Presidente de, também, algum dia, salvar a Arte da nossa querida Pátria. Cordiais Saudações H. Villa-Lobos
Tabela de Organização do Departamento Nacional de Música e Teatro
1 – Divisão de Ensino de Música e Teatro I – Conservatório Nacional de Música II – Conservatório Nacional de Canto Orfeônico III – Conservatório Nacional de Teatro IV – Fiscalização de todos os estabelecimentos estaduais, municipais e particulares de música, canto orfeônico e teatro. V – Controle da pratica do canto orfeônico e teatro nos estabelecimentos de ensino secundários, normais e profissionais. VI – Controle da repartição estadual destinada à direção do canto orfeônico e teatro nas escolas primarias.
114
2 – Divisão de Música ou Serviço Nacional de Música I – Orquestra Nacional II – Banda Nacional III – Amparo e orientação das Sociedades Artísticas e dos conjuntos Musicais (bandas, orquestras e coros) IV – Amparo Pessoal aos Artistas V – Controle artístico das rádios, concertos, gravações e filmagens. 3 – Divisão de Teatro ou Serviço Nacional de Teatro I – Teatro Nacional II – Amparo as companhias nacionais de teatro, da iniciativa particular. III – Controle do Teatro de Rádio.
O que podemos perceber deste projeto elaborado por Villa-Lobos é a produção de uma
máquina de controle cultural através da presença, do controle e do assistencialismo do Estado,
caminhando na mesma direção, fazendo com que as classes artísticas até então relegadas a um
segundo plano se aproximassem mais do Estado. Esta aproximação se daria através de uma
política de suporte de seus atuantes, sendo assim facilitado o controle do conteúdo de suas
produções.
Apesar do desapontamento de uns e do descrédito de outros, Villa-Lobos sempre
obteve a admiração do poder público constituído, antes, durante e depois de Vargas. Em sua
tentativa de criar na população um senso estético através da educação artística, em
consonância com o Governo, Villa-Lobos torna-se figura central no projeto de formação da
identidade nacional e neste ponto, de salvamento da cultura nacional, principalmente dos
estrangeirismos e das canções, como o samba, que eram divulgados ao extremo e que
invadiam o país através principalmente do rádio. 192
Através desta carta enviada a Capanema podemos perceber a existência de palavras
como “controle” e “proteção” do folclore nacional, soluções muito em voga em paises que
estavam sob alguma ditadura política. 193 Utilizada como importante ferramenta para o
compositor, percebemos a imposição de uma estética a qual considerava ser a correta para o
Brasil: 192Revista da Semana, 22 junho de 1945. "Villa-Lobos". Arquivo Orlando de Barros.- "Veja você aonde chegamos no terreno da música. O rádio, que deveria se compenetrar de seu papel de principal responsável pela educação artística do povo, é justamente quem mais faz por retardar a difusão dos conceitos de estética. Senão, vejamos: a qualquer hora que sintonizemos os nossos receptores uma onde de samba nos enche a sala. Temos samba como ‘Breack-fast’, samba no almoço, samba à hora do lanche, samba ao jantar. Ceamos samba, a nossa sobremesa é sempre samba. Não sou contra o samba, mas essa música é como a feijoada: menu brasileiro, gostoso e pesado. O seu uso constante só nos pode porém prejudicar a saúde. Não há como contestar: o samba é uma feijoada, quando demais produz indigestão.” 193 CPDOC-FGV, GC 37.02.13-A, 0328/2 fotograma 330.
115
Fora da música não há salvação, Mas a música entrará aqui como uma ponte entre a incompreensão artística e o senso estético, que propriamente como uma arte, O nosso problema máximo é educar o nosso povo, moldar-lhe o senso estético, fazer com que ele se aproxime do belo. E a isso ele tem que ser levado inevitavelmente pela música. Mas é necessário então que todos compreendam a música e tenham exata noção de seus valores. 194
Estas palavras exprimem uma preocupação compreensível principalmente com a
política de aproximação com os Estados Unidos, período em que estrelas como Al Jolson
famoso cantor de rádio e artista de cinema, marcava presença em shows para tropas
americanas em Pernambuco e, desta forma, se tornavam-se cada vez mais famosos no
território Brasileiro.195
3.6 O fim da contribuição de Villa-Lobos ao Governo de Vargas
Com o fechamento do DIP e, consequentemente, do afrouxamento da pressão sobre a
imprensa, as bases do Governo começaram a ruir, e o Regime Vargas acabou derrotado, da
mesma forma que os regimes fascistas a FEB ajudou a derrotar na Europa em 1945. Villa-
Lobos, diferente de Vargas que sofreu muitos ataques na imprensa, parece não ter sofrido com
o final do Regime mesmo tendo estado todo o tempo com sua imagem atrelada fortemente ao
Estado Novo, principalmente como uma espécie deMaestro das Massas.
Villa-Lobos, que em 1945 era diretor do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico,
manteve em parte a admiração pública à sua imagem ao correr dos anos, sem que as
transformações políticas pelas quais passou a Nação alterasse o seu prestígio. Isto pode ter
sido porque Villa-Lobos nunca deixou que o seu ativismo político dominasse o campo
musical.
Porém ninguém com uma imagem tão atrelada a um Regime político como aconteceu
com Villa-Lobos poderia sair sem que sofresse inteiramente ileso a ataques à sua memória,
ataques que duram até os dias atuais, fazendo com que Villa-Lobos nunca fosse um
personagem que goza de unanimidade em relação às suas criações ou seu comportamento
como homem público.
194Revista da Semana,22 junho de 1945. "Villa-Lobos". Arquivo Orlando de Barros. 195 BARROS, Orlando de. A Guerra dos Artistas: dois episódio da história Brasileira durante a segunda guerra mundial. Rio de Janeiro: E-papers, 2010. p, 134.
116
Villa-Lobos foi ostensivamente defendido na edição de jan-fev de 1953 na Revista de
Teatro (da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT) quando foi acusado de plágio
pelo titular dos direitos autorais da obra de Catulo da Paixão, por ter Villa-Lobos incluído em
seu Choro nº 10 um tema da melodia popular “Rasga Coração”. Em matéria chamada
“Revoltante Injúria a Villa-Lobos” o que poderia ter se transformado num "linchamento"
público, seguiu como uma defesa incondicional do compositor, por sua qualidade como um
expoente da música brasileira, que não tinha necessidade de plagiar ninguém, mas divulgava
pelo mundo a pitoresca melodia de “Rasga Coração” através de seu notável Choro nº 10.196
Em 1957 recebeu grande homenagem no Teatro Municipal do Rio de janeiro, no
transcurso dos setenta anos de idade, quando Villa-Lobos era um maestro de enorme
evidência em todo o mundo, regendo e gravando suas obras na Europa e nos Estados Unidos,
por isso sendo grandemente reconhecido por sua colossal obra construída até ali. R.
Magalhães Junior, presidente da SBAT, faz um importante elogio ao compositor na
homenagem recebida pelo mesmo.197
As Bachianas são um símbolo de uma época de transformação do compositor, símbolo
da burocratização de seu espírito, da catequização do antigo compositor selvagem, porém nem
por isso menos criativo, as Bachianas a meu ver exibem um lado erudito de Villa-Lobos,
menos espontâneo que o compositor dos Choros. A aventura nacionalista, do compositor que
havia começado em 1922, tomou ares oficiais durante os anos 30 e foi até 1945 e contribuiu
para a perceptível transformação do compositor.
O momento Bachiano de Villa-Lobos é aquele em que é acusado por sua falta de
espontaneidade, por sua profunda e visceral integração com o Estado e por uma preocupação
técnica – usando as palavras de Mário de Andrade –, "defeitos" nunca antes percebidos em
suas composições.
É preciso compreender a burocratização num sentido específico neste caso, em que o
compositor tenta se tornar mais técnico, porém sem perder a qualidade de suas composições,
como, por exemplo, nas Bachianas Brasileiras, composições esteticamente belas, porém
196 Revista de Teatro (SBAT), nº 271, jan-fev de 1953. Arquivo Orlando de Barros. 197"Apoteose a Villa-Lobos", Revista de Teatro (SBAT), nº 299, set-out de 1957. Arquivo Orlando de Barros. “A comissão de honra que organizou as manifestações prestadas ao maior músico brasileiro de todos os tempos foi chefiada pelos Srs. Presidente da República, Ministro da Educação e Prefeito do Distrito Federal, dela fazendo parte a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa, a Universidade do Brasil, a Comissão artística do Teatro Municipal, a Rádio do Ministério da Educação, a Rádio Roquete Pinto, o Pen Clube, o Museu de Arte Moderna, a Sociedade Teatro de Arte, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a Associação Brasileira de Concertos, a Cultura Artística, a Orquestra Sinfônica Brasileira, o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, o Conservatório Brasileiro de Música, a Academia de música Loreno Fernandez.”
117
completamente diferentes quanto à concepção musical adotada pelo compositor, e que o havia
feito notado pelo público.
O que convém perceber é como a transformação de Villa-Lobos numa figura pública
envolvida com a política nacional transformou também suas características criadoras,
ratificando como o compositor se adaptou a uma época em que a música já se fazia
pesadamente presente nos movimentos nacionalistas, fazendo com que o compositor abrisse
mão de sua característica mais marcante, que era o exotismo, para se enquadrar num estilo
oficial algo que na Europa já se fazia há bastante tempo.
Villa-Lobos se tornou de maneira adequada um compositor indispensável para o
Estado, seu papel na tentativa de organização da música e de seu ensino ratificou seu posto de
trabalhador incansável. A transformação de sua concepção musical exemplifica sua
capacidade de adaptação à situação em que vivia, de maneira a produzir conforme suas
necessidades.
118
CONCLUSÃO
Estou satisfeito porque já bem aproximado o fim da
minha vida, eu sinto perfeitamente que o Brasil
encontrou seu caminho. Que importa os problemas
políticos, os sociais, os problemas econômicos, o
Brasil se encontra. Eu fui pela música, e se por acaso
o meu exemplo possa servir a alguma coisa, a todos
os meus patrícios, façam o mesmo, lembrem-se de
que é a arte, que vem do coração para o coração, de
uma alma para a outra.
Villa-Lobos
119
O início da vida de Villa-Lobos se deu num contexto histórico conturbado da capital
federal e do Brasil, um período de profundas transformações sociais e políticas. Villa-Lobos
nasceu no berço da música clássica no Brasil, numa família pequeno-burguesa, sem ligações
com a elite social e política. O pai era funcionário público de grande erudição e foi quem o
introduziu na música clássica bem jovem. Nessa época, Villa-Lobos pôde também vivenciar
as experiências musicais e culturais intensas então correntes no Rio de Janeiro. Sua música,
talvez por isso, sem dúvida, reflete a infinita diversidade do Brasil, sua natureza exuberante e
as cidades em contínua transformação.
O compositor em sua juventude sofreu influências de música clássica e popular
demonstrando desde cedo sua capacidade produtiva, transcrevendo choros, gênero popular
orquestral do Rio de Janeiro, e produzindo suas primeiras peças.
Villa-Lobos sofreu com a resistência da crítica especializada, ao se apresentar como
um compositor de vanguarda, em parte por suas escolhas de gênero composicional que
incomodavam a crítica tradicionalista e em parte por sua origem relativamente modesta.
Percebemos que sua carreira foi alavancada por dois grandes acontecimentos que são
marcos em sua carreira, o acontecimento da sua amizade com o pianista Artur Rubinstein e a
realização da Semana de Arte Moderna, com seu importante papel de destaque neste evento.
Rubinstein trouxe para Villa-Lobos a influência de seu prestígio internacional junto a
outros músicos e críticos, conseguindo também apoio financeiro para o compositor em
algumas situações. Já a Semana de 22 deu à Villa-Lobos uma visibilidade nacional,
aumentando sua rede de contatos, que o possibilitou que contasse com a ajuda financeira de
mecenas da elite Paulista e Carioca, o colocando em contato com figuras importantes no
cenário intelectual brasileiro, como Mário de Andrade. A tudo isso soma-se a sua primeira
viagem a Paris, que causou uma mudança importante no compositor dando a ele uma
visibilidade então internacional.
Villa-Lobos, como qualquer outro artista que vive de suas criações, por sua condição
modesta, sofreu sempre com a falta de recursos, e este será um dos fatores que o fará retornar
de Paris em sua segunda viagem, chegando ao Brasil em 1930. Nesse retorno ao Brasil Villa-
Lobos vai então unir-se à Revolução em curso, tornando-se virtualmente um intelectual do
Estado.
Daí em diante, como se pode perceber, o compositor passou a defender o nacionalismo
vigente no Regime de Vargas, expressando-se pela vertente musical nacionalista. Acreditava
mesmo que uma política totalitária era a melhor solução para apressar a caminhada da nação
em direção ao futuro. Isso se torna claro em seus projetos para a educação musical numa
120
tentativa de "plasmar a juventude e o povo brasileiro" (plasmar = dar forma, expressão então
corrente), através do SEMA e das concentrações orfeônicas. O compositor se tornou uma
espécie de agente cultural do Regime Vargas no meio musical dentro e fora do Brasil,
viajando como representante oficial do Brasil.
Esse apoio de Villa-Lobos à política de Getúlio Vargas pode ser tomado como duas
contingências moralmente aceitáveis naquela época. A primeira, a questão da sobrevivência, a
mesma que levou intelectuais como Carlos Drummond de Andrade ou Mário de Andrade a
também trabalhar junto ao Regime, a falta de um mercado consumidor de cultura no Brasil ea
falta de universidades – local ideal para um intelectual sobreviver – fazia com que estes
buscassem apoio no Estado.
A outra contingência seria a total adesão intelectual do compositor ao Regime e à
política Nacionalista imposta por Vargas e executada pelos intelectuais a serviço do regime
político. Villa-Lobos demonstrou grande admiração por esta política, dedicou amor à Nação, e
devotou-se ao culto ao Estado Brasileiro e à cultura Nacional bem aos moldes dos intelectuais
modernistas que se instalaram no Regime, que se dedicavam a uma política de exaltação da
pátria, abandonando os direitos dos indivíduos em favor do coletivo. Além disso o compositor
demonstrou possuir desenvoltura para lidar com a burocracia do Estado, como bem mostra o
desembaraço com que lidava com figuras importantes como Gustavo Capanema, Ministro da
Educação e Cultura, enviando listas e solicitando cargos.
As Bachianas Brasileiras podem ser consideradas como o indicador da transformação
do compositor, para a compreensão daquela nova fase em sua vida, tanto musical quanto
ideologicamente. O compositor se torna uma figura pública de ampla divulgação, torna-se o
maestro da Nação fazendo com que sua capacidade criativa se tornasse ainda mais notória, de
forma que a crítica não poderia mais reduzir sua importância, pois passaria a contar com todo
o aparelho do Estado ao seu lado. Foi um momento também em que o compositor enfrentou
grande oposição no meio político, acusado de roubo em carta enviada à Capanema, e criticado
por antigos apoiadores.
Esta oposição se deu por sua posição de destaque, que aos olhos de alguns acadêmicos
da música era algo incompreensível e inaceitável. Villa-Lobos esteve no centro do governo no
que se tratava de questão musical, e por se tratar de um compositor que não possuía uma
formação acadêmica, uma parte desta academia se manifestava de maneira a tentar
desvalorizar o compositor, principalmente aos olhos do Ministro Capanema.
Villa-Lobos em seu tempo não foi o único compositor a fazer música nacionalista ou
folclórica, outros compositores também a fizeram, porém sem o vigor e a versatilidade
121
demonstrada por ele em sua vasta lista de composições. Villa-Lobos mostrou-se um
compositor com admirável energia composicional, revelando-se também como uma notável
figura política. Passando por uma infância marcada pela morte prematura do pai e por
problemas financeiros, iniciando a juventude entre músicos populares. E ainda assim,
superando, superando as dificuldades, mesmo sem nunca ter estudado num conservatório, foi
considerado ainda em vida o maior compositor de música erudita da América.
122
REFERÊNCIAS
ALAMBERT, Francisco. A Semana de 22, A aventura modernista no Brasil. São Paulo: Editora Scipione, 2ª Edição, 1994. ANDERSON, Benedict. Comunidade Imaginadas: Reflexões sobre a origem e a expansão do Nacionalismo. Lisboa: Edição 70, 1991. ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 4ª Edição, 2006. ______. Dicionário Musical Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1989. ______. Pequena história da música Belo Horizonte. Editora Itatiaia. 2003. BARROS, Orlando de. Custódio Mesquita: Um compositor romântico no tempo de Vargas (1930-45). Rio de Janeiro: Funart, EdUERJ, 2001. ______. A Guerra dos Artistas:dois episódio da história Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: E-papers, 2010. ______. O Pai do futurismo no País do Futuro: As viagens de Marinetti ao Brasil em 1926 e 1936. Rio de Janeiro, E-papers, 2010. BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil, 1989. BAUMANM, Simpson de Brito Melo. O Nacionalismo Musical nas três suítes brasileiras de Oscar Lourenço Fernandes. Dissertação de Mestrado, Conservatório Brasileiro de Música, Rio de Janeiro 1996. BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001. CARDOSO, Ciro Flamarion. Um Historiador fala de teoria e Metodologia, ensaios. São Paulo: Edusc. 2005. CARPEAUX, Otto Maria. O Livro de ouro da história da música. Rio de Janeiro: Quorum Editora. 2009. CARONE. O Estado Novo (1937-45). São Paulo: Difel,1997. CARPENTER, Alejo. Villa-Lobos por Alejo Carpenter. Seleção de textos Arquivo do Estado de São Paulo. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado. 1991. CARVALHO, Hermínio Bello de. O Canto do Pajé: Villa-Lobos e a música popular brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Espaço e tempo, 1988.
123
CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. CONTIER, Arnaldo. Memória, história e poder: a sacralização do Popular e do Nacional na Música (1929-50) Revista de Música, ECA, USP, 2(1); p. 5-36, 1991. ______. Passarinhada do Brasil: canto orfeônico, educação e getulismo. Bauru, SP: EDUSC, 1998. CORDEIRO, F. de Bastos. Brasilidades. Rio de Janeiro: Niemeyer, 1943 DICTIONARY of Twentieth-Century Music.Edited by John Vinton, Thames and Hudson – London.1956. EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro do Meutempo. Brasília: Edições do Senado Federal, volume I, 2003. FRANÇA, Eurico Nogueira. Villa-Lobos, Síntese crítica e Biográfica, Editora Museu Villa-Lobos\Mec. 1970. GINZBURG, Carlo. História Noturna: Decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia das Letras. 1991. ______. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das letras. 1987. ______. O fio e os rastros, verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras. 2007. ______. Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. GUÉRRIOS, Paulo Renato.Heitor Villa-Lobos o caminho sinuoso da predestinação. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2008. GUIMARÃES, Luiz. Villa-Lobos visto da plateia e na intimidade (1912/1935). Rio de Janeiro:Editora Arte Moderna. 1975. KIEFER, Bruno. Villa-Lobos e o Modernismo.Brasilia: Editora Movimento, 2ª Edição. 1986. ______. Villa-Lobos e o Modernismo na Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento. Fundação Nacional Pró-Memória, 1986. HALL, Stuart. Identidade Cultural na Pós Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2005. HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismos desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. LENHARO. Sacralização da Política. Campinas: Papirus 1986.
124
LEVINE, Robert, M. O Regime de Vargas. Ed Nova Fronteira. LIMA, A.C. de Souza. Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. ______. A identificação como categoria histórica. In OLIVEIRA, João Pacheco de, (ed.). Os poderes e as terras dos Índios. Rio de Janeiro: s.n., 1989. LAUERHASS, Ludwig Jr.Getúlio Vargas e o triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da Geração Nacionalista de 1930. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986. LOPREATTO, Christina da Silva Roquette. O espírito da Revolta: a greve geral anarquista de 1917. São Paulo: Annablume, 2000. MARIA, Maia. Villa-Lobos Alma Brasileira. Ed. Contraponto, 2000. MARIZ, Vasco. Villa-Lobos, o homem e a obra.Editora Francisco Alves, 12ª edição, 2005. ______. Dicionário Bio-Bibliográfico Musical (brasileiro e internacional). Rio de Janeiro. Livraria Kosmos Editora. 1948. ______. Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro. Belo Horizonte: 11ª Edição, Editora Itatiaia Limitada, 1989. MASSIN, Jean. História da música ocidental. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. MEDEIROS, Jarbas. A Ideologia Autoritária no Brasil (1930-1945) : Francisco Campos, Azevedo Amaral, Oliveira Vianna, Alceu Amoroso Lima e Plínio Salgado. Rio de Janeiro: FGV, 1978. MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e expulsão na capital federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996. MICELI, Sergio.Intelectuais à brasileira. São Paulo: Cia. Das Letras, 2001. MORAES, J. Jota de. Música da modernidade: origens da música do nosso tempo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983. MUSEU Villa-Lobos.Presença de Villa-Lobos, 2º volume, Museu Villa-Lobos, Fundação Nacional pró memória. NOBREGA, Adhemar. As Bachianas Brasileiras. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1971. ______. Os Choros de Villa-Lobos. Museu Villa-Lobos, 1975, Departamento de Assuntos Culturais. PAZ, Ermelinda A. Villa-Lobos e a música popular brasileira: Uma visão sem preconceito. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2004.
125
PICCHIA, Menotti del. A “Semana” revolucionária. Organização, apresentação, resumo biográfico e notas: Jácomo Mandatto. Campinas, SP. Ed. Pontes. 1992. RIOUX, Jean-Pierre & SIRINELLI Jean-François (Dir.) Para uma História Cultural. Lisboa: Ed. Estampa. 1998. SÁ, Celso Pereira de. A Construção do objeto de Pesquisa em representações Socias. Rio de janeiro: Ed. UERJ, 1998. SALLES, Paulo de Tarso. Villa-Lobos: processos composicionais. Campinas, SP: editora Unicamp, 2009. SANTUZA, Cambraia Naves. O violão azul: Modernismo e música popular, Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1998. SIQUEIRA, José. Música para a Junventude. Rio de Janeiro. 1953. SINDULFO, Santiago. Nilo Peçanha: uma época política. Niterói: Livraria e Editora Sete, 1962. STORNI, Eduardo.Villa-Lobos. Madrid: Espasa-Calpe, S.A,1988. TACUCHIAN, Ricardo. Um Réquiem a Villa-Lobos. In. Revista Brasiliana, nº9, Setembro de 2001. (revista) ______. Villa-Lobos: Uma revisão. In Brasiliana: revista semestral da academia brasileira de música. Nº29. Agosto de 2009.(revista) TINHORÃO, José Ramos. Música Popular: um tema em debate. 2ª edição, Rio de Janeiro: editora JCM, 1966. TONI, Flavia Camargo. Mario de Andrade e Villa-Lobos. São Paulo: Centro Cultural, São Paulo, 1987. TORÍBIO, M.T, DANTAS, A.T, BAHIA, L.T (org.).América Latina em Construção: Sociedade e Cultura – séc. XXI. Rio de Janeiro: Ed. 7 letras. 2006. TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 2000. VILLA-LOBOS, H. A música nacionalista no Governo Vargas. Rio de Janeiro: DIP. 1940. VOVELLE, Michel. Ideologias e Mentalidades. São Paulo: Brasiliense. 1987. WERNECK. J. L. Da Silva (Org.) [etal.]. O Feixe e o prisma: Uma revisão do Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991, 2v. WISNIK, José Miguel.O Coro dos contrários: a música em torno da semana de 22. São Paulo: 2.edição, Livraria Duas Cidades. 1983. ZANON, Fábio.Villa-Lobos. Coleção Folha Explica.
126
ARQUIVOS PESQUISADOS Biblioteca Nacional Divisão de Música da Biblioteca Nacional (Palácio Gustavo Capanema) Biblioteca Alberto Nepomuceno (Escola de Música da UFRJ) Museu Villa-Lobos Arquivo Orlando de Barros
ANEXO
O texto abaixo, um ofício de Luiz Candido de Figueiredo ao Ministro Capanema,
segue conforme o original, inclusive com os erros ortográficos. Nos nomes próprios grafados
com erros assinalamos com (sic).
Exmo. Snr. Dr. Gustavo Capanema
Confidencial
Saudações Respeitosas.
Peza-mevol-o digo, com absoluta verdade, ser forçado dirigir-me à V. Ex., mas o
dever de cidadão e artista obriga-me a proceder assim.
Foi em Novembro de 1936 que lhe dirigi a primeiro [sic] requerimento pedindoa
revisão do Hynmo Nacional do grande e saudoso musico Francisco Manoel; V. Ex. atendendo
meu pedido o enviou a directoria da Escola Nacional de Música, que é o único
estabelecimento que deve resolver officialmente todos os casos e questões que se relacionam
com assumptos musicaes.
O Conselho Technico, abriu mão da incumbência, com tal displicência que provou sua
falta de escrúpulo e patriotismo em bem servir a causa publica,apezar de se tratar do canto da
pátria, o Hymno Nacional.
V. Ex. nomeou comissão, mostrando o interesse que tem em resolver a denuncia que
dei em meu requerimento de 13 de Novembro de 1936.
Já disse pela imprensa e repito aqui com a responsabilidade de meu nome, cargo
publico, idade e passado artístico, que o Sr. Villa-Lobos e Muricy, são completamente
ignorantes do assumpto em questão, o que posso provar em publico a hora que ambos
quiserem, desejando apenas a presença de V. Ex. e do Corpo Docente da Escola N. de Música
e do publico a quem se deve orientar.
O primeiro, o Sr. V. Lobos, (sic) não se arreceiou de mentir em um
programmaofficial, nos concertos do Theatro Municipal, dizendo que aos 6annos iniciou seus
estudos de violoncello, aos 7 aprendeu a embocadura de “alguns” instrumentos e aos 9 seu pai
lhe ensinou a tocar piston!!
Qualquer individou leigo em musica verifica immediatamente essa enorme mentira
biográfica, que tanto escandalizou o Dr. José Alves Filgueiras, que devido aos insucessos dos
Concertos, prohibiu a continuação d’elles.
Para que V. Ex. convença-se da crassa ignorância do Sr. V. Lobos, (sic) basta ler os
livros: Ensino “popular” da Música no Brasil e Programmas e Guias; os quaes existem na
Directoria de Educação, a Rua do Passeio, 82 e foi necessário estar a sua frente um moço
mineiro Dr. Cazasanta para que fosse dissolvida delicadamente a S.E.M.A. e prohibidas as
manobras instituídas pelo Sr. V. Lobos, (sic) para serem executadas no Orpheon.
Esse Sr. V. Lobos casado com uma pianista, harmonista e compositora, só produziu
até o dia em que permaneceu ao seu lado “logo que divorciou-se” correu ao correio da manhã
e annunciou que deixaria de compôr porque ia cuidar somente do Orpheon Municipal; o que é
este orpheon todos nós sabemos, apenas uma “fonte de cavações”.
Agora acaba de publicar o Hymno da Independencia, com tantos erros que requeri
providencias do Dr. Reitor da Universidade juntando documentos como faço sempre.
Todos nós temos restrictas obrigação de zelar e auxiliar a administração publica,
máxime tratando-se de instrucção publica a frente a frente qual acha-se V. Ex. que tem
mostrado desejo de bem servil-a.
O Sr. V. Lobos acaba de mandar instrumentar para banda de música os hymnos, pelo
professor Wogeler, autor da Opereta que se representa no Theatro Recreio; pois bem,
contractou o trabalho por 1:000$500, effectuou o pagamento, “mas pediu que ele passasse um
recibo de 9:000:000!! Aquelle professor recusou-se attender ao pedido; quem asignará o
recibo?? E quem pagará a quantia excedente?? Seria alongar-me consideravelmente se
declinasse aqui as mentiras e extorsões feitas pelo Sr. V. Lobos, (sic) porem não posso deixar
de transcrever um trecho de um jornal de Roma, depois do 3º congresso de musica moderna
em Florença; eil-lo:
“FESTIVAL DA NOVA MUSICA”
Strauss, Mascagni, Toscanini, contra os músicos ultramodernistas.
Composições como as de Rugles, Hector V. Lobos, um musico do Rio de Janeiro,
Schambel, (sic) Schouberg, (sic) desencadearam uma “verdadeira pateada, assobios e
comentários irônicos”.
No entanto, o Sr. Villa-Lobos mandou notícia diferente para nossos jornaes.
No congresso de Praga ele chegou com o Sr. Sá Pereira actual Diretor da Escola N. de
Musica, dois dias depois de encerrado, cinco dias passados, vinham telegrammas para o
Correio da Manhã, dizendo que ele havia conseguido das creanças de la, cantarem canções
brazileiras em portuguez, é demais!!
Sobre a organização do orpheon de Pernambuco, o Sr.General Manoel Rabello, pode
dar informações seguras, as quaes não abonam o Sr. V. Lobos. (sic)
Peço-vos Ler com attenção o relatório de 7 de agosto de 1936, n’elle encontrará prova
do que lhe asseguro aqui e afirmo sobre a ignorância completa de V. Lobos (sic) e Muricy.
Está feita minha obrigação embora ocultando muitos factos; como estou seguro que V.
Ex. suspeitará de minhas informações, desasombradamente suplico que consulte ainda que
seja secretamente aos maestros seguintes todos da Escola de Musica:
1-Agnelo França – harmonia e compositor.
2-Assis Republicano – o maior compositor brasileiro.
3-Nicolino Milano – grande violinista e compositor.
4-Francisco Mignone – pianista e compositor.
5-José de Siqueira – harmonista e compositor.
6-José de Lima Coutinho – harmonista e compositor.
Posso vos garantir que os citados professores orientarão a V. Ex. de modo que a
explorada decrepitude do Sr. F. Braga em seu occaso artístico, desapareça e que a ignorância
e cabotinismo do Sr. Villa-Lobos sejamevidenciados deante de vossos olhos de modo que
palpando a realidade, procure num meio delicado de annullar o trabalho (Relatório) d’essa
Comissão, incosiente e audaciosa que pensava estar escrevendo para crétinos.
De V. Ex.
Luiz Candido de Figueiredo
P.S. É de grande conveniência V. Ex. ouvir os Srs. Drs. José Alves Filguinor da
Directoria de Educação de Adultos e ao Dr. Mario Cazasanta.