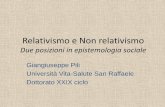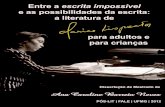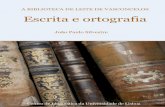Epistemologia e escrita antropologica
Transcript of Epistemologia e escrita antropologica
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
O que nos distingueAn identity is established in relation to a series of differences that have beco-
me socially recognized.These differences are essential to its being. If they did
not coexist as differences, it would not exist in its distinctness and solidarity.
Identity requires difference in order to be, and it converts difference into
otherness in order to secure its own self-certainty
William Connolly
Noutros tempos a escrita como ferramenta Etno-Grafica era um dado adquirido. Escreve Cli-fford em Partial Truths: “In Bronislaw Malinowski’s Argonauts of Western Pacific, where a photo-graph of the ethnographer’s tent among Kiriwinan dwellings is prominently displayed, there is no revelation of the tent’s interior. But in another photo, carefully posed, Malinowski recorded himself writing at a table. (The tent flaps are pulled back; he sites in profile, and some Trobrianders stand outside, observing the curious rite.). This remarkable picture was only published two years ago – a sign of our time, not his.”
A fotografia, também ela uma representação, induz a assumir o parcial pelo todo pelo menos na ques-tão do tempo (esta congela uma acção que é contínua). É então como uma interpretação deixada do (e para) o outro. É sempre questionavel, conhece-se alguém pela sua imagem?
A questão da escrita como representação tornou-se preocupação constante e implícita (ou ine-rente) na Antropologia, mesmo quando não manifestada, pelo menos a avaliar pelos títulos dos livros (Writing Culture, The Anthropologist as Author, entre outros). Começamos então com um problema: O pressuposto de que essa escrita (a antropológica) é exteriorizável à própria cultura. No entanto, a confusão terá começado quando este problema começou a ser resolvido e o texto (escrita antropológica) foi reposicionada dentro da cultura. Como diz Sherry Ortner: “The literary text ten-ded to move towards the status of phenomenon:a socio-psycho-culturo-linguistic and ideological event, arising, from the offered competencies of language, the available taxonomies of narrative order, the permutations of genre, the sociological options of structural formationt, the ideological constraints of the infra-structure…”
Crítica e literatura, o livro como resultado final da Antropologia
O que esta nova geração, que parecia estar entre o cansaço e o dar corpo a contestação crítica dos paradigmas, pretendia era de facto, ganhar lugar com uma “nova antropologia”, mas as vias estavam fechadas pela própria crítica que tinham feito1.
Esgotadas as críticas epistemológicas voltaram-se então para os aspectos literários tentando com a sua crítica literária e o realismo/naturalismo etnográfico (que opunham aos canons e ortodoxias descri-tivas) legitimar uma posição relativista e subjectivista, que lhes permitia fugir eles próprios da crítica.
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
1 A propósito da procura de uma alternativa, diz também Ortener: Geertz “Geertz’s most radical theoretical move (1973) was to argue that culture is not something locked inside people’s heads, but rather is embodied in public symbols, symbols through wich the members of a society comunicate their worldview, value-orientations, ethos, and all the rest to one another, to future generations — and to anthropologists. With this formulation, Geertz gave the hitherto elusive concept of culture a relative fixed locus, and a degree of objectivity, that it not have before… Yet the point about symbols was that they were ultimately vehicles for meanings; the study of symbols as such was never an end in itself” e na nota de rodapé “If culture itself had been an elusive phenomenon, one may say that Geerts has pursued the must elusive part of it, the ethos.”
2 A dado momento em Works and lives, cap. The World in a text, Geertz afirma que é enganador separar o conteúdo da forma em Antropologia, o que, a meu ver, apenas serve de justificação ao seu próprio trabalho e à sua apologia da antropologia de ênfase literário. Primeiro para não assumir a alteridade (eles) que passou a ser um problema assumir, segundo para afirmar que esteve lá (fez parte, partilhou a identidade - como um coleccionador de identidades); terceiro porque tornando a etnografia uma “novela” pode melhor fugir às críticas (epistemológicas ou a incapacidade de renovar (melhorar as matrizes analíticas)
Confundiram o conteúdo e a forma 2, misturando estética 3, estilo literário, etnografia, escrita e representação. Enfim, deixaram de tomar posições, fazer afirmações, abandonaram o lado teórico, da hipótese, assumindo-se como etnógrafos (ou pior) testemunhos, uma vez que incorporaram as suas próprias críticas às etnografias, que sem o seu lado teórico também perderam a sua característi-ca de lado empírico. Preocuparam-se com a verosimilhança, como se de um guião cinematográfico se tratasse. Pouco mais são que guias de viagem 4. A escrita da etnografia tornou-se o cumprimento de uma etapa, como legitimadora, a afirmação de autoridade antropologica 5.
Prova disso é o texto Partial Truths (writing culture), de James Clifford, todo ele é a admissão da desistência da ciência e rigor.
Relativismo e cientificidade
Quando me refiro ao relativismo, não me estou a referir (ao contrário de Geertz no seu “manifesto” Anti-Anti relativism) ao relativismo cultural Boaziano ou ao relativismo estético, esses foram relativis-mos com um propósito bem objectivo de acabar com um comparativismo preguiçoso e perigoso em que os juízos de valor substituíram os pressupostos de um rigor e método cientifico, pelo menos da versão Durkheimiana que pressuponha distanciamento do objecto e abandono de pré-conceitos, a delimitação e caracterização do dado a comparar. E nessa oposição foram muito objectivos.
Estou-me antes a referir a uma “construção” convenientemente racional para tornar tudo sub-jectivo, relativo (em relação a), sem valor maior (já não digo absoluto mas pelo menos comum). É a retórica para desistir de procurar ou não tomar posição ou afirmar-se. Como forma de legitimar tudo (sem crítica). Tudo é valido devido à subjectividade (na verdade é a defesa desta subjectivida-de, posição desresponsabilizante e confortável). Sem hipótese de crítica, ou comparação.
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
3 A criatividade é transversal a todas as actividades, isto é de um tempo (writing culture, 1984) em que ainda se prossopunha uma separação (de actividades) ou se confundia criatividade com estetica, sendo que esta (a criati-vidade) é antes o processo muitas vezes arrojado de perguntar-se, questionar-se o inquestionavel e imaginar res-postas para o problema, é a predisposição, a serendipidade, fruto do processo de estabelecer relações que à prio-ri não são óbvias. Logo mais próximo de uma consturção (objectivo) do que de uma expressão (estética). James Clifford, Partial Truhths — Writing Culture “…that science is in, not above, historical and linguistic processes.” é verdade, mas que não o seja dito para fugir a procura do rigor, metodo, sistematização e objectividade que devem ca-racterizar qualquer disciplina que se diz ciência. “…they (Claude Levi Strauss, Leach, Victor Turner, etc) have blurred the boudary separating art from science” mas como se diz em Inglês: Two wrongs make a right
4 Estão muitos a escrever o que quase se poderia chamar de “a minha aventura como antropólogo, uma etnografia da inser-ção de um estranho no meio alheio”. É uma procura do realismo etnográfico ou naturalismo (em contraponto à ortodoxia descritiva) que mais parece querer mascarar (ou mesmo ocultar) a procura de um estilo literario mais apelativo ao leitor, como é o caso de Paul Rabinow e a sua etnografia da etnografia.Paul Rabinow, Reflections on fieldwork in morocco“…We passed many such hours together, joking, pushing, prodding and drinking tea.”“… One day the next week, four of us — myself, Ali, Mimouna, and an unemployed cousin of Soussi’s — squeezed ourselves into my little Simca…”“…I was bewildered. I had no ideia where we were going. I had never before had this kind of sensual interaction in Morocco.”
5 George Marcus - That Damn book “… it was one of the texts to get beyond, by critiquing the critique…” _ “Writing Culture has served more sympathetically as a kind of ironic legitimation for producing work against the authorities of disciplines...”
Torna-se neste ponto necessário (pelo menos para mim) esclarecer o seguinte: O conhecimento (científico) baseado nesses pressupostos (de objectividade/subjectividade, causalidade - mesmo que experimental) é erróneo (como Weber, Kuhn, entre outros, demonstraram 6). Só o rigor (mé-todo, sistematização) e a dialéctica crítica-correcção são garantes de conhecimento. Julgo que a “grande” questão da subjectividade nas Ciências Sociais continua a partir do pressuposto errado de que a objectividade se encontra na separação do objecto do observador e da existência de leis de causalidade (experimentáveis) por comparação às chamadas ciências exactas, quando na verdade se encontra justamente na exigência e rigor estabelecidos (previamente) pelo método e verificáveis no desenvolvimento dos trabalhos, na posterior crítica e correcção desses mesmos métodos. Na hipótese como proposição corroboravel ou não (com valor lógico verdadeiro ou não). Mais vale um erro convicto (tem o valor matemático da exclusão de partes, pelo menos aprende-se que não é por ali) que um discurso bonito, mas vazio.
Linguagem, e representação
Julgo que dois dos eixos fundamentais para a adopção desta corrente “relativista”, através da crítica hermenêutica, foram precisamente a questão da linguagem como representação e a alteridade 7.
Primeiro, há que distinguir entre o uso da linguagem como forma de explicar bem, e o uso da linguagem como fim lúdico (fim em si próprio, de estilo) para embelezar o texto corrompendo o conteúdo e sentido, sendo que explicar bem “desambigua” a própria linguagem.
Segundo, alertar para a escrita como construção do mundo. A apropriação das ideias (conceitos--formas de pensar as coisas) criando as suas verdades através do discurso, e da linguagem, muda o pensamento (dizer o outro é assim, convencendo-se, convencendo-nos e até convencendo-o a reduzir-se ao critério que foi escolhido para antagonizá-lo e marcar a alteridade) como nos mostra o Orientalismo de Said. Se não se diz nada (exercícios estilísticos) o mundo fica vazio, a identidade e a cultura ficam sem substância ou acção 8.
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
6 Para esclarecer que não parei no tempo e não apoio uma posição dogmática, tenho plena consciência das revoluções ocorridas dentro da epistemologia, mas creio que muitas das acções humanas partem de uma espécie de sinódoque mental, ou seja leva-nos a rejeitar o todo pelo defeito Há ampla literatura sobre o tema que constitui mesmo aquilo a que se chama de epistemologia — a par da história da ciência, é a filosofia da ciência no seu ramo lógico. Praticamente apenas a álgebra e a geometria euclidiana escapam aos paradoxos. Ver Teoremas da incompletude de Gödel, ou os tra-balhos de Russell, e o princípio da incerteza de Heisenberg.
7 Como diz Paul Rabinow, Representations Are Social facts: Modernity and post-modernity in anthropology — writing culture: “To know is to represent accurately what is outside the mind…”
8 Clifford Geertz - Deep Play“The question of how it is that we perceive qualities in things — paintings, books, melodies, plays — that we do not feel we can assert literally to be there has come, in recent years, into the very center of aesthetic theory…”Curioso o facto de só se referir ou reduzir (things) a arte, sendo que esta tem um lado explicito de representação e um mais escondido. De qualquer maneira, as formas de arte podem ser apenas expressões individuais, em que o colectivo se reve ou não, isto é encontra um significado para si ou não.
Clifford Geertz - Being there “What it is instead (ethnografy), however is less clear. That it might be a kind of writing, puting things to paper, has now and then occured to those engaged in producing it…” Também é, mas não pode ser exclusivamente, nem sequer principlamente, estamos outra vez no reino das things, reducionista.
Se o problema se coloca ao nível do acesso ao “real”, há sempre duas perspectivas: a primeira que pretende aceder a esse real através das suas representações ou significações (sendo as comuns do campo da Antropologia e as individuais do campo da Psicologia) e a outra que nos diz ser im-possível aceder a esse “real”, ficando-se apenas pela relativização que assume que tudo é texto (linguagem) e que a pertinência é intrínseca ao discurso.
A minha perspectiva (pelo menos serve para me tranquilizar) é a de que não existe “um real”, nunca ninguém ou nada acedeu ao REAL, há tantos reais quanto pessoas e objectos. Muitos dos seus aspectos (das realidades individuais) são partilhados e têm uma significação real comum e estão mesmo na ori-gem uns dos outros (uma proliferação de Memes) e é esta representação do Real partilhado que pode-mos analisar, é este o nosso objecto concreto. Mas é precisamente nessa essência que é comum que se separa a parte estética (invólucro - forma) e a substância significativa (conteúdo)
Especialmente pertinente a este tema é a visão de Bruno Latour sobre as realidades, práticas ou conhecimentos não aferíveis tecnologicamente mas que constituem conhecimento porque são sentidos, têm significação, e sobretudo estão dependentes da sensibilidade e aumentam-na. Só se conhece com sensibilidade, e só esta permite conhecer.
Uma coisa é real por si, é real para o observador segundo a sua (dele) representação e é real para o social quando a sua representação é partilhada, é comum, é o meio de adaptação e o processo linguístico-significativo-representativo que permite a operacionalização de um “cérebro grupal” que alimenta os cérebros individuais e assim se “alimenta” também 9.
Alteridade, Eu o Outro e Nós
Voltemos à fotografia de Malinowsky, uma dimensão representativa estática, como a escri-ta, a representação da própria alteridade. Mesmo quando nos vemos na imagem não somos nós é um outro eu, congelado no tempo, pior que a escrita, porque esta desenrola-se no seu próprio tempo, adjectiva, caracteriza, com ela podemos pelo menos conhecer ou ter essa ilusão. A fo-tografia é uma visão que levanta tantas dúvidas como certezas, não tem verso — passado, nem “anda” para a frente.
A crítica e as alterações no mundo trouxeram também convulsões noutro dos principais eixos da disciplina, a alteridade, o outro. Talvez seja neste aspecto que o confronto entre tradição e mo-dernidade mais se exprimiu e de forma mais frutuosa. Como já atrás foi referido apercebemo-nos que o outro era muitas vezes construído, partia de um pressuposto essencialista da construção da alteridade que não correspondia à realidade. O outro é reduzido áquilo que caracteriza a diferença e no entanto “…a person may have many strands of identification available…”, (Multiplanos de identificação), como diz Kirin Narayan. É a criação daquilo a que ela chama a autenticidade impo-luta. Como uma alegoria em sí mesmo, esconde, codifica, é a projecção da substância, fazendo e negando por despego a existência do original.
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
9 Linguagem/representação e pensamento. Adaptação dialéctica, interior exterior, motor de uma acção com propósito, não reactiva (emocional). Estrutura opositora reflectida ou verificada na linguagem que permite ligar o objecto ao seu “sím-bolo” e a um significado (emoção/acção) e como dizia CLS que serve como categorizarão, que ajuda a pensar, construir e apreender o real e a agir sobre ele.
Também neste campo o relativismo se revelou, num processo em que o antropólogo (eu) se insere no terreno (outro) tornando-se em nós e remetendo o seu papel de observador (antropólogo) ao leitor (ele). Tornou-se assim mais de acordo com a ideia errada em que tinha transformado o relativismo cultural, que diz que dar a conhecer ou conhecer é aceitar ou compreender, sendo que estas (aceitação e compreensão) também elas pressupõe uma moralidade.
Entretanto, aquele que era o outro tornou-se ele próprio antropólogo e mostrou novas realidades. 10 E se o “exótico” se inventa, então afinal podiam ter ficado em casa. O outro esta em todo o lado, e é esta a primeira reviravolta. A passagem, do procurar respostas olhando para as outras culturas (por comparação), para o olhar para nós próprios a procura dessas mesmas respostas.
A outra reviravolta parte do (já referido anteriormente) pressuposto de que o outro é uma essen-cialização, depende de olharmos para o que nos une ou para o que nos separa, e isso diz-nos que todos estamos em processos dinâmicos de alteração, cumulação e ruptura cultural / identitária 11.
Outra importante consciencialização prendeu-se o dinamismo da globalidade, com a dester-ritorialização, de que fala Marcus, as etnografias multi-situadas, e Appadurai com as disjunções, apercebemo-nos da natureza destirretorializada dos processos culturais e dos sítios (espaços) multi--culturais. Enfim, trouxe a teoria da acção, a subalternidade, o pós-colonialismo e a globalização como matrizes analíticas.
Conclusão
O que nos distingue das outras ciências é o que nos distingue entre povos e culturas, os signifi-cados e as representações fazem as nossas diferenças. Se quisermos ser consequentes (coerentes) com o passado (percurso) da historia da disciplina, teremos que optar por essa via, caso contrário se optarmos pelo que é comum, estaremos então definitivamente a disputar um território com a Sociologia, a História e até a Psicologia e a Biologia. Não devemos ter “medo”, reservas ou pru-ridos de afirmar algo que é a diferença/alteridade, que apesar de ter adquirido um peso negativo (prejurativo até) grande, (também por “nossa” culpa) continua a ser válido cientificamente (é talvez a única, ou das poucas objectividades que criamos, conhecemos e dominamos), como orientação teórica. É aí que temos o nosso objecto, é aí que somos validos e é aí que reside a riqueza da espécie (humana - antropos). A dimensão ontológica, essa é sempre garantida na nossa disciplina. Muito mais havia a ser dito do carácter literário da antropologia e do livro Writing Culture, mas se tenho que optar na utilização do tempo de que disponho então prefiro usá-lo para pensar e debater essas novas hipóteses de olhar a cultura, e fugir da hermenêutica, da crítica literária e retórica. Gosto de pensar a antropologia aplicada na compreensão das diferenças, como testemunho das alternativas da prática (outras maneiras de fazer e pensar a mesma ou outra realidade). No desfazer de equívo-cos, e esclarecer ambiguidades. Encontrar significações comuns ou alternativas. Ao abandonar a teoria tornou-se a escrita etnográfica num fim em si mesma e ao torná-la subjectiva (relativa) um livro de aventuras.
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
10 “Natives” que se tornam Antropólogos mainstream e Antropólogos que se tornam “marginal natives” (como lhes chama Stella Mascarenhas-Keyes. O termo é segunda a autora, de Freilich
Luís Pedro Ramalho, nº 53869 | Métodos Biográficos AA2
Bibliografia
Clifford, James, 1986, “Introduction: Partial Truths”, in James Clifford e G. Marcus (orgs.) Writ-ing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California: 1-26.
Geertz, Clifford, 1973, “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”, The Interpretation of Cul-tures: Selected essays, Nova Iorque, Basic Books: 412-454 (existe tradução em português).
Geertz, Clifford, 1988 Works and Lives: The Anthropologist as Author, Stanford, Stanford Uni-versity Press (existe tradução em espanhol).
Latour, Bruno — Como falar do corpo?, in Objectos impuros, Edições Afrontamento, 2008Marcus, George, 1998, “That Damn Book. Ten years after writing culture”, Etnográfica II(1): 5-14.
Mascarenhas-Keyes, Stella, 1987, “The Native Anthropologist: Constraints and Strategies in Re-search” in Anthony Jackson (org.), Anthropology at Home, Londres, Tavistock: 180-95.
Narayan, Kirin, 1997 (1993) “How Native is a ‘Native’ Anthropologist?”, in Louise Lamphere, H. Ragoné & P. Zavella (orgs.), Situated Lives: Gender and Culture in Everyday Life. Nova Iorque, Routledge: 23-41.
Ortner, Sherry B.,2011(1984), “Teoria na Antropologia desde os anos 60”, Mana 17(2): 419-466.
Rabinow, Paul, 1977 Reflections on Fieldwork in Morocco, Berkeley,University of California Press (existe tradução em espanhol).
11 Kirin Narayan, How Native is a “Native” Anthropologist”“…what we must focus our attention on is the quality of relations with the people we seek to represent in our texts: are they viewed as mere fodder for professionally self-serving statements about a generalized Other, or are they accepted as subjects with voices, views, and dilemmas-people to whom we are bonded through ties of reciprocity and who may even be critical of our professional enterprise…”
A mixed background such as mine perhaps marks one as inauthentic for the label “native”or “indigenous” anthropo-logist; perhaps those who are not clearly “nativenor “non-native”should be termed “halfiesninstead (cf.Abu-Lug- hod 1991).Yet, two halves cannot adequately account for the complexityof an identity in which multiple countries, regions, religions, and classes may come together.”