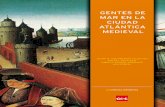Em busca da Idade Média: catedrais, mosteiros e castelos no decreto dos monumentos nacionais de...
Transcript of Em busca da Idade Média: catedrais, mosteiros e castelos no decreto dos monumentos nacionais de...
Introdução
O património tornou-se um factor de preocupação para as
nações modernas, nomeadamente com a Revolução Francesa. Desde
essa altura que se difundiu uma noção de património como algo
que era público e que se transmitia de geração em geração1. Ao
veicular a história de um povo e de uma nação, era necessário
que o património se tornasse objecto de defesa, de preservação
e, se caso disso, de restauro. Este património englobava não
apenas os “monumentos escritos”, ou seja, os documentos que,
pela sua importância, haviam ajudado a definir a história da
nação, como também os “monumentos materiais” que, pela sua
grandiosidade, pelo seu poder de evocação de determinados factos
ou personagens históricos ou pela sua importância artística eram
considerados verdadeiros símbolos do génio nacional. Ambos foram
objecto de um intenso estudo, inventariação, preservação e
divulgação ao longo do século XIX, sendo que este processo se
articulou com a formação dos estados-nação, ajudando a fundar
uma determinada ideia de nacionalidade que em larga medida se
manteve até aos nossos dias.
Foi o que aconteceu em Portugal no século XIX. De um período
conturbado marcado pelas invasões francesas, pela ocupação
inglesa, pela revolução liberal de 1820, pelos conflitos entre
liberais e absolutistas até 1834 e depois, entre cartistas e
setembristas, foi nascendo esta consciência de defender um
património material (pois é esse que aqui nos interessa) que
havia sido alvo de intensas delapidações ou simplesmente deixado
ao abandono. Para isso, era necessário conhecer que património
arquitectónico existia no país, qual a sua história, a sua
1 Do latim, patrimonium, significando as coisas que se recebe porherança de um pai.
1
importância e que estragos havia sofrido. Sob a acção de
escritores, historiadores, arqueólogos, engenheiros, arquitectos
e de outras pessoas com influência no panorama cultural e
político, foram-se desenvolvendo iniciativas no sentido de
inventariar, classificar, preservar ou de simplesmente chamar a
atenção para um conjunto de monumentos que depois viriam a ser
classificados como “nacionais”. Este processo teria a sua
consagração através do decreto de 16 de Junho de 1910 promulgado
pelo Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria2, em
que foram classificados 467 monumentos nacionais. Estes
constituem o grosso dos monumentos que ainda hoje são
considerados incontornáveis para definir a história nacional,
muito embora os decretos das décadas seguintes tenham
acrescentado vários outros.
Inserido no contexto de uma dissertação de doutoramento
sobre a importância da medievalidade para o Portugal
contemporâneo, procurar-se-á neste trabalho analisar os
monumentos que representavam a Idade Média no decreto de 16 de
Junho de 1910. O objectivo é, por um lado, explicar que
critérios presidiram à inclusão de determinados monumentos
considerados “medievais” (a categoria é nossa) no decreto e que
critérios presidiram à exclusão de outros. No âmbito deste
trabalho, focar-nos-emos em três categorias de monumentos,
considerados mais simbólicos para a história nacional, pela sua
grandiosidade ou pela sua associação a determinados factos ou
conjunturas da história medieval portuguesa: as catedrais, os
mosteiros e os castelos. Obviamente que foram aqui deixadas de
lado as igrejas, as torres, os paços e outros monumentos que
possuem uma carga simbólica igualmente importante, porém, a
necessidade de elaborar um trabalho desta dimensão infelizmente
2 Diário do Governo, nº136, 23 de Junho de 1910, pp.2163-2166.2
não o possibilitou. O segundo objectivo foi inserir os dados
relativos às três categorias já referidas num sistema de
informação geográfica, tendo em vista elaborar três mapas
distintos. A partir destes mapas, procurou-se fazer uma análise
espacial da distribuição dos monumentos.
O trabalho encontra-se assim dividido em duas partes: uma
primeira, de cariz mais introdutório e contextualizador, em que
se procurou retomar os debates em torno dos monumentos na
segunda metade do século XIX e que levaram ao processo de
classificação dos monumentos nacionais; e uma segunda, em que se
procederá à análise do decreto, à luz dos critérios já
referidos, e da distribuição espacial dos monumentos.
Para a elaboração do mesmo, servimo-nos dos trabalhos em
torno da história do património em Portugal, nomeadamente as
teses de Maria João Baptista Neto, Paulo Alexandre Simões
Rodrigues e de Lúcia Maria Rosas3, bem como a obra recentemente
publicada 100 anos de património. Memória e identidade4, coordenada por
Jorge Custódio, e na qual colaboraram vários autores ligados à
temática. No campo da análise espacial, foi igualmente útil
perceber as divisões geográficas de Portugal elaboradas por
Orlando Ribeiro e que vêm expressas no seu artigo “Portugal” no
Dicionário de História de Portugal, e retomadas e desenvolvidas por José
3 Maria João Baptista Neto, A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais ea Intervenção no Património Arquitectónico em Portugal (1929-1960), dissertação dedoutoramento em História da Arte, Faculdade de Letras da Universidadede Lisboa, 1995; Paulo Alexandre Simões Rodrigues, Património, Identidade eHistória. O valor e o significado dos monumentos nacionais no Portugal de oitocentos,dissertação de mestrado em História da Arte Contemporânea (sécs.XVIII-XX), UNL-FCSH, 1998; Lúcia Maria Cardoso Rosas, Monumentos Pátrios. Aarquitectura religiosa medieval – património e restauro (1835-1928), dissertação dedoutoramento em História da Arte, Universidade do Porto, 1995.4 100 anos de património. Memória e identidade, coord. Jorge Custódio, Lisboa,IGESPAR, 2010.
3
Mattoso a respeito da medievalidade, nomeadamente em A Identificação
de um país5.
No que respeita às fontes, como já foi referido, o trabalho
centrar-se-á no decreto dos monumentos nacionais de 16 de Junho
de 1910. Porém, serão igualmente tidos em conta os documentos
preparatórios do mesmo, nomeadamente o relatório elaborado pela
Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses
em 1881 a pedido do MOP6, bem como os relatórios e decretos
emitidos nos anos seguintes, até 1910. Serão também citados
vários autores como Alexandre Herculano, Almeida Garrett e
Ramalho Ortigão e artigos de jornais dedicados ao tema, como o
Archivo Pittoresco7, para compreendermos que quadro mental e
intelectual contribuiu para a classificação de determinados
monumentos e não de outros. No caso de Ortigão, são de assinalar
os seus comentários na obra O Culto da Arte em Portugal a propósito da
inventariação dos monumentos nacionais, bem como as suas
descrições do país n’ As Farpas8, que nos dão um retrato do país
que advinha de gerações anteriores mas que teria também um
contributo importante para a imagem nacional que depois seria
expressa na distribuição espacial dos monumentos nacionais
presente no decreto. Na mesma linha, foi também alvo de estudo
alguma literatura de viajantes estrangeiros sobre o tema,
nomeadamente os relatos dos ingleses James Murphy e William
5 Orlando Ribeiro, “Portugal” in Dicionário de História de Portugal, coord. JoelSerrão, vol.V, Porto, Figueirinhas, 1992; José Mattoso, A Identificação deum país, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000.6 Relatorio e Mappas á cerca dos edificios que devem ser classificados MonumentosNacionaes, Apresentado ao Governo pela Real Associação dos Architectos e ArcheologosPortugueses em conformidade da portaria do Ministerio das Obras Publicas de 24 de outubrode 1880, Lallemant Frêres, Typ. Lisboa, 1881.7 Archivo Pittoresco. Semanario Illustrado, Lisboa, Tip. Castro Irmão, 1857-1868.8 Ramalho Ortigão, O Culto da Arte em Portugal, Lisboa, António MariaPereira, 1896; As Farpas, Tomo I: A vida provincial, Lisboa, Comp. Nac.Editora, 1887.
4
Beckford, bem como os guias de viagem de Portugal da segunda
metade do século XIX e da primeira década do século XX.
A classificação dos monumentos nacionais
Desde o fim da guerra civil entre liberais e absolutistas
que a necessidade de conhecimento e de preservação do património
arquitectónico português começou a ser alvo de uma intensa
campanha de consciencialização, levada a cabo por jornais e
revistas como O Panorama, dirigido por Alexandre Herculano, ou o
Archivo Pittoresco e por vários autores a título próprio. O próprio
Herculano ajudou a consagrar a ideia de “monumento histórico”,
através dos seus artigos publicados em O Panorama e depois nos
Opúsculos9. No seu artigo de 1837 “A arquitectura gothica: igreja
do Carmo em Lisboa”, o autor insurgia-se contra a destruição de
que tinham sido alvo “nas províncias septentrionaes do reino,
onde a Monarchia teve o berço”, “os mais antigos edificios
nacionaes”. Estes eram monumentos do passado que deviam ser
conservados pois a “pedra falla do passado”, ou seja, o
monumento é um testemunho e uma herança do passado (é um
documento histórico10). Este trabalho deveria ser feito pelo9 “A arquitectura gothica: igreja do Carmo em Lisboa” in O Panorama,Lisboa, Imprensa da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis,nº1, 6 de Maio de 1837, pp.2-4; “Os monumentos”, O Panorama, nº69, 25de Agosto de 1838, pp.266-268; “Os monumentos II”, O Panorama, nº70, 1de Setembro de 1838, pp.275-277; “Mais um brado a favor dos monumentosI”, O Panorama, nº93, 9 de Fevereiro de 1839, pp.43-45; “Mais um bradoa favor dos monumentos II”, O Panorama, nº94, 16 de Fevereiro de 1839,pp.50-52; “Monumentos Pátrios” (1838-1839) in Opúsculos I org. introd. enotas de Jorge Custódio e José Manuel Garcia, Lisboa, Presença, 1983,pp. 173-219 e “Duas Épocas e Dois Monumentos ou a Granja Real deMafra” (1843) in Opúsculos II, pp.135-145. 10 A palavra monumento tem origem no verbo latino monere: advertir,lembrar. Herculano considerava, por outro lado, os documentos escritoscompilados na sua Portugaliae Monumenta Historica como “monumentosnarrativos” ou “literários.” – Paulo Simões Rodrigues, “O longo tempo
5
governo e pelos municípios. Herculano criticava o preconceito
comum à época de que só a arte clássica era digna de valor,
mostrando uma profunda admiração pelas virtudes da arquitectura
gótica, e estabelecia ainda uma relação directa entre a batalha
de Aljubarrota, momento fulcral da conservação da independência
nacional, e a construção do Mosteiro da Batalha e da Igreja do
Carmo, “os dois mais preciosos monumentos da arquitectura
cristã” de Portugal.
Em Setembro do mesmo ano, era a vez de o Archivo Popular.
Semanario Pintoresco se referir ao Mosteiro da Batalha como “o mais
belo monumento da arquitectura gótica entre nós, e um dos mais
respeitáveis padrões da glória portuguesa”. O edifício era
também considerado “um dos nossos mais grandiosos monumentos
nacionais” 11, sendo a primeira vez que tal categoria era
atribuída a monumento em Portugal, segundo a historiadora da
arte Lúcia Rosas12.
Mas não só Herculano, como outros escritores que lhe eram
contemporâneos falavam em nome dos monumentos, em especial os
medievais, segundo o espírito romântico da época. Garrett, por
exemplo, no seu romance Viagens na Minha Terra (1843), indignava-se
não só com o estado ruinoso dos monumentos de Santarém, mas
do património. Os antecedentes da República (1721-1910)” in 100 Anos depatrimónio. Memória e identidade, p.24.11 Archivo Popular, Semanario Pintoresco, nº26, Lisboa, Typ. de A.J.C. da Cruz,23 de Setembro de 1837, p.197-199.12 Lúcia Maria Rosas, “A génese dos monumentos nacionais” in 100 Anosde Património. Memória e identidade, p.43. Poucos anos depois, em 1840,iniciavam-se as primeiras obras de restauro na Batalha, àresponsabilidade do inspector das Obras Públicas do Reino LuísMousinho de Albuquerque. Estas prolongar-se-iam pela segunda metade doséculo XIX e serviriam de inspiração a outros trabalhos de restauro,como por exemplo na Sé Velha de Coimbra, e nas sés da Guarda e deLisboa. - Paulo Simões Rodrigues, Património, Identidade e História, p.69.
6
talvez mais ainda com as alterações abruptas e as reparações sem
qualidade que os seus edifícios haviam sofrido13.
A preocupação com o estado dos monumentos era tanto mais
alarmante quanto a aparente indiferença do Estado português na
matéria, incapaz de criar um organismo que regulamentasse a
defesa e a conservação do património. Porém, desde há várias
décadas que havia uma noção por parte do poder político da
importância de preservar os vestígios do passado.
A 20 de Agosto de 1721 D. João V assinara um alvará com
vista à protecção dos “monumentos antigos”. Nestes incluíam-se
todos os “edifícios, estátuas, mármores, cippos, laminas,
chapas, medalhas, moédas e outros artefactos” construídos por
“Fenícios, Gregos, Persos, Romanos, Godos e Arábios”14. O mesmo
alvará seria republicado a 4 de Fevereiro de 1802, por ordem do
príncipe regente D. João.
Já depois da extinção das ordens religiosas e da decisão de
pôr à venda em hasta pública os seus bens nacionalizados e
incorporados na Fazenda, a 15 de Abril de 1835 o Estado
exceptuava destes bens as obras e os edifícios “de notável
antiguidade” que merecessem ser conservados como “primores da
arte, ou como Monumentos históricos de grandes feitos ou de
Épocas Nacionais”15. Esta carta de lei levou a que fosse
atribuída às recém-criadas Academias de Belas-Artes de Lisboa e
do Porto a tarefa de seleccionar, classificar e recolher as
obras de arte provenientes das casas religiosas extintas. O
governo determinou também a obrigatoriedade de a Academia de
13 Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Porto, Porto Editora, 1977,pp.176, 183-184.14 “Alvará de D. João V sobre os monumentos antigos” in MonumentosNacionais Portugueses, Legislação, Lisboa, Imprensa Nacional, Lisboa, ImprensaNacional, 1910, pp.3-6.15 Paulo Simões Rodrigues, “O longo tempo do património. Osantecedentes da República (1721-1910)”, pp.21-22.
7
Belas-Artes de Lisboa conservar as plantas dos edifícios de
maior qualidade artística, de lhe ser comunicada a intenção de
demolir qualquer edifício antigo da capital e de acolher a
conservar os objectos artísticos dos edifícios derrubados16.
Estas medidas, além de terem permitido salvaguardar a
arquitectura e o espólio de alguns mosteiros, denotam que o
poder político já tinha uma noção da importância de preservar os
monumentos.
Porém, este esforço legislativo vinha tarde e não impedia
que vários edifícios começassem a atingir a ruína. Além disso,
em várias cidades do país iam sendo derrubados troços de
muralhas medievais (caso da muralha fernandina de Lisboa) para
dar lugar a novos espaços urbanos, e outros edifícios entregues
às câmaras municipais com o mesmo destino17.
Num artigo d’O Panorama Herculano considerava que a origem
do problema do património estava na ausência de uma lei
centralizadora que declarasse os monumentos nacionais
propriedade pública e não de particulares, municípios ou
localidades18. Em 1854, Joaquim da Costa Cascais, outro dos
redactores do jornal, reiterava a opinião de Herculano advogando
a criação de uma Comissão de Arte e Monumentos, formada por
professores da arte, de numismática e paleografia, que tivesse
as funções de inventariar, estudar e divulgar os monumentos
históricos nacionais19.
16 Paulo Simões Rodrigues, Património, identidade e história, p.62.17 Herculano refere que o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tinha sidoentregue ao município da cidade para ser demolido e dar lugar a umapraça, que a Igreja de São Francisco do Porto havia sido destinada aarmazém de alfândega e que a Igreja de São Domingos em Santarém haviasido transformada em palheiro. – Alexandre Herculano, “Os MonumentosII” in O Panorama, nº70, 1 de Setembro de 1838, pp.276-277.18 Herculano, “Mais um brado a favor dos monumentos II” in O Panorama,nº94, 16 de Fevereiro de 1839, p.51.19 Joaquim da Costa Cascais, “Monumentos” in O Panorama, vol. XI, nº27,8 de Julho de 1854, pp.210-212.
8
Em 1841 uma parte das responsabilidades patrimoniais detidas
pelas academias de Belas-Artes passou para a Biblioteca
Nacional, cujo director José Maria da Silva Mendes Leal viria a
criar a Inspecção dos Monumentos e Antiguidades em 1858. As
funções de inventariação, estudo e salvaguarda do património
nacional ficaram assim divididas entre as academias de Belas-
Artes, a Biblioteca Nacional e outras entidades com incumbências
específicas, como a Real Associação dos Arquitectos Civis e
Arqueólogos Portugueses (RAACAP). Entre 1870 e 1875, a Academia
Real de Belas-Artes nomeou duas comissões com o objectivo de
proceder à inventariação e protecção dos monumentos20, situação
que gerou fortes críticas por parte de Ramalho Ortigão, que n’
As Farpas ridicularizava o governo por dar um prazo mínimo às
comissões para fazerem aquilo que “durante um século e meio” não
fora feito21.
A RAACAP, a pedido do Ministério das Obras Públicas, viria
em 1880 a nomear uma comissão para levantar os monumentos
nacionais. Deste trabalho resultou um relatório publicado em
1881, no qual vinha uma lista de 76 monumentos, divididos em
seis classes22. Na primeira classe estavam os 18 monumentos
considerados mais grandiosos do ponto de vista histórico e
artístico, contendo monumentos da época medieval como os
mosteiros da Batalha e de Alcobaça, o Convento de Cristo e a20 Alice Nogueira Alves, Ramalho Ortigão e o culto dos monumentos nacionais noséculo XIX, dissertação de doutoramento em História, Especialidade Arte,Património e Restauro, Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras,2009, p.42. 21 “A restauração da arte portuguesa entregue pelo governo aos cuidadosde uma comissão” (Dezembro de 1875) in Ramalho Ortigão, As Farpascompletas. O país e a sociedade portuguesa, Tomo IX: O movimento literário eartístico, vol.V., ed. Ernesto Rodrigues, Círculo de Leitores, 2006,p.1426.22 Relatorio e Mappas á cerca dos edificios que devem ser classificados MonumentosNacionaes, Apresentado ao Governo pela Real Associação dos Architectos e ArcheologosPortugueses em conformidade da portaria do Ministerio das Obras Publicas de 24 de outubrode 1880, Lallemant Frêres, Typ. Lisboa, 1881.
9
Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar, a Sé Velha e o
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a Igreja do Carmo e o Castelo
de Guimarães. É de relevar na listagem a presença de várias
igrejas (inseridas essencialmente na 2ª classe) e castelos (3ª
classe), sendo que segundo Lúcia Rosas, as construções de estilo
românico, gótico e manuelino correspondem a pouco mais de metade
do total de monumentos na lista23. O arqueólogo Luís Raposo
considera assim que “nesta classificação não estão patentes nem
um medievalismo exacerbado, nem uma estigmatização das
construções das outras épocas”24, o que é comprovado pela
presença de vários monumentos pré-históricos, romanos,
maneiristas e barrocos. Esta tendência manter-se-á, como
veremos, no decreto de 1910 que, embora apresente uma lista bem
mais extensa, usará o relatório da RAACAP como base.
Em 1884, o arquitecto Joaquim Possidónio da Silva,
presidente da Comissão de Monumentos, apresentava ao Ministério
das Obras Públicas um relatório25 no qual referia que haviam sido
expedidos 138 questionários às câmaras municipais, a fim de
informarem a Comissão de forma detalhada acerca dos monumentos
cuja existência não fosse bem conhecida ou pouco divulgada.
Apenas 33 municípios responderam a este questionário, sendo que
Possidónio da Silva se viu na obrigação de realizar um conjunto
de excursões pelo país a fim de verificar a classificação dada
aos monumentos nacionais, averiguar até que ponto eram fiáveis
as informações prestadas por alguns municípios acerca das
classes dos monumentos e de conhecer o estado de conservação23 Lúcia Rosas, Monumentos pátrios. A arquitectura religiosa medieval – património erestauro (1835-1928), dissertação de doutoramento em História da Arte,Universidade do Porto, 1995 p.130.24 Luís Raposo, “Classificação dos monumentos nacionais” in 100 Anos dePatrimónio, p.67.25 Possidónio da Silva, Relatório da Comissão dos Monumentos Nacionais apresentadoao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Ministro das Obras públicas Comércio e Industria pelopresidente da referida comissão em 1884, Lisboa, Imprensa Nacional, 1894.
10
destes. Deste trabalho, o presidente da Comissão dá conta do mau
estado de vários edifícios (casos da Sé Velha de Coimbra, do
Mosteiro de Alcobaça e do Castelo de Palmela), da incompetência
nos trabalhos de restauro (Igreja de São Francisco em Évora,
Igreja de Jesus em Setúbal, Sé de Braga) e dos planos para
adulteração arquitectónica noutros (Igreja de Cedofeita no
Porto). O arquitecto culpa a ignorância e o desleixo dos
responsáveis locais, sendo de notar que desde os anos 50
Possidónio da Silva já havia feito um extenso trabalho de
levantamento das plantas de vários edifícios.
O historiador Jorge Custódio considera que os trabalhos da
Comissão de Monumentos levaram todavia a uma consciencialização
maior por parte da sociedade portuguesa sobre a necessidade de
proteger espontaneamente os seus monumentos26. Ainda assim, a
dificuldade em centralizar as decisões num único ministério
levava a que fossem nomeadas novas comissões para estudar,
inventariar, classificar e guardar o património, como aconteceu
em 1890, quando estas funções foram atribuídas à 1ª repartição
de Belas Artes do Ministério da Instrução Pública e Belas
Artes27, e em 1894 quando o Ministério das Obras Públicas aprovou
o regulamento para a Comissão dos Monumentos Nacionais28. Esta
situação originou obviamente um atropelo e desarticulação de
disposições por parte das comissões que obviamente não
beneficiava o património nacional, situação que originou
protestos por parte da RAACAP29. Na sua obra de 1896, O Culto da Arte26 Jorge Custódio, “Classificação dos monumentos: entre a intenção e arealidade” in 100 anos de património, p.6827 Diário do Governo, nº191, 25 de Agosto de 1890, p.1979.28 Portaria de 27 de Fevereiro de 189 in Diário do Governo, nº46, 28 deFevereiro de 1894, p.509.29 Circular da Real Associação dos Arquitectos Civis e ArqueólogosPortugueses dirigida à Sociedade civil, para servir de pressão sobre oGoverno, com vista ao inventário, guarda e conservação dos monumentosnacionais, 28 de Novembro de 1897 in Dar Futuro ao Passado, Lisboa, SEC,IPPAR, 1993, pp.63-64.
11
em Portugal, Ramalho Ortigão, que havia sido membro das duas
últimas comissões, considerava que só a promulgação de uma
lei, à semelhança do que havia acontecido noutros países, que
garantisse “os direitos especiais do Estado em relação à
guarda dos monumentos” permitiria depois formarem-se comissões
regionais, dependentes da comissão central, incumbidas de
guardarem e conservarem o património30. O autor defendia também a
urgência de a comissão fazer um inventário geral dos monumentos
e obras de arte do país e de estabelecer critérios de
conservação e de restauro destes, de modo a pôr em execução um
programa de trabalhos, não “de um modo oficioso e facultativo,
mas rigorosamente obrigatório”31. Ao longo deste período foramsendo sugeridos registos e inventários de novos monumentos pelos
vogais efectivos e correspondentes das comissões32.
Em 1901 no âmbito de uma remodelação orgânica do Ministério
das Obras Públicas promovida por Manuel Francisco Vargas, foi
criado o “Conselho dos Monumentos Nacionais”33, sendo no mesmo
ano que foi finalmente promulgada uma lei de bases para a
classificação dos monumentos34. Destas medidas partiu a
classificação dos primeiros catorze monumentos nacionais, pelo
decreto de 10 de Janeiro 190735, sendo que a maioria deles já se
encontrava na lista elaborada em 1881, exceptuando as sés de
Évora, de Lisboa e da Guarda (estas duas últimas entretanto
haviam recebido grandes programas de restauro). Um ano mais
30 Ramalho Ortigão, O Culto da Arte em Portugal, Lisboa, António MariaPereira, 1896, pp.160-161.31 Idem, pp.164-167. Ortigão seria depois presidente do ConselhoSuperior dos Monumentos Nacionais criado em 1898, onde tentariaimplementar algumas das suas propostas. – Alice Alves, p.149.32 Jorge Custódio, idem.33 Paulo Simões Rodrigues, “O longo tempo do património. Osantecedentes da República (1721-1910)”, p.27.34 Decreto de 30 de Dezembro de 1901 in Monumentos Nacionais Portuguezes,Legislação, pp.39-40.35 Diário do Governo, nº14, 17 de Janeiro de 1907, p.173.
12
tarde era acrescentado o monumento que simbolizava a fundação da
nacionalidade, o Castelo de Guimarães.
A 9 de Dezembro de 1908 era concluída a relação completa dos
monumentos considerados nacionais segundo a lei, que incluía um
número muito aproximado do número de monumentos no decreto de 16
de Junho de 191036. Será a partir deste decreto que faremos a
análise de alguns monumentos medievais nele presentes.
Os monumentos medievais no decreto de 1910
Em primeiro lugar, é de assinalar o número elevado de
monumentos no decreto, contabilizando 46737. Estes encontram-se
divididos em três categorias principais, que correspondem a um
critério cronológico: “monumentos pré-históricos”, “monumentos
lusitanos e lusitano-romanos” e “Monumentos medievais, do
renascimento e modernos”. Destas categorias, há que assinalar o
elevado número de monumentos pertencentes à última categoria
(362), correspondendo a 78% dos monumentos, o que não é de
admirar dada a quantidade e a importância dos monumentos que
acompanham a história do Reino português.
Dentro destas categorias principais, existem “subcategorias”
correspondendo à função do monumento, contendo estas ainda
outras divisões relativas ao tipo de monumento. Dentro dos
“Monumentos medievais, do renascimento e modernos” existem assim
três categorias funcionais: “monumentos religiosos” (contendo
“catedrais”, “mosteiros”, “basílicas”, “igrejas”, “capelas”,
36 Paulo Simões Rodrigues, Património, Identidade e História, pp.291-292.37 Segundo Paulo Simões Rodrigues, “pretendeu-se incluir o maior númerode edifícios possível, temia-se que as autoridades e as populaçõesvotassem ao desprezo qualquer monumento que ficasse excluído”. – Idem,p.292.
13
“cruzeiros”, “túmulos e sepulturas”), “monumentos militares”
(“castelos”, “torres” e “padrões”) e “monumentos civis” (“paços
reais”, “paços municipais”, “paços episcopais”, “paços de
universidade”, “palácios particulares e casas memoráveis”,
“misericórdias e hospitais”, “aquedutos”, “chafarizes e fontes”,
“pontes”, “arcos e padrões comemorativos”, “pelourinhos” e
“trechos arquitectónicos”). Dentro da categoria dos “monumentos
medievais, do renascimento e moderno”, quase metade são
monumentos religiosos (172), cerca de um terço civis (121) e os
restantes militares (69), o atesta a importância dada ao
património da Igreja e ao papel desta na história nacional.
Relativamente à presença de monumentos do período medieval,
a classificação feita por nós dá conta de pelo menos 206
monumentos medievais (englobando também a época manuelina),
correspondendo a quase metade dos monumentos no decreto e a mais
de metade dos monumentos da categoria “medievais, do
renascimento e modernos”. Este é um número significativo,
parecendo traduzir a importância que a Idade Média e a época
manuelina tinham para o imaginário histórico português. Porém,
se contarmos apenas os monumentos compreendidos entre os séculos
VIII e XV (excluindo assim os da época manuelina), ficam apenas
115, o que demonstra duas coisas: por um lado, a forte presença
e poder simbólico dos monumentos de estilo manuelino em Portugal
(considerado por vários autores, como Ramalho Ortigão, o “estilo
nacional” por excelência38); por outro, a ideia de que os estilos
românico e gótico não possuíam uma representatividade assim tão
grande, do ponto de vista material e simbólico, como os autores
38 Alice Alves, pp.128-129. Porém, havia vários autores que criticavamesta apreciação, como Joaquim de Vasconcelos e José de Figueiredo,defensores do românico. Sobre os debates em torno do manuelino, ver atese de Nuno Rosmaninho, A Historiografia Artística Portuguesa. De Raczynski aoDealbar do Estado Novo (1846-1935), dissertação de mestrado em HistóriaContemporânea de Portugal, Universidade de Coimbra, 1993, pp.88-91.
14
românticos ao longo do século XIX poderiam ter feito crer. Estes
autores, de facto, procuravam imitar o que sucedia em França, na
Inglaterra e na Alemanha, com o elogio do gótico – elevado à
condição de estilo nacional e de apogeu da arte medieval – e das
grandes catedrais, mosteiros, igrejas e castelos. De facto,
Portugal possuía um número relativamente reduzido de grandes
monumentos medievais, sendo normalmente os mais evocados o
Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha (o mais elogiado e
simbólico de todos os monumentos góticos), o Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra (associado aos primeiros reis), o Convento de
Cristo (sede dos templários e da Ordem de Cristo), o Convento do
Carmo (associado à figura de Nuno Álvares Pereira), algumas
igrejas como a da Colegiada de Guimarães, a de Cedofeita
(Porto), a de Santa Maria do Olival (Tomar) e a Sé Velha de
Coimbra, algumas sés (Lisboa, Porto, Évora, Braga, Guarda) e
alguns castelos como, nomeadamente o de Guimarães, o de S. Jorge
e o de Almourol.
Neste trabalho focar-nos-emos apenas em duas categorias de
“monumentos religiosos” (as “catedrais” e os “mosteiros”) e numa
dos “monumentos militares” (os “castelos”), por constituírem, a
nosso ver, os monumentos mais importantes do ponto de vista
histórico e simbólico, sendo que algumas igrejas também aqui se
poderiam incluir.
Assim, podemos encontrar no decreto 10 catedrais, 16
mosteiros e 55 castelos. Destaca-se aqui o número extremamente
reduzido de mosteiros39, o que parece demonstrar que o critério
funcional dos edifícios prevaleceu sobre o critério histórico,
pelo facto de muitos mosteiros e conventos terem sido utilizados39 Veja-se, a título comparativo, o mapa dos mosteiros do Norteanteriores ao séc. XIII, presente em Orlando Ribeiro, “Portugal” inDicionário de História de Portugal, coord. Joel Serrão, vol.V, Porto,Figueirinhas, 1992,p.140.
15
como escolas, hospitais, prisões, quartéis e outras instituições
públicas depois da dissolução das ordens religiosas em 1834.
Outros encontrar-se-iam em estado de abandono, sendo
desconhecidos ou ignorados pelas instâncias centrais e
municipais. De qualquer das formas, o factor político pesou aqui
bastante, porventura por uma conjuntura marcada pelo
anticlericalismo (estava-se nas vésperas da implantação da
República), na qual não interessaria dar um destaque simbólico a
monumentos que representavam o poder das congregações religiosas
e o seu papel na história da nação. A situação dos mosteiros
contrasta com a da categoria “igrejas”, cujo número (84) é o
mais elevado de todas as categorias funcionais no decreto. Note-
se que várias destas igrejas pertenciam a antigos conventos
(casos da Igreja de Santa Clara em Vila do Conde, da Igreja de
S. Tiago em Palmela, da Igreja da Flor da Rosa no Crato e da
Igreja dos Domínicos em Elvas), tendo mantido a sua função
litúrgica depois de 1834.
Quanto às catedrais, há que notar que a categoria designava
a função destas igrejas em 1910, sobrepondo-se assim o critério
funcional ao critério histórico. Estavam por isso excluídas
desta categoria as antigas sés (a Sé Velha de Coimbra insere-se
por exemplo na categoria “igrejas”). Das sedes de diocese em
1910, observa-se a exclusão apenas da sés de Bragança, de Beja e
de Faro, provavelmente por serem sés mais recentes (Bragança e
Beja só se tornaram sedes de bispado no século XVIII40) e com
fraco poder evocativo do ponto de vista histórico e artístico.
Prova disto é o facto de a sé de Faro se encontrar na categoria
“igrejas” (com o nome de “Igreja paroquial de Santa Maria”), o
que revela a importância menor que o decreto lhe deu.
40 Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, vol.III, Porto-Lisboa,Livraria Civilização, 1970, pp.8-10.
16
Por outro lado, há a destacar o número elevado de castelos,
o que é assinalável pois vários deles encontravam-se num estado
ruinoso, como era o caso dos castelos de Carrazeda, de Penela,
de Porto de Mós, de Leiria, de Castelo de Vide, de Vila Viçosa e
de Portel41. Do Castelo de Braga, por exemplo, só restava
praticamente a torre de menagem após os trabalhos de demolição
das muralhas da cidade em 190542. O gosto romântico pela ruína e
pela arquitectura medieval reflectiu-se aqui nas escolhas da
comissão de monumentos, sendo que a existência de plantas
militares dos castelos terá contribuído também para a presença
de um elevado número destas construções – há que notar que os
edifícios presentes no decreto tinham que estar devidamente
inventariados com a respectiva planta.
Dentro destas três categorias de monumentos, que perfazem um
total de 81, identificou-se um total de 66 monumentos de traçado
“medieval” (ou predominantemente medieval), sinal de que a
grande maioria das catedrais, mosteiros e castelos classificados
no decreto tinham origem nesta época e estavam a ela intimamente
associados. Os monumentos distribuem-se numericamente desta
forma: 7 catedrais, 8 mosteiros e 51 castelos. Note-se que aqui
foram incluídos monumentos do estilo manuelino (como os
mosteiros dos Jerónimos e de Santa Cruz de Coimbra) ou com
elementos e fortes influências do manuelino (Convento de
Cristo), por representarem, apesar de tudo, uma continuidade
estilística em relação ao gótico.
Passando para uma análise espacial dos monumentos, podemos
ver pelo mapa 1 que estes se encontram espalhados por várias
41 Vários destes castelos haviam sido ocupados durante as invasõesfrancesas, tendo sido depois abandonados pelo exército português.42 O jornal Archivo Pittoresco havia publicado na década de 60 dois artigossobre o castelo de Porto de Mós e as muralhas de Braga,respectivamente de A. C. da Silva Matos, vol.6, 1863, pp.141-142, e deInácio Vilhena de Barbosa, vol.7, 1864, pp.100-102.
17
zonas do país, principalmente devido à grande quantidade de
castelos de norte a sul. Existem no entanto, algumas zonas de
maior concentração, nomeadamente à volta de Lisboa, nos
distritos de Coimbra e Leiria e a norte do distrito de Santarém
(onde se situam os mais importantes mosteiros medievais), na
região do Alto Alentejo, no distrito da Guarda e em torno deste
(com uma rede de castelos) e na região Entre-Douro-e-Minho. São
de assinalar também as cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga,
Lamego e Guarda, que possuem pelo menos 2 monumentos medievais
dentro do seu perímetro urbano, significando assim o seu poder
simbólico para a história medieval portuguesa.
18
Mapa 1 - Distribuição geográfica dos castelos, catedrais e mosteiros medievaisno decreto dos monumentos nacionais de 1910
19
Outros distritos primam pela ausência quase total de
monumentos, nomeadamente o de Castelo Branco que não possui
qualquer monumento, o interior dos distritos de Vila Real e de
Bragança, Aveiro, o norte do distrito de Lisboa e a Lezíria do
Tejo (zona sul do distrito de Santarém), o sul do distrito de
Beja e o distrito de Faro (apenas 2 castelos). É de notar que
vários dos distritos assinalados possuem poucos monumentos no
decreto de 1910, mesmo englobando os de outras épocas (Castelo
Branco apenas 3, Faro 9, Beja 11, Vila Real e Bragança 12 e 13
respectivamente, Aveiro 14 e Viseu 17). Mesmo assim, estes dados
não explicam inteiramente estas “zonas em branco”. Se virmos por
exemplo o caso do distrito da Guarda, que possui apenas 13
monumentos em todo o decreto, os monumentos medievais
assinalados no mapa preenchem quase metade do seu total (5).
Podemos assim dizer que, de todos os distritos, a Guarda é o que
mais beneficia com a presença dos monumentos medievais
classificados, nomeadamente castelos, que compensam em grande
medida a ausência de monumentos de outras épocas.
Se atentarmos à distribuição das catedrais (mapa 2), podemos
observar que cinco encontram-se a norte do rio Mondego, havendo
apenas duas no sul do país (Lisboa e Évora) e apenas uma a sul
do Tejo. Tal distribuição não é de estranhar, dado o processo de
reconquista cristã se ter dado de norte para sul, tendo-se o
regime senhorial expandido, como afirma o historiador José
Mattoso, “em vagas sucessivas, que foram ocupando o vale do
Douro, toda a região de Trás-os-Montes, grande parte da Beira
Alta e, depois da conquista de Lisboa, extensas áreas da
Estremadura, do Ribatejo e do Alentejo”43. É de notar que, das 8
dioceses medievais, a únicas catedrais que estão excluídas do
43 José Mattoso, A identificação de um país. Oposição, Lisboa, Círculo deLeitores, 2000, p.245.
20
decreto são a Sé velha de Coimbra (como já foi referido,
integrada na categoria “igrejas”) e a de Silves, a única sé
algarvia medieval44. O Norte, principalmente acima do Mondego,
tinha assim uma forte presença no período da fundação do Reino45,
sendo a catedral um dos maiores símbolos do prestígio e do poder
das cidades medievais cristãs.
44 Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, vol.I, pp.87-94.Silves na realidade era sede da diocese de Ossonoba, que se encontravamais perto da actual Faro e para onde os bispos se transferiram noséculo XVI.45 Como refere Orlando Ribeiro, as principais fases da reconquista“duraram século e meio até à consolidação do domínio cristão no Douro,dois séculos do Douro ao Mondego, uns oitenta anos deste rio ao Tejo eapenas um século para a ocupação do Alentejo e do Algarve. Em 114anos, durante os cinco primeiros reinados, incorporaram-se noterritório nacional quase dois terços da sua extensão. Tudo ao sul doMondego se passou de maneira diferente do Noroeste. A ocupação árabefoi intensa, profunda e duradoura, sobrevivendo a sua influência […] àdominação muçulmana.” - Orlando Ribeiro, “Portugal” in Dicionário deHistória de Portugal, coord. Joel Serrão, vol.V, p.145.
21
Mapa 2 - Distribuição geográfica das catedrais medievais no decreto dosmonumentos nacionais de 1910
Quanto aos mosteiros (mapa 3), observamos que estes se
concentram na região do “Norte atlântico” (usando a expressão do
22
geógrafo Orlando Ribeiro46). Segundo José Mattoso, o litoral
beirão e o litoral estremenho foram de facto as regiões que o
regime senhorial, fortemente estabelecido na região Entre-Douro-
e-Minho, procurara mais espontaneamente e onde se estabeleceu
com maior facilidade, dadas as características geográficas
favoráveis ao cultivo do solo e ao estabelecimento da
população47. Era de facto no Norte atlântico que desde a Idade
Média se concentrava a maior parte da população portuguesa,
fenómeno que se mantinha e se havia agudizado na época
contemporânea. Assim, se por um lado era a região do país onde
se situavam as cidades principais, onde havia maior circulação
de pessoas, de bens e de ideias, era também a região onde se
haviam estabelecido os mosteiros mais importantes das ordens
religiosas medievais, tendo em conta que vários outros não
estavam sequer classificados no decreto de 1910. A região a
norte do Tejo, nomeadamente a sua parte litoral, compreendia
assim um forte poder simbólico do que havia sido a Idade Média
dos senhorios e dos mosteiros48 para os portugueses da época
contemporânea.
É interessante notar ainda que os oito mosteiros medievais
classificados quase que representam, um a um, as principais
ordens religiosas medievais: hospitalários (Mosteiro de Leça do
Bailio), cónegos de Santo Agostinho (Santa Cruz de Coimbra),
clarissas (Mosteiro de Santa Clara-a-Velha), dominicanos
46 Idem, p.132.47 De acordo com Orlando Ribeiro, o “Norte atlântico […] é o domínio dapolicultura, do gado graúdo, da propriedade retalhada […], centro dumapolicultura complexa e de elevado rendimento, do povoamentodisseminado e das fortes densidades de população.” – Idem.48 “A faixa ocidental compreendida entre o Minho e o Mondego, com a suapopulação densa e o seus quadros sociais estabelecidos desde cedo,desempenhou um papel preponderante na constituição do novo Estado. DoNoroeste saiu a nobreza dos primeiros séculos da Monarquia, os monges-cavaleiros, os senhores que iam ganhando bens com os progressos daReconquista”. – Orlando Ribeiro, p.146.
23
(Batalha), cistercienses masculinos (Alcobaça), templários
(Tomar), cistercienses femininas (Odivelas) e jerónimos (Belém).
Outros locais que poderiam ter sido evocados como o Mosteiro da
Flor da Rosa no Crato, sede dos hospitalários a partir de 135649,
ou o Convento de Palmela da Ordem de Santiago encontram-se na
categoria “igrejas” do decreto. Do mesmo modo, a Ordem de Avis
encontra-se representada pelo castelo da respectiva localidade.
Assim, havendo uma grande quantidade de casas religiosas não
representadas no decreto, nota-se uma preocupação por parte da
comissão que elaborou a lista dos monumentos de, pelo menos,
representar os mosteiros mais importantes para a história da
Nação, procurando ao mesmo tempo simbolizar as ordens religiosas
que haviam desempenhado um papel mais preponderante no período
da fundação e da consolidação do Reino.
49 Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento – Guia Histórico, dir. BernardoVasconcelos e Sousa, Lisboa, Horizonte, 2005, p.471.
24
Mapa 3 - Distribuição geográfica dos mosteiros medievais no decreto dosmonumentos nacionais de 1910
25
Relativamente aos castelos (mapa 4), a análise espacial
tornou-se mais complexa devido ao seu elevado número face às
catedrais e aos mosteiros – são mais que o triplo que estas duas
categorias combinadas e encontram-se distribuídos de norte a sul
do território nacional. Porém, como vimos já a partir do mapa 1,
há algumas regiões onde se verifica uma rede de castelos e
outras que primam pela sua ausência total ou quase total. Mesmo
tendo em conta os aspectos geográficos do território,
nomeadamente o relevo (nos topo das grandes cordilheiras não há
castelos), e a influência que possam ter tido na distribuição
das fortificações, não deixa de ser intrigante esta
distribuição, pelo que se optou por dividir os castelos segundo
a sua época de fundação. Aqui obteve-se uma análise mais
precisa. Pode-se observar por exemplo, os castelos de fundação
mais antiga (séculos VIII-X), que se situam em antigos núcleos
urbanos muçulmanos do sul do país50 - Sintra, Lisboa, Palmela,
Santiago do Cacém e Silves – e ainda Guimarães (sede do Condado
Portucalense) e Coimbra, cidade por diversas vezes reconquistada
nesse período. Pode-se também observar uma mancha de castelos
dos séculos XI-XII na região compreendida entre os distritos de
Leiria e Coimbra e o norte do distrito de Santarém, com algumas
excepções – Melgaço, Braga, Lanhoso, Feira, Lamego, Guarda e
Alcácer do Sal. Estes eram povoados com uma importância
estratégica fundamental durante o período de formação do Reino,
sendo alguns deles também núcleos urbanos de grande
50 Como afirma José Mattoso, no Sul, “facilmente dominado pelos povosmediterrânicos, Fenícios, Gregos e Cartagineses no litoral, depoisRomanos e Mouros em todo o território, a formação política e adominação não se faziam tanto pela capacidade administrativa e peloaproveitamento das planícies, mas pela conquista das cidades e centrosurbanos, onde a população sempre se concentrou”. – A identificação de umpaís. Oposição, p.33.
26
importância51. De igual modo, podemos observar uma quantidade
impressionante de castelos fundados entre os séculos XIII e XV
nas regiões mais interiores do país, nomeadamente perto da
fronteira, o que se relacionará com a política de construção de
castelos na raia levada a cabo por D. Dinis e por outros reis,
com o objectivo de salvaguardar e consolidar as fronteiras do
Reino já estabelecido52. É interessante notar a grande quantidade
de castelos situados perto da fronteira: Melgaço, Lindoso,
Montalegre, Freixo de Espada-à-Cinta, Sabugal, Castelo de Vide,
Elvas, Vila Viçosa, Noudar e Castro Marim. A importância militar
dos castelos para a conquista e consolidação do território
português parece assim ter sido um factor importante para a sua
inclusão como monumento no decreto, testemunhando o cariz
guerreiro e cavaleiresco do Portugal medieval.
51 José Mattoso salienta a importância defensiva de cidades como Lamegoe Coimbra até à conquista de Lisboa. – Idem, p.253.52 J. Mattoso, A identidade nacional, Gradiva, 1998, p.14.
27
Mapa 4 - Distribuição geográfica dos castelos medievais no decreto dosmonumentos nacionais de 1910, de acordo com o seu século de fundação
28
Por outro lado, é interessante notar a ausência no decreto
de vários castelos cuja importância não era menor - nomeadamente
na Beira Baixa, como Belmonte, Monsanto, Idanha-a-Velha e
Penamacor, mas também em Trás-os-Montes (Chaves, Vinhais), nos
distritos da Guarda (Trancoso, Pinhel, Castelo Rodrigo) e de
Coimbra (Soure) e no Alentejo (Marvão, Monsaraz e Mértola).
Alguns destes castelos só seriam classificados como monumentos
nacionais na República e, a grande maioria, durante o Estado
Novo, sendo neste período que receberam grandes campanhas de
restauro pela Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais
(DGEMN). É importante notar que a classificação de 1910 foi o
primeiro passo para um maior interesse pelo património militar
português, que até aí só fora objecto de interesse por alguns
autores e alguma imprensa, influenciados pelo gosto romântico
pela ruína53.
As concepções que presidiram à classificação dos monumentos
referidos, em especial as sés, os mosteiros e alguns castelos,
reflectem em grande medida um conhecimento do património
português que advinha das gerações anteriores. Se recuarmos até
às duas últimas décadas o XVIII, podemos ver que os relatos do
coleccionador William Beckford sobre as suas viagens por
Portugal (1787 e 1794) se confinam a Lisboa e arredores54, a
Alcobaça e à Batalha, passando por Óbidos55. Já o arquitecto
James Murphy em 1789-90 percorreu as cidades do Porto e de
Coimbra, a região de Leiria (Alcobaça, Batalha e Óbidos), Lisboa
53 O Archivo Pittoresco, por exemplo, dedicou artigos a castelos na alturatão “desconhecidos” como os de Miranda do Douro e de Vinhais – A. E.de Sousa Freire Pimentel, vol.5, 1862, pp.181-182, vol.6, 1863, pp.29-30. 54 Diário de William Beckford em Portugal e Espanha, introd. e notas BoydAlexander, trad. e pref. João Gaspar Simões, Lisboa, BNP, 2009.55 William Beckford, Recollections of an excursion to the monasteries of Alcobaça andBatalha, London, Richard Bentley (pub.), printed by Samuel Bentley,1835.
29
e arredores, indo também a Alcácer do Sal, Évora e Beja56. Os
monumentos mais realçados pelos dois viajantes ingleses são
obviamente os grandes mosteiros medievais, Alcobaça e a
Batalha57, que causam uma enorme impressão pela sua arquitectura
e por evocarem uma vida monástica, católica, que em Inglaterra
já não existia58.
Os guias de viagens e de monumentos do século XIX seguem a
linha dos tours preferidos pelos estrangeiros que vinham ao país.
Focam essencialmente Lisboa e arredores, bem como as maiores
cidades (Porto, Braga, Coimbra, Évora), com as suas sés, igrejas
e castelos medievais. Outros sítios frequentemente referidos
devido aos seus monumentos medievais são Guimarães, Alcobaça,
Batalha e Tomar. À medida que os anos vão passando e o número de
viajantes cresce (acompanhando a construção de estradas e de
caminhos-de-ferro durante a segunda metade do século XIX), o
tamanho e o nível de detalhe dos guias aumenta, passando a
incluir vários monumentos em sítios específicos, como é o caso
dos castelos59 e de algumas igrejas, como o Mosteiro de Leça do
Bailio.
56 James Murphy, Travels in Portugal through the Provinces of Entre Douro e Minho, Beira,Estremadura, and Alem-Tejo, in the years 1789 and 1790: Consisting of Observations on theManners, Customs, Trade, Public Buildings, Arts, Antiquities, &c. of that Kingdom Buildings,Arts, Antiquities, etc. of that Kingdom, London, A. Strahan, and T. Cadell Jun.and W. Davies, 1795.57 J. Murphy fez inclusive um conjunto de esboços do Mosteiro daBatalha que teriam uma grande influência nos trabalhos de restauro domonumento ao longo do século XIX. – James Murphy, Plans, elevations, sectionsand views of the Church of Batalha, London, printed for I. & J. Taylor, HighHolborn, 1795.58 Paulo Simões Rodrigues, Património, identidade e história, p.38.59 Dos guias consultados, o Indicador dos objectos mais curiosos e de algunsmonumentos históricos do Reino de Portugal, coord. António Joaquim Alvares, Riode Janeiro, 1856 é o primeiro a incluir uma lista considerável decastelos: Feira, Leiria, Alcobaça, Óbidos, Tomar, Almourol, Sintra,Vila Viçosa, Avis, Estremoz e Moura, bem como as muralhas das cidadesde Évora e Braga.
30
No entanto, os itinerários principais continuariam a ser os
tradicionais. Veja-se por exemplo o percurso realizado por
Ramalho Ortigão nas suas viagens por Portugal na década de 80 do
século XIX, que são descritas n’ As Farpas60. Segundo a
historiadora Alice Alves, o objectivo de Ramalho nestes textos
era o de apelar ao “nacionalismo, ao amor pela terra portuguesa,
costumes, tradições e à glória histórica, em alguns casos
testemunhada pelos monumentos portadores até ao momento
contemporâneo da prova física da existência desse
desenvolvimento histórico”61. A autora considera que estas
descrições do país tiveram uma grande influência no
desenvolvimento da nova corrente literária neoromântica do final
do século XIX e princípios do século XX denominada
“neogarrettismo”, que apelava a um retorno à terra e à
redescoberta dos valores nacionais no contacto com o povo e com
as suas tradições e modos de vida62. De facto, a província de
eleição para Ortigão é o Entre-Douro-e-Minho, descrito como um
local de quietude bucólica, imbuído por uma aurea mediocritas e um
viver autêntico, simples (mas não miserável63), em que a cidade
de Viana é descrita como um sítio pacato, longe do rebuliço das
grandes metrópoles. Ortigão viaja também pela zona do Douro
(Régua), pela Estremadura (Caldas da Rainha e Óbidos) e oferece
ainda um ensaio sobre o mosteiro de Alcobaça. Porém, nenhuma
região lhe deixa uma impressão tão forte como o Minho, local
onde o autor parece buscar o “Portugal autêntico”. Esta não era,
60 As Farpas, Tomo I: A vida provincial, Lisboa, Comp. Nac. Editora,1887.61 Alice Alves, p.56.62 Idem, p.57.63 “Dentro desta zona não há grandes proprietários, não há gente muitorica, e não há miséria. Muitas casas pequenas. Nem uma só casa emruínas, como na Beira, como no Douro”. - Ortigão, As Farpas completas. Opaís e a sociedade portuguesa, vol. I, ed. Ernesto Rodrigues, Círculo deLeitores, 2006, p.10.
31
no entanto, uma ideia inovadora para a altura, pois a imagem do
Minho como um autêntico “paraíso terreal” vinha já de há muitos
séculos atrás. A fertilidade do solo, a excelência do clima, a
abundância de água, árvores, ervas e flores e dos melhores
produtos do país, bem como a fecundidade das suas gentes eram
constantemente lembrados por escritores que reconheciam, além
disso, o Entre-Douro-e-Minho como o núcleo primitivo do
território do reino, nunca conspurcado pela presença árabe, de
onde partira a reconquista do Sul. Era também desta província
que provinham as mais antigas casas nobres, bem como as mais
antigas ordens religiosas e a própria organização eclesiástica
(o arcebispado de Braga como “primaz das Espanhas”, o mais
antigo bispado ibérico)64.
A imagem de um Portugal centrado nas regiões litorais,
especialmente a norte do Tejo, continuava assim a reflectir-se
nos percursos dos viajantes. A título de exemplo, o Mapa
Excursionista da Sociedade Propaganda de Portugal, de 1907,
mencionava como “lugares que merecem ser visitados” em Portugal
o Porto, Coimbra, Leiria, a Batalha, Alcobaça, Tomar, Santarém,
Sintra, Palmela e Évora65. O Guia do Viajante da Empresa Nacional de
Navegação, do mesmo ano, propunha um roteiro de Portugal em 11
dias que se resumia a Lisboa (4 dias), Sintra e Colares (5º e 6º
dias), Estoris e Cascais (7º dia), Mafra e Ericeira (8º dia),
Alcobaça, Batalha e Leiria (9º e 10º dias) e Tomar (11º dia)66.
Já o Manual do Viajante em Portugal, de Leonildo de Mendonça e Costa,
também publicado em 1907, alargava este percurso (agora de 8
64 Ana Cristina Nogueira da Silva; António Manuel Hespanha, “Aidentidade portuguesa” in História de Portugal, dir. José Mattoso, vol.4,coord. António Manuel Hespanha, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993,pp.26-27.65 Mapa Excursionista de Portugal, Sociedade Propaganda de Portugal, Lisboa,Lith. de Portugal, 1907. 66 Guia do Viajante em Portugal e suas colónias em África, Lisboa, Typ. deChristovão Augusto Rodrigues, 1907, p.61.
32
dias) às cidades do Porto e de Coimbra, sendo que para visitar
lugares históricos como Braga e Guimarães propunha um plano de
excursões de 15 dias, deixando lugares como Viana do Castelo,
Viseu, Santarém, Setúbal, Palmela, Évora, Beja, Faro e Silves
para um percurso de 30 dias67. Podemos perceber a partir destes
dados relativos ao turismo uma clara hierarquia de lugares, em
que o litoral predomina claramente sobre as regiões do interior
de Portugal e o Norte sobre as regiões a sul do rio Tejo. Estas
diferenças baseiam-se, como vimos, na distribuição da população
portuguesa, concentrada historicamente no “Norte atlântico”, e
numa imagem do território que se construiu ao longo dos séculos.
Conclusão
Podemos assim concluir que a classificação dos monumentos
nacionais foi um processo com longos antecedentes e que foi
vítima de inúmeros atrasos resultantes das circunstâncias
políticas e económicas, de algum desinteresse ou ignorância em
relação ao património e das indecisões e impasses por parte do
poder central. 1910 representa assim um ponto de chegada dos
esforços feitos ao longo do século anterior para legislar sobre
a matéria, mas também um ponto de partida para os esforços mais
consertados e sistemáticos de inventariar, proteger e restaurar
o património nas décadas seguintes.
No campo do património arquitectónico, as catedrais, os
mosteiros, as igrejas e os castelos foram os monumentos
medievais que melhor simbolizaram a época medieval. Porém, estes
monumentos, fruto de uma imagem do país que se construíra ao
67 Manual do Viajante em Portugal, Leonildo de Mendonça e Costa (coord.),Lisboa, Tipografia da Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1907, p.VIII.
33
longo dos séculos anteriores, estavam centrados essencialmente
numa região – o Norte atlântico – a qual era conhecida dos
viajantes. Não obstante esta imagem do Portugal medieval, o
decreto dos monumentos nacionais de 1910 revela uma tentativa de
descobrir novos locais da medievalidade e, como tal, da
nacionalidade portuguesa – concretamente, os castelos do
interior do país. Este processo culminaria nos programas de
restauro destes edifícios durante o Estado Novo, período durante
o qual a descoberta “nacionalista” de Portugal atingiu o seu
apogeu. Na realidade, a classificação dos monumentos inseriu-se
num vasto processo, veiculado entre as últimas décadas do século
XIX (principalmente a partir da crise do Ultimato em 1890) e o
princípio do século XX, e que Rui Ramos chama “o
reaportuguesamento de Portugal”68 – neste período, através do
contributo de vários escritores, artistas, historiadores,
etnógrafos e intelectuais que evocaram, descreveram e estudaram
os lugares, tradições e obras de arte de todo o país, foi-se
generalizando a toda a população uma ideia de nacionalidade. A
Idade Média, época da fundação desta nacionalidade, foi assim
também evocada através dos seus lugares e monumentos mais
importantes.
Fontes
Archivo Pittoresco. Semanario Illustrado, Lisboa, Tip. Castro Irmão, 1857-
1868.
Archivo Popular, Semanario Pintoresco, nº26, Lisboa, Typ. de A.J.C. da
Cruz, 23 de Setembro de 1837.
68 Rui Ramos, História de Portugal, dir. José Mattoso, vol.6, Lisboa,Círculo de Leitores, 1994, p.581.
34
BARBOSA, Ignácio Vilhena de, Monumentos de Portugal. Historicos, artisticos
e archeologicos, Lisboa, Castro Irmão, 1886.
BECKFORD, William, Diário de William Beckford em Portugal e Espanha,
introd. e notas Boyd Alexander, trad. e pref. João Gaspar
Simões, Lisboa, BNP, 2009.
BECKFORD, William, Recollections of an excursion to the monasteries of Alcobaça
and Batalha, London, Richard Bentley (pub.), printed by Samuel
Bentley, 1835.
CASCAIS, Joaquim da Costa, “Monumentos” in O Panorama, vol. XI,
nº27, Lisboa, Imprensa da Sociedade Propagadora dos
Conhecimentos Úteis, 8 de Julho de 1854.
Catálogo dos Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público classificados até
31 de Dezembro de 1940, Lisboa, DGEMN, 1941.
Diário do Governo, nº191, 25 de Agosto de 1890.
Diário do Governo, nº46, 28 de Fevereiro de 1894.
Diário do Governo, nº14, 17 de Janeiro de 1907.
Diário do Governo, nº136, 23 de Junho de 1910.
GARRETT, Almeida, Viagens na Minha Terra, Porto, Porto Editora,
1977, pp.176, 183-184.
Guia de Portugal, Lisboa, Typographia da Casa de Inglaterra, 1880.
Guia do Viajante em Portugal e suas colónias em África, Lisboa, Typ. de
Christovão Augusto Rodrigues, 1907.
HERCULANO, Alexandre, “A arquitectura gothica: igreja do Carmo
em Lisboa” in O Panorama, nº1, Lisboa, Imprensa da Sociedade
Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 6 de Maio de 1837.
HERCULANO, Alexandre, “Duas Épocas e Dois Monumentos ou a Granja
Real de Mafra” in Opúsculos II, org. introd. e notas de Jorge
Custódio e José Manuel Garcia, Lisboa, Presença, 1983, pp.135-
145.
HERCULANO, Alexandre, “Mais um brado a favor dos monumentos I”
in O Panorama, nº93, 9 de Fevereiro de 1839.
35
HERCULANO, Alexandre, “Mais um brado a favor dos monumentos II”
in O Panorama, nº94, 16 de Fevereiro de 1839.
HERCULANO, Alexandre, “Monumentos Pátrios” in Opúsculos I, Lisboa,
Presença, 1983, pp. 173-219.
HERCULANO, Alexandre, “Os monumentos” in O Panorama, nº69, 25 de
Agosto de 1838.
HERCULANO, Alexandre, “Os monumentos II” in O Panorama, nº70, 1
de Setembro de 1838.
Indicador dos objectos mais curiosos e de alguns monumentos históricos do Reino de
Portugal, coord. António Joaquim Alvares, Rio de Janeiro, 1856.
LARCHER, Jorge das Neves, Monumentos de Portugal. Alcobaça e Batalha,
Lisboa, Papelaria Paleta d’ Ouro, 1922.
LEAL, José Maria da Silva Mendes, Monumentos nacionais, Lisboa,
Typ. Franco-Portuguesa, 1868.
Manual do Viajante em Portugal, Leonildo de Mendonça e Costa (coord.),
Lisboa, Tipografia da Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1907.
Mapa Excursionista de Portugal, Sociedade Propaganda de Portugal,
Lisboa, Lith. de Portugal, 1907.
Monumentos Nacionais classificados até Setembro de 1928, Lisboa, Conselho de Arte e Arqueologia (1ª circunscrição), 1929.
Monumentos Nacionais. Legislação e classificação, Lisboa, Publicação da Comissão de Monumentos do Conselho de Arte e Arqueologia da 1ª Circunscrição, 1923.
Monumentos Nacionais Portugueses, Legislação, Lisboa, Imprensa Nacional,
1910.
MURPHY, JAMES, Plans, elevations, sections and views of the Church of Batalha,
London, printed for I. & J. Taylor, High Holborn, 1795.
MURPHY, James, Travels in Portugal through the Provinces of Entre Douro e Minho,
Beira, Estremadura, and Alem-Tejo, in the years 1789 and 1790: Consisting of
Observations on the Manners, Customs, Trade, Public Buildings, Arts, Antiquities, &c. of
36
that Kingdom Buildings, Arts, Antiquities, etc. of that Kingdom, London, A.
Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies, 1795.
PROENÇA, Raul, Guia de Portugal, Lisboa, Oficinas Gráficas da
Biblioteca Nacional, 1924-1927.
ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas completas. O país e a sociedade portuguesa,
vols.I e V, ed. Ernesto Rodrigues, Círculo de Leitores, 2006.
ORTIGÃO, Ramalho, O Culto da Arte em Portugal, Lisboa, António Maria
Pereira, 1896.
Relatorio e Mappas á cerca dos edificios que devem ser classificados Monumentos
Nacionaes, Apresentado ao Governo pela Real Associação dos Architectos e
Archeologos Portugueses em conformidade da portaria do Ministerio das Obras
Publicas de 24 de outubro de 1880, Lallemant Frêres, Typ. Lisboa, 1881.
SANTOS, Luiz Reis; QUEIROZ, Carlos, Paisagem e Monumentos de
Portugal, Lisboa, Comemorações Centenárias, 1940.
SILVA, Possidónio da, Relatório da Comissão dos Monumentos Nacionais
apresentado ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Ministro das Obras públicas
Comércio e Industria pelo presidente da referida comissão em 1884, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1894.
SOUSA, A. D. de Castro e, Itinerario que os estrangeiros que vem a Portugal,
devem seguir na observação e exame dos edifícios, e monumentos mais notáveis deste
Reino, Lisboa, Typ. da História d’ Hispanha, 1845.
Bibliografia
100 anos de património. Memória e identidade, coord. Jorge Custódio,
Lisboa, IGESPAR, 2010.
37
ALMEIDA, Fortunato de, História da Igreja em Portugal, Porto-Lisboa,
Livraria Civilização, 1970.
ALVES, Alice Nogueira, Ramalho Ortigão e o culto dos monumentos nacionais
no século XIX, dissertação de doutoramento em História,
Especialidade Arte, Património e Restauro, Universidade de
Lisboa – Faculdade de Letras, 2009.
MATTOSO, José, A identidade nacional, Gradiva, 1998.
MATTOSO, José, A Identificação de um país, Lisboa, Círculo de
Leitores, 2000.
NETO, Maria João Baptista, A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais e a Intervenção no Património Arquitectónico em Portugal (1929-1960),
dissertação de doutoramento em História da Arte, Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, 1995.
Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento – Guia Histórico, dir.
Bernardo Vasconcelos e Sousa, Lisboa, Horizonte, 2005.
RAMOS, Rui, História de Portugal, dir. José Mattoso, vol.6, Lisboa,
Círculo de Leitores, 1994.
RIBEIRO, Orlando, “Portugal” in Dicionário de História de Portugal,
coord. Joel Serrão, vol.V, Porto, Figueirinhas, 1992.
RODRIGUES, Paulo Alexandre Simões, Património, Identidade e História. O
valor e o significado dos monumentos nacionais no Portugal de oitocentos,
dissertação de mestrado em História da Arte Contemporânea
(sécs.XVIII-XX), UNL-FCSH, 1998.
ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, Monumentos Pátrios. A arquitectura religiosa
medieval – património e restauro (1835-1928), dissertação de doutoramento
em História da Arte, Universidade do Porto, 1995.
ROSMANINHO, Nuno, A Historiografia Artística Portuguesa. De Raczynski ao Dealbar
do Estado Novo (1846-1935), dissertação de mestrado em História
Contemporânea de Portugal, Universidade de Coimbra, 1993.
SILVA, Ana Cristina Nogueira da; HESPANHA, António Manuel, “A
identidade portuguesa” in História de Portugal, dir. José Mattoso,
38