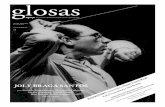Dissertação Braga (final 12 05 2015)
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dissertação Braga (final 12 05 2015)
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE HUMANIDADES E DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
ANTONIO BRAGA DE MOURA FILHO
SERTÃO DO VALONGO:
ARTICULAÇÃO DE LIBERDADE, RELIGIÃO E IDENTIDADE EM
UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA ADVENTISTA
SÃO BERNARDO DO CAMPO
2015
ANTONIO BRAGA DE MOURA FILHO
SERTÃO DO VALONGO:
ARTICULAÇÃO DE LIBERDADE, RELIGIÃO E IDENTIDADE EM
UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA ADVENTISTA
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, da Faculdade de Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião.
Área de Concentração: Religião, Sociedade e Cultura.
Orientador: Prof. Dr. Helmut Renders
SÃO BERNARDO DO CAMPO
2015
A dissertação de mestrado intitulada: “SERTÃO DO VALONGO: ARTICULAÇÃO DE LIBERDADE, RELIGIÃO E IDENTIDADE EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA ADVENTISTA”, elaborada por ANTONIO BRAGA DE MOURA FILHO, foi apresentada e aprovada em 31 de março de 2015, perante banca examinadora composta por Prof. Dr. Helmut Renders (Presidente/UMESP), Profa. Dra. Sandra Duarte de Souza (Titular/UMESP) e Profa. Dra. Cristina Zukowsky Tavares (Titular/ UNASP e UNIFESP).
_____________________________________________
Prof. Dr. Helmut Renders
Orientador e Presidente da Banca Examinadora
_____________________________________________
Prof. Dr. Helmut Renders
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Programa: Pós-Graduação em Ciências da Religião Área de Concentração: Religião, Sociedade e Cultura Linha de Pesquisa: Religião e dinâmicas psicossociais e pedagógicas
Dedico esta Dissertação ao incrível povo do Sertão do Valongo,
cuja cultura ímpar desejo que prossiga sendo
um silencioso contraponto às lógicas da sociedade
AGRADECIMENTOS
Ao Senhor da minha existência, com quem tenho andado nos últimos 38 anos e que me agracia com uma vida muito abençoada. Ele me faz gostar muito mais de agradecer do que
pedir.
À minha amada esposa Neila, incentivadora de primeira hora para que eu nunca deixe de estudar.
Aos filhos amados, Tiago e Carol, pela nossa cumplicidade e grande amor.
Ao UNASP, por ter proporcionado as condições para esse Mestrado.
A Helio Carnassale, parceiro de todas as horas dessa jornada. Sem sua ajuda eu não teria conseguido.
A Cristina Tavares, amiga que jamais se negou a fornecer sugestões preciosas a todos os passos da pesquisa.
À minha amiga Nitinha, que dedicou muitas e muitas horas para ajustar detalhes que eram necessários.
Ao amigo José Nilton, pela biblioteca particular que foi um auxílio e tanto.
Aos professores e colegas do programa de Ciências da Religião, novos amigos agregados à vida.
À querida Família Bertazzo, cujo Apto foi um perfeito refúgio acadêmico.
Ao Dr. Helmut Renders por todo o processo de orientação da pesquisa.
A todos aqueles amigos e colegas que, de perto ou de longe, torceram sempre pelo sucesso da jornada.
Ao fator BGP, que me ajudou demais nas horas complicadas, sintetizando sempre as dificuldades do caminho.
“As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem
felizes, exceto pelo fato de que elas são”
Willian Ralf Inge
MOURA FILHO, Antonio Braga de. Sertão do Valongo: articulação de liberdade, religião e identidade em uma comunidade quilombola adventista. São Bernardo do Campo: UMESP. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, Universidade Metodista de São Paulo.
RESUMO
Há um crescente interesse nas investigações acadêmicas, bem como nas políticas oficiais voltadas à redução das assimetrias sociais no sentido de aprofundar os estudos acerca dos remanescentes de escravos que subsistem na atualidade como povos quilombolas em todo o Brasil. Nas últimas décadas, se procura de várias formas, reparar erros históricos cometidos contra os descendentes dos povos de origem africana que vivem no país. Minha pesquisa focou o olhar numa dessas pequeninas comunidades, o Sertão do Valongo, cujo território está localizado numa estreita faixa de terra no interior de Santa Catarina, oficialmente reconhecida como remanescente dos antigos quilombos desde 2004. Os valonguenses têm despertado a atenção de estudiosos e curiosos que entram em contato com eles e a razão desse interesse está ligado especialmente a uma especificidade somente ali encontrada: eles são praticantes da crença adventista há nove décadas e essa peculiaridade atrai estudos que buscam investigar o modo de viver desse povo, intimamente ligado à prática da religião. O estudo é uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, e tem como referencial teórico a Sociologia Crítica de Florestan Fernandes. Nele investiguei acerca dos ideais de liberdade presentes na gênese da comunidade no final do século 19; analisei aspectos da forte influência da religião para os seus moradores a partir da conversão do grupo ao adventismo na década de 1930; discuti a maneira como a liberdade e a religião se articulam para a construção da identidade desse povo ao longo do tempo, tornando o pequeno mundo valonguense um espaço provocador de reflexões.
Palavras-chave: Quilombola, Sertão do Valongo, Adventista, Liberdade, Religião,
Identidade.
MOURA FILHO, Antonio Braga de. Hinterland of Valongo: articulation of freedom, religion and identity of an adventist maroon community. São Bernardo do Campo: UMESP. Dissertation (Master’s degree in Science of Religion) - College of Law and Liberal Arts, Methodist University of São Paulo.
ABSTRACT
There is a growing interest in academic research, as well as in official policies aimed at reducing social inequalities in order to deepen the studies on the remaining of slaves who reside today as Maroons throughout Brazil. In recent decades, seeking in various ways, to redress historic wrongs committed against the descendants of the people of African origin living in the country. My research focused to gaze at these tiny communities, the Hinterland of Valongo, whose territory is located in a narrow strip of land in the interior of Santa Catarina, officially recognized as a remnant of the old Maroons since 2004. The dwellers of Valongo has attracted the attention of scholars and curious who come in contact with them and the reason for this interest is connected particularly to a specificity only found there: they are practitioners of the Adventist belief for nine decades and this peculiarity attracts studies that seek to investigate the way of living of these people, closely linked to the practice of the religion. The study is a qualitative research, of bibliographic character, and has as its theoretical reference the Critics of Sociology by Florestan Fernandes. In this study, I reflected on the ideals of freedom present in the genesis of the community in the late 19th century; I analyzed the aspects of the strong influence of religion for its residents from the group conversion to Adventism in the 1930s; I discussed how the freedom and religion are linked to the construction of the identity of these people over time, making the little world of the inhabitants of Valongo a provocative space of reflections.
Keywords: Maroon, Hinterland of Valongo, Adventist, Freedom, Religion, Identity.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Leilão de escravos............................................................................................ 23
Figura 2 - Mapa de localização do Sertão do Valongo..................................................... 35
Figura 3 - Registros dos votos administrativos adventistas entre 1925 e 1941 preservado nos escritórios da Igreja................................................................................. 54
Figura 4 - Índice das Atas da Comissão Diretiva Adventista com versão em alemão.... 55
Figura 5 - Pedido de folhetos em alemão em 1932......................................................... 56
Figura 6 - Pedido de livros em alemão em 1935............................................................. 57
Figura 7 - Suspensão de publicação alemã em 1938....................................................... 58
Figura 8 - Eleição de líder valonguense para Assembléia da Igreja em 1939................. 59
Figura 9 - Eleição de líder valonguense para Assembléia da Igreja em 1941................. 60
Figura 10 - Umas das 28 casas onde moram os quilombolas valonguenses. Construção de madeira......................................................................................................................... 66
Figura 11 - Primeira Igreja do Valongo, construída em 1962........................................... 67
Figura 12 - Igreja Adventista do Valongo, que se ergue no centro do território Construção de alvenaria.................................................................................................... 68
Figura 13 - Primeira menção ao valonguenses da Revista Adventista............................. 70
Figura 14 - Batismos de valonguenses noticiados na Revista Adventista........................ 71
Figura 15 - Valonguenses em meio a outros adventistas, em 1938.................................. 72
Figura 16 - Entusiasmo dos valonguenses ressaltados na Revista Adventista................. 73
Figura 17 - Foto de destaque dos valonguenses.............................................................. 74
Figura 18 - Elogio aos valonguenses na Revista Adventista............................................ 75
Figura 19 - Entrevista com missionário que atuou no Valongo....................................... 76
Figura 20 - Longa reportagem na Revista Adventista sobre o povo do Valongo............ 77
Figura 21 - Capa do livro publicado pelo IPHAN sobre o Valongo................................. 91
Figura 22 - O Valongo na história do adventismo no Brasil............................................. 103
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 11 .......................................................................................................................
1. A LIBERDADE COMO CONTEXTO DA GÊNESE DO SERTÃO DO VALONGO……………………………………………………………………………….. 16
1.1. O IDEAL DA LIBERDADE COMO PARTE DA HISTÓRIA 19 ..................................
1.2 A LIBERDADE COMO EXPRESSÃO ESSENCIAL DOS ANTIGOS QUILOMBOS 21 ......................................................................................................................
1.3 A LIBERDADE A PARTIR DE 1888 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS EX-ESCRAVOS 30 ...................................................................................................................
1.4 O MUNDO VALONGUENSE COMO EXPRESSÃO DE LIBERDADE 34 ................
CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 42 ..........................................................................
2. O FATO RELIGIOSO NO SERTÃO DO VALONGO 44 ............................................
2.1 COMO TEM SIDO PENSADO O MUNDO VALONGUENSE 46 ..............................
2.2 O CONTEXTO DA CHEGADA DO ADVENTISMO NO VALONGO 50 ...............
2.3 A IMPORTÂNCIA DA FÉ PARA O POVO VALONGUENSE 62 ...............................
CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 78 ..........................................................................
3. A LIBERDADE E A RELIGIÃO COMO CONSTRUTORES DA IDENTIDADE VALONGUENSE 80 ...................................................................................................................
3.1 QUESTÕES DA IDENTIDADE DO MOMENTO QUILOMBOLA NA ATUALIDADE 82 .....................................................................................................................
3.2 A IDENTIDADE VALONGUENSE NO SÉCULO 21 87 .............................................
3.3 PRESERVAÇÃO DE UMA IDENTIDADE 93 ..............................................................
CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 106 ........................................................................
CONSIDERAÇÕES FINAIS 108 .............................................................................................
REFERÊNCIAS 111 ....................................................................................................................
REFERÊNCIAS IMAGÉTICAS 121 ........................................................................................ANEXOS………..……………………………………………………………………………………122
!11
INTRODUÇÃO
A origem dessa pesquisa aconteceu no momento em que pisei os pés pela primeira vez
no território da comunidade quilombola Sertão do Valongo, a fim de organizar um projeto de
voluntariado universitário no local. Era o mês de março de 2013 e eu estava vivendo as
primeiras semanas como aluno do programa de Ciências da Religião da UMESP -
Universidade Metodista de São Paulo. Descobri naquele lugar a existência de um povo
simplesmente encantador e, ao saber que diversos pesquisadores já haviam publicado estudos
sobre eles, estabeleceu-se logo a certeza de que todo o desenvolvimento do meu programa de
Mestrado seria dedicado a pesquisar aquele povo.
Nas últimas décadas o Estado brasileiro procura, de várias formas, reparar erros
históricos cometidos contra os descendentes dos povos de origem africana que vivem no país
(LEITE, 2008). Sendo assim, é crescente o número de estudos concluídos por pesquisadores
acerca das milhares de comunidades quilombolas que existem em nosso país, alguns dos quais
serão indicados ao longo do trabalho. O Sertão do Valongo é uma pequenina comunidade,
oficialmente reconhecida como remanescente dos antigos quilombos desde 2004. Seu
território está localizado numa estreita faixa de terra no município de Porto Belo, interior de
Santa Catarina. Os valonguenses têm despertado a atenção de estudiosos e curiosos que
entram em contato com eles e a razão desse interesse está ligada especialmente a uma
especificidade somente ali encontrada: eles são praticantes da crença adventista há nove
décadas e essa peculiaridade atrai estudos que buscam investigar o modo de viver desse povo,
intimamente ligado à prática da religião.
O objetivo da minha pesquisa foi refletir na constituição dessa comunidade
quilombola e analisar, à luz do quadro teórico delineado, três aspectos julgados como
relevantes para compor um estudo: a liberdade, como possível provocadora de sua gênese; a
religião, cuja influência passou a ser característica principal do seu povo; a articulação desses
elementos na formação da identidade dos valonguenses.
Entendo que minha pesquisa se justifica ao propor uma discussão entre as fortes
características da prática religiosa vivida por aquele povo e o ideário de liberdade que deu
!12
origem aos antigos quilombos. As pesquisas realizadas ali indicam que não é possível ter uma
compreensão daquele povo sem que se entenda a maneira como a religião é central para ele,
podendo-se dizer que é ela que dá sentido à vida dentro da comunidade. Liberdade e religião
são conceitos que facilmente se tensionam entre si quando colocados juntos, especialmente
nos tempos modernos. De que forma se dá, então, a coexistência aparentemente natural deles
no território do Valongo? Passei, então, a “escutar as diferentes vozes da
intuição” (CLAXTON, 2005, p. 119) que me levaram a questionar qual a influência desses
conceitos para a construção da identidade dos valonguenses, que faz com que o jeito de viver
encontrado na comunidade desperte tanta atenção. Penso que a questão mereceu ser
investigada.
A pesquisa se delimitou na abordagem desses três tópicos, evidentemente não
cobrindo todas as possibilidades que eles apresentam, mas colocando o foco nos recortes que
foram julgados indispensáveis para a compreensão do sujeito da pesquisa.
Esse estudo teve um desenho de pesquisa qualitativa que permite uma proximidade
entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa e procurei fazer o que Chizzotti (2001, p. 79)
chamou de “[…] uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito […]”. O indivíduo
encontrado no Valongo não é neutro ou passivo, mas dinâmico e portador de saberes que
foram acentuados por outros pesquisadores e que agora figuram como centrais para essa
investigação. Minhas análises buscaram captar a dinâmica de percepções até aqui escritas,
procurando lançar um olhar diferenciado, em razão da minha vivência pessoal de quase 40
anos no seio do adventismo.
Na descrição feita por Bogdan & Biklen (1994), encontrei elementos que me
ofereceram a certeza do caminho que seria trilhado. A pesquisa qualitativa é essencialmente
descritiva, buscando sentido nas palavras e imagens contextualizadas, tendo no pesquisador o
principal instrumento e no ambiente natural a fonte de dados necessária. Penso que o
mergulho que tenho feito na Comunidade do Sertão do Valongo se tornou importante ponto de
contato entre a pesquisa acadêmica e o mundo real onde os valonguenses se encontram. Li,
reli e li de novo e outra vez os materiais escritos sobre o tema buscando o sentido entre as
abordagens e coletando-as para minha escrita. Entendo que a exploração que fiz desvela
alguns aspectos acerca do grupo que ainda não foram abordados por outros pesquisadores.
!13
Dentro da coerência de um estudo qualitativo, face ao objeto de estudo selecionado,
foi realizada uma Revisão Bibliográfica, na qual busquei discutir os temas a partir dos
registros disponíveis em livros que discutem construtos da sociologia crítica, religião e causas
africanas e quilombolas, artigos científicos das bases de dados SciELO Scientific Eletronic
Library Online e Google Acadêmico, com a utilização dos descritores “quilombola”,
“quilombos” , “Santa Catarina”, bem como Dissertações e Teses. A partir da minuciosa
revisão da literatura e estudo dos textos selecionados em diálogo com o referencial teórico-
crítico na área é que foi possível lançar luz sobre os conceitos em questão.
Necessitei na caminhada da pesquisa analisar documentos que se mostraram
pertinentes à compreensão do tema pesquisado, visto que os mesmos complementam os dados
obtidos por meio da revisão da literatura (LUDKE e ANDRÉ, 1986). São duas as fontes
documentais analisadas na pesquisa. A primeira é um conjunto de documentos oficiais da
organização adventista na região administrativa do Paraná e Santa Catarina, entre os anos de
1925 a 1941, período que a pesquisa teve acesso para efetuar a busca de votos administrativos
que tivessem relevância para esse levantamento. Os documentos estavam preservados e foi
realizada uma investigação neles, tendo sido selecionados seis votos que foram descritos e
analisados no segundo capítulo da pesquisa. A segunda fonte de documentos foi encontrada
por meio de uma extensa busca na Revista Adventista, que é o órgão oficial da denominação
no Brasil, cujas edições mensais estão preservadas e digitalizadas desde 1906, quando
começou a sua publicação, contando também com ferramentas de busca. O recorte de tempo
foi feito entre os anos de 1935 a 2013 e foram analisados oito reportagens sobre os crentes do
Valongo nessas publicações. As análises estão apresentadas no segundo capítulo do trabalho.
Para montar o quadro teórico principal de análise, busquei respaldo na sociologia
crítica brasileira contida em obras de Florestan Fernandes (2007, 2008 e 2013) que dedicou
boa parte de seus escritos para discutir as questões do negro e sua conturbada contribuição no
processo de formação e desenvolvimento de nossa sociedade. Na verdade, ele inaugurou “[…]
uma nova interpretação do Brasil, um novo estilo de pensar o passado e o presente” (IANNI,
1996, p. 25). Fernandes foi o principal teórico a desmistificar o imaginário popular, que via o
país como isento de problemas raciais, um verdadeiro paraíso de igualdade. Sua denúncia
apontou verdades inquietantes e significou uma contribuição enorme para que o Brasil
iniciasse um longo e ainda inacabado processo de reparação diante de toda a discriminação
!14
vivida pelo negro nessas terras. Utilizando a base do seu pensamento, minha pesquisa se
apresenta como elemento questionador no sentido de refletir sobre uma possibilidade de
amarração dos três elementos propostos (liberdade, religião e identidade) dentro de uma
comunidade quilombola fortemente marcada pelo apego a uma crença.
Os três capítulos do trabalho podem ser assim descritos:
No primeiro abordei o tema da liberdade, questionando se foi um ideal libertatório que
provocou o surgimento da comunidade do Valongo. Como contexto necessário, procurei
mostrar se o conceito de liberdade já estava presente na formação dos antigos quilombos,
espaços onde se juntavam os negros que fugiam dos seus senhores e formavam essas
comunidades, que eram frentes de resistência diante dos horrores praticados pelo escravismo
no Brasil. Tratei também da liberdade oficial cedida aos escravos a partir da Lei Áurea, em
1888, e seus complexos desdobramentos sociais para a população negra presente em todo o
território brasileiro. Oficialmente estavam libertos, mas até que ponto se encontravam ainda
presos às garras da discriminação? Se essas populações foram empurradas para a periferia
nacional durante décadas, a partir de que fatores esse quadro começa a se reverter na segunda
metade do século 20? Diante da exposição desse contexto, selecionei aspectos históricos da
formação da comunidade do Valongo, ocorrida à época imediatamente posterior à abolição.
Seu minúsculo mundo, iniciado a partir de três famílias que se juntaram naquela terra
insalubre, apresenta-se como expressão de liberdade?
O segundo capítulo é onde fiz uma análise do fato religioso na comunidade, trazendo a
importância da religião para o centro do debate. Para isso, minha pesquisa procurou investigar
as fontes disponíveis e buscou apontar como, ao longo do tempo, tem sido pensado o mundo
valonguense, sublinhando a invisibilidade proporcionada pelo território, as nuanças da
discriminação enfrentadas na vizinhança e a mudança histórica ocorrida no Sertão na década
de 1930, com a migração do grupo ao adventismo. Reuni questionamentos acerca do fato de
uma comunidade de negros inserir-se numa Igreja constituída à época essencialmente por
imigrantes alemães e analisei documentos históricos inéditos da Igreja na região sul, bem
como as buscas efetuadas no principal veículo de comunicação escrita que a denominação
possui no país, a Revista Adventista. Nesses documentos apontei indícios da importância da
fé para o cidadão valonguense. Fora das fronteiras denominacionais, as análises mostraram
percepções de diferentes pesquisadores que já fizeram levantamentos sobre o Valongo.
!15
No terceiro capítulo me ocupei em investigar as influências da liberdade e da religião
como possíveis construtores da identidade valonguense. A discussão do tema identidade
envolve uma grande complexidade, mas as percepções extraídas a partir daquela
microsociedade podem fornecer algumas reflexões válidas para a Academia. Busquei também
as pistas deixadas nos levantamentos existentes para verificar se a religião foi para aquele
grupo fator de coesão solidária ou de alienação e acomodação. Existe no Valongo uma espécie
de coexistência positiva entre a liberdade e a religião, gerando uma identidade comunitária
que pode ser vista como uma silenciosa contra-cultura às lógicas existentes hoje na
sociedade? O esforço para a preservação da cultura identitária de povos como o do Valongo
pode configurar-se como necessária, visto que esses micromundos são detentores de saberes
que, mesmo sendo ancestrais, ainda podem se constituir em fontes de reflexões para a pós-
modernidade?
Foi a existência desses questionamentos e de outros contidos no interior do texto, que
moveu cada etapa dessa pesquisa. O acurado estudo que fiz deles fez com que se levantassem
outras questões que, entendidas como relevantes, apontam para novos levantamentos que se
fazem necessários no sentido de provocarem outras reflexões acerca do tema.
!16
1 A LIBERDADE COMO CONTEXTO DA GÊNESE DO SERTÃO DO VALONGO
A moldura deste capítulo se dá com o tema da liberdade, inferido como fator
preponderante para o início da comunidade quilombola Sertão do Valongo e, num plano mais
amplo, também elemento decisivo para milhares de grupos formados por ex-escravos em todo
o território brasileiro. É necessário pontuar inicialmente que o conceito de liberdade como
conhecido e vivenciado hoje em grande parte dos países, é um valor relativamente recente
para a sociedade, fazendo parte das mudanças estruturais que vêm ocorrendo em todo o
mundo nos últimos dois séculos. Qualquer análise superficial do paradoxo existente entre
liberdade e escravidão pode esconder elementos históricos e adulterar a compreensão de
ambos os conceitos. Para se ter uma ideia, calcula-se que por volta de 1772, apenas 5% da
população mundial era constituída de indivíduos livres (ENGEMANN, 2006), fato que
fornece uma certa perspectiva do que a liberdade significa como conquista humana.
Discutir o tema da liberdade a partir de um quilombo pode parecer paradoxal.
Entretanto, uma percepção extraída dos estudos de Leite (2008, p. 966) acerca do assunto abre
uma possibilidade que não deve ser desprezada. Para ela: Quilombo e liberdade são, portanto, contrafaces de uma mesma realidade histórica. De um lado, as situações de força arbitrária e incontestável em que os ‘senhores’ impunham sua vontade por meio de atitudes explícitas ou dissimuladas, brandas ou violentas. De outro, as reações de escravos e libertos, explícitas, sutis, violentas ou não, às diversas situações e regimes de autoridade.
Ora, nenhuma história pode ser entendida corretamente sem que se avalie o contexto
que a envolve, pois é o contexto que fornece elementos específicos de compreensão que não
são possíveis de outra forma. Sendo assim, é válida essa observação inicial acerca da
liberdade, para que se verifique, pelo menos em parte, o cenário que cerca a gênese do sujeito
dessa pesquisa, fator indispensável para o seu desenvolvimento e também para as reflexões
pretendidas. É necessário que se leve em conta as inúmeras e diferentes facetas, sejam elas as
grandes marcas de um dado ocorrido, ou mesmo minúsculas situações aparentemente
despretensiosas, mas que se configuram como de vital importância para a compreensão de um
fato histórico.
!17
No presente capítulo será abordado o nascimento da comunidade quilombola do
Sertão do Valongo, datado da última década do século 19, época imediatamente posterior à
assinatura da Lei Áurea. Porém, como já dito acima, nenhuma história existe à parte das
circunstâncias todas que a cercam e é por isso que se torna necessário que se faça uma breve
análise do cenário que envolvia o Brasil no período anterior e também posterior a este, a fim
de que um pouco do contexto seja explicitado. O tema da liberdade aparecerá como elemento
emoldurador para toda a contextualização pretendida. A construção do texto se dará a partir de
fontes bibliográficas selecionadas, pesquisadas e devidamente alinhadas ao objetivo proposto,
buscando atribuir coerência aos fatos que serão abordados. Ao ser analisada, a pequena
comunidade pode levantar questões que são de um âmbito infinitamente maior e permite, no
dizer de Arruti (1977, p. 11), “[…] jogar luz sobre grupos sociais antes pensados como
irrelevantes ou residuais, mas que, alçados ao estatuto de objetos dignos e pensados em sua
positividade abrem novos campos de análise”.
De fato, por décadas a fio, milhares de comunidades quilombolas estiveram legadas ao
esquecimento nacional e somente após muitas denúncias de setores da sociedade é que as
políticas governamentais iniciaram um conjunto de ações que trouxeram novamente ao palco
do cenário brasileiro a questão desses povos que foram, na visão de muitos estudiosos,
desconsiderados e esquecidos enquanto cidadãos. Localizados quase sempre nas periferias das
zonas urbanas ou em recantos escondidos, os quilombos estiveram literalmente à margem da
sociedade. Mas essa marginalidade pode ser percebida também no seu sentido simbólico, na
falta de atenção dada a essas populações. Na percepção de Silva e Souza (2013, p. 2): “As
discussões ligadas à questão racial junto à sociedade brasileira ganha visibilidade e ênfase na
década de 1990, ultrapassa o mundo acadêmico e ganha espaço na agenda política do Estado”.
Se muito antes disso já se denunciava a discriminação e a desigualdade que atingia esses
povos, as ações mais concretas só podem ser observadas a partir desse período. Somente em
2004, por meio do Programa Brasil Quilombola, que reúne ações sociais a partir de diversos
Ministérios, (RODRIGUES, 2010), é que efetivamente se organiza uma política que visa
cuidar dos interesses quilombolas. É dentro desse cenário de discussões que se encontra o
Valongo.
Dos antigos quilombos, frentes de resistência ao regime escravagista do passado, hoje
são consideradas quilombolas as comunidades que formam grupos étnico-raciais, segundo
!18
critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas e com ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica
sofrida, conforme Decreto nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de
suas terras consagrado desde a Constituição Federal de 1988. Foi somente a partir dos
avanços sociais conquistados pela Constituição de 1988 que “o Brasil passou a ser
reconhecido como um país multicultural e multiétnico” (JORGE e BRANDÃO, 2012, p. 84).
Durante o período em que se escrevia a Carta Magna do País os movimentos negros estiveram
articulados, reforçando “[…] a ideia de reparação, da abolição como ‘um processo inacabado’
e da ‘dívida’, em dois planos: a herdada dos antigos senhores e a marca que ficou em forma
de estigma, seus efeitos simbólicos geradores de novas situações de exclusão” (LEITE, 2008,
p. 969). Os reconhecidos avanços conquistados naquele período desencadearam novas
atitudes com relação ao problema histórico apontado.
Em diferentes tipos de levantamento de dados, a Fundação Cultural Palmares (FCP)
chegou a mapear 3.524 comunidades quilombolas nos estados brasileiros. Rodrigues (2010)
fala de estimamativas que contam cerca de 5 mil comunidades. Partindo dessa perspectiva, foi
criada em 2007 a Agenda Social Quilombola (ASQ), cujo objetivo é articular as ações no
âmbito do Governo Federal, por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ), entendido por
Rodrigues (2010, p. 271) como um “conjunto de medidas descentralizadas entre instituições
governamentais […]”. Elas, na verdade, não definem por completo a questão, apesar de o
programa apresentar-se como abrangente e ter como meta promover ações federais, estaduais
e municipais, bem como aquelas que envolvem organizações diversas da sociedade civil. O
Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição reza: “Aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo ao Estado emitir-lhes os títulos
respectivos” (BRASIL, 2012, p. 155). Essas “comunidades negras rurais habitadas por
descendentes de escravos, cujos habitantes vivem geralmente do cultivo da terra
[…]” (CASTELLS, 2006, p. 4) são parte integrante do cenário brasileiro e o reconhecimento
oficial de cada uma delas constitui-se em grande conquista social para esses grupos
minoritários. No ano de 2004, o povo do Valongo obteve a Certidão de Autorreconhecimento
emitida pela Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura, Governo Federal
(CASTELLS, 2007), sendo oficialmente considerada remanescente das Comunidades dos
!19
quilombos. Esse documento (ANEXO 1) foi publicado no Diário Oficial da União Nº 237, em
10 de dezembro de 2004 e é considerado como um dos principais comprovantes que uma
comunidade quilombola pode conquistar e é ele que abre as portas legais para os trâmites que
culminam na legalização das terras onde moram (SILVA, 2010).
1.1 O IDEAL DA LIBERDADE COMO PARTE DA HISTÓRIA
O mundo do Valongo é parte minúscula desse grande Brasil que Florestan Fernandes
(2007, p. 11) disse ser “definido por suas gentes de cores e costumes tão distintos” e são essas
gentes que constroem narrativas que, de tão significativas que se tornam, podem ser fontes
geradoras de estudos e aprendizados, não importa quanto tempo passe. Os sujeitos dessa
pesquisa se constituíram como um povo após 13 de maio de 1888, quando a Princesa Isabel
assinou a Lei Áurea, passo importante, mas não definitivo para a libertação dos milhões de
negros africanos escravizados pelos quatro cantos do país. Iniciar o processo de libertar os
escravos provocou uma sequencia de efeitos não previstos, causando uma grande turbulência
nacional que será mencionada nesse trabalho. Foi no efervescente caldo cultural desse período
que um grupo composto por alguns negros recém libertos da escravidão, se juntaram numa
estreita faixa de terra no interior de Santa Catarina, na tentativa de formar uma comunidade
livre da opressão branca (TEIXEIRA, 1990).
Olhando-se para o tempo muito anterior a esse, verifica-se que o tema da liberdade ,
sendo parte integrante da história humana, assumiu um relevante significado especialmente a
partir da revolução francesa, ocorrida em 1798, e que provocou, segundo Guimarães (2011)
diferentes desdobramentos políticos e ideológicos em todo o mundo ocidental por meio do
lema que evocava a liberdade, igualdade e fraternidade como valores fundamentais para o
novo tempo que se inaugurava e que mudaria para sempre os contornos das sociedades que
adotaram políticas baseadas nesses postulados. Entretanto, essa tríade conceitual continha em
seu âmago uma variedade de significados para diferentes indivíduos ou populações, sendo
que, para os povos escravizados, a simples luta pela sobrevivência básica, se constituía em
força primeira de enfrentamento do cotidiano. A já corriqueira expressão sonho de liberdade
com a qual se identifica o tempo férreo da escravidão oficial, não tinha um sentido tão prático
!20
para aqueles que nasciam e morriam sob os grilhões. As mudanças iniciadas no século 18, e
que as sociedades ocidentais do século 21 herdaram, também trazem o eco da revolução do
século 17 na Inglaterra, onde se fundam os pilares do Estado de direito, cuja estrutura visa
proteger os direitos fundamentais dos cidadãos (GUIMARÃES, 2012).
A questão da liberdade aflora, inevitavelmente, ao discutir-se quaisquer aspectos
ligados à escravidão que imperou no Brasil e em outras nações por tempo demasiado longo,
pois, como apontou Florestan Fernandes (2007, p. 90) em seus estudos, os negros, depois de
livres, foram considerados por importantes segmentos da sociedade brasileira como uma
espécie de “câncer importado”, que a coletividade precisava extirpar para poder desenvolver-
se como nação civilizada. Ou seja, não se pode avaliar de forma simplificada o longo tempo
decorrido entre os eventos descritos acima. O modelo escravagista brasileiro, sedimentado ao
longo de séculos, não permitiria que os negros fossem cidadãos iguais em decorrência de uma
assinatura do governo oficial. Era em tal ambiência negativa e hostil que uma imensa
população negra tentaria consolidar o projeto libertatório cedido sim, pela lei que a tirava
legalmente dos grilhões, mas que teria de ser conquistada por muitas gerações à frente
daquele período. Mattos (2006) analisa que, ao longo do tempo, o Estado tratou de infundir no
imaginário popular a imagem dulcificada de uma princesa branca assinando um decreto que
tornou livre a população escrava, que era bem tratada e submissa. Essa distorção da realidade
foi difundida através dos livros de história entregues às escolas e estudados como fato e
somente houve alguma mudança quando as pesquisas denunciaram a existência de um sistema
violento e cruel e, em contraponto a ele, a resistência dos escravos, especialmente através dos
quilombos.
Por sua própria natureza é o ideal de liberdade que se contrapõe a toda forma de
opressão, mesmo que tardiamente. Numa percepção extraída do pensamento de Russell (1977,
p. 16), pode ser encontrada uma pista de como o ideário da liberdade pode ser gestada
enquanto se processa a opressão: Homens e mulheres, em sua grande maioria, em tempos normais, passam a vida sem jamais examinar ou criticar, como um todo, suas próprias condições ou as do mundo em geral. Acham-se trazidos a determinado lugar na sociedade e aceitam o que cada dia apresenta, sem qualquer esforço de pensamento além do que é exigido para o momento imediato. Quase tão instintivamente quanto as feras da selva, buscam satisfazer as necessidades do momento, sem muita previsão, e sem considerar que mediante suficiente esforço todas as condições de suas vidas poderiam ser transformadas.
!21
Alguns, guiados pela ambição pessoal, fazem um esforço de pensamento e vontade necessário para situá-los entre os membros mais afortunados da comunidade; mas pouquíssimos dentre estes estão seriamente interessados em garantir para todos as vantagens que procuram para si mesmos. Apenas alguns homens raros e excepcionais têm esse tipo de amor para com a humanidade em geral, que os faz incapazes de suportar pacientemente o grande volume de mal e sofrimento, seja qual for a relação que possa ter com suas próprias vidas. Esses poucos, movidos por sofrimento solidário, irão procurar, primeiro no pensamento e depois na ação, alguma via de escape, algum sistema novo de sociedade pelo qual a vida possa tornar-se mais rica, mais plena de alegria e menos cheia de males evitáveis do que é atualmente.
Essa declaração serve de carapuça perfeita para retratar, em primeiro lugar, a condição
de absoluta miserabilidade, quase sempre passiva, pela qual viveram milhões de escravos de
norte a sul do Brasil. Tão absoluta era a opressão que não havia forças necessárias para que
fosse esboçada qualquer reação, a não ser aquela que era imposta pelo momento imediato. Em
segundo lugar, percebe-se que é graças ao nascedouro de certa “via de escape” ao sofrimento,
ocorrido solidariamente, que pode enriquecer a vida social das nações e, quem sabe, evitar
certos males sociais que causam danos por vezes irreparáveis a povos inteiros. Parece que não
importa quão esmagador seja o mal imposto, alguma forma de liberdade sempre poderá brotar
de suas entranhas.
1.2 A LIBERDADE COMO EXPRESSÃO ESSENCIAL DOS ANTIGOS QUILOMBOS
Observar o mundo valonguense no presente move o pesquisador ao inevitável
exercício de lançar um olhar ao passado desse povo e do que significou o que seus
antepassados viveram, apesar de grande parte de sua história haver se perdido no tempo, e
impulsiona o estudioso ainda a fazer uma conexão com a literatura disponível que retrata os
tempos férreos da escravidão e a liberdade que se seguiu a ela. Freitas (1984, p 19, 20) analisa
a era escravagista brasileira com uma reflexão muito clara: Aos africanos se impôs no Brasil a escravidão em sua forma pura. O escravo constituía, na sua mais absoluta forma, uma propriedade total e ilimitada do amo, privado de quaisquer direitos e submetido a uma relação absoluta de dependência. Não tinha existência civil, vale dizer, não era pessoa natural capaz de direitos e obrigações.
Talvez seja sob a luz da escravidão que pode ser entendida de forma mais clara o valor
da liberdade para aqueles que experimentaram as duas realidades díspares.
!22
O escravismo no Brasil se estende por um período que vai do século 16 até a segunda
metade do século 19, ou seja, quase quatro séculos, e estava espalhado por todo o território
nacional em variadas proporções. Ele modelou a sociedade brasileira durante esse período e
também para muito além dele. Estima-se em até 15 milhões de negros que foram tirados à
força da África e trazidos ao Brasil por meio dos diversos portos, numa operação que o poeta
Oliveira Silveira denominou de “parto forçado”. Mesmo não havendo dados precisos, onde os
números são amplamente contestados, é certo que a nação brasileira foi a maior importadora
de escravos de toda a América. Moura (1989, p. 6) afirma que “o número exato de negros
entrados no Brasil durante todo o período escravagista não está definitivamente esclarecido e
não acreditamos, mesmo, que isso venha a acontecer”. Ainda assim, suas pesquisas apontam
que, por volta de 1820, nenhuma região do Brasil contava com porcentagem inferior a 27% de
escravos entre seus habitantes (idem).
Durante décadas, até a segunda metade do século 20, havia uma tendência entre os
historiadores brasileiros de se referirem aos escravos trazidos da África como sendo
pertencentes meramente a pequenas tribos espalhadas pelo continente. É somente graças às
investigações mais recentes, frutos de pesquisas que procuram levantar erros históricos para
que possam eventualmente desencadear formas de reparação, que a nação se dá conta de que
os fatos não são apenas aqueles contados oficialmente. As pesquisas de Weiduschadt, Souza e
Beiersodorf (2013) apresentam dados acerca desses povos, mostrando que se tratavam, muitas
vezes, de sociedades dotadas de organização eficiente e hierarquia funcional, contando com
instituições e tecnologias. Elas tinham suas formas de governo, figuras reais e sistemas
religiosos complexos, além de divindades que eram reverenciadas. Trazidos ao território
brasileiro, essas populações se viram igualizadas na categoria de escravos ou de mercadorias.
Durante todo o período em que vigorou a escravidão, o comércio de comprar e vender
pessoas era um negócio atrativo e gerador de lucros que não se pretendia abandonar. Aqueles
que comercializavam escravos obtinham vantagens lucrativas que chegavam a 500% nas
transações (SILVA, 2009). Todo esse processo visava transformar antigos cidadãos africanos,
donos de uma cultura, em objetos para uso literal daqueles que tinham condições para a
aquisição. A imagem retratada na Figura 1 é um cartaz anunciando a venda de um lote de
escravos. Ela retrata uma ideia de como o mercado funcionava no Brasil:
!23
Figura 1 - Leilão de escravos
Fonte: Vitorino, 2000, p. 8, apud Silva, 2009, p. 49
Essa imagem do processo de coisificação do negro não é único, mas apenas expressão
de uma realidade corriqueira.
Os estudos de Weiduschadt, Souza e Beiersodorf (2013) apontam para o fato de que,
em toda a longa trajetória da humanidade, nenhuma história de deslocamento forçado foi mais
impactante que aquele ocorrido com os africanos para as Américas. Populações inteiras,
milhões de pessoas, foram reduzidas à mera condição de mercadoria, objetos que foram
!
!24
negociados. Toda essa diáspora não foi apenas um deslocamento físico de indivíduos, mas
envolveu questões muito mais profundas, como as de identidade. Os séculos vindouros
testemunhariam um complexo panorama de conflitos em decorrência desses eventos, cuja
ressonância continua reverberando na segunda década do século 21 e provavelmente seguirá
sendo tema de investigação, crítica e reflexão nas décadas que se seguirão.
Sem dúvida, era uma situação que hoje pode ser apontada como alarmante, mas que só
pode ser pesquisada corretamente com o devido distanciamento do tempo, posição na qual a
pesquisa se encontra no presente. Durante séculos esses homens e mulheres provaram o
terrível gosto do modelo escravagista. Eles foram sistematicamente rebaixados de sua
condição de seres humanos e silenciados de forma opressora e humilhante. Além dos pesados
castigos impostos ao africano escravizado, existia toda sorte de humilhações desumanizantes
e de abuso sexual por parte dos senhores que os possuíam como objetos. Mesmo sendo
eventualmente criticada na antiguidade, a escravidão foi considerada, até o final do século 18,
aproximadamente, como procedimento lícito e não como um mal que necessitasse ser
erradicado (FREITAS, 2011).
Toda a violência praticada contra o negro estava amparada pelo manto do Estado e
mesmo da Ciência, que elaborava complexas teorias para provar a inferioridade dos negros e
poder, assim, justificar o seu jugo. Coutinho (1966, p. 239) lembra que: “O comércio da
venda de escravos é uma lei ditada pelas circunstâncias às nações bárbaras para seu maior
bem, ou para o seu menor mal”. Encontra-se aí uma ideia da longeva tradição brasileira de
aceitar a escravidão como fenômeno comum da sociedade. A expressão usada por Cardoso
(1962) de que o negro era visto como “não homem” evidencia certa síntese do caráter das
relações sociais que cercavam o Brasil escravagista. O aquilombamento cresceu como uma
das formas de resistência a esse modelo vigente.
Traçando um perfil do movimento que ganhava corpo e que terminaria por minar
completamente o poder, Moura (1989, p. 9, 10) diz que “[…] os escravos negros, para
resistirem à situação de oprimidos em que se encontravam, criaram várias formas de
resistência, a fim de se salvaguardarem social e mesmo biologicamente, do regime que os
oprimia”. A origem dos quilombos remete-se aos rincões africanos, sendo conhecidos como
redutos de iniciação à guerra (SANTOS, 2012). Em solo brasileiro eles se configuraram como
importantes modelos de reação diante das humilhantes senzalas onde viviam escravizados
!25
pelos senhores das terra, pois não raramente, os escravos que conseguiam fugir se deparavam
com uma espécie de perplexidade sobre o que fazer com a liberdade conquistada pela fuga
(FREITAS, 1984). A partir disso pode-se questionar se a liberdade, provocadora de tal
perplexidade, seria de fato liberdade. Nesse contexto os quilombos são entendidos como
ambientes de refúgio para os escravos fugitivos.
Quanto mais aprofundado for o estudo da história dos quilombos no período da
vigência da escravidão, mais pode ser percebida a riqueza de aprendizados decorrentes dessas
frentes de resistência do passado. Os quilombos eram formados a partir da fuga de escravos e
consequente ocupação de terras desocupadas, geralmente isolados, mas também se formavam
por doações de terras ou ainda através da compra destas, mesmo durante o período em que
imperou a escravidão (PADILHA, 2012). Em seu formato original os quilombos eram
pequenos redutos de escravos que conseguiram fugir dos seus senhores e formavam neles
ambientes de vida alternativa ao trabalho escravo e ao serem estudados hoje, são verificados
como sendo “espaços de resistência cultural e preservação da cultura africana” (PADILHA,
2012, p. 2). Nesses redutos simples os negros encontravam oportunidade para um resgate da
língua e da religião deixadas na África.
O surgimento desses grupos implicou em forte resistência por parte do regime
dominante no país. A partir da metade do século 18 havia ordem para que todo negro
encontrado fosse marcado com ferro em brasa com um F de fujão na testa. Nos casos de
reincidência, uma orelha lhe era cortada. Entretanto, mesmo essas medidas drásticas não
conseguiam impedir a fuga dos escravos e o consequente crescimento dessas pequenas e, a
princípio, insignificantes cidadelas de refúgio. Eram nelas que se juntavam os fugitivos que
conseguiam romper as barreiras da condição opressora em que viviam. À medida que
cresciam em número, os quilombos iam provocando preocupações que chegaram à coroa
portuguesa, a ponto de o Rei tentar definir o que significavam:
Quilombo era, na definição do rei de Portugal, em resposta à consulta do Conselho Ultramarino, datada de 2 de dezembro de 1740, ‘toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles’ (MOURA, 1989, p. 11).
A definição, entretanto, era incompleta, mas foi ela quem modelou toda uma geração
de pesquisadores brasileiros da temática quilombola, que viam os quilombos apenas como
negação do sistema existente. Somente no final da década de 1970 começam a aparecer novas
!26
possibilidades de entendimento da vida escrava. Pelos novos estudos atribui-se a esses antigos
escravos uma vontade de liberdade e essa visão parece captar mais claramente a realidade que
se alastrava pelo Brasil afora e que corroía por dentro o regime escravocrata. A fixação dos
fugitivos nesses novos espaços, geralmente de acesso difícil, longe dos leitos de rios, era uma
forma de defesa contra as buscas empreendidas pelos senhores de escravos para a recaptura
dos negros (JORGE e BRANDÃO, 2012). Matoso (1982), em seu livro “Ser escravo no
Brasil” reforçou a visão do desejo de liberdade do escravo como sendo não somente ligado à
alforria. Essa ruptura de modelo foi fundamental para as discussões que se seguiram acerca do
tempo da escravatura (apud ENGEMANN, 2006).
Para além da definição oficial via-se que “a organização dos quilombos era muito
variada, dependendo do espaço ocupado, de sua população inicial, da qualidade do terreno em
que se instalavam e das possibilidades de defesa contra as agressões das forças
escravagistas” (MOURA, 1989, p. 34). A rebeldia intrínseca da força quilombola era uma
“[…] rebeldia contra os padrões de vida impostos pela sociedade oficial e de restauração dos
valores antigos” (CARNEIRO, 1947, p. 14). As palavras da pesquisadora Ilka Boaventura
Leite (2008, p. 995, 996) são relevantes:
As centenas de insurreições de escravos e as formas mais diversas de rejeição ao sistema escravista no período colonial fizeram da palavra ‘quilombo’ um marco de luta contra a dominação colonial e de todas as lutas dos negros que se seguiram após a quebra desses laços institucionais.
Cabe questionar o que seria da escravidão no Brasil se não existissem esses
movimentos que faziam contraponto a ela.
Em seus estudos, Leite (2000, p. 338) acentua o aspecto dinâmico desses redutos:
“Destruídos dezenas de vezes, reaparecem em novos lugares como verdadeiros focos de
defesa contra um inimigo sempre ao lado”. Essa descrição oferece um pequeno vislumbre,
onde se escondem lutas jamais conhecidas pelas gerações posteriores porque nunca foram
narradas. São realidades que se perderam para sempre em meio a uma história conturbada. À
medida que as populações de quilombos cresciam, as tensões aumentavam entre as forças que
tentariam manter a escravidão a todo custo e os ideais crescentes de liberdade que, quais
faíscas acesas na sequidão do regime vigente, se alastravam a ponto de produzirem focos
difíceis demais de serem simplesmente apagados.
!27
Sendo que esses quilombos passaram a significar algum tipo de esperança para negros
fugitivos, chegar até essas comunidades, era um projeto arriscado para aqueles que buscavam
nelas uma nova possibilidade de vida. Há relatos de sacerdotes católicos afirmando que os
negros cometiam o “pecado mortal de desobediência” (CARNEIRO, 1947, p. 6) ao fugirem
de seus senhores em direção aos quilombos e eram muitas vezes excomungados pelos
religiosos. A questão é que a Igreja Católica medieval contribuiu ideologicamente para a
manutenção do regime escravista. Teólogos importantes na história da Igreja, como Santo
Isidoro de Sevilha e Santo Agostinho, viam com normalidade a escravidão e a encaravam
como instrumentos de correção para o ser humano, “ferramentas de controle e punição dos
homens marcados pelo pecado original” (VAINFAS, 1986 apud FREITAS, 2011, p. 2652). No
Concílio de Toledo ocorrido em 693 definiu-se que as igrejas possuíssem pelos menos dez
escravos e determinou-se ainda que as igrejas que não tivessem esse número de escravos
deveriam ser subordinadas àquelas que conseguiam tê-los e essa prática aparentemente
perdurou por séculos (ENGEMANN, 2006).
A carta enviada pelo reitor do colégio jesuíta de Luanda, Padre Luis Brandão, ao
colega Alonso de Sandoval, missionário no Brasil, é bastante reveladora. A data da escrita é
de 1611 e nela encontramos:
Nunca consideramos este tráfico ilícito. Os padres do Brasil também não, e sempre houve, naquela província, padres eminentes pelo seu saber. Assim, tanto nós como os padres do Brasil compramos aqueles escravos sem escrúpulos […]. Na América todo escrúpulo é fora de propósito […]. É verdade que, quando um negro é interrogado, ele sempre pretende que foi capturado por meios ilegítimos […]. É verdade que, entre os escravos que se vendem em Angola nas feiras, há os que não são legítimos […]. Mas estes não são numerosos e é impossível procurar estes poucos escravos ilegítimos entre os dez ou doze mil que partem cada ano do porto de Luanda. (BOXER, 1981, p. 47 apud FREITAS, 2011, p. 2653).
Essa carta revela um pouco da força esmagadora de manipulação existente. Era visão
corrente dos religiosos que a escravidão era resultado do pecado e que os negros deveriam
suportá-la como forma de redenção. Sendo assim, os escravos deveriam, não apenas
conformar-se com o jugo, mas serem gratos por ele, pois através dele poderiam ser
conduzidos ao paraíso eterno (ENGEMANN, 2006).
Então, não é exagero afirmar que o clero e os senhores-de-escravos haviam
desenvolvido um sólido sistema de terror que visava sufocar quaisquer propósitos de rebeldias
!28
por parte dos escravos, garantindo dessa forma o funcionamento adequado do sistema em
vigor (FREITAS, 1984). Reprimir qualquer aceno de liberdade era tarefa primeira do poder
opressor oficial e todos os meios possíveis seriam empregados para o cumprimento da
inglória tarefa. No entendimento de Florestan Fernandes (2013, p. 57): “A resistência
escravista se apegava a motivos estritamente egoísticos, pois viam no escravo uma inversão
de capital e um instrumento de trabalho que deveria ser espremido até o bagaço”. Cada
quilombo que nascia se constituía em clara brecha que se abria por dentro do regime
escravista e que haveria ainda de destruí-lo.
É exatamente nesse contexto tensionado que a história registra sobejamente o
nascimento e crescimento do maior e mais importante dos quilombos, o dos Palmares,
entranhado nas matas interioranas do que hoje é o estado de Alagoas, e de Zumbi, tido hoje
como seu herói maior, que se tornou um símbolo da saga do negro brasileiro em busca da
liberdade. De acordo com Carneiro (1947, p. 11): “A floresta acolhedora dos Palmares serviu
de refúgio a milhares de negros que escapavam dos canaviais, dos engenhos de açúcar, dos
currais de gado, das senzalas, das vilas do litoral, em busca da liberdade e segurança […]”. A
existência do Quilombo dos Palmares sintetiza, de certa forma, um ideal libertatório que
nunca deixou de existir entre os milhões de negros assaltados brutalmente nas imensas
florestas da África, levados sob condições miseráveis em navios negreiros que singravam os
mares e espalhados pelo Brasil afora nas terríveis condições impostas pela escravidão aqui
reinante. De fato, “Palmares foi a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na
América Latina. Durou quase cem anos e, durante esse período, desestabilizou regionalmente
o sistema escravocrata” (MOURA, 1989, p. 38). Sem dúvida, esses anos todos de resistência
foram marcados por um número sem fim de histórias, contadas e recontadas nas décadas
subsequentes ou perdidas para sempre da memória popular.
É possível que jamais se conheça todas as nuanças do que acontecia naquele período
turbulento, mas é certo que houve inúmeras tentativas do poder dominante no sentido de
esmagar esse estado clandestino, que era tido como um pedaço da África existindo no
nordeste brasileiro. Se Palmares era visto como uma espécie de Estado, é porque os
historiadores encontram indícios de que ali existia uma forma de governo tida como
organizada e complexa, sob a liderança de Zumbi em seu período final. É dito que “Os
escravos que, por sua própria indústria e valor, conseguiam chegar aos Palmares, eram
!29
considerados livres, mas os escravos raptados e trazidos à força, das vilas vizinhas,
continuavam escravos” (CARNEIRO, 1947, p. 42). Essa parece ser uma informação
relevante: ex-escravos podiam fazer de gente de sua própria raça, novos escravos, repetindo,
assim, os mesmos modelos opressores existentes no sistema oficial. As leis podiam ser tão
rígidas no quilombo quanto aquelas impostas pelos brancos que eram donos de escravos.
Quando se lembra que: “Se algum escravo fugia de Palmares eram enviados negros no seu
encalço e, se capturado, era executado pela ‘severa justiça’ do quilombo” (idem, p. 42), pode-
se ter uma pálida ideia de como a liberdade pode encontrar dificuldade em florescer
adequadamente, mesmo sob condições aparentemente favoráveis a ela.
O fortalecimento crescente de Palmares deveu-se a uma série de fatores convergentes
que são analisados por Moura (1989, p. 41):
Aproveitando-se da impenetrabilidade da floresta e também da fertilidade das terras, da abundância de madeiras, e da caça, da facilidade da água e de meios de defesa, foram-se aglomerando, reunindo novos membros e aumentando consequentemente o número de foragidos.
Carneiro (1947, p. 31) explicita que: “Nas matas os negros encontravam todos os
elementos necessários à sua vida” e durante décadas sobreviveram a todas as inúmeras
investidas que tinham como finalidade extirpar a existência daquele grupo de resistência.
Freitas (1984, p. 173) acrescenta em sua pesquisa:
A revolta palmarina ocupa um lugar único nessa história. Não foi apenas a primeira, mas, também, a de maior envergadura. No decurso de quase um século os escravos da então capitania de Pernambuco resistiram às investidas das expedições continuadamente enviadas por uma das maiores potências coloniais do mundo.
Esse “lugar único” ocupado por Palmares na história foi reforçado pelos estudiosos
que trouxeram à luz inúmeros fatos relevantes acerca da valentia e determinação desse povo
que insistia em sobreviver.
No transcorrer dos anos, quando novas derrotas são impostas pelo Quilombo ao
Estado, as investidas se tornam mais acentuadas. Para sufocar Palmares “uniram-se a Igreja,
os senhores de engenho, os bandeirantes, as estruturas do poder colonial, as tropas
mercenárias, criminosos com promessa de liberdade e, finalmente, toda a estrutura escravista”
(MOURA, 1989, p. 61). Era apenas uma questão de tempo para que o sonho de liberdade
sintetizado por aquela revolta fosse finalmente sufocado, o que de fato aconteceu, com o
massacre liderado por Domingos Jorge Velho em 20 de novembro de 1695, que não poupou
!30
sequer velhos ou crianças, na tentativa de varrer para sempre todo o ideal representado pelos
súditos de Zumbi, o maior dos ícones do grande quilombo.
A morte do líder pretendia significar o fim de um ciclo e a permanência indefinida da
escravidão e, para cumprir esse intento, os requintes de crueldade que festejaram a derrota de
Palmares não poderiam ser poupados. Freitas, (1984, p. 167) narra que, “[…] depois de
morto, o general negro fora castrado e o pênis enfiado na boca; haviam-lhe arrancado um olho
e decepado a mão direita”, e mostra ainda o pretenso coroamento da retumbante vitória:
“Salgada com sal fino, a cabeça seguiu para Recife, onde o Governador Melo e Castro
mandou espetá-la em um chuço no lugar mais público da cidade” (idem, p. 167). Entretanto,
se o fim de Palmares marcou o término de um ciclo, ele não se traduziu no esperado fim do
sonho de liberdade, mesmo que ela só fosse possível após mais de duzentos anos depois da
derrocada do simbólico quilombo. Soares (1999, apud MATTOS, 2006, p. 168, 169) acha que,
quando esses fatos vieram à tona houve uma importante inversão na história oficial onde o
negro Zumbi, líder do mais importante quilombo do Brasil, “[…] tornou-se, no lugar da
princesa, o verdadeiro herói da população negra brasileira”.
1.3 A LIBERDADE A PARTIR DE 1888 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS EX-ESCRAVOS
Diante do que se expôs até aqui como breves recortes de fatos históricos, convém
reafirmar que a conquista da almejada liberdade por parte do escravo jamais pode ser pintada
em tons róseos, visto que a simples promulgação da lei de 1888 que o livrava das algemas
significou apenas um passo a mais no longo processo que se desenvolvia no decorrer das
décadas e mesmo séculos que o precederam. Calheiros e Stactler (2010, p. 136) mencionam
em seus estudos que, ainda em 1850, quando os homens ligados ao poder escravizador
perceberam que os rumos da abolição eram inevitáveis, criaram a Lei n. 601, instituindo “a
propriedade privada como única forma de acesso a terra, impedindo esse direito a negros e
mulatos”.
Décadas mais tarde as famílias que se juntaram no Sertão do Valongo desconheciam
todo esse contexto, mas estavam, sem o saberem, presos a essas amarras institucionais.
Porém, mais que isso, iniciavam ali uma trajetória que os conduziria a algo muitas vezes
!31
maior que o estreito horizonte que vislumbravam enquanto se instalavam nas terras úmidas e
indesejadas daquela região. E a partir daquele micro território experimentariam a vivência da
liberdade numa terra que era sua.
As pesquisas e observações feitas por Florestan Fernandes se constituem em um
grande acervo de informações relevantes e auxiliam as pesquisas do presente, no sentido de
desmistificar muitos conceitos que são, na verdade, distorções da história. Nos anos que se
sucederam à Lei Áurea, os negros foram, via de regra, transformados em ‘párias’ da
sociedade. Para Fernandes (2007, p. 66): Na verdade, a abolição constitui um episódio decisivo de uma revolução social feita pelo branco e para o branco. Saído do regime servil sem condições para se adaptar rapidamente ao sistema de trabalho, à economia urbano-comercial e à modernização, o ‘homem de cor’ viu-se duplamente espoliado. Primeiro, porque o ex-agente de trabalho escravo não recebeu nenhuma indenização, garantia ou assistência; segundo, repentinamente, em competição com o branco em ocupações que eram degradadas ou repelidas anteriormente, sem ter meios para enfrentar ou repelir essa forma mais sutil de despojamento social.
É deveras importante essa reconfiguração, segundo a qual a revolução foi levada a
efeito “pelo branco e para o branco”. Para ele: “A abolição ocorreu em condições que foram
verdadeiramente ‘espoliativas’, do ponto de vista da situação de interesse dos negros. Eles
perderam o único ponto de referências que os associava ativamente à nossa economia e à
nossa vida social” (idem, 2007, p. 56). Doravante, massas imensas de escravos recém-libertos
teriam que encontrar seu novo espaço na sociedade e esse é apenas parte do cenário
encontrado para a formação de comunidades desses “párias”, à semelhança daquela existente
no Sertão do Valongo, sujeito do presente estudo. De acordo com uma pesquisadora: “A
ocupação do campo, embora estratégia de sobrevivência, também contribuiu para a
invisibilidade desses grupos étnicos” (CASTELLS, 2006, p. 420). Provavelmente a
invisibilidade não era tão somente buscada e pretendida por esses ex-escravos. Ela era parte
de um processo social, nem sempre inconsciente, porém sua meta era invisibilizar os antigos
escravos, pois, como aponta Fernandes (2007, p. 62): “Apesar de seus ideais humanitários, o
abolicionismo não conduziu os ‘brancos’ a uma política de amparo ao negro e ao mulato”. As
consequências disso foram desastrosas e se espalharam em todo o tecido social do Brasil. Para
Leite (1996), essa invisibilização funcionou como mecanismo de negação do negro, tentando
legar ao esquecimento essas populações no reforço do mito da igualdade racial no país.
!32
Após o 13 de maio de 1888 defensores de primeira mão do abolicionismo e ex-
escravos criaram a Guarda Negra, que pretendia ser uma força de resistência em favor da
liberdade recém cedida às populações escravas. Era o temor real de que o processo sofresse
alguma reversão por parte daqueles que não se conformavam com a nova realidade nacional.
O medo de uma reescravização não era infundado, visto que muitos interesses foram
contrariados pelos ideais abolicionistas. Na pesquisa de Mattos (2006, p. 108) encontra-se
registrado que: “Após a lei, e durante alguns anos, os ex-senhores continuaram a se organizar
politicamente demandando indenização pela perda de sua propriedade em escravos”. Existia
agora toda uma conjuntura de demanda por uma mão de obra que se configuraria doravante
sob outras condições que não aquelas regidas pela escravidão. A tese defendida por
Guimarães (2011) aponta para o fato de que o período imediato da abolição até a criação do
Estado Novo em 1930, foi marcado pelas tentativas dos escravos libertos de sentirem-se parte
da nação brasileira, e foram essas tentativas que esbarraram em fortes questões raciais
presentes no seio da sociedade.
Apesar de tudo, a mudança desencadeada a partir da abolição produziu efeitos que se
fizeram sentir ao longo de toda a história ulterior a ela. Vista sob a ótica do presente,
distanciada há mais de 120 anos do fato, sua realidade pode ser melhor pesquisada e
objetivada, pois conta com a ajuda dos acontecimentos históricos que marcaram a sociedade
brasileira desde então. Na visão sociológica de Fernandes (2008, p. 32):
As sociedades humanas sempre se encontram em permanente transformação, por mais ‘estáveis’ ou ‘estáticas’ que elas pareçam ser. Mesmo uma sociedade ‘estagnada’ só pode sobreviver absorvendo pressões do ambiente físico ou de sua composição interna, as quais redundam e requerem adaptações sociodinâmicas que significam, sempre, alguma mudança incessante, embora esta seja com frequência pouco visível […].
Essas “pressões” mencionadas por Florestan Fernandes envolviam, provavelmente,
todos os substratos da sociedade, pois suas realidades práticas estavam presentes em todo o
vasto tecido social brasileiro.
O Brasil pós-escravagista careceu, sem dúvida, de grandes processos adaptativos para
fazer frente à nova conjuntura posta, e os ecos dessa pressão adaptatória ainda podem ser
sentidos pelos quatro cantos do país. Analisando a complicada situação do homem que foi
liberto da escravidão e fazendo uma crítica severa à realidade que sua extensa e frutífera
!33
pesquisa deparou-se, Florestan Fernandes (2007, p. 46) observou que o sentimento
generalizado que encontrou na população era o de que “o ‘negro’ teve a oportunidade de ser
livre; se não conseguiu igualar-se ao ‘branco’, o problema era dele - não do ‘branco’”. Essa
visão distorcida acarretava aos ex-escravos um fardo pesado demais, uma espécie de nova
forma de subserviência que tenderia a perpetuar-se e poderia varrer para longe de seu
horizonte a liberdade sonhada, porém não conquistada em sua plenitude. Para Guimarães
(2012, p. 36):
Sem dúvida, o momento inicial foi a conquista da liberdade individual, pois com o fim da escravatura generalizou-se definitivamente a disjunção entre ser negro e a restrição à liberdade individual. Mas a liberdade assim conquistada não se traduziu, como vimos, em cidadania política ativa; apenas deslanchou o processo de construção nacional, em que tais indivíduos eram mais assujeitados que sujeitos.
Em tal ambiente, vivendo uma nova forma de escravidão, toda a perspectiva de
ascender na vida social seria conquistada a duras penas e nem sempre seria possível. Para o
imaginário do brasileiro, forjado ao longo de muito tempo, esses indivíduos eram, na verdade,
mera força animal de trabalho e as ideias racistas reproduzidas pelos intelectuais, pela elite
detentora do poder e por influentes religiosos, tentavam barrar a participação dessa negritude
na construção da identidade étnica do país (SANTOS, 2012).
À medida que as discussões prosseguiam, a liberdade conquistada pelos escravos não
se traduzia em medidas práticas que os auxiliasse na conquista de um bom lugar no panorama
da nação. Ao contrário disso, as primeiras décadas do século 20 viram o surgimento de
ativistas do calibre de Renato Kehl, defensor ardoroso da eugenia, publicando mais de vinte
livros e inúmeros artigos acerca do tema (SOUZA, 2006). Suas publicações e conferências
exerceram enorme influência em muitos intelectuais da época, à semelhança do escritor
Monteiro Lobato, no delicado momento em que o país ainda não tinha uma consolidação em
termos de identidade étnica. Tal foi o apoio recebido que ele chegou a fundar uma sociedade
eugênica, que teve mais de uma centena de nomes ilustres, entre médicos, jornalistas,
autoridades políticas e literatos, todos fascinados pelos caminhos da “regeneração racial”
apontados pelos eugenistas. Em seu controvertido livro A Cura da Fealdade, ele chega a
afirmar:
Só motivos acidentais ou aberrações mórbidas fazem unir-se via de regra, um homem branco com uma negra e vice-versa. E o produto desse conúbio
!34
nasce estigmatizado não só pela sociedade, como, sobretudo, pela natureza; está hoje provado, não obstante a grita de alguns cientistas suspeitos, que o mestiço é um produto não consolidado, fraco, um elemento perturbador da evolução natural (KEHL, 1927, p. 134).
A declaração acima é apenas uma pequena mostra de quão exacerbado poderia ser o
ódio destilado contra o negro por parte de indivíduos que tinham capacidade de influenciar as
massas.
A verdade é que o regime escravocrata fazia parte do passado mas o presente que veio
depois dele revelou-se extremamente injusto para o negro brasileiro, visto que os antigos
senhores de escravos, o Estado e mesmo a Igreja - ninguém assumia responsabilidade por esse
cidadão, completamente perdido e desamparado em meio a circunstâncias tão adversas. Em
sua obra A integração do negro na sociedade de classes, Fernandes (2013, p. 29) analisa o
tema com a precisão que lhe é característica, apresentando um retrato muito fiel do que foi
esse tempo para a nossa sociedade. Ele diz: “O liberto se viu convertido, sumária e
abruptamente, em senhor de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus
dependentes, embora não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza
[…]”. Tão aparentemente intransponíveis eram as novas dificuldades impostas para esse
cidadão que se torna difícil entender como ele pôde atravessar essas barreiras e conquistar o
que tem sido chamado de segunda abolição (GUIMARÃES, 2012). A intuição de Mattos
(2006, p. 111) se apresenta acertada: “Como no século XIX, dizer-se negro ainda é
basicamente assumir a memória da escravidão inscrita na pele de milhões de brasileiros. Essa
é a base que empresta consciência histórica à discussão sobre políticas de ação afirmativa no
Brasil […]”. Ou seja, ela não conseguiu enxergar mudanças tão significativas no seio da
sociedade que pudessem fazer com que o negro ser visto de outra forma.
Eis aí, então, parte do cenário no qual se pode vislumbrar, pelo menos de maneira
ainda opaca, o surgimento naqueles idos da comunidade do Sertão do Valongo.
1.4 O MUNDO VALONGUENSE COMO EXPRESSÃO DE LIBERDADE
Em suas observações, Fernandes (2007, p. 66) afirma que as terras da região sul
“tornaram-se menos favoráveis ao elemento negro e mulato […]” e é exatamente ali que se
!35
encontra o Sertão do Valongo, sujeito da presente pesquisa. É, na verdade, uma pequena faixa
de terra, localizada no município de Porto Belo, interior de Santa Catarina, onde vive uma das
quase duas mil comunidades quilombolas certificadas no Brasil pela Fundação Palmares.
No mapa a seguir, vê-se a localização geográfica do Valongo em relação ao Estado de
Santa Catarina:
Figura 2 - Mapa de localização do Sertão do Valongo
Fonte: Sarlo e Duarte, 2008, p. 190.
!
!36
Os moradores desse território somam pouco mais de cem pessoas e são denominados
de valonguenses. O nome é atribuído ao fato de Sertão significar lugar distante, e Sarlo e
Duarte (2008, p. 191) falam da possibilidade de que “[…] a palavra Valongo tenha origem na
linguagem oral e tradicional portuguesa ‘val longo’ para designar um vale longo”. Guimarães
e Reis (2008) lembram que, infelizmente, muitas informações acerca da história do grupo se
perderam no passado e estão enterradas com os primeiros moradores do Sertão, mas é certo
que ela nos remete ao final da escravidão no Brasil e aos primeiros anos pós-libertação dos
escravos, ou seja, no final do século 19, época em que a sociedade brasileira era ainda uma
nação em construção (SANTOS, 2012). Esse período foi marcado aqui pela influência das
teorias formuladas na Europa que apontavam a superioridade do homem branco e os perigos
da miscigenação, o que fortalecia a discriminação racial, dificultando, como mostram
claramente os trabalhos de Florestan Fernandes, a inserção do negro nas classes sociais. Leite
(2008, p. 967) denuncia uma realidade que permaneceu fora da historiografia oficial por
muito tempo. Segundo seus estudos: A colonização da região Sul atendeu aos interesses das elites intelectuais e políticas de implantar um povoamento com populações tidas como racialmente superiores e provenientes de áreas tidas como mais desenvolvidas. Com o intuito de tornar o País ‘racialmente mais branco’, propiciou condições favoráveis aos imigrantes e com elas, a reprodução das desigualdades instauradas no período escravista, confirmando, assim, as teorias raciais em vigor.
É em tal ambiente que o Valongo é criado.
Em 1990 a pesquisadora Vera Item Teixeira defendeu sua dissertação de Mestrado na
Universidade Federal de Santa Catarina com um trabalho acerca da comunidade e a partir daí,
pode ser encontrado um roteiro de várias pesquisas realizadas entre seus moradores e também
diferentes percepções respeito delas, que serão tratadas no segundo capítulo, onde se analisa a
razão do interesse em pesquisar os valonguenses. Em sua pesquisa, Teixeira (1990, p. 19)
afirma: O Sertão do Valongo serviu como ponto de convergência para alguns ex-escravos de regiões vizinhas, que tinham como projeto de vida desfrutarem de autonomia na escolha de seus destinos, tendo a terra como base para garantir a sobrevivência.
A percepção acima está alinhada ao cenário já mostrado anteriormente, onde foram
apontadas as dificuldades impostas ao negro recém liberto da escravidão. No dizer de
Fernandes (2013. p. 32) os poderes públicos de então “se mantiveram indiferentes e inertes
!37
diante de um drama material e moral que sempre fora claramente reconhecido e previsto,
largando-se o negro ao penoso destino que estava em condições de criar por ele e para ele
mesmo”.
A gênese da fundação do Valongo está inserida nessa busca pela construção de um
destino que fosse viável a um grupo. A liberdade historicamente sonhada por muitos escravos
trazidos da África ecoa nessa pequena faixa de terra. A também estudiosa do Valongo,
Castells (2006, p. 420), reforça que: “o fato de os primeiros valonguenses ocuparem a região
vincula-se a um discurso de busca da liberdade ‘longe dos brancos’”. Habitando uma região
monopolizada pelos europeus e alijados de boas oportunidades, ocupar o campo não era
apenas estratégia de sobrevivência para esses miseráveis, pois não havia na sociedade
brasileira capacidade de gerar uma economia forte o suficiente para absorver essa população e
isso fez o negro converter-se em “resíduo racial”, na forte expressão usada por Fernandes
(2007, p. 87) em suas análises criteriosas, onde escancarava a situação que tentava ser
escondida pela história oficial. Disse ele: “Eliminado o ‘escravo’ pela mudança social, o
‘negro’ se converteu num resíduo racial. Perdeu a condição social que adquirira no regime da
escravidão e foi relegado, como ‘negro’, à categoria mais baixa ‘população pobre’ […]”.
A luta pela terra por parte do negro configurou-se, então, em importante e não
solucionável drama pós assinatura da abolição. Os estudos apontam para o fato de que nunca
houve solução fácil para a questão que se impunha. Leite (2000, p. 355) expõe claramente a
dimensão do problema anterior a 1888, mas com efeitos que vão para muito além dele:
Já a primeira Lei de Terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, exclui os africanos e seus descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa outra categoria, denominada ‘libertos’. Desde então, atingidos por todos os tipos de racismos, arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia - e denuncia -, os negros foram sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram para viver, mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos senhores através de testamento em cartório. Decorre daí que, para eles, o simples ato de apropriação do espaço para viver passou a significar um ato de luta, de guerra.
A contradição apontada por Leite (2000) é evidente: a “simples” questão de um lugar
para viver jamais foi simples para os negros. Talvez por isso iam sendo marginalizados e
expulsos para lugares que não serviam aos interesses dos brancos. Tal fato evidencia-se
claramente no povo valonguense que se formava.
!38
Na verdade, as terras do Valongo são descritas como sendo “baixas, úmidas e
insalubres” (TEIXEIRA, 1990, p. 18), condições que as tornavam pouco atrativas para a
ocupação. O conjunto desses fatores afastava a população branca, maioria esmagadora que
habitava as colônias do sul do país. Logo adiante ela diz:
O sertão do Valongo se configurou como cenário propício à fixação de um grupo de descendentes de população de origem africana, possivelmente porque as terras deste vale não atraíram a atenção de grupos como companhias colonizadoras interessadas em se fixar por ali (idem).
Por razões assim cabe o recorrente questionamento, onde se pergunta se, à
semelhança do ocorrido no Valongo, o negro preferiu a invisibilidade ou foi sistematicamente
invisibilizado pelas forças que compunham a sociedade? De fato, torna-se muito mais
cômodo dizer que ele preferiu se distanciar do branco que o escravizou que assumir uma
postura segundo a qual o sistema existente o distanciou, procurando torná-lo invisível à
nação brasileira. É exatamente esse tipo de denúncia que diversos estudos tem procurado
mostrar e, para além disso, apontar caminhos viáveis para a reparação dos danos provocados
a essas populações. Quando são apontadas essas dificuldades, percebe-se que, somente nos
tempos mais recentes a multirracialidade brasileira pode ter suas histórias recontadas a partir
da voz dos negros e não apenas a partir da voz branca dominante (WEIDUSCHADT;
SOUZA; BEIERSDORF, 2013).
Outro aspecto relevante para a permanência dos negros naquela localidade era a
incidência da malária na região do Valongo, que era chamado pela vizinhança de Sertão dos
pretos ou Sertão da malária. Albuquerque (2008, p. 233) relata que no início do século
passado:’
[…] a malária (maleita) fazia parte da situação insalubre do Valongo. Esta dificuldade expulsou outros antigos habitantes que foram atrás de melhores condições de vida, deixando o lugar e a maneira de boa qualidade para os descendentes de escravos, sem alternativas para deixar o local.
Sob essas condições adversas, Guimarães (2008) conta que um grupo de ex-escravos,
composto pelas famílias Caetano, Costa e Faial estabeleceu-se na pequena região, fortaleceu-
se ali enquanto comunidade e seus descendentes permanecem habitando o vale ainda hoje,
vivendo um estilo de vida simples e sobrevivendo da pequena herança de terra dos seus
ancestrais. Eles se moveram para aquele território porque: “[…] esta região não se tornou
disputada e serviu ao longo de sua história como uma área para onde se dirigiam populações
!39
menos afortunadas ou marginalizadas do processo colonizador em curso” (TEIXEIRA, 1990,
p. 26). Mesmo diante da ausência de certos dados históricos sobre a origem dessas famílias,
Borges (2000, p. 145, 146) encontrou registros de que são “provavelmente remanescentes dos
1639 escravos registrados na freguesia de Porto Belo em 1851”. Assim narrado, esse breve
quadro reforça uma afirmação de Florestan Fernandes (2007, p. 66), onde ele diz que: “a
revolução burguesa foi imensamente desfavorável ao elemento negro e mulato, tanto no meio
rural quanto principalmente no meio urbano, nos fins do século 19 até a década de 1930”. Aí
está inserida a formação da comunidade valonguense.
Parece não haver dúvida, então, diante do recorte do cenário histórico apresentado,
que o conjunto circunstancial que marcava o período, aliado à busca por algum tipo de
liberdade empreendida por um pequeno grupo de ex-escravos, deu origem a esse povo. De
certa forma, é possível afirmar que essa busca, mesmo não completamente entendida pelos
fundadores, forneceu um sentido a esse grupo ao longo do tempo e auxiliou as gerações que
vieram após os fundadores, a permanecerem leais àquela terra, fortalecendo os vínculos que
inicialmente os uniu. Pode-se perceber também que a invisibilidade provocada pela habitação
naquele micro ambiente pouco favorável era, grosso modo, um recorte fidedigno do macro
ambiente da nação, onde as questões de etnicidade foram discutidas por intelectuais,
enquanto nos bastidores interioranos se travava uma batalha nem sempre invisível entre a
gente branca de descendência européia e os povos negros e mestiços, permanentemente em
busca de inserção na sociedade que buscava mantê-los à margem.
Em Casa-Grande e Senzala, lançado em 1933, Gilberto Freyre apresenta um modelo
multirracial onde tentava desenhar novos tempos que deveriam marcar uma almejada
convivência etnorracial pacífica para o Brasil. A obra foi engrandecida por historiadores
como um elemento de ruptura, mostrando o “mulato como elemento caracterizador do
sucesso da formação identitária brasileira” (WEIDUSSCHADT, SOUZA e BEIERSDORF,
2013, p. 251). A afirmação de Freyre (2002, p. 307) de que: “todo brasileiro, mesmo o alvo,
de cabelo louro, traz na alma, quando não, na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a
pinta, do indígena ou do negro” tornou-se, de certa forma um marco referencial para o novo
país que precisava nascer a partir daquele ciclo que há muito já deveria ter-se fechado. Mas,
essa visão dulcificada, que pretendia mostrar uma convivência etnorracial pacífica na
!40
sociedade brasileira, foi contestada mais tarde, nas décadas de 1950 e 1960, especialmente
em decorrência das pesquisas de Florestan Fernandes.
Para Freyre não existia um conflito racial, mas na visão de Fernandes (2007, p. 15)
havia sim um “problema” que insistia em permanecer, por mais negado que fosse. Ele
disparou: “Essa propalada ‘democracia racial’ não passa, infelizmente, de um mito
social” (idem p. 60). Ao problematizar a questão e apontar as desigualdades históricas que
não poderiam continuar esquecidas, a sociologia de Fernandes abriu um caminho novo para o
entendimento da questão e não apenas isso, criou espaço para ações que se efetivariam mais
tarde e mudariam os rumos das políticas públicas para os negros no Brasil. Para ele: “Não
poderia haver integração nacional, em bases de um regime democrático, se os diferentes
estoques raciais não contarem com oportunidades equivalentes de participação das estruturas
nacionais do poder” (FERNANDES, 2007, p. 51). As suas afirmações foram amplamente
amparadas por dados estatísticos e mostraram que o preconceito racial estava bem presente
nas entranhas da sociedade e precisava ser confrontado pois, somente assim, os afro-
descendentes poderiam viver plenamente a liberdade um dia apenas cedida, mas sob muita
luta, finalmente conquistada. Segundo ele:
A miséria associou-se à anomia social, formando uma cadeia de ferro que prendia o negro, coletivamente, a um destino inexorável. À degradação material, correspondia à desmoralização: o negro entregava-se a esse destino sob profunda frustração e insuperável apatia. Logo se difundiu e implantou um estado de espírito derrotista, segundo o qual ‘o negro nasceu para sofrer’, ‘vida de negro é assim mesmo’, ‘não adianta fazer nada’, etc’. (FERNANDES, 2007, p. 112).
As discussões acerca da existência do racismo no Brasil não se prendem ao século
passado, mas atravessou a barreira do milênio provocando importantes questionamentos,
como o apresentado por Silva (2009, p. 20):
Nesse quadro de aparente paraíso racial, quando analisamos a configuração das relações étnicas no Brasil, no momento contemporâneo ou em outro momento da história, vemos que, sob o véu da aparente aceitação e da convivência harmônica, escondem-se relações pautadas por racismo e por discriminação, que têm como alvo o grupo negro, embora também atinja índios, mulheres, idosos e outras minorias. Essas relações estão tão profundamente naturalizadas nas práticas sociais e discursivas de nossa sociedade que só a menção de sua existência é motivo para acaloradas discussões, levadas a cabo por pessoas, grupos ou classes que produzem, disseminam, naturalizam e reificam o discurso da harmonia étnico racial no Brasil.
!41
Entende-se que a abordagem dessas questões na Academia produzem reflexões que se
estendem a outros espaços e auxiliam no processo de fazer contraponto às práticas
discriminatórias que, apesar de não ser objeto desse estudo, coloca-se como elemento que não
pode ser deixado de lado, visto que tudo que acontece na sociedade como um todo termina
por fazer eco também no espaço de vida do Valongo.
A maneira como essa pequena comunidade valonguense se estabeleceu naquelas
terras já é digna de nota, haja vista as dificuldades acima expostas, mas existe um fator que
necessita ser pensado também, apesar de já haver sido mencionado brevemente. Trata-se da
constatação do fato de que a população de Santa Catarina sempre foi composta por uma
maioria branca e que, no século 19, a região recebeu muitos imigrantes alemães que
solidificaram sua presença com base nas pequenas propriedades familiares. Os estudos de
Seyferth (1994) revelam que, por volta de 1890, precisamente à mesma época em que a
comunidade de Valongo se instalava, começou a surgir nas colônias alemãs da região a
doutrina que pregava a superioridade ariana através da Liga Pangermânica. Essa ideologia
reafirmava os dogmas do racismo moderno, tendo como inspiração Chamberlain, Gobineau e
as recentes teorias do darwinismo social. Olhando tal quadro, Leite (1996, p. 41) mostra que
o Estado foi visto historicamente como um pedaço da Europa dentro do Brasil, e é por isso
que “[…] não é que o negro não seja visto, mas sim que ele é visto como não existente”.
Nas duas primeiras décadas do século 20, ao mesmo tempo em que o grupo dos ex-
escravos do Valongo se estabelecia no espaço de terra que havia conquistado, nos estratos
superiores da Nação, inclusive no Congresso Nacional, discutia-se aspectos ligados ao que
ficou conhecido como perigo alemão. Temia-se pela criação de um Estado paralelo
germânico e chegou-se a cogitar medidas que restringissem a imigração alemã, tal era a
tensão existente nesse período (SEYFERTH, 1994). Enquanto isso, invisibilizado em seu
pequeno território, a comunidade valonguense permanecia alheia a todo esse complexo
cenário ao seu redor e, apesar da existência dessas circunstâncias desfavoráveis, o núcleo se
solidificava e vivia seu pequeno projeto de liberdade. Nas buscas bibliográficas da pesquisa
não foram encontrados relatos de confrontos específicos entre os negros do Valongo e os
colonos alemães, o que não significa que não existiram, mas que demandariam novas buscas
historiográficas, com uso de outras metodologias.
!42
CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Diante do exposto, cabe dizer que, apesar de constituir-se num valor relativamente
recente na história do ser humano, os ideais de liberdade continuam sendo debatidos na
Academia e em diferentes setores do Governo e da Sociedade Civil, especialmente após a
revolução francesa. Para a tradição dos povos africanos ela sempre significou um campo de
lutas entre as milhares de tribos e culturas existentes no continente. Pelo que pode ser
entendido hoje, foi um ideal de liberdade que guiou os escravos na longa trajetória de
escravidão que se arrastou por séculos no território brasileiro, apoiada pelas leis e mesmo pela
religião. Ao longo desse período visto como de grandes atrocidades cometidas contra os
escravos, os quilombos significaram a mais importante resistência ao regime escravista e
quanto mais se pesquisa, tanto mais se descobre aspectos antes não revelados acerca desses
grupos sociais. Ao selecionar as abordagens contidas nesse capítulo, verificou-se também um
destaque ao Quilombo dos Palmares, tido como símbolo maior da reação negra ao regime.
Pela junção de todo o contexto apresentado, esse estudo entende que o ideário de liberdade foi
também o elemento norteador do grupo que fundou a comunidade de Valongo no final do
século 19, após a assinatura da Lei Áurea. Atestou-se que os desdobramentos dessa liberdade
oficialmente cedida não foram favoráveis ao negro brasileiro, apesar de o imaginário popular
considerar de forma diferente, até que novos estudos, a partir dos anos de 1950, passaram a
denunciar a gravidade da questão étnica do país. O Sertão do Valongo constitui-se num micro
mundo, recorte de um cenário maior onde as populações negras continuam sua centenária luta
pela conquista da liberdade.
O poema O Negro, do poeta, teatrólogo e pintor pernambucano, Solano Trindade,
encerra esta breve discussão sobre o tema da liberdade. Ele reforça a ideia da luta histórica
dos africanos em busca da liberdade. Solano, morto em 1974, é considerado um herói da
resistência negra, ardoroso defensor da cultura e da liberdade dos negros no país:
!43
Sou Negro
À Dione Silva
Sou Negro, meus avós foram queimados
pelo sol da África minh’alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, gonguês e agogôs.
Contaram-me que meus avós vieram de Loanda
como mercadoria de baixo preço, plantaram cana pro senhor do engenho novo
e fundaram o primeiro Maracatu.
Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi.
Era valente como quê. Na capoeira ou na faca,
escreveu não leu o pau comeu.
Não foi um pai João humilde e manso.
Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos Malês
ela se destacou.
Na minh’alma ficou o samba,
o batuque, o bamboleio
e o desejo de libertação.
Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/Sou-Negro.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2015
!44
2 O FATO RELIGIOSO NO SERTÃO DO VALONGO
Neste capítulo será analisada a questão da influência gerada pela religião adventista
dentro da realidade cotidiana do povo valonguense. Sua abordagem se justifica ao ser levado
em conta o fato de que diferentes pesquisadores apontam a religião como sendo o principal
elemento modelador da vida na comunidade e também pela percepção de que o assunto carece
de questionamentos e reflexões ainda não levantados nas pesquisas já desenvolvidas. O
desafio, portanto, é acrescentar dados e arrolar percepções que forneçam novos entendimentos
acerca da fé vivida dentro daquele quilombo.
Para Certeau (1982, p. 10), “o corpo é um código à espera de ser decifrado”. É
provável que essa afirmativa do historiador possa ser também aplicável a determinadas
realidades encontradas em alguns grupos sociais que, ao serem pesquisados, são descobertos
neles certos aspectos capazes de provocar nos estudiosos um desejo não completamente
compreendido de tentar decifrá-los, mesmo sabendo que tal intento jamais se realiza de
maneira completa. De certa forma, então, o pesquisador é aquele que age para fazer uma
decodificação de tudo aquilo que encontra em suas pesquisas. No dizer de Delgado (2003, p.
13), “[…] reconhecer o substrato de um tempo é encontrar valores, culturas, modos de vida,
representações, enfim, uma gama de elementos que, em sua pluralidade, constituem a vida das
comunidades humanas”.
Quais elementos podem ser encontrados nos modos de vida da cultura valonguense
que mereçam a atenção de estudos acadêmicos? As análises contidas no presente capítulo e no
próximo tentarão fornecer discussões tidas como relevantes para essas abordagens.
Ao ser focada uma lente diminutiva naquele território incrustado no interior de Santa
Catarina, os quilombolas valonguenses oferecem ao pesquisador o que Guimarães e Reis
(2008, p. 173) enxergaram, dadas as características ali vistas, como sendo um “cenário sui
generis para o estudo antropológico”. A comunidade que vive no Valongo hoje é composta de
aproximadamente 120 pessoas, que estão distribuídas em 28 casas de madeira, muito simples,
construídas ao longo de uma estrada de terra que corta a região (LIMA, 2013). Eles são
negros, descendentes de antigos escravos africanos que encontraram naquele vale, como
!45
descrito no capítulo anterior, um ambiente para tomar posse da liberdade que lhes fora recém
cedida por meio da Lei Áurea. De todos os povos quilombolas que se espalham pelo Brasil
detentores dessas mesmas características, apenas o Sertão do Valongo distingue-se pela
prática sistemática da religião adventista. Este é o elemento sui generis, cuja exploração dos
significados mais amplos constitui-se numa tarefa importante da presente pesquisa.
Ao propor uma discussão das nuanças aspectuais do fato religioso e sua relevância
dentro do Sertão do Valongo essa pesquisa se alinha a um tema que pode ser considerado
como inesgotável em termos de possibilidades de estudos. A temática da religião apresenta-se
capaz, mesmo no presente, de provocar sentimentos diversos. A afirmação de Costa (2009, p.
9) em sua Sociologia da Religião parece captar uma essência possível para esse tempo. Ele
diz: “Apercebemo-nos de que o brado triunfalista do fim da religião se esgotou”. Sendo
assim, os que se dedicam às Ciências da Religião podem encontrar um caminho cada vez mais
aberto às suas investigações. O brado que buscava o fim da religião foi um modelo criado,
principalmente, a partir dos pressupostos do Iluminismo e do Humanismo e perdurou durante
muito tempo, sendo defendido por alguns dos mais renomados estudiosos que o mundo
ocidental produziu. Dizer que ele está esgotado pode não retratar uma realidade plausível e
talvez seja mais prudente inferir que ele foi diminuído em sua intensidade. Atentar para o fato
religioso no Valongo poderá fornecer elementos importantes aos estudos da religião na
atualidade, visto que ali se encontra um recorte minúsculo da sociedade. Sua compreensão,
entretanto, carece de dados contextuais que serão apresentados ao longo do capítulo.
Quando se analisa o significado da religião para os povos africanos, vê-se que, para
eles, a experiência religiosa abrange todos os aspectos da vida do indivíduo e não apenas parte
dela. A transmissão dos valores religiosos às novas gerações dá-se pelos elementos da tradição
e é vital para a cultura africana. No entendimento de Oliveira (2007, p. 4): “Entre eles a
religião é coextensiva à vida, à experiência vivida intensamente e concretamente […]”. Esse
jeito africano de encarar a religião termina por exercer alguma influência entre os
valonguenses.
O filósofo Gabriel Marcel (apud JAPIASSU, 2009, p. 106) declarou que: “O ser
humano só é autenticamente humano quando sustentado pela armadura incorruptível do
sagrado”. Em um mundo dominado pela tecnociência e pela dimensão da eficácia dos
procedimentos em todas as variáveis da existência humana, essa declaração poderia soar
!46
como ultrapassada. Entretanto, sua validade pode ser confirmada quando faz observação nos
povos que não abriram mão da experiência religiosa, mesmo existindo no mundo descrito
como materialista em sua essência. Como refletiu Japiassu (2009, p. 117): “O Século das
Luzes cometeu a loucura de pensar: A Razão não somente é necessária, mas suficiente,
bastando a si mesma”. Percebe-se que ela não foi suficiente, apesar de continuar sendo
necessária, pois, para além dos limites cartesianos existem fronteiras milenares ligadas ao
sagrado que não puderam ser apagadas ao longo da história. Albuquerque (2008, p. 250)
acentua em sua pesquisa um contraste importante quando afirma que: “Enquanto na Europa a
religião e o nacionalismo estavam sendo contestados como visão geral de mundo, Valongo
encontrou sua inserção na modernidade pela religião”. Essa é uma constatação deveras
relevante e a sua reflexão provoca alguma forma de auxílio na compreensão da influência que
a religião continua a exercer em certos segmentos da sociedade secular. Sendo que os
valonguenses encontraram um lugar na modernidade através da religião, cabe refletir acerca
da existência desse fato social em outros povos e do significado mais profundo dele para a
compreensão sociológica do binômio religião e sociedade.
2.1 COMO TEM SIDO PENSADO O MUNDO VALONGUENSE
O pequeno mundo do Sertão tem sido escrutinado, na busca de maior entendimento do
que acontece nas entranhas do seu cotidiano. Ressoa em alguns textos já produzidos que a
visão dos que moram nas proximidades deles é de que “[…] são conformados, pois não lutam
por seus direitos; moram num lugar onde o serviço público não atende e não
reclamam” (GUIMARÃES e REIS, 2008, p. 173). Tal percepção da vizinhança, reproduzida
em pesquisas que foram analisadas, revela que, apesar de habitar há décadas na região, existe
certo preconceito com relação a esses descendentes de escravos. Apontando tons
preconceituosos ainda mais fortes, Teixeira (1990, p. 30) diz: “Os principais estigmas do
grupo, cultivados pelos vizinhos eram: preguiçosos, sem vontade de progredir, negros,
analfabetos, pobres e outros”. De que forma esses estigmas negativos foram solidificados na
região permanece como uma questão ainda aberta, mesmo após a realização de alguns estudos
que levantaram esses dados desde o final da década de 1980. São palavras fortes e incisivas
!47
que, provavelmente, escondam atrás de si um arcabouço de certo sentimento não apenas
desfavorável, mas também carregado de hostilidade em relação a essa população rural. Esses
dados já levantados merecem novos estudos e análises que aprofundem as percepções já
registradas, retomando a questão da liberdade e invisibilidade.
Cabe questionar, então, a maneira imbricada existente entre o antigo ideal libertário
buscado pelos fundadores da comunidade e a invisibilidade possivelmente necessária para a
própria sobrevivência daquele grupo. É possível inferir que a liberdade desse povo foi
sedimentada sob a égide de certa invisibilidade. Infelizmente não existem relatos escritos que
façam um rastreamento de como essa visão foi construída na vizinhança nas primeiras
décadas de existência do grupo, daí a necessidade de outras pesquisas que tracem um roteiro
do fato e analisem a forma como os antepassados lidaram com o preconceito e sobreviveram a
despeito dele. À semelhança de outros milhares de povos descendentes de escravos, aquela
gente se fortaleceu sob pressão e preconceito, podendo ser encontrados muitos vestígios na
história do Valongo de que o sentimento religioso teve forte influência nesse fortalecimento
comunitário.
O relato de um idoso valonguense, à época com 80 anos de idade, é revelador sobre o
passado de dificuldades:
A gente é nego, mas pode dizer que não faz mal né? Hoje já tá comum, né, mas é que nem naqueles tempo, naqueles tempo era uma tristeza. Quando eu era rapaz novo, quando eu ia lá em Tijucas com meu pai, humm, a gente passava mali (…) tinha aquelas mocidadezinha né, até pessoa já casada, dizia: ói, ói, vai passando um nego, aí vai passando um macaco, é só o que eles falavam era isso aí, me lembro que parece que tô vendo […] (CASTELLS, 2006, p. 426 e 427).
Ao fazer uma comparação entre o tempo passado e o presente, a fala desse morador
indica que, quiçá, a visão demasiadamente preconceituosa experimentada em sua infância não
seja algo que se repita na atualidade nas cercanias da comunidade. Poderia, então, interrogar
neste momento: Mudou apenas a percepção do negro que habita a região ou mudou-se a
configuração da sociedade ao redor e acerca deles? Em sua tese de Doutoramento, a
pesquisadora Clenia Santos (2012, p. 115), analisa o efeito sobre o negro desse tipo de
comportamento demonstrado por muitas pessoas. Segundo ela:
A baixa autoestima é razão de sofrimento para a população negra e tal sofrimento é constante, pois, a todo momento, se deparam com pessoas que rejeitam seu jeito de ser, sua característica física associada à sua situação
!48
econômica e social, além de sua cultura. Assim a baixa autoestima está relacionada com a falta de respeito e de valorização da sociedade, quanto às diferenças étnico-sociais.
Na esteira desses levantamentos feitos na vizinhança do Sertão, constatou-se outro
possível sinal de visão negativa sobre eles. Este talvez mais complexo, pois foi emitido pelos
próprios estudiosos que os pesquisaram. No último parágrafo de sua Dissertação, após fechar
as análises feitas e as conclusões da pesquisa, Teixeira (1990, p. 87) declara:
Foi possível perceber que o projeto inicial de autonomia passou também por uma transformação e hoje se confunde com o projeto de salvação prometido pela fé. Através da religião, o grupo se acomodou da busca pela melhoria de sua qualidade de vida. Se alienou de uma efetiva luta pela regulamentação das terras, uma vez que desestimula os conflitos e consola as perdas. Ao enfatizar a renúncia da vida futura e a prosperidade econômica, reforça a condição de carência e marginalidade deste grupo rural.
Cabe questionar se, de fato, religião e alienação seria um binômio conceitual
harmonioso e integrado, como possivelmente foi apresentado nas palavras acima. Seria essa
opinião, ao ser assim emitida, também uma forma preconceituosa de ver um grupo de ex-
escravos que se apega à religião e tem o seu modo peculiar de viver? Estaria a conclusão de
Teixeira demonstrando que a religiosidade desses negros seja a causa de sua acomodação com
relação às questões que deveriam requerer forte interesse por parte deles? Seria a prática da
religião a causadora da renúncia da prosperidade para o povo do Valongo e o reforço de sua
condição de carência? Entende-se como relevantes esses questionamentos expostos a partir da
conclusão desse importante trabalho de Dissertação, que foi o primeiro a abrir as portas do
Valongo para pesquisas acadêmicas. De fato, foi a conversão ao adventismo que desestruturou
o projeto de autonomia e liberdade daquele povo ou haveria outras investigações que
poderiam dialogar com as análises de Teixeira?
Comentando as conclusões levantadas na pesquisa de Vera Teixeira, os estudos de
Guimarães e Reis (2008, p. 176) apontam um aspecto interessante, que é a potencialização
dos estigmas já existentes sobre esses negros. Elas dizem: “No entanto, ao vincular a fé a
questões econômicas, a autora está criando um elemento de estigmatização que até então não
aparecia nos discursos sobre o grupo”.
Segundo uma declaração de Mircea Eliade (1992, p. 43) acerca do passado, “o homem
religioso desejava viver o mais perto possível do Centro do Mundo”. Pelo visto, para os
valonguenses a religião continua exercendo essa função central em seu pequeno mundo, cuja
!49
experiência cotidiana pode ser comparada à sensação descrita por Eliade de se habitar em um
lugar reencantado (1992). Sendo assim, provavelmente haja mais no Valongo que simples
alienação. Seria essa forma de visão de mundo cultivada pelos habitantes daquela estreita
faixa de terra, quase esquecida pelo governo, apenas uma forma de alheamento provocada
pelo adventismo ou haveria alguma dimensão diferente dessa que pudesse ser investigada?
Ora, mesmo na delicada questão da legalização de suas terras, tema que geralmente desperta
grande interesse em comunidades semelhantes, Castells (2007, p. 69) observou que havia
pouco interesse por grande parte do grupo pelo andamento e resolução do processo, “[…]
recheado de justificativas por vezes confusas e contraditórias”.
Quando são analisados em conjunto, esses fatores apontam para o prevalecimento de
um modo de viver bastante peculiar nesse quilombo. E não apenas isso, é também um jeito
tido como sendo muito desconectado com as realidades desse tempo, o que leva a interrogar-
se se a religião praticada por aquele povo é a causa da acomodação que se apresenta como
sendo parte integrante do seu cotidiano ou se podem ser encontrados ali outros fatores que
mereçam uma análise. A sequência do capítulo se ocupará em discutir a temática do modo de
vida valonguense e levantar questões julgadas como indispensáveis de serem pensadas a
respeito do assunto.
Além desses aspectos levantados, algo mais pode ser arrolado à presente investigação,
diante do cenário exposto, e diz respeito ao imbricamento entre liberdade e religião, os dois
fatores abordados até aqui para referenciar a comunidade do Valongo. Esses dois conceitos se
apresentam como geralmente tensionados entre si e talvez jamais possam ser harmonizados,
oferecendo, assim, possibilidades investigativas diversas. Bem, se é possível deduzir que o
ideal de liberdade, mesmo não sistematizado ou compreendido, foi o elemento essencial para
a gênese do grupo estudado; pode-se também alegar ser impossível a compreensão desse
mundo valonguense sem que se perceba a maneira como a religião é relevante para a vida
cotidiana daquelas pessoas. Guimarães e Reis (2008, p. 176) afirmam que: “a religião tem
uma importância fundamental na visão de mundo dos valonguenses”. A expressão
“importância fundamental” utilizada pelas pesquisadoras carrega em si uma força que não
deve passar despercebida. Pelo visto ela foi escolhida para retratar uma determinada realidade
enxergada por elas no meio ambiente do Valongo e que aponta para um jeito de viver a
espiritualidade que não é facilmente encontrado em uma comunidade quilombola.
!50
Seria possível, então, sintonizar a experiência religiosa valonguense com a expressão
usada por Geertz (1989) segundo a qual esse tipo de vivência espiritual se torna em modelo
para a realidade de certos grupos sociais? Os levantamentos bibliográficos da pesquisa
apontam nessa direção. Borges (2000, p. 144) mostra a fala de uma jovem da comunidade,
descendente de um dos fundadores do grupo. Numa frase ela sintetiza, de certa forma, um
sentimento que pode ser facilmente captado na maioria dos moradores do Sertão. Disse ela: “a
igreja é a maior alegria que temos aqui”.
Aliado à liberdade experimentada desde o nascimento da comunidade, o adventismo
praticado no Sertão há nove décadas pode ter contribuído para a manutenção da cultura
valonguense e, sem dúvida, é uma importante especificidade que o Valongo possui em relação
a outras comunidades quilombolas, que Guimarães e Reis (2008, p. 173) apontaram como
“cenário sui generis para o estudo antropológico”. Eis, pois, liberdade e religião, coexistindo
nesse microcosmo e levando a presente investigação a questionar se existem elementos que
sejam capazes de torná-las mais integradas entre si em outros ambientes onde sejam
vivenciadas enquanto realidades sociais.
2.2 O CONTEXTO DA CHEGADA DO ADVENTISMO NO VALONGO
Para que se analise a religião dos valonguenses, torna-se necessário entender também
o abrangente contexto do processo de evangelização protestante na América Latina. Até
meados do século 19 essa região era geralmente descrita pelo protestantismo norte americano
e europeu como “continente esquecido”, visto que todos os projetos de evangelização até
aquele período estavam ligados à Igreja Católica e eram considerados como insuficientes para
romper barreiras históricas do paganismo que grassava no continente e trazer uma
significativa melhoria de qualidade de vida que o imaginário protestante achava ser necessária
e urgente para os povos nativos. Era o “[…] vizinho ferido e necessitado que desafiava os
Estados Unidos a agir como um bom vizinho” (PIEDRA, 2008, p. 72). Entretanto, para além
do elemento evangelizador, vários estudiosos argumentam que essas iniciativas estavam
intimamente ligadas à importância geopolítica e econômica que os países latino-americanos
foram adquirindo. Parte das estratégias protestantes esteve relacionada a uma crítica feroz à
!51
Igreja Católica, sendo a preocupação frequente mostrar que sua fé era superior àquela
praticada pelo catolicismo (PIEDRA, 2008).
Como parte desse cenário macro que envolve a chegada das principais confissões do
protestantismo à América do Sul, encontram-se, também, no mesmo período, os adventistas
do sétimo dia, iniciando modestas incursões missionárias no continente. Não foi por acaso
que as bases adventistas finalmente começaram a ser estruturadas em alguns países, mas
houve uma estratégia deliberada para que isso acontecesse. Especialmente na última década
diversos pesquisadores adventistas têm se debruçado na tentativa de traçar um roteiro de
acontecimentos ligados ao projeto adventista de estabelecer um trabalho e consolidar-se na
região, considerando que a corrente religiosa assumiu, ao longo dos últimos cento e vinte anos
um papel de crescente destaque no continente, contando no presente (2014) com quase dois
milhões e meio de fiéis apenas no território da América do Sul, espalhados em cerca de
dezoito mil congregações.
Avaliando-se esse tímido começo adventista no final do século 19, existe um dado que
ganha importância para a pesquisa. Acontece que a investida missionária feita inicialmente
pelo grupo religioso no Brasil se deu exclusivamente nas comunidades alemãs de Santa
Catarina, o mesmo estado onde está localizada a comunidade negra do Sertão do Valongo. De
acordo com as informações levantadas por Schunemmann (2003, p. 32), “[…] até 1910 a
Obra Adventista no Brasil seguia a estratégia inicial de evangelizar principalmente as colônias
alemãs”. Pelos levantamentos existentes, os primeiros adventistas que chegaram ao Brasil
sequer foram pessoas, mas papéis, na forma de revistas alemãs que foram enviadas por navios
ao Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Anos mais tarde, em 1896, poucos anos antes de os ex-
escravos se fixarem em sua terra, foi organizada no estado, em Gaspar Alto, a primeira
congregação adventista e, junto a ela, iniciou-se uma escola paroquial (OLIVEIRA FILHO,
2004). Cabe refletir se a estratégia inicial esteve ligada realmente à ausência de recursos
materiais e humanos ou se precisa ser levado em conta também o fato de que havia uma visão
corrente negativa com relação à América do Sul, um pobre continente, repleto de
insalubridade e doenças tropicais, não se constituindo um campo atraente para os missionários
(PIEDRA, 2008). Outro ângulo pode apresentar o seguinte argumento: Por que aqueles
religiosos americanos decidiram lançar a sorte de seu tímido projeto de evangelização entre
as colônias alemãs que habitam o sul do Brasil e não diretamente entre os nativos brasileiros?
!52
O preconceito acerca deles era maior que o desejo de evangelizá-los? Estavam impregnados
pela ideia reinante de que esses nativos sequer possuíam alma? As buscas na literatura
disponível ofereceram poucas respostas, mas não foram encontradas pistas suficientes que
pudessem oferecer um argumento adequado a essa questão. Entende-se que o assunto mereça
um estudo mais aprofundado.
Nas primeiras décadas do século 20, os adventistas de Santa Catarina avançavam em
seus projetos de evangelização e se consolidavam para além dos colonos alemães, entretanto,
não há indícios de algum esforço realizado entre os negros que habitavam o estado. Mesmo
assim, por volta de 1923, por caminhos não oficialmente traçados, o adventismo chegou à
comunidade negra do Sertão do Valongo. A história, envolvendo um vendedor de livros
religiosos que ensinou a crença aos seus antepassados, é contada e recontada entre os atuais
moradores, que fazem questão de relembrar a importância do fato histórico. Esse homem
apareceu no Valongo por contratempos na jornada e pediu hospedagem na casa do pai de um
jovem chamado Mario Caetano. Tendo sido negada a hospedagem ao desconhecido, Mario,
que era recém casado, abrigou o visitante até o dia seguinte e dele adquiriu o livro Nossa
Época à Luz das Profecias, que passou a estudar, enquanto não estava nas lidas da lavoura de
cana-de-açúcar, à qual se dedicava. Com entusiasmo, ele falava das descobertas religiosas que
estava fazendo e, à medida que o tempo passava, outros parentes se interessaram pelos
assuntos e no dia 5 de janeiro de 1932, Mario foi batizado, tornando-se oficialmente
adventista do sétimo dia. Durante aproximadamente trinta anos, as atividades religiosas
aconteciam em sua própria casa, até 1962, quando foi inaugurado um templo de madeira, que
ocupa até hoje o lugar central no território do Sertão. A localização central do Templo é vista
também como sendo simbólica da força que a religiosidade exerce no lugar (TEIXEIRA,
1990).
Esta presente pesquisa realizou uma busca nos documentos oficiais da Igreja
Adventista em Santa Catarina com a finalidade de rastrear os acontecimentos que envolviam a
denominação enquanto o povo valonguense seguia seu rumo religioso. Era preciso saber se
haveriam registros históricos dos documentos oficiais da Igreja na época. Foi recortado um
período entre os anos de 1925 a 1941, época inferida pela pesquisa como sendo relevante para
buscas acerca da conversão desse grupo, bem como o cenário que envolvia o adventismo na
região. Nesse período analisado os estados de Santa Catarina e Paraná formavam uma única
!53
entidade na hierarquia da Igreja, chamada de Missão Paraná Santa e Catarina da Igreja
Adventista do 7º Dia, com sede na cidade de Curitiba. Como prática administrativa,
mensalmente, uma comissão diretiva se reunia e todas as decisões tomadas por ela eram
registradas em votos que eram criteriosamente numerados.
O pesquisador teve acesso aos escritórios da Igreja em Florianópolis, onde foram
encontrados os antigos registros documentais que retratam os movimentos da crença no
Estado. Devidamente catalogados e digitalizados para a posteridade, os históricos documentos
puderam ser avaliados.
Através de levantamentos já existentes em estudos da história adventista, sabia-se que
o projeto inicial de evangelização da Igreja para o Brasil se deu prioritariamente entre os
alemães que habitavam as colônias do Estado de Santa Catarina nas últimas décadas do século
19. Era importante para a pesquisa averiguar se, nas décadas de 1920 e 1930, período da
inserção dos valonguenses ao adventismo, ainda havia indícios de que os colonos alemães
eram alvo dos projetos das investidas da Igreja.
Também era relevante saber se poderiam ser encontradas referências nesses
documentos administrativos da Igreja a esses crentes do Sertão do Valongo. Ambos os fatos
puderam ser atestados por meio do acesso que o pesquisador teve às atas que registraram o
período.
!54
Figura 3 - Registros dos votos administrativos adventistas entre 1925 e 1941 preservado nos escritórios da Igreja
Fonte: Acervo do pesquisador
As verificações realizadas nos documentos preservados levantam três aspectos tidos
como importantes para essa pesquisa:
Primeiramente, percebe-se que vários livros de registros de atas das reuniões
apresentam duas versões dos votos tomados: uma em português e outra em alemão (Figura 4),
o que demonstra que ainda nesse período havia uma necessidade real para que esse cuidado
fosse tomado. (Atas da Comissão Diretiva 1925 - 1935).
!
!55
Figura 4 - Índice das Atas da Comissão Diretiva Adventista com versão em alemão
Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1925-1935
Em segundo lugar foi observada uma variedade de votos administrativos tomados para
que fossem efetuadas compras de livros e folhetos diversos em língua alemã (Figura 5). Esses
materiais eram adquiridos para atender às necessidades da comunidade religiosa, bem como
para fazer frente a novos projetos de evangelização. O voto número 468, de 11 de junho de
1932, apresenta um pedido de folhetos feito à editora da Igreja, tanto em português quanto em
alemão.
!56
Figura 5 - Pedido de folhetos em alemão em 1932
Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1925-1935
Em 23 de setembro de 1935 é tomado o voto 1037 (Figura 6) para a aquisição de 300
exemplares da obra “Hausartz und Fuehrer zur Gesundheit” (Médico da casa e guia da saúde).
O voto número 1661, datado de uma Convenção que se realizou entre os dias 18 a 20 de
setembro de 1937, reza: “VOTADO fazer o pedido de 400 exemplares do livro “In der
Entscheidungstunde” (Na hora da decisão). Esses livros eram utilizados para os projetos de
evangelização entre os alemães que moravam nas colônias da região (ATAS DA COMISSÃO
DIRETIVA 1925 - 1935).
!57
Figura 6 - Pedido de livros em alemão em 1935
Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1925-1935
Em 23 de junho de 1938 nota-se que surge um problema legal que motiva o voto
número 1834, mostrado na Figura 7: “VOTADO: suspender a publicação do TRANSMISSOR
em alemão, devido às exigências do decreto lei, quanto às publicações em língua estrangeira
[…]” (Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1936-1939). Esse era o
período em que o governo de Getúlio Vargas impunha compusoriamente um forte tom
nacionalista, o que gerou diversas consequências para as populações de imigrantes no Brasil
(KREUTZ, 2010). A observação desse conjunto de decisões administrativas apontam para
uma realidade existente entre os adventistas catarinenses naquele período, a de que havia um
forte contigente de alemães entre os conversos da Igreja. Ressalta-se novamente o fato de a
conversão desse grupo de negros ter acontecido exatamente nessa época.
!58
Figura 7 - Suspensão de publicação alemã em 1938
Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1936-1939
Em todos os votos analisados pela pesquisa percebe-se que grande parte dos líderes da
Igreja naquele período tinham sobrenomes alemães, como: Schwantes, Schmidt, Gerling,
Stockler, Kattwinkel, Deucher, Ritter, Morsch, Genski, entre outros. (ATAS DA COMISSÃO
DIRETIVA DA ASSOC. CATARINENSE DA IASD 1925-1935; 1936-1938; 1939-1941).
Eram esses que conduziam os negócios adventistas, alemães que lideravam outros alemães e,
aos poucos, nativos brasileiros e, entre eles, os negros do Sertão do Valongo.
Além desse levantamento, a busca pelas atas administrativas revelou também o
registro, datado dos dias 8 a 11 de agosto de 1938, do batismo de 6 pessoas no Sertão de Santa
Luzia, como era chamado o Valongo na época (ATAS DA COMISSÃO DIRETIVA DA
ASSOC. CATARINENSE DA IASD, 1936-1938, voto 1898) e ainda outro registro de
batismo feito em 27 de julho de 1940 (ATAS DA COMISSÃO DIRETIVA DA ASSOC.
CATARINENSE DA IASD,1939-1941, voto 169).
Digno de nota também é o voto 3487 (Figura 8), registrado em 22 de novembro de
1939, que nomeia o negro quilombola Marinho Caetano como Delegado da Assembléia
Bienal na Igreja na região (ATAS DA COMISSÃO DIRETIVA DA ASSOC. CATARINENSE
DA IASD, 1939-1941). No sistema de governo adventista, os líderes de uma Missão (Paraná e
Santa Catarina) são eleitos para dirigir seus negócios por um período determinado, no caso,
dois anos. Sendo um governo representativo, próximo ao final do período designado para a
liderança daquela administração, é convocada uma Assembléia Bienal, onde se reúnem
!
!59
líderes, que foram selecionados entre os membros das Igrejas da região. Estes Delegados,
reunidos na Assembléia, têm a prerrogativa de escolher os novos líderes da Organização para
o próximo período. Pelas práticas adventistas, apenas pessoas de reconhecida liderança são
apontadas como representantes para essas reuniões. Torna-se, então, deveras notável, o fato de
um líder negro rural, Marinho Caetano, ser nomeado para um evento de tal importância, a fim
de dar sua contribuição nas decisões referentes ao destino da obra adventista em um território
que envolvia dois estados da Federação.
Figura 8 - Eleição de líder valonguense para Assembléia da Igreja em 1939
Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1939-1941
!60
Tal importante nomeação acontece novamente em 11 de dezembro de 1941 (Figura 9),
através do voto número 659 (idem). Na descrição de Borges (2000, p. 151): “Por vários anos,
Mário representou sua região em reuniões administrativas da Igreja”. Essas nomeações
apontam para a importância que esse líder religioso local foi adquirindo além das fronteiras
estreitas do Sertão. Em uma época marcada no cenário brasileiro como sendo de grande
desvalorização do negro, fato denunciado amplamente na sociologia de Florestan Fernandes,
é interessante notar ações práticas no cenário adventista, no sentido de confirmar o valor e o
papel do negro na sociedade.
Figura 9 - Eleição de líder valonguense para Assembléia da Igreja em 1941
Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1939-1941
Vê-se pelo olhar de alguns pesquisadores que, para o povo valonguense, a mudança
que lhe traçou um novo rumo religioso, é o principal divisor de águas para sua pequena
sociedade (TEIXEIRA, 1990). A partir das observações realizadas por diferentes estudiosos
que entraram em contato com eles, têm-se a clara noção de que a religião é mesmo o fator
central para a existência dessas pessoas, podendo-se dizer que é ela que dá sentido à vida
!
!61
dentro da comunidade. Segundo Costa (2009, p. 50): “se não existe religião sem sociedade,
tampouco existe sociedade sem religião”. Naquelas terras quilombolas vive uma pequena
sociedade com grande estoque de religião. A percepção extraída do trabalho de Teixeira
(1990, p. 11) é importante: “Me pareceu que o seu modelo de vida, a sua visão de mundo está
profundamente ligada a estas duas condições: preto e adventista”. Dizer que existe ali uma
determinada visão de mundo que forma um amálgama tão profunda a ponto de juntar as
questões de raça (preto) e de religião (adventista) fornece ao pesquisador elementos
inquestionavelmente valorosos para se buscar um entendimento maior acerca do fenômeno
religioso do lugar.
Se é verdade o que disse Eliade (1992, p. 26) de que é a “[…] experiência religiosa
primária, que precede toda a reflexão sobre o mundo” e também que “[…] a manifestação do
sagrado funda ontologicamente o mundo” (idem), o Sertão do Valongo é um lugar onde essa
experiência pode ser observada e discutida, mesmo nessa segunda década do milênio, tempo
em que o declínio do fervor religioso é visto como característica do ser humano. De certa
forma, o que Eliade denominou como sendo uma “inextinguível sede ontológica” (ibidem, p.
60), ao descrever o sentimento de busca da religiosidade por parte do homem, parece
continuar sendo elemento primordial para inúmeras culturas em todas as partes do mundo.
Ora, na visão de Croatto (2001 p. 45-47, apud OLIVEIRA, 2007, p. 2) é através do elemento
religioso que a espécie humana aprendeu a:
[…] imaginar, em todos os tempos, maneiras de superar suas limitações recorrendo ao sagrado […] Na experiência religiosa […] o caos deve ser vencido pelo ato cosmogônico, que não é simples criação do mundo, mas especialmente, sua organização, que faz do mundo um espaço inteligível e funcional.
Percebe-se aqui uma complementação importante entre a percepção segundo a qual a
religião se apresenta como fator limitante de horizontes e esta descrita por Croatto, onde ele
apresenta que é exatamente a vivência na religião que pode levar o indivíduo a alargar seu
mundo, tornando-o melhor.
Durante muito tempo, especialmente sob os auspícios do Iluminismo, acreditou-se que
todo vestígio religioso seria apagado do espírito humano. O pensamento de Engells
(ENGELLS, 1976, p. 431, apud COSTA, 2009, p. 21) pode traduzir essa aspiração:
!62
[…] quando a sociedade, pela apropriação e utilização dos meios de produção, se tiver libertado e libertado todos os seus membros da servidão […]; quando o homem, não só puder, mas dispuser, só nesse momento desaparecerá a última força estranha que ainda se reflete na religião. Desta forma extinguir-se-á o reflexo religioso, pela boa razão de que já nada haverá para refletir.
O que se verifica, entretanto, é que o “reflexo religioso”, ao contrário da previsão de
Engells, jamais foi completamente extinto do gênero humano e, provavelmente, nunca o será.
A fé que se observa demostrada entre o povo valonguense é simbólica, no sentido de ser ali
um microcosmo onde o fenômeno pode ser estudado enquanto parte de um cenário
infinitamente maior, pois ao mesmo tempo em que se enxerga a quase extinção da religião em
um lugar, vê-se, como contraponto, o crescimento do fenômeno em outro.
À vista disso, pergunta-se: estaria de fato o sentimento pelo sagrado intrinsicamente
entranhado na estrutura do homem? Na compreensão de Bello, (1998) em seus estudos acerca
da religião, é muito difícil entender a estrutura da sociedade sem que se compreenda a
importância da religião na cultura e sua capacidade de envolver “[…] o ser humano na sua
íntima constituição: a estrutura sacral e religiosa” (BELLO, 1998, p. 146, apud OLIVEIRA,
2007, p. 2). Observada assim, a questão se apresenta deveras ampla, pois a sua compreensão
estaria intimamente ligada à própria compreensão do tecido que compõe a sociedade.
É, pois, sob essa égide da importância da religião, a partir da sua verificação na
comunidade do Valongo, que essa pesquisa levanta questões que remetem à importância do
fato religioso para a sociedade que habita o século 21. No dizer de Costa (2009, p. 11): “Por
isso se diz que a religião, desde que se vá, volta sempre”. Percebe-se que o interesse pelo
tema está de volta à Academia ou talvez nunca tenha se ausentado dela. Sendo assim, a breve
averiguação contida neste trabalho pode conter alguns elementos que proporcionem outras
compreensões a respeito deste inesgotável assunto.
2.3 A IMPORTÂNCIA DA FÉ PARA O POVO VALONGUENSE
Como levantou-se anteriormente, a religiosidade perpassa toda a estrutura de vida da
cultura valonguense. A mudança do rumo religioso ocorrida na década de 1930 não arrefeceu
à medida que anos e décadas se passaram; pelo contrário, se fortaleceu. Teixeira (1990, p. 81)
observou que:
!63
[…] este grupo rural encontrou na religião um sentido de união que estimulou formas de solidariedade e possibilitou a positivação de sua identidade enquanto grupo, pois se antes eram os ‘pretos do sertão’, hoje os valonguenses são conhecidos como ‘os adventistas’.
Esta percepção pode oferecer pistas acerca da maneira como o adventismo influenciou
a cultura do quilombo, pois parece que emprestou a esses párias da sociedade um sentimento
de estima e pertença que lhes serviu de auxílio para a existência sofrida. Cerca de quinze anos
depois da apresentação da pesquisa de Teixeira, a observação de Castells (2006, p. 433,434)
reforça a mesma questão e a amplia:
[…] a doutrina e os ritos religiosos impregnam a rotina comunitária no território do sertão e extrapolam suas fronteiras reforçando externamente laços sociais com outros integrantes da igreja. Nessas redes externas de sociabilidade propiciadas pela vida religiosa, os outros dois atributos característicos - etnia e regras de parentesco - se diluem em relação à identidade grupal, prevalecendo a identidade religiosa para os valonguenses.
Importante notar a menção às redes externas de sociabilização que a vivência
adventista trouxe aos quilombolas. Apesar de serem negros inseridos numa Igreja de brancos
ao redor, não se encontram indícios na literatura que tenham sofrido preconceitos por parte da
irmandade, como aquele verificado entre a vizinhança do Sertão. De que formas se processou
essa coexistência aparentemente pacífica e acolhedora até, se constitui em objeto de futuros
estudos.
Em outro artigo que escreveu sobre o povo do Valongo, a pesquisadora Alícia Castells
(2007, p. 71) frisou que: “A religião que professam - passaporte de sociabilidade com o
mundo exterior e, foco de trocas e encontros na vida do Sertão - tem sido motivo de grande
curiosidade dos estudiosos, inclusive de nossa própria equipe”. O termo que ela emprega para
demonstrar a significância da religião dentro daquela cultura - passaporte de sociabilidade - é
digno de nota, visto que muitas vezes a religião é encarada como fator de alienação. Aqui ela
é apresentada como documento para inserção em outros ambientes culturais. Importante
também o reforço da questão já abordada nesta pesquisa, de que a religião praticada naquele
território, assegura ela, desperta uma “grande curiosidade”. Essa é uma ênfase que merece
atenção.
Ressalta-se que, no mesmo período em que um forte despertamento religioso
acontecia naquele território interiorano, longe dali, em Viena, na Áustria, Sigmund Freud
escrevia uma obra provocativa intitulada O Futuro de Uma Ilusão, onde teceu algumas de
!64
suas principais críticas à religião e pretendeu desmontar a muralha teórica que justifica a
maior parte das ideias, doutrinas e formas de prática religiosa. Freud viu na religião algo
destituído de qualquer futuro e a encarava como fruto da neurose que todo homem atravessa
enquanto amadurece. Lançando mão de uma linguagem bastante didática para explicar o seu
pensamento, Freud (2010, p. 21) diz:
Lembro-me de um de meus filhos que se distinguia, em idade precoce, por uma positividade particularmente acentuada. Quando estava sendo contada às crianças uma história de fadas e todas a escutavam com embevecida atenção, ele se levantava e perguntava: ‘Essa história é verdadeira?’ Quando se respondia que não, afastava-se com um olhar de desdém. Podemos esperar que dentro em breve as pessoas se comportem da mesma maneira para com os contos de fadas da religião.
Como se pode observar a previsão freudiana não pôde consolidar-se plenamente, mas
é verdade, entretanto, que ela é expressão cristalina da realidade vivida em muitos segmentos
das culturas modernas, onde quaisquer vestígios de espiritualidade podem ter, de fato, se
extinguido. Ora, a existência de indivíduos ou povos que se apegam à religião e daqueles que
a desprezam por completo, é fato sobejamente comprovado na história da humanidade.
Afirmar que algum dia um desses grupos simplesmente deixe de existir pode se configurar
numa predição com poucas chances de cumprimento real.
Três questões se apresentam, desde já, a partir da história da conversão dos
valonguenses ao adventismo e a intensidade com que essa fé é praticada. Entende-se que tais
temas necessitam de uma pesquisa específica que vão além dos objetivos desse trabalho. A
primeira delas diz respeito a como uma comunidade constituída de negros, descendentes de
antigos escravos, se introduz em uma Igreja, cujo projeto de evangelização esteve
intimamente ligado aos povos alemães da região, que são, em sua maioria, os membros e
líderes da Igreja onde esses negros se encaixam. Alcântra e Oliveira (2008, p. 45) afirmam
que: “De modo geral, a liturgia, a música e a educação das igrejas ditas evangélicas no Brasil
são brancas, e o negro, para ter acesso a elas, tem que sofrer um processo de branqueamento”.
Percebe-se, a partir das fotos históricas do Valongo que, de alguma forma, foram também
afetados por esse processo.
A segunda averiguação investiga os tipos de impactos que essa conversão quase
integral de uma população negra pode ter causado nas comunidades alemãs rurais que
habitavam a região naquele mesmo período. Analisando a convivência entre negros e
!65
europeus no Rio Grande do Sul, Weiduschadt, Souza e Beiersdorf (2013, p. 260) narram
histórias de negros que aprenderam a falar o pomerano e de muitos que se converteram ao
luteranismo. Ao abordarem essa integração, dizem: “É possível afirmar que o espaço religioso
possibilitou trocas entre as etnias: pomerana e africana. As aproximações ocorreram nas
relações das pessoas, na busca da afirmação pela cultura da música e dos símbolos”. No caso
do Valongo, ainda não puderam ser encontradas pesquisas que se dedicaram à questão de
como foram recebidos pelos adventistas de origem germânica.
Um terceiro questionamento que carece de investigação: considerando que os antigos
moradores do Sertão do Valongo se estabeleceram naquele lugar em busca de certa
invisibilidade em relação às populações brancas, símbolos daqueles que os oprimiram com a
escravidão, por que razões buscam exatamente uma comunidade religiosa cuja predominância
é de gente branca? Entendendo-se como relevantes esses questionamentos, espera-se que
novas pesquisas os esquadrinhem, especialmente através da metodologia de história oral,
onde os valonguenses poderiam, através de suas narrativas, revelar importantes aspectos ainda
desconhecidos da riqueza de informações que devem possuir. Como lembra Portelli (1997, p.
31): “Fontes orais contam não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que
acreditava estar fazendo e o que agora pensa que faz”.
Sendo que os antigos quilombos em sua origem foram lugares propícios para a
invisibilidade de escravos fugitivos e mais tarde recém libertos, que almejavam um
distanciamento da população branca, o Sertão do Valongo, por suas características de terras
insalubres e indesejadas, fez-se um espaço ideal para os primeiros habitantes do lugar.
Entretanto, percebe-se indícios de que o envolvimento dos conversos valonguenses com a
irmandade adventista quebrou, de certa forma, essa pretensão de invisibilidade e fez com que
o território que já foi denominado como Sertão da Miséria se convertesse, à medida que anos
e décadas transcorreram, numa região onde a fé uma vez abraçada continuasse sendo a
motivação central de seus moradores. A mudança de orientação religiosa no seio daquela
gente simples é tida como tendo sido radical e foi geradora de “sensíveis transformações na
vida do grupo” (TEIXEIRA, 1990, p. 47). Mesmo seis décadas depois, já sob a influência das
novas gerações de quilombolas, Teixeira (1990, p. 72) relata que, para aquele povo simples, a
fé é algo que “salta aos olhos, já no primeiro contato, tanto visualmente quanto no discurso, a
!66
influência desta religião”. A expressão “salta aos olhos” é mais uma possível constatação de
que existe naquele espaço uma espécie de religiosidade que merece atenção e estudos.
A força da religião encontrada no Valongo pode ser percebida também em estudos
acerca de diferentes grupos da sociedade. Guimarães e Reis (2008, p. 173) observaram que:
A realidade vivenciada pelos valonguenses coincide, assim, com o pressuposto de Helman (2003) de que as pessoas que sofrem de algum tipo de desconforto emocional ou físico, contam, na maioria das sociedades, com sistemas de ajuda, obtidas por conta própria, ou por meio de outras pessoas que podem ser desde um amigo, vizinho ou parente, até um sacerdote, um curandeiro, ou um serviço médico sofisticado e tecnologicamente muito bem aparelhado.
Ou seja, o que é verificado na dimensão da fé nas cercanias do Valongo, pode ser visto
também em outros espaços da sociedade.
A Igreja adquire tanta importância para aquela gente que até hoje, todas as 28 casas
onde seus moradores habitam são construções simples, de madeira (Figura 10). Elas foram
apresentadas por Albuquerque (2008, p. 237) como sendo: “[…] do tipo ‘popular’, uma forma
arquitetônica que é produto de um longo processo de adaptação ambiental e cultural (op. cit.).
Foram construídas por carpinteiros e construtores das localidades vizinhas”.
Figura 10 - Umas das 28 casas onde moram os quilombolas valonguenses. Construção de madeira
Fonte: Acervo do pesquisador
!
!67
Durante muitos anos não havia templo no Valongo e as reuniões religiosas aconteciam
na casa do líder do grupo, Marinho Caetano. No dia 23 de novembro de 1962 foi inaugurada
uma capela de madeira (Figura 11), que ainda permanece até hoje no local (BORGES, 2000).
Figura 11- Primeira Igreja do Valongo, construída em 1962
Fonte: Acervo do pesquisador
E então, segundo Borges (2000, p. 151): “O templo atual, de alvenaria, foi inaugurado
em 12 de novembro de 1994”. Essa construção em alvenaria permanece sendo diferente de
todas as 28 residências de madeira que abrigam os seus moradores. Albuquerque (2008, p.
251, 252, 256) apresenta, em seu estudo acerca da estética no Valongo, uma descrição do
Templo:
Esta construção é o único prédio público no núcleo da comunidade do Valongo […]. O templo atual é da década de 1990 e é de grande estima para os locais […]. Sua fachada apresentava uma formada por um quadrilátero superposto por um triângulo que esconde e segue as duas águas do telhado […]. Junto à fachada há uma pequena estrutura independente, um átrio coberto mais estreito e baixo simetricamente disposto aos eixos da fachada […]. Esta varanda faz as vezes de local intermediário entre o espaço sagrado e o mundo, escondendo a porta principal do templo […]. O interior da Igreja
!
!68
é amplo para abrigar os adventistas locais nos diversos cultos semanais e os fiéis neles vêm participar com vestuário esmerado e sempre discreto.
Naquele espaço de fé (Figura 12), a irmandade realiza seus cultos, canta suas músicas
e reverencia o seu Deus, fazendo daquele lugar o espaço principal para a vida em comunidade
e o consequente fortalecimento da fé que seus antepassados abraçaram e que as gerações
atuais vêm mantendo, como apontam os levantamentos mais recentes realizados no Sertão.
Figura 12 - Igreja Adventista do Valongo, que se ergue no centro do território Construção de alvenaria
Fonte: Acervo do pesquisador
A crença adventista que passou a ser desenvolvida naquela comunidade desperta a
atenção exatamente pela forma e pela convicção com que é praticada. Essa pesquisa procurou
buscar referências à fé desse povo nos registros oficiais mais amplos da Igreja. Realizou-se,
então, uma extensa busca na Revista Adventista, que é o órgão oficial da denominação no
Brasil, cujas edições mensais estão preservadas e digitalizadas desde 1906, quando começou a
sua publicação, contando também com ferramentas de busca. Sendo que a cultura existente no
!
!69
Valongo despertou pesquisas acadêmicas, haveria alguma menção a ela nos registros
históricos da Igreja? E havendo, como seriam tais referências? Utilizando os descritores
Sertão de Santa Luzia (nome dado à região onde está a comunidade) e Sertão do Valongo,
(nome específico das terras valonguenses), foram encontrados importantes históricos e
referências acerca do grupo de crentes registrados em diferentes reportagens da Revista. O
período de tempo foi recortado entre os anos de 1938, quando ocorreu a primeira mênção ao
grupo, a 2013, onde se registra uma importante reportagem sobre o Valongo. Serão descritos a
seguir alguns desses registros que são julgados como relevantes para a pesquisa. Resgatadas
dos registros de arquivo digital do periódico, estão anexadas ao trabalho imagens das páginas
originais onde aparecem os textos sobre a comunidade, entendendo-se que são importantes
documentos históricos e que foram muito bem preservados pela instituição.
Na edição do mês de outubro de 1938 (Figura 13) encontram-se as primeiras
informações acerca do Sertão do Valongo, chamado na época Sertão de Santa Luzia:
Com o mesmo irmão, visitei o Santa Luzia, perto do Sertão da Miséria. Lá tive ocasião de constatar a transformação que o evangelho produz na vida dos filhos de Deus. Quando voltávamos para Tijucas, encontramos na estrada um moço que nos interrogou e quis saber qual era a nossa ocupação, para depois prosseguir. Não demorou muito e êsse moço de novo voltou e apressou-se em ir à cidade, adiante de nós. Quando íamos entrando na cidade, numa encruzilhada, ouvimos alguém gritar: ‘Parem, moços’. Quando parámos estavam em nossa frente seus homens de revólver engatilhado. Depois de um interrogatório permitiu-se que fôssemos adiante. (RITTER, 1938, p. 8).
!70
Figura 13 - Primeira menção aos valonguenses da Revista Adventista
Fonte: Revista Adventista, outubro de 1938, p. 8
A narrativa tem como contexto o relato de uma viagem missionária feita por um líder
adventista ao estado de Santa Catarina, Germano Ritter (1938). Ele era alemão! É ele quem
apresenta o grupo pela primeira vez ao mundo adventista. Esse dado tem importância inicial
no sentido da percepção de que um grupo de negros tenha sua espiritualidade mencionada
por esse europeu.
Nota-se que a menção aos crentes do Sertão está inserida com outras notas referentes
às comunidades visitadas. Todos estão no mesmo nível e os valonguenses não aparecem como
um apêndice ao texto, mas integrado a este, como parte da caminhada missionária do
narrador. Dois aspectos do fato noticiado podem ser salientados, por apresentarem um tom
contrastante: na primeira nota, Ritter (1938) menciona a transformação que o evangelho havia
provocado no seio da comunidade de convertidos que visitara. No relato a seguir, ele
apresenta o dissabor do encontro com pessoas que, pelo visto, se opunham a desconhecidos
que andavam na região. Ora, quando se pesquisa na atualidade a religiosidade vivida no
!
!71
Valongo e a importância que a fé tem para aquele povo, torna-se digna de reflexão a
existência de uma notícia narrada há mais de sete décadas e que ressalta exatamente este
mesmo aspecto, ou seja, a maneira como a religião provocou mudanças que não podiam
deixar de serem notadas. Especialmente levando-se em conta a etnia alemã do narrador.
Na mesma edição da Revista, encontrou-se outra notícia relacionada à comunidade
(Figura 14), acerca de pessoas que foram batizadas ali: “Em Florianópolis foram batizadas
cinco pessoas, membros do grupo local e o de S. José; sete no Sertão de Sta. Luzia, as quais
pertenciam ao grupo de Trombudos, Tijucas e local […]” (LIMA, 1938, p. 12).
Figura 14 - Batismos de valonguenses noticiados na Revista Adventista
Fonte: Revista Adventista, outubro de 1938, p. 12
Não há nessa reportagem referência à etnia desses novos irmãos do Valongo, embora
todos eles fossem negros, o que parece indicar que, mesmo numa época marcada por fortes
movimentos discriminatórios, a etnia africana não parecia provocar sentimentos de rejeição
por parte da liderança adventista. Seria essa uma pista para a compreensão da coexistência
!
!72
desses negros no seio de uma Igreja branca, um lugar onde foram aceitos e construíram
raízes?
Apenas um mês depois dessas publicações, encontrou-se nova referência ao Valongo.
Agora a notícia vem acompanhada de uma foto do grupo (Figura 15), o que não era um fato
tão comum para a realidade social de 1938. Um detalhe importante é que a foto abaixo foi
tirada pelo líder adventista Germano Ritter, que, como mencionado acima, era alemão:
Figura 15 - Valonguenses em meio a outros adventistas, em 1938
Fonte: Revista Adventista, novembro de 1938, p. 9
Além do fato do aparecimento de negros do Valongo aparecerem em uma foto
estampada no órgão de comunicação oficial da Igreja para o Brasil, é preciso notar, também,
que estes aparecem ao lado dos irmãos brancos e se preparam para uma mesma cerimônia
batismal, símbolo maior da aceitação dos indivíduos no seio de uma Igreja. Observa-se que
suas roupas são semelhantes àquelas vestidas pelo grupo. Seria esse fato algum indício do
processo de “branqueamento” dessa comunidade de negros ou existem aí elementos que vão
para além dessa observação?
Em 1953, há um relato que pode ser visto como fato de grande importância para esse
rastreamento da religião praticada pela comunidade quilombola (Figura 16). A narrativa é
acerca da participação de valonguenses numa festa promovida pela Igreja:
!
!73
Queremos ainda salientar o entusiasmo de alguns irmãos do Sertão de Santa Luzia, que viajaram de carroça durante a noite tôda de sexta-feira para chegarem às 8 horas da manhã do sábado em Ribanceiras, enfrentando rigoroso frio e longa distância (BECHARA, 1953, p. 11).
Figura 16 - Entusiasmo dos valonguenses ressaltados na Revista Adventista
�
Fonte: Revista Adventista, novembro, 1953, p. 11
À medida que a sequência de menções aos valonguenses acontece na Revista
Adventista, percebe-se claramente que há uma crescente valorização desse povo no ambiente
religioso. Nas duas primeiras aparições (outubro 1938) na publicação oficial da Igreja
encontram-se comentários acerca deles, o que não deixa de ser um fato notável, visto que o
Brasil já contava com cerca de doze mil adventistas nessa época e naquele pequeno território
ajuntavam-se uns poucos seguidores da crença. Como visto acima, em novembro do mesmo
ano estampa-se na revista uma foto apontando a convivência dos descendentes de escravos
com outros crentes, nativos brasileiros ou imigrantes europeus. São percepções, sem dúvida,
que merecem atenção. Entretanto, a reportagem seguinte, datada de dezembro de 1953, vai
mais longe, ao apresentar uma outra foto de um grupo de irmãos do Valongo (Figura 17).
!74
Figura 17 - Foto de destaque dos valonguenses
Fonte: Revista Adventista, novembro, 1953, p. 11
A publicação desta foto ganha relevância no cenário desse estudo, por duas razões
principais que serão narradas a seguir:
Primeiramente, essa pesquisa apresenta uma possibilidade de reflexão a partir da
fotografia apresentada. Para Collier, (1973 apud Albuquerque, 2008, p. 227): “[…] uma foto é
uma verdade não verbal”. Nessa imagem os valonguenses não são mostrados junto com outras
pessoas, mas aparecem sozinhos, conduzindo um veículo de tração animal, provavelmente de
propriedade deles mesmos, muito comum para o deslocamento das populações rurais naquele
período. Percebe-se na imagem uma certa atitude altaneira por parte do grupo, um
comportamento próprio daqueles que se portam como senhores de uma situação. Nessa
imagem congelada pelo tempo, eles não se parecem com ex-escravos humilhados pelas
circunstâncias, mas como cidadãos pertencentes a uma sociedade. As roupas que vestem
parecem indicar uma completa integração ao ambiente aonde vão, uma festa religiosa,
distante do pequeno território do Sertão.
Em segundo lugar, a nota que remete-se à foto estampada na revista. O comentário de
Bechara (1953) é carregado de simbolismos que podem ser destacados. A característica que o
narrador, importante líder adventista naqueles idos, enxerga neles, é o entusiasmo, um valor
importante para os indivíduos em qualquer lugar onde estejam. A seguir, a relevância
destacada pelo fato de haverem viajado uma noite inteira a fim de se apresentarem na festa
!
!75
para a qual foram convidados a participar. Não estão nela como intrusos e a participação deles
no evento foi percebida e valorizada pelos anfitriões, a tal ponto do fato tornar-se notícia que
viajou pelas páginas da publicação por todo o território brasileiro. Também o final da nota é
digno de atenção, onde são reforçadas as questões de clima desfavorável para a viagem e a
distância longa percorrida pelo grupo. Olhados em conjunto, esses aspectos todos solidificam
a percepção já enxergada de que a religião vivenciada por esse povo não apenas tem lugar
central na vida comunitária, mas também emprestou a esses negros senso de dignidade e
cidadania.
Na edição de janeiro de 1954, a revista destacou (Figura 18) o elogio do líder
religioso ao estilo de vida dos valonguenses:
Existe um grupo de crentes no sertão de Santa Luzia, em Santa Catarina, composto sòmente de irmãos de côr. A maioria é cristã cem por cento, fervorosos e amam a verdade de fato […]. Todos os pastores que por aqui têm passado, dizem a mesma coisa, referindo-se a êsse grupo: ‘nunca deram trabalho ao pastor’. Apesar de todos os membros viverem como vizinhos, nunca se ouviu falar de dificuldades entre êles. E ali, sob a direção do irmão Mário, vive êsse núcleo como um testemunho vibrante do poder do evangelho. Êle, como um velho patriarca, ora aconselhando, logo após exortando, vem conservando o rebanho fiel ao Seu Senhor. (BECHARA, 1954, p. 31).
Figura 18 - Elogio aos valonguenses na Revista Adventista
Fonte: Revista Adventista de Janeiro de 1954, p. 31
!
!76
Essa é a primeira vez que a Revista Adventista aponta o aspecto da etnia do grupo,
mas convém notar que a menção não é carregada de preconceito, visto que os comentários
são, na verdade, elogiosos a eles. O fervor espiritual que demonstravam chamou a atenção,
bem como aspectos do cotidiano religioso, como o de viverem em harmonia na comunidade
e não apresentarem dificuldades ao pastorado da região. O irmão Mário, mencionado na
reportagem, é o mesmo Marinho Caetano que a pesquisa já mencionou. Além de ser o
primeiro adventista do Valongo, tornou-se, ao longo do tempo um líder de destaque não
apenas dentro do território, mas além dele. Sem dúvida, o destaque que Bechara (1954) dá à
religião existente ali encontra eco em outros textos que a pesquisa já levantou.
Existem ao longo das edições da Revista Adventista, diversas outras referências ao povo
do Valongo que não serão arroladas à pesquisa, à exceção de duas, pelo significado que
apresentam. A primeira delas é uma entrevista (Figura 19) com Vanderlei Ricken, jovem
missionário que morou entre os valonguenses durante cinco anos, prestando a eles não apenas
atendimento espiritual, mas também realizando pequenos serviços de consertos em suas casas.
A entrevista ocupa duas páginas inteiras do órgão de comunicação oficial dos adventistas.
Figura 19 - Entrevista com missionário que atuou no Valongo
�
Fonte: Revista Adventista, março 2003, p. 3 e 4
!77
A última imagem apresentada (Figura 20), mesmo não sendo a referência mais
recente ao quilombo, é uma extensa reportagem de três páginas inteiras, presente na edição
do mês de agosto de 2013. Com o sugestivo título “Comunidade de fé”. O texto assinado
pelo jornalista Wendel Lima (2013, p. 23) conta histórias sobre os moradores, narra as
entrevistas feitas com vários deles, apresenta dados históricos, além de mostrar seis fotos
tiradas no ambiente do Sertão. Ele enxergou que para aquela gente o professar a fé torna “a
religião uma peculiaridade mais forte do que a herança africana”. Ou seja, no passado ou no
presente, os indícios encontrados são de que a prática da religião é a marca característica do
povo valonguense. A entrevista mostrada na reportagem com uma representante do poder
público da cidade de Porto Belo, é também reveladora sobre a questão:
Para a diretora do Departamento de Cultura de Porto Belo, Patrícia Estivallet, a forte influência de uma religião numa comunidade como essa sempre será uma vantagem. Segundo ela, um dos benefícios é a construção de um forte vínculo social. ‘A comunidade tem características bem especiais, é bem tranquila e a união que eles têm com certeza se deve à religião’, assinala (idem, p. 24).
Figura 20 - Longa reportagem na Revista Adventista sobre o povo do Valongo
Fonte: Revista Adventista, agosto 2013, p. 23 a 25
!
!78
De fato, as transformações religiosas ocorridas no seio do Sertão na década de 1930
perduraram ao longo dos anos e provocaram na comunidade, conforme apontam diferentes
estudos, um sentido de unidade e coesão social (GUIMARÃES e REIS, 2008), a despeito de
dificuldades enfrentadas para a manutenção da espiritualidade no cotidiano, tendo em vista
certa hostilidade que ainda existe contra o grupo por parte de alguma parcela da vizinhança
ou de gente nova que para lá se dirige.
Silva (2010, p. 6) observou, em sua pesquisa no local:
E ainda, temos aqueles que ‘acabam de chegar’, um total desrespeito a um povo quilombola que ali se constituiu desde o século XIX, que tem sua religiosidade violada, principalmente no silêncio, atitude importante e significativa para o culto aos sábados e na alegria do coral da Comunidade.
É digna de ser levada em conta uma observação feita por Castells (2006, p. 71), onde
ela aponta que: “no livro de 100 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Santa Catarina,
publicado em 2007, a comunidade de Valongo não está incluída”. Qual o sentido deste
comentário para um povo que no passado desejava a invisibilidade em relação aos brancos e,
apegados que são às práticas de sua religião, são invisibilizados em sua historia oficial?
CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Diante dos pontos investigados nesse capítulo, é preciso considerar a relevância da
existência de uma comunidade quilombola adventista no cenário de uma Igreja que conta no
presente com cerca de um milhão e duzentos e cinquenta mil membros no país. Esse fato é
considerado único não apenas para o adventismo, mas também para os estudos da
Antropologia. É uma espécie de ponto fora da curva. É necessário levar-se em conta ainda
que as conversões à igreja na época (década de 1930) aconteciam, em grande medida, junto à
população das comunidades alemãs. Temos, então, negros inseridos numa igreja de brancos
europeus numa época marcada por grande discriminação para com os descendentes de
escravos e marcada igualmente pela ascenção do pensamento nazista. Olhando-se sob certo
prisma, o Sertão do Valongo pode ser visto também como uma espécie de mundo em
miniatura, onde a religião adquiriu tal relevância que merece ser estudada. Foram
!79
apresentados documentos existentes da sede regional da denominação, onde pôde ser
observada a inserção natural desses negros no ambiente da igreja, bem como as referências ao
grupo extraídas da Revista Adventista, órgão oficial do adventismo no Brasil. Evidencia-se
que a religião encontrou um lugar na existência do povo do Sertão e tem sido, ao longo das
décadas, algo que “salta aos olhos” até de pesquisadores (TEIXEIRA, 1990, p. 72). Visto ser
a religião um aspecto central para esses valonguenses, mesmo em pleno século 21, e levando-
se em conta o referencial de liberdade que guiou o grupo no passado, observou-se uma
coexistência aparentemente integrada desses elementos em seu território. Se entre os
ancestrais humanos já se percebiam “traços de práticas religiosas” (JAPIASSU, 2009, p. 107),
o estudo da permanência de um forte sentimento religioso encontrado entre esses quilombolas
é visível demais para ser deixado de lado, pois pode fornecer elementos ricos em significados
para as investigações do fato religioso, em conexão com a liberdade. O capítulo seguinte se
ocupará de questionar se existem indícios de que a identidade dos valonguenses é construída
sob esses elementos apresentados.
!80
3 A LIBERDADE E A RELIGIÃO COMO CONSTRUTORES DA IDENTIDADE
VALONGUENSE
Este capítulo pretende, diante das percepções levantadas até aqui, investigar
determinados recortes dos elementos liberdade e religião que foram apresentados nos
capítulos anteriores, buscando entender, a partir deles, os traços de identidade encontrados no
ambiente do Valongo. Stuart Hall (1999, p. 8) afirma na abertura do seu livro A identidade
cultural na pós-modernidade: “A questão da identidade está sendo extensamente discutida na
teoria social”. Oliveira (2000, p. 7) menciona que o interesse no tema dentro das ciências
sociais tem acontecido com uma “frequência extraordinária”. É na esteira dessa discussão que
a pesquisa se insere. Mas, Oliveira acrescenta que a discussão sobre identidade é por demais
complexa e ainda não tem seus termos completamente definidos. Sendo assim, navega-se nela
por águas de certa forma incertas e que podem ser também traiçoeiras. Quando Hall (1999, p.
11) afirmou que “a identidade é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade”, então a
pesquisa encontra realmente um lugar. É precisamente nas verificações dessa interação entre o
sujeito do Valongo, a micro sociedade onde ele habita no cotidiano e a macro sociedade que o
rodeia, que serão buscadas as percepções necessárias para se acrescentar algo às reflexões
possíveis sobre o tema.
Os mesmos princípios adotados por Hall (1999, p. 53) acerca das culturas das nações,
onde ele constrói seus argumentos acerca da identidade, podem ser vistos também, como será
o caso nessa pesquisa, nessas micro nações que são as comunidades isoladas, grupos sociais
portadores de uma história e cujas memórias dos seus cidadãos estão repletas de discursos que
constroem todo um sentido de significados para eles. Nesses espaços territoriais, os seres
humanos constroem os elementos principais da identidade. Para ele as estórias de perdas e
ganhos, carregadas de simbolismo, emprestam um sentido de importância ao grupo e também
a “ênfase nas origens”, repleta de emoção quando recontada pelos moradores atuais. Em
terceiro lugar Hall menciona o valor das tradições, que podem ser inventadas e objetivam
imprimir os valores apreendidos nas novas gerações. O “mito fundacional” (idem, p. 54) é
onde habita as origens daquele povo e se localiza num “tempo mítico” (ibidem, p. 55), onde
!81
eventos do passado são ressignificados e se tornam compreensíveis no presente. O último
aspecto é a ideia baseada na originalidade do seu povo, cujas características únicas são
ressaltadas.
A partir dos levantamentos feitos, pode-se dizer que essa cadeia sequencial
mencionada por Stuart Hall encontra, de fato, lugar, não apenas no Valongo, mas nos povos
em geral e essa observação serve de referência para o prosseguimento desse estudo.
Nesta secão são avaliados alguns indícios da influência da liberdade e da religião na
construção da identidade dos moradores do Sertão, especialmente ao longo das últimas nove
décadas, quando o fato religioso do processo de conversão do grupo à fé adventista,
amalgamou-se ao antigo ideário de liberdade experimentado na gênese da comunidade no
final do século 19. Levando-se em conta os dados encontrados na bibliografia disponível que
foram pesquisados acerca deste povo, essa pesquisa infere que ambos os componentes estão
interligados no modo de vida valonguense e são eles que, por fim, constroem a principal
identidade dos indivíduos dessa comunidade quilombola. A dificuldade da tarefa de estudar a
identidade está presente na fala de Oliveira (2000, p. 7), quando ele referiu-se a isso, dizendo
que o tema está “escondido, escamoteado, não só ao olhar do homem da rua mas também - e
muitas vezes - ao olhar sofisticado do antropólogo, do sociólogo ou do cientista político”.
A importância dessa investigação para os saberes acadêmicos pode ser analisada sob
os seguintes argumentos:
1. Ao longo da história e especialmente para o homem moderno, liberdade e religião
se constituem em conceitos geradores de tensão entre si e sua junção não se traduz em
elemento facilmente palatável para a cultura do século 21. Nesse sentido, observar a sua
coexistência em um minúsculo mundo como o do Valongo, pode levantar questões que se
mostrem de fato importantes para os aprendizados do cidadão deste tempo.
2. A partir dos dados levantados pelo estudo, a identidade verificada no povo do Sertão
parece apresentar uma espécie de contra-cultura silenciosa, quando vista sob a ótica do modo
de vida da sociedade que o rodeia. Ora, sendo a liberdade e a religião modeladoras do jeito de
viver valonguense, então vale a pena investigar essa identidade como possível fonte de
saberes culturais para a sociedade em geral.
É dentro dessa moldura que o presente capítulo se apresenta.
!82
3.1 QUESTÕES DA IDENTIDADE DO MOVIMENTO QUILOMBOLA NA ATUALIDADE
Segundo Hall (1999, p. 8), “[…] as identidades modernas estão sendo ‘descentradas’
isto é, deslocadas ou fragmentadas”. É um tempo propício, então, para somar investigações
acerca do tema, especialmente levando-se em conta a especificidade que o sujeito dessa
pesquisa apresenta. Para entender onde se situa o Valongo no presente e poder levantar traços
de sua identidade é necessário que se busque primeiramente analisar um pouco do cenário das
comunidades quilombolas brasileiras nesse período. De acordo com Leite (2000, p. 339): “O
quilombo é trazido novamente ao debate para fazer frente a um tipo de reivindicação que, à
época, alude a uma ‘dívida’ que a nação brasileira teria para com os afro-brasileiros em
consequência da escravidão […]”. Essa “dívida” referida por Leite foi denunciada
amplamente na obra de Florestan Fernandes (2007, p. 51). Para ele não havia para todos “[…]
oportunidades equivalentes de participação nas estruturas nacionais do poder”. Apesar de
tantas décadas de lutas e inegáveis conquistas dos negros, ainda não se vislumbra no
horizonte nacional as “oportunidades equivalentes” imaginadas por Fernandes. Na visão
crítica de Arruti (1977, p. 10), ao comentar a situação das desigualdades: “Marcado e
desvalorizado como aparência, na sua relação com a ‘sociedade brasileira’ o negro é agente de
contaminação, fazendo com que a alteridade sirva, no seu caso, à construção de um juízo de
valor político”.
Calheiros e Stactler (2010) lembram que os quilombos fazem parte da história do
Brasil desde que serviram de refúgios para os escravos fugitivos e que se digladiam nas
últimas décadas pela busca de melhor atuação nas esferas do Estado. Nessa luta muitas
comunidades se extinguiram ou foram profundamente modificadas, perdendo suas
características originais. Assim, apesar de a escravidão haver se tornado uma prática
oficialmente ilegal, outras maneiras opressoras surgiram, o que justifica que os quilombos
continuassem a ser lugares de reação ao sistema opressor.
Sendo que os quilombos eram originalmente frentes de resistência ao escravismo,
conforme visto anteriormente, havia neles a constante necessidade de defesa da área ocupada,
pois a liberdade não lhes era cedida, mas conquistada a um preço quase sempre
excessivamente caro para aqueles que a buscavam. Entretanto, a partir da Abolição e nas
!83
décadas posteriores ao fato histórico, Leite (2000, p. 338) acentua em seus estudos, uma
mudança importante nos rumos traçados pelo movimento quilombola. Segundo ela:
Este caráter defensivo começa a mudar, em parte, com a Abolição, quando mudam-se os nomes e as táticas de expropriação, e a partir de então a situação dos grupos corresponde a outra dinâmica, a da territorialização étnica, como modelo de convivência com os grupos na sociedade nacional. Mas, por outro lado, inicia-se a longa etapa de construção da identidade destes grupos, seja pela formalização da diferenciação étnico-cultural no âmbito local, regional e nacional, seja pela consolidação de um tipo específico de segregação social e residencial dos negros, chegando até os dias atuais.
Percebe-se, então, a existência de um longo processo onde os quilombos não
desapareceram com o final do regime de escravidão, mas passaram a servir-se de novas
configurações que ainda justificam sua existência na atualidade. De antigos esconderijos para
escravos fugitivos eles foram sendo transformados em lugares consolidados como territórios
livres, onde novas formas de identidade se constituíram.
Florestan Fernandes (2007, p. 69) toca no âmago da questão em muitos dos seus
escritos sobre o delicado tema. Ele denuncia:
Os únicos canais eficientes de ascenção social na sociedade brasileira ainda continuam, quase tão fortemente quanto no passado, como privilégios sociais das elites das classes altas e da ‘raça dominante’. O negro e o mulato, como eles diriam, aí ‘não têm vez’, encontrando-se rigidamente bloqueados por privilégios sociais que possuem inevitáveis e profundas implicações raciais.
Questiona-se: diante de tal quadro, que outra alternativa restava para esses negros que
viviam nos quilombos, senão a opção de buscar fortalecer suas pequenas sociedades,
tornando-as espaços viáveis para suas famílias? Se lutaram por um reconhecimento que não
vinha, “preferem isolar-se a ‘rebaixarem-se’’ (idem, p. 72).
Quando são estudados os modos de viver a identidade negra nos quilombos da
atualidade, resgata-se a importância desses “novos atores sociais” (LEITE, 2000, p. 348).
Esse é um termo importante. Os povos quilombolas não são coadjuvantes da sociedade,
marginalizados em papéis irrelevantes, mas atores na construção do país, ocupando cada vez
mais um lugar que lhes foi historicamente negado, desde os ancestrais arrancados à força das
entranhas africanas, passando pelos horrores vividos nas longas eras da escravidão e depois
dessa, nos tempos amargos de busca por um lugar social, após a proclamação oficial da
liberdade aos escravos. Ao ser visto assim, os quilombos são no presente, lugares referenciais,
!84
onde o território habitado pelo negro torna-se lugar de “recuperação da identidade
positiva” (idem, p. 345), verdadeiros espaços de cidadania, ocupado por cidadãos plenos em
seus direitos civis. Entende-se que, quanto mais amplos forem esses direitos, tanto mais
consolidada será a cidadania praticada em seus espaços, onde se possa, enquanto sociedade e
Estado, valorizar devidamente “aqueles que por muito tempo foram esquecidos e
desconsiderados enquanto cidadãos de direitos” (SILVA e SOUZA, 2013, p. 4). Se durante
séculos os negros “foram massacrados e inseridos à margem da sociedade”, os lugares de pura
cidadania onde habitam no presente apresentam-se como territórios completamente inseridos
na paisagem brasileira e seus moradores precisam ser enxergados como cidadãos plenos em
seus direitos, não apenas nas intrincadas leis que regem as políticas públicas, mas pela
sociedade como um todo. Antes eles foram “expulsos para a periferia da ordem social
compet i t iva ou para es t ru tu ras semico lon ia i s e co lon ia i s he rdadas do
passado” (FERNANDES, 2007, p. 87). No presente eles constroem a história de maneira
diferente, mas baseados na mesma luta histórica à qual estão acostumados.
Ao realizar um mapeamento amplo de ações em prol do combate às desigualdades
raciais, Heringer (2001, p. 8) salientou uma percepção segundo a qual:
No Brasil estamos vivendo um importante momento de reconhecimento das desigualdades raciais como um aspecto a ser enfrentado. Ainda com grande dose de desinformação e confusão até, as organizações do Movimento Negro, assim como alguns de outros setores, estão gradativamente percebendo a importância de se reconhecer as desigualdades raciais como um entrave ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento democrático do país.
Ora, se a eliminação desses entraves é ainda um processo não concluído, acontecem,
no seio das comunidades quilombolas do presente, muitas ações no sentido de possibilitar
condições melhores para os remanescentes de antigos escravos que habitam em seus espaços.
Fernandes (2007, p. 72) percebeu que “as melhores perspectivas de ascenção social do
negro e do mulato tem de ser conquistadas a duras penas e a longo prazo”. Apesar de mais de
quatro décadas já se haverem passado desde que o sociólogo escreveu tais palavras (seu livro
é de 1972), elas permanecem sendo elucidativas para a questão.
Schmitt, Turatti e Carvalho (2002, p. 5) entenderam que:
Em tal situação de desigualdade, os grupos minoritários passam a valorar positivamente seus traços culturais diacríticos e suas relações coletivas como forma de ajustar-se às pressões sofridas, e é neste contexto social que constroem sua relação com a terra, tornando-a um território impregnado de
!85
significações relacionadas à resistência cultural. Não é qualquer terra, mas a terra na qual mantiveram alguma autonomia cultural, social e, consequentemente, a autoestima.
Daí, percebe-se o valor da terra para esses grupos minoritários e é certo que a
compreensão de sua luta pelo espaço onde vivem passa pelo entendimento dessa significância
do território, que não pode ser dissociado da construção da identidade desses remanescentes
de escravos.
O quilombo do século 21 pode ser encarado como elemento capaz de aglutinar
diferentes pautas, ainda que contraditórias e, ainda assim, continuar significando uma
expressão moderna de sua pauta original, aquela que diz respeito à conquista da liberdade.
Entretanto, não se pode negar que, como afirmaram Jorge e Brandão (2012, p. 92), a
“invisibilidade social constitui uma marca que, historicamente, vem atingindo essas
populações em todo o país”. O processo de visibilizar essas comunidades ganha adeptos por
todo o Brasil e também espaço na agenda das políticas públicas, pois entende-se que nesses
quilombos há, no dizer de Silva (2010, p 51), “um significativo capital social e despontam
com potencialidades singulares no cenário de disputas que se estabelecem […]” nos espaços
diversos da sociedade. Na compreensão de Arruti (1977, p. 16), ao referir-se aos quilombos,
“[…] trata-se de reconhecer naqueles grupos, até então marginais, um valor cultural
absolutamente novo […]. Velhos grupos são agora revestidos de novos valores culturais. Na
conclusão de um artigo, Ilka Boaventura (2008, p. 975, 976) afirma que:
[…] o quilombo como direito tornou-se uma espécie de potência que atravessa hoje a sociedade e o Estado - embaralhando as identidades fixas e a configuração do parentesco […] instaurando grandes dúvidas sobre a capacidade do Estado de ser o gestor da cidadania e o ordenador do espaço territorial.
A relevância disso não deve deixar de ser pesquisada. A referência da autora à
capacidade da potência quilombola em causar essa espécie de embaralhamento e ser
provocadora de dúvidas que ultrapassam seus pobres territórios pode ser sentida nas
conquistas sociais das últimas décadas, mesmo a fórceps, pelos movimentos negros e também
por aqueles que se alinham na defesa de suas pautas.
As milhares de comunidades quilombolas existentes no território brasileiro no
presente, mesmo aquelas que ainda não conquistaram o reconhecimento oficial como
remanescentes de quilombos, se constituem em organizações sociais que continuam uma luta
sem trégua contra a discriminação de seus cidadãos e se fortalecem enquanto espaços
!86
comunitários viáveis em meio à sociedade onde se inserem. Existe, no seio desses redutos
quilombolas, um capital humano que conta toda uma história de elementos como sofrimento,
resistência e superação. Para Silva (2010, p. 57), isso “[…] não se apresenta de maneira
cênica. Ela deve ser compreendida mais nos bastidores do que na ribalta propriamente dita”.
Sendo que os negros ainda são a maioria dos excluídos no Brasil, os movimentos
quilombolas se tornam no “mote principal para se discutir uma parte da cidadania
negada” (ARRUTI, 1997, p. 10). Talvez a conquista de uma cidadania de plena igualdade
para todas as etnias brasileiras não se configure como realidade num horizonte visível, mas é
fato que cada pequena conquista nessa direção se reveste de instrumento de valor. Os avanços
apresentados no texto do Programa Brasil Quilombola são vistos como tendo muita
importância nessa luta por reconhecimento da população dos quilombos: Deste modo, comunidades remanescentes de quilombo são grupos sociais cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade. É importante explicar que, quando se fala em identidade étnica, trata-se de um processo de auto-identificação bastante dinâmico e não se reduz a elementos materiais ou traços biológicos distintivos, como a cor da pele, por exemplo (PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA, p. 9).
O processo dinâmico a que o texto se refere apresenta-se como um ponto que merece
atenção, porquanto abre espaço para que as questões referentes aos quilombos não sejam
vistas na atualidade de forma estática, ligadas apenas ao passado histórico, mas como
entidades que se movem com uma dinâmica própria, culturalmente estruturada por eles
mesmos e que necessitam ser respeitados na forma como seus processos acontecem. Leite
(2000, p. 343) toca em um ponto que se alia a essa discussão:
Uma questão importante que tem sido colocada é se o quilombo expressa a dimensão política da identidade negra no Brasil ou se ele é uma nova redução brutal da alteridade dos diferentes grupos que sob este prisma teriam que se adequar a um conceito genérico para novos propósitos de intervenção e controle social.
O alerta apontado por Leite ganha relevância, pois ao ser encarado dessa forma não
desejável, os modernos quilombos seriam novamente vítimas de erros históricos cometidos
contra seus ancestrais e essa “intervenção” seria nada menos que escravidão sob novos e
cruéis formatos.
Em resumo a esse tópico, pode ser dito, a partir das reflexões levantadas, que a
identidade quilombola no presente está intimamente ligada à luta histórica por
reconhecimento, respeito e legalização dos seus territórios. Também é possível dizer que, ao
!87
se sentirem cada vez mais atores sociais, esses remanescentes podem, legitimamente, chamar
o Brasil de sua pátria, a despeito de seus antepassados terem sido trazidos para cá pela
crueldade da escravidão. Se é verdade que a luta para eles é contínua, também é verdade que
as condições presentes são mais favoráveis que aquelas encontradas no passado recente. É um
cenário propício o qual Leite (2000, p. 345) chamou de “recuperação da identidade positiva”.
3.2 A IDENTIDADE VALONGUENSE NO SÉCULO 21
Para Bourdieu (1986) é absurdamente impossível tentar compreender a vida como
sendo apenas uma série de acontecimentos que vão se sucedendo, mas é preciso levar-se em
conta toda uma complexa matriz de relações, uma imensa rede estrutural que torna possível a
sua existência e a sua compreensão. Se o desafio de buscar tal aprendizado de uma vida que
seja já se configura como gigantesco, compreender a teia estrutural em um grupo de
indivíduos constitui-se em tarefa virtualmente impossível para os limites estreitos de uma
Dissertação. Entretanto, os levantamentos que se apresentam fazem surgir breves lampejos
que auxiliam o objetivo da pesquisa e, sem dúvida, apontam caminhos para novas
investigações.
O grupo do Valongo chega ao presente (2015) contando com aproximadamente 125
anos de história enquanto quilombo e cerca de 90 anos de vivência na fé adventista, que
entrou pela primeira vez em seu território em meados da década de 1920 e consolidou-se nas
décadas seguintes. Se, por um lado, “[…] a falta de documentos é um obstáculo difícil de ser
superado para informar a origem dos primeiros negros do Sertão do Valongo” (SILVA, 2010,
p. 76), a passagem do tempo parece não ter produzido modificações significativas na cultura
dos atuais valonguenses, caracterizados pela postura de relativo isolamento e desapego às
novidades da sociedade consumista. Estar entre seus moradores é ter impressão de que se está
habitando um tempo remoto, marcado por um compasso lento em quase todos os aspectos,
criando certo paradoxo com a agitação característica da sociedade moderna.
Na presente época, marcada por uma cultura geralmente massificada e também por
uma pretensa globalização que parece tudo empapar em sua teia enorme, vale a pena deter-se
nesses minúsculos mundos, como o dos valonguenses, onde existe uma espécie de sabedoria
!88
ancestral muito pouco codificada, mas repleta de significações que podem facilmente escapar
aos olhos apressados e tecnologizados dos que habitam este século. É exatamente essa espécie
de sabedoria empírica, entranhada no cotidiano dessa gente, que se torna na principal defesa
que possui frente aos desafios enfrentados (BOSI, 1993, apud JORGE e BRANDÃO, 2012).
Na visão de Guimarães e Reis (2008, p. 176) no contato com o quilombo, foi a
religião que “[…] gerou unidade e coesão social. A questão da identidade também foi
redefinida”. Esse dado é importante, bem como a data em que o artigo foi escrito, pois ele
corrobora com a hipótese da pesquisa de que a identidade desse povo é construída
essencialmente pela religião que o grupo pratica, tanto quanto pela liberdade original e oficial
que o gestou, mas sem deixar de considerar a discussão sobre o conceito e prática de
liberdade que a religião pode ou não desencadear. Dezoito anos antes, a pesquisa de Teixeira
(1990, p. 81) apontou aspecto semelhante: Este grupo rural encontrou na religião um sentido de união que estimulou formas de solidariedade e possibilitou a positivação de sua identidade enquanto grupo, pois se antes eram os ‘pretos do sertão’, hoje os valonguenses são conhecidos como ‘os adventistas’.
Se há indícios de que a passagem do tempo não arrefeceu a fé desse povo mas, ao que
tudo indica, lhe deu ainda certa positivação identitária, cabe avaliar quais elementos se juntam
naquele território negro para que tal fenômeno possa ser identificado. Uma das possibilidades
levantadas na pesquisa é que o senso de comunidade se fortaleceu muito no grupo ao longo
dos anos, sendo reforçado pelas práticas religiosas adventistas, que emprestou aos seus
membros uma convivência igualitária com outros indivíduos da mesma fé, independente de
raça, cor ou classe social, como visto no capítulo anterior, facilitando assim, no cidadão
valonguense, a construção de uma identidade positiva.
Na compreensão de Silva (2010, p. 59), “uma comunidade constitui um sistema
altamente especializado de reprodução cultural, de socialização e de integração social”. Já o
Dicionário de Ciências Sociais (1977) define comunidade no sentido de “um conjunto de
indivíduos que partilham símbolos, ritos, mitos e parentesco dentro do mesmo espaço
socialmente ordenado”. Mas não se pode passar por alto, a advertência de Lemos (2009, p.
202) quando afirmou que: “[…] o conceito de comunidade é um dos conceitos mais vagos e
evasivos nas ciências sociais”. Apresentar alguns recortes acerca dos processos que envolvem
uma vida em comunidade no presente tem importância para essa pesquisa, visto ser
!89
impossível olhar para a identidade existente no povo do Valongo sem observar as teias
relacionais que são tecidas no seio de sua comunidade.
Em seus estudos sobre os quilombos, Leite (2000, p. 344) observou que: “De todos os
significados do quilombo, o mais recorrente é o que remete à ideia de nucleamento, de
associação solidária em relação a uma experiência intra e intergrupos”. É provável, entretanto,
que essas descrições não deem conta de todo o fluxo dinâmico e efervescente que formam o
cotidiano verificado nos grupos sociais. Arruti (1977, p. 26) parece ter captado essa noção:
Se o uso mais freqüente da noção de grupo étnico nas ciências sociais esteve ligado ao uso popular da expressão, que remete ao significado grego ‘grupo de pessoas de mesma raça ou nacionalidade que apresentam uma cultura comum e distinta’ (Keyes 1976), tal noção tornou-se incapaz de continuar dando conta das necessidades analíticas dos antropólogos contemporâneos.
Se essa afirmação era verdadeira no final da década de 1970, quase quatro décadas
depois, elas podem ser analisadas com mais exatidão, pois faz-se necessária uma constante
atualização na compreensão dos grupos sociais que compõem a sociedade do século 21.
Olhando dentro desses parâmetros dinâmicos pode-se asseverar que o povo do
Valongo vive a essência do que significa uma comunidade e os pesquisadores que entram em
contato com ele têm constatado que a vivência partilhada da simbologia religiosa cria ali um
ambiente propício à socialização.
A faixa de terra que abriga a comunidade valonguense desde o final do século 19 não
são terras legalizadas pelo poder público, apesar desse povo ser detentor da Certidão de
Reconhecimento emitida pela Fundação Palmares como remanescente de quilombo. Mas,
junto com a fé, é esse território que simboliza o pertencimento dos membros do grupo, onde
se compreendem como um “nós”, um povo, uma comunidade, portadores de uma história
herdada pelos ancestrais, de uma cultura compartilhada e habitantes de uma terra que podem
chamar de sua (COSTA, 2009, apud JORGE e BRANDÃO, 2012). Entretanto, na visão
sociológica de Durkheim, os indivíduos são coagidos para agir de determinada forma por
causa da consciência coletiva reinante onde ele está inserido (WEIDUSCHADT, SOUZA e
BEIERSDORF, 2013). Ao contrário disso, pode ser referido que é exatamente o sentimento
comunitário que tem a capacidade de fazer o indivíduo sentir-se identificado por um grupo
social. Para que essa identificação aconteça o indivíduo é levado a abrir mão de alguns
!90
aspectos de sua liberdade individual. Comentando a posição de Bauman sobre isso, Carolina
Lemos (2009, p. 204) lembra que: […] existe uma tensão entre a utópica e almejada segurança da comunidade e a ideia de liberdade. Isto porque, na medida em que a vivência em comunidade significa a perda da liberdade, acaba gerando-se um dos dilemas mais significativos para a compreensão das dinâmicas sociais da contemporaneidade. Paradoxalmente, almejamos e resistimos à segurança, em prol da liberdade individual.
Em determinado grau esse paradoxo será enfrentado pelos sujeitos que compõem uma
comunidade e a maneira como se lida com esse dilema pode levar ao fortalecimento ou ao
enfraquecimento de um grupo.
Na riqueza da cultura do Valongo encontra-se toda uma tradição alimentar, produção
de medicamentos fitoterápicos, vivência familiar, bem como uma gama de saberes que foram
arrolados pelo IPHAN de Santa Catarina como patrimônio imaterial e geraram um livro de
268 páginas, publicado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
em 2008. Tendo como título: Ecos e Imagens do Patrimônio Imaterial: Inventário Nacional de
Referências Culturais do Sertão do Valongo, a obra apresenta um apanhado de dez artigos,
envolvendo dezenas de pesquisadores do Estado que se debruçaram sobre o patrimônio
imaterial existente no povo do Valongo.
Entende-se que essa obra (Figura 21) apresenta uma relevância no sentido “de que se
supere a invisibilidade e exclusão de que têm sido vítimas muitas das populações tradicionais,
através de sua valorização cultural” (CASTELLS e REIS, 2008, p. 13). A obra apresenta os
resultados das pesquisas desenvolvidas no Valongo entre os anos de 2005 a 2007, com o
objetivo de fazer um levantamento minucioso do patrimônio imaterial ali existente. Para
Castells e Reis (2008, p. 14), ele se constitui num “instrumento de visibilidade da comunidade
que habita o Sertão do Valongo […]”.
!91
Figura 21 - Capa do livro publicado pelo IPHAN sobre o Valongo
Fonte: CASTELLS, Ecos e Imagens do Patrimônio Imaterial: Inventário Nacional de Referências Culturais do Sertão de Valongo. 1a. ed. Florianópolis: Iphan / 11ª Superintendência Regional, 2008.
v. 1. 296 p.
Segundo Arruti (2006, p. 82) comunidades remanescentes dos quilombos, semelhantes
àquela encontrada no Valongo, devem ser reconhecidas como símbolo de uma cultura e de um
modelo de luta histórica, pois são detentoras de uma identidade positiva. É a partir de tal
reconhecimento que se abrem as possibilidades para que ocupem um lugar novo em relação
àqueles que moram na vizinhança, como também diante das forças políticas organizadas, pois
“trata-se de reconhecer, naqueles grupos - até então marginalizados - um valor cultural
absolutamente novo […] até então, desconhecidos deles mesmos”. As iniciativas na forma de
pesquisas acadêmicas e as políticas públicas das últimas décadas têm sido um auxílio na
!
!92
direção do empoderamento desses indivíduos, outrora marginalizados, mas que vão
reconhecendo de forma crescente seu valor cultural e, com isso, construindo eles mesmos
uma identidade própria.
Nos estudos de doutorado de Engemann (2006, p. 130), são encontradas afirmações
que se alinham aos propósitos desta pesquisa, quando ele afirma que:
A mera junção dos cativos não os transforma certamente numa comunidade, a vida comunal se constrói, isto é, produz e reproduz, na medida em que certos saberes e fazeres são compartilhados, aceitos e respeitados pelo conjunto de seus coabitantes. Isso demanda o transcurso do tempo, que vai sedimentando vínculos, consolidando práticas e estipulando rivalidades e dissensões.
Ou seja, há indícios de que a comunidade encontrada no Sertão do Valongo tornou-se,
desde a sua origem, bem mais que o mero ajuntamento de ex-escravos, visto que já se uniram
naquela época conturbada como três famílias. Percebe-se também que foi mais que a
passagem do tempo que solidificou seus laços e fez com que houvesse no lugar algo para
além de um agrupamento populacional, mas um organismo social comunitário viável e de
reconhecido valor para os seus habitantes. Como bem lembra Lemos (2009, p. 205): “A
comunidade existe por meio de um processo de construção simbólica da semelhança entre os
seus membros e da acentuação da diferença relativa a outras comunidades”. Essa afirmação se
encaixa nos moldes do que aconteceu no Valongo.
Quando se avalia, como é a proposta deste estudo, a maneira como a identidade desse
povo se constrói sob a égide da liberdade e da religião, percebe-se que o espírito comunitário
existente no grupo constituiu-se em fator preponderante para que sua realidade fosse tal qual é
no presente.
Se o caráter da identidade é um movimento dinâmico, vivenciado num constante
processo de metamorfose e fazendo uma conexão frequente entre a história individual e o
contexto onde esse indivíduo está inserido (CIAMPA, 1987 apud FARIA E SOUZA, 2011),
então é possível inferir que a dinamicidade imbricada entre a liberdade e a religião formaram,
e continuam formando, uma certa identidade no povo valonguense. Pelos levantamentos
realizados pode-se dizer também que não foram os líderes religiosos adventistas que lhes
forneceram os elementos essenciais dessa identidade única, também não receberam a
identidade através da vivência inicial dos seus antepassados no território do Sertão, que
buscavam a liberdade para suas famílias. Mais que isso, é o conjunto complexo de todos esses
!93
componentes e de outros tantos não verificados, mas existentes, que faz com que os
valonguenses tenham esses caracteres exclusivos.
Nesse sentido concorda-se plenamente com a afirmativa de Dubar (1997) segundo a
qual a “[…] identidade nunca é dada, é sempre construída e a (re)construir” (CIAMPA, 1997,
p. 104, apud FARIA e SOUZA, 2011, p. 37). Tal dinamismo faz com que a vida em
comunidade se torne em constante exercício de adaptações e, como afirmou Lemos (2009, p.
206), referindo-se ao pensamento de Cohen (1985), “[…] os indivíduos constroem,
simbolicamente, uma comunidade, transformando-a num recurso e num repositório de
significados e num referente para a sua identidade […]”. Se é verdade, pelo inferido até aqui,
que a força dos ideias de liberdade e dos sentimentos religiosos são moldadores da identidade
do povo do Valongo, essa coleção de significados que sua cultura constrói, apresenta, sem
dúvida, uma riqueza cultural que merece ser preservada, além de pesquisada.
3.3 PRESERVAÇÃO DE UMA IDENTIDADE
Em seus estudos de Doutorado, quando analisa aspectos da condição humana nesse
tempo de globalização, Carvalho (2008, p. 3) afirma que: “Nesse caos desorganizado os
homens parecem estar perdendo o sentido da vida, da própria identidade”. Sua declaração
encontra eco em muitos outros pesquisadores que estudam essas questões na atualidade.
Muito antes de Carvalho, os apontamentos do Sociólogo alemão Max Weber já fazia críticas
severas à situação encontrada em seus dias, no declínio do século 19 e nos primeiros anos de
século 20. Em 1903, em seu livro: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber
(2004, p.48) disse:
Atualmente a ordem econômica capitalista é um imenso cosmos em que o indivíduo já nasce dentro e que para ele, ao menos enquanto indivíduo, se dá como um fato, uma crosta que ele não pode alterar e dentro da qual tem que viver. Esse cosmos impõe ao indivíduo, preso nas redes do mercado, as normas da ação econômica.
O que essa pesquisa pretende nesse tópico é apresentar certos lampejos de traços
identitários dos cidadãos valonguenses que, forjados a partir da liberdade e da religião,
apresentam-se como únicos, diferenciados e que, portanto, merecem ser preservados, pois
aparentemente não estão amarrados às lógicas impostas pelo capitalismo reinante, sendo
!94
assim uma identidade social propícia a reflexões. Pelo visto nas referências bibliográficas
pesquisadas, apesar de não haver intencionalidade para tal, o que se apresenta entre os
valonguenses é um certo contraponto silencioso ao modelo vigente, marcado pelo estilo de
vida existente naquele território.
Na percepção de Santos (2012, p. 88): “A identidade de um povo se constrói
basicamente em dois sentidos: primeiro, diferenciando-se do que lhe é exterior, isto é, dos
outros povos ou nações; segundo, definindo o que somos ou que deveríamos ser”. Aqui está
uma pista importante para a pesquisa. O modelo de identidade valonguense, que este estudo
não dá conta de aprofundar-se devidamente, diferencia-se do exterior ao Sertão, e não poderia
ser diferente, visto que determinadas características encontradas ali não se repetem, como é o
caso de uma comunidade quilombola praticante do adventismo. Sendo fenômeno único no
Brasil, construiu-se ali também uma identidade única. Sem dúvida, essa questão é merecedora
de novos estudos.
Uma outra declaração webariana ganha importância nessa discussão. Para o sociólogo:
O ser humano em função do ganho como finalidade da vida, não mais o ganho em função do ser humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais. Essa inversão da ordem, por assim dizer, ‘natural’ das coisas[…] é estranha a quem não foi tocado por seu bafo (WEBER, 2004, p. 47).
É uma metáfora interessante, visto que, dificilmente, e mesmo na ambiência do Sertão,
pode-se viver a sociedade sem ser tocado por esse “bafo”. Preservar, portanto, culturas de
povos como o quilombo valonguense e outras inúmeras sociedades espalhadas no território
brasileiro, apresenta-se como uma questão importante, pois essas minúsculas gentes podem
representar verdadeiros movimentos de uma contra-cultura silenciosa frente às lógicas do
capitalismo do século 21. Pesquisá-los é uma tarefa legada à Academia enquanto motivada a
fazer com que suas pesquisas apontem caminhos que possam ser viáveis para a melhor
condição da vida humana.
Enquanto existe uma percepção de desmoronamento de vários elementos geradores da
coesão social, onde valores que eram sólidos foram sendo derretidos por processos nem
sempre compreendidos (BAUMAN, 2001, apud CARVALHO, 2008), a existência de lugares
onde a vida social ainda é compartilhada de maneira diferente daquela experimentada pela
cultura massificada gera interesse, pois entende-se que esses lugares são espaços também
!95
viáveis para o desenvolvimento humano. As observações mais recentes acerca do Valongo
dão conta de que não estão alheios ao mundo que os cerca. As suas casas possuem televisão,
vários moradores portam telefones celulares, os jovens se esforçam para estudar na cidade
próxima e a Prefeitura local mantém uma pequena escola dentro da comunidade. Ou seja, há
sinais de que não estão completamente fechados às novidades do seu tempo, apenas vivem
suas próprias lógicas e parecem adaptar suas práticas elementares àquilo que julgam como
sendo possível de integração ao seu modo de vida simples.
De que forma o cidadão do Valongo lida com sua identidade individual e sua
identidade enquanto grupo não é uma questão para a qual essa pesquisa encontrou alguma
pista e permanece em aberto, visto que há sempre uma tensão entre esses dois aspectos nos
estudos acerca da identidade.
Para Faria e Souza (2011, p. 37):
Identidade se revela como invenção e não descoberta; é um esforço, um objetivo, uma construção. É algo inconcluso, precário, e essa verdade sobre a identidade está cada vez mais nítida, pois os mecanismos que a ocultavam perderam o interesse em fazê-lo, visto que, atualmente, interessa construir identidades individuais, e não coletivas.
Sendo verdade essa afirmação final, torna-se necessário que se investigue com mais
rigor a maneira como nessas comunidades o movimento mostra-se contrário a esse, ou seja, a
identidade coletiva, pelo verificado, confunde-se com aquela individual e em certos
momentos a força da comunidade é superior ao indivíduo. É, de fato, uma questão que carece
de uma investigação específica. É importante observar que: “O habitat da identidade é um
campo de batalha. Ela só se apresenta no tumulto. Não se pode evitar sua ambivalência. Ela é
uma luta contra a dissolução e a fragmentação, uma intenção de devorar e uma recusa a ser
devorada” (FARIA e SOUZA, 2011, p. 37). Como se pode falar em preservação da identidade
para um povo se os teóricos da área se referem a ela como carregada de tensão? Nas palavras
de Boaventura Souza Santos (2001, p. 107, apud Coutinho, Krawulski, Soares, 2007, p. 31),
“cada um de nós é uma rede de sujeitos em que se combinam várias subjetividades […].
Somos um arquipélago de subjetividades que se combinam diferentemente sob múltiplas
circunstâncias pessoais e coletivas”.
Se o tumulto onde se constrói a identidade não pode ser evitado, diversas estratégias
são utilizadas para se desenvolver maneiras de agir dentro do ambiente social onde se habita.
!96
Segundo Levi (1997, p. 175, apud ENGEMANN, 2006, p. 33): “A estratégia, nesse caso, é
coletiva e visa à manutenção das posses ou do bem-estar de seus membros”. Analisando as
realidades vistas no Valongo, entende-se que as estratégias usadas para a sobrevivência do
grupo estiveram mais ligadas ao bem-estar, visto que todos os estudos apontam que aquele
povo tem baixa ligação com as questões pertinentes às posses materiais. Para Hall (1999, p.
29), “à medida em que as sociedades modernas se tornavam mais complexas, elas adquiriram
uma forma mais coletiva e social”. Não se sabe até que ponto a forma coletiva vivida como
estratégia de sobrevivência e manutenção por esse povo tenha gerado nele certo
comportamento, que já foi apontado nos estudos como sendo desinteressado ou pouco ligado
aos interesses de desenvolvimento, visto, por exemplo, nos procedimentos legais de
documentação das suas terras, ainda hoje carregados de pendências e deixados de lado.
Pesquisar na literatura disponível acerca da identidade valonguense se configura como
tarefa difícil de ser realizada, visto que nas fontes existentes o termo identidade quase não é
mencionado especificamente. Entretanto, é possível percebê-la quando se faz uma busca mais
profunda, especialmente nas entrelinhas dos muitos textos produzidos acerca deles. Para que
se busque uma compreensão mais apurada dessa identidade, é preciso que se lance mão do
conceito de tática e para isso os escritos do historiador francês Michel de Certeau servem
perfeitamente ao propósito. Para Certeau (1998, p. 35): “O caminhar de uma análise inscreve
seus passos, regulares ou ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado há muito tempo”.
É nesse parâmetro que essa pesquisa se inscreve.
Em seus estudos, Certeau (1998, p. 39) discute as lógicas encontradas nos jogos de
estratégias que os seres vivos praticam, e que na verdade são astúcias milenares que podem
ser observadas em peixes que se disfarçam para escapar dos predadores naturais ou de insetos
que se camuflam para atacar uma pequena presa. No âmbito da atividade humana, ele diz que
“o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada”. É exatamente essa espécie
de “invenção” que pode ser verificada enquanto tática valonguense de viver sua identidade
peculiar em meio à sociedade onde está inserida a sua comunidade. Se essas maneiras não
forem percebidas, qualquer compreensão que se pretenda desses grupos sociais estará
incompleta.
!97
As observações feitas por Certeau (1999, p. 39) estavam ligadas primeiramente ao uso
“astucioso”, não autorizado, que os consumidores faziam dos produtos disponibilizados pelos
fabricantes e ele o ampliou para o comportamento geral dos indivíduos e povos em diferentes
situações. Ele percebeu que as pessoas encontravam maneiras próprias de utilização dos bens
adquiridos, e eram maneiras geralmente bem distintas daquelas impostas pela ordem do
fabricante. Essas táticas, segundo ele, estão presentes nos movimentos humanos e são elas que
“reorganizaram clandestinamente o funcionamento do poder” (idem, p. 40). Elas são, na
verdade, uma espécie de “trampolinagem […] e esperteza no modo de utilizar ou de driblar os
termos dos contratos sociais” (idem, p. 79). Ou seja, aquilo que o poder público deseja ou
impõe que o valonguense viva, não corresponderá necessariamente àquilo que será vivido
pela comunidade. Mesmo no aspecto religioso, essa lógica poderá ser encontrada também. Ao
longo do tempo, o modo de viver a religião adventista dentro do quilombo pode não ser
exatamente aquele imaginado pelos líderes adventistas para aquele grupo. A identidade
valonguense como povo se fez, então, a partir de táticas criadas por eles mesmos e que dão a
eles um formato específico, como é, de acordo com Certeau, o caso das sociedades em geral.
A própria adesão ao adventismo pode ter se convertido em tática de inclusão no mundo dos
brancos.
Certeau (1999, p. 92) menciona certos esquemas que se operam na literatura, mas a
partir de sua inferência a isso, pode ser dito que semelhante maneira de fazer também pode
ser vista no espaço do Valongo. Segundo ele: “Sem sair do lugar onde tem que viver e que lhe
impõe uma lei, ele ai instaura pluralidade e criatividade. Por uma arte de intermediação ele
tira daí efeitos imprevisíveis”. Ora, cabe questionar aqui as referências encontradas em outras
pesquisas sobre os valonguenses, onde há indícios de certa crítica preconceituosa ao modo de
vida optado pela comunidade. Seriam apenas acomodados por causa da religião que
escolheram, ou fizeram opção para si de um modo de vida que lhes é viável e funcional,
dentro dessa pluralidade característica dos tempos atuais? Gonçalves e Silva (1998, p. 103)
parecem ter entendido o valor da pluralidade revelada no seio de comunidades quilombolas ao
viver suas práticas culturais com liberdade na “[…] maneira peculiar de dançar, louvar os
Orixás, a Alá ou a Cristo, preparar quitutes, festejar, trabalhar, viver e construir o
conhecimento”.
Falando dos indígenas conquistados pelos espanhóis, Certeau (1999, p. 95) diz:
!98
Eles metaforizaram a ordem dominante: faziam-se funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no interior do sistema que assimilavam e que os assimilava exteriormente. Modificaram-no sem deixá-lo. Procedimentos de consumo conservavam a sua diferença no próprio espaço organizado pelo ocupante.
Essa descrição mostra novamente aspectos da tática, que é a “arma do fraco” (idem, p.
101). Ela encontra sentido no caso do Sertão, onde a vida funciona sob outro registro, que não
aquele imposto pela ordem social dominante, pelas lógicas capitalistas praticadas na
sociedade. Pode ser dito que os valonguenses fazem, como descrito no pensamento de
Engemann (2006, p. 33), um “uso diferenciado dos elementos econômicos, sociais, políticos e
culturais presentes na realidade na qual se inserem”. Poderia acrescentar-se a esses elementos
também aqueles religiosos que são ali encontrados. Ao desenvolver um próprio uso
diferenciado de tudo aquilo que cerca sua realidade, uma identidade é formada dentro do
território valonguense. Castells (2007, p. 73) lembra, ao falar da identidade negra daquele
povo que “[…] se reafirma, por sua vez, a sua condição de diferentes, mas de iguais no
sentido de participação da identidade nacional”.
Ao desenvolver a discussão até aqui, cabe questionar, a fim de continuá-la. Seriam
realmente, como aponta a pesquisa, a liberdade e a religião fatores essenciais na construção de
uma identidade nos valonguenses? É bem provável que outros estudiosos possam apontar
elementos diferentes desses a partir de novos levantamentos feitos, entretanto, pelo que se
pesquisou na literatura disponível, poder-se-ia dizer que a hipótese apresentada pode ser
testada e apresenta elementos de validação, cujos argumentos acerca da liberdade e da religião
foram apresentados, respectivamente, nos primeiros capítulos do trabalho. Com a costura que
está sendo realizada dentro dos aspectos da identidade, pretende-se apresentar uma
contribuição, ainda que pequena, para a continuidade da discussão no espaço acadêmico,
tendo em vista o entendimento de que, os estudos sobre os quilombolas valonguenses, ainda
estão longe de se esgotarem.
Em seus estudos sobre identidade, Stuart Hall (1999, p. 12) percebeu que:
A identidade […] preenche o espaço ‘interior’ e ‘exterior’ - entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os ‘parte de nós’, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural.
!99
É exatamente no lugar objetivo do Sertão, onde os valores ligados à liberdade,
deixados como herança pelos fundadores da comunidade, bem como os elementos da religião
vivenciados pelos herdeiros dos fundadores a partir da década de 1930, estão de tal forma
internalizados que se tornaram parte do cidadão do Valongo, que seria impossível separá-los.
Tais processos podem ser comparados ao que Coutinho, Krawulski e Soares (2007, p. 31)
identificaram como sendo “[…] rupturas nas trajetórias identitárias ao longo da vida […]”,
mas afirmam que estas quebras “[…] são resignificadas através de novos processos de
identificação […]” (idem). É a partir dessas verificações que se pode afirmar que a mudança
de rumo religioso ocorrida naquelas terras quilombolas significou uma ruptura positiva no
lugar, com efeitos duradouros sobre seus moradores, internalizada de tal forma, que
preencheu um espaço existente e deu contornos à sua identidade cultural.
Não se pode deixar de mencionar que todo o processo de identidade do indivíduo se
torna cada vez mais, no dizer de Hall (1999, p. 12), “[…] provisório, variável e
problemático”. Os três termos usados pelo pesquisador apontam para as dificuldades
existentes quando se estuda o tema. Sendo provisório, captar um fragmento da identidade do
indivíduo requereria um determinado momento propício, mas ele é variável, então sua
essência escapa ao observador. Por fim, sendo problemático como Hall apresenta, a
identidade está sujeita a revisões constantes e, ainda assim, continua sendo um aspecto não
completamente compreendido. O pesquisador Michael Pollak (1992, p 204) coloca variáveis a
essa discussão que devem ser levadas em conta. Segundo ele:
Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, de transformação em função dos outros. A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros.
Para o interesse da pesquisa, caberia examinar que formas de negociação foram usadas
pelos cidadãos do Valongo com os outros exteriores ao seu mundo. Se eles encontravam
hostilidade na proximidade do território e aceitação longe dali, na ambiência da irmandade da
Igreja que os acolhera, é provável que isso tenha exercido forte influência no sentimento
religioso e também identitário dessas pessoas. Estaria o referencial de aceitação desse povo
ligado mais aos irmãos de fé que a outras pessoas fisicamente mais próximas a eles? É mais
um desafio que esse espaço não dá conta de apresentar alguma resposta.
!100
Outra observação apresentada nas pesquisas de Hall, (1990, p. 13) é que: “[…] dentro
de nós há identidades contraditórias, empurrando em direções diferentes, de tal modo que
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”. Toda essa efervescência
identitária provoca crises em diferentes momentos da vida do indivíduo ou de um grupo social
e o valonguense, ainda que não entenda o significado de tais conceitos, vivencia também os
seus efeitos no cotidiano dentro dos limites do Sertão. E também vale dizer que a identidade
de um povo apresenta, via de regra, essas contradições com as quais os indivíduos que são
parte desses grupos sociais se debatem frequentemente. Mais adiante ele mostra que “[…] as
sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e
permanente” (idem, p. 14).
Na ambiência do Sertão, longe das discussões acadêmicas sobre temas para eles
complexos e até incompreensíveis, os valonguenses tocam sua existência de forma tida como
simples, provavelmente com pouca diferença do que viveram seus antepassados recentes.
Mesmo que ainda não tenham sido feitos levantamentos in loco acerca de sua identidade
enquanto povo, os dados apresentados aqui apontam pistas que podem ser relevantes para
outras investigações. Há indícios deixados em outras pesquisas de que desejam continuar a
existência no território que herdaram dos primeiros moradores, ou seja, usufruírem da
liberdade que têm, ao modo deles, sem muita interferência do governo em seu destino.
Para o Teólogo José Comblin (1998, p. 7), “a liberdade não é inata, não é expontânea.
É um dom de Deus e uma vocação que se busca com paciência e perseverança durante a vida
toda”. É através dessa liberdade que desfrutam da religião que abraçaram. Observando sua
prática religiosa, que é apontada nesse texto como segundo elemento construtor da identidade
daquele povo, Guimarães e Reis (2008, p. 177) perceberam que:
A igreja propicia formas de sociabilidade. As festas dos valonguenses são principalmente religiosas. Também há viagens para encontros entre grupos religiosos de outras localidades, alternativas para visitar outros lugares, divertir-se e conhecer pessoas.
Esse tipo de convivência observado na comunidade não parece mostrar-se como algo
alienante, senão como um espaço encontrado por esses descendentes de escravos para o
fortalecimento dos seus laços. E de acordo com o filósofo Roger Scruton (apud HALL, 1999,
p. 48):
!101
A condição de homem (sic) exige que o indivíduo, embora exista e aja como um ser autônomo e faça isso somente porque ele pode primeiramente identificar a si mesmo como algo mais amplo - como um membro de uma sociedade, grupo, classe, estado ou nação de algum arranjo ao qual ele pode até não dar um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar.
Aparentemente, essa intuição do autor tem validade para uma pequena comunidade,
como a encontrada no Valongo, onde, diante da situação de relativo isolamento, tal
identificação propicia uma coesão grupal para os indivíduos, fornecendo-lhe elementos
necessários ao bem estar.
Pesquisando o quilombo, a Antropóloga Cleidi Albuquerque (2008, p. 219),
apresentou em um artigo sobre a estética encontrada ali, uma percepção bastante pessoal.
Disse ela:
Na comunidade do Valongo não há um discurso nativo para a Estética como existe para a Religião, para o Trabalho ou para o Estudo. Mas quero aqui mostrar que lá existem, tanto em ações cotidianas como excepcionais, uma atitude de cuidado com coisas, situações. Mais ainda, há em relação a muitas dessas coisas e situações, um esmerado cuidado, um consistente e até prazeroso esforço que transcende a ações e atitudes meramente organizativas para a manutenção da própria vida, uma busca estética.
Essa atitude percebida como sendo de esmerado cuidado com as coisas e situações por
parte do cidadão valonguense, seria tão somente um comentário elogioso feito pela
pesquisadora, ou se refere a algo mais entranhado no jeito de ser do povo do Sertão? Mais
adiante ela afirma que “[…] esta postura não quer negar a existência de contradições,
confrontos, frustrações, conflitos, pois tudo isso é inerente a toda dinâmica social” (idem).
Então temos aí um elemento da identidade valonguense, ligado a uma estética simples, porém
carregada de cuidados com relação às coisas.
Observa-se, portanto, que o jeito de viver do povo valonguense se constitui num
minúsculo recorte de uma verificação mais ampla, percebida em outras partes, onde se
apresenta “uma articulação ‘saudável’, entre o modo de vida tradicional, às culturas ‘antigas’
e a industrial moderna” (ibidem, p. 222). Para que uma articulação assim seja feita e se mostre
válida, o pesquisador Lévi-Strauss indica caminhos a serem trilhados. Ele mostrou que:
Desde o renascimento, compreendeu-se que nenhuma civilização pode pensar sobre si própria se não dispuser de uma ou várias outras que lhe sirvam de comparação. Para conhecer e compreender sua própria cultura é necessário aprender a vê-la do ponto de vista do outro, confrontar nossos
!102
costumes e crenças com aquelas de outros tempos e lugares (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 80, apud ALBUQUERQUE, 2008, p. 225).
Nessa mesma direção, Schmitt, Turatti e Carvalho (2002, p. 4) dizem que “[…] esse
sentimento de pertença a um grupo e a uma terra é uma forma de expressão da identidade
étnica e da territorialidade, construídas sempre em relação aos outros grupos com os quais os
quilombolas se confrontam e se relacionam”. As relações dos valonguenses estão muito
ligadas, além daquelas existentes entre eles mesmos dentro do espaço comunitário, com os
seguintes grupos sociais: os vizinhos que habitam nas cercanias do território; os empregadores
de diversos deles na cidade de Tijucas; os visitantes ocasionais que passeiam no Sertão;
pesquisadores que os entrevistam para seus estudos; comunidades adventistas de outras
localidades que interagem com eles nos cultos e os líderes adventistas que prestam assistência
espiritual aos membros da Igreja. Não se verificou na pesquisa o contato deles com outros
povos quilombolas que existem em Santa Catarina nem se identificou também que exista, a
partir deles, contatos mais significativos com a sociedade próxima. Seriam indícios de
resquícios do isolamento original pretendido pelos fundadores? Outra hipótese é que haja um
receio velado por parte do grupo de que a sua cultura não seja vista como exótica pelos outros
que não compreendem o modo próprio que possuem de interpretar o mundo. Ou seja,
preferem que sua identidade fique restrita aos limites territoriais do Sertão? Novos
levantamentos poderão dar conta desta questão.
É provável que os esforços de valorização e preservação do jeito de vida encontrado
nos moradores do Valongo vá além do interesse que eles próprios tenham. Albuquerque
(2008, p. 225) apresenta uma dimensão maior do significado disso: “O valor que representa
uma cultura é bem mais profundo do que a mera preservação de sua identidade para si
mesma”. Nesse sentido cada pesquisa que se realiza trás consigo a importância de resguardar
essa pequena cultura que, tal qual bastião silencioso de valores ancestrais da liberdade e da
religião, construiu uma identidade única, provocadora de reflexões e estudos.
O interesse despertado pelos valonguenses encontra lugar também nos estudos oficiais
da Igreja Adventista. Michelson Borges, jornalista e um dos redatores da Casa Publicadora
Brasileira, maior editora do mundo adventista, é autor da obra - A chegada do adventismo ao
Brasil (Figura 22). Dos quatorze capítulos do livro, um deles tem como título: Valongo - Um
pedaço da África no Brasil, onde Borges (2000, p. 154) retrata importantes relatos acerca da
!103
comunidade quilombola, colocando-a no contexto dos primórdios do adventismo brasileiro.
Ele reforça o fato segundo o qual: “A mudança que se operou no Sertão do Valongo após a
chegada da mensagem adventista foi realmente profunda”. Ser parte importante da história de
uma Igreja que hoje conta no Brasil com mais de hum milhão e duzentos mil membros é
motivo de alegria para aquele povo, como testemunham os pesquisadores que se embrenham
em seu território em busca de informações para seus estudos.
Figura 22 - O Valongo na história do adventismo no Brasil
�
Fonte: BORGES, Michelson. A chegada do Adventismo ao Brasil. Tatuí. Casa Publicadora Brasileira. 1º ed. 2000. 221 p.
!104
É bem verdade que, como afirmou Sandra Duarte de Souza (2006, p. 22): “O
fenômeno da secularização tem redimensionado o lugar da religião na contemporaneidade,
que vai perdendo seu lugar de matriz significante das relações sociais, para assumir um status
menos nobre […]”. Apesar disso, em lugares como o Valongo, é exatamente a Religião que
continua emprestando à sua pequena sociedade os componentes significantes da vida, gerando
bem cultural, cuja manutenção passa a ser entendida como importante para a sociedade.
Albuquerque (2008, p. 225) percebeu que: “Toda e qualquer forma cultural significativa é um
bem local e, por isso mesmo, um tesouro para toda a humanidade. Ao desaparecerem,
pessoas, grupos, sociedades perdem suas identidades. E a humanidade perde seu Patrimônio”.
Florestan Fernandes (2013, p. 35) disse nas suas observações sociológicas, que “[…] a
sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a
responsabilidade de se reeducar e de se transformar para corresponder aos novos padrões e
ideais do ser humano […]”. No caso dos negros do Valongo, empurrados a um território
miserável, diante das circunstâncias postas pós-escravidão, escreveram um destino para eles
mesmos e que se tornou fonte de estudos pela relevância com a qual o fizeram.
Na cultura peculiar daquele povo estão presentes todos os componentes que
caracterizam sua identidade, onde a religião se destaca como definidora das diretrizes
coletivas do grupo e também dos indivíduos em particular. Através das trocas sociais que se
estabelecem dentro do espaço comunitário os cidadãos valonguenses estruturam sua
identidade com base nos valores em que acreditam, firmando vínculos emocionais que vão
além daqueles familiares que vivenciam. Mesmo se mantendo coesa, a sociedade valonguense
carrega em seu seio problemas semelhantes àqueles encontrados em quaisquer agrupamentos
humanos e existem mecanismos de estímulo e de punições para os seus membros (SERRETI,
2010). É exatamente dentro das características específicas encontradas naquela pequena
sociedade que habita sua riqueza. Lévi-Strauss (2003, p. 80, apud ALBUQUERQUE, 2008, p.
226) capta essa essência social quando diz:
Na era da mundialização, em que a diversidade externa tende a tornar-se cada vez mais pobre, torna-se urgente manter e preservar a diversidade interna de cada sociedade, gestada por todos os grupos e subgrupos humanos que a constituem e que desenvolvem, cada um, diferenças às quais atribuem extrema importância.
!105
Tal diversidade interna só pode ser percebida quando se olha de perto um determinado
grupo e quando se valoriza as especificidades encontradas.
No primeiro capítulo desse trabalho foram apresentados diversos estigmas
direcionados ao povo valonguense, especialmente pelos antigos moradores das cercanias do
Sertão. Goffman (1998) conta que foram os gregos os criadores da expressão estigma, usada
para indicar marcas feitas geralmente em criminosos e que denunciavam um comportamento
desonroso por parte de quem as carregava. Esses sinais eram conseguidos através de corte ou
mesmo fazendo uso do fogo e objetivavam avisar aos outros que o indivíduo que os possuía
era alguém marcado, poluído através de um ritual simbólico. A pessoa deveria ser evitada
pelos cidadãos honrados da sociedade. Ora, é importante apontar o fato de essa gente
valonguense, estigmatizada na vizinhança como “pretos”, “miseráveis”, “macacos”,
“preguiçosos” e outros termos de caráter pejorativo, ter conseguido, ao longo do tempo, não
apenas resistir a essas marcas estigmatizadoras, mas, sobretudo, ter construído uma identidade
que lhes causa orgulho. Parece certo inferir que essa construção é mérito deles mesmos e que
os recursos imateriais que possuíam, ligados aos valores da liberdade e da religião lhes
serviram como elementos facilitadores no processo de fortalecerem sua pequena comunidade
e legar às novas gerações de valonguenses uma cultura identitária que possa ser ampliada e
encontre um lugar adequado na desafiadora sociedade que surge no horizonte da história.
Stuart Hall (1999, p. 13) assegura que “a identidade plenamente unificada, completa,
segura e coerente é uma fantasia”. Isso parece evidente diante do analisado até aqui sobre o
tema. Nesse sentido, olhando-se para a comunidade do Valongo no presente, percebe-se que
ela está diante da complexa tarefa de assegurar os valores que continua defendendo como
viáveis para as suas lógicas de vida. Imaginar que as gerações do amanhã sustentarão o
diferencial construído por seus ancestrais é também uma fantasia, tal qual a citada por Hall
(1999) acerca de uma ilusória identidade não problematizada.
Como já foi referido anteriormente, o encadeamento dos conceitos de liberdade e
religião, pressupostos pela pesquisa como sendo os principais formadores da identidade da
comunidade quilombola do Valongo, não pode ser comprovado através de uma pesquisa de
caráter bibliográfico, entretanto, entende-se que, pelos dados que foram levantados nela,
pode-se dizer que esta é uma possibilidade que não deva ser descartada. A identidade do
valonguense é única, assim como é única também a identidade encontrada em cada grupo
!106
social. A validade deste levantamento se encontra especialmente no fato de que uma cultura
assim pode ser fonte de reflexões dentro do ambiente acadêmico e também fora dos seus
círculos, ou seja, na sociedade.
Uma narrativa apresentada por Cleidi Albuquerque (2008, p. 257), na época em que
realizou levantamentos para o IPHAN acerca da estética existente no Valongo, será válida no
sentido de acrescentar algo mais ao estilo percebido na essência daquele povo.
Conta Albuquerque:
Nos últimos encontros na comunidade, duas mulheres entrevistadas nos brindaram cantando muitos hinos que escolheram nos seus livros de cantos religiosos. Sentiam-se profundamente satisfeitas em cantar para nós, nos presenteando com um de seus bens mais valiosos. Isso nos pareceu que havíamos feito um vínculo com aquelas pessoas.
Cabe questionar o que está escrito acima. A isenção da pesquisadora foi cooptada
momentaneamente ao ser sensibilizada por um gesto que parece ter sido fruto de uma
espontaneidade carinhosa dessas mulheres e percebida como um presente imaterial oferecido?
O que a narrativa dessa atitude manifestada revela acerca da identidade dos valonguenses em
situações do cotidiano?
Uma outra história foi encontrada numa das pesquisas de Alícia Castells (2005, p.
432), que fez diversas incursões no Sertão e foi a organizadora do livro do IPHAN produzido
sobre eles. Ela captou, na fala de um dos moradores do Sertão, uma mostra do tipo de relação
que aquele povo tem para com o território onde vive: “[...] agora eu só digo que só vou sair
daqui da minha morada quando eu morrer e os outro levá pra rua, senão eu não saio”.
CONSIDERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Observou-se nesse capítulo que os quilombos continuam sendo lugares de luta pela
cidadania por parte de indivíduos historicamente legados à marginalidade pela sociedade
brasileira. Entre as pautas da causa quilombola na atualidade vê-se ainda a tensão entre o
reconhecimento necessário e o descaso muitas vezes encontrado na realidade. Enquanto
comunidade quilombola, o Valongo vai atravessando as primeiras décadas do século 21 como
espaço que continua despertando interesse em razão das características únicas dos seus
moradores. Foi visto que, ao longo das décadas, o senso de comunidade foi sendo reforçado a
!107
partir do ideal de liberdade de habitar uma terra sua e também da vivência religiosa, fato
marcante para o povo valonguense. Refletir sobre a liberdade a partir de ex-escravos e sobre
religião partindo-se de uma crença tida como impositora de muitas regras em suas práticas é,
de fato, algo relevante. Os recortes mostrados ofereceram algumas reflexões consideradas
pela pesquisa como importantes para somar-se à discussão acerca da possibilidade de
articulação entre os conceitos de liberdade e religião como construtores da identidade. Entre o
povo valonguense pode ser vista essa articulação de forma positiva e a partir da verificação do
fato naquele pequeno quilombo, podem ser levantados novos estudos sobre outros possíveis
lugares onde os elementos estudados apresentam-se como viáveis para um agrupamento
social. Essa pesquisa procurou chamar a atenção para a necessidade de preservação da cultura
do Valongo, assim como de outras que são exceções dentro da sociedade massificada.
Naquele ambiente simples e despretensioso, a pesquisa aponta para a existência de uma
comunidade que de certa forma é um contraponto silencioso, é verdade, mas substancial às
estruturas que formam o modo de vida da sociedade em geral. Entendendo que existe ali uma
saudável articulação entre liberdade e religião, esses elementos acabaram por construir uma
identidade válida para aquele povo e ponto de reflexão para essa e outras pesquisas. Até que
ponto o trinômio Liberdade, Religião e Identidade pode ser funcional para uma sociedade do
século 21 é um questionamento merecedor de pesquisas que possam oferecer, se não
respostas, mas reflexões interessantes aos estudiosos.
!108
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Toda a trajetória dessa pesquisa significou uma caminhada de aprendizados que
ocorreram em meio às inevitáveis tensões que caracterizam as empreitadas nas ciências
sociais.
Esse estudo propôs uma reflexão ao discutir os temas da liberdade e da religião
enquanto possíveis construtores da identidade valonguense, uma minúscula comunidade
quilombola de Santa Catarina, praticante da religião adventista.
Três aspectos principais, entre outros que foram analisados, podem ser sintetizados nas
considerações finais desse estudo:
Primeiro: foi um ideal de liberdade que provocou a gênese da comunidade
valonguense no final do século 19, quando as três famílias que a originaram se fixaram numa
terra sem valor, buscando invisibilidade em relação ao antigo opressor branco e, do outro
lado, sendo por esse também invisibilizado. O contexto anterior ao fato foi o horror do
modelo escravagista que perdurou por quase quatro séculos no país e cuja contestação maior
se dava em suas próprias entranhas, na formação dos quilombos, antigos espaços de liberdade
para negros que escapavam das garras dos seus senhores. Se houve uma liberdade oficial
cedida pelo Estado a partir da Lei Áurea, de 1888, ela não se traduziu, infelizmente, em uma
inserção desses negros na sociedade. Em todo o Brasil, pós-escravidão grandes massas de ex-
escravos foram marginalizados durante as décadas que se seguiram ao fim do escravismo.
Entretanto, apesar do cenário desfavorável e sofrendo com o preconceito ao redor, o povo do
Valongo solidificou-se enquanto comunidade, tendo o ideário de liberdade dos seus
fundadores como base de sua vivência ao longo do tempo. Por todo o território brasileiro são
encontrados, no presente, milhares de povos quilombolas e sua existência continua a desafiar
a agenda das políticas públicas do país. Discutir a temática da liberdade verificando o seu
funcionamento no presente em um grupo de descendentes de escravos que são praticantes da
religião adventista, uma igreja historicamente apegada ao rigor da lei, abre espaço para novas
discussões e estudos pois esse campo de pesquisa certamente apresenta uma relevância nas
ciências sociais.
!109
Segundo: a partir da década de 1930, o apego à religião junta-se à liberdade no
território do Sertão, trazendo um fato novo ao lugar e partir daí a prática do adventismo
passou a ser a característica principal dos valonguenses e torna o lugar um ambiente propício
para o estudo da junção do binômio liberdade/religião. A pesquisa apontou como importante a
maneira como um grupo de negros se inseriu numa igreja de brancos numa época marcada
pelo preconceito racial no Brasil. E mais: os adventistas de Santa Catarina ocupavam-se
naquele período em evangelizar os colonos alemães. Os documentos inéditos apresentados
nesse estudo mostraram esse grupo encontrando lugar em meio a esses povos de origem
européia. No mesmo período em que se dá a ascenção da superioridade ariana, nas entranhas
interioranas do Brasil, um grupo de negros convive no mesmo espaço de fé com os imigrantes
alemães. Os contornos da fé daquele povo ganharam consistência a ponto de atrair ao Valongo
pesquisadores das ciências sociais que buscaram estudar o significado da forte influência da
religião adventista entre seus moradores. Partindo do entendimento dos outros estudos
realizados no local e pelos materiais inéditos que foram aqui apresentados nas publicações da
Revista Adventista ao longo das décadas e de documentos oficiais da Igreja, essa pesquisa
pode afirmar que a religião é central para a vida da comunidade e que a sua prática naquele
lugar gerou coesão social, sendo elemento catalisador para a existência positiva da sociedade
valonguense. Sendo que o tema da religião não se esgota em estudos e permanece como
campo aberto a questionamentos mesmo no século 21, essa pesquisa entende que a
verificação do fato religioso na comunidade do Valongo carece de novas iniciativas de
pesquisa.
Terceiro: mesmo sendo conceitos que se tensionam entre si, há evidências de uma
coexistência harmoniosa entre liberdade e a religião dentro dos limites do território
valonguense. Na verdade, pelos levantamentos realizados, pode-se dizer que são exatamente
esses elementos que, juntos, constroem uma identidade para esse povo. Essa pesquisa ocupou-
se em apresentar a tríade liberdade/religião/identidade como sendo uma realidade viável para
os valonguenses ao longo do tempo, o que torna a comunidade um campo fértil para pesquisas
na área. A identidade única encontrada no Valongo foi inferida como sendo uma espécie
silenciosa de contracultura às lógicas existentes na sociedade capitalista. Sendo assim,
conclui-se que esse tipo de cultura mereça esforços no sentido de preservá-la e as pesquisas
acadêmicas se constituem em aliadas desse esforço. Por tudo o que foi levantado dentro dos
!110
limites de uma pesquisa de caráter bibliográfico, entende-se que a voz desse povo deva ser
mais ouvida através de uma metodologia de História Oral. Entre eles encontram-se ainda os
mais antigos, portadores da memória histórica do que aconteceu ali, e é preciso que essas
vozes sejam registradas, analisadas e interpretadas. É possível que naquele micromundo
escondido existam saberes que possam apontar caminhos sobre a plausibilidade de uma
sociedade conviver de forma pacífica com a liberdade e a religião, dando espaço para a
construção de uma identidade positiva dos seus membros.
Por fim, convém dizer que essa pesquisa entende ter cumprido a essência do seu
objetivo, o de apresentar uma reflexão, a partir da literatura disponível, os ideais de liberdade
que fundaram a comunidade do Valongo, o significado da prática da religião adventista para o
grupo e a forma como esses fatores se articulam para a construção da identidade valonguense.
Entretanto, o maior entendimento é o de que esse estudo está aberto e pode provocar outros
levantamentos que o questionem ou o ampliem, visto que o povo do Sertão do Valongo
prossegue em sua caminhada dentro do século 21 e continuará sendo alvo da incursão de
outros pesquisadores. Essa pesquisa soma-se a outras já existentes, sendo feita por um
pesquisador de origem adventista, trazendo contribuições à causa quilombola expandindo o
conhecimento e a reflexão sobre sua identidade e por vezes até rompendo com a
invisibilidade do povo valonguense.
!111
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Cleidi M. C. P. de. Estética em Sertão do Valongo. . In: CASTELLS, Alicia Norma Gonzalez de (Org.) et. Al; Ecos e Imagens do Patrimônio Imaterial: Inventário Nacional de Referências Culturais do Sertão de Valongo. 1º ed. Florianópolis: Editora Insular. 2008. cap. 9, p. 216 a 262.
ALCÂNTRA, C. S. e OLIVEIRA-SILVA, G. M. Educação protestante e cultura afro- descendente: uma relação conturbada. Revista Eletrônica de Estudos e Pesquisa do Protestantismo (NEPP) da Escola Superior de Teologia. São Leopoldo, RS. Volume 17, p. 37-56, set. a dez. 2008. Disponível em: <http://www3.est.edu.br/nepp>. Acesso em: 12 mar. 2004.
ARRUTI, José Maurício Andion. A emergência dos "remanescentes": notas para o diálogo entre indígenas e quilombolas. Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, out. 1997. Disponível em: < h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000200001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 3 abr. 2013.
ARRUTI, José Maurício P. Andion. Mocambo: antropologia e história do processo de formação quilombola. Bauru, São Paulo: Edusc, 2006. 370 p.
ATAS da Comissão Diretiva da Associação Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1925 - 1935.
ATAS da Comissão Diretiva da Associação Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1936-1938.
ATAS da Comissão Diretiva da Associação Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1939 - 1941.
BECHARA, Wady. “Esta é a nossa festa...” Revista Adventista. Santo André, ano 48, p. 31, jan. 1954. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1198&s=38776365>. Acesso em: 29 ago. 2013.
________. Inauguração do Templo de Ribanceiras. Revista Adventista. Santo André, ano 48, p. 11, dez. 1953. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1197&s=2277851191> . Acesso em: 28 ago. 2013.
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal. Porto Editora, 1994. 335 p.
BORGES, Michelson. A chegada do Adventismo ao Brasil. Tatuí. Casa Publicadora Brasileira. 1º ed. 2000. 221 p.
!112
_________. Entrevista: Vanderlei Ricken: Missionário na própria terra. Revista Adventista. Tatuí, ano 98, n 3, p. 3 e 4, mar. 2003. Disponível em: <http://acervo.revista adventista.com.br/cpbflip.cpb?ed=2219&s=1011515175>. Acesso em: 6 de set. 2013.
BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Morais; AMADO, Janaina. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1998. p. 183-191.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas emendas Constitucionais nºs 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto legislativo no 186/2008 e pelas emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/1994. – 35a. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, edições Câmara, 2012. 454 p.
BRASIL. Decreto 4887/03. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil%5F03/decreto/2003/D4887.htm> Acesso em: 14 jun. 2014.
CALHEIROS, Felipe P.; STACTLER, Hulda Helena C. Identidade étnica e poder: os quilombos nas políticas públicas brasileiras. Rev. Katál. Florianópolis: v. 13, n. 1, p. 133-139, jan. a jun. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/16.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2015.
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962. 337 p.
CARNEIRO, Edison. Quilombo dos Palmares 1630 - 1695. 1. ed. São Paulo: Editora Brasiliense LTDA, 1947. 247 p.
CARVALHO, Luzia Alves de. A condição humana em tempo de globalização: a busca do sentido da vida. Revista Visões. 4a Edição, n. 4, vol. 1, jan. a jun. 2008. Disponível em: < h t t p : / / w w w . f s m a . e d u . b r / v i s o e s /ed04/4ed_A_Condicao_Humana_m_Tempo_De_Globalizacao_Luzia_Alves.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2015.
CASTELLS, Alicia Norma González. (org). Ecos e Imagens do Patrimônio Imaterial: Inventário Nacional de Referências Culturais do Sertão de Valongo. 1a. ed. Florianópolis: Iphan / 11ª Superintendência Regional, 2008. v. 1. 296 p.
________. Políticas de patrimônio: entre a exclusão e o direito à cidadania. O público e o privado. Florianópolis, SC. n. 10, jul. a dez., p. 63-77. 2007. Disponível em: <http://naui.ufsc.br/files/2010/09/mapps_5-alicia- norma_1321.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2013.
________. A cor do lugar: o Sertão do Valongo como patrimônio cultural. Revista de Antropologia. Florianópolis, SC. v. 8, n. 1, p. 417-439, 2006. Disponível em: <https://
!113
periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/ 18323>. Acesso em: 19 abr. 2013.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 3a. ed. Tradução: Ephrain Ferreira Alves. Petropólis: Ed. Vozes, 1998. 351 p.
________. A escrita da história. Trad. Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 345 p.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez Editora, 2001.
COMBLIN, José. Perplexidades de quem educa. A educação cristã forma para a liberdade? Vida Pastoral. Jan. a fev. p. 7-12, 1998. Disponível em: <http://vidapastoral.com.br/artigos/temas-sociais/perplexidades-de-quem-educa/> Acesso em: 3 dez. 2014.
COSTA, Joaquim. Sociologia da Religião: uma breve introdução. Aparecida: Editora Santuário, 2009. 127 p.
COUTINHO, J. J. da Cunha Azeredo. Obras econômicas. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1966. 318 p.
COUTINHO, Maria C.; KRAWULSKI, Edite; SOARES, Dulce H. P.. Identidade e trabalho na contemporaneidade: repensando articulações possíveis. Psicologia & Sociedade. Florianópolis: 19º Edição Especial 1, p. 29-37, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19nspe/v19nspea06.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2014.
CLAXTON, Gui. O Desafio de Aprender ao Longo da Vida. Ed. Artmed. Porto Alegre. 2005. 286 p.
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História Oral e narrativa: tempo, memória e identidade. Revista História Oral, v. 6, p. 9-25, 2003. Disponível em: <http://www.revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=article&op=download&path%5B%5D=62&path%5B%5D54> Acesso em: 5 dez. 2014.
DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Ed. FGV. 1977. 1421 p.
ENGEMANN, Carlos. De Laços e de Nós: constituição e dinâmica de comunidades escravas em grandes plantéis do sudeste brasileiro do Oitocentos. 2006. 251p. Tese (Doutorado em História Social). Universidade Federal do Rio de Janeiro: 2006.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes Editora. 1992. 180 p.
FARIA, Ederson de; SOUZA, Vera L. T. de. Sobre o conceito de identidade: apropriações em estudos sobre formação de professores. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. São Paulo, vol. 1, p. 35-42, jan. a jun. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pee/ v15n1/04.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2014.
!114
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. 2. ed. São Paulo: Global Editora. 2007. 313 p.
__________. Mudanças sociais no Brasil. 4a. ed. São Paulo: Global Editora. 2008. 324 p.
__________. A integração do negro na sociedade de classes. vol. 1. 5a. ed. São Paulo: Editora Globo. 2013. 439 p.
FREITAS, Décio. Palmares. A guerra dos escravos. 5a. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto Editora e Propaganda Ltda, 1984. 181 p.
FREITAS, Ludmila Gomiles. Princípios Jurídicos na Colonização Ibero Americana: O Debate sobre a Escravidão Indígena. V Congresso Internacional de História. 21 a 23 de setembro de 2011. p. 2650 a 2659. Disponível em: <http://www.cih.uem.br/anais/2011/trabalhos/128.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2015.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. 46ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2002. 674 p.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. São Paulo: Ed. Circulo do Livro. 1933. 587 p.
FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Editora L&PM Pocket, 2010. 139 p.
GEERTZ, Clifford. A religião como sistema cultural. In: A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. Parte III, capítulo 4. P. 65-91.
GOFFMAN, Erving. Estigma - notas sobre manipulação da identidade deteriorada. 4a. ed. Tradução: Mathias Lambert. Guanabara Koogan. 1988. 158 p.
GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira, SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. Vol. 1. Autêntica, 1998. 118 p.
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. A República de 1889: utopia de branco, medo de preto (a liberdade é negra; a igualdade, branca e a fraternidade, mestiça. Contemporânea. Florianópolis, SC. n. 2, p. 17-36, jul. a dez. 2011. Disponível em: <http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/34/17>. Acesso em: 23 maio. 2013.
__________. Cidadania e retóricas negras de inclusão social. Lua Nova, São Paulo: n. 85, p 13-40. 2012. Disponível em: <http:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=67323263002>. Acesso em: 15 out. 2014.
GUIMARÃES, Ana C R.; REIS, Maria J. Práticas de cura e referências culturais: uma análise das representações sobre saúde e doença de um grupo negro, rural e adventista. In: CASTELLS, Alicia Norma Gonzalez de (Org.) et al. Ecos e Imagens do Patrimônio Imaterial: Inventário Nacional de Referências Culturais do Sertão de Valongo. 1a. ed. Florianópolis: Editora Insular. 2008. cap. 7, p. 171-186.
!115
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 3º ed. Rio de Janeiro: Ed DP&A. Tradução: Tomaz T. da Silva e Guaciara L. Louro. 1999, 102 p.
HERINGER, Rosana. Mapeamento de Ações e Discursos de Combate às Desigualdades Raciais no Brasil. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 23, n. 2, p. 1-43, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eaa/v23n2/a03v23n2.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2015.
IANNI, Octávio. A Sociologia de Florestan Fernandes. Estudos Avançados. São Paulo, vol. 10, n. 26, jan. a abr. p. 25-33, 1996. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v10n26/v10n26a06.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2015.
JAPIASSU, Hilton. Ciência e Religião: articulação dos saberes. In: SOTER (org.). Religião, ciência e tecnologia. São Paulo: Soter/Paulinas, 2009. p. 122.
JORGE, Amanda L.; BRANDÃO, André. Comunidades quilombolas, reconhecimento e proteção social. Vértices. Campos dos Goytacazes/RJ: v. 14, n. Especial 1, p. 83-101, 2012. Disponível em: <http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/1809-2667.20120014/1368>. Acesso em: 7 jan. 2015.
KEHL, Renato. A cura da fealdade. Eugenia e medicina social. São Paulo: Monteiro Lobato Editores, 1923. 506 p.
KREUTZ, Lúcio. Escolas étnicas no Brasil e a formação do Estado Nacional: a nacionalização compulsória das escolas dos imigrantes (1937-1945). POIÉSIS. Tubarão, v. 3, n. 5, p. 71-85, Jan./Jun. 2010. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/viewFile/527/527>. Acesso em: 6 maio 2015.
LEITE, Ilka Boaventura.Negros no Sul do Brasil. Campinas: ed. da UNICAMP, 2003.
_______. Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. Etnográfica, v. 4, n. 2, p. 333-354, 2000. Disponível em: <http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N2/Vol _iv_N2_333-354.pdf> . Acesso em: 7 dez 2014.
_______. O projeto político quilombola: desafios, conquistas e impasses atuais. Revista Estudos Feministas, v. 16, n. 3, p. 965-977, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v16n3/15.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2015.
LEMOS, Carolina Teles. A (re)construção do conceito de comunidade como um desafio à sociologia da religião. Estudos de Religião, v. 23, n. 36, p. 201-216, jan.jun. 2009. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/ index.php/ER/article/viewArticle/881>. Acesso em: 14 abr. 2014.
LIMA, Durval Stockler de. Pelo Estado de Santa Catarina. Revista Adventista. Santo André, v 33, n. 10, p. 12, out. 1938. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1029&s=60115000>. Acesso em: 24 ago. 2013.
LIMA, Wendel. Comunidade de fé. Tatuí, Revista Adventista. n 1263, ano 108, p. 23. ago. 2013. Disponível em: <http://acervo.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?
!116
ed=2277&s=3091443664>. Acesso em: 24 ago. 2013.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: EDU, 1986.
MATTOS, Hebe. Políticas de reparação e identidade coletiva no meio rural: Antonio Nascimento Fernandes e o quilombo São José. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: n. 37, p. 167-189, jan. a jun. 2006,. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2256/1395>. Acesso em: 14 jan. 2015.
________. Remanescentes das comunidades dos quilombos: memória do cativeiro e políticas de reparação no Brasil. Revista USP, n. 68, p. 104-111, 2006. Disponível em: <http://www.usp.br/revistausp/68/09-hebe-mattos.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2015.
MATTOSO, Kátia Queiroz. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1982. 267 p.
MOURA, Clóvis. Quilombos: Resistência ao escravismo. 1. ed. São Paulo: Editora Ática S.A. 1989. 94 p.
OLIVEIRA, Irene Dias de. Religião: força propulsora das comunidades afro- brasileiras. Revista de Teologia e Ciências da Religião. Ano VI, n. 6, dez. 2007. Disponível em: <http://www.unicap.br/revistas/teologia/arquivo/artigo % 203.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2014.
OLIVEIRA FILHO, José Jeremias de. Formação histórica do movimento adventista. Estudos Avançados. São Paulo: vol 18, n. 52, set. a dez. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142004000300012>. Acesso em: 18 ago. 2014.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Os (des)caminhos da identidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS). vol. 15, n. 42, fev. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v15n42/1733.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2015.
PADILHA, Lúcia Maria de Lima. Comunidades Quilombolas brasileiras na perspectiva da história da educação: estado da arte. Projeto financiado pela Fundação Araucária. 2012. Disponível em: <http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornad a11/artigos/4/[email protected]>. Acesso em: 14 set. 2014.
PIEDRA, Arturo. A Evangelização Protestante na América Latina: análise das razões que justificaram e promoveram a expansão protestante. Vol. 2. Tradução: Roseli Schrader Giese. São Leopoldo, RS: Ed. Sinodal, 2008. 232 p.
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos. Rio de Janeiro: vol. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. Disponível em: <http://reviravoltadesign.com/080929_raiaviva/info/wp-gz/wp-content/uploads/2006/12/memoria_e_identidade_social.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2015.
PORTELLI, Alessandro et al. O que faz a história oral diferente. Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História. Tradução: Maria Therezinha Janine Ribeiro. v. 14. fev 1997. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/
!117
viewFile/11233/8240>. Acesso em: 15 ago. 2014.
PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA, p. 9.
RICKEN, Wanderlei. Revista Adventista. Tatuí: ano 98, n 3, p. 3-4, mar. 2003. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=2219&s=60115000>. Acesso em: 6 set. 2013.
__________.Revista Adventista. Tatuí: ano 99, n 12, p 35, dez. 2004. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1891&s=60115000>. Acesso em: 8 out. 2013.
__________. Revista Adventista. Tatuí: ano 98, n 3, p. 3-4, mar. 2003. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=2219&s=60115000>. Acesso em: 6 set. 2013.
RITTER, Germano. Pelo Estado de Santa Catarina. Revista Adventista. Santo André: v. 33, n. 10, p. 7-8, out. 1938. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1014&s=72516619>. Acesso em: 24 ago. 2013.
__________. A missão de Paraná e Santa Catarina. Revista Adventista. Santo André, v. 33, p. 9, nov. 1938. Disponível em: <http://www.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1015&s=60115000>. Acesso em: 29 ago. 2013.
RODRIGUES, Vera. Programa Brasil Quilombola: um ensaio sobre a política pública de promoção da igualdade racial para comunidades de quilombos. Cadernos Gestão Pública e Cidadania. São Paulo, v. 15, n. 57, p. 262-278. 2010. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/article/view/3258> Acesso em: 21 abr. 2014.
RUSSELL, Bertrand. Caminhos para a Liberdade: Socialismo, Anarquismo e Sindicalismo. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1977. 186 p.
SANTOS, Clenia de Jesus Pereira dos. A escola como espaço privilegiado para a construção da identidade negra e afrodescendente: um estudo de caso da Unidade Integrada de Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira. 2012. 373f. Tese (Doutorado em Ciências da Educação) - Universidade da Madeira, Portugal: 2012.
SARLO, Edilmar da S.; DUARTE, Gerusa M. Sertão do Valongo: geografia de um espaço quilombola. In: CASTELLS, Alicia Norma Gonzalez de (Org.) et. al,. Ecos e Imagens do Patrimônio Imaterial: Inventário Nacional de Referências Culturais do Sertão de Valongo. 1º ed. Florianópolis: Editora Insular. 2008. cap. 8, p. 188 - 215.
SCHMITT, A.; TURATTI, M. C. M.; CARVALHO, M. C. P. Atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas definições teóricas. Ambiente & Sociedade - Ano V, n. 10, 1º Semestre 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/ n10/16889.pdf>. Acesso em: 18 maio 2013.
SCHUNEMMANN, Haller. A inserção do Adventismo no Brasil através da comunidade
!118
alemã. Revista Estudos em Religião. n. 1, p. 27-40, 2003. Disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv1_2003/p_schune.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013.
SERRETI, André Pedrolli. A religião e a ordem social: breves considerações. Revista Espaço Acadêmico. Ano X, n. 111, ago. 2010. Disponível em: < http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/9938/5844 >. Acesso em: 11 dez. 2014.
SEYFERTH, Giralda. Identidade étnica, assimilação e cidadania: a imigração alemã e o Estado brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 9, n. 26, p. 103-122, 1994. Disponível em: <http://www.igtf.rs.gov.br/wpcontent/uploads/2012/10/IDENTIDADE-ÉTNICA.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.
SILVA, E. A.; SOUZA, S. C. de. Ação afirmativa para comunidades remanescentes de quilombo: alcances e limites. II CONINTER - Congresso Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. Belo Horizonte, 8 a 11 de outubro de 2013. Disponível em: <www. 2coninter.com.br/artigos/pdf/760.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2014.
SILVA, Francisca C. O. da. A construção social de identidades étnico raciais: uma análise discursiva do racismo no Brasil. 2009. 141f. Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade de Brasília, Instituto de Letras. 2009.
SILVA, Rita de Cássia Maraschin. Trabalho das Mulheres no Quilombo do Valongos/ Tijucas-Santa Catarina. Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa identidade! da Faculdades EST. Vol. 15, n. 1, p. 76-84. 2010. Disponível em: <http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/viewFile/23/41>. Acesso em: 15 jun. 2013.
SILVA, Paulo Sérgio da. Quilombos do Sul do Brasil: movimento social emergente na sociedade contemporânea. Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa identidade!da Faculdade Est. São Leopoldo, RS, v. 15, n. 1, jan-jun. 2010. Disponível em: <http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade>. Acesso em: 6 jan. 2015.
SOUZA, Sandra Duarte de. Trânsito religioso e reinvenções femininas do sagrado na modernidade. Horizonte: v. 5, n. 9, p. 21-29, dez. 2006. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/476/494. Acesso em: 13 jan. 2015.
SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Em nome da raça: a propaganda eugênica e as ideias de Renato Kehl nos anos de 1910 e 1920. Revista História Regional. vol. 11 (2), p. 29-70, Inverno 2006. Disponível em: <http://revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/ 2230/1712>. Acesso em: 21 set. 2014.
TEIXEIRA, Vera Iten. De Negros a Adventistas, em busca de salvação: estudo de um Grupo Rural de Santa Catarina. 1990. 104 p. Dissertação (Mestrado em Antropologia Cultural) - Universidade Federal de Santa Catarina, UNIFESC, 1990.
WEBER, Max. Sociologia das Religiões. São Paulo: Ícone Editora, 2010. 112 p.
WEIDUSCHADT, P; SOUZA M. T.; C. R. BEIERSDORF. Afro-pomeranos: entre a Pomerânia lembrada e a África esquecida. Identidade! São Leopoldo, RS. vol 18, n. 2, p.
!119
249-263, 2013. Disponível em: <http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/view/1019>. Acesso em: 14 out. 2014.
!120
REFERÊNCIAS IMAGÉTICAS
Imagem 1 Leilão de escravos Fonte: Silva apud Vitorino (2000, p. 8);
Imagem 2 Mapa de localização do Sertão do Valongo Fonte: Sarlo e Duarte (2008, p. 190);
Imagem 3 Registros dos votos administrativos adventistas entre 1925 e 1941 preservado nos escritórios da Igreja Fonte: Foto do acervo do pesquisador
Imagem 4 Índice das Atas da Comissão Diretiva Adventista com versão em alemão. Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1925-1935;
Imagem 5 Pedido de folhetos em alemão em 1932Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1925-1935;
Imagem 6 Pedido de livros em alemão em 1935. Fonte: Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1925-1935;
Imagem 7 Suspensão de publicação alemã em 1938. Fonte: (Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1936-1939)
Imagem 8 Eleição de líder valonguense para Assembléia da Igreja em 1939 Fonte: (Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1939-1941)
Imagem 9 Eleição de líder valonguense para Assembléia da Igreja em 1941 Fonte: (Atas da Comissão Diretiva da Assoc. Catarinense da IASD. 1939-1941)
Imagem 10 Umas das 28 casas onde moram os quilombolas valonguenses. Construção de madeira. Fonte: Acervo do pesquisador.
Imagem 11 Primeira Igreja do Valongo, construída em 1962. Fonte: Acervo do pesquisador.
Imagem 12 Igreja Adventista do Valongo, que se ergue no centro do território. Construção de alvenaria. Fonte: Acervo do pesquisador.
Imagem 13 Primeira menção ao valonguenses da Revista Adventista. Fonte: Revista Adventista, outubro de 1938, p. 8.
Imagem 14 Batismos de valonguenses noticiados na Revista Adventista. Fonte: Revista Adventista, outubro de 1938, p. 12
Imagem 15 Valonguenses em meio a outros adventistas. Fonte: Revista Adventista, novembro de 1938, p. 9.
Imagem 16 Entusiasmo dos valonguenses ressaltados na Revista Adventista. Fonte: Revista Adventista, novembro, 1953, p. 11
Imagem 17 Foto de destaque dos valonguenses. Fonte: Revista Adventista, novembro, 1953, p. 11;
Imagem 18 Elogio aos valonguenses na Revista Adventista. Fonte: Revista Adventista de Janeiro de 1954, p. 31;
!121
Imagem 19 Entrevista com missionário que atuou no Valongo. Fonte: Revista Adventista, março 2003, p. 3 e 4.
Imagem 20 Longa reportagem na Revista Adventista sobre o povo do Valongo. Fonte: Revista Adventista, agosto 2013, p. 23 a 25;
Imagem 21 Capa do livro publicado pelo IPHAN sobre o Valongo;
Imagem 22 O Valongo na história do adventismo no Brasil.