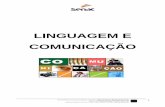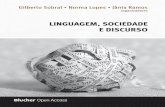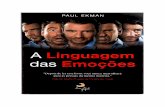Design de Relações e a Linguagem dos Jogos Eletrônicos
Transcript of Design de Relações e a Linguagem dos Jogos Eletrônicos
animaDesign de Relações e a Linguagem dos Jogos Eletrônicos
LEONARDO SOUZA DE LIMA
Projeto de Conclusão de Curso apresentado à Banca Examinadora da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho“ como exigência para obtenção do título de Baicharel em Desenho Industrial – desenvolvido sob a
orientação do Prof. Dr. Dorival Campos Rossi
Bauru
2005
PIPOL | Projetos Integrados de Pesquisa On Line
�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
Introdução
Talvez o grande problema contemporâneo esteja na discrepância entre os dis-
cursos e as realidades a eles referidas. Não apenas as grandes crises morais, crise
dos valores, mas também uma conturbação cada vez maior entre o espírito e a
matéria; a bem da verdade, este é um grande problema desde que as primeiras
filosofias começaram a buscar a essência do ser. Como nos lembra Guatarri,
o pensamento clássico mantinha a alma afastada da matéria e a essência do
sujeito afastada do corpo, enquanto os marxistas opunham as superestruturas
subjetivas às relações de produção infra-estruturais. (1993, p. 177) Não acredi-
tamos que em algum momento esta problemática relação esteve mais próxima
de alguma solução, entretanto verificamos que mudanças significativas foram
produzidas pela ascendência da informação como moeda de troca da sociedade
contemporânea. Ora, esta ascensão traz mudanças fundamentais às estruturas
de poder e estruturas do saber, interferindo sobremaneira na percepção de es-
paço e tempo dos seres humanos, mudanças em sua realidade psíquica, emo-
cional e cognitiva, quer consideremos estas individual ou coletivamente, mas
sempre comprometida com a apropriação intelectual dos objetos externos – o
que chamamos, sumariamente, subjetividade.
Não que os discursos tenham se desgarrado da realidade, mas, indubitavel-
mente, multiplicaram-se. Penosa tarefa daquele que se atreve a colar tantos frag-
mentos, com todas essas memórias resistentes difundidas por todos os cantos.
Com razão reclamam aqueles que desgostam ou repugnam a fragmentariedade.
Por outro lado, ao falar em sentido único mesmo o senso comum, até o mais
parvo, consegue escutar o tilintar do cobre no fundo da caixa-forte. Não que
em algum momento da modernidade se acreditasse na “unificação” dos valores,
ou na existência de um Bem absoluto ou universalmente válido. Pelo contrário,
a suposição da existência de uma pluralidade incontornável de padrões éticos
elimina cabalmente qualquer conjunto de princípios que tenha por pretensão
corporificar um ideal de plenitude moral. Todavia, a pluralidade de valores não
implica numa maior autonomia na produção de subjetividade ou da ação criado-
ra a esta subjacente. Talvez, em nenhum outro tempo os equipamentos coletivos
�
de subjetivação foram tão sutis: nossos objetos e maquinas nos permitem uma
independência cada vez maior, no entanto caímos quase sempre no mesmo por
um exercício de vontade. Mas, vontade de quem? A mais dura tarefa em nossos
tempos, parece, desejar. É fato que nossa consciência faz os desejos repousarem
sobre os objetos. Desejamos sem consciência alguma, mas é esta que faz dos ob-
jetos, objetos de desejo. Ora, estes objetos são frutos da determinação da subje-
tividade. É produto dos entrançamentos extremamente complexos das técnicas,
das estruturas de poder, da forma de constituição do saber. Complicada posição,
e por vezes odiosa, daquele que tem por oficio produzir objetos.
Nossos objetos, entretanto, não são mais os mesmos. São produtos da subje-
tividade ainda, mas sua constituição é radicalmente diferente do que era antes.
“Agora os objetos me percebem” escreveu Paul Klee nos seus Cahiers. A tradi-
cional polaridade do processo cognitivo, constituída de um sujeito indagativo
e um objeto inerte, foi estremecida pelas novas propriedades conferidas aos
objetos: sensíveis e reagentes, estes objetos não podem mais ser tomados como
inertes. Que sobre estes objetos recaia também o desejo, não contestamos. Con-
tudo, averiguamos que este atua de forma totalmente diversa. Não mais um
repouso consciente num objeto de desejo, mas uma atividade volitiva, question-
ante, por vezes afetiva, que esquadrinha a superfície móvel, contrátil e vibrante
do objeto. A tarefa de produzir de objetos, e a própria produção de subjetividade,
deve agora dar conta das relações que se tecem entre a inteligência humana e
inteligência não-humana.
Objeto pós-industrial, que funciona sob a força de um programa, é o que
Flusser designou como aparelho, um brinquedo que simula um tipo de pensa-
mento, que permuta símbolos contidos em seu programa. Objeto para jogar,
jogo no qual o homem tenta esgotar o programa, joga contra ele a fim de desco-
brir suas manhas. O sujeito que manipula tal objeto não trabalha; joga. Não é o
homo faber, mas o homo ludens.
Estes objetos contemporâneos são feitos para “brincar”. Mas um dentre eles
se destaca neste intuito, na medida em que, ao contrário de todos os outros,
inscreve-se apenas na memória do jogador, só serve para ser jogado e não tem
nenhum objetivo além deste. Denomina-se tal aparelho videogame, jogo em
�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
que se manipulam eletronicamente imagens sensíveis num monitor de vídeo.
Este objeto, como produto da subjetividade humana, parece-nos extremamente
característico de nosso tempo: informático, sem distinção de cópia ou original,
lúdico, estético, agressivo e potencial.
A característica fundamental desses objetos desenha-se em sua potencia de
ação, em agência. Mas um agir passional, duma contemplação aprofundada que
anima toda uma busca. Como função significante, estes objetos encerram sen-
tido, isto é, eles podem ser significados, mas, mais profundamente, realiza uma
integração de signos, de ordem intuitiva e imediata pela razão. Busca lúdica,
cujo fim é dado nela mesma, que desenha uma navegação travessa (transversal,
mas também brincalhona e irrequieta) e, de certo modo, selvagem. Estes objetos
constituem focos virtuais, objetos virtuais, objetos para nossa contemplação
aprofundada, desejante, extremamente passionais.
Por esta natureza, dizemos que estes objetos não pertencem ao espectro co-
mum da representação, não podem ser julgados com relação sua semelhança,
não reproduzem um original. O original não existe. Entretanto, quem brinca,
“representa”, desempenha um papel, usa de máscaras e figura com um esplen-
dor que faria qualquer suposto original empalidecer, ruborescer-se diante da
perversão de qualquer possível cópia. Um cow-boy brincado é a reminiscência
gloriosa do cow-boy. É sob esta forma que a representação se apresenta nestes
brinquedos e, ainda, como resultado externo.
Objetos tão paradoxais, agressivos e passionais, mudam nossa forma de se re-
lacionar com o mundo. Certamente, lembrando Flusser, nada alteram no mundo,
mas modifica o homem; nada produzem senão signos. Tão logo, a produção
de subjetividade não é mais a mesma, e para se relacionar com estes objetos
é necessário um ato projetual que compreenda as novas dimensões comunica-
tivas e reagentes dos objetos. O design transfigura-se num design de relações,
um design tão transversal quanto a agência destes objetos, um Transdesign,
como denomina Rossi. Pautando-se na interatividade entendida como função da
linguagem, na ação do signo, compreendendo o deslocamento em séries deste
como a essência da linguagem e a hiperdiversidade, o Design de Relações busca
a compreensão da noção de projeto-processo-produto transladada para a dimen-
�
são do imaterial e do virtual.
Este outro design avança sobre as barreiras levantadas pelo marketing ao
verdadeiramente diverso. Nenhuma preocupação com a reprodução das imagens
abala este design, que se estremece com a criação, enlouquecida, de imagens
sem referente. Deleuze nos participa que o pensamento moderno nasce da falên-
cia da representação, assim como da perda das identidades. (DELEUZE, 1988,
p.16) Isto nos indica, certamente, que as fundações ocidentais que ancoravam
pensamento à representação foram chacoalhadas. Mas também nos dá indícios
para uma busca, signos para um jogo na turbulenta fronteira entre sujeito e
objeto.
O terreno híbrido para o qual os videogames apontam nos incitam a novas
maneiras de relacionar os signos. Aparelho estético, apropria-se da linguagem
desenvolvida pelas mídias que o precedem na dimensão histórica. Funde-as ao
jogo. Aparelho de simulação e que simula outros aparelhos. O videogame é um
objeto virtual por excelência.
Em nosso estudo sobre estes surpreendentes objetos, focamos a relação
homem-máquina na busca pelas capacidades expressivas destes, no que se
refere ao seu projeto de Design. Assim, não buscamos melhor delimitar as fron-
teiras entre o sujeito e seu objeto, entretanto, nos interessa o que faz o primeiro
inclinar-se sobre o segundo, e em que medida o segundo tende a responder o
primeiro. Acreditamos, que apesar da distinção entre sujeito e objeto ser com-
pletamente racional, o que imprime o movimento nesta relação não pode passar
pelo crivo da razão. Há um poder de busca no homem, algo que lhe impele para
fora de si, mesmo que na busca de si mesmo. Chamamos tal força desejo, sob o
risco de não fazer jus, nem a esta força ou ao termo.
O design coloca objetos sobre o mundo. Não um objeto qualquer, mas um
objeto estético. Desta forma colabora na construção da subjetividade – ou a con-
turba. Contudo, não é o design um produto da subjetividade? Não é o design um
agenciamento de paixões? “Defini-se que design é desejo, e pronto!”.1 O design,
sob este prisma, escapa ao domínio da representação. Entretanto, como tudo
o que escapa à representação, não nos deixa, não desiste de nos assolar. Pelo
1. Dorival ROSSI, Trasndesign, p. 43. – a afirmação é feita sobre a fundamentação etimoló-gica do termo, entretanto os fundamentos filosóficos são mais contundentes.
�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
contrário, nos coloca questões e problemas, para quais as respostas e soluções
são passageiras demais.
10
Subjetividade e objetos virtuais
Se nossos objetos, principalmente os objetos tecnológicos, não nos surpreen-
dem como antes – afinal, eles são tão corriqueiros e já se entranharam em nosso
cotidiano – não podemos dizer, entretanto, que não nos deixam ainda confusos.
A hesitação diante desses objetos é sintomática das questões levantadas em
ocasião da aquisição de capacidades interativas e sensíveis por estes – o objeto
adquiriu uma dimensão ativa, mudando substancialmente seu estatuto. O su-
jeito, depositário de direito da ação é agora confrontado por um objeto agente
e provocante, que não se reduz apenas a alvo de uma ação, mas que procura
também seus alvos e que nos procura como alvos. Um objeto dinâmico, um
objeto de potência.
Classicamente, definimos sujeito e objeto de forma recíproca, onde cada um
dos termos coloca-se em sentido oposto à ação designada pelo outro: o sujeito,
portador da ação potencial, e o objeto, o alvo ou foco da ação. Para o mais geral
dos casos, um sujeito, seja qual for sua natureza, é um sujeito cognoscente que
defronta-se com um objeto, seja qual for sua natureza, objeto do conhecimento.
Enquanto o objeto manifesta-se perceptivamente a um sujeito ou assombra-lhe
a memória, com efeito, o afeta, este irá exercer sobre aquele um ato cognitivo,
ou ainda imprimir-lhe suas paixões e/ou ações. Obviamente, essas designações
não esgotam, nem de longe, as relações entre sujeito e objeto, apenas limitam
ambos por uma relação de contrariedade ou oposição, facilmente subvertida: já
não é também comum idéia que um sujeito é objeto de um outro sujeito? Deve-
mos levar em conta que a reciprocidade sobre a qual definimos sujeito e objeto
implica também numa simultaneidade, isto é, no desenvolvimento autônomo
de cada uma das séries implicadas na relação. Tanto um quanto outro, enquanto
“síntese individual” ou paralela, desenrolam-se e implicam-se sobre outros con-
ceitos, tornando o escopo da relação um eterno além, mas nos colocam, tam-
bém, sempre a pergunta: a borda já não teria sido transposta? Sujeito e objeto,
como termos complementares, propõem, antes de designarem categorias, uma
relação, ou melhor, um problema.
O desenvolvimento desse problema deve nos indicar não os limites, ou uma
11AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
clara concepção de sujeito e de objeto, mas a superfície de contato que os limita
e os congrega, o espaço onde se tecem as relações entre ambos. Assim, parece-
nos importante argüir em que momento sujeito e objeto se desenham. Momento
pois, apesar da distinção entre um e outro ser espacial, mas o mecanismo que a
faz existir, como evidenciou-se durante nossa pesquisa, é essencialmente tem-
poral. Tentamos observar esta questão sob um duplo aspecto: o primeiro se rela-
ciona ao ato perceptivo que dá ao sujeito conhecimento do objeto exterior; sob
um segundo aspecto, estendemo-nos sobre a estrutura que condiciona o campo
perceptivo. Nossas principais referências para o desenvolvimento desta questão
foram filosóficas, entretanto procuramos apontar suas relações com o design e
a ludologia.
A teoria da percepção em Bergson, bem como a concepção de outrem como
estrutura que configura o campo perceptivo de Deleuze, contribuíram sobrema-
neira para nossos esforços. Relatemos que ao mencionar a percepção como prob-
lema filosófico Deleuze ao desenvolver sua concepção de outrem toma partido
de um monismo, fazendo com que as categorias de sujeito e objeto pertençam
ao campo perceptivo, frente a um dualismo que remete a sínteses subjetivas que
se exercem sobre a matéria. Bergson declara sua obra dualista ao afirmar a reali-
dade do espírito e a realidade da matéria, mas o fazia também declaradamente
na busca da relação entre ambos, tentando atenuar as dificuldades advindas
do dualismo. Neste sentido, podemos dizer que Bergson ultrapassou as franjas
do dualismo. Outra diferença que julgamos relevante lembrar é que Bergson
organiza a vida biopsiquica, incluindo a percepção, com vistas à ação, para ele
a orientação tanto do corpo quanto do espírito, enquanto Deleuze descobre a
percepção e organiza a vida biopsiquica em função das sínteses contemplativas,
naturalmente passivas, elementares a sua teoria da repetição Não obstante, as
resoluções de Deleuze e de Bergson convergem para no tratamento da relação
sujeito-objeto, principalmente na proposta de que a natureza dessa relação dá-
se mais em função do tempo do que em função do espaço.
12
Percepção: a imagem como mediação
Em que momento sujeito e objeto entram em contato? No limiar, podemos
dizer que isto acontece no momento em que a percepção se efetua, ou seja, no
momento em que o sujeito assimila o objeto, converte-o em substância sua,
quando passa a ter o objeto. Não propriamente o objeto – afinal, isto anularia
a percepção enquanto tradução –, mas sua imagem. A concepção de imagem,
entretanto, guarda alguns sentidos que podem mostrar-se contraditórios. É-nos
comum representar a imagem como uma abstração derivada de um modelo,
objeto ou idéia. Sob esta acepção, enquanto o modelo guarda as proporções
a serem copiadas, a imagem seria então construída a semelhança do modelo
reproduzindo-o sob os aspectos que lhe fossem mais relevantes, privilegiando
algumas das proporções contempladas pelo modelo, sem no entanto alcançar
uma correspondência plena ou esgotar-lhe. Mas esta acepção apenas nos diz da
imagem dentro do domínio da representação. A imagem está também associada
à sensação que temos das coisas, a forma como entramos em contato com as
coisas ou com a realidade objetiva, sendo derivada destas. É sobre este aspecto
que a imagem associa-se ao processo de percepção.
E por “imagem” entendemos uma certa existência que é mais do que aquilo que o idealista chama de representação, porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa – uma existência situada a meio caminho entre a “coisa” e a “represent ação”. (BERGSON, 1999, p.1)
É por esta concepção de imagem que Bergson, no intuito de problematizar a
relação do espírito com o corpo, consegue tomá-la antes de sua dissociação entre
a existência e aparência e faz dessa relação entre imagem e objeto transitiva.�
Sob aspecto algum, a imagem pode ser considerada a realidade última, haja
�. Se a concepção de imagem bergsoniana não nos tira da “caverna”, com efeito faz com que as “sombras” correspondam em natureza com os objetos que a produzem, confere uma certa profundidade às sombras. As aparências, neste caso, apenas perdem algo da essência, conferindo e herdando as características daquela. A distância entre a imagem e o objeto a qual figura deixa de ser abismal, com relação ao que propõem outras doutrinas filosóficas. Neste sentido também Bergson ultrapassa o dualismo que sobre o qual cons-trói sua tese. Mesmo assim, devemos levar em consideração que a imagem é uma outra existência: a imagem manifesta fenomenicamente as essências. Mas uma imagem pode existir por si.
13AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
visto sua subordinação ao objeto, contudo é nela que se constitui nossa exper-
iência sensível do mundo; deste modo, é ela a própria materialidade do mundo:
“A matéria, para nós, é um conjunto de ‘imagens’” (BERGSON, 1999, p.1), diz
Bergson, para quem, em concordância com o senso comum, um objeto é a ima-
gem dele, e toda redução da imagem à representação, sob o ponto de vista em
que se concebe a representação de um objeto como de uma natureza diferente
deste, incorreria em erro.
Por conta disso, distingue-se, sob o crivo da percepção, dois sistemas de im-
agens: num deles, todas as imagens agem e reagem umas sobre as outras, cada
uma relacionada a si mesma: estas seriam as “imagens exteriores” ou o “con-
junto das imagens”, o que podemos chamar de realidade objetiva, ou o mundo
que nos circunda; no segundo sistema, todas as imagens são reguladas por uma
única imagem que ocupa centro, uma imagem privilegiada, “meu corpo”. (BERG-
SON, 1999, p.15) É justamente na dobra destes dois sistemas que deve aparecer
a percepção, que atua na transposição do conjunto das imagens exteriores a
uma imagem determinada, conhecida não apenas “de fora” mas também “de
dentro”, através de afecções, denominada meu corpo, onde o critério da relação
é dada pelo potencial de ação desta imagem sobre o conjunto das imagens. Este
corpo é também um objeto, ou uma imagem, mas um “objeto destinado a mover
objetos” (BERGSON, 1999, p.11), é um centro de ação. Deste modo, Bergson se
opõe a uma concepção da percepção como puramente especulativa e passiva,
sendo o conhecimento angariado da materialidade por sua imagem crivado na
percepção dado pela capacidade ou convite à ação que o objeto percebido oferece
ao sujeito: “Os objetos que cercam meu corpo refletem a ação possível de meu corpo
sobre eles”. (BERGSON, 1999, p.1�) A percepção deixa então de ser tomada como
conhecimento puro ou representação; ao contrário, “(...) a percepção, em seu
conjunto, tem sua verdadeira razão de ser na tendência do corpo a se mover”.3
Ao apontar a percepção destinada à ação, Bergson reitera ao sujeito sua ca-
3. BERGSON, Matéria e Memória, p. 3�. – devemos salientar que mesmo se em Deleuze a percepção se faz a partir de uma síntese passiva, com conseqüências numa síntese ativa, e em Bergson a ênfase do processo é mostrado no sentido inverso, tudo parece voltado a uma síntese ativa, considerando um uso ilustrativo do termo, ambos alocam a percepção anterior à representação. É certo que a descrição das sínteses passivas em Deleuze são de certo modo especulativas, mas em momento algum atingem o caráter de uma reflexão consciente.
1�
pacidade de ação frente ao objeto. Entretanto, um sujeito, sob as medidas de
uma concepção clássica, é constituído não penas por sua atividade, mas também
por sua independência ou liberdade, que aqui entendemos por potencialidade
de escolha autônoma e a capacidade individual de autodeterminação. Para que
estas escolhas e determinações sejam efetuadas é preciso que haja “espaço”
para tais, é preciso, então, que haja uma certa indeterminação, isto é, sendo pro-
posta uma questão, deve a haver a possibilidade de que diversas respostas sejam
capazes de resolve-la. Esta é constituída, no caso da percepção da matéria, jus-
tamente do “jogo” entre as diferentes solicitações de ação que o objeto emite ao
sujeito, no sentido que não exista uma resposta única, ou uma ação necessária
a um determinado estímulo, que a percepção de um determinado objeto não
seja seguida de um movimento mecânico. Tanto “maior” será este jogo, quanto
maior for a multiplicidade de tais solicitações e complexidade possível pela ar-
ticulação dos diversos agentes motores praticáveis.
Sobre as integrações e articulações das sensações e percepções é que repousa a
complexidade do sistema nervoso dos vertebrados superiores. Estas integrações
são efetuadas por uma diversidade qualitativa de dados, tal como a integração
dos dados captados por órgãos visuais e auditivos, complicados na percepção
única de um áudio-visual, por exemplo. Tais sistemas são marcados por uma
complexidade de relações sensórias, que possibilitam uma leitura e ação sobre o
mundo igualmente complexas.
A percepção é precisamente um sistema, uma ordem superior de integração que permite aos modelos se desembaraçarem e às propriedades emergentes de ambientes integrados mudarem de nível. As experiências e percepções senso-riais são elas próprias o material que permite integrar fontes heterogêneas. A integração nesse nível torna-se um fenômeno puramente físico. Nosso espírito é, talvez, o resultado dessa capacidade adquirida por nosso corpo no decorrer dos milênios da evolução humana para atingir ordens superiores de integração por via da percepção. (KERCKHOVE, 1993, p.61)
Segundo o grau de indeterminação do sistema em questão, proporcional ao
“número de convites” efetuados à ação dos sujeitos, pode-se deduzir diferentes
graus de percepção. Existiriam percepções as quais se confundem com suas re-
spectivas reações, implicando ao impulso nervoso um movimento necessário; a
estas concerneriam um grau mínimo ou nulo de indeterminação. Tal como num
1�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
carrapato, em que se seleciona na natureza apenas três estímulos, cujas reações
são dadas imediatamente, e isso constitui todo o seu mundo.4 À medida que
cresce a indeterminação, nos seres vivos graças à divisão do trabalho fisiológico
e a conseqüente complicação dos sistemas nervosos, as atividades deixariam de
ser tomadas por automatismo puro e começariam a requisitar uma escolha para
que este ou aquele agente motor executasse uma ação, dando à ação, portanto,
um caráter voluntário. Dentro destes seres de elevado grau de indeterminação,
caracterizados pelo elevado número e evolução de suas funções, deve nascer
uma percepção consciente. “(...) Essa percepção aparece no momento preciso em
que um estímulo recebido pela matéria não se prolonga em ação necessária”.
(BERGSON, 1999, p.�1) Atentemos que a noção de “percepção consciente” não
é, evidentemente, a consciência como tal, mas a implica. Tal percepção seria
já uma seleção das faculdades ditas interessantes de um determinado objeto
em relação às funções e/ou necessidades de um determinado sujeito: “perceber
todas as influências de todos os corpos seria descer ao estado de objeto mate-
rial. Perceber conscientemente significa escolher, e a consciência consiste antes
de tudo nesse discernimento prático”. (BERGSON, 1999, p.35) Há de se levar em
conta que tal definição é dada levando em consideração a “percepção pura”:
(...) não minha percepção concreta e complexa, aquela que minhas lembranças preenchem e que me oferece sempre uma certa espessura de duração, mas a percepção pura, uma percepção que existe mais de direito do que de fato, aque-la que teria um ser situado onde estou, vivendo como eu vivo, mas absorvido no presente, e capaz pela eliminação da memória sob todas as suas formas, de obter da matéria uma visão ao mesmo tempo imediata e instantânea. (BERG-SON, 1999, p.�3)
Mas esta percepção pura e, notadamente, instantânea é apenas ideal – “toda
percepção ocupa uma certa espessura de duração, prolonga o passado no pre-
sente”. (BERGSON, 1999, p.�00) A percepção dita concreta, aquela que de fato
experenciamos e sobre a qual se delineiam nossas relações com os objetos, é
complicada de nossa memória, aglutinada de “uma sobrevivência das imagens
passadas” (BERGSON, 1999, p.49); para Bergson reside aí a principal fonte da
subjetividade de nossa percepção:
4. Cf. O abecedário de Gilles Deleuze, A – de Animal.
1�
Mesmo a ‘subjetividade’ das qualidades sensíveis (...) consiste sobretudo em uma espécie de contração do real, operada por nossa memória. Em suma, a memória sob estas duas formas, enquanto recobre com uma camada de lem-brança um fundo de percepção imediata, e também enquanto ela contrai uma multiplicidade de momentos, constitui a principal contribuição da consciência individual na percepção, o lado subjetivo no nosso conhecimento das coisas. (BERGSON, 1999, p.�3)
Não só a percepção para Bergson é destinada à ação, mas a própria consciên-
cia significa ação possível. A consciência, portanto, enquanto faculdade apercep-
tiva de um ser (humano), une por meio da memória os múltiplos e sucessivos
estímulos oriundos da percepção da matéria, diferencia o que ocorre dentro
do ser (afecções – imagens que coincidem, e interferem imediatamente, com a
imagem de meu corpo) das imagens externas. Mas, em sua operação, “mistura”
à percepção e à afecção o que foi objeto de percepções e afecções passadas;
mistura ao presente atual os antigos presentes. Estes “a todo instante comple-
mentam a experiência presente enriquecendo-a com a experiência adquirida”
(BERGSON, 1999, p.49); logo a memória de experiências anteriores, na medida
em que guarda o programa de escolhas exitosas para ações cabíveis a situações
análogas, é mais atuante no nosso processo decisório que nossa percepção ex-
terior. Ainda:
Nossas percepções estão certamente impregnadas de lembranças, e inversa-mente uma lembrança [...] não se faz presente a não ser tomando emprestado o corpo de alguma percepção onde se insere. Estes dois atos, percepção e lem-brança, penetram-se portanto sempre, trocam sempre algo de suas substâncias mediante um fenômeno de endosmose. (BERGSON, 1999, p.50)
A memória, portanto, necessita de uma percepção para que possa “ganhar
corpo”; caso contrário será reservada ao esquecimento. Não sem propósito fala-
se que o esquecimento é o que torna a “vida” possível (ou suportável). Se os pre-
sentes se sucedem, é graças à memória. Esta opera a contração das percepções,
das imagens materiais; mas esta memória, anuncia Bergson, está já no domínio
do espírito: seria então a memória, o ponto de contato entre a matéria e per-
cepção, entre o corpo e o espírito. Tão logo, “as questões relativas ao sujeito e ao
objeto, à sua distinção e a sua união, devem ser colocadas mais em função do tempo
do que do espaço”. (BERGSON, 1999, p.53)
1�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
Devemos relevar do foi dito até então que a percepção, como percepção pura,
existe mesmo que não se reporte a representação; existe, portanto, um estado
inconsciente de percepção, e que ele se dá “instantaneamente”, num presente,
concomitante ao objeto percebido. Ao contrário, a percepção consciente opera,
por princípio, no passado – mas um passado imediato, com efeito. Isto é, a per-
cepção tem uma velocidade, ou melhor, possui uma duração. Isto torna-se bem
evidente, por exemplo, no cinema. Este só existe porque contraímos as diversas
imagens captadas por nossos olhos numa única imagem. Este efeito, denomi-
nado persistência retiniana, não é apenas fenômeno fisiológico. (VIRILIO, 1993,
p.1�8) A retina recebe todas as excitações e as repassa, mas enquanto a memória
não as contrai, não podem perfazer um continuum em nossa consciência, muito
menos uma seqüência linear. Já se fala que as novas gerações podem “enxergar”
mais que �4 q/s (quadros por segundo)5. Se tal mutação acontece de fato, faz
mais sentido creditar que tais mudanças sejam dadas por um aumento na veloci-
dade da memória, graças a uma superexposição à informação, do que por uma
diminuição do tempo de exposição necessário para sensibilizar a retina, dado
que as mídias para imagem em movimento nos últimos vinte anos possuem
capacidade para exibir de �4 a 30 Q/S. Em jogos eletrônicos de corrida, é comum
que a taxa de quadros por segundo ideal esteja por volta de 60 Q/S.
Com Gutenberg e a inovação da imprensa de tipos móveis, passamos a utilizar os olhos com um método diferenciado. Quando usamos intensivamente um dos sentidos e ‘rebaixamos’ os outros, o nosso cérebro procura funcionar, acos-tuma-se de maneira diferente e passamos a ter uma outra realidade de mundo. A forma como usamos nossos sentidos é a forma como pensamos. (ROSSI, �003, p. 71)
Uma freqüência de quadros desta grandeza, na medida em que dá suporte a
uma relação mais próxima de uma experiência imediata entre sujeito e objeto,
faz com que os modos de se atuar sejam significantemente alterados. Se tomar-
mos a percepção com vistas à ação, como propõem Bergson, subordinamo-la ao 5. A freqüência de captação estimada de um olho humano é cerca de 100 q/s. Cf. < http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010180041109>. Entre-tanto, os �4 q/s do cinema e os 30 q/s da televisão bastaram até então para nos dar uma forte impressão de movimento. Nos videogames, entretanto, é comum os jogadores re-clamarem de lags (dessincronização da imagem com o movimento executado sobre os controladores de jogo) mesmo quando a freqüência de quadros está entre os habituais �4 e 30 q/s.
1�
tempo: “a percepção dispõe do espaço na exata proporção em que a ação dispõe
de tempo”. (BERGSON, 1999, p. ��) Isto é, quanto maior o intervalo entre sujeito
e o objeto, maior a gama de ações possíveis. Num videogame com característi-
cas tão céleres como as que citamos há pouco, isto toma corpo em objetos que
podem aparecer na frente do jogador por breves segundos, às vezes menos,
rápidos demais para um raciocínio lógico. A uma velocidade como estas, a razão
tem de se comportar de outra maneira e muitas das decisões têm de ser tomadas
intuitivamente e, muitas vezes, instintivamente.
Já a subjetividade, tomada neste momento no domínio de um sujeito plena-
mente constituído, dá-se graças à ação da memória. Sendo esta domínio do es-
pírito, tão logo a subjetividade, sob este aspecto, é manifestação da consciência
de um sujeito cognoscente, consciente que pronuncia (e se pronuncia): Eu. Aqui,
a representação tem que ser efetuada sobre um duplo aspecto: a representação
da imagem e a reflexão da consciência, dando nota cognitiva de sua existên-
cia. Tal operação de formação da subjetividade, considerando sua precisão de
memória para que seja efetuada, compreende uma certa espessura de tempo.
Sobre este aspecto, muitos videogames simplesmente não admitem a possibi-
lidade dessa pronunciação; caso contrário o jogo acabou, não se foi rápido o
suficiente.
A imagem, como vimos, vai além da representação. Elas têm a função de rep-
resentar, visto que são, como nos diz Flusser, mediações entre o homem e o
mundo.6 Entretanto, elas se reportam imediatamente aos objetos a que se refer-
em. Alguns trabalhos em neurofisiologia já não falam mais em imagens, mas em
objetos mentais. (VIRILIO, 1993, p.1�8) Esta denominação aproxima as noções de
imagem às noções de simulação que fazem os videogames funcionarem.
Alguns videogames estão tentando simular, ou dissimular, nossa capacidade
perceptiva. Num nível mais simples, os jogos possuem agentes que simulam
uma percepção: determinados objetos dentro dos jogos “percebem” a presença
do jogador e desferem ações contra eles. Num nível mais complexo, entretanto,
a integração de múltiplos agentes e a organização destes com intuito a atuar 6. Cf. Vilém FLUSSER, Filosofia da Caixa Preta, p. 13. Ressaltemos que Flusser faz essa pro-posição fundamentando-se na função cognitiva inerente ao homem (o fato de estar pen-sando é prova irrefutável de “o homem ‘existe’”), por isso dirá também que o propósito da imagem é representar.
1�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
sobre nós, comunicação dos agentes para alertarem de nossa intromissão em
seus domínios.7 Sob uma estreiteza de sentidos, podemos dizer que um videog-
ame possui algum discernimento: ele qualifica, mesmo que quantitativamente,
o grau de “visibilidade” do jogador, e sobre estes graus de visibilidade escolhe
no seu banco de ações possíveis uma que seja adequada à situação. De um modo
geral jogo procura perceber o jogador e não deixar que este lhe esgote. Jogos
mais complexos utilizam dessas características sensórias para enfrentar o joga-
dor com maior inteligência. Tão logo, os jogos tornaram-se cada vez mais espe-
rtos com cada salto na evolução tecnológica, graças a uma maior freqüência dos
processadores, maior velocidade e quantidade de cálculos executados, o que,
considerando as bases tecnológicas atuais, é fundamental para o intrincamento
da inteligência artificial.
A percepção envolve mecanismos demasiado complexos, principalmente se
considerarmos a experiência humana. Aqui esboçamos alguns de seus aspectos,
aqueles que serão de maior relevância para nossa pesquisa. Entretanto, o que
se mostra cada vez mais evidente, é que a distinção entre sujeito e objeto é es-
sencialmente temporal.
Configurando um sujeito a partir do tempo
Tratamos até agora da relação entre sujeito e objeto a partir das interações
que tecem entre eles no ato perceptivo. Assinalamos que as distinções entre eles
se efetuam graças à ação da memória, daí a enunciação bergsoniana de que a
memória é a principal componente de nossa subjetividade. Um sujeito, é de fato,
o portador da ação potencial, mas também é habitado, ou portador do espírito
que dirige tais ações. Assim como a ação, o espírito toma efeito, como veremos,
graças ao tempo. Tratemos este, pelo menos inicialmente, como uma síntese
de instantes, que nada mais são do que um pontos no tempo – pena a figura
7. Um ótimo exemplo desse tipo de inteligência artificial está em Splinter Cell e Deus EX, onde o jogador é estimulado a locomover-se furtivamente pelos ambientes, sem ser “per-cebido”, sobre a pena de enfrentar uma turba enfurecida de vigilantes, que dificilmente dará conta de exterminar.
20
do ponto ser reservada aos paradoxos do infinitamente divisível e da indivisi-
bilidade. Contornaremos a problemática referente ao tempo instanciando este
frente ao sujeito, mesmo porque, quando se diz que o tempo é subjetivo não se
faz sem razão.
A memória, como dissemos, opera uma contração das percepções, contração
dos instantes percebidos. Cada instante é independente um do outro, no sen-
tido de serem distintos. Entretanto, nós os contraímos em uma impressão, uma
imagem (em sentido restrito, análogo à concepção psicofisilógica), dando a eles
uma duração, condensando os instantes heterogêneos num todo coerente e ho-
mogêneo, sintetizando-os. Esta síntese dos instantes é, sob todos os aspectos,
uma síntese do tempo – não necessariamente uma síntese dos instantes suces-
sivos, mas instantes contraídos. Esta síntese constitui o que podemos chamar de
presente vivo, o presente em que o tempo se desenrola sempre como presente
e que dá lugar às ações. Para este presente, o passado existe como o retido das
contrações, como lembrança; e o futuro como expectativa da contração dos in-
stantes. Passado e futuro, neste caso, não designam instantes distintos de um
instante presente, mas dimensões do próprio presente.
Sob todos os aspectos, esta síntese deve ser denominada síntese passiva. Con-stituinte, nem por isso ela é ativa. Não é feita pelo espírito, mas se faz no espírito que a contempla, precedendo toda memória e toda reflexão. O tempo é subjetivo, mas é a subjetividade de um sujeito passivo. A síntese passiva, ou contração, é essencialmente assimétrica: vai do passado ao futuro no presente; portanto, do particular ao geral e, assim, orienta a flecha do tempo. (DELEUZE, 1988, p. 1�8-1�9)
Esta passividade assinalada ao sujeito será observada mais de perto durante
o desenvolvimento do texto. Entretanto é preciso relevar desde já que para De-
leuze, os sujeitos são larvares, isto é, são suportes pacientes do dinamismo.
Relevemos também uma outra distinção: Deleuze diferencia a contração operada
pela imaginação de uma reflexão operada pela memória, esta amparada na con-
tração efetuada pela imaginação – por isso diz que a síntese passiva precede de
qualquer memória –, enquanto que para Bergson, como vimos anteriormente, a
memória é o motor da contração. Deleuze toma como referencia a concepção de
Hume, para quem a imaginação é um poder de contração, contraindo os casos,
21AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
os elementos os abalos, os instantes homogêneos e os funde numa impressão
qualitativa interna. (DELEUZE, 1988, p. 1�8) Os casos contraídos na imaginação
não permanecem menos distintos na memória ou no entendimento. “Mas a
partir da impressão qualitativa da imaginação, a memória reconstitui os casos
particulares como distintos, conservando o ‘espaço de tempo’ que lhe é próp-
rio”. (DELEUZE, 1988, p. 1�9) Para Bergson, a imaginação “tem justament155)
Fica a cargo portanto da divisão do movimento, algo que tem um caráter con-
trário à contração. Ainda, enquanto Bergson aponta erros no associacionismo8,
Deleuze encontra nesta doutrina uma “sutileza insubstituível”. Entretanto, a
atuação da memória na formação da subjetividade é consoante às duas obras
em questão, tanto que Deleuze recupera estes sentidos da concepção bergso-
niana de memória, principalmente em relação ao passado que esta efetua, em
Diferença e Repetição.
O sujeito é ainda o agente, o portador da ação, mas ação potencial, em estado
latente. Daí se dizer que são suportes pacientes do dinamismo. O estado passivo
e contemplativo não se refere, então, a algo de alguma forma assimilável a uma
matéria inerte, mas apenas um estágio anterior à ação. Um estágio composto
de contemplações, de contração das contemplações; o que não deixa de ter, em
certa medida, um caráter especulativo.
Quando dizemos que o hábito é contração, não falamos, pois, da ação in-stantânea que se compõe com outra para formar um elemento de repetição, mas da fusão desta repetição no espírito que a contempla. É preciso atribuir uma alma ao coração, aos músculos, aos nervos, às células, mas uma alma con-templativa cujo papel é contrair o hábito. (DELEUZE, 1988, p. 133)
A contemplação guarda uma dimensão não ativa, mas constitutiva. O eu pas-
sivo contempla e contrai estas contemplações e disso se constitui. Os hábitos
são eles próprios contrações e se contrai um hábito contemplando, objeta De-
leuze à psicologia. O eu é formado de hábitos; é contraindo que somos hábitos
– neste momento é que começa a se desenhar a subjetividade. Por isso a “a
repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito
8. “Doutrina filosófica desenvolvida especialmente pelo empirismo inglês, que explica o funcionamento de toda a vida mental humana a partir de associações, combinações, cone-xões de idéias com origem nas sensações proporcionadas pela experiência e pelos senti-dos”. ASSOCIACIONISMO . In: DICIONÁRIO eletrônico Houaiss da língua portuguesa.
22
que a contempla”. (DELEUZE, 1988, p. 1�7) Repetição dos instantes contraídos,
as quais o espírito contempla e contrai, e contempla o que contrai. Assim, o es-
pírito transvasa a novidade àquilo que contempla. Contemplar é transvasar, isto
é, não apenas transferir, mas transformar.
Contemplar é questionar. (...) As contemplações são questões e as contrações que nela se fazem e que vêm preenchê-la são afirmações finitas que se en-gendram como os presentes se engendram a partir do perpétuo presente na síntese passiva do tempo. (DELEUZE, 1988, p. 139)
As contrações sintetizam os instantes em tempo, isto é, as contrações dão
uma duração às contemplações. Constitui o tempo como presente de certa du-
ração, isto é ele se esgota e portanto passa. Mas sempre que um presente passa,
é imediatamente sucedido por outro. É a partir de contemplações que se de-
finem os ritmos, os tempos de reação: por isso que hábito se faz da contração
das contemplações. Daí dizer-se que esta síntese do tempo é a síntese do hábito.
É sobre este hábito que repousam o presente, a vida orgânica e psíquica, afirma
Deleuze. Somos nossos hábitos, no sentido que somos aquilo conforme o que
atuamos. O hábito é a própria maneira de ser, fazer e sentir. Entretanto, este eu
que se forma não é um eu integral, mas um eu dissolvido, um espírito em estado
múltiplo e fragmentado.
Parece-nos interessante, a fim de melhor esclarecer a natureza destes eus pas-
sivos, relembrar algumas considerações de Nietzsche/Zaratustra sobre o ser:
Os sentidos e o espírito são instrumentos e joguetes; por detrás deles se encon-tra o nosso próprio ser. Ele examina com os olhos dos sentidos e escuta com os olhos do espírito.
Sempre escuta e esquadrinha o próprio ser: combina, submete, conquista e destrói. Reina, e também é soberano do Eu.
Por detrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um senhor mais poderoso, um guia desconhecido. Chama-se “eu sou”. (NIETZSCHE, �005, p. 41)
A descrição do ser anunciada por Zaratustra é em muitos sentidos análoga
23AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
aos eus passivos dos qual nos fala Deleuze – tal qual o eu, o ser contempla: es-
quadrinha, examina e escuta. Também contrai: combina, submete. Entretanto,
lembremos que, o eu passivo não apenas contrai e contempla, mas também
possui “[...] só se é o que se tem; é por um ter que o ser aqui se forma ou que o
eu passivo é”. (DELEUZE, 1988, p. 139 – nosso grifo) Sob todos os aspectos, estas
sínteses ou o ser são sub-representativos e dão testemunho do inconsciente.
O próprio ser se ri do teu Eu e dos seus saltos arrogantes. Que significam para mim esses saltos e vôos do pensamento? – diz. Um rodeio para meu fim. Eu sou o guia do Eu e o inspirador de suas idéias. (NIETZSCHE, �005, p. 41)
Não só os sujeitos se constituem sobre as bases do eu, mas as própria ação
subjacente ao sujeito fundam-se nas sínteses passivas, na medida em que se
desenham a partir de um sujeito, ainda em estágio larvar.
A ação só se constitui pela contração de elementos de repetição [repetição da imaginação – repetição dos instantes]. Acontece apenas que esta contração não se faz nela, mas num eu que contempla e duplica o agente. E para integrar ações numa ação mais complexa, é preciso que as ações primárias, por sua vez, desempenhem num ‘caso’ o papel de elementos de repetição, mas sempre em relação a uma alma contemplativa subjacente ao sujeito da ação composta. Sob o eu que age há pequenos eus que contemplam e que tornam possíveis a ação e o sujeito ativo. (DELEUZE, 1988, p. 135)
Mas como passar de eus passivos a um sujeito ativo? A primeira síntese do
tempo acima esboçada constitui o tempo como presente, onde passado e futuro
são dimensões deste, onde o tempo não sai do presente, composto de suces-
sivos e distintos presentes. É bem verdade que nesta síntese do tempo não so-
mos mais que hábitos, contudo, o hábito é justamente aquilo que não se pode
contemplar, nunca se contempla. Assim, mesmo que já se possa esboçar uma
subjetividade, não se desenha ainda uma identidade. É preciso que o presente
cumpra sua pretensão e passe. Entretanto, o presente não passa por si só. O
presente só passa graças ao passado que é, justamente, “o que faz passar o
presente”. (DELEUZE, 1988, p. 14�)
O passado é reflexivo, e constitui-se pela memória. Reflexivo pois encontra-
se entre dois presentes: “aquele que ele foi e aquele em relação ao qual ele é
passado. O passado não é um antigo presente, mas o elemento no qual este é
2�
visado”. (DELEUZE, 1988, p. 14�) O antigo presente e o atual presente não são
instantes sucessivos no tempo, mas constituem dimensões deste. A reflexão, ou
a contemplação do espírito sobre ele mesmo, ocorre por conta de um atual pre-
sente que se concentra sobre o antigo presente ao mesmo tempo que o forma.9
Este passado não é apenas retenção dos sucessivos presentes, mas reprodução
do antigo presente. Reprodução que se dá pela memória através da represen-
tação dos antigos presentes, à semelhança dos antigos presentes. Se primeira
síntese do tempo, relativa ao presente, constitui-se no hábito, esta segunda sín-
tese, relativa ao passado, constitui-se na memória. E o que se designa síntese
ativa da memória é a representação dos presentes sob os aspectos da reprodução
do antigo presente e da reflexão do atual.
Esta síntese ativa da memória funda-se na síntese passiva do hábito, pois esta constitui todo presente possível em geral. Mas ela difere desta profundamente [...] A síntese passiva do hábito constituía o tempo como contração dos in-stantes sob a condição do presente, mas a síntese ativa da memória o constitui como encaixe dos próprios presentes. (DELEUZE, 1988, p. 143)
O tempo é tomado então como a união ou a junção dos presentes, nem tanto
por sucessão, mas antes por transposição e imbricamento de um no outro. Cabe-
nos relevar que esta síntese ativa da memória funda-se na síntese passiva do há-
bito, mas encontra seu fundamento na síntese passiva da memória, sob a forma
pura do tempo, a qual retomaremos adiante. É sobre as sínteses passivas que se
articulam as sínteses ativas. Sobre as contemplações dos eus é que se desenham
as ações dos sujeitos. Mas o que determinaria tal mudança?
A memória, efetivamente, dá os primeiros passos em direção ao sujeito, na
medida em torna possível a instalação da consciência, apesar desta precisar de
algo além da memória para se realizar. Entretanto, é responsável apenas em
parte por uma característica que julgamos essencial na constituição de um su-
9 A distinção estóica entre os signos naturais e os signos artificiais nos exprime esta diferença exemplarmente: “a cicatriz é o signo, não da ferida passada, mas do ‘fato presente de ter havido uma ferida’[...] São naturais os signos do presente, que remetem ao presente no que eles significam [...] São signos artificiais, ao contrário, os signos que re-metem ao passado ou ao futuro como dimensões distintas do presente [...] tais dimensões implicam sínteses ativas, isto é, a passagem da imaginação espontânea às faculdades ati-vas da representação refletida, da memória e da inteligência.” (Gilles DELEUZE, Diferença e repetição, p. 139.)
2�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
jeito, a capacidade de ação. É a “prova de realidade” numa relação sujeito-objeto
que define a síntese ativa.
[...] A prova de realidade mobiliza e anima, inspira toda a atividade do eu: não tanto sob a forma de um juízo negativo, mas sob a forma no ultrapassamento da ligação na direção de um ‘substantivo’ que serve de suporte ou liame. (DE-LEUZE, 1988, p. 168)
A ligação que aqui se pronuncia é a ligação das excitações, o que não deixa
de ser a contração ou síntese destas, porém em nível mais complexo, como a
contração de contrações precedentes, constituindo integrações, ou organizações
das sínteses passivas. Estas integrações acabam por constituir, ou melhor, re-
produzir excitações esparsas e difusas numa superfície privilegiada. Por exem-
plo, a visão se constitui da integração de estímulos luminosos sobre um órgão
determinado, o olho. Substantivo pois designa algo, expressa uma substância.
Não será por isso que se enunciam as realidades objetivas, e não será isto tam-
bém redundância?
Por várias vezes define-se a realidade como tudo aquilo que transborda o su-
jeito. Mas isso se dá, também, mais profundamente numa dimensão temporal
do que espacial. A consciência de um sujeito é constituída principalmente por
sua memória, como diz Bergson, portanto no passado. A realidade, entretanto,
se passa entre presentes. Os objetos se organizam no tempo presente, no sen-
tido que atuamos sobre eles num tempo presente, entretanto distinguem-se e
ganham contornos em nossa consciência, num tempo passado. Nem por isso,
poderíamos averiguar às nossas memórias um caráter irreal, afinal, elas são, sob
este aspecto, antigos presentes.
Somos sujeito diante de um objeto, mas algo preexiste à relação objetal. En-
tretanto, nossa concepção usual de sujeito, assenta-se sobre um espírito, este
sim possuidor de uma identidade ultima, de uma unidade. É sobre este sujeito,
digamos um sujeito pleno, que recaem as determinações de um sujeito cultural,
sujeito às máquinas coletivas de produção de subjetividade.
Bergson nos diz que “o corpo, sempre orientado para a ação, tem por função
essencial limitar, em vista da ação, a vida do espírito”. (BERGSON, 1999, p. 147)
Entretanto, esta ação parece ser inspirada pelo principio de prazer. Nos aproxi-
2�
mamos mais ou menos de um objeto na proporção em que ele nos promete um
prazer ou nos inflige uma punição. A ação regulada pelo principio de prazer visa
sempre a obtenção de prazer ou, ainda, evitar as dores. Mas nossos prazeres
encontram mais obstáculos para sua efetuação do que as dores, graças à inqui-
etação da alma.
É a inquietação da alma que multiplica a dor; é ela que a torna invencível, mas sua origem é outra e bem mais profunda. Ela se compõe de dois elementos: uma ilusão vinda do corpo, ilusão de uma capacidade infinita de prazeres; de-pois uma segunda ilusão projetada na alma, ilusão de uma duração infinita da própria alma, que nos entrega indefesos à uma idéia de infinidade de dores possíveis depois da morte. (DELEUZE, �000, p. �80)
Não há duvida que estas formulações incidem diretamente sobre nossas con-
cepções de desejo, mas como nossos desejo recaem sobre os objetos? Qual a
seria a ligação entre estes e a prova de realidade? Se há algo que anima o ser,
parece-nos que deve ser o desejo, o qual passando pela prova de realidade recai
sobre os objetos. Desejar algo é como colocar a “alma” em algum corpo. O corpo
de um objeto de desejo. Objeto, pois se trata de algo aparte do ser desejante, mas
que não deixa de se identificar com este. Obviamente nosso desejo recai sobre os
objetos, na medida em que nunca se deseja o Eu. Se isto acontece, o Eu é tomado
por Outro. Desejamos aquilo que não temos. O desejo, mesmo recaindo sobre os
objetos que percebemos conscientemente, é da ordem do inconsciente.
Até o momento, concluímos que um sujeito é configurado enquanto tal diante
de um objeto, confirmando, portanto, o que classicamente conhecemos por su-
jeito e objeto. O sujeito é o agente, o que atua ou agencia. Entretanto, demons-
tramos que este sujeito é também a manifestação e um Eu, ou de pequenos eus
passivos. E quanto aos objetos, como dissemos de saída, existe uma outra classe
de objetos que não pode ser submetida integralmente à prova de realidade, os
objetos virtuais. Estes, encontram-se efetivamente plantados nos objetos reais.
Passam, portanto, também pela prova de realidade, porém de maneira diversa
aos objetos reais. Esta prova de realidade, que configura o campo perceptivo e
distribui os objetos pelo espaço, é do que iremos nos ocupar agora.
2�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
Outrem como estrutura do campo perceptivo
“Não é o eu, é outrem como estrutura que torna a percepção possível” (DE-
LEUZE, �000, p. 318), diz Deleuze. Isto é, a percepção ocorre, factualmente, no
eu, mas só ocorre porque existe outrem. Contudo, este outrem de que se fala
não é algo ou alguém que encontra-se fora do âmbito do sujeito; nem objeto no
campo de percepção, tampouco um outro sujeito que me percebe.10 Outrem “é,
em primeiro lugar, uma estrutura do campo perceptivo, sem a qual este campo
no seu conjunto não funcionaria como o faz”. (DELEUZE, �000, p. 316) Esta es-
trutura é levada a cabo por sujeitos reais, mas preexiste como condição de or-
ganização dos termos que a atualizam: os campos perceptivos dos sujeitos.
É por outrem que se funda a relatividade nos campos perceptivos. Um objeto
só existe de determinada forma mediante uma determinada percepção, isto é,
o objeto existe como percebemos em função de nossa percepção individual, da
organização de nosso campo perceptivo particular. Ora, não é verdade que ap-
enas com grande esforço somos capazes de perceber o que para outrem é tido
como óbvio e vice-versa? Outrem determina a quebra de um mundo absoluto
em favor de um mundo relativo. Já não há um mundo de realidade absoluta,
mas apenas realidades possíveis. O possível, aqui, não dado por aquilo que não
é real; ao contrário, o possível possui plena realidade, mas apenas para o campo
perceptivo que o configura.
Cada um destes homens era um mundo possível, bastante coerente, com seus valores, seus focos de atração e repulsão, seu centro de gravidade. Por mais diferentes que fossem uns dos outros, estes possíveis tinham atualmente uma pequena imagem da ilha – quão sumária e superficial! – em torno da qual se organizavam e num canto da qual se encontravam um naufrago chamado Rob-son e seu servidor mestiço. Mas, por mais central que fosse essa imagem, ela era em cada qual marcada com o signo do provisório, do efêmero, condenada a voltar no mais breve prazo para o nada de onde a retirara o naufrágio ocidental do Whitebird. E cada um desses mundos possíveis proclamava ingenuamente sua realidade. Isso é que era outrem: um possível que se obstina em passar por
10 Mesmo a teoria de Sartre, tida como a primeira grande teoria de outrem, ao considerar este como estrutura, recaía nas categorias de objeto e sujeito, definindo outrem a partir do olhar: “outrem é um objeto sob meu olhar que me olhe, por sua vez, e me trans-forme em objeto”. Deleuze argumenta que outrem precede o olhar e que este vem, antes, marcar o instante em que tal estrutura é preenchida, efetuada. Cf. Lógica do sentido, pp. 316-319.
2�
real. (TOURNIER, 1967, p. 19�, apud DELEUZE, �000, p. 317)
Outrem, como estrutura do campo perceptivo, faz com que o objeto que de-
tém minha atenção se estenda aos demais, se avizinhe a outros objetos. Cria
franjas e margens que fazem com que objeto repouse sobre o fundo, possibil-
itando a transição entre o objeto que se destaca no meu campo perceptivo aos
demais objetos que figuram ao fundo. O objeto que não percebo, ou o que não
percebo de determinado objeto é percebido por outrem. “Em suma, outrem as-
segura as margens e as transições no mundo. Ele é a doçura das contigüidades e
das semelhanças. Ele regula as transformações da forma e do fundo” (DELEUZE,
�000, p. 315) e assim relativiza o mundo, eliminando a oposição brutal entre o
sujeito e o objeto. Em sua definição mais sintética, outrem constitui um de bol-
has conjunto de bolhas que contém mundos possíveis.
O que acima esboçamos pode ser considerado o efeito espacial de outrem.
Mas, “o efeito fundamental é a distinção entre minha consciência e seu objeto”.
(DELEUZE, �000, p. 319) Esta distinção é essencialmente temporal, na medida
em que o sujeito é sempre passado de seus objetos. A contemporaneidade entre
“sujeito” e objeto existe apenas enquanto o primeiro não se encontra plena-
mente constituído, mas ainda em estado potencial, repousando sobre um eu
passivo, este sim, contemporâneo dos objetos, ou antes, da matéria. Sujeito e
objeto se dão simultaneamente, mas de forma alguma são contemporâneos, não
compartilham o mesmo tempo.
O sujeito se configura no passado, como passado de seus objetos. Define-se
sobre a síntese passiva presente do habito, mas distancia-se dessa ao tornar-se
ativo. A ação desenvolve-se no presente, mas o ato de vontade que organiza a
ação é passado, é anterior ao presente da ação.
Deleuze irá ressaltar o caso da ausência de outrem através da releitura de
Tournier do romance Robson Crusoé de Daniel Dafoe, onde a esta estrutura
vai gradativamente desaparecendo. O efeito essencial da ausência de outrem
é a indistinção da consciência e seu objeto, pois neste caso, ambos coincidem
num eterno presente. “A consciência deixa de ser uma luz sobre os objetos para
se tornar uma pura fosforescência das coisas em si”. (DELEUZE, �000, p. 3�1)
Reconhecemos que num videogame, ou pelo menos em alguns tipos deles, afinal
2�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
para cada gênero de jogo confere-se uma certa temporalidade, que estas re-
lações se dão de modo análogo. Um efeito concreto disso é observado no estado
de absorção em que o jogador pode chegar, o que podemos considerar um es-
tado de percepção, e conseqüentemente de consciência, alterada. É comum que
neste estado o jogador simplesmente se “esqueça” do tempo, esquece o mundo
exterior. O jogador praticamente confunde-se ao jogo, confunde-se aos objetos
virtuais no presente vivo do jogo.
Objetos virtuais
Mas como havíamos dito, os objetos reais não esgotam as relações objetais.
Eles referem-se à formação de um sujeito, mas no caso de um eu não se ultrapas-
sar enquanto síntese passiva, este servirá da excitação ligada para atingir outra
coisa. A atividade nasce, com efeito, com vistas a atingir um determinado objeto
no campo perceptivo, do qual nos aproximamos ou repelimos, mas sob o sujeito
ativo insistem os eus passivos, que constituem para si um outro tipo de objeto,
“objeto ou foco virtual que vem regar ou compensar os progressos, os fracassos
de sua atividade real”. (DELEUZE, 1988, p. 170) Nestes casos a ação executada é
para fornecer um objeto virtual, o foco de contemplação. Exerce-se a ação sobre
objetos “reais” para criar, acessar um objeto virtual.
[...] A partir da síntese passiva de ligação, a partir das excitações ligadas, a criança se constrói sobre uma dupla série. Mas as duas séries são objetais: a dos objetos reais, como correlatos da síntese ativa, e a dos objetos virtuais, como correlatos de um aprofundamento da síntese passiva. É contemplando os focos virtuais que o eu passivo aprofundado se preenche agora com uma imagem narcísica. Uma série não existiria sem a outra; e, todavia, elas não se assemelham. (DELEUZE, 1988, p. 170)
Objetos reais e virtuais, deste modo, constituem-se um ao outro, solicitando e
alimentando-se uma da outra. Diz Deleuze que os objetos virtuais são destaca-
30
dos dos objetos reais ao mesmo tempo em que são incorporados a estes. Isto é,
destaca-se do objeto real uma pose, uma cena (por que não uma imagem?), mas
esta “parte” adquire uma outra natureza a partir do momento que começa a fun-
cionar como objeto virtual, simultaneamente inserido no objeto real, podendo
“corresponder a partes do corpo do sujeito ou de uma outra pessoa, ou mesmo
a objetos muito especiais do tipo brinquedo, fetiche” (DELEUZE, 1988, p. 17�
– nosso grifo), ou seja, atribui-se ao objeto um “poder mágico”. “Mas o impor-
tante é que nenhum desses focos é o eu”. (DELEUZE, 1988, p. 170) O eu é o que se
desenha na interseção destes dois focos, entre o objeto real e o objeto parcial.
O objeto virtual é um “objeto parcial”. Não por sua origem, mas por não estar
submetido ao caráter global que a que os objetos reais estão submetidos. Isto
é ele falta com a generalidade, e com isso falta à sua própria identidade, ao
se fender em duas partes virtuais, onde os duplos liberados não permitem a
identificação global ou a integração do objeto.11 Mesmo sua volta ao objeto real
não consegue suprimir-lhe sua parcialidade: ele subsiste no objeto real dando
testemunho de uma virtualidade, que foge à identidade do objeto.
O objeto virtual é essencialmente passado. Entretanto:
O objeto virtual não é um antigo presente, pois a qualidade do presente e a mo-dalidade de passar afetam agora de maneira exclusiva a série do real enquanto constituída pela síntese ativa. Mas o que qualifica o objeto virtual é o passado puro, [...] contemporâneo de seu próprio presente, preexistindo ao presente que passa e fazendo passar todo presente. O objeto virtual é um trapo de pas-sado puro. (DELEUZE, 1988, p. 173)
Estendamo-nos um pouco sobre este passado puro. Só o presente existe. Mas
o presente passa. Nossa idéia de passado é possível graças à memória, porque
reproduzimos os antigos presentes enquanto contemplamos a produção do pre-
sente atual. “O passado é por essência o que não atua mais” diz Bergson (1999,
p. 51), para quem entre o passado e o presente desenha-se uma diferença de
natureza, daí também sua refutação quanto a qualquer concepção que considere
11. Entre as pp. 171-17� Deleuze define esta parcialidade e usa como exemplo os “a boa mãe e a má, o pai sério e o pai brincalhão”. Não devemos aqui creditar um caráter con-traditório entre os duplos, pelo que sugere o exemplo; os duplo exprimem apenas poten-cialidades de determinado objeto, apenas liberados quando o objeto deixa de conferir à sua identidade, geralmente proveniente de uma catástrofe que bota a representação em falência.
31AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
a diferença entre memória e percepção seja apenas de grau (Bergson se mani-
festa contundentemente contra consideração a memória como uma percepção
mais fraca). “A Memória é a síntese fundamental do tempo que constitui o ser
do passado (o que faz passar o presente)”. (DELEUZE, 1988, p. 14�) O passado, de
fato, não existe, afinal só existe aquilo que está presente. Mas insiste no antigo
presente e consiste com o atual presente. Quando dizemos que o passado é con-
temporâneo do presente que foi, isto é, o passado não se constitui depois que
um novo presente aparece. Só o presente existe, portanto, é ao mesmo tempo
que o presente se desenha, que se desenha também o passado. Mas ainda, o pas-
sado coexiste com o presente novo, assim como nossas lembranças (as imagens
passadas) coexistem com presentes. “Ele é o em-si do tempo como fundamento
último da passagem. É nesse sentido que ele forma um elemento puro, geral, a
priori, de todo tempo”. (DELEUZE, 1988, p. 145) O passado puro é dotado de uma
“universal mobilidade”, ele está concomitantemente presente em todo lugar.
Devemos distinguir então duas sínteses de ligações distintas: uma um sujeito
em relação a um objeto real e na outra um eu passivo frente a um objeto virtual.
Na primeira, o sujeito é passado em relação ao objeto. Na segunda, o objeto
virtual é passado em relação ao eu. Deste modo, sujeito e objeto são sempre
simultâneos, porem não são contemporâneos. Façamos aqui uma ressalva sobre
a interseção da teoria de outrem como estrutura que configura o campo percep-
tivo e a teoria dos objetos virtuais em Deleuze: para a teoria dos objetos virtuais
“nenhum desses focos é o eu”, ou seja, os objetos (virtuais ou reais) e o eu não se
confundem. Mas “na ausência de outrem, a consciência e seu objeto não fazem
mais do que um [...] faltando em sua estrutura, ele deixa a consciência colar ou
coincidir com o objeto num eterno presente”. (DELEUZE, �000, p. 3�0) Colar ou
coincidir não pode ser tomado no sentido de integrar, fazer parte de um mesmo
corpo, mas no sentido de tornar a relação imediata. Existe, sempre, uma certa
distinção entre o sujeito e objeto; mesmo os eus contemplativos “colados” aos
objetos, dele se distinguem, mesmo que não tenham consciência disso.
Como falta a si próprio, por estar sempre ausente, “ele não está onde está
onde está a não ser com a condição de não estar onde não deve estar”. (DE-
LEUZE, 1988, p. 173) Que esta frase seja, sobre muitos aspectos, manhosa, ela
ainda sim nos dá testemunho da eterna falta que se faz este objeto. Daí a furtivi-
32
dade exemplar que remonta este objeto.
Lacan mostra que os objetos reais, em virtude do princípio de realidade, estão submetidos à lei de estar ou de não estar em alguma parte, mas que o objeto virtual, ao contrário, tem a propriedade de estar e de não estar onde ele está, onde ele vai. (DELEUZE, 1988, p. 170)
Deleuze desenvolve também a relação entre as pulsões sexuais – inseparáveis
na constituição dos focos virtuais, apoiando-se notadamente nas teorias lacania-
nas e freudianas – e a memória (o modo erótico do passado puro, e o imemorial
da sexualidade). Encontra nessa relação bases para a constituição da repetição,
apontando a fundação dos disfarces (nos quais a repetição se constitui e os quais
constitui) no deslocamento dos objetos virtuais entre as séries reais. Tais con-
cepções apontam rumo às relações entre a pulsão sexual e o instinto de morte,
sob o contexto das repetições no eterno retorno. Entretanto, preferimos abordar
algumas destas relações através das construções desenvolvidas acerca dos simu-
lacros. De fato, em ambos os casos, o que se desenvolve é a mesma concepção,
visto que o objeto virtual, como veremos adiante, é da ordem do simulacro.
Mas utilizando esta segunda via, procuramos contornar as dificuldades propor-
cionada pela interpretação deleuziana de termos psicológicos, que fugiriam ao
escopo desta pesquisa.
O objeto virtual é simbólico, no sentido em que “o símbolo é o fragmento
sempre deslocado, valendo por um passado que nunca foi presente”. (DELEUZE,
1988, p. 175) Está sempre se deslocando por entre as séries (séries reais, ou seja,
séries presentes, seja este antigo ou atual), mas também é deslocado em relação
a si mesmo, afinal, “ele não está onde esta...”.1� Por isso, o objeto virtual não
pode ser tratado como termo último ou original, sob a pena de lhe conferir-lhe
um lugar fixo e uma identidade. É por esse caráter simbólico que podemos as-
sociar os objetos virtuais aos simulacros. O símbolo é, com efeito, um tipo de
signo. Em breve retomaremos esta proposição.
É fato que nossa consciência repousa o desejo sobre os objetos. Mas é o incon-
sciente quem deseja.
É verdade que o inconsciente deseja e nada faz senão desejar. Mas, ao mesmo
1�. Destes deslocamentos é que se constituem as repetições.
33AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
tempo que o desejo encontra o princípio de sua diferença com relação à neces-sidade do objeto virtual, ele aparece não como uma potência de negação, nem como elemento de uma oposição, mas sobretudo como uma força de procura, uma força questionante e problematizante que se desenvolve num outro cam-po que não o da necessidade e da satisfação. (DELEUZE, 1988, p. 180)
É neste sentido que dizíamos já em nosso projeto que os objetos virtuais não
são objetos do desejo, objetos sobre o qual recaem os desejos, mas antes objetos
de experimentação do desejo. Nestes objetos, o desejo passa a figurar como
causalidade interna. O desejo não pode apenas recair sobre os objetos virtuais,
pois estes se furtam à prova de realidade, isto é, não pode ser conhecido. Neste
sentido, Pimenta afirma que:
[...] A realidade é baseada na palavra res, que significa ‘coisa’, e a coisa é aquilo que é conhecido. Veja, a palavra res baseia-se na palavra rere, que significa pen-sar, e a coisa é essencialmente, aquilo sobre o qual você pode pensar. Portanto, a realidade é apenas aquilo que o homem pode conhecer. (PIMENTA, 1999, p. �57)
O objeto virtual não se configura como um objeto no campo perceptivo, não é
dotado da materialidade que se observa em todos os objetos do campo percep-
tivo. Entretanto, podemos desprender dele uma imagem, conferindo-lhe uma
materialidade. Assim, ele se insere nos objetos reais e manifesta-se animada-
mente nos aparelhos e nos objetos para jogar. Não podemos conhecê-lo como
um objeto distinto de nosso corpo, contudo isso não nos permite dizê-lo uma
afecção: nenhum desses focos é o eu, afirma contundentemente Deleuze.
A memória implica numa síntese ativa do tempo. É por sua capacidade de
reproduzir os objetos que incide diretamente sobre a representação: a memória
torna o passado em presente, re-presenta os objetos não presentes, não como
reais ou existentes, mas intercalado nestes. Contudo, o faz a partir da síntese
passiva do hábito, na medida em que para tornar um objeto presente novamente,
este precisa estar presente em algum momento. Seu fundamento13, entretanto,
provém de uma síntese passiva da memória, esta supõe um passado puro como
substrato ou plano de troca. De modo geral, quando se fala em sínteses passivas,
fala-se de involuntariedade e de hábito, aquilo que se faz ou não se pode refletir;
as sínteses passivas são sub-representativas. Quanto a esta síntese passiva da 13. Uma importante diferença existe entre o fundamento e a fundação.
3�
memória, devemos relevar que a reminiscência, mais que uma lembrança vir-
tuosa – como mito da circulação das almas no platonismo, lembrança de uma
verdade contemplada pela alma no período de desencarnação, que ao tornar à
consciência se evidencia como o fundamento de todo o conhecimento humano
– figura também como anamnese, ou o ânimo da memória.
Se há um em-si do passado, a reminiscência é seu número ou o pensamento que o investe. A reminiscência não nos remete simplesmente de um presente atua a antigos presentes [...] O presente existe, mas só passado insiste e fornece o elemento em que o presente passa e em que os presentes se interpenetram. (DELEUZE, 1988, p. 149-150)
A memória, com efeito, é o fundamento do tempo, é ela que faz o tempo pas-
sar, empurrando o presente para dentro da vala que cria ao se arrastar, fazendo
do presente o passado. O futuro só pode ser considerado uma expectativa do
ponto de vista de uma consciência formada que espera e reconhece, de alguma
forma, a causalidade. Mas, antes, o futuro é de um vazio incognoscível. Se o
passado é, ou melhor, pode ser preenchido por antigos presentes, o futuro não
pode, sob hipótese alguma, ser preenchido. Se no passado depositamos anti-
gos presentes, ou fragmentos de presentes, aptos a serem ressuscitados em um
atual presente, o futuro apenas nos mostra uma potencialidade de efetuações,
potencialidade de presentes, entretanto, nenhum deles integrados à série dos
reais. O futuro é potencial e apenas expressa potencialidades. Se o passado puro
constitui o objeto virtual e a ação apenas se efetua no presente, o futuro é da
ordem do vazio, do vazio do tempo, vazio que possibilita e fundamenta o jogo. O
jogo é uma expressão, sem objeto que o exprima, do vazio do tempo.
O objeto virtual tecnológico
Efetivamente, as tecnologias digitais de informação produziram mudanças
significativas em nossa percepção de espaço e tempo. Mudanças dessa magni-
tude nos deixam, de fato, aturdidos – cenário ideal para que complicações de
toda ordem apareçam. O que acima esboçamos do objeto virtual muito pouco,
3�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
ou nada, se parece com a noção que comumente se tem, que o produtor quer
que o usuário tenha, ao tomar contato com denominações daquilo que habita ou
incide sobre o ciberespaço, como por exemplo comércio virtual e direito virtual.
A palavra ‘virtual’ pode ser entendida em ao menos três sentidos: o primeiro, técnico, ligado à informática, um segundo corrente e um terceiro filosófico. [...] no uso corrente, a palavra virtual é muitas vezes empregada para significar a irrealidade - enquanto a “realidade” pressupõe uma efetivação material, uma presença tangível. Em geral, acredita-se que uma coisa deva ser real ou vir-tual, que ela não pode, portanto, possuir as duas qualidades ao mesmo tempo. Contudo, a rigor, em filosofia o virtual não se opõe ao real mas sim ao atual: virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade. Se a produção da árvore está na essência do grão, então a virtualidade da árvore é bastante real (sem que seja, ainda, atual). (LÉVY, 1996, p. 47)
Assim, façamos uma distinção entre o objeto virtual e o que podemos chamar
de objeto virtual tecnológico, onde este segundo pode corresponder tanto à efe-
tivação nas mídias informático-digitais do objeto virtual de que nos ocupamos
anteriormente, quanto a transposição de objetos reais para o ciberespaço. Evi-
dentemente, neste segundo caso, uma denominação mais razoável utilizaria o
termo ‘eletrônico’, em vez de ‘virtual’, como em comércio eletrônico ou direito
eletrônico.
O virtual é uma dimensão do real, e não um substituto deste. Quando se fala
em realidade virtual, obviamente se refere à conjugação de diversos aparelhos
tecnológicos para a simulação de experiências em que o usuário visualiza im-
agens virtuais e interage com elas através de dispositivos como datagloves ou
capacetes de visualização 3D (PARENTE, 1993, p.�87-�88), mas, com mais per-
spicácia, fala-se na integração destes dois termos.
O essencial não está na precedência de um dos termos sobre o outro, mas na articulação deles em único sistema. Prolongamento por contigüidade da ação do real sobre o virtual ou o inverso, o composto real/virtual, mais uma vez des-ignado, insiste na sua agregação. Ele testemunha uma tendência a prolongar os objetos pelo imaginário – por meio de próteses feitas por um composto imaterial exprimindo potencialidades desatreladas – a dilatar sua conformação material e funcional. ( WEISSBERG, 1993, p. 1�1)
A realidade virtual é, efetivamente, uma técnica de representação, mas não é
uma técnica de representação qualquer: nela a imagem não é apenas figurativa,
3�
mas também funcional. Sob este aspecto, podemos até dizer que a realidade
virtual, na qual se baseiam muitos videogames contemporâneos, é e não é rep-
resentativa. Levemos em consideração a diferenciação empreendida por Rossi
entre a realidade virtual sintética e a realidade virtual integral.
Configuram-se, desta forma, dois tempos distintos que são dois campos da realidade virtual: a realidade virtual sintética e a realidade virtual integral. A realidade virtual sintética é o que nos vem à mente imediatamente: desenhos simples feitos pelo computador, projetos em 3D, tratamentos de imagens, por exemplo. A realidade integral, ou seja, o sentido do virtus, a potencialidade e a profunda transformação pela qual estamos passando neste novo milênio. Na realidade virtual sintética temos a ilusão de que o que vemos está longe de nossa realidade, ou do que chamamos de real, do nosso cotidiano, dos nossos hábitos e dos valores que damos à própria vida. Isso, na verdade, faz parte de um outro complexo que estamos chamando de realidade virtual integral, estruturada pela hiperinformação em tempo real, mudando completamente toda a estrutura do já existente, ou seja, daquilo que chamamos real. (ROSSI, �003, p. 69)
É sobretudo a esta realidade virtual sintética a que corresponde o objeto virtu-
al tecnológico. Estes são modelos, matrizes numéricas que sintetizam e simulam
o objeto a partir de leis racionais. A este objeto concerne uma imagem de sín-
tese, a imagem que se desprende do processamento desse modelo, traduzindo
este em pixels num monitor de vídeo. Diz-se que a imagem de síntese é virtual
por não remeter a nenhum real preexistente, porém, mais relevante, nos parece,
em sua distinção das outras imagens dentro dos limites da representação o fato
de que esta imagem constitui-se mutuamente ao seu modelo, num movimento
incessante entre imagem e modelo. A realidade virtual sintética nos dá coisas a
ver, entretanto, é a realidade virtual integral que a estrutura e anima.
Assim como a palavra objeto pode se estender a qualquer realidade investiga-
da em um ato cognitivo, a expressão objeto virtual estende-se por um domínio
amplo de significações, podemos considerá-los desde um dos agentes de um
jogo até o jogo como um todo, conforme o que diz Weissberg para um caso mais
geral.
A base dessas redistribuições é a constituição de objetos virtuais numerica-mente modelizados, e tornados por isso mesmo sensíveis ao seu meio ambi-ente. É precisos tomar a noção de objeto num sentido bastante largo. Pode-se
3�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
tratar-se tanto de teclas, de circuitos eletrônicos, de espaços construídos, de paisagens naturais, de fenômenos físicos (ondas do mar, furacões, turbulências aerodinâmicas etc.), de moléculas químicas, de espécies vegetais como de sis-temas mais abstratos como a economia nacional ou um confronto estratégico militar. ( WEISSBERG, 1993, p. 119)
O objeto virtual tecnológico faz a função, por vezes, de um objeto liminar14,
objeto que se comporta como porta, um facilitador de acesso à realidade virtual
a ser explorada. O mecanismo mais comum desses objetos é caracterizado por
repetir-se dentro e fora, dentro da simulação e fora dela, no mundo real, fazendo
deste objeto o elo entre a simulação e a realidade, através de uma ação que se
imprime num deles e que se sente no outro, numa correspondência biunívoca.
Um bom exemplo é encontrado nos volantes acoplados aos simuladores de cor-
ridas: o carro simulado responde aos movimentos que aplicamos ao volante
“real”, e este simula o retorno de forças que as rodas aplicam ao volante. Outros
objetos podem desenvolver esta função, tal como um mouse pode transfigura-se
em pistola (obviamente, não tão facilmente quanto um dispositivo dedicado,
como uma pistola de laser). Encontramos outro bom exemplo desses objetos na
flor da obra La plume et le pissenli de Edmond Couchot e Michel Bret exposta na
Mostra Zonas de interação na qual se soprava uma flor ligada a um computador
e na tela viam-se os aquênios voar com o vento. De acordo com o ânimo em-
pregado no sopro os aquênios caem mais rapidamente, ou mais lentamente.15
“[...] age-se“realmente” sobre o virtual, e aqui, ainda por cima, experimenta-se
“realmente” o efeito virtual”. ( WEISSBERG, 1993, p. 1�1)
“É a experiência de usar objetos, e de vê-los funcionar como deveriam em nos-
sas próprias mãos, que cria a sensação de sermos parte do mundo”, diz Murray
(�003, 113) sobre os objetos virtuais. Sob este ponto de vista, o objeto virtual
deve ser convincente, disposto no mundo virtual, seu comportamento deve
alterar a realidade em que se insere, tal como um objeto no “mundo real” in-
terfere no real, interfere no espaço. Mas mesmo numa experiência exploratória 14. O primeiro contato que tivemos com a expressão foi pelo trabalho de Murray, entre-tanto, desviamos um pouco dela. Murray considera o próprio computador, os joysticks, o objeto liminar. Não descordamos disto, entretanto, parece que esta definição se ultrapassa no sentido de afirmar o objeto virtual tecnológico. Na concepção de Murrey, o objeto limi-nar tem também a função de manter uma parte de nós aparte do mundo artificial.15. Mais informações sobre esta obra estão disponíveis no site da mostra: <http://www.terra.com.br/bienaldomercosul/ciberporto/ >
3�
moldada à semelhança da experiência real, por exemplo numa simulação com
considerações físicas de gravidade, é possível dar a estes objetos, características
divergentes de uma semelhança irrestrita com a realidade, criar objetos que
desafiam as leis da física e nos proporcionam novas formas de se relacionar
como o espaço.
Simulação
A operação da simulação nunca cessou, diz Weissberg, “fazer parecer real o
que não é” foi invocado desde a escultura grega, e mesmo no apogeu do movi-
mento barroco. A simulação tem por significado o fingimento, o disfarce; fazer
parecer real, é sob o mais comum dos casos, imitar a imagem que o real tem.
Neste momento, torna-se interessante desdobrarmo-nos um pouco mais sobre
as concepções de imagem. Reconhece-se em Platão a distinção de dois tipos de
imagem: as cópias e os simulacros.
As cópias são possuidoras em segundo lugar, pretendentes bem fundados, ga-rantidos pela semelhança; os simulacros são como os falsos pretendentes, con-struídos a partir de uma dissimilitude, implicando uma perversão, um desvio essenciais. (DELEUZE, �000, p. �6�)
A pretensão que se assinala às cópias e aos simulacros é em relação à Idéia,
no sentido em que a imagem tenciona reproduzir a Idéia, sendo a semelhança
a medida dessa pretensão. Reprodução que é essencialmente uma tradução, na
medida em que as idéias são imateriais e as imagens, como nos mostrou Berg-
son, constituem a materialidade – tradução das Idéias em objetos, qualidades.
A cópia é um pretendente bem fundado pois imita, ou reproduz, as relações e
proporções internas da Idéia, funda-se na Idéia.
Consideremos agora a outra espécie de imagens, os simulacros: aquilo a que pretendem, o objeto, a qualidade etc., pretendem-no por baixo do pano, graças a uma agressão, de uma insinuação, de uma subversão, ‘contra o pai’ e sem pas-sar pela Idéia. Pretensão não fundada, que recobre uma dessemelhança assim como um desequilibro interno. (DELEUZE, �000, p. �6�-�63)
3�AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
Os simulacros são, portanto, imagens que se insinuam sobre a Idéia sem, no
entanto, ter com elas semelhança. Devemos reforçar que nisto consiste a difer-
ença de natureza entre a cópia e o simulacro; não se fala em uma diferença de
grau – pouco importa serem as cópias mais semelhantes à Idéia do que são os
simulacros – fala-se na ausência de semelhança. Mesmo que o simulacro produza
alguma semelhança, esta é apenas um reflexo de seu funcionamento, um efeito
exterior, e não a semelhança de uma idéia mal imitada, ersatz.
[...] O simulacro implica grandes dimensões, profundidades e distâncias que o observador não pode dominar, é porque não as domina que ele experimenta uma impressão de semelhança. O simulacro inclui em si o ponto de vista dif-erencial; o observador faz parte do próprio simulacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de vista. (DELEUZE, �000, p. �64)
Apontamos anteriormente que os objetos virtuais, em virtude de seu caráter
simbólico, são da ordem dos simulacros. Entretanto, Deleuze não utiliza o termo
a fim de categorizar o signo, o símbolo como signo arbitrário, mas o emprega
para designar a dinâmica dos signos entre as séries nas quais se insere. Dos sis-
temas sinal-signo é que se constroem as bases para o símbolo e o simulacro.
Chamamos ‘sinal’ um sistema dotado de dissemetria, provido de disparatadas ordens de grandeza; chamamos ‘signo’ aquilo que se passa num tal sistema, o que fulgura no intervalo, qual uma comunicação que se estabelece entre os disparates. O signo é um efeito, mas o efeito tem dois aspectos: um pelo qual, enquanto signo, ele exprime a dissemetria produtora; o outro, pelo qual ele tende a anulá-la. O signo não é inteiramente a ordem do símbolo; todavia, ele a prepara, ao implicar uma diferença interna (mas deixando no exterior as condições de sua reprodução).” (DELEUZE, 1988, p. 50)
Os ditos disparates são as séries heterogêneas (no caso do objeto virtual, estas
tomam corpo como séries reais), que ficam à margem, permanecem exteriores
ao sistema. Entretanto, entre estas séries se produz uma ressonância interna
– elas vibram à mesma freqüência, é efetuada transferência de energia de uma
de uma série à outra, produzindo um “movimento forçado”, movimento este que
altera as séries implicadas. Um símbolo, e o simulacro, passam a existir a partir
do momento em que as séries são complicadas ao sistema, isto é, no momento
em que se incluem suas condições de reprodução. Este movimento manifesta-se
também num objeto virtual, onde as séries são efetuadas pelos objetos reais. O
�0
resultado é, efetivamente, uma repetição.16 Assim dizemos, pois há neste deslo-
camento entre as duas séries, deslocamento das séries e dos signos, a constitu-
ição de disfarces, do qual se constitui a repetição. O próprio do objeto virtual,
enquanto simulacro, é constituir-se de disfarces.
Mesmo as séries ressonantes constituintes do simulacro, apesar de possuírem
alguma semelhança, são fundadas não sob a identidade de um conceito, mas
antes nelas mesmas. Sob todos os aspectos, a semelhança de um simulacro é
apenas um efeito. “O simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma
potência positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como
a reprodução”. (DELEUZE, �000, p. �67 – grifo do autor) A identidade muda de
figura e surge como uma intensidade, ou a diferença que surge entre repetições.
As identidades e semelhanças aparecem ao secretar, ou melhor, disfarçar uma
repetição interna constituinte. “Uma repetição material e nua (como a repetição
do Mesmo) só aparece no sentido em que uma outra repetição nela se disfarça,
constituindo-a e constituindo a si própria ao se disfarçar”. (DELEUZE, 1988, p.
5�)
Conforme o exposto, a identidade dos objetos, sob o caráter do mesmo e da
semelhança, são simulados, isto é, exprimem o funcionamento dos simulacros.
“A simulação é o próprio fantasma, isto é o efeito do funcionamento do simu-
lacro enquanto maquina dionísica”. (DELEUZE, �000, p. �68) Máquina anárquica,
vibrante e imaginária, a simulação não faz das semelhanças apenas aparência.
Antes,
a simulação designa a potência para produzir um efeito. Mas não é somente no sentido causal, uma vez que a causalidade continuaria completamente hipotética e indeterminada sem a intervenção de outras significações. É no sentido de “signo”, saído de um processo de sinalização; é no sentido de “cos-
16. É preciso levar em conta que a concepção de repetição empreendida por Deleuze des-dobra-se num plano não representativo. Não que esta repetição não possa ser representa-da; pelo contrário as semelhanças externas dão testemunho das repetições, é como disfar-ce e constituída de disfarces que implicamos os simulacros às repetições. Entretanto, esta concepção atinge níveis muito mais profundos dos que estão relatados em nosso trabalho, que tanto por uma questão econômica, quanto a natureza de uma pesquisa de iniciação científica, escolhemos não abordar. Mesmo a definição concisa de diferença sem conceito, necessita de explicações de uma extensão, para este trabalho, inadequadas. Utilizamos desta concepção somente suas implicações enquanto repetição dos elementos exteriores (como, por exemplo, a repetição dos instantes) e algumas questões concernentes à relação da representação com a repetição.
�1AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
tume” ou antes de máscara, exprimindo um processo de disfarce em que, atrás de cada máscara, aparece outra ainda... a simulação assim compreendida não é separável do eterno retorno; pois é no eterno retorno que se decidem a re-versão dos ícones ou a subversão do mundo representativo. (DELEUZE, �000, p. �68-�69)
Que nesta subversão da representação resida um certo niilismo é inegável.
Mas o niilismo guarda a potência positiva de revelar experiência imediata da
vida. A simulação é uma grande brincadeira de disfarces.
É sobre o deslocamento dos signos que se efetuam as simulações. Flusser,
ao descrever o funcionamento de seus aparelhos, segundo sua definição, “um
brinquedo que simula um tipo de pensamento”, deixa claro para nós o caráter
das simulações: “Os programas dos aparelhos são compostos de símbolos per-
mutáveis. Funcionar é permutar símbolos programados”. (FLUSSER, 1985, p.31)
Considerando agora a imagem como a qualidade sensível dos objetos, parece-
nos positivo lembrar que os simulacros são apenas sentidos como imagem17,
isto é, o simulacro só é percebido como somatória de simulacros apreendidos
num mínimo de tempo sensível. Os simulacros produzem as imagens.
A simulação encerra a potência representativa do simulacro. Simular é tor-
nar o simulacro sensível, dar imagens aos simulacros, contraí-los numa imagem
sensível e cognoscível. Simular nada mais é que fazer o simulacro. Mas, ironica-
mente, o se simula é um modelo. Este ganha outro sentido então, não mais como
regras para composição, ou ideal que as pretensiosas imagens tentam alcançar.
O modelo e a imagem são dados a um só momento nas mídias digitais. Como
nos mostra Couchot, a imagem (mais especificamente a imagem figurativa) sem-
pre foi construída sobre um modelo. Mas agora, modelo e imagem se fundem,
na medida em que agir sobre a imagem é agir imediatamente sobre o modelo,
redefinindo os contornos da imagem.
A imagem torna-se imagem-objeto, mas também imagem-linguagem, vaivém entre programa e tela, entre memórias e o centro de cálculo, os terminais; tor-na-se imagem-sujeito, pois reage interativamente ao nosso contato, mesmo ao nosso olhar: ela também nos olha. (COUCHOT, 1993, p. 4�)
17 Esta proposição deriva da concepção epicurista d simulacro. Cf. Gilles DELEU-ZE, Lógica do sentido, apêndice �.
�2
A simulação torna o simulacro sensível por um duplo aspecto: sensível para
nós, tornando o processo de deslocamento sígnico que são os modelos numeri-
camente construídos em superfícies sensíveis, trocando disfarces, tornando-se
imagem; e fazendo os simulacros sensíveis a nós, fazendo com que nossas ações
afetem o deslocamento dos signos que se permutam.
O modelo é sim construído de regras, mas essas dão potência de circulação en-
tre as séries heterogêneas e ressonantes, sendo o modelo o movimento forçado
que descreve a circulação, sendo ele a própria identidade. Não identidade do
objeto no conceito através de uma semelhança, mas antes o que anima um ob-
jeto, o que faz ele, ele, e que se retirado deixa de existir. Com efeito, “a simulação
informática liga-se a esse estado de não-separação entre imagem e objeto”. (
WEISSBERG, 1993, p. 117)
O modelo toma existência concreta como softwares, conjunto de componentes
lógicos que perfazem programas de computador. Por isso, são essencialmente
numéricos. Mas também podem ser extremamente plásticos, dependendo da
ousadia do projeto de design que lhe configura e da elegância da matemática
que lhe rege. A despeito da confusão criada em cima do termo virtual, este mod-
elo possui uma existência real, mas uma existência numérica. Apesar de se fazer
existir sobre os “frios” números, é uma existência sensível, que faz dos modelos
pixels, imagens, ofertados a nossa sensibilidade e ação, ação que dirigimos aos
pixels, mas efetuadas nos modelos. O modelo, sob estes aspectos, é a materiali-
dade, a substância da experiência sensível da realidade virtual.
Um duplo que se comporta dessa maneira é um duplo que se revolta contra o
original. Por serem constituídos de regras, tais modelos podem tanto reproduzir
as leis físicas que atuam no mundo real, (como em simuladores automobilísti-
cos e de aviação) quanto criar modos de locomoção sem paralelo, em espaços
igualmente sem precedentes com relação a nossas experiências reais. É por meio
das relações que se desenham neste modelo que o objeto virtual pode oferecer-
se mais ou menos à nossa experiência. O esforço de um projeto de design em
agenciar estas relações, em produzir um design de relações destes objetos, tem
por destino deixar que o desejo não apenas recaia sobre estes objetos, mas atue
neles e deles transvase.
�3AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
A lógica da Simulação não pretende mais representar o real com uma imagem, mas sintetizá-lo em toda sua complexidade, segundo leis racionais que o de-screvem ou o explicam. (COUCHOT, 1993, p. 43)
Dissemos que a simulação expressa o deslocamento dos signos entre as séries
heterogêneas, ela dá nota do movimento que configura o modelo. Daí ser fun-
damentalmente temporal, assim como a distinção entre sujeito e objeto, na me-
dida que “o tempo se manifesta com relação ao movimento”. (DELEUZE, �000,
p. �83)
Imersão
Qualificamos uma experiência como imersiva quando esta tem o poder de
nos absorver, de puxar-nos para dentro dela, fazendo com que a distinção entre
dentro e fora (de uma simulação em nosso caso, mas o mesmo é afirmado de
um filme ou história em quadrinhos, por exemplo) torne-se demasiado tênue,
efetuada apenas num momento de distração com relação a esta experiência.
As superfícies tornam-se “profundas”, os limites desaparecem e adentramos as
imagens.
“Imersão” é um termo metafórico derivado da experiência física de estar sub-merso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersivo a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de todo nosso sistema senso-rial. (MURRAY, �003, p. 10�)
Tal como Quéau, podemos dizer que a imersão se efetua quando podemos
considerar a imagem como um lugar. Claramente, esta nossa noção (e até um
desejo, como salienta Murray) de imersão é herdado de outras mídias: tanto a
literatura, quanto o cinema, apenas para citarmos dois exemplos, desenvolv-
eram formas de imersão, desde a descrição primorosa de cenários, criação de
universos enciclopédicos como os de Tolkien (MURRAY, �003, p. 90), ou as im-
agens em primeira pessoa em filmes de terror. A imersão é um elemento de
��
grande importância à arte narrativa em geral, mas mesmos os jogos possuem
um caráter imersivo:
Todo jogo é capaz, a qualquer momento, de absorver inteiramente o jogador. Nunca há um contraste bem nítido entre ele e a seriedade, sendo a inferiori-dade do jogo sempre reduzida pela superioridade de sua seriedade. Ele se torna seriedade e a seriedade, jogo. (HUIZINGA, �001, p. 11)
O jogo de linguagem de Huizinga exprime com graça como o jogo, tratado
como distração num mundo de seriedade, torna-se muito sério, fazendo com
que o que se passa fora de seus limites, ser tomado como mera distração. A im-
ersão no jogo subverte todo o critério de seriedade que separa o “mundo real”
do “mundo imaginário”.
Entretanto, o caráter imersivo nos videogames e nas imagens de síntese em
geral, está mais associada às características especificas desse meio do que as
características herdadas de meios precedentes. Como afirma Quéau sobre as im-
agens de síntese,
a verdadeira revolução reside, no entanto, nas possibilidades específicas da infografia, notadamente, na sua capacidade de interação com o espectador e na sua possibilidade de geração em tempo real, dando assim, o sentimento de uma “imersão” na imagem. (QUÉAU, 1993, p. 93)
Assinalá-se deste modo a ligação entre a agência e a imersão na construção
do espaço de jogo. Mas, como nos adverte Murray, num ambiente participativo,
agenciável, é preciso saber navegar para dar sentido a essa imersão. Designe-
mos, ao menos temporariamente, o espaço construído por estes objetos virtuais
análogo ao mais geral de dispomos em nossas concepções de espaço: universos
no qual ocorrem os fenômenos e que permitem a extensão destes, mas também
como forma intuitiva a partir da qual a sensibilidade humana organiza a exper-
iência sensorial. Contudo, este espaço habitado pelos objetos virtuais possui
propriedades que o diferencia radicalmente do espaço habitado pelos objetos
“reais”.
O espaço muda: virtual, pode assumir todas as dimensões possíveis, até dimen-sões não inteiras, fractais mesmo o tempo flui diferente; ou antes, não flui mais de maneira inelutável; sua origem é permanente “reinicializável”: não fornece
��AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
mais acontecimentos prontos, mas eventualidades. (COUCHOT, 1993, p. 4�)
Acerca desta outra natureza do espaço, Quéau irá defrontar a concepção kan-
tiana de espaço, como uma representação necessária a priori que serve de funda-
mento, substrato, a todas as intuições por este distribuídas, enquanto o espaço
nos mundos virtuais deixa de ser uma forma a priori, mas o que se constitui
como interstício das intuições. Se na concepção kantiana o espaço é a condição
da experiência, para Quéau é a experiência que condiciona o espaço. Os objetos
já não habitam o espaço, mas o constituem, assim como são constituídos por
ele. “El espacio deja de ser un substracto intangible. Se convierte en objeto de
modelaje y interacción constante con los otros objetos que ha de contener”.
(QUÉAU, 1995, p. 84)
O deslocamento do jogador por entre as diversidades contempladas em uma
simulação é que dá sentido a experiência subjetiva de navegação. Sob este as-
pecto, tão rica pode ser tal experiência em função das multiplicidades expressas
pelas possibilidades de navegar e interagir com o espaço e os objetos que nele se
percebem. O espaço de um videogame, e das hipermídias em geral, é assimilável
ao espaço de um labirinto, não apenas por sua arquitetura, mas pela disposição
e intrincamento dos elementos e formas de ação e resposta que estes incitam e
distribuem. Sob a figura do labirinto, a noção de imersão converge com a noção
de enredamento.
Além de navegar o espaço para lhe conferir sentido, é preciso excluir-se, afir-
ma Murray. Excluir o Eu, a fim de que a realidade virtual experimentada não
se desagregue pela presença de um corpo estranho que falseie as respostas,
perdendo seu potencial imersivo. A imersão só pode ser alcançada a partir do
momento em que nossa inteligência não atua criticamente, de modo questiona-
dor, mas passa a figurar enquanto esta atua de modo questionante. O primeiro
método é daquele que busca analiticamente, o segundo é o método sintético
de busca. A imersão utiliza-se de nossos pensamentos para reforçar a ilusão. É
preciso que o jogador se “misture” ao aparelho que manipula, que não seja na
realidade que intervém a razão do movimento de todos os entes. Caso contrário,
o círculo imersivo pode ser quebrado.18 Neste sentido, o jogador necessita de 18. No cinema, cf. O show de Truman – o show da vida. Dir. Peter Weir, 1998. Quando Tru-man começa a perceber que o mundo em que vive está sempre reagindo de acordo com
��
um avatar, precisa transformar-se, tomar outra materialidade, uma materiali-
dade sensível à realidade imersiva.
Entretanto, mesmo que grande parte do poder imersivo de uma hipermídia
esteja na diversidade de elementos atuando concomitantemente, estes elemen-
tos precisam estar ao alcance do jogador. Cria-se um espaço vivo não tanto pela
quantidade de movimentos e de objetos que a imagem pode revelar (fenômeno
que tem ganha números cada vez mais expressivos graças ao aumento da ca-
pacidade de cálculo dos dispositivos informáticos, principalmente dos disposi-
tivos dedicados, especialmente as GPUs19), mas pela quantidade de movimentos
que a imagem solicita ou induz ao jogador.
“Uma vez criado o espaço de ilusão, sua presença psicológica é tão grande que
ele pode até separar-se dos meios de representação”. (MURRAY, �003, p. 107) Isto
é, se o papel da imersão é justamente “eliminar as bordas” que se desenham no
campo perceptivo entre a imagem com qual se joga e o mundo real na qual se in-
sere, uma vez que o esteja estabelecido o espaço que o jogador tenha adentrado
o espaço, é possível explorar os limites desse deste como características expres-
sivas. Murray reconhece um exemplo de deste caso quando o personagem olha
para o “lado de fora” da tela, como se pressionasse o jogador por uma ação.
O transe imersivo ocorre quando o jogador entra em estado de profunda
absorção, cheio de sensações e emoções originadas por um objeto imaginário.
A imagem sintética, apesar de muitas vezes não ser nada “natural”, pejorati-
vamente “sintética”, consegue tocar a sensibilidade do jogador, envolvendo-o
numa forte impressão de pertencer e modificar uma realidade.
seus deslocamentos, a imersão vai se tornando cada vez mais fraca, até o momento em que ele perde o interesse em habitar o mundo construído para ele.19. GPU – Graphics Processing Unit ou VPU – Video Processing Unit, ou unidade proces-sadora de vídeo: o chipset da placa de vídeo. Ambos os termos, sugiram junto com as primeiras placas de vídeo 3D populares. A placa de vídeo deixou de ser um periférico que simplesmente mostra imagens no monitor para tornar-se um componente muito mais sofisticado, que aplica efeitos, finaliza imagens em tempo real, cuida de parte da movi-mentação das cenas.
��AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
Agência
A agência é, por definição, capacidade de agir. Neste sentido, podemos afirmar
que poucas coisas são tão característica a um videogame quanto a agência e a
diversão a ela associada. Murrey define: “agência é a capacidade gratificante de
realizar ações significativas e ver o resultado de nossas decisões e escolhas”.
(�003, p. 1�7) Entretanto, como ela mesma observa, a agência vai além da ca-
pacidade de ação.
Mas atividade por si só não é agência. Por exemplo, num tabuleiro de jogo de
azar, os jogadores podem manter-se muito ocupados girando a roleta, movendo
as peças do jogo e trocando dinheiro, mas eles não podem ter qualquer sentido
real de agência. As ações dos jogadores geram efeitos, mas tais ações não são
escolhidas por eles e seus efeitos não estão relacionados às intenções dos joga-
dores. (MURRAY, �003, p. 1�9)
Eis aí também a diferença dos jogos de videogame, e de modo geral, dos jogos
em que se brinca, aos jogos de azar. Mesmo que se argumente que as ações num
jogo de videogame são restritas – e de fato são –, ainda assim elas interferem
integralmente no mundo jogado.
A esta restrita capacidade de ação corresponde um sujeito diferente daqui-
lo que usualmente designamos como tal. Também por isso faz-se necessário
excluir o Eu, adotar uma outra materialidade para agir sobre estes mundos.
Descemos sobre estes mundos através de avatares, que como observa Murray,
funcionam como máscaras, o limiar entre o mundo jogado e o “mundo real”.
(MURRAY, �003, p. 114) Sob este aspecto, podemos dizer que não operamos os
avatares; antes, operamos as realidades imersivas por meio de avatares. Assim,
designá-los como as imagens gráficas que nos representam no mundo jogado
é dá-los pouco crédito e só pode assimilá-los a personagens sob aspectos limi-
tados. Os avatares personificam as maneiras pelas quais podemos operar estas
realidades.
Existe uma ligação direta entre o potencial de imersão e potencial de ação
de um jogo. Ao ligar uma ação a um dado sensível, tanto a agência quanto a
imersão são aumentadas. A agência se torna mais evidente e satisfatória, pois
��
experimentamos as conseqüências de nossas ações instantaneamente, impri-
mindo modificações sensíveis na no espaço representativo, fazendo com que
nos sintamos cada vez mais “dentro” das simulações, ou seja, a imersão é am-
pliada.
Jogos de combate também desenvolveram uma maneira infalível de combi-nar agência com imersão. O aspecto mais atraente desses jogos é o casamento perfeito entre o dispositivo de controle e a ação na tela. Um clique tangível no mouse ou no joystick resulta numa explosão. É necessário um mínimo esforço de imaginação para entrar num mundo como esse, porque a sensação de agên-cia é muito direta. (MURRAY, �003, p. 143)
Tomemos agora a agência sobre outro aspecto. Age-se, efetivamente, sobre os
objetos. Contudo, se agimos para deslocar o alvo da ação, o objeto, fazemo-lo
para alcançar um objetivo. Mesmo que a meta a ser atingida seja o deslocamen-
to do objeto, uma predisposição subjacente deve configurar esta ação. Afinal,
deslocar o objeto para onde?, e se não se importamos com local, deslocamos
ainda porque algo precedente à ação nos possibilita e nos solicita à esta. An-
teriormente, já tínhamos invocado a integração dos diversos sujeitos larvares
na composição da ação. Segundo Deleuze, para agir, é preciso integrar as con-
templações. De modo análogo, Bergson concebia a percepção com vistas à ação.
A agência, enquanto capacidade de agir, é a mobilização dos eus passivos, dos
sujeitos larvares sob uma orientação, integrados para desferir uma ação. Tam-
bém já falamos da ação que se desfere ao objeto real com intuito de acessar o
objeto virtual. Parece-nos agora mais clara a organização dessa capacidade de
ação frente aos objetos virtuais, ou o que a anima a integração destes sujeitos
larvares em direção ao objeto virtual: o desejo.
O desejo é esse conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos par-
ciais, os fluxos e os corpos, e que funcionam como unidade de produção. O real
decorre dele, é o resultado das sínteses passivas do desejo como auto-produção
do inconsciente. (DELEUZE; GUATARRI, 1976, p. 43-44)
O sujeito que navega a realidade do jogo é um sujeito larvar, misturado ao
mundo que vasculha, associando o desejo à percepção. Sobre as relações do
desejo com a percepção, Rossi aponta uma importante interseção entre as obras
de Leibniz e Deleuze.
��AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
Podemos encontrar, no filósofo Leibniz, referencias tão sublimes quanto as
definições deleuzianas, como o desejo associado a uma diferença de consciência
entre as mônadas (chamadas de unidades de força) enquanto percepção, pois
os animais são constituídos de mônadas sensitivas, dotadas de apercepções e
desejos, e o homem de mônadas racionais, com consciência e vontade.
É desta forma, então, que vamos encontrar a idéia de devir-animal em De-
leuze, onde as a-percepções regeriam a navegação de forma realmente ‘aberta’
na World Wide Web, num retorno ao puro desejo, bem como na formação de
desejos, não maquinados. (ROSSI, �003, p. 59-61)
Este devir-animal, que faz do ser, ser à espreita, navegando, deslocando-se
sobre os territórios segundo seus desejos, desejos não dirigidos pelas grandes
máquinas sociais de subjetivação. A ação tem um sentido diverso com relação
aos objetos virtuais, para além do condicionamento das atividades humanas.
�0
Considerações finais
O que buscamos abordar nesta documentação foram os processos de distinção
entre sujeito e objeto e daí verificar como se configura o objeto virtual e as cara-
cterísticas que mais influem em sua relação com o sujeito. Evidenciou-se, neste
sentido, que a distinção entre sujeito e objeto, mais que espacial, é temporal.
Não poderia ser de outra natureza a relação entre os jogadores, seus territórios
de jogos e os deslocamentos que nele se inscrevem. Já a imagem, enquanto me-
diação entre sujeito e objeto, forma sob a qual apreendemos o mundo, mostrou-
se mais “profunda” de sua concepção usual.
Quanto o objeto virtual, mesmo sendo essencialmente passado, de modo al-
gum coexiste com a consciência, cuja instalação depende da ação da memória;
pelo contrário, dá nota de um inconsciente desejante. Para um tal objeto, que
nunca pode ser possuído, que nunca é efetivamente atingido, que sempre se
furta e falta a si mesmo, que se mascara, outras relações de desejo devem ser
invocadas. Não mais um desejo que se abaixa sobre os objetos, objeto do desejo,
mas um desejo que esquadrinha e questiona, um desejo à espreita, atento e
vigilante.
As simulações que levam estes objetos a terem efeito na realidade, que efet-
uam os jogos, funcionam por meio da permutação de signos, uso de máscaras
da qual se monta o simbólico, não signo arbitrário, mas signo que se desloca em
relação a si mesmo e a todos os outros. A imagem torna-se sensível e, a represen-
tação que da simulação se desprende, um efeito de seu funcionamento.
Tratando de questões de linguagem, apontar os limites sobre qual se config-
uram as questões estéticas foi o nosso foco. Neste sentido, constamos que o fun-
damental às características imersivas não está na semelhança com a realidade,
hoje muito comum em diversos videogames, mas baseia-se preponderantemente
no estado de absorção do jogador, estado este que se configura mais em relação
ao tempo que da representação espacial.
Em palestra proferida sobre as interações entre o cinema e os jogos eletrôncos
este ano no III Encontro de Design de Games, Ale McHaddo, enfatizou que esta-
mos perto de encontrar os limites de uma linguagem “própria” dos videogames,
�1AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
mesmo porque as características técnicas do meio estão começando a dar
sinais de estabilidade, e que mudanças tecnológicas significativas não serão
produzidas com a mesma freqüência que se produzem hoje. Certamente esta
é uma possibilidade (com um elevado grau de realidade), principalmente no
que tange a bilionária indústria de games. Entretanto, se as capacidades grá-
ficas e a linguagem visual dos videogames estão próximas de uma estabiliza-
ção, cujo sinal é dado pela insípida estandardização visual dos mesmos, ainda
há muito a se explorar na interação homem-máquina.
Os objetos tornaram-se sensíveis, reagentes e os sujeitos parecem ter com
estes uma outra comunhão. É neste sentido que inicialmente afirmamos que
a produção de subjetividade passava necessariamente por alterações. Mas,
em outro plano, o que falamos é que se outras relações de desejo aparecem,
aparecem por uma mudança nas possibilidades de intervenção sobre as má-
quinas coletivas de subjetivação. Disto deve-se organizar-se um outro Design,
um design que não se contenta em fazer o desejo baixar sobre os objetos, que
concebe o desejo de forma extremamente ativa, e que apontamos como o
Design de Relações.
�2
Bibliografia
ARGAN, Giulio C. Projeto e Destino. São Paulo: Ática, �001. Tradução Marcos
Bagno.
AZEVEDO, Wilton. O que é Design. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
BERGSON, Henri. Matéria e Memória. Ensaio Sobre a Relação do Corpo com o
Espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
CRITICAL ART ENSEMBLE. Distúrbio Eletrônico. São Paulo: Editora Conrad,
�001.
DELEUZE, Gilles. A Dobra. Leibniz e o Barroco. Campinas: Papirus, 1988.
Tradução Luiz B. L. Orlandi.
DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido. São Paulo: Editora Perspectiva, �000.
Tradução Luiz R. S. Fortes.
________. Diferença e Repetição. São Paulo: Edições Graal, 1988. Tradução Luiz
B. L. Orlandi e Roberto Machado.
________ e GUATARRI, Félix. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. v. 1. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1995. Tradução Aurélio G. Neto e Célia P. Costa.
________. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. v. �. Rio de Janeiro: Editora
34, 1995. Tradução Ana L de Oliveira e Lúcia C. Leão.
________. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. v. 5. Rio de Janeiro: Editora
34, 1995. Tradução Peter P. Pelbart e Janice Caiafa.
________. O anti-édipo. Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de Janeiro: Imago,
1976. Tradução Geroges Lamazière.
FOUCALT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
Tradução Salma T. Muchail.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta. São Paulo: Hucitec, 1985. Tradução
do Autor.
HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna: uma Pesquisa sobre as Origens da
Mudança Cultural. 10 ed. São Paulo: Loyola, �001. Tradução de Adail U. Sobral e
M. Estela Gonçalves.
�3AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. São Paulo: Editora Perspectiva, �001. Tradução
João Paulo Monteiro.
KAKU, Michio. Hiperespaço. Rio de Janeiro: Rocco, �000. Tradução M. Luíza X.
de A. Borges.
LACEY, H. M. A Linguagem do Espaço e do Tempo. São Paulo: Editora Perspectiva,
197�.
LÉVY, Pierre. O que é o Virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. Tradução Paulo
Neves.
________. As Tecnologias da Inteligência. O Futuro do Pensamento na Era da
Informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. Tradução Carlos I. da Costa
________. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.
MURRAY, Janet H. Hamlet no Holodeck. O futuro da narrativa no ciberespaço.
São Paulo: Editora Unesp, �003. Tradução Elissa K. Daher e Marcelo F. Cuzziol.
NEGROPONTE, Nicholas. Ser Digital. Lisboa: Caminho da Ciência, 1996.
NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, �005.
Tradução Alex Marins.
PARENTE, André (org.). Imagem Máquina - A era das tecnologias do virtual. Rio
de Janeiro: Editora 34, 1993.
PIMENTA, Emanuel D.M. Teleantropos - A desmaterialização da cultura material,
arquitetura enquanto inteligência, a metamorfose planetária. Lisboa: Editorial Es-
tampa, 1999.
PLAZA, Júlio. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, �003.
PRIGOGINE, Ilya. O Fim das Certezas. Tempo, Caos e as Leis da Natureza. São
Paulo: Editora Unesp, 1996. Tradução Roberto L. Ferreira.
QUÉAU, Philippe. Lo Virtual. Virtudes y Vertigos. Barcelona: Ediciones Paidós,
1995.
ROSSI, Dorival. Transdesign. Folias da Linguagem. Anarquia da Representação.
Um estudo acerca dos objetos sensíveis. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica
– PUC, tese de doutoramento, �003.
RUSHKOFF, Douglas. Um Jogo Chamado Futuro. Como a Cultura dos Garotos Pode
��
nos Ensinar a Sobreviver na Era do Caos. Rio de Janeiro: Revan, 1999. Paulo César
Castanheira.
SERRES, Michel. Filosofia Mestiça. Letiers-Instruit. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1991. Tradução M. Ignez Estrada.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do Trabalho Científico. �1a. ed. revista e am-
pliada. São Paulo: Cortez, �000.
VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. Tradução Paulo
Roberto Pires
Infografia
ROSSI, Dorival e WINCK, João B. de M. O que Chamamos de Realidade. E-pa-
per publicado em http://www.winckonline.com.br (acessado em 13 de jan. de
�005).
AArSeth, espen (org.) Game Studies. estudos selecionados de diversos autores
em várias áreas do Gamedesign com foco nos aspectos estéticos, culturais e comu-
nicativos dos jogos eletrônicos. http://www.gamestudies.org (último acesso em 21 de
mai. 2005).
FRASCA,Gonzalo. Ludology. Estudos selecionados de diversos autores sobre
ludologia. http://ludology.org (último acesso em 16 de jan. de �005).
GOUGH N. E. e MEHDI Q. H. International Journal of Intelligent Games & Simula-
tion. Estudos selecionados de diversos autores focados nos aspectos tecnológi-
cos dos videogames. http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm18��/ijigs11.htm (último
acesso em 07 de mar. �005).
CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH. Estudos seleciona-
dos de diversos autores sobre desenvolvimento de conteúdo, estética e estrutu-
ra, métodos projetuais, hibridização de mídias e interação social. Editado pelo
Departamento de Estéticas Digitais e Comunicação da Universidade de Infor-
mação e Tecnologia de Copenhagen. http://game.itu.dk/ (último acesso em 17
de fev. �005).
��AN
IMA
| O D
esign
de R
elaç
ões
e a
Ling
uage
m do
s Jo
gos
Elet
rônico
s
INOVAÇÃO TENOLÓGICA. Biologia e eletrônica se mesclam para dar visão a ro-
bôs.
h t t p : / / w w w. i n o v a c a o t e c n o l o g i c a . c o m . b r / n o t i c i a s / n o t i c i a .
php?artigo=010180041109 (acessado em �3 mai. �005)
PARNET, Claire. O abecedário de Gilles Deleuze. Transcrição integral do vídeo,
para fins exclusivamente didáticos. http://desobediente.multiply.com/journal/
item/6 (último acesso em 15 jun. �005)
Jogos eletrônicos
REMEDY ENTERTAINMENT. Max Payne. Niittykumpu: �001.
NINTENDO CO. LTD. The Legend of Zelda: Ocharina of Time. Kyoto: 1998.
PP PP PPP P PPAlexey. Tetris. Kyoto: Nintendo Co. Ltd. 1989.
ROCKSTAR NORTH. Grand Theft Auto III. Edinburgh: �001.
ROCKSTAR NORTH. Grand Theft Auto: Vice City. Edinburgh: �00�.
MAXIS. SimCity 3000. Walnut Creek: 1999.
LAMARQUE, Jean-Luc. Pianographique. 1999.
REDDISH REGION. Hinokakera: Fragments of Innnocent Sinner.
Filmografia
TRON (idem). Direção Steven Lisberger. EUA/Taiwan. 198�. 96 min, color, VHS.
Legendado em Português.
MATRIX (The Matrix). Direção Andy e Larry Wachowski. EUA, 1999. 136 min,
color, DVD e VHS. Legendado em Português.
EXISTENZ (idem). Direção David Cronenberg. Canadá. 1999. 98 min, color,
��
DVD. Legendado em Português.
FINAL FANTASY - THE SPIRITS WHITHIN (Final Fantasy). Direção Hironobu
Sakagushi e Moto Sakakiraba.EUA/Japão. �001. 106 min, color, DVD e VHS. Leg-
endado em Português.
O SHOW DE TRUMAN – o show da vida (The Truman Show). Direção Peter
Weir. EUA. 1998. 10� min, color, VHS. Legendado em Portugês.