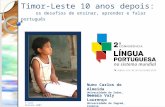Timor-Leste 10 anos depois: o desafio de ensinar, aprender e falar português
Depois do Milagre
Transcript of Depois do Milagre
GLAUCIO ARY DILLON SOARES
, ""!-
Depois do Milagre
SEPARATA DA REVISTA DADOS, N.• 19, 1978, PÁGINAS 3 A 26
Continuidade ou Mudança?
Os analistas e os comentadores da política brasileira contemporânea podem ser classificados numa de duas categorias: os que enfatizam as diferenças entre o regime militar pós-1964 e o anterior e os que enfatizam as semelhanças e continuidades entre eles. Os que acentuam as políticas econômicas tendem a perceber uma forte continuidade, argumentando que o curso dos eventos, ao menos até o início da década de 1970 foi grandemente influenciado pela política de substituição de importações de bens de consumo duráveis estabelecida durante as décadas de quarenta e cinqüenta (Homem de Mello, 1978: 2). Por sua vez, os que criticam as medidas sociais e políticas adotadas pelo regime tendem a enfatizar as diferenças, embora alguns vejam diferenças importantes entre as várias administrações militares (Castello Branco, 1976).
Luciano Martins .é um exemplo daque·
Depois do Milagre (*)
Gláucio Ary Dillon Soares
les que acentuam as diferenças: ele tem dois modelos opostos para descrever as políticas brasileiras, Alpha e Omega. O modelo Alpha era abrangente, na medida em que incluía uma percentagem maior da população entre os beneficiários do crescimento; era democrático, no sentido de uma distribuição mais igualitária de poder através das eleições e era autônomo, no sentido de tornar o Brasil cada vez menos sensível às pressões internacionais, de orientar a economia do país para o mercado interno, de dar importância à propriedade nacional dos meios de produção. O modelo pós-64, Omega, era exatamente o contrário: excluía o povo dos benefícios do crescimento, era autocrático, era dependente de outros países, de governos estrangeiros e de multinacionais (Martins, 1968:18-21).
Obviamente, aqueles que são ou fize. ram parte do regime tendem a acentuar as diferenças positivas (por exemplo, Simon· sen, 1969; Simonsen, 1972). Para Lo-
( *) Artigo escrito para o Simpósio sobre Mudança Sócio-Econômica no Brasil, Madison ,. Universidade de Wisconsin, de 10 a 13 de maio de 1978. Partes da seção IV foram extraídas de Gláucio Ary Dillon Soares, "Military Au thoritarianism in Brazil; before, during ... and after? ", artigo inédito apresentado no Seminário sobre Problemas de Democracia, Autoritarismo e Desenvolvimento em Assuntos Hemisféricos, Nova Iorque: Centro para as Relações Inter-Americanas, 1976. A tradução é de Patrick Burglin.
nzdos, Rio de Janeiro, n. 19, p. 3 a 26, 1978 3
... .. ~
renzo-Fernandes (1976), o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) de Castello Branco foi crucial e estabeleceu os fundamentos econômicos do novo regime. Nessa perspectiva, as políticas econômicas implementadas desde então foram muito mais desenvolvimentos das linhas mestras do PAEG do que políticas inovadoras em si.
Rosenbaum e Tyler (1972:13) formu-laram de maneira clara o argumento principal dos que percebem uma continuidade na política econômica entre os regimes pré e pós-1964:
"Não houve mudanças básicas nos fundamentos estruturais da economia. Em agudo contraste com a mudança radical no sistema po'lítico, o que se fez com relação à economia se resume à manipula·ção do sistema atual mais do que uma re-estruturação drástica das instituições."
Rosenbaum e Tyler (1972:21) também observaram que as políticas econômicas não foram planejadas pelos militares, mas por tecnocratas, muitos dos quais ocuparam cargos importantes nos governos pré-64.-Implícita nesta observação encontra-se a crença de que a continuidade de homens leva à continuidade de políticas. Rosenbauni e Tyler situam-se entre os muitos economistas que concebem as políticas econômicas pós-64 como simplesmente "mais do mesmo" . Mesmo entre aqueles que percebem uma ruptura entre os dois períodos, alguns, como Fishlow (1973), argumentam que as mesmas medidas já tinham sido aplicadas, tentadas ou sugeridas antes.
Entretanto, o argumento mais comum, subjacente à idéia da continuidade, não é o de que não houve modificações nas políticas, mas que os fundamentos da economia foram estabelecidos anteriormente, através das políticas de substituição de importações, reduzindo assim a
4
margem de liberdade das pol lticas subseqüentes.
Qualquer que seja sua posição. con· tudo, esses autores compartilham uma suposição básica: as políticas são relevantes. O Estado brasileiro não é liberal: ele é um Estado poderoso que intervém na economia. Suas políticas têm, portanto, grande peso.
O Hstac/o Ubfq110
i\trihuir ao Estudo hrasikiro uma posiç!Io privilegiada na análise crnnômica, social e pol ít lca nflo ~ uma escolha teórica arbitrária: o Estado hrnsllciro tem reforçado seu poder pol fl 1co l' cco110111ico nas últimas décadas e, cm cnmp11111çno com os de outros países latino americanos, ele é um Estado muito forte.
O número de leis, dec1cto~ e lodo tipo de regulamentações é imprcss1011nn te. Só o governo de Castello Bran co ptomulgou 319 atos e decretos, uma média de vinte por mês; o governo de Costa e Silva promulgou 489, uma média de dezesseis por mês (dos Santos, 1974: 135-6). Cerca de 3.6% desses atos do ~xecutivo regulamen-· tavam, de uma forma ou de outra, atividades econômicas. Esses dados referem-se apenas a decretos do ·.Executivo (decretosle1): eles não inci ucm a legislação regular aprovada pelo Congresso, nem os milhares de regulamentações de nível inferior, tais como portarias e instruções. Assim, a economia brasileira é tudo menos liberal: ela é regulamentada em detalhe.
A tributação no Brasil é pesada, dada a renda per capita do país. Este não é um fenômeno recente: Lotz e Morss ( 1967) utilizando uma análise de rcgress!Io e dados de, aproximadamente, 1960, mostram que a razão Impostos brasileiros/PNB é 50% mais elevada do que a esperada dado o padrão prevalecente entre países subdesenvolvidos.
O governo brasileiro emprega subsídios
.. 1 • )
...
. .
• 1 ,.,
diretos, empréstimos a taxas negativas de juros (dada a taxa de inflação), e outros incentivos para as atividades econômicas que deseja estimltlar. Os subsídios diretos desempenham um papel importante na · política· brasileira de exportação: Tyler (1976b) calcula que os preços de exportação são 16,8% inferiores aos do mercado doméstico, graças somente aos subsídios. A proteção, particularmente a proteção tarifária aos manufaturados, tem sido extensamente estudada (Bergsman, 1972; Berg!:man e Malan, 1970; Tyler, 1976a e 1976b), permitindo a conclusão de que o nível global de proteção no Brasil é elevado em comparação com outros países em desenvolvimento.
A magnitude da proteção, no entanto, pode ser facilmente superestimada se não se der atenção às isenções tarifárias. De acordo com Tyler (1976b: 870-1), "em 1972 os impostos de importação devidos alcançavam 27,7% do valor das importações, mas apenas 9,5% foi efetivamente pago; as isenções de impostos de importação foram quase o dobro dos impostos recolhidos". Outrossim, a proteção é desigual: em 1973, a proteção efetiva foi estimada em cerca de 293% para vestuário e aproximadamente 17% para produtos farmacêuticos (Tyler, 1976b: 870). Assim, o Estado não oferece um nível de proteção igualitário para as diferentes indústrias: ele favorece algumas mais do que outras. O Estado forte é também arbitrário.
Empresas Públicas
De acordo com um estudo de 5.256 empresas, as empresas públicas possuíam 46% dos ativos líquidos. 1 O Estado tem o controle total de bancos de desenvolvimento, Caixas Econômicas, estradas de ferro, companhias de dese~volvimento; cerca de 75 % dos ativos de empresas de gás, água e esgotos, correios, telégrafos e telefones, a.dministração portuária, ener-
gia elétrica (produção e distribuição), petróleo {refinamento e distribuição incluídos) e armaz.enagem e estocagem (Pairo, 1975). Ao se considerar apenas as 100 ma.fores (e, portanto, as mais poderosas) empresas, a participação das empresas públicas em seu ativo líquido total correspondia a 75% em 1974, cerca de 15% a mais do que em 1968 (Mendonça de Barros e Graham, 1977). Em 1977, vinte e duas das vinte e cinco maiores empresas operando no país eram públicas!
O desempenho econômico das empresas públicas brasileiras tem sido geralmente excelente: o aumento do valor real adicionado entre 1966 e 1975 pelas empresas públicas excedeu de longe o crescimento do PNB e o do setor manufatureiro. Os números- índice (1966 = 100) seriam 213 para o PNB brasileiro; 25 7 para a manufatura e 371 para as empresas públicas (Treblat, 1977). As empresas públicas brasileiras não são redistributivas, orientadas para o trabalhador, nem de espírito socialista. A produtividade média por trabalhador nas empresas públicas aumentou de 131% entre 1966 e 1975, mas os salários reais médios aumentáram apenas em 92% (Treblat, 1977: 9).
A participação do setor público no total de formação de capital já está em torno de dois terços, quase 50% a mais do que no início da década de sessenta. As empresas públicas desempenham um papel importante nessa área. O aumento da par-ticipação das empresas públicas na formação de capital, ativos líqwdos ou vendas, etc. não esgota sua importância na economia brasileira: o fato de importantes conglomerados públicos terem sido criados (Eletrobrás, Siderbrás, Telebrás, etc.) é relevante. A diversificação de várias companhias públicas que criaram subsidiárias é importante, tal como a crescente propensão das empresas públicas a participarem em empreendimentos conjuntos (joint ventur<:~) com multinacionais.
5
Pelo seu tamanho, as empresas públi· cas tomaram-se importantes na determi· nação· de preços, através de seu papel de principais compradoras e principais fome· cedoras. Em algumas áreas, como a do aço, as empresas públicas estimularam o crescimento industrial, vendendo insumos industriais a custos subsidiados.
As empresas públicas tomaram-se importantes clientes de fornecedores estrangeiros, e hoje desempenham um papel crucial na balança de pagamentos. Como Mendonça de Barros e Graham (1977: 9) afirmam, "em comparação ... as empresas privadas sem dúvida geraram um excedente líquido em sua balança comercial, ao passo que as empresas estatais geraram um déficit líquido".
As empresas públicas dominam tam· bém o mercado de ações e essa posição continua firme: durante o ano compreen· dido entre maio de 1974 e maio de 1975, as novas subscrições de títulos públicos cresceram em 84%, quase o triplo do crescimento das ações privadas (Jornal do Bra· sil, 22/8/1975:16).
O golpe militar anti-socialista de 1964 não trouxe um regime economicamente liberal. A economia é regulamentada por uma . quantidade de decretos, leis, instru· ções, portarias, etc. A economia vê-se também . fortemente afetada pelo papel desempenhado pelas empresas públicas, cujas diretorias são geralmente aprovadas pelo Presidente da República.
Controle do Trabalho
A centralização das políticas salariais teve seu apogeu na decisão que proibiu às empresas privadas conceder aumentos salariais além dos tetos aprovados pelos planejadores governamentais.
Portanto, o fato de as empresas públicas desempenharem um papel importante na economia brasileira não é tão crucial na determinação da racionalidade do sis· tema quanto o controle do trabalho e dos conflitos sociais. Essa é uma área em que os militares não precisaram inovar: eles simplesmente fizeram uso de uma vasta legislação corporativista regulamentando os conflitos· sociais que datava do Estado Novo. A pergunta que se impõe não é como os militares utilizaram uma legis· lação autoritária corporativista, mas como essa legislação atravessou intocada os vinte anos de democracia eleitoral no Brasil.
A preocupação principal do regime pós-64 era o crescimento econômico a qualquer custo. As políticas trabalhistas e sindicais sempre foram dependentes das políticas de crescimento, de que elas são o reflexo. As polítiças trabalhistas e salariais tinham quatro objetivos principais:
1. desmobilização da classe trabalhadora e prevenção da participação dos sindicatos na política nacional. Essa preocupação é compreensível, dado o ativo engajamento. dos sindicatos (especialmente os maiores e as federações e con· federações) na política nacional nos anos pré-64, quando eles estavam promovendo ativamente reformas básicas (agrária, bancária, eleitoral, etc.);
Este gigantesco aparelho do estado, grandemente ampliado após 1964, recebeu a tarefa de promover o crescimento acelerado da economia -a qualquer custo. A rápida acumulação de capital foi favorecida pelas políticas públicas, sem consi· deração dos custos sociais e políticos envolvidos. Isso foi conseguido através de um brutal arrocho salarial.
2. ·fortalecimento de relações corpora-tivistas entre o Estado e os sindicatos, trazendo a solução dos conflitos sociais da arena política aberta para o seio do Es· tado;
3. arrocho salarial , conseguido após o Estado ter-se constituído como único promulgador de políticas salariais,' para controlar a inflação e acumular capital;
6
4. transformação dos sindicatos, de órgãos independentes, representativos dos interesses da classe trabalhadora, em canais de políticas governamentais.
A desmobilização foi conseguida atraws de· intervenções nos sindicatos, substi· tuindo suas lideranças. Tal esforço concentrou-se nas confederaÇões (das quais dois terços sofreram intervenções), prosseguindo nos sindicatos mais importantes que, em virtude do seu tamanho, poderiam afetar as políticas nacionais (Figueiredo, 1975).'
A natureza corporativista dessas relações tem sido bem discutida (Weffort, 1972; Erickson, 1970; Figueiredo, 1975; Rodriguez, 1968; Schmitter, 1971 e 1973). A questão importante é o uso que delas se fez.
A ideologia corporativista do regime provinha da época de Vargas; além de trazer para o Estado os conflitos salariais e trabalhlstas, pretendia transformar os sindicatos em agências para implementar serviços sociais apoiados pelo governo. Isso foi afirmado em alto e bom som por Garrastazu Médici (1971: 90; 1973: 41): "promove-se a progressiva transformação do sindicato em órgão de assistência ao operário e sua família ... , assim se promovendo . . . . uma nova mentalidade sindical orientada exclusivamente para o bem-estar dos associados e para a harmonia entre as classês sociais: [ao sindicato] a-importante missão de colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariecj.ade social ... . É nosso propósito renovar e incentivar a vicfa sindical, desenvolvendo ao máximo a associação entre o sindicato e a previdência".
Esse projeto nunca foi aceito J,?elos líderes e membros dos sindicatos; conseqüentemente, as intervenções nos sindicatos não cessaram após a expulsão dos "radicais e subversivos." Sob Geisel, foi concedida aos sindicatos alguma liberdade e alguns líderes sindicais apressaram-se em declarar que uma das suas principais
metas consiste em manter o Estado fora do processo de negocição salarial.
Não é provável que os sindicatos obtenham muita liberdade política em outros regimes políticos. Um problema grave ameaça os ·sindicatos num futuro nãorevolucionário: a existência de uma sólida rede de leis e instituições corporativistas. Mudanças nessa rede via Parlamento são facilmente bloqueáveis. A nível institucional, há uma burocracia entrincheirada no Ministério do Trabalho, nas delegacias· regionais, na previdência social, cujos interesses correm em direções opostas àqueles de um movimento trabalhista livre.
Assim, mudanças institucionais nessa área só são previsíveis num contexto revo· lucionário. Mas a experiência em países socialistas não dá lugar à esperança de liberdade sindical. Raramente encontramos governos que voluntariamente abrem mão do controle dos sindicatos. No Brasil, a história mostrou que mesmo governos trabalhistas e populista.s (Vargas de 50 a 54; Goulart e Kubitschek) optaram pela manutenção dos instrumentos de controle do Trabalho.
O Aumento na Desigualdade Social
Poucos duvidam de que a renda seja muito concentrada no Brasil e que o grau de desigualdade tenha aumentado após 1964 (Hoffman, 1972; Bacha, 1975 e 1977; Fishlow, 1972 e 1973). Mesmo os defensores do regime concordam com isso. O que tem se debatido no Brasil não é se a renda se concentrou, mas, primeiro, se a causa disto é a concentração de facilidades educacionais, com base nas teorias de capital humano (Langoni, 1973; Malan e Wells, 1973); se é uma conseqüência inevitável da industrialização (Baer, 1978; Singer, l 973; Serra, 1973); ou de desigualdade por grupos etários (Morley, 1978) e, segundo, se a condição dos mais
7
desfavorecidos tem piorado em termos absolutos.
Um retorno à democracia parlamentar afetaria a desigualdade de renda ao menos de duas formas: primeiro, subtraindo a determinação dos salários (particularmente o salário mínimo) ao governo e colocando-a na arena política; segundo, permitindo às organizações que protegem os interesses das classes trabalhadoras (sindicatos, partidos políticos de esquerda) o desempenho de um papel político. Embora a democracia eleitoral não seja garantia de uma distribuição igualitária -ela foi bastante ruim durante o período 45-64 - a desiguaidade atual é difícil de conceber num sistema político em que os interesses das cfasses trabalhadoras sejam representados.
Um regime socialista radical, quase que por definição, alteraria substancialmente a atual distribuição. Há ampla evidência histórica de que a distribuição de renda e riqueza melhora rapidamente em regimes socialistas.
Se os tecnocratas progressistas alcançarem o poder, uma melhoria na desigualdade de renda é de se esperar, em grande parte como resultado de correções de desequilíbrios urbanos-rurais , de um reforço do mercado interno e de políticas nacionalistas.
A Concentração da Mortalidade
Quais são as conseqüências humanas da concentração de renda no Brasil? Um defensor do regime poderia argumentar, embora ingenuamente, que as classes mais baixas deixaram de comprar transistores, roupa, gastaram menos em bebidas alcoólicas, etc. e não muito mais.
Os dados contudo, . mostram que as conseqüências das políticas brasileiras de arrocho salarial foram muito além de restrições no consumo de bens não essenciais. Entre 1958 e 1969/70 a proporção
8
de renda gasta em alimenta~ão pelas fam ílias pobres de São Paulo aumentou (Wood. 1977: 60). Outro estudo revelou uma aguda deterioração nos padrões· de nutrição na população de São Paulo, que está agora reduzindo seu consumo de calorias e o valor protéico destas: por volta de 1970, quase a metade das crianças entre 6 e 60 meses de idade, cujas famílias ganhavam menos da metade do salário mínimo per capita, sofriam de deficiências protéico-calóricas; no grupo de meio a um salário per capita, quase quatro entre dez crianças sofriam de deficiências e no grupo de um a um salário e meio, uma em cada três. Na classe dos que ganham acima de um salário e meio per capita, as deficiências ainda afetavam perto de 20% das crianças (Iunes, et. ai., 1975).
Magno de Carvalho e Wood (1977) mostraram que a expectativa de vida ao nascer no nordeste central (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas) era de apenas 44,2 anos, não muito diferente de recentes estimativas africanas e comparável à média européia de há cem anos atrás. É irônico que enquanto alguns defensores do regime falam acerca da economia do século XXI, a população esteja vivendo em condições do século XIX!
A concentração da mortalidade no Brasil é uma das conseqüências mais terríveis das presentes políticas: os pobres morrem muito cedo aos milhões de modo que os ricos possam viver extremamente bem. A diferença da expectativa de vida ao nascer entre o pobre do nordeste central e o rico do sul é de quase vinte anos! (Magno de Carvalho e Wood, 1977: 116-118). Isso é um fato quase sem precedentes. Para dar uma idéia do significado dessa diferença, a diferença entre brancos e negros nos Estados Unidos, um país cuja intolerância, discriminação e preconceito têm sido enfatizados, é entre três e quatro anos, muito menos do que
as diferenças regionais e sociais brasileiras.
Educação e Mobilidade Social
A mobilidade social é altamente valorizada nas sociedades ocidentais. O conceito de igualdade de oportunidades é central para o sistema de valores nos Estados Unidos e em outros países. Essa importância reflete-se na volumosa literatura dedicada à mobilidade social e igualdade de oportunidades que é tanto socio-lógica quanto leiga. ·
Não é este o lugar para discutir se o problema central é o da desigualdade per se ou o da desigualdade de oportunidades; para colocar o problema sarcasticamente, deveríamos nos preocupar em dar a qualquer um uma chance igual de explorar os
outros ou deveríamos nos preocupar com a exploração em si e de per si? Contudo, se a desigualdade e a exploração devem ser tomadas como dados é melhor se os exploradores se revezarem, ao invés de o direito de explorar tornar-se um privilégio herdado através de linha de família e classe.
A imobilidade social no Brasil vê-se fortemente auxiliada pela desigualdade educacional. A educação, ao invés de atuar como equalizador de oportunidades, compensando em parte a: desigualdade na herança de riqueza, dos contatos, da renda, etc, separa ainda mais as oportunidades das crianças pobres das de crii;mças ricas: os que possuem todas as vantagens acima mencionadas recebem, em acréscimo, uma forte vantagem edu- · cacional.
Tabela 1
Instrução do Entrevistado por Nível Ocupacional do Pai. Brasil, 1973 (Pastore: 1977: 96)
Instrução ~ 1
Alta 1 Média
do Entrevistado Alta
Nenhuma 1,1 2,7 Primário Incompleto 5,8 14,8 Primário Completo 8,7 13,9 Ginasial 24,3 23,3 Colegial 27,7 23,6 Superior 32,4 21,7
Mais de quatro quintos daqueles cujos pais possuem um nível ocupacional ele7 vado têm instrução secundária ou melhor (em comparação com 20% da população total); um terço deles vai à universidade
Classe
Média 1 Média 1
Baixa 1 Baixa Média Baixa Alta
8,5 5,9 9,6 33,7 24,2 26,9 33,9 44,7 19,9 31,6 30,9 15,3 18,6 23,0 16,8 4,5 17,9 9,6 6,1 6,1 10,9 2,7 0,4 3,4
(em comparação com 3% da população); no outro extremo, 78% daqueles cujos pais têm baixo status não concluíram a escola primária e um terço não teve qualquer instrução escolar. Menos da metade
9
de 1 % atingiu a universidade, em comparação com 32% daqueles nascidos no nível ocupacional superior.
Dado esse quadro, um governo que enfatizasse a mobilidade e a igualdade de oportunidades deveria concentrar seus esforços na educação primária. O rico já a tem (apenas 1, 1 % dos nascidos no extremo superior e 2, 7% dos nascidos no nível médio superior não tiveram instrução), mas um terço dos nascidos no extremo inferior se beneficiaria de tal esforço; uma expansão adicional, ajudando-os a completar a escola primária poderia beneficiar aproximadamente quatro quintos deles. Em outras palavras, dado que as crianças da classe média e superior já têm acesso à instrução primária nas condições atuais, qualquer extensão nas matrículas da escola primária beneficiará as crianças da classe inferior, particularmente filhos ·de camponeses. Isto, necessariamente, teria um efeito positivo na mobilidade social (Boudon, 1973 e 1974 ).
Mas não foram essas as intenções do governo militar: de 1964 a 1971, as matrículas do primeiro grau aumentaram apenas 33%, as do secundário aumentaram 145%; as matrículas universitárias aumentaram 282% e ao nível da pós-graduação aumentaram 164% (Simonsen, 1972: 142). Langoni (1973: 142), ao analisar o aumento das matrículas entre 1960 e 1970, chega a conclusões similares.
De 1964 a 1970, a participação do governo federal nos gastos com educação pública declinou de 40,6% para 25,7%. O governo federal tem dado cada vez maior atenção à educação em nível superior, deixando a educação primária e secundária às organizações privadas, estaduais e municipais. 2
A experiência histórica dos países socialistas ensina-nos que a educação recebe alta pJioridade nacional e que, inicialmente, as desigualdades educacionais sãp drasticamente reduzidas. Alfabeti-
10
zação quase universal e educação primária são ràpidamente atingidas e a instmção superior torna-se menos dependente das origens sociais e mais do mérito. lnfe· lizmente, os dados demonstram que em algumas sociedades socialistas antigas, a União Soviética em particular, ocorre um renascimentó da desigualdade educacional (Katz, 1973; Kelly e Klein, 1977) Assim, ao menos durante algumas décadas, um regime socialista radical provavelmente incrementaria a educação primária, e incrementaria a mobilidade via educação.
Minhas esperanças são menores sob uma democracia parlamentar. O desempenho dos vários governos de 1945 a 1964 não autoriza qualquer otimismo. A educação (em todos os níveis) era uma baixa prioridade governamental e a desigualdade educacional era um fatb estabelecido.
Um regime autoritário progressista poderia promover uma rápida expansão da educação elementar em parte como conseqüência de novas prioridades sociais em mudança, particularmente aquelas restabelecendo certo equilíbrio ao longo dos eixos rural-urbano e agrícola-industrial.
Desigualdade Setorial e Posse da Terra
Uma das principais fontes de desigualdade social no Brasil prende-se à prioridade dada à indústria em detrimento da agricultura e à estrutura,da posse da terra. Esses fenômenos não foram criados pelo regime de 1964: eles estavam presentes anteriormente. O regime de 1964 apenas piorou a situação.
Apesar de importantes melhorias com relação à década passada, as exportações industriais não compensam as importaçôes industriais. O déficit líquido entre exportações industriais e importações para a indústria é um ;µitigo fenômeno latino-americano e o Brasil não constitui
exceção. Esse déficit tem que ser compensado e a carga geralmente recai sobre o setor primário. Em 1975, as exportações agrícolas totalizaram US$ 4.695 milhões, 54,l % do total de exportações; em 1976, elas aleançaram quase seis bilhões de dólares, ou S8% do total.
Isso indica a função da agricultura na economia nacional: gerar um excedente de exportação para pagar o déficit do setor industrial. As outras políticas são coerentes com essa função principal: os créditos são dirigidos predominantemente para o setor não-agrícola (Miller Paiva, Schattan e Trench de Freitas, 1976); os gastos e investimentos públicos são em sua grande maioria urbanos (Rezende da Silva, 1972) e o crédito agrícola existente é concentrado nas grandes fazendas de exportação. As fazendas de tamanho pequeno e médio que produzem para o mercado interno e para o consumo local não se beneficiam de créditos, investimentos e gastos públicos.
Relacionado a essas políticas, há o fato de o lento declínio dos grandes e ineficientes latifúndios não ter sido acompanhado pela expansão do número de fazendas de tamanho pequeno e médio, mas pelo de grandes fazendas comerciais. Um corolário disso é o aumento do número de minifúndios e a redução de sua área média.
No recadastramento de 1972, 175 estabelecimentos rurais foram definidos como latifúndios por dimensão, ocupando cerca de 18 milhões de has. No outro lado da escala, quase dois milhões e meio de minifúndios estavam espremidos em 46 milhões de has., quase dois milhões deles numa área compàrável à ocupada por apenas 175 grandes estabelecimentos. Os latifúndios por exploração, em número pouco menor que oitocentos mil, ocupavam 270 milhões de has., urna área semelhante à da Argentina. As 162 mil empresas rurais ocupavam menos de 36 milhões de has.
O setor agrário brasileiro não é essencialmente diferente do de outros países latino-americanos: ele é dominado pelo binômio latifúndio-minifúndio (Soares, 1976) que produz um excedente de trabalho agrícola, lado a lado a uma extensa área não trabalhada no latifúndio. Cerca de setenta milhões de has. foram definidos como boa terra agrícola mas não eram explorados; sessenta e cinco milhões deles encontravam-se nos latifúndios por exploração e outros cinco milhões e meio nos latifúndios por dimensão. Essa terra não utilizada é maior que área total . da América Central e do Carilre, onde vivem cerca de quarenta milhões de pessoas.
Esse sistema de propriedade da terra extremamente concentrado cria milhões de trabalhadores sem terra e milhões a mais cuja terra é insuficiente para absorver produtivamente seu trabalho e o de sua família. Isso produz um excedente de trabalho, com efeitos depressivos nos salários. A renda gerada em seu pedaço de terra é insuficiente para satisfazer as necessidades de suas familias e deve portanto ser complementada. Isso é feito trabalhando mais horas e procurando emprego fora. As mulheres mais jovens migram para as aldeias e cidades onde com freqüência trabalham como domésticas; os homens capazes podem também migrar temporária ou permanentemente.
Desde 1964 os salários agrícolas não se comportaram mal em comparação com os salários industriais urbanos, que sofreram um declínio absoluto, mas tiveram um d~sempenho pobre em. comparação com as pifras nacionais per capita. Outrossim, a posse da terra tem-se tornado mais concentrada, mas o setor de "subsistência" teve aumentada sua produção apesar de uma redução no tamanho médio das suas terras. (Sá Jr., 1975).
Assim, trabalhadores agrícolas e pequenos proprietários têm sofrido com as políticas pós-64: seus salários cresceram substancialmente menos que a renda per
11
capita e o tamanho médio de sua terra decresceu.
Uma conseqüência do arrocho salarial na agricultura e da falta de terra arável é a tentativa de manter a renda familiar atra· vés de uma maior intensidade de trabalho. Não apenas aqueles que trabalhavam antes trabalham durante mais horas, mas também os novos e mais jovens membros juntam-se a eles. De acordo com os Resultados Preliminares do Censo Agrícola de 1975, havia 4,5 milhões de trabalhadores ocupados na agricultura com idade inferior a 14 anos, 55% a mais dos 2,9 milhões em 1970. A força de trabalho agrí· cola adulta (14 anos e mais) aumentou apenas 14% :(Conjuntura Econômica, 1978:9-11). Esse aumento pode ser devido em parte ao fato de muitos chefes de família e irmãos mais velhos terem se tornado bóias-frias. Os membros mais jovens da família foram, então, chamados a desempenhar as funções deixadas vagas.
O Fim do Milagre
O governo militar tomou a sério o problema da inflação e do crescimento. O ataque à inflação iniciou-se imediata· mente com uma série de medidas adotadas ainda em 1964. Nesse ano, à taxa de inflação foi de quase 90%, tendo sido reduzida para 57% em 1965, e de então para cá sofreu uma contínua redução até 1973, quando alcançou a marca mínima de 16%. Mas os preços do petróleo e um limite no achatamento salarial estimularam uma nova espir\il inflacionária: em 1974 a taxa foi de 29%, em 1975 foi de 28% e em 1976 foi de 43% (Homem de Mello, 1978:34); estimativas recentes situam as taxas de 1977 e 1978 em torno de 40%. Não há indícios de que a inflação esteja controlada no Brasil; durante os últimos três anos as taxas estiveram bem acima das dos governos populistas de Vargas e Kubitschek. No que se refere ao
12
controle da inflação, o regime militar ·não tem de que se gabar. E, novamente, queixas diárias acerca dos aumentos de preços são ouvidas em toda parte no Brasil.
O regime militar 'baseia sua legitimidade em altas taxas de crescimento. Durante vários anos, o governo militar pôde ostentar um crescimento anual do PNB de 9% ou mais. Mas os últimos anos mostraram que as vantagens corriparativa·s eram temporárias: as taxas de crescimento baixaram de nove e mais para sete ou menos. A economia brasileira vem se comportando pior do que na época de Vargas, Kubitschek e Quadros, e os custos políticos são imensamente mai.ores. O milagre acabou e mais atenção está sendo dada à advertência de que as altas taxas de crescimento eram de se esperar de qualquer maneira, em grande parte como resultado de uma baixa linha de base que foi produto da depressão do início da década de sessenta (Serra, 1971; Tavares e Serra, 1973; Bacha, 1977).
O fim do crescimento econômico é politicamente crucial, em grande parte porque os vários governos militares assim o tornaram!
O Crescimento Econômico como Ideologia
Podemos aprender .alguma coisa dos discursos presidenciais; se não o que os· presidentes acreditam realmente, ao menos aquilo que eles desejam que os ouvintes acreditem que eles acreditam.
Castello Branco atribuiu ao comunismo (ou ao que se percebia como seu oposto, a democracia) um importante lugar durante os dois primeiros anos de sua administração: democracia recebeu 30% de todas as palavras "chave", comunismo outros 12%; e se se acrescentarem outros conceitos relacionados - fronteiras ideológicas, valores ocidentais e a posição do seu percebido defensor, os Estados
, 1.
11.
Unidos - obtemos outros 24%, cabendo a desenvolvimento os restantes 34%. Tomados em conjunto, os símbolos "políticos" tinham uma maioria de dois terços (Mendes, 1974a; Soares, 1975).
Acredito que essas motivações eram reais na administração Castello Branco, porque são corroborados por impressões pessoais de seus conselheiros e colaboradores políticos. E importante reconhecer, no entanto, que democracia, que foi mencionada não menos de 33 vezes em 1964 e 64 vezes em 1965, desapareceu por completo em 1966. Nesta época uma nova oposição fora encontrada, não mais entre democracia e comunismo, mas entre democracia e o próprio regime militar. A ameaça do comunismo aparentemente tinha sido eliminada ou estava sob controle, e menções a ela desapareceram do léxico presidencial (de 27 em 1965 para 2 em 1966). Concomitantemente, o PanAmericanismo, a posição dos Estados Unidos, valores ocidentais e fronteiras ideológicas declinaram ao mínimo ou desapareceram completamente. E o crescimento econômico reinou com 57% de todos os temas dos discursos presidenciais. Essa supremacia continuou com Costa e Silva, com 53% de 1967 a 1969, inclusive. Em 1967, a invasão da República Dominicana pelos Estados Unidos recebeu ostensivo apoio brasileiro e isso tinha que ser explicado. Assim, o tema das "fronteiras ideológicas" foi revivido e t razido para o primeiro plano, atrás, apenas, de crescimento econômico. Ele foi responsável por não menos de 21 % de todas as palavras chave.
Os primeiros " dois anos da administração Médici assistiram a uma contínua preponderância do tema do crescimento: 43% ao todo; em 1970 ele recebeu um impressionante 64%. Democracia, em sua "nova" acepção, foi mencionada algumas vezes duran_te os primeiros anos de governo e convenientemente esquecida logo após, urna prática comum a todos os
governos desde 1964. Esta análise diz-nos que crescimento
foi o tema central dos oito primeiros anos do regime militar e não há indícios de que ele tenha deixado de sê-lo. Ele alcançou uma posição privilegiada depois que comunismo e temas relacionados perderam te~reno, e firmou-se como tema dominante dos discursos presidenciais desde então. Uma inspeção casual de pronunciamentos mais recentes mostra que o crescimento ainda está presente, embora secundado por redemocratização - na forma de distensão - sob Geisel.
A ideologia do crescimento, às vezes chamada "desenvolvimentismo'', tem importantes funções: ao enfatizar a nação, desenfatiza as classes, ao sublinhar o crescimento nacional, oculta a miséria e estagnação das classes inferiores.
O crescimento· é, portanto, o alicerce ideológico do regime militar brasileiro. Uma crise de crescimento é uma crise de legitimidade. Mas crescimento e repressão não são a única explicação para o persistente domínio militar. Alguém se beneficia do crescimento: as classes média e superior. Profissionais, administradores, gerentes, professores, técnicos, artistas, cientistas, etc. têm aumentado em número e têm aumentado substancialmente sua renda pessoal. Como classe, eles podem ser a favor da democracia política, mas não da igualdade de renda. Uma redistribuição de renda radical provavelmente os levaria a sacrificar a democracia política para salvar seu padrão de vida.
Contradições no Sistema
As restrições impostas pela força ao Senado e Congresso brasileiros são aceitas apenas de má-vontade pelo partido do governo e claramente rejeitadas pelo partido da oposição. Os congressistas da Arena votam a favor de medidas do Executivo que rejeitam e aceitam desempe-
13
nhar um papel político menor, mas o fazem contra a sua vontade. O sistema político que garante o absolutismo do Executivo - e em última análise dos militares - é sustentado pela coerção, não pelo consenso.
O AI-5, o alicerce institucional do absolutismo do Executivo é rejeitado pelos políticos de ambos os partidos, embora haja uma forte diferença entre os partidos (Jornal do Brasil, 14/4/1975 ; primeiro caderno: 4).
Tabela II
Afiliação Partidária e Atitude com Relação ao Al-5
Rejeita Modifica Mantém
TOTAL
1 MDB [ Arena
96% 2% 2%
100%
22% 57% 21%
100%
O partido da oposição rejeita em bloco o Al-5, ao passo que muitos congressistas da Arena aceitam uma solução de compromisso: relativamente poucos o aceitam em sua forina extrema atual, mas muitos arenistas aceitam algumas limitações às prerrogativas do Legislativo que existiam antes de 1964.
Uma maioria de dois terços de congressistas da Arena desejaria simplesmente revogar o artigo que permite ao Executivo declarar o Congresso em recesso, e cerca da metade restabeleceria o habeas-corpus. Ao todo, 80% dos congressistas da Arena são favoráveis a uma reforma da Constituição; entre os emedebistas essa p'ercentagem atinge 98%. (Jornal do Brasil, 14/4/1975). -
14
Esses dados demonstram que parlamentares de ambos os partidos rejeitam o absolutismo do Executivo, da Constituição e, particularmente, das leis de exceção. Eles gostariam de desempenhar .as mesmas funções que os congressistas de outros países e, ainda, que os brasileiros tivessem os mesmos direitos que os cidadãos de outros países.
O sistema bi-partidário, que foi apresentado como uma das principais realizações políticas do regime, é também rejeitado pela elite política, embora o aumento na participação eleitoral e a redução do volume de votos nulos e em branco em certa medida reflita uma crescente legitimação popular desse sistema imposto de cima para baixo. Outrossim, políticos de ambos os partidos rejeitam o sistema partidário: uma pesquisa efetuada entre os congressistas em 1975 após a última eleição mostra que 70% dos congressistas da Arena e 89% dos do MDB preferem um sistema diferente. A impressionante vitória da oposição nas eleições de 1974 (Nery, 1975) revelou não apenas a impopularidade do governo e seu partido, mas também que a população votante aceitava o sistema partidário como legítimo. Entretanto, uma legislação imoral introduzida de cima para baixo, modificando as leis eleitorais e restringindo o acesso da oposição aos meios de comunicação de massa pode ter convencido muitos brasileiros de que as eleições, o sistema partidário e procedimentos legais geralmente não são canais apropriados para expressar o descontentamento e o desejo de mudança. As eleições sob a ditadura brasileira não são um jogo limpo, assemelhando-se à fábula de Esopo do cordeiro e o lobo.
Um sistema partidário que não consegue o apoio dos próprios políticos e membros do partido não reflete as linhas de diferenciação e conflito políticos e ideológicos. Diz-nos que os políticos vêem-se a si próprios artificialmente comprimidos
~Ili •
, ..
•
numa est rutura partidária que é demasiado simples para acomodar suas diferenças ideológicas, gerando assim fortes clivagens intra-partidárias.
Os desacordos entre legisladores da Arena e ·O Executivo no que se refere a algumas políticas importantes poderiam levar a uma derrota de propostas emanadas do Executivo apesar do fato da Arena ainda comandar uma maioria tanto no Congresso quanto no Senado. De fato, isso ocorreu anteriormente e a reação do Executivo foi a de decretar o recesso do Legislativo e promulgar a Lei de Fidelidade Partidária (Abranches e Soares, 1973). Essa lei tinha como alvo o partido do governo e não o MDB. Ela assegurou que os legisladores da Arena votariam de fato a favor das propostas do Executivo. Dentre os mecanismos asseguradores de disciplina, alguns são extremamente importantes, como a impossibilidade de mudar de partido (sem o que os membros dos partidos votariam contra o partido original simplesmente mudando de partido); a disciplina partidária, que força os membros do partido a votar com seu líder (a 'liderança da Arena é escolhida pelo Executivo) e o voto da liderança, por meio de que o líd'er do partido é autorizado a votar por todos os membros do partido, assegurando assim a unanimidade dos votos partidários. Esses mecanismos assumem a existência de membros do partido leais e disciplinados, que concordam com as políticas governamentais, mas os legisladores brasileiros têm uma autoimagem diferente. A maioria dos legisladores vê-se como detentora de um mandato "aberto" e gostaria de votar de acordo com sua própria "consciência individual"; 86,5% dos congressistas da Arena e 81,5% dos do MDB escolhem esta opção (Jornal do Brasil, 15/4/1975:4). É essa auto-imagem quem explica porque até mesmo membros da Arena resistem à disciplina partidária: apenas 21 % dos congressistas da Arena são favoráveis à conti-
nuação da Lei de Fidelidade Partidária e a percentagem entre os emcdebistas é ainda menor, 9,5%. Os parlamentares em geral gostariam de poder mudar de part ido se assim o· desejassem: apenas 46% dos congressistas da Arena e 36% dos do MDB conservariam as restrições atuais.
Previsivelmente, · os "mecanismos de disciplina partidária" ou a obrigação de votar com o líder do partido e o voto da liderança são seriamente questionados: mesmo entre os legisladores da Arena, apenas 56% aceitam que os membros do partido devam ser forçados a obedecer às decisões do partido (no MDB a percentagem correspondente é 43%). A rejeição do voto da liderança é ainda mais forte: somente 44% dos legisladores da Arena aceitam esse mecanismo e entre os emedebistas essa percentagem é de apenas 25%.
Há uma contradição básica no sistema autoritário brasileiro: através do absolutismo do Executivo, prescinde · das funções do Legislativo e do Judiciário; no entanto, a forma democrática adotaàa pela ditadura brasileira exige a presença do Legislativo e do Judiciário. A adesão desses poderes é então conseguida através da coerção. A distensão de Geisel, conquanto tímida, permitiu que as contradições existentes nas profundezas do sistema viessem à tona. Elas mostram que um sistema baseado no poder militar, centrado em torno do Executivo, é incompatível com um sistema partidário realmente representativo, com um Legislativo ativo e com um Judiciário independente. Portanto, um Executivo favorável à distensão deve aceitar as limitações decorrentes de um regime democrático, o que necessariamente significa um fim do absolutismo do Executivo. O caráter ,intermitente da distensão de Geisel revela a incapacidade do sistema de lidar com essas contradições, por não aceitar a distribuição constitucional do poder entre os três poderes.
O modelo brasileiro enfatiza as grandes
15
empresas. Muitas delas são corporações multinacionais e o governo brasileiro tem concedido ao capital estrangeiro numerosos e poderosos incentivos. Isso foi particularmente verdadeiro sob os ministérios Roberto Campos e Delfim Netto. Dados os laços existentes entre a Arena e o Executivo, dever-se-ia esperar que os congressistas da Arena dessem apoio a tais políticas. Não obstante, 68% dos congressistas e senadores da Arena são favoráveis a uma redução das atividades e influência das multinacionais na economia brasileira, ao passo que no MDB um esmagador 93% é a favor de semelhante redução (Jornal do Brasil, 15/4/1975).
Assim, novamente, há um conflito ideológico oculto entre o Executivo e seu partido; esse conflito envolve mais do que esses dois atores, porque as políticas são estabelecidas por tecnocratas, predominantemente economistas, e não pelos militares.
Vários políticos da Arena têm apresentado críticas disfarçadas a outras políticas governamentais e seus resultados. Os políticos nordestinos são bastante francos a respeito da má situação de sua região; alguns têm-se aventurado a criticar a concentração de renda e muitos empregam palavras nada gentis ao se referir aos tecnocratas no governo.
As pesquisas de opinião e estudos, demonstram que o regime militar em sua forma atual tem pouco apoio popular.
Vários levantamentos mostram que a população brasileira quer a democracia; os dados colhidos em São Paulo e Rio de Janeiro são consistentes: cerca de metade da população deseja mais democracia, um quarto deseja a persistência da democracia existente ou ainda menos, e um outro quarto é indiferente, não tem opinião, ou está demasiadamente apavorado para expressá-la (Lamounier, 1977). Essa pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Gallup mostra também que os indiferentes, sem opinião, etc., são muito mais
16
numerosos entre aqueles com, no máximo, educação primária, um achado comum no Brasil e em outros lugares. Aqueles que desejam mais democracia são relativamente mais numerosos entre as pessoas com instrução secundária ou superior.
A solução militar tem menos apoio entre os brasileiros do que se supõe. Em 1968, uma pesquisa realizada entre chefes de família no Rio de Janeiro mostrou que 78% deles achavam que "os militares não deveriam interferir na política do país" (Pereira, 1972). Em 1977 pesquisas de opinião conduzidas no Rio de Janeiro e São Paulo mostraram que a população está farta do regime militar e apoiaria Magalhães Pinto para presidente principalmente por não ser ele um militar. Quando confrontado a vários possíveis candidatos militares, Magalhães Pinto ultrapassou todos eles.
Esses resultados não são surpreendentes. Ninguém abdica voluntariamente dos seus próprios direitos. O golpe de 1964 usurpou os direitos de todos os brasileiros e transformou sua cidadania num gracejo. Os brasileiros instruídos sabem que os cidadãos de outros países têm direitos que são negados a eles por um regime que não escolheram. O regime não conta com a sua lealdade política, embora receba sua calada cumplicidade na exploração de camponeses e trabalhadores.
Hoje a população brasileira tem consciência de que a tortura foi empregada no Brasil após o golpe de 1964; reconhece que o B.rasil teve censurada sua imprensa, que a corrupção não foi eliminada e que pode ter piorado. Carros oficiais e todo o tipo de mordomias são visíveis a tôdos. Muitos militares ocupam cargos administrativos públicos elevados para os quais com freqüência não têm qualificação. Os escândalos de administrações militares anteriores estão chegando ao conhecimento do público. As leis eleitorais foram modificadas para se adaptarem a objetivos
·;io
..
pessoais e partidários de curto prazo. Com isso, o regime militar perdeu toda justificação baseada numa moralidade mais elevada.
O regime militar deu tanta ênfase ao crescimento como justificativa para a ditadura que agora está preso na sua própria retórica: não pôde manter as altas taxas de crescimento do final da década de sessenta e início da de setenta. Outrossim, não pôde controlar a inflação mais do que os regimes populistas anteriores. Assim ele perdeu sua principal fonte de legitimidade ideológica. Em acréscimo, a época de Goulart e do Parlamentarismo esvaiu-se e não é mais referencial ade-
quado para medir o sucesso· ou fracasso do regime militar. Assim, a legitimidade ideológica do governo militar está definhando. A justificativa de que um país melhor e mais forte está sendo construído não é mais sustentável e certamente o brasileiro médio não vê razão para ser politicamente castrado por um regime militar que é menos eficiente que os regimes civis que respeitavam seus direitos.
Dessas observações, o analista ingênuo poderia inferir a conclusão de que o regime está à beira do colapso.
Essa conclusão ignora que, primeiro, a ditadura brasileira é uma ditadura e tem o quase monopólio dos meios de coerção: a
Tabela III
Grau Estimado de Participação Estatal na Economia, 1972-73 e 1977
Cientistas Políticos Jornalistas Políticos
Moda
À época da pesquisa, 1972-73 4.5
Em 1977 6-7
população desarmada está à mercê dos militares; segundo, que cerca de vinte milhões de brasileiros de cla5se média e superior foram beneficiados pelas políticas de concentração e que, se ameaçados pela perda desses benefícios, apelarão para os militares, e terceiro, que o regime pode mudar, ou mais exatamente, continuar mudando.
Depois do Milagre, o Quê?
Dado que o regime militar tem perdido apoio ao longo dos anos, há possibilidade de mudanças significativas no futuro, sobre as quais podemos especular.
Média Moda Média
4,0 3 4,6
5,9 6 6,3
Em primeiro lugar, uma séria redução do poder estatal, a seguir, regimes políticos alternativos e, finalmente, a mudança de dentro.
Começo excluindo um sério declínio no poder estatal, uma posição que a maioria dos cientistas políticos e analistas políticos brasileiros compartilha.
Nos pri.nleiros anos da década de setenta, uma pesquisa realizada entre cientistas políticos e jornalistas políticos não conseguiu verificar um consenso significativo a respeito do futuro do país. Apenas alguns itens apresentaram uma concordância sig· nificativa; dentre eles, o que apresentou maior consenso era o crescimento da intervenção estat_al na economia.
17
Outrossim, embora uma maioria tantó de cientistas políticos quanto de cronistas políticos (80% e 71%, respectivamente) visse essa intervenção como pragmática e não-programática até 1974, muitos previam um aumento do planejamento da própria intervenção a partir dessa data (dos Santos e de Souza, 1974).
Uma forte participação do Estado na economia é aceita como fato corriqueiro no Brasil e só recentemente alguns portavozes do setor privado têm-na criticado abertamente. Mas a burguesia privada dificilmente pode ser contrária ao Estado: se, por um lado, ela pode estar numa situação desvantajosa, em comparação com as empresas públicas, por outro, ela é grandemente favorecida pelas ações do Estado em sua contínua luta com o trabalho. Ela recebe do Estado créditos, proteções alfandegárias, incentivos, e outras regalias. Os grupos nacionalistas e socialistas vêem as empresas públicas como último e mais forte obstáculo à expansão das corporações multinacionais. Os militares, tradicionalmente, apoiam as empresas públicas. Assim, não há grupos políticos e sociais importantes se opondo às empresas pública& e, portanto, um declínio da participação do setor público na economia é difícil de ocorrer. A persistência do presente modelo não leva a prever um tal declínio; pelo contrário, poderia levar a uma contínua incorporação de empresas em crise e à criação de novas em áreas cruciais.
As relações entre os setores público e privado provavelmente continuarão a mudar: é de se esperar uma crescente especialização das agências governamentais, bem como dos grupos de interesse do setor privado. Geisel tem uma política de excluir os homens de negócios da representação direta na elaboração de políticas, o que é compensado por contatos mais freqüentes com grupos de interesse mais representativos. Essa política pode ser revertida, mas não afetará a especiali-
18
zação. O intercâmbio de administradores
entre os setores privado e público parece ter aumentado e pode aumentar mais ainda devido aos altos salários e mordomias deste último; no entanto, a insatisfação pública e o ressentimento militar podem reduzir o exuberante padrão de vida dos altos administradores públicos.3
Na medida em que o poder constitua uma motivação importante para esses homens, é mais provável um intercâmbio com o setor nacional do que com as· multinacionais. Como se sabe, as empresas com sede no estrangeiro relutam em delegar autonomia às filiais.
A tomada do poder pelos democratas liberais tradicionais, tal como aqueles representados pelo O Estado de São Paulo, é a única e improvável possibilidade de uma aguda redução da participação pública na economia, mas duvido que os militares ficassem quietos em tal caso.
Na melhor das hipóteses, o que poderia acontecer é uma redução de certos privilégios das empresas públicas, pressões no sentido de uma maior eficiência da sua parte,4 e uma redução dos privilégios e número dos "novos mandarins" do s'etor público brasileiro. Algumas poucas áreas poderiam ser reservadas à iniciativa privada, mas não muito mais. Uma revolução socialista, quando nada, aumentaria a participação do Estado na economia, como se depreende da experiência de todos os países socialistas até agora.
Uma tomada do poder por nacionalistas progressistas aumentaria ainda mais a participação do Estado na economia, embora com um caráter redistributivo.
Assim, o Estado provavelmente permanecerá forte no Brasil.
Regimes Alternativos
Começarei excluindo a possibilidade de uma revolução socialista, baseada na
.....
,..;.
..
classe trabalhadora, no Brasil. A força do Estado, com relação à sociedade civil, torna .os golpes revolucionários uma tarefa difícil. A evolução da tecnologia repressiva torna as massas .cada vez menos poderosas. Por outro lado, a composição de classe das sociedades latino-americanas dependentes desvia-se agudamente das previsões marxistas. A classe trabalhadora industrial é relativamente pequena -menor que 25% da força de trabalho total - devido à industrialização capital-intensiva. Os setores que empregam mais trabalhadores são o primário, antes da aceleração da industrialização e da urbanização e o terciário, depois dela; outrossim, há um contínuo crescimento de ocupações de nível médio (Soares, 1967 e 1969; Geneletti, 1976 e 1977). Uma revolução baseada em números não poderia se sustentar somente na classe trabalhadora industrial.
A alternativa democrática, liberal, parlamentar parece plausível a muitos. As mudanças na política dos Estados Unidos, as crises econômicas e o fracasso dos regimes militares em resolver as necessidades do país nos muitos anos de ditadura aumentam a probabilidade de um afastamento militar. Isso pode ocorrer no Peru e no Equador no futuro próximo.
Mas no Brasil o afastamento dos militares não implica um retorno às condições pré-1964. Em primeiro lugar, porque os militares são suficientemente fortes para evitar tal coisa; seguP.do, porque o Estado é muito mais forte e em grande parte conduzido por uma tecnoburocracia que não era tão poderosa nem numerosa antes de 1964; terceiro, porque grandes seções de uma crescente classe média tem-se beneficiado muito mais (e continuam assim) sob o presente regime do que anteriormente. Esses grupos podem chamar os militares de volta.
Assim, um simples retorno ao sistema pré-1964 não é apenas improvável, mas também instável. A aceleração da, até
agora, vagarosa distensão conservaria um Executivo forte, passando do presente absolutismo do Executivo para uma supremacia do Executivo; devolveria as funções de supervisão ao Congresso, mas não o poder de legislar independentemente do Executivo; e devolveria a competência e jurisdição última sobre questões constitucionais ao Judiciário. Liberdade de imprensa, televisão e rádio incluídos, são passos esperados, bem como as eleições diretas para governadores e a eliminação da chamada Lei Falcão, "pacote de abril'', senadores "biônicos" e outras leis demasiado imorais para serem mantidas.
Nessa solução um sistema político liberal teria que conviver com uma economia controlada e planejada; o parlamento tornar-se-ia um forum político, mas as decisões econômicas importantes dar-seiam fora da política parlamentar, caracterizando uma dissociação entre um sistema partidário parlamentar formal e a elaboração de políticas econômicas. No meu entender, essa é a estrutura política mais Pt;_ovável no Brasil. Isto dirige nossa : atençã~. para as mudanças internas no Estado.
Pode o Estado Mudar de Dentro?
Pode um formidável aparelho de estado criado· para servir os interesses das classes média e superior ser utilizado para promover os interesses de camponeses e trabalhadores contra os interesses das classes que ora serve? · Podem as mesmas instituições ser empregadas para propósitos radicalmente diferentes? ~ a tecnocracia realmente a-ideológica?
A afirmação segundo a qual a tecnocracia é a-ideológica e alegremente serviria a patrões radicalmente diferentes era viável há alguns poucos anos atrás. "Eles seriam tão felizes planejando a economia soviética quanto a brasileira", dizia-se.
19
Acredito que isto seja um mito baseadg ' num outro mito, qual seja, o de que exis
tem soluções "técnicas" apolíticas e a-ideológicas para questões sócio-econômicas urgentes. Um argumento mais sério (Baer, Newfarmer e Treblat, 1976) é o de que as empresas públicas e o governo em geral são descentralizados e que, portanto, os tecnocratas raramente atuam conscientemente como classe e não formam uma classe nem uma fração de classe. Esse raciocíni~ é perigoso. Supõe que a unidade e .consciência de uma classe dependem da unidadê e da centralização das instituições onde seus membros trabalham; da mesma forma, o fato de o setor privado ser descentralizado impediria a burguesia de ser uma classe e o proletariado outra. A atomização administrativa do setor público não impede os tecnocratas de se comportarem como classe se seus interesses como tais forem violados. Esse é o limite das mudanças internas no Estado.
Uma característica interessante do setor público brasileiro é a de que em muitas empresas e agências e até mesmo ministérios encontra-se um terceiro escalão de tecnocratas que são socialmente sensíveis, de espírito reformista e com freqüência nacionalistas. Suas atitudes e ideologia contrastam com as dos homens no .top9, ministros de estado e seus secretários escolhidos.
A mudança de dentro do Estado depende do equilíbrio de poder entre os grupos que controlam os recursos, particularmente o próprio Estado. Os analistas da tecnocracia tendem a enfatizar a probabilidade de uma mudança igualitária de dentro. Eles se impressionam com a competência e com a consciência social de muitos tecnocratas progressistas situados em altos (embora não o de topo) escalões. Os tecnocratas "progressistas" não deixam de ser tecnocratas por ser progressistas e preocupam-se também com ·o crescimento e a industrialização, mas parecem
20
não ter qualquer laço com as elites agrá- · rias nem com as multinacionais. Eles poderiam perfeitamente levar adiante uma reforma agrária de amplo alcance, e criar um gigante público na área da produção e distribuição agrícola. Eles podem endossar políticas redistributivas, nem que seja para expandir o mercado interno; em última análise, poderiam inverter a orientação para fora da economia brasileira e favorecer o cresciinento dirigido parà dentro. Mas tanto a extensão da consciência social desses tecnocratas progressistas quanto a probabilidade de sua ascenção ao poder têm sido · superestimadas pelas seguintes razões :
(a) uma confusão entre expressões verbais e comportamento efetivo durante as crises. O "esquerdismo" dos tecnocratas é sempre realçado quando dirigido aos intelectuais; a distância entre esse esquerdismo verbal e o comportamento efetivo aparecerá claramente se e quando seus interesses estiverem em jogo. Afinal de contas, os tecnocratas do segundo e terceiro escalões situam-se entre os 5% do extremo superior da distribuição de renda brasileira! Assim, embora alguma melhoria possa ser esperada deles, sua própria posição privilegiada limita a extensão da reforma.
(b) uma . subestimação do -poder dos grupos direitistas entre os militares. Apesar de recentes perdas políticas, esses grupos ainda mantêm uma importante parte de poder militar, provavelmente não o suficiente para dar um golpe, mas certamente o bastante para exercer o poder de veto. Em teoria, esses grupos poderiam endossar medidas nacionalistas e redistributivas projetadas pelos tecnocratas progressistas, mas sua excessiva preocupação com a segurança e sua paranója anticomunista impedem-nos de assim agir.
(c) um desprezo pelo fato de os requisitos de segurança para ministros e posições de primeiro· escalão serem bem mais
<'li ..
"'
rigorosos que para posições inferiores com poder consultivo porém não executivo. Enquanto as agências de segurança nacional e grupos direitistas entre os militares mantiverem um poder de veto sobre quem pode preencher essas posições e quem não. pode, os tecnocratas progressistas permanecerão em níveis inferiores. Assim, as reformas sócio-econômicas de dentro são difíceis de ocorrer por causa dos obstáculos à obtenção do poder pelos tecnocratas progressistas existentes. "Distensão" no sistema político como tal pode facilitar esse processo, no entanto. Eis aí onde muitos brasilefros depositám suas esperanças: a democratização política e eleitoral pode proporcionar aos tecnocratas progressistas o espaço para implementar as reformas mais necessárias,
conquanto suaves, de dentro. Mas libertar o país do exacerbado aparelho ·de segurança é um processo a longo prazo, improvável de ser conseguido em poucos anos. Curiosamente, a melhor forma de conseguir isso pode ser a de reforçar os serviços de inteligência centrais brasileiros (SNI) em detrimento dos de cada força armada e de grupos paramili.tares direitistas, que são menos obedientes ao controle civil.
Assim, a melhor esperança para o futuro pode ser uma moderada taxa de mudança e melhorias parciais; talvez a política de Geisel de uma segura e gradual democratização expresse menos suas opiniões pessoais e mais as realidades políticas do Brasil de hoje.
(Recebido para publicaçtlo em junho de 1978)
Notas
1. Cálculos de Alexandre de Barros, utilizando dados organizados por Gilberto Paim (1975). Dados originais de Visão, Quem é Quem na Economia Brasileira, 1972-74.
2.
3.
4.
Uma compensação deve ser feita, no entanto, para os fundos transferidos do governo federal para os estados e municípios e que são utilizados para o ensino primário. O autor agradece a Speridião Faissol por trazer esse fato à sua atenção.
Deve-se esclarecer, a bem da verdade, que os militares brasileiros não aumentaram seus salários e benefícios do cargo além dos padrões de classe média como ocorreu em outros países onde tomaram o poder. O favorecimento dos militares deu-se fora do estabelecimento militar, no serviço público civil e na empresa privada.
Tem sido argumentado que o desempenho financeiro não é um dos principais objetivos das empresas públicas (Baer, Newfarmer e Treblat, 1976); mas os dados (Treblat , 1977) mostram que as empresas públicas brasileiras têm-se saído bastante bem.
Referências Bibliográficas
Abranches, Sérgio e Soares, Gláucio Ary Dillon. "As Funções do Legislativo". Revista de Administração Pública, n. 7, 1973, pp. 73-98.
Bacha, Edmar Lisboa. Os Mitos de uma Década. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 197J.
. "Hierarquia e Remuneração Gerencial". Ricardo Tolipan e Arthur Carlos Tinelli (eds.). A Controvérsia sobre Distribuição de Renda e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.
21
Baer, Werner. "Evaluating the,Impact of Brazil's Industrialization". Artigo apresentado ao "Simpósio sobre Mudança Sócio-Econômica no Brasil", Madison, Wisconsin, maio, 1978, pp. 10.14.
Baer, Werner; Newfarmer, Richard e Treblat, Thomas. "On State Capitalism in Brazil: Some New Issues and Questions". lnter-American Economic Affai!s, v. 30, n. 3, 1976.
Bergsman, Joel. "Foreign Trade Policy and Development". ln Rosenbaum, H. J. e Tyler, William G. (eds.). Contemporary Brazil: lssues in Economic and Political Development. New York, Praeger, 1972.
Bergsman, Joel e Malan, Pedro. "A Estrutura de Proteção Industrial no Brasil". Revista Brasileira de Economia, v. 24, n. 2, 1970.
Boudon, Raymond. Education, Opportunity and Social Inequality. New York, John Wiley , 1974.
___ . Mathematical Structures of Social Mobility. Sin Francisco, Jossey Bass, 1973.
Castello Branco, Carlos. Os Militares no Poder. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1976 .
Conjuntura Econômica. "Agropecuária, Resultados de 1977", v. 22, fev., 1978, pp. 1-61.
Erickson, Kenneth. Labor in the Political Process in Brazil. New York, Columbia University, Tese de Doutoramento, 1970.
Figueiredo, Argelina Cheibub. Polftica Governamental e Funções Sindicais. São Paulo, Tese de Mestrado, Departamento de Ciências Sociais, Universidade de São Paulo, 1975.
Fishlow, Albert. "Some Reflections on Post-1964 Brazilian Economic Policy". ln Alfred Stepan (ed.). Authoritarian Brazil. New Haven, Yale University Press, 1973.
----· "The Brazilian Size Distribution of Income". American Economic Review, maio, 1972.
Garrastazu Médici, Emílio. A Verdadeira Paz. Brasília, Secretaria de Imprensa da Presidência da República, 1973.
___ . Tarefa de Todos Nós. Brasília, Secretaria de Imprensa da Presidência da República, 19 71.
Geneletti, Cario. La Clase Media en America Latina. Santiago de Chile, CEPAL/DS/171, 1977.
___ . Social Modernization, Economic Development and the Size of the Middle Class. Santiago de Chile,'CEPAL/DS/152, 1976.
Hoffman, Rodolfo. "Tendências da Distribuição da Renda no Brasil e suas Relações com o Desenvolvimento Econômico". Arti.e:o apresentado ao "XXIV Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência", São Paulo, maio, 1972.
Homem de Mello, Fernando B. "Economic Policy and the Agricultura! Sector in Brazil". Artigo ap.rescntado ao "Simpósio sobre Mudança Sócio-Econômica no Brasil", Madison, Universidade de Wisconsin, 1978.
!unes, M. et al. Estado Nutricional de Crianças de 6 a 60 Meses no Municfpio de São Paulo. São Paulo, Instituto de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade d'e São Paulo, 1975.
Jornal do Brasil. Edição de 22 de agosto de 1975.
___ . Edição de 4 de abril de 1975. Pesquisa realizada por César Guimarães e Luis Henrique Nunes Bahia.
22
'•
a.
\ ) •
•
..
Katz, Zev. Patterns of Social Mobility in the USSR. Cambridge, Mass., Center for International Studies, 1°973.
Kelly, Jonathan e Klein, Herbert. "Revolution and Re-Birth or lnequality: A Theory of Stratification in Pos-Revolutionary Society". American Journal of Sociology, n. 83, 1977.
Lamounier, Bolivar. "Ao Menos a Nação Sabe o Que Não Quer". Isto 11, n. 49, 1977.
Langoni, Carlos Geraldo. Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico no Brasil. Rio de Janeiro, Expressão e Cultura, 1973.
Lotz, Joergen R. e Morss, Elliott. "Measuring Tax Efforts in Developing Countries". International Monetary Fund Staff Papers, novembro, 1967.
Lorenzo-Fernandez, Oscar Soto. A-Evolução da Economia Brasileira. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
Magno de Carvalho, José Alberto e Wood, Charles Howard. "Renda e Concentração da Mortalidade no Brasil". Estudos Econômicos, v. 7, n. 1, 1977.
Malan, Pedro e Wells, John. "Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil". Pesquisa e Plfinejamento, dezembro, 1973.
Martins, Luciano. Industrialização, Desenvolvimento e Burguesia Nacional. Rio de Janeiro, Saga, 1968 ..
Mendes, Candido (1974). "O Discurso Político como Indicador nos Sistemas de Elite de Poder na América Latina". ln Candido Mendes (ed.). Crise e Mudança Social. Rio de Janeiro, Eldorado, 1976.
Mendonça d·e Barros, José Roberto e Graham, Douglas H. "The Brazilian Economic Miracle Revisited: Private and Public Sector Initiative in a Market Economy". Artigo inédito, 1977.
Miller de Paiva, Ruy; Schattan, Salomão e Trench de Freitas, Claus F. Setor Agrícola do Brasil. Rio de Janeiro, Forense, 1976.
Morley, Samuel. "Income Inequality in Brazil". Artigo apresentado ao "Simpósio sobre Mudança Sócio-Econômica no Brasil", Madison, Wisconsin, 1978.
Nery, Sebastiã9. As 16 De"otas que Abalaram o Brasil. Rio de Janefro, Francisco Alves, 1975.
Paim, Gilberto. "O Estado, o Empresário e a· Multinacional". Jornal do Brasil, 9 de março de 1975.
Pastore, José. Polftica de Emprego e Mobilidade Social. São Paulo, FIPE, USP, 1977.
Pereira, Vera Maria Cândido. Autoritarismo e Preconceito. Rio de Janeiro, Tese de Mestrado. Iuperj, · 1972. •
Rezende da Silva, Fernando. Avaliação do Setor Público na Economia Brasileira. Rio de Janeiro, IPEA, 1972.
Rodrigues, José Albertino. Sindicato e Desenvolvimento no Brasil. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968.
Rosenbaum, H. Jon e Tyler, William G. (eds.). Contemporary Brazil: Jssues in Economic and Political Development. New York, Praeger, 1972.
Sá Jr., Francisco. "O ' Desenvolvimento da Agricultura Nordestina e a Função das Atividades de Subsistência". Questionando a Economia Brasileira. São Paulo, Cebrap, 1975.
2.3
Santos, Wanderley Guilherme dos. "Governando por Decreto". Candido Mendes (ed.). Crise e Mudança Social Rio de Janeiro, Eldorado, 1974, pp. 131-146.
Santos, Wanderley Guilherme dos e Gómez de Souza, Isabel. Abertura Política: Antecipações e Estimativas. Rio de Janeiro, Iuperj, 1974.
Sc.hmitter, Philippe. "The Portugalization of Brazil''. Alfred Stepan (ed.). Authoritarian Brazil. New Haven, Yale University. Press, 1973.
---· Interest Conflict and Political Change.in Brazil. Stanford, Stanford University Press, 1971.
Serra, José. "A Reconcentração da Renda Justificações, Explicações, Dúvidas". Estudos Cebrap, n. 5, 1973.
___ . El Milagro Económico Brasileno. Santiago de Chile, FLACSO, 1971.
Sirnonsen, Mário Henrique. Brasil, 2002. Rio de Janeiro, Apec, 1972.
___ .Brasil 2001. Rio de Janeiro, Apec, 1969.
Singer, Paul. "Desenvolvimento e Repartição da Renda do Brasil". Debate e Critica, v. I, n. 1, 1973.
Soares, Gláµcio Ary Dillon. A Questão Agrária na América Latina. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
___ ."Military Authoritarianism in Brazil: Before. During and After" 1975. Artigo inédito.
---· "Desarrollo Económico y Estructura de Clases". Revista Paraguaya de Sociologia, n. 15 , 1969.
___ . "The New Industrialization and the Brazilian Political System". James Petras e M.aurice Zeitlin (eds.). Latin America: Reform or Revolution? New York, Fawcett, 1967.
Tavares, Maria da Conceição e Serra, José. "Beyond Stagnation: A Discussion of the Nature of Recent Development in Brazil". Petras, James (ed.). Latin America: from Dependence to Revolution. New York, Wiley, 1973.
Treblat, Thomas J. "The Role of Public Enterprise in the Brazilian Economy: an Evaluation". 1977. Artigo inédito.
Tyler, William. Manufactured Export Expansion and lndustrialization in Brozil. Tubingen, J. C. B. Mohr, 1976a.
----· "Brazilian lndustrialization and Industrial Policies: A Survey". World Development, v. 4, PP· 863-882, 1976b.
' Weffort, Francisco. Sindicatos e Polftica. São Paulo, Tese de Livre Docência, Departamento de Ciências Sociais, Universidade de São Paulo, 1972.
Wood, Charles Howard. "Infant Mortality and Capitalist Development in Brazil : the Case of São Paulo and Belo Horizonte" . Latin American Perspectives, n. 4, 1977.
24
1
'1 ~
14
'
..
SUMMARY
After the Miracle
Thi~ paper considers possible upcoming changes· in the Brazilian political system as a result of the military govemment's loss of credibility due to ils inability to mainta.in the high rates of economic growth and the control of inflation which have bcen its ideological comerstones since 1965. On the basis of opinion surveys, the author analyzes the contradictions posed by an Executivo absolutism
.which is rejected by the govemment's own party and by public opinlon.
The author documents the importance of the State in Brazil, particularly u regards the national economy, and concludes that the locus of economic decision-making has shifted increasingly from the legislature lo lhe core of the state machine which is rulod by a technobureaucracy.
The paper speculates on a fcw polltical alternatives for the country's futuro: a soclallst revolution is considered unviable, u Is a retum to pre-1964 conditions, given lhe changes which have affected both the Stnle und civil society from 1964 to the prosenl. 111e author
views as more likely a continuation and acceleration of· the currently slow, decompression process, with a move from Executive absolutism to an Executive supremacy which would retum overseeing functions to Congress and jurisdiction over constitutional matters to the Judiciary, revoking Institutional Act No. 5 and the electoral laws now blatantly loaded to favor the govemment party. Should this be the course of events to come, however, the legis- . !ature would become a political forum devoid of decision-ipaking powers as concerns the economy, the fate of which would remain in the hands of the state machine.
The paper is based on data from various censuses, economical statistics, public opinion surveys and specific population studies, as well as analyses of presidential speeches. The information was gathered almost in its entirety from published papers and theses, written by various authors and presented in either originiµ or recomputed form. The author has sought to present a quantitatively informed political essay, rather than a research report .
RESUM~
Apres le Miracle
Cet article disserte sur les changoments du systêrne politique brésilien qui pourront survenir comme résultante de la perto de crédibilité des gouvernemi:nts militaires.
Ceux-ci, en effet, se sont révélés impuissants à maintenir le taux de croissance élevé et le taux d'inflation modérés qui ont constitué leurs bases idéologiques depuis 1965.
L'auteur analyse, au moyen de sondages d'opinion, les contradictions existantes entre l'absolutisme du pouvoir exécutif et son rejet, aussi bien par le parti du gouvemement que par l'opinion publique.
L'article montre l'importance de l'Etat au Brésil, spécialment en économie. II en conclut que le centre des décisions économique se déplace chaque fois davantage du pouvoir législatif vers J'Etat lui-même, leque! est dominé parles techno-bureaucrates.
L'auteur examine quelques altematives politiques: une révolution socialiste qu'il considere irnpossible, un retour au systême d'avant 64,
irnpossible aussi en raison des modifications survenues dans l'Etat et dans la société civile de 1964 à nos jours et, finalement, une accélération du processus de changement interne de l'Etat qu'il juge comme étant la plus probable.
Ce processus implique !e passage d'un pouvoir exécutif absolu à un pouvoir exécutif doté de suprérnatie dans ses relations avec le pouvoir judiciaire et, plus spécialement encore, le pouvoir législatif. Ce passage devra se faire par la révocation des !ois d'exception, des !ois électorales politicardes et par la restitution, au pouvoir législatif, de sa fonctfon de contrôle du pouvoir exécutif. Un te! processus prévoit encore la transformation du pouvoir législatif en un "forum" politique, sans aucun pouvoir de décision dans le domaine de l'économie, ce pouvoir restant confiné à l'intérieur de l'appareil de l'Etat. L'article utllise des données tirées de recensements, de statistiques économiqucs, d'onquetes faites parmi le grand public ct certulne~
,.,
couches de la population. II procede ausS1 a· une analyse du contenu de certains discours présidentiels. La totalité ou presque de ces données a déjà été publiée dans des travaux ou des
26
theses d'autres auteurs, soit sous sa forme originale, soit re-travaillée. L'article veut être un essai politique quantitativement informé et non un rapport de recherche.
~
...
..
.-